Línguas
Lenguaje, autoridad e historia – ZAMORA (A-EN)
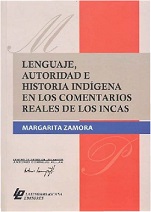
La obra del Inca Garcilaso de la Vega, por su extensión y complejidad, ha dado lugar a múltiples debates para su exégesis. Al escritor se le ha considerado desde un cronista fiable hasta un fabulador, desde un humanista aculturado hasta “Un humanista inca” (David Brading), desde un escritor que buscaba la reconciliación entre etnias hasta alguien que fue leído por Tupac Amaru II como estímulo para su revolución, desde un hacedor de una utopía imposible hasta un promotor de un gobierno viable para el Perú. Margarita Zamora, en su libro Lenguaje, autoridad e historia indígena en los Comentarios de los Incas, de reciente publicación en español gracias a la traducción de Juan Rodríguez Piñero y Vanina M. Teglia, retoma y reelabora estas polémicas y profundiza algunos tópicos mencionados pero no profundizados por diversos estudios sobre la obra del gran cronista peruano.
Usos de la tradición
En este libro, Zamora aborda los Comentarios reales desde la filología como construcción de autoridad y como llave de la historia. Para esto, la especialista realiza un exhaustivo racconto de la tradición humanista europea de la que se nutre el Inca Garcilaso, partiendo de figuras tales como Antonio de Nebrija, Lorenzo Valla, Erasmo y Fray Luis de León. En cuanto a Valla, en los escritos de la Antigüedad, se cifra el anhelo de la recuperación de un orden perdido, “en consecuencia, el mal uso del lenguaje o la traducción errónea constituían un ataque a ese orden” (ZAMORA, 2018, p. 44). En Erasmo, hay un deseo de volver a las fuentes cristianas a través de una purga y su correspondiente comentario. Y, por último, en Fray Luis, también se encuentra el proyecto de purificar dichas fuentes, pero teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones de la lengua en la que serán traducidas. A través de la contextualización, la autora demuestra los usos que hace Garcilaso de la tradición europea, es decir, cómo se nutre de ella para crear su propia autoridad: si con la conquista gana prestigio el punto de vista del testigo, el Inca deberá crear otros recursos de validación para su autoría teniendo en cuenta que su nacimiento es posterior y que el punto de vista de los cronistas suele ser el del conquistador. Si el cronista insiste en que los españoles todo lo corrompen, y que los infortunios del virreinato se debían a una falta de comprensión lingüística, entonces los europeos carecerían de las competencias necesarias para una cabal comprensión de los nativos, sus costumbres y su pasado. Así, el cronista parte de la idea de que el trauma de la conquista no fue fruto de los deseos de posesión y dominio por parte de los españoles -como podría argumentar un Fray Bartolomé de Las Casas- sino de la falta de comprensión entre lenguas y culturas tan diversas entre sí. Pero si el problema del primer encuentro entre los representantes de España y los del Incario fue de corte lingüístico, esto le permite al autor posicionarse mejor que un testigo: con Los comentarios reales pasamos del paradigma del punto de vista al paradigma filológico con el que se obtendría un acceso más verdadero, tanto a los sucesos precolombinos como a los de la conquista, gracias al conocimiento de las lenguas de los sectores en pugna y no gracias a una experiencia de primera mano. A su vez, a través de la comparación entre Las Casas y el Inca, Zamora demuestra que, al correr el eje de la crítica a los españoles (de ambiciosos a ignorantes), la crítica de Garcilaso es más sutil, al mismo tiempo que más vehemente: la cultura letrada y la cultura del libro poseen un límite epistemológico.
En busca del origen perdido
La autora recuerda la concepción de Nebrija: la filología como forma de recuperar el origen perdido. Con este método, las palabras recobrarían un significado esencial y arrojarían luz sobre el pasado de una cultura otra o propia, actual o perdida. Este clima intelectual de época avala que el Inca Garcilaso asegure que la confusión lingüística de los españoles conlleva errores múltiples. De esta manera, la filología es una llave al pasado: a través de un estudio de la lengua, se pueden establecer períodos históricos. Esto va a sostener Garcilaso para defender al gobierno incaico de acusaciones tales como tiranías o sacrificios humanos ante sus detractores. Al confundir las palabras quechuas, el europeo mezcló y, según el Inca Garcilaso, malinterpretó la teología incaica. De esta manera, confundieron las dos etapas precolombinas, la pre-incaica y la incaica (ZAMORA, 2018, p. 88). Esta torre de Babel llevó a que los españoles confundieran a los Incas y los interpretaran como hacedores de los actos barbáricos antes señalados. El autor de los Los comentarios sostendría que los españoles no serían buenos conocedores de la religión e historia incaicas sino, más bien, que habrían carecido de los conocimientos para comprenderlas. Las consecuencias de esta afirmación de Garcilaso se vuelven preocupantes para la España católica e imperialista: al no poder conocer bien a otras culturas, la labor evangélica se dificulta, con lo que se corre el riesgo de que los nativos vuelvan a los cultos pre-incaicos, según demuestra Zamora.
Providencia y mundo andino
¿Cuáles serían los riesgos de una vuelta a las creencias pre-incaicas, además de los sacrificios humanos o de la antropofagia? Al establecer su rol como “traductor” entre culturas, Garcilaso establece una cronología que comienza con aquellos pueblos barbáricos, seguida por la expansión de la civilización cusqueña como foco que irradia un proto-cristianismo y, por último, la venida del cristianismo propiamente dicho. La diferenciación entre etapas en el período precolombino ya había sido llevada a cabo por otros cronistas. La sagacidad garciliana se funda en conectar esas etapas con la actual, la cristiana. Estas tres fases se encuentran unidas gracias a la providencia divina, es decir, hay una intervención divina para arrancar a los indígenas de su período desgraciado hacia uno civilizado. De esta forma, el período incaico no es algo anecdótico sino crucial para la pacificación de los indígenas y su preparación para el evangelio. Ahora bien, los españoles, al confundir ambas etapas, persiguen las costumbres incaicas y terminan erosionando el eslabón de esa cadena que conectaría al cristianismo. Como indica Zamora, “para Garcilaso la idea de una teología monoteísta inca está unida a su presentación del Tahuantinsuyu como praeparatio evangelica, lo que le garantiza, a la civilización inca, un lugar de privilegio en la historia cristiana” (ZAMORA, 2018, p. 137). La autora explica que la presentación de una religión amerindia proto-cristiana o proto-monoteísta es una estrategia de Garcilaso para presentar, al Cuzco y a sus gobernantes, como piezas importantes de la historia universal y como propagadores del monoteísmo y no como idólatras y tiranos. De esta manera, lo que han perdido los españoles es la posibilidad de cristianizar por métodos pacíficos a los indígenas, porque no han comprendido el rol del Cuzco como foco civilizador ni que Pachacámac, en realidad, no haya sido el diablo sino una intuición racional del verdadero Dios cristiano. Al perseguir el culto inca en vez de guiarlo hacia el cristiano, los indígenas se refugian en viejos dioses. Esto indica dos cosas: un atraso para los planes evangelizadores (los cristianos sabotean su propia misión), pero, además, según Zamora demuestra de manera lúcida, el hecho de que Garcilaso da a entender que los Incas civilizaban sin perseguir otros cultos, es decir, la autora evidencia una de las tantas críticas veladas hechas por el cronista.
Utopía pero con topos
Uno de los puntos más fuertes del libro Lenguaje, autoridad e historia indígena en los Comentarios de los Incas radica en la profundización del concepto de utopía en el Inca Garcilaso, mencionado por varios estudios pero no profundizado. Para comprender los alcances de este concepto, Zamora desarrollará la propuesta de Tomás Moro y su Utopía para luego mostrar su articulación en los Comentarios reales. Como ella señala, Utopía es un “modelo político de una civilización americana imaginaria” (ZAMORA, 2018, p. 149). De esta forma, el gobierno perfecto que diseñó el inglés sirve como modelo para el Inca. La diferencia está en que, para el primero, era una proyección mientras que, para el segundo, algo real y concreto, anclado en la historia. Pero el uso que hará el cronista peruano irá más allá. Según Zamora, el Inca realizó una traducción, pero no en el sentido que habitualmente se le da. Ella citará al lingüista y crítico literario Roman Jakobson, quien propone una traducción intersemiótica, es decir, un concepto que sea común a ambas culturas (la utopía, en este caso), a fin de poder explicar a los europeos lo que fue el Tahuantinsuyu (ZAMORA, 2018, p. 154-155). De esta forma, Zamora no se contenta con señalar que estamos ante un discurso utópico sino que explica cómo opera este concepto renacentista en la crónica y con qué fines es utilizado.
Para concluir, la traducción de Lenguaje, autoridad e historia indígena en los Comentarios de los Incas, realizada por Juan Rodríguez Piñero y Vanina Teglia, acerca, al mundo hispanohablante, un libro necesario para seguir pensando la obra garciliana y para cuestionar y profundizar algunas perspectivas trabajadas por otros críticos, centrándose en las estrategias discursivas que realizara Garcilaso para construir su autoridad ante los cronistas con los que está polemizando. Un libro que reabre nuevas discusiones sobre el cronista mestizo en cuanto a los usos de las tradiciones humanista y cristiana.
Referências
LA VEGA, Garcilaso de. Comentarios Reales. Lima: Editorial Mercurio, 1970 [ Links ]
ZAMORA, Margarita. Lenguaje, identidad e historia en Los comentarios reales de los Incas. Lima: Latinoamericana Editores, 2018. [ Links ]
ZAMORA, Margarita. Language, Authority, and Indigenous History in the Comentarios reales de los Incas. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. [ Links ]
1Traducción al español de la edición de Cambridge: Language, Authority, and Indigenous History in the Comentarios reales de los Incas, Cambridge University Press, 1988
Nicolás Aizenberg. Estudiante de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y adscripto a la cátedra Literatura latinoamericana I (cátedra Colombi) de la misma universidad con un proyecto de investigación sobre “El Inca Garcilaso de la Vega y su visión pesimista del Perú colonial”, dirigido por Vanina Teglia. Ha participado como expositor de varios congresos de literatura colonial. E-mail [email protected].
El continente vacío. La conquista del Nuevo Mundo y la conciencia moderna – SUBIRATS (A-EN)
SUBIRATS, Eduardo. El continente vacío. La conquista del Nuevo Mundo y la conciencia moderna. Guadalajara: Editora da Universidad de Guadalajara, 2019. Resenha de SUBIRATS, Eduardo. An intellectual journey through the Americas. Notes on El Continente Vacío. Alea, Rio de Janeiro, v.22 n.1, jan./apr. 2020.
Quiero contarles la historia sumaria de El continente vacío aprovechando su edición este año de 2019 por la Universidad de Guadalajara, México. Tratándose de un libro altamente polémico de análisis filosófico de la “conquista” española de América presentar esta cuarta edición no es un evento cualquiera. La primera, publicada en Madrid en 1993, fue destruida por la propia editorial que la publicó después de que capital ligado a la Iglesia católica española la adquiriese, destituyendo a su director Mario Muchnik. La segunda edición fue publicada, unos meses más tarde, por la editorial mexicana Siglo XXI. Su director rechazó una reedición por motivos ideológicos. La tercera edición aumentada fue publicada por la Universidad del Valle en Cali, Colombia, en 2011.
Pero también deseo aprovechar esta ocasión para explicarles lo que me indujo a escribir este libro en 1988. También deseo contarles mis andanzas por las Américas que siguieron a la primera presentación de este ensayo de interpretación del colonialismo europeo en un Madrid que celebraba el V Centenario de un Descubrimiento de América para ocultarse el continuo proceso de destrucción y decadencia de los pueblos y las civilizaciones del continente americano y de la propia metrópoli que este llamado “descubrimiento” ha traído consigo.
Yo decidí estudiar y escribir sobre el proceso de colonización de América en uno de los muchos viajes a México que entonces realizaba como joven conferenciante, profesor de estética y autor de complicados ensayos filosóficos. Llevaba tiempo vagando y morando entre New York y Cusco, Buenos Aires y Manaos, São Paulo y La Habana. A lo largo de estos viajes me iba distanciando de mis años de aprendizaje en Barcelona, París y Berlín. Yo iba ampliando el horizonte de mi conciencia. Y lo que era más importante: iba reconociendo progresivamente los límites intelectuales y las riendas mentales de una arrogante, pero decadente, conciencia europea. Y un bello día, en el Zócalo de la ciudad de México, me dije: tienes que hacer algo con esos años de aventuras y experiencias en las Américas.
Decidí comenzar por el origen y el principio del nombre y la realidad histórica de estas Américas. Es decir, decidí empezar por el largo proceso de su descubrimiento, conquista, destrucción, sometimiento y conversión, que los estructuralistas franceses habían escamoteado bajo el anodino título de una “invención de América”. El continente vacío nació de una voluntad de analizar la colonización americana a partir de sus fundamentos teológicos y teológico-políticos.
Les contaré un par de anécdotas chuscas que ponen de manifiesto el ambiente que me asediaba en el Madrid del Centenario. Un bello día, en una fiesta madrileña que ofrecía el editor de la primera edición de este libro, Mario Muchnik, la entonces ministra de educación del gobierno socialista español me espetó con una inconfundible insolencia: “¡Usted ha escrito un libro terrible, Sr. Subirats!” Meses más tarde el editor fue defenestrado y destituido. Y una de sus consecuencias fue que mi libro se liquidó por “no vender”, de acuerdo con el veredicto de los nuevos propietarios de la editorial Anaya vinculados a corporaciones nacional-católicas. Todo ese proceso estaba empañado, además, por un resentimiento antisemítico.
Este mismo año tuvo lugar la solemne presentación de la edición mexicana en la Universidad Autónoma de México bajo la presidencia de dos destacados intelectuales mexicanos: Margo Glantz y Roger Bartra. Les mencionaré uno de los temas que se debatieron en esta ocasión. Margo subrayó el punto de partida implícito en el Continente vacío: las destruidas tradiciones espirituales islámicas y hebreas de la Península ibérica. Sólo esta perspectiva histórica permite comprender el proceso colonial americano, que el intelectual judío Bartolomé Casaus o de Las Casas denominó “destruycion de las Indias”, desde sus raíces constituyentes: su principio de guerra santa cristiana y su ferocidad genocida. En otras palabras, reconstruí la eliminación sistemática de dioses, templos, ciudades y vidas, de Tenochtitlán a Cusco, a partir de las cruzadas contra las memorias, las lenguas y los pueblos hebreos e islámicos de la península ibérica.
Les contaré todavía otra anécdota que personalmente me parece curiosa. Apenas comenzando mi nueva vida estadounidense en la Universidad de Princeton, en 1994, entregué un ejemplar de El continente vacío a Princeton University Press con el objeto de su edición inglesa. Lo leyeron atentamente e hicieron elogios de su scholarship, pero dijeron que no podían publicarlo porque citaba a demasiados autores latinoamericanos, de Garcilaso y Las Casas a Bonfil Batalla, que sólo conocían aquellos lectores de habla castellana ya familiarizados con la edición mexicana del Continente vacío. Además, me señalaron explícitamente en una carta que mi punto de vista era eurocéntrico, porque partía de la lógica de las cruzadas y de la teología política del Imperio Romano y Cristiano.
No tengo que subrayarles mi opinión sobre semejante veredicto. Pero añadiré que la ignorancia y la falsificación del proceso colonial de Ibero-América sigue siendo amparado, si más no por simple omisión, limitación y pereza intelectuales, por el eje militar del Atlántico Norte en las más significativas instituciones académicas y editoriales de Berlín, Princeton o Madrid: hoy lo mismo que en el siglo dieciséis.
Con eso creo que ya puedo dar por explicado de qué trata este libro. Es la reconstrucción de la teología política de la colonización que recorre las cartas de San Pablo y los tratados de Las Casas; que recorre la destrucción sistemática de lenguas, memorias y espiritualidades a lo largo del continente americano; y que recorre la esclavitud y el genocidio de millones de seres humanos como una de sus últimas consecuencias. Pero tengo que añadir un breve comentario a esta definición minimalista del proyecto que subyace a este ensayo.
En El continente vacío seguí al pie de la letra el mantra que pronuncio el Inca Garcilaso en sus Comentarios reales: América, antes destruida que conocida y reconocida por el Occidente cristiano. Por consiguiente, decidí reconstruir la teología de la destrucción y definir la hermenéutica de restauración de las memorias y el esclarecimiento de la noche oscura de las sucesivas cruzadas de las Américas. Lo que quiere decir que es tan importante la primera parte de El continente vacío, en la que analizo desde una perspectiva netamente negativa la teología de la sujeción y subjetivación coloniales, como su segunda parte, que es afirmativa. En esta segunda parte pongo de manifiesto un vínculo ocultado entre el Inca Garcilaso y el filósofo sefardí Leone Ebreo, y señalo la alternativa hermenéutica y el nuevo humanismo que se desprende de este encuentro espiritual desde una perspectiva rigurosamente filosófica y precisamente actual; una perspectiva explícitamente crítica con la lógica del suicidio instaurado en los poderes corporativos globales.
Pero les iba a contar la historia del viaje filosófico por las Américas que siguió a la realización de este libro, y me he quedado en México. El siguiente paso, después de México, me llevó a los Estados Unidos. Y en el departamento de Literaturas Romances de Princeton University me encontré con la memoria viva de dos profesores exiliados de la dictadura española de 1939: Américo Castro y Vicente Lloréns. El título del libro que resume esta nueva aventura intelectual es Memoria y exilio, que, en su segunda edición aumentada y revisada, modifique por el de La recuperación de la memoria. En realidad, la colección de ensayos que reúnen estos libros tratan de ser ambas cosas: define la memoria exiliada como una constante del nacionalcatolicismo español hasta el día de hoy; asimismo expone una estrategia de recuperación de estas memorias impunemente negadas y clausuradas desde el siglo de la Inquisición hasta la era de Internet.
Un libro es la continuación del otro. La reconstrucción de la teología colonial en El continente vacío se abre, en Memoria y exilio, a la crítica del absolutismo monárquico, de la arrogancia nacional-católica y de los excesos doctrinarios en la historiografía moderna de la Península Ibérica e Iberoamérica. Y el análisis de la destrucción colonial de las altas civilizaciones americanas desemboca, como su última consecuencia, en una crítica de las culturas de América Latina perenemente sometidas al atraso moral, económico y político, y a la continuidad sin fisuras de las dependencias coloniales y neocoloniales. El mundo hispánico no ha tenido humanistas (los que lo fueron eran, en su mayoría, conversos, como Luis de León o los hermanos Valdés, y fueron encarcelados y exiliados, cuando no torturados y asesinados por la Inquisición). Este pequeño mundo hispánico tampoco ha tenido un pensamiento esclarecedor (los llamados “ilustrados” nunca cuestionaron el sistema autoritario que recorría la tradición escolástica ni la autoridad de la Inquisición en el Siecle des lumières); no ha conocido el liberalismo moderno (fue asesinado o exiliado con la restauración Borbónica a comienzos del siglo diecinueve); y ha cerrado sus puertas a la construcción de un pensamiento crítico en las situaciones cruciales del siglo veinte. Esos son los problemas que debatí en Memoria y exilio.
Pero quiero regresar al relato de mis viajes panamericanos. Y cerraré esta brevísima relación con un tercera y última estación. La titulé Paraíso. Esta colección de ensayos posee múltiples ediciones con títulos ligeramente diferentes, desde una optimista A penúltima visão do Paraíso, publicado en São Paulo en 2001, hasta la más sobria visión en su edición electrónica bajo el título escueto de Paraíso, en el Fondo de Cultura Económica, de 2013.
Paraíso es un cuaderno de viaje intelectual. Y, por consiguiente, es un libro más versátil que versado. Más bien me parece una rapsodia de los motivos y las motivaciones que encontraba en mi camino, guiado por la mano de andanzas y aventuras fortuitas. Y es, con todas sus torpezas, un libro de encuentros con arquitectos como Oscar Niemeyer o Lina Bo Bardi, con artistas y poetas populares, con manifiestos de la música, la pintura, la poesía y la literatura americana como los de Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Villa Lobos y Mário de Andrade. Y un libro que me abrió las puertas a los estudios posteriores sobre momentos cruciales de la cultura latinoamericana moderna como el Muralismo mexicano o Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos.
Permítanme concluir con unas palabras sobre el concepto de esclarecimiento. Su importancia en la historia moderna no puede subrayarse lo suficiente. Sin esclarecimiento no habría existido la Independencia de los Estados Unidos ni la Revolución francesa. Sin esclarecimiento tampoco hubiera tenido lugar la independencia de las naciones iberoamericanas, con todas las ambigüedades que esta translatio imperii de la escolástica y la contrarreforma españolas al esclarecimiento de Francia, los Países Bajos, Inglaterra o Alemania ha llevado consigo. Sin esclarecimiento no existirían joyas arquitectónicas y artísticas como la ciudad de San Petersburgo. Sin esclarecimiento no tendríamos una Novena Sinfonía de Beethoven. Tampoco podríamos contar con la crítica del capitalismo de Marx y la crítica del cristianismo de Nietzsche. En fin, sin esclarecimiento seriamos capaces de citar la máxima por excelencia del psicoanálisis de Freud y Jung: “Donde era Ello debe devenir Yo”, o más exactamente, donde reinaba lo inconsciente debe venir el proceso luminoso de la individuación autoconsciente. Esclarecimiento es también la finalidad suprema de la meditación en sus formas védicas, tántricas, budistas y taoístas. Y sin esclarecimiento no tendríamos el canto prometeico a un desarrollo humano en el medio de una tierra fecunda que Diego Rivera plasmó en los murales de la ex-iglesia católica de Chapingo.
A lo largo de los últimos años he organizado una serie de eventos con otros intelectuales de las Américas en torno a la idea de “esclarecimiento en una edad de destrucción”. Hemos tratado de redefinir el concepto filosófico, educativo y político de esclarecimiento desde una serie de perspectivas diferenciadas, tanto filosóficas como pragmáticas, en Sofía, Ouro Preto, Bogotá y Lima, y en New York y Santiago de Chile. Y hemos hecho público este último proyecto a lo largo de una serie de ensayos y artículos. Finalmente, también cristalizamos estas discusiones en un libro colectivo: Enlightenment in an Age of Destruction (“Esclarecimiento en una edad de destrucción”)
Pero antes de definir el significante esclarecimiento o enlightenment tengo que explicar el concepto de destrucción. Hoy vivimos amenazados bajo una gama amplia de fenómenos industriales que tienen a esta destrucción o autodestrucción como denominador común: la carrera armamentista del complejo tecnológico-industrial-militar, el envenenamiento químico de ecosistemas y el calentamiento global, y no en último lugar, los desplazamientos y el encierro en campos de concentración de decenas de millones de humanos. Paralelamente nos confrontamos con una serie de fenómenos de fragmentación política, segregación social y violencia. Y nos enfrentamos con sistemas electrónicos de manipulación y control corporativos totales sobre la vida individual de centenares de millones.
En cuanto al concepto de esclarecimiento podemos definirlo, negativamente, por lo que no es. En primer lugar, esclarecimiento no significa “ilustración”, una palabra castellana que define el lustre y el brillo de la ciudad letrada hispánica como epítome del eterno anti-esclarecimiento nacional-católico español. En segundo lugar, esclarecimiento no significa información; ni tampoco la robotización de esta información por los softwares académicos. Su fundamento es la experiencia individual de conocimiento y las posibilidades de un diálogo público sobre nuestra experiencia en el mundo. Este diálogo social esclarecedor parte de una premisa: el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales y, por consiguiente, de los sistemas, discursos y estrategias educativas.
Nuestros sistemas educativos, en México, en Brasil o en la Península ibérica se encuentran en un estado ruinoso perfectamente administrado a través de sus salarios miserables, sus deplorables medios técnicos, la escasez de becas, y unas alternativas laborales y sociales mediocres. En los Estados Unidos las humanidades se desmoronan ostensiblemente bajo el dogmatismo antihumanista, antiestético y antifilosófico de las corporaciones académicas. Por encima de todo ello el intelectual independiente capaz de criticar, esclarecer y movilizar a una masa electrónicamente embrutecida brilla por su más obscena ausencia. Las tiranías y gobiernos corruptos dan por sentado que no es necesario investigar, ni pensar, ni esclarecer, puesto que ya tenemos smartphones.
La reivindicación del esclarecimiento y la renovación de su proyecto intelectual, referido específicamente a América Latina en la constelación del colapso completo de sus organizaciones de resistencia anticolonial, es el hilo de oro que recorre mi último ensayo Crisis y crítica. Con este proyecto, que significa revertir el proceso de regresión política y decadencia cultural impuesto por nuevas formas totalitarias de gobierno en el mundo entero, deseo poner punto final a esta presentación. A semejante tarea nos debemos todos nosotros.
Eduardo Subirats. Autor de El continente vacío, Mito y Literatura, Paraíso, La existencia sitiada, entre otras decenas de libros y ensayos. Ha vivido en España, México, Brasil y en los Estados Unidos, donde fue profesor de la Universidad de Princeton. Trabaja actualmente en la New York University. E-mail: [email protected].
[IF]
Peuples exposés, peuples figurants – DIDI-HUBERMAN (A-EN)
DIDI-HUBERMAN, Georges. Peuples exposés, peuples figurants. Paris: Les Éditions de Minuit, 2012. Resenha de: EDUARDO, Jorge. Alea, Rio de Janeiro, v.22 n.1, jan./apr., 2020.
Um dos percursos possíveis para entendermos a presença de Aby Warburg nas operações críticas de Georges Didi-Huberman é seu estudo intitulado L’image survivante. Histoire de l’art et temps de fantômes selon Aby Warburg,1 de 2002. Podemos marcar a importância desse estudo para a exposição Atlas, ¿cómo llevar el mundo a cuestas?, montada inicialmente no Museu Reina Sofía, em Madrid, entre 26 de novembro de 2010 e 28 de março de 2011. Nessa exposição, o Atlas Mnemosyne, de Warburg, é um lugar, mais precisamente uma “mesa de orientação”,*1 onde a relação topográfica entre “tableau” (quadro) e “table” (mesa) marca a diferença entre aquilo que já está previamente fixo, designado pelo quadro, e uma possibilidade heurística de um trabalho em via de fazer-se, apontada pela mesa.
Mesmo sendo um topos importante para o pensamento de Georges Didi-Huberman ao longo de outros livros, a orientação de Warburg ficou ainda mais precisa na exposição Histoires de fantômes pour grandes personnes, exibida no Le Fresnoy entre 5 de outubro e 30 de dezembro de 2012. Nessa exposição, Georges Didi-Huberman faz um recorte do Atlas Mnemosyne, especificamente a prancha 42. O movimento do filósofo e historiador da arte francês atinge uma precisão, seguramente. Dessa precisão, observam-se ainda dois aspectos em ambas as exposições: como expor as fontes, que é também como pôr a história em cena, e ainda como apresentar o mecanismo museológico da montagem. Isso fica mais evidente no ensaio fotográfico de Arno Gisinger intitulado Atlas, suite e disposto na instalação Mnémosyne 42, concebida por Didi-Huberman, que faz parte de Histoires de fantômes pour grandes personnes. Sobre os dois primeiros aspectos, o texto de apresentação introduz uma discussão em torno das “fontes” e da “história”:
Mnémosyne 42 é uma prancha de atlas desmesurada (mais ou menos mil metros quadrados) e animada. Ela está “posta” sobre o chão da grande proa do Fresnoy e pode ser observada do corredor como o mar pode ser observado da popa de um navio. Seu tema é idêntico, mas os exemplos escolhidos foram o caminho que vai dos exemplos clássicos caros a Warburg até o cinema moderno (Eisenstein ou Dreyer, Pasolini ou Glauber Rocha) e contemporâneo (Paradjanov ou Jean-Luc Godard, Harun Farocki ou Zhao Liang), incluindo também alguns documentos tirados da atualidade política mais recente.*2
A medida é a desmesura. Nesses termos, ao abordar a escala do espaço expositivo, Didi-Huberman exibe um tema que lhe é caro e que se oferece como um fio condutor entre as imagens por ele expostas em Mnénosyne 42: a questão do excesso, do pathos, do sofrimento. Mas cada um desses momentos traz consigo suas nuances, que serão discutidas ao longo da leitura de Peuples exposés, peuples figurants, quarto volume da série intitulada O olho da história (L’œil de l’histoire). Essa série a qual pertence Peuples exposés, peuples figurants também compreende os livros Quand les images prennent position (2009), Remontages du temps subi (2010) e Atlas ou le gai savoir inquiet (2011).
Em Peuples exposés, peuples figurants, de 2012, Georges Didi-Huberman toma como démarche o valor de exposição dos povos. Uma vez colocada a questão da utilização de palavras isoladas como “homem” e “povo”, surge uma reflexão com a referência a Hannah Arendt: trata-se de os homens, os povos. Além de uma história já manifestada nas mudanças econômicas, nas exigências sociais e nas maquinações políticas, existe uma história secreta nas próprias disposições interiores de um povo, como no caso do povo alemão evocado por Siegfried Kracauer, em De Caligari a Hitler.*3
Existe, no entanto, uma dinâmica que envolve o desaparecimento dos povos e sua manifestação sob as formas de vida expostas no cinema, seja por Eisenstein, seja por Charles Chaplin, historicamente discutidas como apostas estéticas distintas. Na leitura de Georges Didi-Huberman, os povos ganham as telas não apenas para ser um motivo nos filmes de ambos os cineastas citados, mas porque eles escolheram a autoexposição como o gesto revolucionário das manifestações ao longo do século XIX. (Ibidem: 30-31.) Isso nos leva a dizer que esse foi um lugar “conquistado”. Dessas manifestações, o autor escolhe um ponto crucial: trata-se das fotografias de Philippe Bazin, cujo conjunto de retratos possui um movimento elíptico da humanidade entre velhos e recém-nascidos. Se todo um aspecto do ciclo vital e biológico fica exposto, o fotógrafo, que é médico de formação e cuja prática profissional o conduziu a trabalhar o paradoxo da distância e da proximidade na fotografia, chama esse movimento de “animalidade”. Georges Didi-Huberman, ao tomar os retratos feitos por Bazin, toma essa palavra em meio ao conjunto de imagens para afirmar que existe um gesto que permanece em potência: “o que Bazin chama de ‘animalidade’ talvez seja esta humanidade concentrada na espécie do minimum vital no qual cada intensidade se bate contra a amorfia, cada gesto com sua própria impossibilidade de realização”. (Ibidem: 46.) Esse movimento acontece de forma sutil, quer dizer, é dos povos expostos que o filósofo e historiador da arte passa para os rostos, isto é, para os retratos feitos por Bazin, que ele chama ainda de “uma comunidade de rostos”.*4
Em uma espécie de arqueologia do popular, Peuples exposés, peuples figurants pode ser lido como uma investigação sobre o que é a espécie humana sob suas manifestações de comunidade, de pobreza contraposta mesmo às dimensões cívicas de um retrato de grupo ou do culto à personalidade do retrato, na qual é preciso recorrer a poemas, a gravuras que fazem dos povos formas de expressão que são, enfim, uma política de sua própria exposição. Nesse sentido, as mudanças entre diversos retratos de grupos “ameaçadores” exibem um encadeamento que vai da paranoia medieval das bruxas e feiticeiras, passando pelos contaminados pela peste até chegar atualmente a esses crimes escondidos ou anônimos na própria multidão, chamados de “terrorismo”.*5 Se isso de fato acontece com os grupos, acontece também com a exposição dos povos no que também já foi chamado de “arte degenerada”, ante os próprios totalitarismos da raça. Evidentemente, a cultura possui seus equívocos, como já escreveu Georges Bataille. No entanto, isso faz da tarefa de expor os povos algo ainda mais delicado; trata-se, ainda, de uma busca incessante de uma comunidade. Expor os povos é uma busca interminável da comunidade em que a partilha é um dom, isto é, uma dádiva, no sentido dado por Marcel Mauss até que uma partilha dos olhares e das vozes passa por uma alteração notada por Didi-Huberman como uma alteração do sentido e do aspecto que se desencadeia em uma desidentificação. Assim, a partir de Jean-Luc Nancy, Georges Didi-Huberman argumenta que “o dom do outro é, por essa razão, que faz com que a comunidade não se instaure por uma soma de ‘eus’, mas por uma partilha do ‘nós'”.*6
Em Peuples exposés, peuples figurants, existe a exposição de um mecanismo sutil que é como o espaço da imagem, antes predominado pelo culto da personalidade e pelo retrato cívico de grupo, passa a ser tomado pela presença dos povos com as revoluções e, mais precisamente, com a pobreza urbana, como a da Inglaterra do século XVII, nas pinturas e gravuras de Marcellus de Laroon. Mas será, enfim, Goya aquele que melhor expressará essa pobreza. Seus desenhos, gravuras e pinturas estão voltados para uma catalogação de gestos feita pelo pintor: desde o modo como as crianças brincam com os cães, passando pelos enterros, festas de casamento, pelos párias nos hospitais, pelos jogos de cartas, pelos risos até chegar aos fuzilamentos de pobres, enfim, esse “espaço de clamor” também é “sua grande cólera libertária”. (Ibidem: 120.) Em meio a essa passagem, tal estado de “desgraça” visto nas imagens de Goya, por exemplo, pode ser visto como uma “deformação patológica” naturalizada mais tarde, no fim do século XIX, por Jean Martin Charcot e Paul Richer, época inclusive em que a histeria surge como o marco de uma enfermidade, libertando o mundo de toda uma imagerie de possessões e de bruxarias.2
Na primeira metade do século XX, a exposição dos povos teria ainda toda uma topografia cara a Eugène Atget, próxima de uma erotização dos trajetos urbanos, como o faz André Breton com Nadja, (Ibidem: 130.) e com esse efeito o “documentário” se aproxima do “estilo”, que, ao contrário de propostas exclusivamente formais, ambos não se separam. Assim, é nesta lógica que as fotografias dos abatedouros do Parque da Villette feitas por Eli Lotar estão muito próximas não apenas do artigo “Abattoir“, de Georges Bataille, para a revista Documents, em 1929, como também podem ser vistas como a própria encarnação da imagem da carniça evocada nos versos de Charles Baudelaire.
Se Didi-Huberman se valeu de formas de sofrimento ou, para sermos mais coerentes com o vocabulário do filósofo, das “fórmulas de pathos” (Pathosformeln), de Aby Warburg, para a composição de sua prancha desmesurada no Le Fresnoy, em Peuples exposés, peuples figurants, após as fotografias de Bazin, é o trabalho de Pier Paolo Pasolini que ganha relevo. Prosseguindo com sua leitura do cineasta feita em Survivances des lucioles (2009),3 a parte “Poèmes des peuples” (“Poemas dos povos”) retoma a figuração de La sortie des usines Lumière, de 1895, em que desde as origens do cinema os atores estão na própria condição de povo, mais precisamente como os trabalhadores da fábrica onde os próprios patrões, os irmãos Lumière, se encarregam de pô-los em cena. Sobre esse filme, o cineasta alemão Harun Farocki (cuja obra é analisada no segundo volume de L’œil de l’histoire, Remontages du temps subi) desenvolveu um filme-ensaio intitulado Arbeiter verlassen die Fabrik, de 1995, expondo politicamente todo o mecanismo emocional dos trabalhadores ao final de um dia de expediente.
Afinal, o que são os figurantes? E ainda de modo mais conciso: quem são os figurantes? Sobre esse estudo que marca a passagem dos povos em cena à sua simples figuração, isto é, o movimento de fundo, lemos que “o cinema não expõe os povos, ao que parece, senão pelo estatuto ambíguo de ‘figurantes’. Figurantes: palavra banal, palavra para ‘homens sem qualidade’ de uma cena, de uma indústria, de uma gestão do espetáculo dos ‘recursos humanos'”.*7 São eles, os figurantes, que constituem um movimento de fundo para a ênfase nos protagonistas, os heróis que seriam os atores da história. Os figurantes situam-se como uma massa humana informe, em movimento, emprestando seus rostos, seus gestos, enfim, seus corpos. O desafio, ao perguntar quem são os figurantes, é se aproximar daqueles que não são efetivamente os atores, observar seus gestos e ouvir suas palavras. O desafio posto no livro é uma repentina mudança de foco, onde um olhar estrangeiro como o do espectador pode discordar do movimento das lentas da câmera para ganhar autonomia no quadro, na cena, sendo esse um primeiro passo para aproximar-se dos não atores. Sendo assim, as formas sociais de exposição dos povos mudam assim como a estética dessa apresentação: se antes a “documentação” confrontava-se com o “estilo”, é com Pasolini que a exposição dos povos desafia todo o projeto de relegá-los ao pano de fundo.
De fato, a partir da leitura de Peuples exposés, peuples figurants, Pasolini possui um movimento dialético, pois ele expõe os povos ao mesmo tempo em que se expõe aos povos, onde o desejo e o perigo estão misturados, fato que realmente interferiu na sua vida: “expor os povos supõe expor-se à alteridade, quer dizer, uma afronta de si mesmo – enquanto se é poeta ou cineasta – em um ‘gueto’ no qual não se será protegido de modo algum”.*8 Assim, é no viés de uma exposição de si mesmo aos “povos” que se baseia toda a experiência na obra de Pasolini, que pode ser resumida em uma “beleza da resistência”, da sobrevida e da sobrevivência.*9 Pasolini assumia o risco do criador não apenas no plano experimental, mas no fato que ele se incluía na exposição dos povos, sendo ainda um cineasta que resistia dentro de fora da linguagem, afrontando o real, digamos, com um cinema de poesia, valendo-se no nível de catalogação dos gestos de Goya, com clamor e glória libertária. Não à toa ele tenha sintetizado esse risco no título de um artigo que diz que “fazer cinema é escrever sobre um papel que queima”. Isso seria ainda um outro modo de expor o que Gilles Deleuze escreveu em “Imanência, uma vida…”: “minha ferida existia antes de mim” ou próximo ainda do que Maurice Blanchot, a partir de Kafka, fala da “terceira pessoa”, o “ele” que destitui o sujeito.*10 Assim, o ato de expor os povos é também o risco de se expor ao perigo, gesto que está, inclusive, no étimo da palavra “experiência” e que está no limite do que Bataille escreveu em A experiência interior: “é preciso viver a experiência, ela não é facilmente acessível, e mesmo, considerada de fora pela inteligência, seria preciso ver aí uma soma de operações distintas, algumas intelectuais, outras estéticas, outras enfim morais, e todo o problema a retomar”.*11
Essa forma distinta de exposição dos povos encontra uma força de expressão, além de Pasolini, em filmes e obras de Chantal Aakerman, Béla Tarr, Glauber Rocha e ainda Wang Bing, a quem Georges Didi-Huberman dedica o epílogo do livro ao filme L’homme sans nom (O homem sem nome). E, nessa dinâmica entre o aparecer e o desaparecer, a exposição dos povos segue de forma incessante, praticamente dialética: “assim segue a exposição incessante dos povos, entre a ameaça de desaparição e a necessidade vital de aparecer, apesar de tudo”.*12
*1 (DIDI-HUBERMAN, Georges. Atlas, ¿cómo llevar el mundo a cuestas? Madrid: Reina Sofía, 2010: 187. [ Links ])
*2 (Impresso da exposição Histoires de fantômes pour grandes personnes, concebida por Georges Didi-Huberman e Arno Gisinger para o Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains – de 5 outubro a 30 de dezembro de 2012 –, Tourcoing, França.)
*3 (DIDI-HUBERMAN, Georges. Peuples exposés, peuples figurants. Paris: Les Éditions de Minuit, 2012: 26. [ Links ])
*4 (Ibidem: 51.)
*5 (Ibidem: 67.)
*6 (Ibidem: 102.)
*7 (Ibidem: 149.)
*8 (Ibidem: 198.)
*9 (Ibidem: 211.)
*10 (Ibidem: 211.)
*11 (BATAILLE, Georges. A experiência interior. Trad. Celso Libânio, Magali Montagné, Antonio Ceschin. São Paulo: Ática, 1992: 16. [ Links ])
*12 (DIDI-HUBERMAN, Georges. Peuples exposés, peuples figurants, op. cit.: 231.
1 Editado recentemente em português, História da arte e tempo de fantasmas segundo Aby Warburg. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.
2 Quanto a esse aspecto, ver Invention de l’hystérie, de Georges Didi-Huberman, reeditado em 2012 pela Macula.
3 A edição brasileira Sobrevivência dos vagalumes (trad. de Vera Casa Nova e Márcia Arbex) foi publicada em 2011 pela Editora da UFMG.
Eduardo Jorge é mestre em Teoria Literária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e doutorando em Literatura Comparada pela UFMG e pela École Normale Supérieure – ENS.
[IF]Com o Mar por Meio. Uma Amizade em Cartas – AMADO; SARAMAGO (A-EN)
AMADO, Jorge; SARAMAGO, José. Com o Mar por Meio. Uma Amizade em Cartas. Seleção, organização e notas de Paloma Jorge Amado, Bete Capinan e Ricardo Viel, São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Resenha de NOGUEIRA, Carlos. Correspondence Jorge Amado / José Saramago: the supreme delicacy that is friendship. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec., 2019.
O título deste livro, que os organizadores foram buscar em uma das cartas que José Saramago enviou a Jorge Amado, indica, com precisão e expressividade, as circunstâncias que desencadeiam a correspondência trocada pelos dois escritores entre 1992 e 1998: quer a imensa distância física que os separava, quer as inúmeras solicitações que, muitas vezes, não permitiram que eles se encontrassem. O subtítulo, também muito sugestivo, resume bem a grande motivação destas mensagens: a amizade entre Amado e Saramago, que nasceu quando “os dois já iam maduros nos anos e na carreira literária”, como se lê na contracapa, na qual se reproduz uma fotografia dos dois, sentados lado a lado. Nesta amizade participaram igualmente, e para ela muito contribuíram, as companheiras de cada um deles: Zélia Gattai e Pilar del Río.
Em forma de carta, bilhete, cartão ou fax, esta correspondência traduza profunda admiração que Jorge Amado e José Saramago sentiam um pelo outro enquanto pessoas e escritores. A vivacidade do estilo confere a estes textos tão pessoais uma noção de conjunto que se soma ao quadro completo da vida humana inscrito em obras que pertencem, de pleno direito, à melhor literatura universal, tanto no aspeto doméstico e individual como no coletivo e heroico.
Em diversas ocasiões, Pilar del Río disse acreditar que a divulgação destas cartas favorece a aproximação dos leitores à obra de dois escritores cuja maneira de ser, estar e pensar se vê, em larga medida, nestes textos breves ou muito breves, que não foram escritos com intenções de publicação. São documentos preciosos para o conhecimento da intimidade e da cumplicidade que unia Jorge Amado e Saramago, que o mesmo é dizer: textos valiosos para a compreensão da biografia e da personalidade de ambos. Esta correspondência revela-nos o quotidiano de dois homens – comprometidos com a escrita e a vida, as sociedades portuguesa, espanhola, brasileira e o mundo – que haveriam de se encontrar em Paris, Roma, Madrid, Lisboa, Brasília e na Bahia. É mais correto dizer que este comprometimento com a vida é extensível aos dois membros dos dois casais, uma vez que Zélia Gattai e Pilar del Río são sempre destinatárias explícitas e agentes do que se conta e anuncia, nomeadas quase sempre no vocativo inicial, que inclui o adjetivo “queridos” (ou “querida”, como em “Querida Zélia, querido Jorge”), ora a qualificar os amigos sem os nomear (“Queridos amigos”), ora a nomeá-los (“Queridos Pilar e José”), ora num misto destas duas formas, como em “Zélia, Jorge, queridos amigos”.
Poder-se-á pensar que os livros de cartas, especialmente aqueles que reúnem textos curtos ou muito curtos, têm uma vida e um interesse limitados. Não é assim, nesta coletânea, como não o é sempre que estão envolvidas obras (e vidas) cuja grandeza admite pouca ou nenhuma discussão. As palavras de Jorge Amado e José Saramago bastariam para garantir a importância deste livro, que está enriquecido com fotografias e textos que, relacionados com as cartas ou diretamente com Jorge Amado (como a propósito da morte deste escritor), Saramago escreveu e, na sua grande maioria, publicou nos Cadernos de Lanzarote. Os organizadores decidiram ainda incluir uma carta de Pilar, dirigida ao casal amigo, que sintetiza bem o tema que, ao lado dos temas da amizade e da saudade, mais é discutido na correspondência entre os dois amigos: os prêmios literários, sobretudo o Nobel da Literatura.
A autoria das cartas, dizia, seria suficiente para distinguir este livro de outros do mesmo gênero que vão sendo publicados um pouco por todo o mundo. Convém, todavia, fundamentar bem esta nossa afirmação. Com o Mar Por Meio testemunha uma amizade que surge quando os dois escritores tinham já uma idade avançada e um considerável reconhecimento literário e social. Não é uma fatalidade, mas sabemos como entre os escritores (maiores e menores) são frequentes as desavenças, as invejas e os ódios mais ou menos confessados. Entre Jorge Amado e Saramago não há o menor indício de rivalidade, nem o mais tênue ressentimento pelo sucesso do outro. Muito pelo contrário, cada um defende veementemente a qualidade da escrita do amigo e a justiça da atribuição de mais prêmios ao outro e à língua portuguesa. Os dois lamentam também o que consideram as injustiças e as provocações que várias academias e certos júris têm cometido em relação a cada um deles. É neste contexto que Saramago declara: “Finalmente o Camões para quem tão esplendidamente tem servido a língua dele! Será preciso dizer que nesta casa se sentiu como coisa nossa esse prémio? Que pessoalmente me sinto orgulhoso do comportamento dos portugueses que passaram pelos júris, e em especial os de agora? Sirva isto de compensação para as decepções e as amarguras que outros causaram a Jorge” (p. 85).
Numa das cartas mais longas e ricas de Com o Mar por Meio, a que acima já aludi, Pilar del Río ajuda-nos a enquadrar e a compreender as ideias e as atitudes de Jorge Amado e de José Saramago relativamente aos prêmios literários em geral e ao Prêmio Camões e ao Nobel, em particular, por cuja “concessão” a um autor de língua portuguesa os dois muito lutaram. A autora, numa linguagem não menos exata e apelativa do que a dos dois escritores, elogia a obra e a personalidade de Jorge Amado, ao mesmo tempo que retira aos prêmios literários a autoridade e a gravidade que, regra geral, lhes atribui: “Lo que has hecho con el portugués y por el portugués, la luminosidad que has añadido a esa lengua y al hermoso acto de novelar, merece todoelreconocimiento. No digo el Nobel, porque cuando se habla de Literatura (así con mayúscula), me parece una ordinariez citar un premio, aunque sea el premio de los premios” (sublinhado no original; p. 58). A apreensão que os prêmios literários merecem a Pilar del Río é inversamente proporcional à sua confiança na literatura de Jorge Amado, cuja leitura nos dá a satisfação e o poder “de ser más hondos y más universales. En definitiva, de ser más humanos por ser más inteligentes” (p. 58). Com perspicácia e ironia fina, a autora, confiante no bom senso dos “senõres de Estocolmo” (p. 58), inverte os termos da equação: “Por supuesto, si además, te dan el Nobel, como parece tan probable, mejor que mejor. No te añadirá ni un ápice de honra o de gloria, que de eso estás servido con tu obra, pero honrarás al premio” (p. 58).
Não numa carta, mas num texto do seu diário, publicado nos Cadernos de Lanzarote, é dentro desta linha de pensamento e com sentimentos que parecem ser muito semelhantes aos de Pilar del Río que o escritor português comenta os prêmios literários em cujos júris participa ou que espera ganhar ou ver Jorge Amado ganhar. Com a expressividade, a clareza e a contundência que sempre incutiu às suas palavras, Saramago afirma, a propósito da atribuição do Prêmio Camões a Rachel de Queiroz: “Não discutimos os méritos da premiada, o que não entendemos é como e porquê o júri ignora ostensivamente (quase apeteceria dizer: provocadoramente) a obra de Jorge Amado. Esse prémio nasceu mal e vai vivendo pior. E os ódios são velhos e não cansam” (p. 24). Sobre o Nobel, no mesmo tom direto, Saramago comenta as informações segundo as quais o prémio de 1994 seria para António Lobo Antunes. Com ironia, o escritor português argumenta: “Já sabemos que em Estocolmo tudo pode acontecer, como o demonstra a história do prémio desde que o ganhou Sully Prudhomme estando vivos Tolstói e Zola” (p. 51). Aquilo que José Saramago escreve a seguir, dentro de regras de boa educação e honestidade intelectual, não poderia ser mais frontal: “Quanto a mim, de Lobo Antunes, só posso dizer isto: é verdade que não o aprecio como escritor, mas o pior de tudo é não poder respeitá-lo como pessoa” (p. 51). A concluir este texto, Saramago confessa, com autoironia, o desejo de se deixar de preocupar com o Nobel, que é, como ele diria numa carta escrita quatro dias depois daquele texto do diário, “uma invenção diabólica” (p. 53). “Como não há mal que um bem não traga, ficarei eu, se se confirmar o vaticínio do jornalista, com o alívio de não ter de pensar mais no Nobel até ao fim da vida” (p. 51).
A incomodidade e os conflitos interiores trazidos aos dois escritores pela obrigatoriedade de conviverem com o tema dos prêmios literários e de quererem conquistá-los para si tiveram como reverso, felizmente, a alegria de se sentirem reconhecidos e de poderem dirigir palavras de apreço um ao outro (Jorge Amado com o Prémio Camões, Saramago com o Nobel). Deste sentimento é sintomática a atitude inesperada e improvável de Jorge Amado, que, apesar de muito doente, ao ouvir da boca de Zélia Gattai que Saramago fora distinguido com o Nobel, “pulou do cadeirão, chamou Paloma, pediu que se sentasse no computador que ele iria ditar de imediato, uma nota para a imprensa” (p. 113), telefonou ao irmão, festejou (o possível) com a mulher e a filha, “Foi dormir contente” (p. 113). Contudo, “No dia seguinte, não quis mais abrir os olhos” (p. 113).
A questão dos prêmios literários, cuja discussão neste livro é preciosa para o conhecimento da personalidade e da vida de dois dos mais importantes escritores de língua portuguesa, justifica, por si só, a leitura atenta desta correspondência. Mas ao tema polêmico e complexo dos prêmios acresce o tom e o estilo das cartas. Nelas, a linguagem direta, a concisão e a secura das frases não são incompatíveis nem com a sinceridade dos sentimentos e das emoções nem com a profundidade do tratamento dos temas e assuntos (fala-se também da participação dos dois em júris e academias, de questões políticas e sociais, de saúde, etc.). Essa naturalidade e essa força veem-se em formulações, muito próprias tanto de Jorge Amado como de Saramago, que lembram máximas e pensamentos burilados pela tradição, como: “Espero que, ao menos, o trabalho me ocupe esses dias de velhice – velhice não é coisa que preste” (Jorge Amado p. 89); “[…] desejamos que haja mais ocasiões para estarmos juntos e partilhar do manjar supremo que é a amizade” (José Saramago, p. 107).
Para os leitores destas cartas, fica claro que Jorge Amado e José Saramago sempre pensaram a literatura e as literaturas em língua portuguesa não como existências isoladas, mas como forças centrais no jogo das energias e das construções tanto individuais como históricas, culturais e políticas.
Referências
AMADO, Jorge; SARAMAGO, José. Com o Mar por Meio. Uma Amizade em Cartas. Seleção, organização e notas de Paloma Jorge Amado, Bete Capinan e Ricardo Viel. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. [ Links ]
GOULART, Rosa Maria. O Trabalho da Prosa: Narrativa, Ensaio, Epistolografia. Coimbra: Angelus Novus, 1997. [ Links ]
LEMOS, Ester. “Epistolografia (em Portugal)”. In: COELHO, Jacinto do Prado (dir.). Dicionário de Literatura. 4a. ed. Porto: Mário Figueirinhas Editor, 1997, p. 295-298. [ Links ]
ROCHA, Andrée. A Epistolografia em Portugal. Coimbra: Livraria Almedina, 1965. [ Links ]
*Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), no âmbito do Centro de Estudos em Letras (referência UID/LIN/00707/2019) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal.
Carlos Nogueira. É co-titular da Cátedra José Saramago da Universidade de Vigo (Galiza, Espanha). Doutorou-se em Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2008), onde também fez um mestrado em Estudos Portugueses e Brasileiros (1999) e se licenciou em Línguas e Literaturas Modernas (1994). Realizou um pós-doutoramento em Literatura Portuguesa na Universidade Nova de Lisboa (2014). O seu trabalho de investigação mais recente tem-se centrado sobretudo nas relações entre a Literatura, a Filosofia e o Direito. E-mail: [email protected]
[IF]A vida invisível de Eurídice Gusmão – BATALHA (A-EN)
BATALHA, Martha. A vida invisível de Eurídice Gusmão. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Resenha de BERNED, Zilá. O extremo contemporâneo na literatura brasileira. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec., 2019.
L´extrême contemporain,
c´est mettre tous les siècles ensemble.
(Michel Chaillou apud Dominique Viart, 2008, p. 20)
Dominique Viart, em livro de 2008, estabelece distinções no âmbito das literaturas contemporâneas, afirmando que existem três tipos de literatura: as de consentimento (consentantes), ou seja, aquelas que não contestam a sociedade e que se constituem como a “arte da aprovação”, em que os escritores escrevem para o grande público, tornando-se muitas vezes bestsellers; as conciliatórias (concertantes), que fazem coro aos clichês e que se resumem a reconduzir a doxa, harmonizando as opiniões gerais; e, por fim, as literaturas desconcertantes (déconcertantes), que seriam aquelas que deslocam as expectativas da maioria dos leitores, deixando de reproduzir as velhas receitas literárias e passando a exercer uma atividade crítica que se desvia de significações pré-concebidas, levando os leitores a reavaliarem seus conceitos e sua consciência de estar no mundo. Essas literaturas desconcertantes, que incomodam pela crueza como desvendam e denunciam preconceitos ou visões estratificadas da sociedade, é que caracterizam o “extremo contemporâneo”.
Na mesma direção, em livro recente de 2018, o polêmico Johan Faeber, introduz o conceito de “après-littérature” ou literatura do “depois” (evitando o já desgastado conceito de pós-literatura ou pós-moderno), que seria a que se propõe a escrever “a contra-história de nosso tempo”. Afirma também que é esse tipo de romance que dará uma sobrevida à literatura, representando a sua revivescência. No momento em que se pensa que tudo já foi escrito e que, portanto, pode-se antever a morte da literatura, surgem os escritos do extremo contemporâneo. Para defini-lo o autor vale-se de uma expressão de Giorgio Agamben que afirma que “ser contemporâneo significa voltar a um presente onde nunca estivemos”, isto é, a um presente do qual não participamos e sobre o qual não interferimos. Um presente revisitado.
Torna-se oportuno introduzir a questão de um fenômeno que está acontecendo na cena literária brasileira dos últimos dez anos, talvez vinte anos: o surgimento de uma escritura feminina “desconcertante”, manifestando uma urgência de escrever para denunciar a invisibilidade e a inaudibilidade de toda uma geração de mulheres que a precedeu e que não teve voz nem vez na cena pública brasileira.
Trata-se de autoras jovens, quase todas escrevendo entre os 35 e os 50 anos, a maioria detentoras de diplomas universitários e teses de mestrado e/ou doutorado, e que vêm revolucionando a cena literária em nosso país. Entre elas, Carola Saavedra, Aline Bei, Eliane Brum, Conceição Evaristo, Martha Batalha, Tatiana Salem Levy, Adriana Lisboa, Paloma Vidal, Ana Maria Gonçalves, Leticia Wierzchowski, Cíntia Moscovich, Maria da Graça Rodrigues, entre tantas outras. É interessante consultar a antologia organizada por Luiz Ruffato: 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (Record, 2004). O organizador da antologia sentiu também a necessidade de abordar o advento de uma nouvelle vague literária no feminino cujas obras, escapando ao “prêt-à-penser” cultural, ou seja, recusando-se a repetir velhas e desgastadas fórmulas romanescas, desconcertam os leitores ao desnudar histórias de vida que permitem a suas narradoras/protagonistas, através da recuperação da memória de suas antepassadas (mães e/ou avós) e de sua ressignificação no presente, entender em que medida sentem-se (ou não) herdeiras desse passado.
Importa, em especial, falar do livro de Martha Batalha (nascida em 1973), A vida invisível de Eurídice Gusmão (São Paulo: Companhia das Letras, 2016), que desvenda a invisibilidade da protagonista – Eurídice Gusmão -, a quem nomeia no título, para convocá-la à existência apontando suas tentativas de se emancipar, todas elas frustradas pelo marido. O livro transforma-se em um verdadeiro inventário de ausências na vida de Eurídice Gusmão, típica dona de casa do Rio de Janeiro, dos anos 1940, quando a mulher da classe média que trabalhasse fora do lar representava o fracasso do marido em sustentar a família.
Inventário das coisas ausentes é o título de um livro de Carola Saavedra (Cia. das Letras, 2014), remetendo igualmente às ausências, às faltas na vida das mulheres no Brasil e à necessidade de inventariá-las, uma vez que só após o inventário se reparte a herança, e que só depois de recebido o legado é possível transmiti-lo. As memórias só se constituem plenamente pela transmissão. A transmissão, no dizer de Paul Ricoeur, é geradora de sentido. Por isso nunca se viu tantas mulheres escrevendo romances verdadeiramente “desconcertantes” no Brasil: eles são necessários para realizar o inventário das ausências e transmiti-las através da escritura, gerando sentido e restaurando memórias feridas.
Patrick Chamoiseau escreveu um livro intitulado La matière de l´Absence (SEUIL, 2016), no qual reconhece que as literaturas das Américas vem sendo construídas com “a matéria da ausência”, ou seja sobre camadas de esquecimento e denegação de elementos culturais indígenas e africanos cuja transmissão não foi efetivada porque houve rejeição dessa herança pelos herdeiros ou porque tais tradições não foram consideradas quando da construção das identidades nacionais. Podemos pensar em algo semelhante diante do silenciamento imposto às mulheres às quais não se concediam o direito à alfabetização e, posteriormente, à frequentação de universidades.
Pois foi esse silêncio, essa ausência que tornou as mulheres e os papéis que desempenhavam invisíveis. Martha Batalha aponta em seu livro as diferentes tentativas de sua heroína de sair da invisibilidade, inicialmente organizando um livro de receitas, depois das bem-sucedidas experimentações que realizava em sua cozinha. O que poderia ter sido um bestseller pelo talento de Eurídice Gusmão foi jogado no lixo pelo marido que não podia admitir tamanha audácia por parte da esposa, que – segundo ele – deveria se contentar com a repercussão familiar das receitas. A nova tentativa de desenvolver seus dotes artísticos através da costura foi igualmente castrada pelo todo poderoso marido, pois o que haveriam de pensar os vizinhos diante do fato de a esposa “costurar para fora”. Assim vai se desperdiçando a vida da personagem até os filhos não precisarem mais de sua dedicação: é quando percebe que na estante da sala de sua casa havia livros e que livros poderiam ser lidos, passando a devorar os livros da estante assim como os da biblioteca pública. O passo seguinte foi a compra da máquina de escrever, a mudança da casa velha para o novo bairro que estava surgindo à beira-mar: para Ipanema. “Mudar-se para Ipanema no início dos anos 60 não era apenas transferir a mobília alguns quilômetros adiante. Era atravessar os portões do tempo, para viver num lugar que fazia o resto do Rio se parecer com o passado” (2016, p. 169). Os tec, tec, tec da máquina foram ouvidos com mais insistência do que na antiga casa da Tijuca, embora ninguém se preocupasse com o que teria para escrever uma dona de casa. Embora os jornais não tenham aceitado seus textos nem ninguém na casa manifestasse o mínimo interesse por eles, foi através primeiro da leitura e depois da escritura que Eurídice Gusmão se viu face a face com a invisibilidade que lhe foi imposta pelo marido.
Embora o livro traga as marcas de um feminismo incipiente em que o homem (marido) é o inimigo, ele aporta frescor ao feminismo atual pelo fato da emancipação não passar por grupos, mas pela afirmação de si mesma, através do florescer de preocupações intelectuais e pelo ato de criação literária.
A personagem se liberta pela escritura, e a autora constrói um romance com base em uma personagem feminina subjugada que lentamente sai de sua invisibilidade e sobretudo de sua inaudibilidade, sem cair em narrativas piegas, ou na criação de uma escritura à l´eau de rose, como dizem os franceses. Ambas escrevem para se conhecerem através da escritura, compondo obras que desconcertam pela crueza das descrições e por chegarem, como afirma Viart: là où on ne les attend pas. Elles échappent aux significations preconçues, au prêt-à-penser culturel. (2008. p. 13)1
Nessa medida, Martha Batalha desenvolve uma escrita crítica e ao mesmo tempo cheia de humor e de leveza, rompendo cordões de isolamento, deslocando ideias e recriando fórmulas narrativas inéditas. De modo semelhante, autoras de sua mesma geração, como as citadas acima, cada uma escolhendo um objeto do deslocamento, vêm criando o que Luiz Ruffato chama de “Nova literatura brasileira”: Aline Bei aborda, em O peso do pássaro morto (2018), a ainda impronunciável questão do estupro; Eliane Brum, em Uma duas (2018), traz à baila as relações deterioradas entre mãe e filha e temas como a automutilação; Conceição Evaristo, em Olhos d´água (2015), descreve a infância de crianças negras em uma favela e a busca por saber a cor dos olhos da mãe; e Carola Saavedra, em Com armas sonolentas (2018), enfrenta o duríssimo tema da maternidade indesejada e dos desencontros de separações entre mães e filhos, tudo embalado pelo canto “sonolento” de Soror Juana Inés de la Cruz. Enfim, soberbas lições trazidas por esses romances desconcertantes, por vezes penosos para o leitor, mas que certamente não sai o mesmo depois de acabada a leitura. Trata-se de uma literatura que renuncia a trilhar caminhos conhecidos e a reproduzir o que Dominique Viart chama de “o depósito cultural dos séculos e das civilizações” (2008, p. 20).
O belíssimo inventário de perdas realizado por Martha Batalha em A vida invisível de Eurídice Gusmão passou ao cinema tendo sido recentemente apresentado no Festival de Cannes, onde foi premiado na mostra Un certain regard. O melodrama de Karim Aïmouz contou, em seu elenco, com Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier e com a participação de Fernanda Montenegro. O filme será lançado em setembro no Brasil.
Até lá, ler o livro é uma prazerosa e “desconcertante” urgência. O leitor/a estará trilhando os caminhos do extremo contemporâneo ou, no dizer de Johan Faeber, entrando em contato com uma literatura que surge quando se pensa que tudo já foi escrito e que nada mais de novo haveria para ser contado, correspondendo ao que o autor chama de “après littératures”, ou seja, aquelas que representam uma revivescência do fato literário.
Referências
BATALHA, Martha. A vida invisível de Eurídice Gusmão. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. [ Links ]
FAEBER, Johan. Après la littérature: écrire le contemporain. Paris: PUF, 2018. [ Links ]
RUFFATO, Luiz. 25 mullheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. Rio de Janeiro: Record, 2004. [ Links ]
VIART, Dominique; VERCIER, Bruno. La littérature française au présent. 2a. ed. Paris: Bordas, 2008. [ Links ]
Notas
1Lá onde não as esperamos. Elas escapam às significações pré-concebidas, ao pronto-para-pensar cultural.
Zilá Bernd é professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente professora permanente do PPG-Memória Social e Bens Culturais do UNILASALLE/Brasil. É bolsista de pesquisa 1B CNPq. Foi uma das primeiras presidentes da ABECAN (Associação Brasileira de Estudos Canadenses) e presidente do ICCS-CIEC (International Council for Canadian Studies). Foi a fundadora e primeira editora da Revista Interfaces Brasil-Canadá. É Officier des Palmes Académiques e Officier de l´Ordre National du Québec. É autora de dezenas de artigos publicados em revistas do Brasil, do Canadá e da França, e de vários livros – sendo o último A persistência da memória; romances da anterioridade e seus modos de transmissão intergeracional. Porto Alegre: Besouro Box, 2018. O mesmo teve versão em língua francesa: La persistance de la mémoire: romans de l´antériorité et leurs modes de transmission intergénérationnelle. Paris : Société des écrivains, 2018. E-mail: [email protected]
[IF]
El abandono. Abismo amoroso y crisis social en la literatura argentina reciente – ARIZA (A-EN)
ARIZA, Julio. El abandono. Abismo amoroso y crisis social en la literatura argentina reciente. Rosario: Beatriz Viterbo, 2018. Resenha de MUSITANO, Julia. Cuando el amor termina, la ficción comienza. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec. 2019.
La revista Anfibia publicó a principios de este año un número en papel sobre el amor: relatos de escritores y críticos literarios argentinos sobre amor. En todos sus colores y formas, cada página derrocha ternura, felicidad y tristeza como despliegues del mismo tema. El tema del amor: encuentro y reencuentro infinito, desencuentros inapelables, cuerpos hastiados, incertidumbre desafiante, pasión y frialdad, virtualidad y realidad. Me alegró mucho ver un número entero dedicado al tema, y más me alegró cuando la editorial Beatriz Viterbo me acercó un libro publicado este mismo año para reseñar: El abandono de Julio Ariza. Embarcada en el tren de los encuentros amorosos, me escapé por el vagón trasero del desengaño, de la crisis, de la vulnerabilidad del abandono.
Podríamos decir que el amor es el gran tema de la novela, en principio, y después agregar que de la literatura en general. Podríamos también preguntarnos si la literatura argentina se ha dedicado a escribir sobre amor, ¿cuáles son los textos canónicos que lo sondean, que, al menos, lo miran de refilón? Y responder que los contamos con los dedos de una mano. ¿Macedonio Fernández, Leopoldo Marechal, Manuel Puig? A pesar de eso, Ariza pudo armar una serie literaria con un solo casillero del calendario amoroso: el del abandonado.
Escribir de o sobre el amor pone en escena la experiencia amorosa, pero la diferencia reside en que uno cuenta como clase y el otro se despliega en una serie. Esa es la gran propuesta de Ariza: entrar a la literatura de una serie de escritores actuales de la literatura argentina (Daniel Link, Alan Pauls, Gabriela Massuh, Juan José Becerra, Mariano Siskind, Daniel Guebel y María Fasce) una vez que la escena amorosa ha llegado a su fin, pero la estela que deja consta de varias figuras y de unas cuantas sensaciones. Por eso, además de interesarle a Ariza la figura del abandonado, le importan sus despliegues y contagios, como el ser que emigra (el que se va porque quiere), el que es arrojado fuera del sistema (el que se va porque lo echan), el que intenta construir un nuevo modo de mirar el futuro (cómo sobrevivir a una catástrofe), y el abandono como ética artística (cómo seguir escribiendo). Para esto, Ariza se apoya en un aparato teórico (Agamben, Blanchot, Barthes, Badiou, Benjamin y Bergson) que construye con precisión, rigurosidad y claridad, y que le sirve para sostener hipótesis contundentes.
La serie se arma porque se trata de novelas sobre el amor, porque todos los protagonistas fueron expulsados de la escena amorosa, porque todos son varones abandonados y porque son novelas escritas después de la gran crisis que azotó a la Argentina en 2001. Amor, crisis y abandono es la fórmula que se despliega para armar serie, para entablar lazos entre una generación de escritores que quizás se unen también por otros motivos. Aquí se muestra el momento exacto del desmoronamiento: ha sucedido una catástrofe y veamos qué hacer con los restos. El crack up lo llama Fitzgerald, el mal de tiempo le dice Alan Pauls en el prólogo a las obras de Fitzgerald. Hay alguien que no da más, que se desmorona, incapaz de pensar y hacer, exhausto, inerte, insensible, como congelado por una especie de estupor que lo invade todo. Gilles Deleuze se pregunta ¿qué pasó? ¿cómo llegué hasta acá? ¿quién me trajo? Esta es la escena que uno presencia cuando Ariza lee el abandono en esta serie de novelas. El abandono como catástrofe social y personal, como estructura frágil y vulnerable, como sacrificio, como escape y apuesta política, como debacle temporal y como ruina.
Dos son las figuras que entran en juego en una relación asimétrica: el abandonante que toma la decisión de irse, decisión inapelable e irreversible, y el abandonado que queda inmovilizado (Ariza lo define desde la etimología de la palabra amurar) en un espacio tiempo de ansiedad. Ha sucedido un evento catastrófico que viene de afuera, que sorprende, que irrumpe en el contexto amoroso para desestabilizar. Ese evento dura en el tiempo, un tiempo congelado que parece no pasar, pero que hay que dejarlo pasar. “Es imposible volver al pasado, es imposible salir del pasado.” ¿Cómo sobrevivir al abismo temporal del silencio que provoca el estallido? “No hay escapatoria del amor.”
Los abandonados literarios se colocan en el umbral de la vida, entre el presente y el futuro, se quedan quietos pero desesperados. No hay proporción que pueda medir la desazón. Hay que soportar, y para hacerlo, Ariza entiende que hay que inventar. En el mal de tiempo, hay una ansiedad de relato que intenta llenar el vacío. “El abandonado recrea constantemente las historias de un pasado que sólo a él le pertenecen.” La incertidumbre temporal deviene ansia de creación, le otorga espacio a la ficción. Si el tiempo no se mueve, que se mueva el relato. Las ficciones con las que Ariza arma una topología amorosa articulan lo íntimo y lo social a través de ciertos principios éticos que ponen en juego un modo de definir lo literario. En algunas, el abismo amoroso toma el calibre del terror a la página en blanco, la renuncia al amor es la renuncia a poder/seguir escribiendo. En otras, el abandono se escenifica en final apocalíptico en el que se representa el fin de lo conocido hasta hoy. En otras, el vivir sin amor se equipara al vivir sin estado, al desamparo y la intemperie como experiencias de un afuera total; o recurren al exilio, al irse para volverse imperceptible en una metamorfosis disolutoria. También algunos personajes ingresan al juego de conectarse con la propia vulnerabilidad hasta fragilizarse como ejercicio consciente de autoanálisis en el marco de las escrituras del yo.
El abandono cambia de forma, pero sus vestigios mantienen la potencia ética de semejante figura. Me interesa la lucidez de Ariza para definirla a través de una selección impecable de novelas. Me interesa mucho más que en el análisis específico de cada texto en particular, la literatura renueva su fuerza para seguir diciendo. Quiero decir que Ariza sale airoso del riesgo inminente de toda lectura de corpus en la que los textos quedan reducidos al problema tratado o a una red de similitudes. En este libro, la fórmula amor, crisis y abandono se sostiene teóricamente y es la literatura la que la hace subsistir. El foco está en la figura doliente, pero los textos continúan hablando por sí solos, constituyendo problemas propios y resaltando las más íntimas ambigüedades.
Referências
ARIZA, Julio. El abandono. Abismo amoroso y crisis social en la literatura argentina reciente, Rosario: Beatriz Viterbo, 2018. [ Links ]
DELEUZE, Gilles. “Porcelana y volcán”. In: La lógica del sentido. Buenos Aires: Paidós, 1989, p. 162-169. [ Links ]
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix, “Tres novelas cortas o qué ha pasado”. In: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-textos, 2006, p. 197-211. [ Links ]
FITZGERALD, Scott. El crack up. Trad. Marcelo Cohen. Buenos Aires: Crackup, 2011. [ Links ]
PAULS, Alan. El mal de tiempo. In: FITZGERALD, Scott. El crack up. Trad. Marcelo Cohen. Buenos Aires: Crackup , 2011, p. 9-22. [ Links ]
Julia Musitano. Doctora en Letras por la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), profesora auxiliar de Análisis y Crítica II en la Universidad Nacional de Rosario y directora de la Revista Badebec. Publicó Ruinas de la memoria. Autoficción y melancolía en la narrativa de Fernando Vallejo, Un arte vulnerable. La biografía como forma junto a Nora Avaro y a Judith Podlubne, y ensayos en diversas revistas especializadas. E-mail: [email protected]
[IF]
Montaigne – JOUANNA (A-EN)
JOUANNA, Arlette. Montaigne. Paris: Gallimard, 2017. Resenha de FAVERI, Claudia Borges de. Os fios que moviam Michel de Montaigne. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec., 2019.
Nos últimos dias de 2018, uma notícia atraiu os olhares do mundo intelectual e jornalístico do mundo todo. Tudo indicava que, finalmente, após quase 500 anos, os restos mortais de Michel de Montaigne teriam sido descobertos no subsolo do Museu da Aquitânia, em Bordeaux, oeste da França. As investigações continuam e ainda não se tem certeza se o que se pôde ver – um caixão em madeira, ossos humanos e uma placa em bronze dourado com o nome de Michel de Montaigne -, através de dois pequenos orifícios feitos nas grossas paredes do subsolo, tem de fato alguma relação com o filósofo e escritor renascentista. Tudo leva a crer que, desde sua morte em 1592, os restos mortais de Montaigne tenham errado de sepultura em sepultura até chegar, não se sabe ainda quando, a este museu em Bordeaux. Bordeaux, que Montaigne administrou entre 1581 e 1585 por dois mandatos consecutivos, e que, graças à sua capacidade de negociação e moderação, foi por ele mantida a salvo das pertubações e desordens das guerras de religião que devastavam então a França.
Por que tanto barulho a respeito dos restos mortais de um filósofo e escritor que, sem que se negue sua importância, viveu há mais de quatro séculos? A resposta talvez seja simples, embora pareça impertinente: é porque é Montaigne. Resposta que aqui parodia enviesadamente a famosa fórmula do próprio, em seu famoso ensaio 27 do livro I, ‘Da Amizade’, ao tentar explicar sua ligação com Etienne de La Boétie: “[…] porque era ele, porque era eu”1. Montaigne, cuja obra maior, quase única, na verdade – Os Ensaios (1580-1582) -, vem sendo traduzida e reeditada mundo afora há quatro séculos. Montaigne, que parece obstinar-se em se manter atual. Suas primeiras traduções no Brasil datam do início do século XX, mas na Inglaterra, por exemplo, a primeira tradução é de 1603, realizada por John Florio (1553-1625), escritor, lexicógrafo e professor inglês, poucos anos após a edição original em francês.
Montaigne influenciou todos os grandes nomes depois dele, de Shakespeare a Nietzsche, de Bacon a Pascal, e suscita, ainda hoje, importantes pesquisas sobretudo nas áreas da Filosofia e da Educação. No que concerne ao Brasil, Sérgio Cardoso (2017, p. 19) ressalta que nosso país está certamente entre aqueles que mais produziram trabalhos acadêmicos sobre o autor renascentista na área da Filosofia nos últimos vinte anos. De Machado a Oswald de Andrade, passando por Ciro dos Anjos, a influência de Montaigne em nossas letras é também inegável.
Essa vitalidade do autor de Os Ensaios revela-se não só pelas constantes reedições e retraduções de sua obra maior, mas curiosamente também pelo crescente número de biografias a seu respeito, das mais variadas faturas, que têm vindo à luz nos últimos anos. Algumas dessas, surpreendentemente, tornaram-se campeãs de venda, como é o caso de duas delas, a saber: Como Viver, de Sarah Bakewell, e Uma temporada com Montaigne, de Antoine Compagnon. Ambas já lançadas no Brasil, respectivamente, pela Objetiva, em 2012, com tradução de Clóvis Marques, e pela WMF Martins Fontes, em 2015, com tradução de Rosemary Abílio.
Restringindo-nos tão somente ao gênero biografia e ao período compreendido entre 2000 e 2019, no Brasil, além dessas duas citadas acima, temos ainda o Montaigne de Peter Burke, lançado pela Editora Loyola em 2006, com tradução de Jaimir Conte, e, finalmente, em 2016, o Montaigne do filósofo marroquino radicado na França Ali Benmakhlouf, com tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira, pela Estação Liberdade. Se abrirmos ainda mais o leque, considerando estudos de cunho filosófico, o leitor brasileiro pode ter acesso a uma fortuna crítica razoável sobre o filósofo renascentista2.
Mas, voltando às biografias, a mais recente delas, ainda sem tradução ao português, que também tem por título Montaigne, veio à luz em fins de 2017, publicada pela Gallimard na coleção NRF Biographies. São 460 páginas nas quais a autora Arlette Jouanna, professora emérita da Universidade Paul Valéry de Montpellier e especialista em história social e política do século XVI francês, tenta trazer a seu leitor um retrato acurado do cultuado autor dos Ensaios. Mas o que traz de novo mais uma biografia de Montaigne em um universo em que as biografias existentes já conquistaram inúmeros leitores em todo o mundo? A própria autora não deixa de citar ao menos seis outras que lhe precedem, sublinhando a vocação e utilidade de cada uma delas. O fato é que, paradoxalmente, a vida de Montaigne é muito pouco conhecida, muito do que se sabe dele é por sua própria pena, mormente em seus Ensaios.
Para Jouanna, compreender e conhecer Montaigne exige ultrapassar o mito, e enraizá-lo, na medida do possível, em seu tempo. Destarte, ela não se contenta em repetir ou pouco acrescentar à imensa literatura já existente sobre o filósofo renascentista. Com seu olhar de especialista em século XVI, o que ela nos oferece é uma visão bem particular, do ponto de vista historiográfico, ao mesmo tempo em que se revela uma leitora apaixonada dos Ensaios, sem que por isso deixe de ser consequente.
A Introdução fornece-nos o plano do livro, que se desenrola ao longo de doze capítulos e revela as inúmeras facetas de Montaigne. A autora faz questão de nos lembrar (p. 17) o que o próprio Montaigne escreve em ‘Da Vaidade’, Ensaio 9 do Livro III: “eu voltaria de bom grado do outro mundo para desmentir quem me pintasse diferente do que sou, mesmo que fosse para me louvar”3. Parece levar a sério tal aviso ao enfatizar que são raras as fontes dos arquivos históricos acessíveis ao pesquisador. É com grande prudência, portanto, que avança hipóteses, atendo-se em grande medida ao estritamente factual. Nesse sentido, é preciso renunciar, afirma, a um conhecimento exaustivo do que viveu Montaigne. Suas fontes, tanto as manuscritas quanto as já publicadas, são cuidadosamente repertoriadas ao fim do livro (p. 421), assim como as obras de e sobre Montaigne que utilizou em sua pesquisa.
Ainda na Introdução, Jouanna escolhe começar sua narrativa em 1571, ano em que Montaigne completa 38 anos, data emblemática de sua famosa retirada das coisas mundanas. Segundo a autora, o momento fundador do Montaigne que passará à posteridade. E é por esse momento, a entrada no processo de escrita dos Ensaios, que o relato de Jouanna entra na vida de seu autor, momento que ela descreve assim (JOUANNA, 2017, p. 13):
Trata-se aqui, com efeito, de uma ruptura com relação aos ideais mundanos comuns, de uma reviravolta que o faz verdadeiramente nascer para si mesmo. Tudo o que aconteceu antes foi tão somente a lenta liberação do condicionamento familiar e social imposto por seu meio, de pessoas importantes socialmente e que haviam ascendido à nobreza há pouco tempo, e depois a progressiva liberação das servidões de uma carreira que ele não havia escolhido.4
Em seguida, o primeiro capítulo que a autora escolheu chamar de (p. 21) “Um lento nascimento de si mesmo”, aborda os 38 primeiros anos de Montaigne, de 1533 a 1571, antes que começasse a aventura de escrita de seus ensaios. Aqui são apresentados aspectos e fatos da vida de Montaigne relacionados ao condicionamento social e familiar, tais como o enobrecimento da família, o apego ao título e à terra – sendo, no século XVI, esta última a garantia do primeiro -, a infância, as relações familiares e os anos de formação.
Os capítulos se sucedem seguindo uma organização temático-cronológica que apresenta as várias faces de Montaigne, dentre as quais a de jurista, ou funcionário do parlamento, a de pensador inquieto, cujo encontro com La Boétie e com os canibais do Brasil alimenta uma reflexão surpreendentemente moderna sobre as éticas da diferença e as liberdades civis, e a de senhor de terras, vinhas e campos, às voltas com as vicissitudes próprias a um nobre do século XVI. Mas ele é também um ator político importante no contexto de uma França devastada pelas guerras de religião (1562-1598) que opõem católicos a protestantes.
O leitor de Jouanna encontra também o Montaigne viajante, autor de um diário de viagem pela Alemanha, Suíça e Itália (ainda sem tradução ao português), e o prefeito de Bordeaux duas vezes eleito (1581-1585), que consegue manter a cidade a salvo da guerra, mas não da peste que vitima, de junho a dezembro de 1585, algo em torno de quatorze mil pessoas. Montaigne é também o estudioso, o escritor, que dedica a segunda metade de sua vida, a partir de 1571, a ler e escrever e, por fim, em 1580, a publicar seus Ensaios. Conhecendo a notoriedade em vida como escritor e pensador, ele é um autor dedicado que vai corrigir e alterar os três volumes de sua obra (pouco mais de 1000 páginas) até sua morte em 1593. Por fim, a imagem que talvez seja a mais conhecida do renascentista: o pensador retirado em sua torre-biblioteca circular, cercado de livros da Antiguidade e de máximas em latim que ele mandou pintar nas vigas do teto.
Como historiadora, especialista do período renascentista, é um homem do Renascimento que Jouanna descreve; as passagens nas quais a autora mais destaca – capítulos VI, VIII, IX e X – são justamente aquelas relacionadas a seu campo de especialidade. Assim, o leitor pode compreender Montaigne, e também sua obra, a partir da explicitação de aspectos como os laços de fidelidade que uniam necessariamente os membros da classe nobre, laços esses complexificados pelas guerras de religião. É também possível apreciar a posição delicada de Montaigne como católico moderado em um contexto de radicalizações. E ainda seu amor à liberdade, muito embora apegado à nobreza há pouco tempo conquistada por seus ancestrais. São aspectos que, sob o pano de fundo renascentista que Jouanna tão bem conhece, contribuem para uma melhor compreensão da obra como expressão de um pensamento político dividido entre humanismo, dever de fidelidade e descrença na razoabilidade dos homens. É um olhar novo, assim, que a historiadora propicia ao leitor dos Ensaios.
É preciso dizer, no entanto, que o leitor que busque um maior aprofundamento dos aspectos propriamente literários e filosóficos da vida de Montaigne, e suas relações com os grandes nomes do humanismo, corre o risco de se decepcionar, pois tais pontos não estão no centro das preocupações de Jouanna. Ocupa-a preferencialmente aspectos historiográficos, sobretudo no que concerne à gênese do Estado moderno. As várias faces de Montaigne que nos apresenta Jouanna dialogam, portanto, muito mais com a historiografia do que com a literatura ou a filosofia. E isso pode ser visto como um defeito, ou uma lacuna, por aqueles que busquem o Montaigne escritor, imbuído de cultura da Antiguidade, leitor disciplinado e interlocutor dos grandes nomes da época.
Montaigne, segundo Jouanna, não se deixa reduzir a definições simplistas. Seu pensamento sempre mutante, variegado, multifacetado, presta-se a múltiplas abordagens e análises. Ela sublinha ademais a influência que ele exerce ainda em nossos dias. Para a historiadora, não só como especialista, mas também como leitora apaixonada dos Ensaios, a explicação para essa inusitada permanência reside no que une o autor renascentista ao homem contemporâneo. Como nós, ele viveu em tempos difíceis, de futuro incerto, marcados pelo enfraquecimento das crenças, a perda de referências, a contestação das estruturas políticas e a violência dos radicalismos. Montaigne nos acena, segundo a autora, com uma possibilidade de sobreviver a todas as incertezas com dignidade interior, fazendo prevalecer a ironia, e mesmo o riso, sobre a angústia. Seus Ensaios são o palco onde evolui um homem que tenta ver claro em si e em seu entorno, com lucidez e ironia desconcertantes.
Referências
CARDOSO, Sérgio. Montaigne filósofo. Cult, n. 221, São Paulo, p. 18-19, 2017. [ Links ]
JOUANNA, Arlette. Montaigne. Paris: Gallimard, 2017. [ Links ]
MONTAIGNE, Michel de. Essais I. Paris: Pernon Éditions, 2008 [ Links ]
1 “Si on insiste pour me faire dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne peut s’exprimer qu’en répondant: parce que c’était lui, parce que c’était moi” (MONTAIGNE, 2008, p. 276). Todas as traduções ao português constantes desta resenha são de minha autoria.
2 Tais informações encontram-se esparsas. Para remediar tal situação, estamos preparando uma bibliografia comentada dos estudos de Montaigne no Brasil, a ser publicada em breve.
3 “Je reviendrais volontiers de l’autre monde pour démentir celui qui me formerait autre que je n’étais, fût-ce pour m’honorer” (MONTAIGNE, 2004, apudJOUANNA, 2017, p. 17).
4 “Il s’agit bien là, en effet, d’une rupture avec les idéaux mondains ordinaires, d’un retournement qui le fait naître véritablement à lui-même. Tout ce qui s’est passé auparavant n’aura été que la lente libération du conditionnement familial et social imposé par son milieu de notables tout juste agrégés à la noblesse, puis le progressif arrachement aux servitudes d’une carrière de magistrat qu’il n’a pas choisie” (JOUANNA, 2017, p. 13).
Claudia Borges de Faveri. Professora titular do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua na área de língua e literaturas de expressão francesa e tradução literária. É doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade de Nice-Sophia Antipolis, França. Em 2018-2019, realizou seu segundo pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisa dedicada à recepção, permanência e tradução da obra de Michel de Montaigne no Brasil. E-mail: [email protected]
Acessar publicação original
[IF]
Indicionário do contemporâneo – CÁMARA et al (A-EN)
CÁMARA, Mário; KLINGER, Diana; PEDROSA, Celia; WOLFF, Jorge. Indicionário do contemporâneo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018. Resenha de MANZONI, Filipe. Some possible journeys for reading the Indicionário do contemporâneo. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.1, jan./apr., 2019.
É conhecido o diagnóstico, lançado por Flora Sussekind em 2013, de uma emergência de “formas corais” na produção literária brasileira, textos marcados pela “constituição de uma espécie de câmara de ecos na qual ressoa o rumor (à primeira vista inclassificável, simultâneo) de uma multiplicidade de vozes” (SUSSEKIND, 2010). Flora nos diz ainda que nessas formas seria característica uma interrogação simultânea “tanto da hora histórica quanto do mesmo campo da literatura” (idem). Se nos for permitido o pressuposto de que a relação entre literatura e crítica não é de precedência mas de mútua contaminação, não é de impressionar que é contemporânea à emergência das “formas corais” a gestação de uma verdadeira “forma coral” da crítica, isto é, o trabalho de escrita do Indicionário do contemporâneo.
O projeto, bem como o processo de sua escrita, são deslindados na apresentação, “Um indicionário de nós”, assinado pelos quatro organizadores do volume, Celia Pedrosa, Diana Klinger, Jorge Wolff e Mario Cámara: trata-se de uma coletânea de ensaios escritos e reescritos ao longo de quatro anos por múltiplos pesquisadores e críticos da América do Sul. O marco inicial desse encontro, um simpósio proposto para o X JALLA – Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana intitulado“Políticas literárias do contemporâneo”, parece ter sinalizado para essa zona de ressonância entre conceitos recorrentes e pontos comuns de inquietação que foram, conforme nos conta ainda a apresentação, gestados durante oito meses pelos catorze pesquisadores que assinam, coletivamente, o livro. Desse processo de mapeamento de afinidades, seis verbetes “que incidem de modo decisivo sobre o pensamento das artes e literaturas atuais” se estabilizaram como núcleos conceituais e deram corpo à versão final do volume: “Arquivo”, “Comunidade”, “Endereçamento”, “O contemporâneo”, “Pós-autonomia” e “Práticas inespecíficas”.
Dois pontos no Indicionário parecem falar a partir de umaindistinção entre as proposições teórico-críticas e a própria metodologia e construção da obra. Em primeiro lugar, desde seu título, encontramos a marca de uma profunda ambivalência: se o texto de apresentação evidencia a ambivalência do prefixo “in-” – que supõe “insubordinação, insatisfação, inquietação, independência” (CÁMARA; KLINGER; PEDROSA; WOLFF, p. 7) mas joga também com o significante “índice ao postular uma leitura-escritura indicial das linguagens e dos conceitos em cena” (idem) -, o volume como um todo parece levar essa ambivalência alguns passos além. De fato, a sobreposição de um “in-dicionário” a um “indício-nário”, ela mesma baseada na homonímia de dois radicais latinos “in-”, um de negação outro de direcionamento, poderia ser tomada como uma marca comum de todos os ensaios. Encontramos, a cada verbete, uma espécie genealogia aberta do conceito abordado, genealogia que esbarra sempre em sua própria incompletude e impossibilidade de fechamento – em um “indicionarizável”, portanto -, mas que nos leva a uma mobilização, isto é, a direcionamentos possíveis – ou indícios – que sobrevivem enquanto potência ou possibilidade.
O segundo ponto que caberia destacar é o quanto todos os tópicos propostos parecem falar não apenas dentro de seu próprio ensaio, mas também através da própria estrutura do livro. Desnecessário sublinhar, por exemplo, o quanto a discussão a respeito da “Comunidade” – em seu percurso que vai da retomada etimológica e filosófica de Roberto Espósito até a proposição de um ator político proposto enquanto “multidão”, via Antonio Negri, Michael Hardt e Paolo Virno, passando ainda, entre outros pontos relevantes, pela ontologia do “com” de Jean-Luc Nancy e pela comunidade que vem de Giorgio Agamben – está na base da própria proposição do “escrever com” que marca o Indicionário. A alternância de grupos fez com que os estilos pessoais de cada pesquisador não sejam mais do que vestígios suspeitos, não autorizados por nenhuma delimitação autoral: todos os textos (exceções feitas à apresentação, assinada pelos organizadores, e ao posfácio, assinado por Raúl Antelo) são potencialmente de todos os pesquisadores, isto é, de Antonio Andrade, Antonio Carlos Santos, Ariadne Costa, Celia Pedrosa, Diana Klinger, Florencia Garramuño, Jorge Wolff, Luciana di Leone, Mario Cámara, Paloma Vidal, Rafael Gutiérrez, Raúl Antelo, Reinaldo Marques e Wander Melo Miranda.
No que toca ainda aos itinerários propostos dentro de cada ensaio, novamente a metodologia parece dizer tanto quanto a proposição teórica a respeito de um modo específico de lidar com o “Arquivo”, tema que abre o Indicionário. Parece interessar, mais do que a figura do “leitor autoritário, organizador que procure dar um sentido fixo ao conjunto” (ibidem, p. 24), uma espécie subversiva de “leitor nômade”, que circula pelos textos “estabelecendo novas redes, abrindo os sentidos” (ibidem). Caberia observar que nesses trajetos alguns caminhos são mais recorrentes, dando uma impressão algo monadológica, na medida em que no interior de cada verbete parecem habitar os demais conceitos, em uma espécie de rede de associações potenciais.
É assim, por exemplo, no ensaio sobre o “Endereçamento”, em que, a partir de uma leitura da importância dos pronomes pessoais a partir da produção de Ana Cristina Cesar, encontramos uma ameaça ao estatuto autônomo da literatura (que ressoaria no verbete “pós-autonomia”), bem como a proposição do endereçamento como “problema epistemológico e ético de como ter acesso à alteridade, sem se fechar numa forma autorreferencial” (idem p. 107), o que nos levaria também ao tópico da comunidade, via Jacques Rancière e Nicolas Bourriaud.
Os percursos possíveis no Indicionário interessam, portanto, tanto quanto possam ser remontados, repensados, e reorganizados por esse “leitor nômade”, figura que abre ainda o ensaio sobre o “Contemporâneo”, a partir de uma desestabilização moderna do espaço institucional da arte, tópico que nos levará a uma leitura de diversas instalações artísticas, tomadas enquanto práticas inespecíficas (nome também do último ensaio do volume, no qual a proposição de um “campo estendido” de Rosalind Krauss se desdobra em ferramenta para a análise de diversas obras contemporâneas que ameaçam a estabilidade de um campo literário). É a partir desse tensionamento do campo literário e da representação do presente histórico que chegamos a uma potência de anacronismo em figuras como Nietzsche, Didi-Huberman ou Agamben, autores que farão do “contemporâneo” um arquivo aberto do histórico, uma zona de constante formulação, impasse e reformulação do histórico.
Caberia ainda ressaltar que, se o tom da proposta do Indicionáio parece, em diversos momentos, trazer uma noção panorâmica ou enciclopédica, em especial pela amplitude das implicações de alguns dos verbetes escolhidos, isso não se dá mediante o sacrifício da riqueza de detalhes. De fato, se nos voltarmos para as notas – somando-se as de todos os fragmentos, quase trezentas -. estas deslumbram pela riqueza de caminhos que se abrem em uma espécie de microscopia dos “indícios” que se permitem ler a partir das catorze bibliotecas que coabitam (e assinam) a obra.
Também parece resistir à planificação sob um argumento “panorâmico” a atenção dada ao que poderíamos chamar de uma das questões centrais, ou, ao menos, a mais recorrente dentro do Indicionário: os desdobramentos e reavaliações da noção de pós-autonomia. O ensaio específico, “Pós-autonomia”, faz um levantamento minucioso das diferentes acepções do polêmico conceito proposto por Josefina Ludmer em 2006, desdobrando suas múltiplas implicações em diferentes contextos que vão desde a literatura contemporânea sul americana, sua recepção crítica, as artes plásticas no presente, mas também a própria estabilização e pacificação de um conceito de “modernidade”. Encontramos ainda, juntamente com esse desdobramento das implicações críticas da questão, um levantamento de algumas das respostas polêmicas ao conceito que, em última instância, atenta contra a própria possibilidade de circunscrição de um campo que identifique um “literário” em oposição a um “não literário”, percurso que nos conduzirá por uma dupla reação: uma postura de retomada elegíaca de uma institucionalidade perdida ou ameaçada, a partir de teóricos como Antoine Compagnon ou Tzvetan Todorov; em contraposição a uma dinamização da ameaça a essa estabilidade institucional, em figuras como Jacques Rancière ou Bruno Latour.
É no centro dessa polêmica que se insere ainda o posfácio do livro, único ensaio assinado por um único autor, Raúl Antelo. O ensaio, originalmente uma conferência intitulada “Autonomia, pós-autonomia, an-autonomia” apresentada no segundo encontro do grupo de pesquisa, em 2013, aparece aqui como “Espaçotempo”, e traz um segundo mapeamento da proposição de Ludmer da pós-autonomia (após uma raiz comum ao verbete “pós-autonomia” via Kant – Adorno), detendo-se na relevância do questionamento da autonomia nas teorias da esquerda italiana da década de 70 (discussão da qual Ludmer seria herdeira). Finalmente, após uma retomada da questão do espaçotempo e da quarta dimensão, percurso que vai desde Ouspensky até as clássicas investigações benjaminianas sobre o cinema e a aura na década de 30, chegamos a uma ressonância entre Ludmer e Benjamin, ponte especialmente contemporânea, já que sobrepõe duas polêmicas longes da pacificação. A partir do temor de alguns possíveis desdobramentos políticos nefastos da aceitação da pós-autonomia (que ressoam o temor benjaminiano da apropriação fascista da potência revolucionária do cinema), Raúl Antelo propõe, em um tom cuidadoso, uma renovação do “crédito ao conceito de autonomia, mesmo que em plano reconfigurado, digamos, an-autonômico” (ibidem, p. 252). Cabe ressaltar o quanto esse final, ou mais especificamente, esse prefixo de negação “an-”. Parece ressoar ainda o “in-” que dá título ao volume, em especial porque ao mesmo tempo que aponta para o estatuto aporético da questão – ou seja “in-dicionário” -, se abre enquanto espaço de apostas – ou seja, para os “indícios”.
Cabe, finalmente, nos permitirmos uma última palavra sobre um ponto que não pode ser deixado de lado quando nos referimos a essa empreitada crítica de tantos pesquisadores. E o que nos interessa ressaltar é precisamente o quanto essa ambivalência que vem desde o título do volume nunca se furta a manter aberto o contemporâneo como um espaço de apostas mais do que do esgotamento. Encontramos, por exemplo, no ensaio sobre “o contemporâneo” uma contraposição ao escuro catastrófico que se resguarda ainda à possibilidade de uma aposta nas sobrevivências, isto é, um pouco de Didi-Huberman contrabalanceando o peso de Giorgio Agamben. Encontramos, ainda, em toda a discussão sobre o “endereçamento”, uma via de escape do fechamento do moderno em um modelo autorreferencial e intransitivo (ou novamente autonomista) a partir de uma abertura ao outro, a uma investidura ainda possível em um pensamento da comunidade, um pensamento que se funda no impróprio, na impropriedade radical, o que, novamente, parece espelhar, mais que teoricamente, metodologicamente o dispositivo crítico do Indicionário.
Referências
CÁMARA, Mário; KLINGER, Diana; PEDROSA, Celia; WOLFF, Jorge (Org.). Indicionário do contemporâneo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018. [ Links ]
GARRAMUÑO, Florencia. Frutos estranhos: sobre a inespecificidade na estética contemporânea. Trad. Carlos Nougué. Rio de Janeiro: Rocco, 2014. [ Links ]
LUDMER, Josefina. “Literaturas pós-autonomas”. In: Sopro Panfleto Político cultural. Trad. Flávia Cera. Desterro: Cultura e Barbárie, 2010, p. 1-4. Disponível em: <Disponível em: http://culturaebarbarie.org/sopro/n20.pdf >. Acesso em: 16 jul 2018. [ Links ]
SUSSEKIND, Flora. Objetos verbais não identificados. O Globo, v. 21, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em <Disponível em https://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/objetos-verbais-nao-identificados-um-ensaio-de-flora-sussekind-510390.html > Acesso em 15 de março de 2019. [ Links ]
Recebido: 27 de Abril de 2019; Aceito: 31 de Agosto de 2019
Filipe Manzoni. É Doutor em literatura pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente realiza pesquisa de pós-doutoramento sobre poesia contemporânea brasileira na Universidade Federal Fluminense e leciona literatura brasileira na Universaidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected]
[IF]
Cuidado com os poetas ! Literatura e periferia na cidade de São Paulo – TENNINA (A-EN)
TENNINA, L. Cuidado com os poetas ! Literatura e periferia na cidade de São Paulo. Tradução de Ary Pimentel. Porto Alegre: Zouk, 2018. 315p. ¡Cuidado con los poetas! Literatura y periferia en la ciudad de São Paulo. Rosario: Beatriz Viterbo, 2017, 363 p.. Resenha de: PIMENTEL, Ary. Por uma ressignificação da poesia e do lugar do poeta. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.1, jan./apr. 2019.
Certa vez um rapper de São Paulo reescreveu um clássico da MPB, deslocando o lugar de enunciação do discurso para as periferias de São Paulo. E, então, a letra de “Cálice” ganhou uns versos assim:
Os saraus tiveram que invadir os botecos
Pois biblioteca não era lugar de poesia
Biblioteca tinha que ter silêncio,
E uma gente que se acha assim muito sabida
Na letra do rap “Subirusdoistiozin” (segunda faixa do CD Nó na orelha), Criolo, o mesmo autor que antropofagizou e atualizou a poesia de protesto do cantautor Chico Buarque, voltaria a falar de uma cena cultural que, quase imperceptivelmente para os diferentes âmbitos do mundo letrado, começava a tomar conta de certos territórios da cidade:
As criança daqui ‘tão de HK
Leva no sarau, salva essa alma aí
Poucos, muito poucos, na verdade, umas poucas pesquisadoras atentaram para essa produção “fora do retrato” que despontava nas margens do cânone e nas margens da cidade. A um pequeno grupo no qual se destacam Érica Peçanha, Regina Dalcastagnè, Ingrid Hopke e Rafaella Fernandez – as quais por diferentes motivos haviam se aproximado da cena que gestava uma nova literatura nas periferias de São Paulo nos primeiros anos do século XXI -, veio a se somar o nome da argentina Lucía Tennina. Em Cuidado com os poetas! Literatura e periferia na cidade de São Paulo, a professora de Literatura Brasileira na Universidade de Buenos Aires traz para o leitor a possibilidade de um mergulho profundo na produção literária brasileira do presente e o faz com um olhar no qual se reúnem o perto e o longe, no intenso processo de construção de uma terceira dimensão que poderíamos chamar de “entre-lugar” da crítica. E dizer isso não é dizer pouco, se lembramos de Pierre Bourdieu que, em Homo academicus, já assinalava que os dois grandes problemas do discurso científico são o excesso de distância e o excesso de proximidade. Conforme Bourdieu, existe um certo repertório que não se pode acessar (ou saber) a menos que o sujeito consiga fazer parte do universo abordado. Mas é justamente a condição de “fazer parte de…” que implica uma inescapável proximidade onde reside tudo aquilo que não se pode ou não se quer saber. É isso. A escrita exige proximidade. Mas também distância. De fato, um lugar que reúna as duas condições anteriores.
Resultado de uma longa experiência de imersão na periferia e de profundas reflexões teóricas que se desenvolveram ao longo de anos e de várias publicações sobre o tema, este livro de Lucía Tennina traz os rigorosos estudos comparatistas de quem começou a estruturar seu discurso de dentro do próprio circuito de saraus que se organizam nos botecos das quebradas paulistanas depois de 2001.
Entremos aos poucos nesse mundo-tecido-tessitura tão rico, para desfrutar mais da caminhada. A melhor abordagem do objeto encontrada por Lucía Tennina é aquela construída a partir do dispositivo da distância e da proximidade: o olhar estrangeiro, o olhar de quem se aproxima aos poucos, rondando poetas e poemas, para provar, a partir do contato cotidiano com o ambiente dos saraus, diferentes tentativas de intervenção no debate crítico da literatura marginal da periferia. Inevitável é lembrar de um poema que aparece em 21 gramas, terceiro livro de Marcio Vidal Marinho (2016), um dos frequentadores assíduos do Sarau da Cooperifa. O poema “Álvaro de Campos foi à Cooperifa” bem poderia vertebrar o primeiro capítulo de Cuidado com os poetas! Nesse momento do livro, a pesquisadora argentina aprecia o cenário e nos conduz pela cena poética da periferia, destacando os aspectos que marcaram a formação do circuito de saraus nas quebradas paulistanas. E o faz com os mesmos olhos dessa figuração poética de Álvaro de Campos, olhos (aparentemente) desarmados e (profundamente) apaixonados de quem vem de longe, de quem não está, mas que, ao mesmo tempo, é claro que está em seu ambiente quando penetra nesse Sarau da Cooperativa Cultural da Periferia (Cooperifa), um movimento cultural que em outubro de 2018 completou 17 anos de atividades poéticas no bar do Zé Batidão, situado no bairro de Piraporinha, Zona Sul de São Paulo:
Chegou cedo e viu o bar vazio […]
Relutara em vir
Quando soube que era na periferia. […]
19h30
Algumas pessoas começam a chegar […]
O local é um bar típico de favela
Pela fama achou que seria mais bonito,
Pinturas desgastadas, mesas grudadas.
As paredes que vão de encontro à rua
Não existem, são grades, como se fosse uma jaula.
Próximo ao balcão, uma estante de livros
Que se amontoam sem nenhuma ordem. […]
Quando dá por si, não há mais lugares vazios,
O bar está inteiramente ocupado.
Pessoas de todos os tipos […]
Uma pessoa vai ao microfone
Agradece a presença de todos
E relata que todos são bem vindos. […]
Chama um grito de ordem
Todos o acompanham:
Povo lindo, povo inteligente, é tudo nosso,
Uh, Cooperifa! Uh, Cooperifa! Uh, Cooperifa! (MARINHO, 2016, p. 70-72)
No cenário dominante de uma literatura que tem cor, gênero, CEP e um capital cultural longamente acumulado nos âmbitos da cidade letrada, Lucía Tennina lança seu olhar para sujeitos que, oriundos do mundo do trabalho e moradores da periferia, passam semanalmente por esse e por inúmeros outros microfones dos novos saraus organizados nos bares das periferias: Akins Kintê, Alisson da Paz, Binho Padial, Dugueto Shabazz, Fernando Ferrari, Fuzzil, Luan Luando, Marco Pezão, Michel Yakini, Jairo Periafricania, Renan Inquérito, Rodrigo Ciríaco, Serginho Poeta, Sérgio Vaz, Seu Lourival, Zinho Trindade e tantos outros. Trata-se de uma verdadeira tribo que, dispersa pela cidade, povoa o circuito literário marginal da periferia, trazendo novos posicionamentos de sujeitos através da literatura e propiciando um olhar rico sobre os deslocamentos e negociações desse objeto radicalmente plural estudado nos dois primeiros capítulos do livro: os saraus de poesia da periferia de São Paulo.
A crítica acertou na descrição do fenômeno periférico, destacando uma produção que traduz a potência dos novos atores do campo cultural, mas não exime a cena de conflitos e contradições. Apesar da grande quantidade de trabalhos sobre a cultura das periferias, poucos foram os textos que apontaram os problemas derivados do machismo e da misoginia nesse cenário das quebradas, e menos ainda os que se interessaram em reconstruir a presença e o lugar das mulheres nessa nova dimensão do campo literário. Diante disso, cabe enfatizar a importância do terceiro capítulo do livro intitulado “As poetas da periferia: imaginários, coletivos, produções e encenações”. Nessas páginas, Lucía Tennina focaliza o fenômeno da chegada das mulheres aos bares da periferia e, discutindo as estratégias e os modos de produção das “minas”, proporciona uma nova compreensão do lugar diferenciado da mulher no processo de empoderamento dos sujeitos nesse grande quilombo cultural das quebradas paulistanas.
Podemos mesmo dizer que outro mérito de Lucía Tennina é produzir um segundo deslocamento dentro de um tema que já é inovador, trazendo para o centro dos estudos da literatura marginal da periferia a experiência do subalterno dos subalternos. A proposta lança luz sobre a situação específica das poetas num mundo literário que emergia nas periferias e já prenunciava, nesse mal-estar identificado por Tennina, o surgimento de um novo circuito poético que se distanciaria dos saraus de poesia, assumindo características próprias e potencializando as performances e dicções das poetas. O protagonismo feminino foi construído, portanto, em uma outra cena, diferente da anterior, porque, no espaço dos saraus, seu papel era o de “musas” e não o de poetas, ficando o silenciamento oculto sob o disfarce da admiração de sua beleza, o que era também uma forma de apagamento da diferença.
Essa questão transcendia a cena na medida em que implicava valores e imaginários há muito reproduzidos pelos que tentaram, por séculos, disciplinar e se apropriar do corpo feminino. Nesse sentido, o livro amplia seu alcance descritivo-histórico, o que torna mais complexa a mirada para o mundo dos saraus da periferia, tendo em vista que esse olhar permite repensar as lutas das mulheres em diferentes contextos sociais ou culturais nos quais elas foram o Outro do Outro, conforme assinala Lucía Tennina, antecipando-se a um dos subtítulos de O que é lugar de fala?, de Djamila Ribeiro. Nessa medida, a leitura nos envolve no debate sobre a história da representação e da autorrepresentação das mulheres em geral e das mulheres negras e de origem nordestina em particular. Não restam dúvidas quanto ao papel que nessas disputas tiveram nomes como Elizandra Souza e Dinha (Maria Nilda de Carvalho Mota), com publicações marcantes como Águas da cabaça (Edição do Autor, 2012) e De passagem mas não a passeio (Global, 2008). Se o surgimento dos três números especiais da revista Caros Amigos e a organização do Sarau da Cooperifa foram determinantes para que pudesse emergir um novo sujeito nas margens da literatura, as vozes de Elizandra e Dinha seriam precursoras de uma nova geração que se expressaria a partir do seu lugar de fala, elemento central para a emergência de outra cena ainda muito incipiente no final da primeira década do século XXI, a dos campeonatos de poesia falada ou Poetry Slam.
No quarto e último capítulo, o livro aborda uma série de questões não trabalhadas anteriormente, passando, quase que em um livro à parte, a abordar os casos específicos de Ferréz e Alessandro Buzo, narradores que conseguiram ser lidos e reconhecidos fora das fronteiras do território. Uma das questões centrais que Cuidado com os poetas! enfrenta nesse capítulo é a de quais seriam as negociações necessárias aos subalternizados para construir um lugar no campo literário e como, a partir de uma nova rede de relações, se dá o ativamento de certas estratégias a fim de dominar uma posição de autor. Esse capítulo procura respostas para estas perguntas. Para além das diferenças entre os dois nomes, sobressaem as operações agenciadas por cada um deles para construir o que Tennina chama de “lugar de autor”. Para isso, a autora guia o leitor através de um percurso pela vida de Ferréz e Buzo no qual ficam aparentes as respectivas estratégias de construção da figura do escritor. Transcendendo aquilo que Feréz sinaliza na introdução da edição Tusquets de Capão pecado, onde propõe as páginas de seu primeiro romance como uma vestimenta de palavras que lhe dá um lugar de autor, os dois mobilizam diferentes recursos, operações e procedimentos para conquistar um lugar no campo cultural, indo da criação de um nome artístico (Ferréz) à manutenção de um blog no qual se registram as leituras que vão gradativamente formando a imagem pública do escritor (Buzo).
Narradores como Ferréz ou Buzo, poetas como os da Cooperifa ou os que integram os demais saraus de poesia das quebradas paulistanas transformam de dentro as instituições que definem a consagração e o pertencimento ao campo literário, lutando para trazer o protagonismo para a periferia. Esses escritores já não estão falando só entre eles. Trata-se da formação de redes complexas, às quais são incorporados os grupos mais jovens formados por sujeitos oriundos de outros lugares da cultura. O que está em jogo é o que a gente entende como arte, como literatura ou como poesia.
Assim, os conceitos estéticos são reestruturados sob nova forma e a partir de novas regras, constituindo uma esfera formada para além das normas e capitais convencionais. O livro de Tennina aporta um novo lugar de mirada para a poesia. E, a partir desse olhar que conduz o nosso, conseguimos nos dar conta do brotar de uma nova produção e de uma cena cultural centrada no papel da “poesia” e na figura do “poeta”, as quais contribuem de modo muito particular para a ressignificação desses vocábulos.
Sergio Vaz, criador da Cooperifa, insiste em que “a periferia é um país”. O que faz Lucía Tennina é uma bela, profunda e necessária cartografia da literatura desse novo país.
Assim, essa jovem professora argentina oferece uma contribuição fundamental para a crítica literária brasileira. Ler a obra de Lucía Tennina é poder viver intensamente a cena pulsante da literatura marginal da periferia. Nesse sentido, não seria excessivo afirmar que ela consegue escrever o livro que pretendia, uma obra potente que nos impacta e transforma o olhar que nós brasileiros lançamos para as culturas das nossas periferias.
Esperamos a publicação de mais textos como esse, que lança uma nova luz sobre o desenvolvimento de nossa primavera periférica.
Referências
MARINHO, M.V. 21 gramas. Rio de Janeiro: Ibis Libris, 2016. [ Links ]
Ary Pimentel. Professor de Literaturas Hispano-Americanas no Departamento de Letras Neolatinas da Faculdade de Letras (UFRJ). Mestre (1995) e Doutor (2001) em Literatura Comparada pela UFRJ e realizou estágios de Pós-doutorado no PACC (Programa Avançado de Cultura Contemporânea) – UFRJ, em 2016, e na Universidad de Buenos Aires, em 2017. E-mail: [email protected]
[IF]
Une autre science est possible! Manifeste pour un ralentissement des sciences – STENGERS (BMPEG-CH)
STENGERS, Isabelle. Une autre science est possible! Manifeste pour un ralentissement des sciences. JAMES, William. Apresentação de Thierry Drumm., Paris: Les Empêcheurs de Penser en Rond/La Découverte, 2013. 215p. Resenha de: SARTORI, Lecy. Outra ciência? Conhecimento, experimentos coletivos e avaliações. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, vol.13, n.3, set./dez. 2018.
“Une autre science est possible! Manifeste pour un ralentissement des sciences” (Uma outra ciência é possível! Manifesto por uma desaceleração das ciências) é o último livro da filósofa da ciência Isabelle Stengers, professora da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. Filósofa, graduada em química e pesquisadora da história da ciência, Stengers é uma importante intelectual que reflete sobre a relação entre política, ciência e economia capitalista, e também discute sobre uma antropologia implicada em questionar os saberes, as disciplinas e as instituições.
Stengers participou do colóquio intitulado “Os mil nomes de Gaia: do Antropoceno à idade da terra”, ocorrido em 2014 no Rio de Janeiro, evento que, de forma geral, discutiu os temas da catástrofe ambiental e da mudança climática global. A catástrofe ecológica global é analisada por meio do conceito de Gaia. Para Stengers (2014), Gaia não é apenas outra forma de nominar a Terra como um recurso a ser explorado de forma sustentável, mas sim um “[…] novo campo científico […]” ou “[…] um complexo conjunto de modelos e dados interconectados […]” (Stengers, 2014, p. 2, tradução nossa), produzindo novos sentidos e respostas ao capitalismo globalizado. Seu último livro publicado em português tem como título “No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que se aproxima” (Stengers, 2015). Suas análises fazem-nos pensar em possibilidades criativas de ações de resistência política e de lutas anticapitalistas.
No livro ora resenhado, Stengers (2013, p. 8, tradução nossa) explora uma possibilidade de “[…] reconciliação do público com sua ciência […]”, no sentido de produzir saberes a partir das preocupações, das hesitações, das consequências e das opiniões sobre determinada ideia ou solução científica.
Aqui, “[…] produzir saberes […]” aproxima-se, como aponta Stengers (2013, p. 9, tradução nossa), daquilo que Latour (2004, p. 235) denominou de “[…] matter of fact […]” ou “[…] matter of concern […]”, para criticar a objetividade científica, ou do que Guattari (1987, p. 8) chamou de “[…] matière à préoccupation […]”. Stengers (2013) propõe não apenas produzir um campo de comunicação, mas discussões acerca das respostas dos cientistas para situações que nos dizem respeito, como os problemas sociais e econômicos (por exemplo, o desemprego, a poluição, o esgotamento dos recursos naturais, o efeito estufa, o câncer, as patentes de medicamentos). O livro apresenta a importância da elaboração de uma inteligência pública das ciências, por meio da noção de compreensão, que seria o mesmo que produzir em conjunto (com diferentes atores, cidadãos, especialistas e pesquisadores) ações que impliquem soluções sem ignorar as preocupações econômicas e sociais. A ideia principal é possibilitar o encontro entre uma multiplicidade de pessoas e os conhecimentos capazes de criar de forma inteligente propostas para grandes problemas. A partir dessa ideia, Stengers (2013, p. 83, tradução nossa) propõe a “[…] desaceleração das ciências […]” ou slow science (que apresenta a mesma lógica de iniciativas como slow food, slow city, slow economy). Ela fala, dessa forma, de uma ciência produzida de maneira lenta e em conjunto com outras pessoas e saberes, que ativam conhecimentos experimentais e criativos na formulação de novos modos de existência e de resistência, opondo-se à captura de regimes de subjetividade capitalista.
Este livro é composto por cinco capítulos e pela tradução de um texto do filósofo americano, médico e psicólogo William James (1948-1910). A tradução é antecedida por uma apresentação feita pelo pesquisador Thierry Drumm. A capa do livro exibe ilustração de Milo Winter, publicada no livro de Verne (2011), “20 mil léguas submarinas”. A publicação foi organizada pela editora Les Empêcheurs de Penser em Rond – La Découverte. O livro agrega artigos de Isabelle Stengers anteriormente publicados, uma conferência e um artigo inédito. Pode-se afirmar que esta obra apresenta reflexões e discussões muito mais amplas do que a ideia apontada no título, trazendo à tona temas como as avaliações de produções acadêmicas, a elaboração de uma ciência coletiva e experimental, assim como discussões sobre objetivos e funções dos experts.
Em seu manifesto, Stengers (2013) expõe o corporativismo referente ao financiamento acadêmico, bem como as contradições que sujeitam as pesquisas e as produções científicas. No primeiro capítulo, “Pour une intelligence publique des sciences” (Por uma inteligência pública das ciências), Stengers (2013) questiona a autoridade das ciências, por meio de discussões coletivas e da participação dos cidadãos na exposição dos problemas sociais. Essa forma coletiva de refletir sobres os problemas e de elaborar soluções foi denominada pela autora de “[…] inteligência pública das ciências […]” (Stengers, 2013, p. 10, tradução nossa). Desse modo, a autora resiste às “[…] pretensões dos saberes científicos […]” (Stengers, 2013, p. 15), participando da produção do que Haraway (1995, p. 18) denominou de “[…] saberes localizados”.
Nesse sentido, Stengers (2013) propõe a construção de um espaço de discussão com entusiastas que não fazem parte da academia para compor uma produção em conjunto. Isso, no entanto, não significa a popularização da ciência, a qual é entendida como a divulgação das produções científicas para um público amplo. O objetivo dessa popularização é conscientizar os cidadãos sobre direitos, deveres e responsabilidades sociais. Os cidadãos são educados a fim de que produzam reflexões e informações para os pesquisadores desenvolverem as análises científicas. Diferentemente dessa ideia, Stengers (2013) propõe a formação de grupos que sejam capazes de produzir conhecimento (ou uma ciência experimental) e desenvolver formas de ação junto aos elementos dos contextos sociais em que os próprios atores estão inseridos.
No subtítulo do livro, Stengers (2013) destaca a ideia de desaceleração da ciência ou de uma ciência lenta, feita no tempo necessário para a elaboração de suas questões, e não sujeita ao mercado do capital e aos indicadores de produção. A autora mostra como a ciência que está sujeita às necessidades do capital é elaborada de forma rápida, não refletindo sobre suas consequências futuras. Como exemplo, ela dispõe no segundo capítulo, intitulado “Avoir l’étoffe du chercheur” (Competências do pesquisador), as consequências das descobertas científicas como o uso de organismos geneticamente modificados (OGM). Segundo a autora, as descobertas científicas foram produzidas visando os interesses econômicos, ao invés de terem sido analisadas as suas consequências, buscando-se evitar a destruição do planeta. Para ela, as soluções deveriam ser produzidas de forma criativa, sem serem subestimados as dificuldades e os saberes locais. Nesse sentido, as lutas políticas não acionam a ideia de representação, mas devem produzir “[…] caixas de ressonância […]” (Stengers, 2015, p. 148) que explicitem as experiências, fazendo com que as pessoas reflitam sobre formas de ação e as produzam.
Uma interessante contribuição do livro é a discussão sobre a lógica econômica capitalista. Em seus efeitos, esta lógica diminui o tempo necessário para produzir questões e para analisar as consequências de determinadas ações científicas. Nesse contexto, as regras de financiamento à pesquisa direcionam a produção científica e diminuem a autonomia do pesquisador, o qual fica sujeito aos temas interessantes ao poder econômico e à indústria que investem em suas análises. Stengers (2013) explicita a regulação da produção científica por meio da “[…] fórmula de excelência […]” (Stengers, 2013, p. 52, tradução nossa), que dirige o comportamento para o “[…] conformismo, oportunismo e flexibilidade […]” (Stengers, 2013, p. 52, tradução nossa), exigências da nova forma de gestão do conhecimento.
No terceiro capítulo, “Sciences et valeurs: comment ralentir” (Ciências e valores: como desacelerar), Stengers (2013) apresenta uma análise da forma como o conhecimento científico é atualmente avaliado, procurando-se uniformizá-lo, sem se considerar a pluralidade e a qualidade da produção. Neste cenário, o que importa é o número de publicação, e não a qualidade do que está sendo produzido como conhecimento. Para exemplificar, ela expõe a produção científica do filósofo Gilles Deleuze, o qual, segundo o formato atual de exigência de publicação, seria um pesquisador com pouco êxito ou baixo desempenho em avaliações1 científicas. Conforme Stengers (2013), devemos questionar esse formato de produção rápida de conhecimento e formular ferramentas para resistir aos critérios de avaliação das universidades.
Outra contribuição do livro é a tradução de um texto de William James, apresentado por Thierry Drumm. O artigo de William James, “Le poulpe du doctorat” (ou The Ph.D. Octopus), foi publicado, pela primeira vez, em 1903, na revista Harvard Monthly. No texto, o filósofo apresenta, de forma jocosa, uma crítica à política acadêmica e à regra que torna o doutorado obrigatório para os professores universitários. A universidade, por sua vez, é comparada a uma máquina de produção de títulos. A contribuição do texto está na descrição crítica do modo de funcionamento da produção acadêmica de sua época. James mostra-se contrário ao status e ao prestígio daqueles que possuem um diploma, como o de doutorado. O título de doutor, segundo o autor, incentiva o esnobismo acadêmico e a publicidade individual. Acionar o título como uma ferramenta resulta no conformismo e na institucionalização de uma lógica quantitativa. Para James (1903), o objetivo da universidade é instruir as pessoas, e não valorizar um título concedido ao pesquisador que se dedica por um tempo a um determinado assunto.
Infelizmente, não existe uma versão em português do texto de William James. Recentemente, a editora da Universidade de São Paulo (Edusp) publicou um livro organizado pela historiadora Maria Helena P. T. Machado com as cartas que William James escreveu ao participar de uma expedição ao Brasil, em 1865-1866 (Machado, 2010). Ele apresenta o jovem William James questionando a ciência da época e a produção criacionista de seu professor e chefe da Expedição Thayer, Louis Agassiz. William James, mais simpático à teoria da evolução de Charles Darwin, criticou a posição política (com interesses americanos na exploração da Amazônia) e ideológica de Louis Agassiz, que defendia o racismo e as teorias da degeneração. Os escritos de William James explicitam os interesses políticos e o financiamento da coleta de dados prevista na Expedição Thayer, bem como a sua perspectiva de análise. Como William James, Isabelle Stengers analisa a produção científica, a política de financiamento à pesquisa e as formas de avaliação da sua época.
No penúltimo capítulo, “Plaidoyer pour une Science ‘Slow’” (A defesa de uma ciência “lenta”), Stengers (2013, p. 83, tradução nossa) destaca a fabricação de uma “[…] economia do conhecimento […]” que produza vínculos de cooperação crítica e de produção coletiva. Trata-se de modificar o foco das avaliações para destacar o conteúdo das produções de conhecimentos, e não o número de artigos publicados ou patentes adquiridas. A slow science, antes de ser uma exigência de mais tempo e de autonomia para a formulação de questões importantes, procura estabelecer outras articulações, além dos vínculos firmados com o mercado e com o Estado.
O livro de Stengers (2013) é instigante ao analisar a forma como a produção científica atual é insustentável. A autora aponta o modo como os pesquisadores acreditam que as soluções dos problemas serão elaboradas de forma racional ou científica, ao mesmo tempo em que ignoram a opinião, as preocupações e os saberes daqueles que são afetados pelos problemas sociais. Ao afirmar que “[…] uma outra ciência é possível […]”, Stengers (2013, p. 6, tradução nossa) explicita no último capítulo, “Cosmopolitique: civiliser les pratique modernes” (Cosmopolítica: civilizar as práticas modernas), que não é uma questão relacionada à qualidade da informação que está em jogo, mas sim a necessidade de os pesquisadores serem capazes de produzir ciências a partir de uma inteligência coletiva, que conecte diferentes modos de elaboração de saberes e reative outras formas de resolver os problemas e de resistir às demandas impostas pelo mercado à produção científica.
Notas
1Algumas referências sobre o modo como as avaliações (ou ‘cultura de auditoria’) limitam as produções de saberes e as ações criativas são Strathern (2000), Shore (2009), Power (1994) e Giri (2000).
Referências
GIRI, Ananta. Audited accountability and the imperative of responsibility: beyond the primacy of the political. In: STRATHERN, Marilyn (Ed.). Audit cultures: anthropological studies in accountability, ethics and the academy. London: Taylor & Francis, 2000. p. 173-195. [ Links ]
GUATTARI, Félix. Les schizoanalyses. Chimères, Bedou, Paris, n. 1, p. 1-21, 1987. [ Links ]
HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, Campinas, n. 5, p. 7-41, quad. 1995. [ Links ]
JAMES, William. The Ph.D. Octopus. Harvard Monthly, Cambridge, v. 36, n. 1, p. 1-9, 1903. [ Links ]
LATOUR, Bruno. Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern. Critical Inquiry, Chicago, v. 30, n. 2, p. 225-248, Winter 2004. [ Links ]
MACHADO, Maria Helena P. Toledo (Org.). O Brasil no olhar de William James: cartas, diários e desenhos, 1865-1866. São Paulo: Edusp, 2010. [ Links ]
POWER, Michael. The audit explosion. London: Demos, 1994. [ Links ]
SHORE, Cris. Cultura de auditoria e governança iliberal: universidades e a política da responsabilização. Mediações, Londrina, v. 14, n. 1, p. 24-53, jan.-jun. 2009. DOI: http://dx.doi.org/10.5433/2176-6665.2009v14n1p24. [ Links ]
STENGERS, Isabelle. No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que se aproxima. Tradução Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Cosac Naify, 2015. (Coleção Exit). [ Links ]
STENGERS, Isabelle. Gaia, the urgency to think (and feel). In: COLÓQUIO INTERNACIONAL OS MIL NOMES DE GAIA DO ANTROPOCENO À IDADE DA TERRA, 2014, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos… Rio de Janeiro: Departamento de Filosofia/PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, 2014. Disponível em: <https://osmilnomesdegaia.files.wordpress.com/2014/11/isabelle-stengers.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2018 [ Links ]
STRATHERN, Marilyn. New accountabilities: anthropological studies in audit, ethics and the academy. In: STRATHERN, Marilyn (Ed.). Audit cultures: anthropological studies in accountability, ethics and the academy. London: Taylor & Francis, 2000. p. 1-6. [ Links ]
VERNE, Jules. 20 mil léguas submarinas. Tradução e notas de André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. [ Links ]
Lecy Sartori – Universidade Federal de São Paulo. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
L’automobile, la nostalgia e l’infinito. Su Fernando Pessoa – TABUCCHI (A-EN)
TABUCCHI, Antonio. L’automobile, la nostalgia e l’infinito. Su Fernando Pessoa. Traduzione di BETTINI, Clelia; PARLATO,Valentina, Palermo: Editora da Sellerio, 2015. Resenha de GUERINI, Andrea. A poética pessoana segundo Antonio Tabucchi. Alea, Rio de Janeiro, v.20 n.3, sept./dec., 2018.
L’automobile, la nostalgia e l’infinito. Su Fernando Pessoa é um livro que agrupa quatro ensaios sobre o autor português, preparados por Antonio Tabucchi como aulas para serem ministradas em francês, na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, em 1994, acrescido de um Prólogo, e uma parte final intitulada “Pessoa e os seus heterônimos”, que é uma breve apresentação dos heterônimos para indicar ao leitor “quem é quem” no interior da poética do poeta português (TABUCCHI, 2015, p. 103).
Conforme descrito por Tabucchi, essas aulas foram preparadas levando em conta e privilegiando, de um lado, aspectos da poética de Fernando Pessoa e a sua adesão às vanguardas do início do século XX (futurismo, cubismo, simultaneísmo de Delaunay) e de outro, a relação com o “Tempo, la Nostalgia, la ‘riappropriazione’ del Passato attraverso la scrittura (Proust, Bergson)” (TABUCCHI, 2015, p. 10).
Vale lembrar que Fernando Pessoa foi o autor português com o qual Tabucchi estabeleceu uma relação “che va al di là della semplice fedeltà del lettore”, um tipo de “relação ativa”, que é “proprio dei traduttori e dei critici” (TABUCCHI, 2015, p. 9). Portanto, esse intenso e estreito vínculo se deu pelas traduções que Tabucchi realizou para o italiano, sozinho ou em parceria com Maria José de Lancastre, das obras de Pessoa e pelos diversos ensaios que escreveu ao longo da sua vida sobre a personalidade e a poética do autor português.
Logo, não causa estranheza que este livro resgate essas aulas em um único volume, conservando o tom oral (como desejado pelo próprio autor) e a leveza de enfoque sobre temas profundos e complexos da poética pessoana.
Na primeira aula-ensaio, “La nostalgia del possibile e la finzione della verità su Pessoa”, Tabucchi trata da universalidade de Pessoa, que segundo ele reside apenas “nei contenuti della sua opera, nell’insieme delle categorie che costellano i suoi testi […], ma anche nel modo scelto per trasmettere questo messaggio, nella forma in cui è organizzato: in ciò che lui stesso ha definito eteronimia” (TABUCCHI, 2015, p. 19). A partir disso, o autor italiano busca elementos para explicar o que viria a ser a heteronímia pessoana. Para tanto, vale-se de um “grande fantasma”, o “Outro”, responsável por alimentar as obsessões dos maiores escritores europeus (TABUCCHI, 2015, p. 19), mas também da própria voz de Fernando Pessoa, a partir de “confissões” que aparecem, por exemplo, na célebre carta de 13 de janeiro de 1935, em resposta à entrevista do crítico Adolfo Casais Monteiro, nos seus diários, ou ainda nos seus poemas, como o célebre “Autopsicografia”.
O “Outro”, ou os heterônimos, não são, como destaca Tabucchi, “semplice alter-ego; […] sono altri-da-sé, personalità indipendenti e autonome che vivono al di fuori del loro autore” (TABUCCHI, 2015, p. 25). E aqui reside a potência da invenção pessoana, pois como mostra Tabucchi, Pessoa cria personagens, mas não são personagens normais que devem viver uma história, mas personagens que devem fingir aquela história: “sono creature creatrici, sono poeti: sono creature di finzione che a loro volta generano la finzione della letteratura” (TABUCCHI, 2015, p. 29). Ainda nessa aula-ensaio, Tabucchi analisa a presença da saudade nos três maiores heterônimos, pois, conforme destaca o autor, “Se la nostalgia del presente è una caratteristica di tutti gli eteronimi, ognuno di loro vive, naturalmente, anche la sua nostalgia specifica e individuale” (TABUCCHI, 2015, p. 31).
Na segunda aula-ensaio, “Gli oggetti di Álvaro de Campos”, Tabucchi apresenta uma lista de objetos caros a Fernando Pessoa para colocar em discussão o metafísico Álvaro de Campos e a ‘fisicidade’ banal dos simples objetos. Inicia a discussão com o monóculo, termina com a cadeira, passando pelo automóvel, o cigarro, a pasta, a Enciclopédia Britânica, os mapas, o espelho e outros. Todos são elementos/símbolos que serviram para caracterizar e vestir os personagens da “commedia umana” criados pelo escritor português (TABUCCHI, 2015, p. 46). São objetos de natureza estética, revestidos de uma forte densidade semântica, pois altamente significativos no contexto da escrita de Pessoa.
No terceiro ensaio-aula, “L’Infinito disforico di Bernardo Soares”, Tabucchi aborda o semi-heterônimo de Fernando Pessoa, autor do Livro do desassossego. Tabucchi elucida o fato de Bernardo Soares se atormentar com coisas aparentemente ‘insignificantes’, mas que são profundas. Tabucchi lembra que, ao longo desse livro de Pessoa, Bernardo Soares se pergunta: “chi sono io?” Para responder a essa pergunta, Bernardo Soares escreve um diário e, como destaca Tabucchi, “Un diario è sempre uno specchio, e quindi ogni giorno Bernardo Soares si guarda nello specchio del suo diario” (TABUCCHI, 2015, p. 69), em grande parte escrito à noite, nascido sobretudo da insônia (TABUCCHI, 2015, p. 72) de seu autor, o que o leva à disforia, porque para Tabucchi o Livro do desassossego “racconta le sue (di Bernardo Soares) depressioni quotidiane e notturne” (TABUCCHI, 2015, p. 72). Nessa aula-ensaio, Tabucchi procura, sem ser exaustivo, explicar a razão de Fernando Pessoa ser um disfórico, e a palavra-chave para compreender esse estado de ânimo é saudade, que se associa ao desassossego (TABUCCHI, 2015, p. 75).
No quarto ensaio-aula, “Pessoa, i simbolisti e Leopardi”, Tabucchi confronta Pessoa com Leopardi, não apenas para “stabilire parallelismi […], ma soprattutto per investigare la natura del dialogo che un lettore onnivoro come Pessoa ha potuto intrattenere con Leopardi” (TABUCCHI, 2015, p. 78). Para falar dessa relação, Tabucchi percorre a fortuna crítica de Leopardi em Portugal entre os séculos XIX e XX, mas também na Espanha. Ele sugere que Fernando Pessoa chegou a Leopardi pelo viés negativo de Antero de Quental e António Feijó; pelo viés simbolista-decadente, cujos autores foram seduzidos pelo binômio leopardiano amor-morte; e também pelo viés trágico do escritor espanhol Miguel de Unamuno. Além disso, Tabucchi destaca que os três temas que mais interessaram Pessoa a propósito de Leopardi foram: “1) la riflessione sul mondo fisico, o il conflitto tra natura e ragione; 2) il senso dell’infinito; 3) il concetto di tedio” (TABUCCHI, 2015, p. 82). A partir dessa constatação, Tabucchi esmiúça alguns aspectos da obra de Pessoa que se ligam aos três elementos da poética leopardiana citados acima e que culminam no “Canto a Leopardi”, poesia que Fernando Pessoa parece ter escrito em “homenagem” a Leopardi, na qual, de acordo com Tabucchi, é possível extrair uma espécie de epistolografia virtual, que teria agradado muito a Borges, já que Pessoa, nesse poema, “si rivolge al suo corrispondente in maniera interrogativa […] come qualcuno che aspetta una risposta” (TABUCCHI, 2015, p. 100). E Borges poderia ter se encarregado, segundo Tabucchi, de dar as respostas que Pessoa esperava […] Borges e, quem sabe, algum outro escritor.
Ficaremos à espera dessa resposta, assim como o leitor de língua portuguesa ficará à espera de poder ler essas aulas-ensaios em tradução, já que Tabucchi, de maneira simples, mas ao mesmo tempo sofisticada, descreve aspectos da poética de Pessoa com cumplicidade e serenidade, características próprias de quem conseguiu manter uma “relação ativa” e profunda com um dos maiores escritores europeus do século XX.
Andrea Guerini – Doutora em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Pós-doutora pela Università degli Studi di Padova (Itália) e Universidade de Coimbra (Portugal). Atualmente, é professora Titular do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras e da Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e editora-chefe das revistas Cadernos de Tradução, Appunti Leopardiani e da ANPOLL. Atua na área de Letras, com ênfase nos Estudos da Tradução, Estudos Literários e Estudos Italianos. É bolsista de Produtividade em Pesquisa, do CNPq. E-mail: [email protected].
[IF]
O Meças – CARVALHO (A-EN)
CARVALHO, J. Rentes de. O Meças. Lisboa: Quetzal, 2016. Resenha de NOGUEIRA, Carlos. O Meças, by Rentes de Carvalho: polyphonic novel about Portugal. Alea, Rio de Janeiro, v.20 n.2, may./aug., 2018.
Em 2013, numa entrevista concedida ao JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias, referindo-se ao romance que acabava de publicar, J. Rentes de Carvalho (1930) afirmava: “Creio, aliás, que não voltarei tão cedo ao género, pois é difícil manter a sequência e evitar que os personagens não baralhem o enredo”. O novo romance de J. Rentes de Carvalho não vem necessariamente contradizer aquelas palavras, uma vez que passaram já três anos desde a saída de Mentiras & Diamantes (2013). Mas não nos parece arriscado dizer que a maioria dos leitores do autor de Ernestina terá recebido com grande surpresa a notícia da publicação de O Meças, o oitavo romance de um escritor que também tem sobressaído na crônica, no conto e no diário.
Rentes de Carvalho é um escritor moderno desde o seu primeiro romance, Montedor (1968), reeditado em finais de 2014. Este livro expõe o mundo interior de uma personagem, em discurso de primeira pessoa, mas não descuida a realidade exterior: o contrabando, a emigração, a política obscura e corrupta, a desvergonha e a impunidade dos poderosos, a influência do clero, as desigualdades econômicas e sociais, o atraso sociocultural.
Montedor é um romance psicológico, mas é também um romance de formação de matriz autobiográfica e de ação, e não menos um romance realista que vai buscar os temas e motivos ao quotidiano mais comum e nos revela uma sociedade em conflito. Assistimos a um número significativo de peripécias dramáticas e ao drama interior do protagonista desde o momento em que ele reprova nos exames que lhe dariam acesso a um “diploma” e a um bom emprego, testemunhamos os momentos principais da sua vida, desde a ida para a tropa, ao regresso a casa e ao casamento por obrigação; e somos levados a estabelecer uma comparação com a vida de quem escreveu o livro. J. Rentes de Carvalho deixou Portugal, viveu em cidades como o Rio de Janeiro, Nova Iorque e Paris, e estabeleceu-se na Holanda em 1956, onde teve condições para desenvolver uma carreira como escritor de méritos rapidamente reconhecidos no país que o recebeu. O protagonista de Montedor ficou em Portugal, e aí, fechado dentro de si, perdeu toda a liberdade e dignidade. Um romance, como se vê, e por razões óbvias, tão atual na década de sessenta como hoje.
O Meças, como Montedor, é um romance sobre Portugal. Esta fórmula, que tem sido usada para definir a ficção de J. Rentes de Carvalho, apesar de não ser inexata, é muito incompleta. Montedor articula a representação da intimidade mais profunda de uma personagem com a representação dos problemas de Portugal, e estabelece uma relação entre o tempo interior do protagonista e o tempo cronológico do país salazarista. A um tempo histórico e a um quotidiano em que existem figuras que dir-se-ia terem séculos, a um tempo que passa sem que se alterem as questões que em Portugal parecem ser irremediáveis (o patriarcado, as diferenças e a hostilidade entre ricos e pobres, o atraso sociocultural e econômico, o imobilismo, a corrupção), corresponde o tempo interior vivido pelo narrador-personagem, que é um perdedor atormentado até ao paroxismo. Com diferenças de perspetiva, de intensidade e de técnica narrativa, esta leitura aplica-se a outros romances do autor, em particular a O Rebate (1971) e A Amante Holandesa (2000, Holanda, 2003, Portugal). Mas o que traz originalidade a estes conteúdos é a omnipresença da memória e das emoções que afligem o sujeito e se sobrepõem à sua vontade. O Meças, organizado em quatro partes, ou em cinco, se considerarmos as “Anotações” finais, está em consonância com a sensibilidade, o pensamento e escrita de J. Rentes de Carvalho, que tem procurado compreender a origem, o significado, os mecanismos e as expressões, quer da sua memória e das suas emoções, quer da memória e das emoções portuguesas (e não só).
No primeiro capítulo, o narrador de terceira pessoa apresenta-nos António Roque, conhecido como o Meças, e é através do seu discurso inquiridor que assistimos à tragédia permanente deste homem violento e angustiado pela presença inexorável de um passado que se faz presente e futuro devido a uma complexa e incontrolável relação de causa e efeito entre perdas humilhantes e comportamentos, sentimentos e emoções induzidos por essas perdas e humilhações. No segundo capítulo, agora em discurso de primeira pessoa assumido pelo meio-irmão de Meças (que não sabe que aquele é seu meio-irmão, filho, como ele, do “Senhor Engenheiro”), a memória, enquanto presença interior hipersensível, é também constante. No terceiro capítulo, regressa o narrador de terceira pessoa, que mais uma vez representa o interior mortificado de Meças, e no quarto volta o meio-irmão da personagem que dá título ao romance. O meio-irmão de Meças, que se fixou em Newcastle, vem a Portugal com a intenção de revelar a Meças o que os une, mas, afinal, decide não o fazer. Educado, civilizado, preso às origens e ao mesmo tempo distante ou distanciado delas, ele é também, por circunstâncias diversas (o caráter violento do pai, ter-se visto a “crescer sozinho”, como ele próprio diz, saber-se nascido num país corrupto e atrasado), assaltado pela memória involuntária (Bergson) e dolorosa.
O Meças, que recebeu o prémio de Melhor Livro de Ficção, relativo a 2016, da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), como toda a obra ficcional deste autor, representa as emoções e as memórias repentinas e avassaladoras de personagens portuguesas, e indaga e explora a sua raiz, os seus sentidos e as suas implicações. O meio opressivo e opressor português está na origem das emoções e das memórias dos dois meios-irmãos deste livro, um culto e bem-educado, o outro precisamente o oposto. O Meças é uma representação de grande parte da sociedade portuguesa de meados do século XX até aos nossos dias, ou da sociedade portuguesa de qualquer tempo e de qualquer lugar. As personagens do romance não encontraram soluções para o seu desassossego, mas podem ajudar-nos a ver Portugal mais em profundidade, a compreender as inquietações, as memórias e as respostas da chamada, num sentido muito amplo, portugalidade.
Nem simplesmente realista à maneira de Eça de Queirós, nem exclusivamente subordinado aos procedimentos da narrativa anglo-saxônica (em cuja feição realista, que vem já do século XVIII, entram a sobriedade estilística e a valorização da interioridade das personagens), nem incondicionalmente subordinado às técnicas do noveau roman francês (que, por exemplo, num tempo de crise humanista, elimina ou reduz ao mínimo a intriga, e marca a impossibilidade de construir uma personagem bem delineada), O Meças encerra um conhecimento vasto da literatura portuguesa e internacional, e impõe-se como um livro singular que participa na modernidade da ficção portuguesa, tal como Montedor participou na década de sessenta na renovação literária portuguesa.
Não existe contradição entre a clareza e a exatidão e o registo predominantemente emotivo. O equilíbrio e a disciplina clássica da linguagem de O Meças estão perfeitamente de acordo com o estilo que reconhecemos a J. Rentes de Carvalho. A musicalidade intrínseca à escrita deste autor impede-a de incorrer em monotonia e automatismo, e em O Meças essa harmonia resulta numa expressão em que despojamento e inquietude se combinam e alternam. A sequência mais comum deste romance inclui orações ou expressões próprias do escritor clássico que o autor de Ernestina é, e momentos, consideravelmente extensos, em que a emotividade da personagem domina, representada pelo discurso indireto livre e/ou pelo monólogo interior. Esta sobriedade e esta emotividade acolhem, não raramente, um discurso autoirônico, como dissemos, mas também irônico, cômico e satírico cujo alvo é a sociedade em geral, das classes economicamente mais favorecidas às mais baixas, e da unidade da família à ética sexual e às estruturas e comportamentos religiosos. Mais do que de humor deve falar-se de comédia trágica, de desconstrução, através de uma paródia relativamente discreta, dos preconceitos e das verdades da sociedade portuguesa de meados do século XX: «Alguns até parece que nascem doutores, e ele, vinte e tal anos na Alemanha, nem sequer a língua foi capaz de aprender, só palavras soltas, os colegas às gargalhadas, obrigando-o a repetir tudo, dizendo que ninguém o entendia e a chamar-lhe “turco”» (p. 107).
O Meças combina a representação da intimidade mais recôndita de duas personagens com a representação discreta mas perceptível dos problemas de Portugal, e estabelece uma relação entre o tempo interior dos protagonistas e o tempo cronológico do país em que eles vivem ou viveram. Prevalece o conhecimento do mundo íntimo das personagens, ora em discurso de terceira pessoa, ora de primeira pessoa, mas não se perde a noção da realidade exterior (a emigração, a política obscura e corrupta ou a influência do clero, por exemplo), que, aliás, determina a desintegração das personalidades que, no caso da personagem Meças, vemos em desequilíbrio psicológico desde o início do romance. A um tempo histórico e a um quotidiano em que se inscrevem figuras que parecem ter séculos, indiferentes ao tempo do calendário, a um tempo que passa sem que mudem as questões que em Portugal parecem ser insolúveis (as diferenças entre ricos e pobres, e o atraso sociocultural e econômico, essencialmente), correspondem os tempos interiores vividos pelos narradores-personagens, que nos surgem como uma consciência e um corpo angustiados até ao paroxismo. Todo o romance é um prolongamento do primeiro parágrafo:
Alguém terá de lhe emprestar as palavras, porque as desconhece, mas se lhas tivessem ensinado seria incapaz de dizê-las, estonteado pelo remoinho, a vida a desfilar em ondas de desespero, ocasiões falhadas, sempre ele o que perde, a sofrer envergonhado, o que baixa os olhos e até si próprio tem de fugir. (p. 9)
Rentes de Carvalho – Esta resenha faz parte dos trabalhos da Cátedra Internacional José Saramago (Universidade de Vigo), projeto POEPOLIT (FFI2016-77584-P, Ministério de Economia e Competitividade da Espanha) e do Programa Estratégico UID/ELT/00500/2013 da FCT (Portugal).
[IF]
Sêneca e o estoicismo | Paul Veyne
Buscar a sabedoria, exercer as virtudes e eliminar as paixões humanas. O estoicismo foi uma filosofia helenística que ao chegar a Roma, ainda no período republicano, pregava uma vida baseada nos princípios filosóficos que ordenavam todo o cosmos e o destino dos homens segundo as leis da natureza. Paul Veyne, historiador e arqueólogo francês especializado em Roma Antiga, lecionou na Escola Francesa de Roma, na Sorbonne e na Universidade de Provença. Em 1975 entrou para o Collège de France, onde foi titular da cadeira de história romana até 1998. A obra em análise, Séneque: Entretiens Lettres a Lucilius (1993), leva a assinatura deste brilhante historiador e chega ao Brasil com o título Sêneca e o estoicismo (reimpressão em 2016). Veyne debruçou-se sobre diversas obras do filósofo romano Lúcio Aneu Sêneca (1 a 65 d.C.) e captou em sua pesquisa aspectos históricos e do pensamento Antigo que retratam a sociedade romana nos governos dos Imperadores Cláudio e Nero.
O livro foi organizado em três grandes momentos: Prólogo; Sêneca e o estoicismo; e por fim um epílogo que descreve a última fase da vida de Sêneca que se afastou da vida política para dedicar-se mais ao otium da filosofia até sua condenação ao suicídio após Nero descobrir que o mesmo estava envolvido na famosa conspiração de Caio Calpúrnio Pisão, um senador romano, em 65 d.C.
A riqueza da obra de Veyne convida o leitor a realizar uma reflexão sobre diversos conceitos que ainda são amplamente discutidos no mundo contemporâneo: a moralidade, a felicidade, as virtudes, as paixões, a honestidade, o suicídio, o exílio, o tempo, entre outros temas, que permeiam a escrita senequiana e levam o historiador francês a debater sobre tais assuntos com vários pensadores que se destacaram na História do pensamento ocidental como Aristóteles, Kant e Freud. Para Veyne, o estoicismo de Sêneca procurava libertar seus discípulos das mazelas humanas geradas pelas paixões irracionais exemplificadas pelas ambições desenfreadas das riquezas, as lutas de gladiadores, o gosto pelas artes cênicas e musicais, e tudo o que afastava o indivíduo de uma vida virtuosa guiada pela razão estoica. Tal visão, onde o estoicismo se constituiria como uma filosofia libertadora das angústias da alma direcionando o homem da Antiguidade Clássica para uma vida equilibrada e longe das dores irracionais ocasionadas pelas paixões, também foi analisada por Cícero Cunha Bezerra em seu artigo A filosofia como Medicina da alma em Sêneca (2005). A filosofia estoica é compreendida por este autor como um remédio contra as práticas irracionais que afastavam o homem de uma vida tranqüila e equilibrada.
Nesse sentido, Veyne inicia seu livro com a parte introdutória do prólogo descrevendo a trajetória da vida do estoico e sua formação filosófica destacando seus primeiros passos na arte da filosofia transmitidos por seu mestre Átalo até sua ascensão como preceptor do jovem Nero (54 a 65 d.C.). Nascido em Córdoba, cidade hispânica da província da Bética (atual Espanha), Sêneca pertencia a uma família rica onde seu pai (Sêneca, o velho) desejava que os filhos estudassem em Roma e se enveredassem na arte da retórica e da esfera política. O talento de Sêneca como pensador rapidamente o conduziu para os círculos políticos do Senado Romano e a convivência na corte imperial de Cláudio.
Foi durante o governo de Cláudio que Sêneca sofreria uma condenação ao exílio na ilha de Córsega por se envolver em um suposto adultério e possíveis intrigas palacianas. O retorno de Sêneca a Roma seria um projeto da esposa deste imperador, Agripina, que confiaria a educação do filho Nero para o filósofo cordobês. O futuro princeps deveria governar Roma de acordo com os princípios virtuosos da razão estoica, tornando-se o modelo do bom governante, ou seja, um rei sábio.
Neste sentido, Veyne destaca a obra Sobre a clemência de Sêneca, escrita e direcionada para que Nero viesse a exercer a sabedoria e se afastasse de um governo tirânico, sendo clemente com todos os povos do Império. O bom governante deveria servir seus súditos e agir de acordo com o equilíbrio cósmico estruturado pelas leis da natureza, pois todo tirano acaba sendo derrubado do poder ou assassinado por aqueles que fazem parte de sua corte. A obra Imagens de Poder em Sêneca – Estudo sobre o De Clementia, de Marilena Vizentin (2005) apresenta como o princeps deveria ser clemente com seus opositores buscando desta forma perdoá-los transformado assim os inimigos em aliados. Mas o livro de Veyne vai além das expectativas do leitor que apenas tem por objetivo se prender aos aspectos filosóficos do estoicismo. O historiador analisa a sociedade romana no período dos Imperadores da dinastia Julio-Claudiana sem cair na mera descrição dos fatos.
É possível perceber na escrita de Veyne a preocupação em comparar as fases do estoicismo com filosofias da Modernidade (Kant e Rousseau) ou com as ideias de progresso e do devir da História presentes em estudos como os que Marx realizou para que a classe proletária compreendesse seu processo de libertação inserido na luta de classes contra a burguesia europeia. Veyne consegue relacionar as teorias desses pensadores sem perder de vista seu foco investigativo, aproximando-se constantemente de Sêneca e mergulhando nas obras do filósofo romano. Explora com maestria os diversos escritos senequianos como as Questões Naturais, as Consolações a Márcia e a um liberto de Cláudio conhecido como Políbio, o tratado intitulado Sobre os benefícios e finalmente as cartas direcionadas ao discípulo que Sêneca mais estimava e pertencia à ordem dos cavaleiros romanos, Gaio Lucílio Junior. As Cartas a Lucílio não apenas fazem parte do grande conjunto de obras de Sêneca, mas acabam por se constituir na fonte histórica mais citada nos estudos de Veyne. Foram escritas durante o período de afastamento de Sêneca da vida política (63 a 65 d.C.), onde Nero já demonstrava aversão aos conselhos do estoico e inclinava-se para uma vida regada pelos prazeres.
Os princípios filosóficos estoicos são analisados por Veyne em seu segundo capítulo Sêneca e o estoicismo. São diversos os conceitos que compõem o arcabouço teórico nas obras senequianas. Veyne demonstra como o estoicismo estava fundamentado nas leis da natureza. O homem era um ser cosmopolita, pois se ligava ao cosmos através da razão, representando em seu espírito (hegemonicon) as leis da natureza. Tal representação seria traduzida em ações retas (kathekontas) ou virtuosas livrando o indivíduo de uma vida pautada pelos vícios, ou seja, as más condutas. Sobre a representação estoica, Luizir de Oliveira (1998) afirma que a presença da virtude no homem constituía o próprio bem sendo o momento onde o indivíduo se harmonizava com o cosmos e se tornava parte dele. Era nesse momento que o hegemônico (hegemonicon), a parte diretiva da alma, realizava a representação compreensiva ao buscar na realidade descobrir a verdade em consonância com o cosmos.
A razão, ou a Natureza, nada mais seria do que o princípio formador e ordenador de toda a realidade cósmica e dos homens. No livro de Jean Brun, O Estoicismo (1986), a razão estoica é comparada a um fogo artífice. Esta teoria, segundo Brun, se aproxima da teoria de Heráclito de Éfeso, antigo pré-socrático do século VI a.C., que acreditava ser o universo formado por um lógos que era o fogo demiurgo de toda a realidade.
Viver conforme a natureza era se submeter a um deus providencial que possibilitaria ao homem alcançar uma vida sábia. Ser sábio significava vencer as dores e os sofrimentos gerados durante a existência independente das riquezas ou da pobreza, da saúde ou das doenças, da liberdade física ou da escravidão. De acordo com o estoicismo, para se obter uma vida feliz, serena e sábia, era necessário seguir os ditames deste princípio ordenador. Exercer a razão era praticar ações virtuosas como a temperança, a justiça, a coragem e a prudência, definidas por Veyne como as quatro virtudes estoicas. Em História da Filosofia Antiga (2002), Giovanni Reale destaca que as demais virtudes existentes eram subordinadas a estas.
Sêneca enfatiza em suas Cartas a Lucílio a importância de se vencer todos os infortúnios do destino alicerçado nos ensinamentos de sua filosofia. Neste sentido, outro aspecto necessário para se tornar um sábio estava na ideia de se buscar constantemente uma espécie de segurança interna, criando uma fortaleza interior capaz de resistir a qualquer tipo de sofrimento. Para um estoico a vida somente teria valor quando as virtudes estavam sendo praticadas e direcionavam o sábio para uma vida feliz. A felicidade não era definida pela riqueza ou pelos cargos conquistados na carreira política (cursus honorum). A felicidade deveria estar de acordo com as leis da physis, colaborar com o fluxo do universo, levando o indivíduo a viver no presente sem se abalar com os reveses do destino. Veyne ainda destaca que para Sêneca a felicidade deveria colaborar com a coletividade e não apenas ser algo efêmero e particular.
Talvez seja por isso que a morte nunca assustou Sêneca. Um dos pontos culminantes na teoria senequiana, e que comprova a tese de que um estoico deve ser impassível perante a dor, a perda das riquezas ou até mesmo perante a morte, será o tema que envolve o suicídio. Diante de um quadro político marcado por assassinatos (Veyne descreve o assassinato de Agripina e do jovem Britânico), perseguições aos opositores republicanos e um Principado caracterizado pela tirania de Nero, Sêneca retira-se da vida política. A morte de nosso filósofo é descrita na última parte do livro de Veyne intitulada de Epílogo. Os escritos de Tácito são as lentes de Veyne para narrar o episódio que levou Sêneca ao suicídio.
Acusado por participar de uma conspiração palaciana contra Nero, Sêneca será condenado ao suicídio por seu antigo discípulo. A narrativa de Tácito emociona o leitor que revive a cena final eternizando assim a firmeza moral senequiana perante a morte. Enfim, o livro de Veyne proporciona ao leitor e aos estudiosos do estoicismo, um rico material que apresenta não apenas a filosofia de Sêneca, mas diálogos com importantes pensadores do mundo da Modernidade e da contemporaneidade. Constitui-se como obra indispensável para aqueles que buscam aprofundar seus estudos sobre o estoicismo de Sêneca e do mundo romano na Antiguidade Clássica.
Referências
BEZERRA, Cícero Cunha. A filosofia como medicina da alma em Sêneca. Ágora Filosófica, Recife, v.5, n.2, p. 7-32, 2005.
BRUN, Jean. O estoicismo. Lisboa: Edições 70, 1986.
OLIVEIRA, Luizir de. Sêneca: a vida na obra, uma introdução à noção de vontade nas epístolas a Lucílio. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – PUC, São Paulo, 1998.
REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 2002. v.3.
VEYNE, Paul. Sêneca e o estoicismo. São Paulo: Três Estrelas, 2016, 279p.
VIZENTIN, Marilena. Imagens de poder em Sêneca: estudo sobre o De Clementia. São Paulo: Ateliê, 2005.
Fabrício Dias Gusmão Di Mesquita – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Bolsista pela Fundação de Amparo a Pesquisa de Goiás (Fapeg). E-mail: [email protected]
VEYNE, Paul. Sêneca e o estoicismo. São Paulo: Três Estrelas, 2016. Resenha de: MESQUITA, Fabrício Dias Gusmão Di. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.2, n.2, p.1-6, 2018.
Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932) – GÁRATE (A-EN)
GÁRATE, Miriam. Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932). Rio de Janeiro: Papéis Selvagens, 2017. Resenha de: MORALES, Hernán. América Latina em alguns itinerários e cruzamentos. Alea, Rio de Janeiro, v.20 n.1, jan./apr. 2018.
Yo evito el testimonio real, porque me desagradan los confesionarios y esa objetividad eclesiástica del periodismo acusete. Pero tampoco podría negar mi origen y lo evoco en la escritura, travestido, multiplicado en un tornasol engañador. La verdad no me interesa: es paja estancada y filosófica. Como dice Serrat: la verdad no tiene remedio. (LEMEBEL In: SCHAFFER, 1998, p. 58)
(…) Deve ser coisa importante, pois ouvi a campainha tocar várias vezes, uma a caminho da porta e pelo menos três dentro do sonho. Vou regulando a vista, e começo a achar que conheço aquele rostro de um tempo distante e confuso. Ou senão cheguei dormindo ao olho mágico, e conheço aquele rosto quando ele ainda pertencia ao sonho. Tem a barba. Pode ser que eu já tenha visto aquele rosto sem barba, mas a barba é tão sólida e rigorosa que parece anterior ao rostro. (BUARQUE, 1991, p. 7)
Em um artigo publicado sob o título de La crónica, una mirada extrema2, que poderia servir como preâmbulo a esta resenha, Martín Caparrós reflete sobre esse gênero que complexifica não somente a literatura – mas as artes em geral – e em especial a literatura latino-americana, em função de tensões e desencontros da Modernidade. América é crônica, sustenta Caparrós, vinculando seu olhar a tensões assinaladas por Cornejo Polar, Rama, Pizarro e Santiago a propósito de um espaço de definição que alterna a adaptação entre o conhecido e o não-conhecido, evidenciando matrizes conflituosas. A crônica é um exercício recorrente de estranheza que marcou o processo identitário dos habitantes destas latitudes. Por isso as vozes que nela se manifestam “não mostram mas, antes, evocam, refletem, constroem, sugerem”, gerando um estado de crise. Trata-se de textualidades polimorfas que evidenciam as vantagens de recriar modos de contar e formas singulares de perceber o entorno, em um exercício que tem a intenção de “despertar” o leitor. São discursos nos quais o olhar se detém em um objeto configurado como busca, porque a escrita converte-se numa prática dos limites que transcende o foco jornalístico e consegue trazer para o primeiro plano o que normalmente fica oculto, o que não se vê à primeira vista e necessita ser nomeado. Parece tratar-se de uma reinvenção do espaço latino-americano que em alguns narradores contemporâneos (como Alma Gillermopietro, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Pedro Lemebel, Carlos Monsiváis, entre outros), torna-se uma obsessão, marcada pelo exercício político que supõe a confrontação entre o sujeito e seu entorno.
Por essa razão, não é estranho que Miriam Gárate recorra ao liminar expresso pela preposição “entre”, com o objetivo de estudar as relações fundadoras do cinematógrafo com a literatura e a imprensa na América Latina, propondo um olhar que se debruça sobre as crônicas que circularam no México, no Chile, no Brasil, no Peru e na Argentina, entre outros países, em finais do século XIX e princípios do XX. Ao longo de mais de 200 páginas, a autora oferece, por meio de uma ensaística impecável, sustentada com grande rigor crítico, uma abordagem das relações imbricadas no discurso de recepção do cinema, que privilegia o gênero crônica no período delimitado pelo título (1896-1932), evidenciando o interesse em revisar o impacto causado pelo novo espetáculo. A partir dessa perspectiva singular, Entre a letra e a tela conecta a literatura, a imprensa e o cinema revisitando o olhar perscrutador dos cronistas, reenviando ao endereçamento do olhar destacado por Caparrós enquanto característica fundamental da crônica por contraposição à notícia.
Através da “retórica do passeio” (RAMOS, 1989), o leitor é convidado a participar de um percurso que, na Introdução, demarca um posicionamento baseado no estudo minucioso da circulação dos modos de percepção do cinematógrafo, expressos em jornais e revistas das áreas geo-culturais recortadas. É um tipo de análise, segundo frisa Miriam Gárate, que toma distância a respeito da aproximação “literatura – cinema” com foco no problema da adaptação, tradicionalmente centrado no jogo entre “fidelidade/infidelidade”. Em vez disso, na viagem proposta, aborda-se um fenômeno que é simultaneamente jornalístico, estético e literário, cifrado pela crônica, esse gênero que, pode-se dizer, está na base do processo de formação cultural das nações americanas.
No primero capítulo, “Os escritores-cronistas vão ao cinematógrafo”, a forma de modelar os materiais se consolida através do substrato: retórica da viagem, por isso a referência a Ramos e o resgate de vozes centrais como as de Manuel González Prada (Peru), José Martí (Cuba), Manuel Gutierrez Nájera (México), Luis Urbina (México-Espanha), Coelho Neto (Brasil), Olavo Bilac (Brasil), Ruben Darío (Nicaragua), Amado Nervo (México), José Juan Tablada (México-EEUU), Enrique Gómez Carillo (Guatemala-França), João do Rio (Brasil), para mencionar somente alguns. Neles, Gárate observa a recriação de uma estilística que evidencia o deslocamento das crônicas do jornalístico para o literário, daí o entre-lugar, fato que também influi no nascimento de um novo profissional que se consolida ao mesmo tempo que os textos que recriam o impacto suscitado pelo cinematógrafo: o repórter. Destaca-se, nesse sentido, algo que já fora assinalado por outros estudiosos: “a cultura moderna foi ‘cinematográfica’ antes do cinema”; e talvez seja por esse motivo que o olhar dos cronistas pôde transitar rapidamente do assombro para a reflexão crítica.
Nas crônicas examinadas no primeiro capítulo, acompanhamos as primeiras viagens. “El cinematógrafo” (1896), de Urbina, e “Moléstia de época” (1906), de Olavo Bilac, descrevem a percepção do fenômeno cinematográfico por meio de construções discursivas que patenteiam o fascínio exercido, através de referências à “máquina milagrosa” ou ao “aparato prodigioso”, deslumbramento que se reitera na crônica do mexicano José Juan Tablada, “México sugestionado: el espectáculo de moda” (1906) e em “En el cine” (1913), de Ramón López Velarde. São essas considerações que desdobram, no segundo capítulo, as reflexões críticas sobre a linguagem cinematográfica, envolvendo relações com outros gêneros como o teatro e o romance.
Em “Os escritores-críticos se debruçam sobre o cinema”, segundo capítulo, Miriam Gárate enfatiza o interesse das primeiras críticas/crônicas pelo cinema narrativo e os diversos modos de lê-lo. Desponta, então, uma questão muito estudada – por isso a recuperação de vários teóricos do cinema, dentre os quais Béla Balázs -, de modo a desvelar como os filmes se constroem e as características da linguagem cinematográfica do período. Como afirma Gárate, “a linguagem cinematográfica transparente (Xavier, 1984) disputa com as outras artes a expressão de uma subjetividade inicialmente reservada [imaginariamente reservada] à palavra” (GÁRATE, 2017, p. 10). As relações com outras práticas artísticas como o teatro são evidencia disso. Em “Da ‘estética da ação’ à estética da subjetivação”, subtítulo de uma das seções do segundo capítulo, delineia-se um percurso que elucida as unidades imbricadas na linguagem em processo de construção e, simultaneamente, a individualização que afasta o cinema das outras artes: o primeiro plano, o enquadramento, a montagem. A autora contrapõe a visão preconceituosa de Urbina, para quem “o cinema jamais nutrirá a cultura nem aperfeiçoará o espírito como o faz o livro”, à perspectiva de Torres Bodet, para quem a câmera em A última gargalhada (1924) de Murnau é um “objeto pensante”, pois “sonha”, ou, nas palavras de Bálaz, dá forma a um “pensamento ótico”. O contraponto põe em cena o debate entre espetáculo/cultura e refrata as tensões descobertas nessa viagem.
O terceiro capítulo, “O retorno do pleito mimético”, recupera as discussões suscitadas a respeito das transformações nas práticas culturais e sociais produzidas pelo cinema. São relembrados aspectos negativos, percebidos pelos cronistas em relação à possível influência dos filmes que encenam crimes. Para alguns deles, “o efeito pernicioso do novo espetáculo reside na vivacidade das peripécias que mostram [ensinam] os meios e modos de delinquir” (GÁRATE, 2017, p. 99). Daí a proibição aos jovens de frequentar filmes que pudessem levá-los a copiar tais atos, defendida em numerosos escritos. As crônicas revelam em seus títulos essa crença arraigada. “Moralidad, criminología… Lo de siempre. La Razón contra el cinematógrafo” (1919). Repercutem, assim, frases dos próprios jornais, como: “Não acreditamos que a fita torne melhores ou piores os criminosos, mas sim acreditamos que lhes forneça lições e os prepare para o delito, dado que a exibição cinematográfica estimula e exalta a imaginação” (La Razón, 1919, apud GÁRATE, 2017, p. 100). Ao mesmo tempo, e com base no mesmo pressuposto mimético, o cinema se torna um meio de instrução através do qual se oferecem uma formação moral, uma escola do bom gosto e uma “educação pelo olhar”, como é possível ler na crônica de Horacio Quiroga, “El cine en la escuela: sus apologistas” (Caras y Caretas, 1920). Um fato que transforma algumas salas, como a Fémina, de Lima, em lugares destinados à instrução de garotas e senhoras, fenômeno referido em crônica recuperada por Ricardo Bedoya, estudioso do cinema peruano, citado por Gárate. Por outro lado, o cinema também se torna o espaço da sedução e das paixões, como atestam alguns escritos de Urbina (“El cine y el delito”, 1916), de Lima Barreto (“Amor, cinema e telefone”, 1920) ou de Francisco Zamora (“El cine y la moralidad”, 1919), todas amostragens dessa dúbia pulsão didática, que se evidencia ainda com mais clareza em “El cine y las costumbres” (1931), do argentino Roberto Arlt, ou nas menções aos “problemas entre os sexos” feitas pelo mexicano Carlos Nogueira Hope em “Vanidad de vanidades” (1919).
No capítulo “Os ‘latinos’ viajam a Hollywood”, a autora aborda a experiência de viagem à cidade cinematográfica por antonomásia como dado significativo que acompanha, entre os anos de 1920-1930, o desenvolvimento da cinematografia estadunidense. Para focar esse aspecto, são escolhidas as narrações “Una aventura de amor” (1918), publicada com o pseudônimo de Boy, “Miss Dorothy Phillips, mi esposa” (1919) de Horacio Quiroga, “Che Ferrati, inventor” (1923) de Carlos Nogueira Hope e “Hollywood: novela da vida real” (1932) de Olympio Guilherme. Sustenta Gárate:
são narrativas que se estruturam ao redor desse motivo [a viagem a Hollywood], assim como una série de outros tópicos comuns: o desvendamento das regras que vigoram nos grandes estúdios bem como de pormenores técnicos e truques de rodagem; o retrato de tipos que se consolidam por esses anos (a flapper, o latino sedutor, o rastaquera); a relação mimética das personagens com modelos propostos pelo cinema (aparência física, atitudes, sentimentos); o enredo amoroso (também ele estreitamente vinculado ao imaginário cinematográfico, o que resulta no entrelaçamento e no revezamento constantes dos registros da ‘vida’ e do ‘filme’); o vínculo afetivo espectador-estrela; o tema do doublê” (GÁRATE, 2017, p. 127).
Nos dois primeiros títulos (“Una aventura de amor” e “Miss Dorothy Phillips) , encena-se uma experiência que propicia o “cancelamento provisório da realidade imediata”, estabelecendo a viagem não apenas como deslocamento à capital hollywoodiana, mas como translação da vida diurna à da fantasia provocada pela escuridão da sala e pela construção da linguagem fílmica. Isso permite estabelecer uma analogia com o par vigília/sonho, desenvolvido pela autora com o auxílio das teorizações de Mauerhofer (1966), Jean-Louis Baudry (1970) e Christian Metz (1979).
As personagens que povoam esse conjunto de relatos cristalizam uma galeria de estereótipos que reenvia ao jogo instaurado entre ficcional e “real”. Nela, exibem-se os latinos que se lançaram à vida cinematográfica estadunidense: o pobre-diabo representado pelo argentino Guilhermo Grant, o mexicano Federico Granados no papel do latino fogoso, etc. Muitos deles são contemplados nesse quarto capítulo do livro, seguindo um percurso no qual a autora mostra como se configuram nas narrativas as operações que fazem parte da linguagem cinematográfica e implicam uma transferência de códigos para o texto escrito: o recurso gráfico à linha de pontos enquanto sucedâneo do corte/montagem invisível na narrativa de Quiroga, a fórmula fade in para intitular as palavras preliminares no romance de Guilherme, etc. Tais procedimentos são examinados ao longo de “Os latinos viajam a Hollywood” por meio de uma análise que evidencia a perspicácia com que Gárate consegue suturar ambas as linguagens.
Por fim, no quinto e último capítulo do livro, intitulado “Documentários de papel/Crônicas de celuloide”, a autora retoma a problemática demarcada inicialmente, com base na hipótese de que durante as últimas décadas do século XIX e princípios do XX, os escritores latino-americanos estabeleceram uma relação estreita e conflituosa com a imprensa tendo na crônica uma de suas manifestações mais significantes. Isso conduz Gárate a enfocar algumas realizações experimentais, entendidas como a cristalização vanguardista das relações exploradas ao longo de seu texto: as crônicas de Antônio de Alcântara Machado reunidas em Pathé-Baby (1926) e o filme de Alberto Cavalcanti, Rien que les heures (1926). A autora recupera, então, o eixo principal de seu percurso: a retórica do passeio, sustentando que a aparição do cinema propiciou uma triangulação entre imprensa, crônica e cinema, dando lugar ao nascimento de expressões híbridas tais como as Atualidades cinematográficas, as Cine-revistas e os Cine-jornais, por um lado, e a adoção de títulos como Kinetoscópio, Cinematógrafo, Vitascópio ou Cinema da vida em colunas cronísticas, por outro. Miriam Gárate também destaca o papel assumido pelo cinema clássico no século XX enquanto “máquina de contar histórias”, espécie de permutação ou troca de funções desempenhadas pela literatura do século XIX e pelo romance-folhetim. A exposição revela o interesse em desentranhar como se processa uma mudança radical nos textos da época, decorrente de deslocamentos nos âmbitos do jornalismo, da crônica, do romance e do cinema, sinalizando uma ruptura de categorias de gênero na qual primam as tensões. Por isso, compreende-se que Gárate se pergunte no final do volume, aludindo à imagem da “vendedora de jornais” estampada na capa do livro, e como um modo de ecoar sua reflexão, tentando descobrir o que está além da lente do olho mágico: “Rien que les heures: uma crônica de celuloide?”
Referências
BUARQUE, Chico. Estorvo. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1991. [ Links ]
CAPARRÓS, Martín. La crónica: una mirada extrema. Diario La Nación, setembro de 2007. Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/943086-la-cronica-una-mirada-extrema>. [ Links ]
GÁRATE, Miriam. Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932). Rio de Janeiro: Papéis Selvagens, 2017. [ Links ]
RAMOS, Julio. Desencuentros de la modernidad en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 1989. [ Links ]
SCHAFFER, M. Pedro Lemebel. La yegua silenciada. Revista Hoy, n. 1072, fevereiro de 1998. Disponível em: <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0044778.pdf>. [ Links ]
Notas
1 Resenha de: GÁRATE, Miriam. Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932). Rio de Janeiro: Papéis Selvagens, 2017.
2 Em: <http://www.lanacion.com.ar/943086-la-cronica-una-mirada-extrema>.
Hernán Morales. Professor na Universidad Nacional de Mar del Plata. Seus temas de pesquisa são a música e a literatura hispano-americana e brasileira, com uma ampla participação em livros e revistas acadêmicas da área. E-mail: [email protected].
[IF]
Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español – SÁNCHEZ ZAPATERO; MARÍN ESCRIBÀ (A-EN)
SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier; MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex. Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español. Barcelona: Alrevés, 2017. Resenha de MARTÍNEZ, Nora Rodríguez. arrativa serial y ficción policiaca: notas sobre Continuará… sagas litera-rias en el género negro y policiaco español, de Javier Sánchez Zapatero y Àlex Martín Escribà. Alea, Rio de Janeiro, v.20 n.1, jan./apr. 2018.
Javier Sánchez Zapatero y Àlex Martín Escribà han publicado en la Editorial Alrevés una nueva obra, fundamental en el estudio del género policiaco en España: Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español. En ella se abordan las principales características de la narrativa serial, así como su influencia en la evolución de la ficción policiaca.
El libro está dividido en tres partes. En la primera, “Las sagas en la novela negra y policiaca universal”, se hace una breve, pero esencial, revisión de la historia del género a nivel internacional, a la luz serial, desde sus orígenes hasta la época actual. En la segunda, titulada “Las sagas en la novela negra y policiaca española”, se ofrece un panorama completo de los principales autores y personajes que han marcado el desarrollo del género en España. Y en la tercera y última parte del libro, “Tres paradigmas seriales”, se estudian tres casos paradigmáticos de autores y sus respectivas sagas policiacas que, aunque han asumido ciertos estereotipos, han introducido innovaciones notables en sus obras: Eugenio Fuentes, Alicia Giménez Bartlett y Lorenzo Silva. Cada estudio monográfico es acompañado de una útil y esclarecedora entrevista a los escritores.
Así pues, en la primera parte, “Las sagas en la novela negra y policiaca universal”, Sánchez Zapatero y Martín Escribà explican que el desarrollo de series novelescas con un protagonista fijo, cuya presencia facilita su identificación por el público, ha sido una de las características básicas de la novela policiaca desde su implantación como género en el siglo XIX. En este sentido, señalan que Auguste Dupin, el primigenio detective creado por Edgar Allan Poe, no solo protagonizó Los crímenes de la calle Morgue (1841), sino también El misterio de Marie Roget (1843) y La carta robada (1884). Utilizando un esquema narrativo muy similar, Arthur Conan Doyle creó en 1887 al legendario detective Sherlock Holmes y a su sempiterno acompañante Watson. Además de estos casos iniciales, destacan en la literatura policiaca fundacional las sagas de Joseph Rouletabille (Gaston Leorux), el Padre Brown (Gilbert K. Chesterton), el comisario Jules Maigret (Georges Simenon), Hercule Poirot y Miss Marple (Agatha Christie), Philo Vance (S. S. Van Dine) o Nero Wolf (Rex Stout); y también del agente de la Continental y de Sam Spade (Dashiell Hammett), Philip Marlowe (Raymond Chandler) y Lew Archer (Ross Macdonal), habitualmente considerados hitos iniciadores de la novela negra. De esta forma, como bien exponen los autores de esta obra, a pesar del cambio en las circunstancias de publicación y de las modificaciones en las características temáticas y formales del género, “la adecuación al modelo de continuidad y la importancia determinante de los protagonistas continúan siendo dos de las constantes de la literatura policiaca universal” (p. 29).
La segunda parte, “Las sagas en la novela negra y policiaca española”, se subdivide en: “Parodias e imitaciones (1900-1971)”, “Detectives y desencanto (1972-1993)” y “Eclosión y diversidad (1994-2016)”.
En primer lugar, Sánchez Zapatero y Martín Escribà demuestran como durante los tres primeros cuartos del siglo XX la importancia del género quedó reducida a su valor paródico e imitativo respecto a los modelos internacionales. Esta situación dio lugar a la identificación exclusiva de la literatura policiaca con la literatura popular, erróneamente asociada a la literatura de baja calidad, y al consiguiente desprecio del género, no sólo por la crítica, sino también por parte de los escritores que no querían ser relacionados con él. Así pues, por un lado, se editaron infinidad de traducciones, se escribieron cientos de obras imitativas (publicadas por colecciones populares especializadas) y se consolidó un grupo de público lector numeroso y, por otro, no se pudo desarrollar una tradición nacional que presentara características propias. De hecho, en esta época, la mayoría de los autores firmaba sus obras con pseudónimos, bien porque no deseaban ver sus nombres asociados a un género ínfimamente considerado, bien para tratar de evitar la censura, dadas las vinculaciones políticas de muchos escritores, o simplemente, porque, al ubicar las tramas en escenarios extranjeros, sus obras resultaban más creíbles si aparecían firmadas con nombres de resonancias exóticas. Es en este contexto que aparece la saga de Plinio, de la pluma de Francisco García Pavón, protagonizada por el jefe de la Policía Municipal de Tomelloso, Manuel González, alias Plinio, y su ayudante, el doctor Lotario, que fueron la primera pareja de investigadores autóctonos creados sin copiar directamente los modelos de otras literaturas.
En segundo lugar, los autores de esta obra explican que, tras la muerte del dictador, la libertad de expresión, el fin de la censura y la llegada de traducciones y de libros de exiliados hasta entonces prohibidos, unidos a la progresiva revitalización del género en la década de los 70, dieron lugar a la creación de una verdadera tradición de novela negra en español. Entre la gran nómina de escritores de este boom de la literatura policiaca, es imprescindible destacar a Vázquez Montalbán y a su detective Carvalho, cuya “saga se convirtió, en efecto, en una de las más adecuadas formas literarias para establecer la crónica de la evolución, de España después del franquismo y para entender el cambio de mentalidad generacional que se produjo en el país” (p. 61). Tampoco podemos olvidar a Juan Madrid, con el exboxeador Toni Romano y con Manuel el gitano Flores; a Francisco González Ledesma, con el inspector Ricardo Méndez; y a Andreu Martín, que también ha utilizado personajes fijos en muchas de sus obras, entre ellos Javier Lallana. Por último, entre la gran cantidad de títulos que supuso la eclosión del género durante la Transición también pueden encontrarse ejemplos de parodias y sagas humorísticas entre las que se destaca la protagonizada por Gay Flower, personaje creado por José García Martínez-Calín, que firmaba como PGarcía, así como la serie de Eduardo de Mendoza, con su detective loco e innominado, y la de Jorge Martínez Reverte, que creó al periodista Julio Gálvez, ambas protagonizadas por investigadores ocasionales, cuyas andanzas se presentan en tono humorístico.
En tercer lugar, aunque a principios de los 90 se da un nuevo parón en el desarrollo de la literatura policiaca en España. Sánchez Zapatero y Martín Escribà explican cómo el vacío de aquellos años fue progresivamente superado con la aparición de una segunda generación de autores y de sagas literarias que terminaron por consolidar las bases del género en nuestro país. Se inicia pues “un periodo de gran éxito, vigente hasta nuestros días, en el que la novela negra ha pasado a ser la novela moderna por excelencia” (p. 88). Así, dentro de la diversidad que caracteriza a la novela negra española de los últimos años es destacable el uso reiterativo del personaje policial que “vincula a casi todas estas sagas con la variante procedimental de la literatura negra y policiaca, caracterizada por su afán en mostrar, con todo lujo de detalles, los procedimientos oficiales […] y la cotidianidad del trabajo policial, tanto la que se refiere a la actividad burocrática […] como la de sus pesquisas” (p. 97). Sin embargo, frente a la relevancia adquirida por los personajes policiales, el detective, personaje investigador por excelencia, continúa representado en la actualidad del género negro español. Por otro lado, desde un punto de vista geográfico, pese a que Barcelona y Madrid, centros políticos y culturales del país, siguen siendo los escenarios más frecuentados en la novela negra y policiaca actual, se ha producido un proceso de “descentralización” de los escenarios policiacos ya que “las sagas del nuevo milenio aportan una visión mucho más globalizada en la que hay lugar para barrios periféricos y zonas habitualmente no utilizadas como escenario literario” (p. 107). Así pues, lejos de responder a un único patrón o de adscribirse a una única tendencia, la actualidad y el incremento de sagas de la narrativa negra y policiaca revelan una importante y destacable variedad que, en muchos casos, ha llevado a la hibridación. En este sentido, los autores de esta obra resaltan el papel fundacional de novelas como El nombre de la rosa (1980), que llevó a Umberto Eco a inaugurar “un nuevo género narrativo al que habitualmente se le ha denominado “intriga histórica” (p. 111), pero advierten que el carácter híbrido que presentan muchas de las narraciones vinculadas a lo policial redunda en el problema de que, aunque el género es un concepto en permanente evolución, “se corre el riesgo de que el género negro se convierta en un “macrogénero”, una especie de cajón de sastre en el que se aglutinen todas las narraciones que, de forma superflua, presenten características análogas al género (p. 116-117).
En la tercera y última parte de la obra, “Tres paradigmas seriales”, Sánchez Zapatero y Martín Escribà prestan atención a las obras de tres autores imprescindibles en el desarrollo del género en España y, especialmente, a las características que han hecho de sus series referentes del género policiaco en nuestro país.
La serie “Cupido” de Eugenio Fuentes (Cáceres, 1958) está integrada por siete novelas: El nacimiento de Cupido (1994), El interior del bosque (1999), La sangre de los ángeles (2001), Las manos del pianista (2003), Cuerpo a cuerpo (2007), Contrarreloj (2009) y Mistralia (2015). Llama la atención por su concepción del misterio y del dolor como señas de identidad del género, así como por la combinación entre el marco urbano, casi pueblerino de Breda, universo diegético ficcional, y los parajes naturales de sus alrededores, que hacen que el escenario habitual de la serie esté a medio camino entre lo urbano y lo rural, dicotomía ya presente en Tomelloso de García Pavón. Además, la figura del detective privado Ricardo Cupido, que basa su trabajo en su capacidad de reflexión y observación del comportamiento humano, tal y como ya hiciera el Maigret de Simenon, provoca, entre otras cosas, que sus novelas se adscriban a la variante psicológica-costumbrista del género. De esta manera, “más que saber la identidad del asesino o descubrir el modo en que actuó, lo que realmente importa […] es descubrir las razones que llevan a quitar la vida a alguien. Por encima del “quién” y del “como” siempre está, por tanto, el “por qué” (p. 135).
Alicia Giménez Bartlett (Albacete, 1951) con la serie “Delicado”, compuesta por nueve novelas: Ritos de muerte (1996), Día de perros (1997), Mensajeros en la oscuridad (1999), Muertos de papel (2000), Serpientes en el paraíso (2002), Un barco cargado de arroz (2004), Nido vacío (2007), El silencio de los claustros (2009) y Nadie quiere saber (2013), y un compendio de relatos, Crímenes que no olvidaré (2015), se adscribe a la variante de la novela procedimental, con la añadida originalidad de incluir un personaje femenino como protagonista, algo usual en la actualidad pero excepcional aún en la década que comenzó a escribir la autora. Otra de las innovaciones de la serie radica en que la inspectora de policía Petra Delicado y el subinspector Fermín Garzón, su compañero, son una pareja invertida en relación con los cánones tradicionales del género. También subvierte la autora los tópicos con respecto al espacio geográfico, inaugurando otra forma de enfocar la ciudad, al presentar una nueva visión del espacio menos detallada y minuciosa, que “supone una de las primeras ocasiones en que se rompe con los clásicos estereotipos espaciales barceloneses -las Ramblas, el Raval o el barrio Gótico, entre otros, que continúan apareciendo pero con mucha menor importancia que antaño- y ahonda en nuevos barrios y lugares” (p. 157). Por último, es destacable que esta saga tiene un interés humanista, más que una intención crónica y hace uso del humor y la ironía, tanto a través de la voz con la que la narradora homodiegética reconstruye el mundo, como en muchos de los diálogos que mantiene, fundamentalmente con Garzón, ya que la confrontación entre dos caracteres tan diferentes explota el contraste entre ambos de forma humorística.
Lorenzo Silva (Madrid, 1966), con la serie “Bevilacqua”, compuesta por ocho novelas: El lejano país de los estanques (1998), El alquimista impaciente (2000), La niebla y la doncella (2002), La reina sin espejo (2005), La estrategia del agua (2010), La marca del meridiano (2012), Los cuerpos extraños (2014) y Donde los escorpiones (2016), y la colección de relatos Nadie vale más que otro (2004), se ha convertido en un hito de la novela policiaca española contemporánea. Si hay algo que identifica a estas obras es la condición de agentes de la Guardia Civil de sus protagonistas: Rubén Bevilacqua, narrador homodiegético, y su compañera Virginia Chamorro, que van envejeciendo y cambiando a lo largo de las novelas. Así, por un lado, el autor da verosimilitud a su obra, adscribiéndola a la variante procedimental (aunque Silva ha acuñado el término “novela benemérita”), que hace que los protagonistas no tengan una zona geográfica de acción fija, sino que han de trasladarse por todo el territorio nacional y, por otro, presenta una imagen del Cuerpo renovada, ya libre de la negativa imagen que tenía durante el franquismo. Tampoco se puede obviar la segunda variante de la novela policiaca a la que se vincula esta serie, la denominada “psicológica costumbrista”, que tiene en las historias de Simenon, protagonizadas por el inspector Maigret, su principal referente en el ámbito de la literatura universal, y a Plinio de García Pavón en el ámbito nacional. Por último, cabría señalar que las novelas de la serie tienen una vocación de retrato histórico, por cuanto pueden ser interpretadas como una crónica crítica de la contemporaneidad española. Así se entiende que “leída en conjunto la serie puede ser interpretada, además de como una buena muestra de novelas policiacas, como una crónica de la España del siglo XXI vista a través del punto de vista de un peculiar guardia civil (p. 192).
En suma, Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español no es sólo una obra primordial para el estudio y el análisis del género policiaco y negro en España desde sus orígenes hasta la más inmediata actualidad, sino que es, también, por la gran cantidad de autores y obras sobre los que incide y aporta nuevas ideas, y los innumerables y valiosísimos ejemplos que evidencian todo lo expuesto, un libro apasionante a la vez que de indudable interés teórico-crítico. Tal y como ya afirmaba Georges Tyras en el prólogo, Javier Sánchez Zapatero y Àlex Martín Escribà “son autores ya de una verdadera saga crítica, de la que esperamos con ansiedad el episodio siguiente. Continuarán…” (p. 19).
Referências
CONGRESO DE NOVELA Y CINE NEGRO. Universidad de Salamanca. Disponible en: <http://www.congresonegro.com/>. [ Links ]
SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier; MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex. Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español. Barcelona: Alrevés, 2017. [ Links ]
TYRAS, Georges. Prólogo. In: SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier; MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex. Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español. Barcelona: Alrevés , 2017. [ Links ]
Nora Rodríguez Martínez. Licenciada em Filologia Hispânica e Mestre em Ensino Secundário, Bacharelado, Formação Profissional e Ensino de Linguagem, pela Universidade de Sevilha. Atualmente está cursando o Doutorado no Programa de Estudos Filológicos da Universidade de Sevilha na linha da Teoria da Literatura e Literatura Comparada. Colaborador Honorário do Departamento de Língua Espanhola, Linguística e Teoria da Literatura da Universidade de Sevilha e membro do Grupo de Pesquisa Teoria Linguístico-Literária da mesma Universidade. Desenvolve pesquisas focadas no tema da narrativa policial contemporânea. E-mail: [email protected]
[IF]
Planet/Cuba: Art, Culture, and the Future of the Island – PRICE (A-EN)
PRICE, Rachel. Planet/Cuba: Art, Culture, and the Future of the Island. London: Verso Books, 2015. Resenha de SALMISTRO, Renan. Price, Rachel. Planet/Cuba: Art, Culture, and the Future of the Island1. Alea, Rio de Janeiro, v.19 n.3, sept./dec., 2017.
Publicado em novembro de 2015, Planet/Cuba: Art, Culture, and the Future of the Island oferece uma visão profundamente inovadora da arte e da cultura cubanas contemporâneas. Desde a Revolução de 1959, Cuba ocupou o imaginário mundial como um território fechado, condição agravada pelo embargo econômico de 1961, que isolou literalmente o país numa ilha em meio a um mar capitalista. A revolução, a oposição ao capitalismo americano e a relação com a antiga URSS contribuíram para sustentar o mito da excepcionalidade cubana, sob a imagem de uma ilha congelada e fixa, deslocada do mundo.
Porém, o retrato oferecido por Rachel Price (professora associada da Universidade de Princeton) apresenta um país que, longe de parar no tempo, esteve em contínua transformação. Na introdução “A treasure map for the present”, ela descreve como o colapso da URSS em 1991 acrescentou àquela visão da ilha a imagem de uma terra arrasada, isolada pelo oceano e permeada por árvores, carros antigos, pouca tecnologia, escassez de alimentos e arquitetura destruída. Na verdade, para Price esse momento é o início de uma década distinta de todas as outras em Cuba, uma vez que o fim do apoio soviético impôs ao governo cubano a necessidade de encontrar novas diretrizes para o futuro, de repensar velhas ideologias e de abrir espaço a novos atores sociais.
Os anos finais do século XX, portanto, deram origem a uma nova realidade, que passou não só pela substituição do leninismo soviético, como pela superação do internacionalismo do governo de Fidel Castro. O aspecto épico da ascensão do governo revolucionário em 1959 atraiu a atenção mundial, espalhando expectativas que colocaram sobre a ilha obrigações internacionais, fosse como país comunista, latino americano ou do terceiro mundo. Tais expectativas muitas vezes foram assumidas pelos próprios cubanos, como indica a autodenominação nos anos 1960 como “primeiro território livre das Américas”. Mas, segundo Price, as dificuldades posteriores ao colapso dos países do leste impuseram ao governo e ao povo cubano a necessidade de pensar os problemas locais numa perspectiva nacionalista. A ascensão de Raúl Castro ao poder em 2008, no entanto, direcionou o nacionalismo dos anos 1990 a um processo de internacionalização, que passaria pela abertura da economia cubana à globalização.
Embora Price tenha concluído seu estudo antes da normalização das relações entre Cuba e EUA em 17 de dezembro de 2014, a perspicácia demonstrada em suas análises permite perceber que uma mudança radical não só estava prestes a ocorrer, como se fazia absolutamente necessária. Com exímio conhecimento das transformações sociais, políticas e econômicas em Cuba, Price explora a intersecção entre arte e ambiente, desconstruindo aquela imagem convencional de uma ilha separada do resto do mundo. Sua proposta é superar essa visão construída nos últimos cinquenta anos, de modo que o título não seja lido como uma oposição Planet/Cuba, planeta ou Cuba, mas uma espécie de divisão pela qual as questões globais encontram respaldo na sociedade cubana.
O estudo foca nas produções artísticas cubanas das últimas décadas – abordando desde romances e poesias, até intervenções artísticas, arte digital e videogames como forma de arte -, com o intuito de demonstrar como as crises globais emergentes orientam a nova visão da realidade representada pelos artistas. Para Price, na arte cubana contemporânea, a preocupação particular com o país, lugar comum no imaginário cubano desde os anos 1990, coincide com as preocupações presentes em outros lugares do globo. Assim suas análises são desenvolvidas em torno de problemas que ultrapassam as fronteiras de qualquer nação, como o desmatamento, o aquecimento global, a escassez de recursos naturais, as formas de organização do trabalho e a obsessão com a segurança.
A originalidade do estudo aparece logo nos capítulos iniciais, pela forma como neles são retomados arquétipos binários na arte cubana – como rizomas e árvores – a partir de uma perspectiva global. Os dois primeiros capítulos – “We Are Tired of Rhizomes” e “Marabusales” – abordam questões ligadas à agricultura, à crise do meio ambiente e ao pensamento ecológico. Price descreve a substituição da imagem deleuziana do rizoma (utilizada para se referir à coletividade democrática) pelo símbolo mais estável da árvore. Esta superação envolveria a falência da economia baseada na indústria açucareira, procurando formas de lidar com as consequências da industrialização da agricultura, como a destruição das plantas nativas e o empobrecimento do solo.
Embora o governo de Fidel Castro tenha investido no reflorestamento, conseguindo recuperar mais de 30% do território, além de criar leis para regulamentar a exploração da natureza, a forte campanha pela adoção do modelo industrial soviético que, além de outras coisas, envolvia a industrialização da agricultura, permanece como um alerta quanto ao potencial de destruição da indústria emergente nesta nova fase de globalização. Por isso, os artistas cubanos reagem com hesitação às novas diretrizes adotadas para o desenvolvimento da ilha.
O marabú, planta não nativa que chegou a ocupar mais de 50% do território abandonado pela indústria açucareira, representa a reação paradoxal dos cubanos quanto ao futuro. A planta adquire um aspecto negativo conforme se espalha pelo território, contribuindo para destruir o que restou da vegetação nativa. Na obra Modelo de expansión: marabú, dos artistas Ernesto Oroza e Gean Moreno, o marabú não só indica a falência das políticas agrícolas e ecológicas, como escancara a crise ambiental e o enfraquecimento do sistema capitalista. Por outro lado, seu crescimento e disseminação são mais complexos, à medida que avança sob o território abandonado pelas usinas, devolvendo nitrogênio ao solo destruído pela monocultura.
A ambivalência da metáfora do marabú está em destruir os resquícios da Cuba açucareira que não prosperou, ao mesmo tempo em que prepara a terra para um futuro incerto. Mas a proposta de interpretação do imaginário cubano sob um aspecto global leva Price a analisar as incertezas em relação ao futuro como um fato característico da cultura contemporânea em geral. Essa perspectiva fica ainda mais evidente nos dois capítulos seguintes, que tratam da preocupação em torno da escassez dos recursos naturais.
Se o derretimento das geleiras polares é mais alarmante a todos os países que possuem fronteiras marítimas, no caso de uma ilha como Cuba esse fenômeno pode gerar expectativas desoladoras em relação ao futuro. No capítulo “Havana Under Water”, Price traça as mudanças na abordagem de um velho tema cubano: o mar. Nos últimos tempos, o mar surge no imaginário cubano como uma imagem desagradável, indicadora de perigo. A água não só está envolvida nas mudanças climáticas, como carrega a poluição da vida urbana e industrial. Nas obras de arte, ela contribui para a construção de uma visão apocalítica do futuro, como no trabalho Tsunami, de Humberto Díaz, e no romance Habana Underguater, de Erick Mota.
A insegurança quanto ao futuro também reforça a preocupação com a escassez dos recursos naturais. Entre as maiores preocupações dos governantes contemporâneos, inclusive cubanos, está a busca pela independência energética. Nesse aspecto, a água também está presente, uma vez que representa a última fronteira entre o homem e as principais reservas de petróleo, além de ser a metáfora mais adequada à representação de um fenômeno intrínseco ao capitalismo: a circulação (de mercadorias, capital e pessoas).
Sob essa perspectiva, Price discute com muita acuidade, no capítulo “Post-Panamax Energies”, todo o processo de exploração do petróleo, desde sua regulamentação com base no sistema de posse do direito romano até as deliberações mais recentes dos direitos de exploração. No entanto, este capítulo contribui à tese da autora (sobre a presença marcante dos problemas globais no imaginário cubano) quando reconhece que, embora as descobertas de petróleo não sejam significativas em Cuba a ponto de mudar sua economia ou estrutura energética, a sua centralidade no mundo faz dele um tema constante na arte cubana contemporânea.
Após abordar a preocupação com as reservas de energia como um dos problemas mais recorrentes do mundo globalizado, Price volta-se a um dos temas que nas últimas décadas pareceu distinguir a Cuba comunista do resto do mundo capitalista: a relação entre trabalho, produtividade e tempo livre. O penúltimo capítulo, “Free Time”, oferece uma análise fina de como questões relativas à ocupação, ao desemprego, ao jogo e à falta de produtividade estão presentes no cotidiano da ilha. Enquanto na maioria dos países de capitalismo avançado o tempo livre é visto como antídoto ao trabalho, Price entende que a preocupação do Estado cubano voltada ao bem-estar social dedicou o trabalho estatal à subsistência, de modo que o tempo livre costuma ser direcionado a trabalhos mais lucrativos. Contudo, o avanço da economia informal não é interpretado como um aspecto particular da sociedade cubana, uma vez que também está presente na maioria dos países capitalistas.
Além do mercado informal, outro aspecto da relação entre o homem contemporâneo e o ócio, que repercute em Cuba, é o modo como a cultura de massa modela a construção da subjetividade a partir do tempo livre e do jogo. Uma parte significativa do capítulo é dedicada à abordagem da relação entre a indústria dos games e a colonização do tempo livre, o que parece ser um tema de grande interesse da autora. Embora o acesso à internet ainda seja um problema em Cuba, por ser demasiadamente lento e escasso, ele faz parte da nova política de Raúl Castro de “eliminar proibições”, que também liberou a venda de computadores pessoais, celulares e televisores. Para Price, tal abertura contribuiu para a progressiva distinção entre a vida cotidiana na ilha e a “retórica estatal” dos últimos cinquenta anos. O grande responsável por esta transformação seria o acesso às produções audiovisuais estrangeiras, de grande conhecimento especialmente por parte dos artistas cubanos.
A ênfase no desenvolvimento dos recursos tecnológicos engloba inclusive a obsessão do Estado moderno com o problema da segurança. Nessa linha, Price destaca no último capítulo, “Surveillance and Detail in the Era of Camouflage”, obras performáticas, como da artista Tania Bruguera, e experimentais, como a adaptação do modelo de prisão descrito por Jeremy Bentham (pan-óptico) para o videogame, realizada por Rodolfo Peraza em Jailhead.com. A abordagem do aperfeiçoamento de um sistema de segurança cada vez mais invasivo – que tem a tecnologia como principal aliada -, a partir de artistas que adotam recursos tecnológicos como estratégia de representação, foi um grande lampejo da autora para defender que as formas de vigilância e controle não estão encerradas nos centros de correção ou nas instituições, mas sim disseminadas pelos lugares mais diversos da vida cotidiana.
Ao colocar no horizonte da arte cubana os problemas globais, Price consegue desmistificar algumas consequências do isolamento político das últimas décadas, como a sensação de que Cuba é uma ilha-planeta com uma realidade própria. Apesar de ter que lidar com os problemas globais respeitando as particularidades de seu processo histórico, a Cuba de Price passa por múltiplas transformações que se confundem com os dilemas do mundo atual. Dessa forma, a promessa presente no título de discutir o futuro da ilha (“… and the Future of the Island”) não pode ser entendida literalmente, uma vez que as expectativas quanto ao futuro na ilha são tão incertas, duvidosas e angustiantes quanto em qualquer outro lugar do planeta. A abordagem dos impactos das transformações globais na ilha definitivamente recoloca Cuba numa perspectiva global, menos como ilha-planeta e mais como país.
Renan Salmistraro – Doutorando em Teoria e História Literária na UNICAMP. E-mail: [email protected]
[IF]
As quatro partes do mundo, história de uma mundialização – GRUZINSKI (BMPEG-CH)
GRUZINSKI, Serge. As quatro partes do mundo, história de uma mundialização. Mourão, Cleonice Paes Barreto; Santiago, Consuelo Fortes. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo: Edusp, 2014. 576p. Resenha de: SÁ, Charles. Os quatro cantos do mundo: história da globalização ibérica. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.12 no.2, mai./ago. 2017.
Historiador francês, especialista no estudo das mentalidades, Serge Gruzinski já é conhecido há algum tempo em relação aos quadros historiográficos brasileiros. Suas obras abordam as múltiplas facetas da colonização espanhola na América, particularmente aquelas ligadas ao estudo da história do México. Ele desenvolve pesquisas que discutem a construção de um mundo novo pelos espanhóis e a intercessão de novos padrões culturais no mundo Ocidental a partir das conexões estabelecidas entre os mais diferentes povos dominados pelo Império Espanhol. Esse fenômeno, fruto do aparecimento de uma nova sociedade por meio da conquista espanhola da América e de outras regiões do globo, emergiu da junção entre pessoas de diferentes paragens do globo, unificadas pela imposição do Império castelhano durante a Idade Moderna.
Com livros publicados no Brasil pela Companhia das Letras, seu último trabalho, lançado em 2004, na França, ganhou tradução brasileira no ano de 2014 pelas editoras da Universidade Federal de Minas Gerais (Editora UFMG) e da Universidade de São Paulo (Edusp).
A obra “As quatro partes do mundo” apresenta discussão assaz interessante sobre a junção do planeta pela égide espanhola. Ao estudar, de modo particular, o mundo dominado por Felipe II até Felipe IV, dialoga com a colonização ibérica nos quatro cantos do globo. Do México, ponto fulcral dos estudos, para a África, do Brasil para a Ásia, de Goa para o Japão e daí para Lisboa e Madri, muitas são as junções que o autor se propõe a analisar. O livro está dividido em quatro partes: mundialização ibérica; cadeia dos mundos; as coisas do mundo; e a esfera de cristal. Possui gama generosa de ilustrações, mapas e fotografias de objetos dos séculos XVI e XVII.
Seu trabalho realça vozes que sempre ficam esquecidas nos estudos mais clássicos e tradicionais. Ao invés de líderes, generais, vice-reis, governadores, conquistadores, entre tantos outros ‘grandes homens’, vê-se, aqui, povos, pessoas subalternas, mestiços. Ao invés de focar em conceitos, como exploração, colonização, dominantes e dominados, ele aborda o período a partir da ideia de ‘mestiçagem’. Este conceito, segundo Gruzinski, é o elemento que ganha força para que se entenda e se explique o desenvolvimento do mundo ibérico no Novo Mundo e em outras partes do globo. Da união entre povos de culturas distintas, resultante da imposição das leis, da religião, dos modos de vestir, do trabalho e do viver inerentes ao mundo ibérico, surgiu uma sociedade não europeia e nem indígena: mestiça.
Esse conceito é assim definido: “As mestiçagens são, em grande parte, constitutivas da monarquia. Estão aí onipresentes. São fenômenos de ordem social, econômica, religiosa e, sobretudo, política, tanto senão mais que processos culturais” (p. 48). Na América colonial, não há mais um mundo ameríndio, tampouco ibérico, o que ecoa é um universo multiétnico e plural. Essa diversidade aponta para caminhos e fronteiras que serão parte constitutiva do mundo contemporâneo. A Modernidade e os questionamentos do século XXI sobre identidade e direitos dos povos podem olhar para o Império ibérico e perceber nele semelhanças com os debates que aconteciam no mundo dos Felipes. Nesse sentido, o diálogo hoje existente sobre o direito à identidade dos povos tem um de seus prelúdios nos primórdios da colonização ibérica em terras americanas. A necessidade de compreender o outro no período filipino foi feita por funcionários, clérigos e intelectuais, isso, porém, nem sempre significou tolerância ou respeito para com outras culturas.
Outro conceito interessante para aqueles que estudam a colonização ibérica é o de ‘mobilização’. Mais do que uma expansão, cuja ideia eurocêntrica tende a ver este povo como os mais destacados no processo de formação do Novo Mundo, a ideia defendida pelo autor para a colonização é a de uma mobilização em profundidade, a qual “provoca movimentos e entusiasmos imponderados que se precipitam, uns e outros, sobre todo o globo” (p. 53), fenômeno este que não pode ser controlado pelos seres humanos, nem mesmo pelos poderosos. Ele escapa das mãos daqueles que governam, bem como dos governados, da mistura desse processo dialético, que exclui e também agrega, tudo é mesclado e se espalha. Mesmo os micróbios são internacionalizados. Para o autor, “esse movimento não conhece limites” (p. 53).
A mundialização promovida pelo império ibérico disseminou valores, ideias, pensamentos, costumes, trabalho. Artesãos indígenas começaram a fazer uso de técnicas europeias; materiais feitos na América passaram a ser utilizados na África e na Ásia. Em pouco tempo, a habilidade dessas pessoas superava a dos europeus: roupas, alimentos, casas, pinturas, metais, temperos, tudo era assimilado e reproduzido. Mesclavam-se aos saberes ibéricos aqueles provenientes do mundo indígena, assim como valores vindos da África e da Ásia. Novos conhecimentos e produtos eram feitos. No entanto, quando pressentiam que estavam perdendo o saber para os mestiços, os europeus impunham, então, sua força: se não podiam dominar por meio do conhecimento, passavam a ter o controle da fabricação. Artesãos e trabalhadores eram cooptados pelos espanhóis para suas oficinas. O trabalho braçal e o fruto do saber mestiço foram dominados pelos castelhanos.
O mundo ibérico fez circular livros e saberes. O local e o global passaram a dialogar. Um indígena no Novo México falava das lutas e das disputas referentes ao trono espanhol. Um monge português apresentava sua visão sobre a Índia. Povos africanos eram explicados nas cortes europeias por viajantes vindos da América portuguesa, enquanto nas igrejas e em conventos da América meninos oriundos de aldeias ou assentamentos indígenas desenvolviam os saberes e os valores da religião transmitida da Europa.
Nesse cenário de povos e de culturas, as revoltas foram componentes intrínsecos ao sistema imperial. Membros da Igreja e governadores travavam embates pelo domínio dos novos espaços de conquista. Na Europa, a crise econômica da coroa espanhola no século XVII, consequência da guerra contra a França e a Holanda, fez com que as reformas propostas pelo ministro e cardeal Duque de Olivares encontrassem forte oposição na população mestiça no Novo Mundo. O aumento de impostos e a retirada de privilégios desse grupo, que não era composto nem por indígenas nem por espanhóis, fez com que a cidade do México entrasse em convulsão. Conexões envolvendo a mundialização de povos e economias tornaram-se parte do cotidiano da sociedade, a qual, por sua vez, não era harmônica ou subserviente. Desse modo, a contestação às leis e às ordens foi uma constante no mundo colonial ibérico.
Outro elemento que a mundialização erigida pelo Império ibérico estabeleceu foi a relativização do saber antigo. O mundo não mais se concebia como sendo plano ou com seres demoníacos em suas águas. Povos, bem como a fauna e a flora dos quatro continentes, são entendidos como pertencentes a uma mesma natureza. A difusão dos saberes e dos conhecimentos da Antiguidade foi o contraponto à sua relativização. Nas quatro partes do mundo, ouvia-se falar da Grécia e de Roma e, dessa maneira, a história europeia difundia-se entre povos não europeus, com as implicações que esse tipo de visão eurocêntrica trouxe para a compreensão da própria historicidade dos povos dominados pelos ibéricos. Da cidade do México a Goa, bebia-se dos valores da Antiguidade e dos padres da Igreja Católica. Uma sociedade paternalista, patriarcal e culturalmente judaico-cristã foi aí forjada, valores fundamentais para a cultura local foram realocados ou então dizimados, juntamente com os povos que o professavam.
Em um mundo que se globaliza cada vez mais, o pertencimento a um lugar continua sendo um item considerável. Ao se tornarem cidadãos do mundo, os ibéricos nem por isso deixavam de ser habitantes dessa península, pois o conhecimento por eles produzidos tinha em sua formação católica e europeia a base segundo a qual as relações e as novas concepções de mundo eram efetuadas. Os experts eram compostos por indivíduos europeus ou mestiços que pensavam esse novo mundo. Estes, por sua vez, eram oriundos da Igreja ou dos quadros administrativos do Império e dialogavam, por meio de seus livros e de viagens com esse novo universo que se abria para eles. Nesse contexto, emergiam novas elites: soldados, mulatos, comerciantes, fazendeiros, pessoas da pequena nobreza. Por meio do trabalho realizado em diversas partes do Império, efetivavam com suas ações e ideias o amálgama que concede unidade em meio à diversidade e ajudavam a compor as costuras que forjavam o império filipino.
As ideias e concepções vindas da Europa encontravam solo fértil no Novo Mundo, na África e na Ásia. Aristóteles e o tomismo da escolástica eram ensinados, debatidos e reproduzidos nos colégios e espaços acadêmicos do Império. Franciscanos, Jesuítas, Dominicanos, entre outras ordens religiosas, divulgavam e faziam com que se conhecessem as ideias advindas da Antiguidade grecoromana. Quadros, pinturas, poemas, tratados, esculturas e muitos outros objetos de arte reproduziam a concepção cristã e Ocidental de mundo.
Da mesma maneira que as artes e a fé se globalizavam, a língua também seguia o mesmo ritmo. Latim, português e castelhano tornaram-se o meio oficial de comunicação entre povos diversos. No entanto, estas línguas sofriam por um processo de hibridização: ao serem faladas por povos de outras regiões do globo, incorporavam elementos desses novos grupos. No Brasil, a Língua Geral, mescla da língua portuguesa com a língua tupi, foi o veículo pelo qual seus habitantes se comunicavam até a segunda metade do século XVIII.
Fé e linguagem uniram-se nas tentativas que jesuítas e demais ordens religiosas empreenderam para a propagação da Igreja Católica. Ao tentarem ver, nas crenças e nos valores dos povos que buscavam converter, elementos que possibilitassem exemplificar os ensinamentos de Cristo, houve, em muitos momentos, resultados inesperados. A partir do diálogo com crenças e cultos estrangeiros, alguns religiosos terminaram por adentrar em áreas que beiravam à heresia.
Em sua obra, Serge Gruzinski desenvolve a todo o momento uma escrita que direciona o leitor ao diálogo com outra época. Na tentativa de dominar as quatro partes do mundo, a monarquia católica da Espanha quase conseguiu seu intento. O tempo, esse monstro voraz, e as condições políticas e econômicas da Europa, bem como as resistências enfrentadas na África e na Ásia, contribuíram para que esse projeto não se concretizasse. Ainda assim, o contexto e as ideias da mundialização ibérica vicejam ainda hoje em nossa sociedade contemporânea, quer seja em seus filmes, obra de artes, romances, na linguagem e em atitudes que estão presentes em uma parte significativa do planeta.
A abordagem que se pretende na obra peca em um ponto: apesar de escrever sobre as diversas partes que compunham o Império espanhol, nota-se, ao longo de toda a obra, maior desenvolvimento de conceitos e de fatos circunscritos ao universo mexicano. Outras partes da América espanhola são menos abordadas do que a área do antigo império asteca. Nesse sentido, nota-se o olhar do especialista, já que Gruzinski tem como principal área de pesquisa o estudo da sociedade mexicana colonial.
Entender a globalização ibérica nos séculos XVI e XVII pode nos levar a refletir sobre a globalização capitalista em nossos dias. Ao adentrar em um mundo que se foi, percebe-se sua permanência. Discussões que foram aventadas na Espanha dos Felipes seguem ainda presentes nas sociedades da pós-modernidade. Dessa forma, a leitura da obra pode revelar formas de diálogos que devem ser buscadas na sociedade atual, bem como mecanismos de exploração que, ao persistirem, devem ser combatidos e extirpados. Boa leitura!
Charles Sá – Universidade do Estado da Bahia. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
O nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e formação de alteridades – OLIVEIRA FILHO (BMPEG-CH)
OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. O nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e formação de alteridades. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016. 384p. Resenha de: ROSA, Marlise. O nascimento do Brasil: releituras a partir da antropologia histórica. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, vol.12, n.2, mai./ago. 2017.
O livro “O nascimento do Brasil e outros ensaios: ‘pacificação’, regime tutelar e formação de alteridades”, organizado pelo antropólogo João Pacheco de Oliveira Filho, reúne artigos de sua autoria, escritos em diferentes momentos de sua carreira. Professor-titular de Etnologia no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN-UFRJ), com mais de quatro décadas de experiência em pesquisas sobre povos indígenas da Amazônia e do Nordeste, nos últimos anos vem desenvolvendo estudos relacionados à antropologia do colonialismo e à antropologia histórica, concentrando-se, principalmente, no processo de formação nacional, na historiografia, em museus e em coleções etnográficas. Nesta obra, resultado destas reflexões, o autor nos apresenta, além de um denso prefácio, outros nove textos, nos quais busca “[…] reexaminar criticamente as interpretações atribuídas à presença indígena, explicitando as múltiplas formas de agência e participação que as populações autóctones tiveram na construção da nação” (p. 7). Por meio deste exercício, João Pacheco de Oliveira Filho chama a atenção para a inexistência de uma história indígena singular e contínua, demonstrando haver uma multiplicidade de histórias, com experiências e temporalidades diversas.
A reflexão introdutória, de certo modo, consiste em um capítulo à parte, no qual o autor não somente problematiza as formas de incorporação dos índios à história e a participação deles à formação do Brasil, mas também critica o próprio fazer antropológico, que negligenciou os modos pelos quais, mesmo em um contexto de dominação, os indígenas resistiram, organizaram-se e continuaram a atualizar sua cultura. Afirma, portanto, que houve uma anistia aos aspectos violentos da colonização por parte de intelectuais não indígenas, ao fazerem do relativismo a ferramenta única de seu horizonte ideológico e inviabilizarem a elaboração de etnografias sobre a tutela. Fala, ainda, sobre os múltiplos regimes de memória e a necessidade de entender a presença indígena em cada um dos contextos históricos em que tais representações foram formuladas. Nestes regimes, os indígenas são relatados como portadores de características variáveis, que podem, inclusive, ser antagônicas em contextos diferentes e sucessivos, pois cada fala corresponde a um regime específico. Por isso, o pesquisador não pode se fixar em apenas um deles, devendo também se beneficiar de pesquisas antropológicas e históricas contemporâneas.
No primeiro capítulo – “O nascimento do Brasil: revisão de um paradigma etnográfico” –, como o título sugere, o autor propõe uma revisão do paradigma historiográfico utilizado, a fim de compreender a presença indígena no Brasil atual, que, segundo ele, é baseado em categorias coloniais e em imagens reificadoras, sem utilidade à pesquisa e ao aumento do protagonismo indígena. Tais narrativas apresentam três grandes equívocos: 1) independentemente do período histórico, de região ou de etnia, os discursos sobre os indígenas passam pela polaridade proteção versus extermínio, legitimando, assim, a tutela; 2) a paz, enquanto objetivo da ação colonial, corresponde a um estado jurídico-administrativo que reflete apenas o ponto de vista dos colonizadores, negligenciando os modos como os indígenas recepcionam e se utilizam destas normas; 3) há o estabelecimento de uma clivagem radical entre índios e não índios, inspirado no modelo religioso de pagão versus cristão, que, diferentemente da questão do negro, não admite misturas, sobreposições ou alternâncias. Estes discursos, portanto, legitimam e naturalizam a ação tutelar, inviabilizando formas de resistência cultural e omitindo situações de incorporação de indígenas a famílias brancas.
Na sequência, com o artigo “As mortes do indígena no Império do Brasil: indianismo, a formação da nacionalidade e seus esquecimentos”, Oliveira Filho constrói uma reflexão sobre narrativas e imagens de indígenas produzidas no século XIX, sobretudo durante o Segundo Reinado, momento no qual os ‘índios bravos’, por representarem empecilho para a expansão colonial, tornaram-se o centro do regime discursivo. As manifestações artísticas e expressões populares analisadas pelo autor indicam um conjunto de seis eixos geradores de sentido: 1) o nativismo; 2) a nobreza pretérita dos indígenas; 3) a morte gloriosa dos guerreiros; 4) o índio como elemento exterior à fundação do país; 5) a morte como o destino trágico dos indígenas; 6) a morte ‘quase vegetal’ do indígena. Em todas estas narrativas e imagens, a morte como elemento central tem efeitos sociais que implicam o esquecimento da presença indígena na construção da nacionalidade, relegando ao índio um lugar na história anterior ao Brasil.
No capítulo três – “A conquista do Vale Amazônico: fronteira, mercado internacional e modalidade de trabalho compulsório” –, contrapondo-se ao que denomina como “história geral” da borracha na Amazônia, Oliveira Filho propõe que o seringal seja pensado como uma fronteira, “[…] isto é, como um mecanismo de ocupação de novas terras e de sua incorporação, em condição subordinada, dentro de uma economia de mercado” (p. 118). O pesquisador demonstra que, devido às condições favoráveis do mercado internacional da borracha em meados do século passado, o ‘seringal de caboclo’ transformou-se no ‘seringal do apogeu’, instaurando uma nova modalidade de trabalho compulsório e de usos distintos da terra e dos recursos naturais. Diante disso, defende que a história da Amazônia, ao ser escrita a partir da fronteira, contemplaria não somente a heterogeneidade deste processo histórico, mas também a pluralidade de sentidos assumidos pelos agentes que lhe foram contemporâneos.
A ideia de fronteira continua sendo seu objeto de análise no capítulo seguinte – “Narrativas e imagens sobre povos indígenas e Amazônia: uma perspectiva processual da fronteira” –, voltado para a análise das representações sobre as populações indígenas amazônicas e sobre a expansão da fronteira nesta região. Para o autor, a singularidade histórica da Amazônia só pode ser entendida quando são analisadas as diferentes formas de fronteiras que ocorreram no Brasil, com características e temporalidades distintas. Sua reflexão é iniciada com a problematização dos dois modelos de colonização vigentes na América portuguesa – a colônia do Brasil e a do Maranhão e Grão-Pará –, abordando, na sequência, as representações sobre o primeiro encontro nas “costas do litoral atlântico e no interior do vale amazônico” até chegar ao cerne do artigo, apresentando “[…] diferentes temporalidades, narrativas e regimes que singularizam essa trajetória histórica das populações autóctones da Amazônia até o momento atual” (p. 185).
No capítulo cinco, Oliveira Filho muda o foco para os povos indígenas do Nordeste, apresentando o artigo “Uma etnologia dos ‘índios misturados’? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais”, trabalho muito conhecido, escrito em 1997 para o concurso ao cargo de professor-titular do MN-UFRJ. Nele, o autor problematiza a ‘emergência’ de novas identidades étnicas no Nordeste, chamando a atenção para o fato de que, embora este fenômeno seja recente, a população se considera originária – são coletividades indígenas convertidas ao cristianismo e que, hoje, vivem como camponeses, parceiros e assalariados. Sua reflexão perpassa questões referentes à formação do objeto de investigação – os ‘índios do Nordeste’ –, discute conceitos-chave para a análise da etnicidade e, por fim, debate a respeito do americanismo, refletindo sobre as perspectivas para o estudo de populações tidas como culturalmente ‘misturadas’.
O capítulo seguinte – “Mensurando alteridades, estabelecendo direitos: práticas e saberes governamentais na criação de fronteiras étnicas” – consiste na análise, a partir de três aspectos específicos, de materiais quantitativos produzidos sobre os povos indígenas. O primeiro é o aspecto demográfico, apresentado por meio de censos nacionais e outros levantamentos; o segundo é o aspecto econômico, representado por meio de dados sobre terras, recursos naturais e conflitos fundiários; e o terceiro é representado pelas divergências em torno da compreensão da presença indígena nos dias atuais. Conforme o autor, o ato de contar sujeitos e processos sociais traz, implícito, os procedimentos de comparação e de normatização; o primeiro como parte do processo cognitivo e o outro como parte do ordenamento político. O ato de contar, portanto, quando realizado por um sujeito que detém algum tipo de poder ou autoridade sobre aqueles a quem observa, arbitra sobre direitos e, no que toca aos povos indígenas, “atropela as alteridades e engendra os subalternos” (p. 230).
Tais dados, contudo, “[…] sugerem um novo perfil demográfico, em que as unidades societárias e a situação de contato dos índios brasileiros já não mais correspondem às antigas interpretações sobre frágeis microssociedades isoladas na floresta amazônica” (p. 265). Por isso, no capítulo seguinte – “Regime tutelar e globalização: um exercício de sociogênese dos atuais movimentos indígenas no Brasil” –, Oliveira Filho analisa o processo de formação do movimento indígena brasileiro, identificando algumas estratégias, alianças e projetos que compõem o universo político contemporâneo. Sinteticamente, o autor agrupa as estratégias políticas dos indígenas a partir de três rótulos: índios funcionários, lideranças e organizações indígenas. Estas estratégias têm em comum a luta por uma cidadania indígena, construída por meio do território étnico; porém, divergem no que toca ao fortalecimento da sociedade civil e à defesa de interesses corporativos.
No oitavo capítulo – “Sem a tutela, uma nova moldura de nação” –, a reflexão tem como tema os dispositivos jurídicos que tratam das populações indígenas. O autor fala sobre os embates de forças durante o processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, destacando a importância atribuída aos índios, bem como o protagonismo indígena, com presença massiva nas audiências públicas, em subcomissões e no debate diário com os parlamentares. Destaca, ainda, a originalidade da nova Constituição, quando comparada a outros marcos jurídicos voltados à regularização da presença indígena na história do Brasil. Em diálogo com a ciência política e a história, o artigo demonstra que a questão indígena impacta não somente os próprios índios, estendendo-se à estruturação do Estado e ao processo de construção de uma identidade nacional.
Para concluir, Oliveira Filho apresenta o texto “Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios”, cuja proposta é refletir sobre alguns usos, presentes e passados, da categoria ‘pacificação’. A sua intenção é analisar como esta categoria, por cinco séculos empregada apenas para a população autóctone, foi divulgada e celebrada como intervenção do poder público nas favelas cariocas. Em sua concepção, há uma clara analogia entre as ‘pacificações’ contemporâneas e as coloniais, pois ambas fazem referência à intervenção dos poderes públicos em áreas que antes escapavam ao seu domínio, recuperando “[…] a retórica da missão civilizatória da elite dirigente e dos agentes do Estado” (p. 338). Assim como os índios bravos da época colonial, os moradores das favelas são pensados como uma alteridade totalizadora, situada nos limites da criminalidade, por isso não são tratados como cidadãos comuns, sendo sujeitados a uma tutela de natureza exclusivamente militar e repressiva, implementada por meio das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP).
A intenção do autor, nesta obra, foi abordar os fenômenos sociais a partir de uma postura etnográfica e dialógica, conjugando o olhar antropológico e a crítica historiográfica. Esse movimento rumo à chamada ‘antropologia histórica’, como ele mesmo destaca, reúne um conjunto de antropólogos, de diferentes países, que convergem no desconforto com relação ao antigo olhar imperial da disciplina e, por isso, propõem novos objetos de investigação e novas abordagens.
A inserção de Oliveira Filho nessa seara não se dá com o intuito de contrapor a história nacional, mas sim de – ao contemplar situações históricas e eventos em que agentes com interesses antagônicos interagem – demonstrar que, conjuntamente, esses sujeitos constroem instituições, significados e estratégias. Em outras palavras, é perceber que os sujeitos imersos nesse encontro colonial estão, apesar das assimetrias do contato, igualmente envolvidos no processo de intercâmbio cultural. Ele chama a atenção, portanto, para a necessidade de revermos, de forma crítica, os modos de construção de uma história nacional e as etnificações produzidas pelo saber colonial.
Por tudo isso, os diferentes eventos, personagens e momentos da história dos indígenas no Brasil analisados nesta obra, bem como as particularidades dos olhares empregados, fazem de “O nascimento do Brasil e outros ensaios” uma leitura fundamental, não somente para os estudiosos do tema, mas também para aqueles que se interessam por uma outra história de nosso país, que reconheça e problematize a dissonância entre os fatos concretos e as grandes interpretações.
Marlise Rosa – Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
O nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e formação de alteridades – OLIVEIRA FILHO (BMPEG-CH)
OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. O nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e formação de alteridades. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016. 384p. il. color, ISBN: 978-85-7740-206-9.
O livro “O nascimento do Brasil e outros ensaios: ‘pacificação’, regime tutelar e formação de alteridades”, organizado pelo antropólogo João Pacheco de Oliveira Filho, reúne artigos de sua autoria, escritos em diferentes momentos de sua carreira. Professor-titular de Etnologia no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN-UFRJ), com mais de quatro décadas de experiência em pesquisas sobre povos indígenas da Amazônia e do Nordeste, nos últimos anos vem desenvolvendo estudos relacionados à antropologia do colonialismo e à antropologia histórica, concentrando-se, principalmente, no processo de formação nacional, na historiografia, em museus e em coleções etnográficas. Nesta obra, resultado destas reflexões, o autor nos apresenta, além de um denso prefácio, outros nove textos, nos quais busca “[…] reexaminar criticamente as interpretações atribuídas à presença indígena, explicitando as múltiplas formas de agência e participação que as populações autóctones tiveram na construção da nação” (p. 7). Por meio deste exercício, João Pacheco de Oliveira Filho chama a atenção para a inexistência de uma história indígena singular e contínua, demonstrando haver uma multiplicidade de histórias, com experiências e temporalidades diversas.
A reflexão introdutória, de certo modo, consiste em um capítulo à parte, no qual o autor não somente problematiza as formas de incorporação dos índios à história e a participação deles à formação do Brasil, mas também critica o próprio fazer antropológico, que negligenciou os modos pelos quais, mesmo em um contexto de dominação, os indígenas resistiram, organizaram-se e continuaram a atualizar sua cultura. Afirma, portanto, que houve uma anistia aos aspectos violentos da colonização por parte de intelectuais não indígenas, ao fazerem do relativismo a ferramenta única de seu horizonte ideológico e inviabilizarem a elaboração de etnografias sobre a tutela. Fala, ainda, sobre os múltiplos regimes de memória e a necessidade de entender a presença indígena em cada um dos contextos históricos em que tais representações foram formuladas. Nestes regimes, os indígenas são relatados como portadores de características variáveis, que podem, inclusive, ser antagônicas em contextos diferentes e sucessivos, pois cada fala corresponde a um regime específico. Por isso, o pesquisador não pode se fixar em apenas um deles, devendo também se beneficiar de pesquisas antropológicas e históricas contemporâneas.
No primeiro capítulo – “O nascimento do Brasil: revisão de um paradigma etnográfico” –, como o título sugere, o autor propõe uma revisão do paradigma historiográfico utilizado, a fim de compreender a presença indígena no Brasil atual, que, segundo ele, é baseado em categorias coloniais e em imagens reificadoras, sem utilidade à pesquisa e ao aumento do protagonismo indígena. Tais narrativas apresentam três grandes equívocos: 1) independentemente do período histórico, de região ou de etnia, os discursos sobre os indígenas passam pela polaridade proteção versus extermínio, legitimando, assim, a tutela; 2) a paz, enquanto objetivo da ação colonial, corresponde a um estado jurídico-administrativo que reflete apenas o ponto de vista dos colonizadores, negligenciando os modos como os indígenas recepcionam e se utilizam destas normas; 3) há o estabelecimento de uma clivagem radical entre índios e não índios, inspirado no modelo religioso de pagão versus cristão, que, diferentemente da questão do negro, não admite misturas, sobreposições ou alternâncias. Estes discursos, portanto, legitimam e naturalizam a ação tutelar, inviabilizando formas de resistência cultural e omitindo situações de incorporação de indígenas a famílias brancas.
Na sequência, com o artigo “As mortes do indígena no Império do Brasil: indianismo, a formação da nacionalidade e seus esquecimentos”, Oliveira Filho constrói uma reflexão sobre narrativas e imagens de indígenas produzidas no século XIX, sobretudo durante o Segundo Reinado, momento no qual os ‘índios bravos’, por representarem empecilho para a expansão colonial, tornaram-se o centro do regime discursivo. As manifestações artísticas e expressões populares analisadas pelo autor indicam um conjunto de seis eixos geradores de sentido: 1) o nativismo; 2) a nobreza pretérita dos indígenas; 3) a morte gloriosa dos guerreiros; 4) o índio como elemento exterior à fundação do país; 5) a morte como o destino trágico dos indígenas; 6) a morte ‘quase vegetal’ do indígena. Em todas estas narrativas e imagens, a morte como elemento central tem efeitos sociais que implicam o esquecimento da presença indígena na construção da nacionalidade, relegando ao índio um lugar na história anterior ao Brasil.
No capítulo três – “A conquista do Vale Amazônico: fronteira, mercado internacional e modalidade de trabalho compulsório” –, contrapondo-se ao que denomina como “história geral” da borracha na Amazônia, Oliveira Filho propõe que o seringal seja pensado como uma fronteira, “[…] isto é, como um mecanismo de ocupação de novas terras e de sua incorporação, em condição subordinada, dentro de uma economia de mercado” (p. 118). O pesquisador demonstra que, devido às condições favoráveis do mercado internacional da borracha em meados do século passado, o ‘seringal de caboclo’ transformou-se no ‘seringal do apogeu’, instaurando uma nova modalidade de trabalho compulsório e de usos distintos da terra e dos recursos naturais. Diante disso, defende que a história da Amazônia, ao ser escrita a partir da fronteira, contemplaria não somente a heterogeneidade deste processo histórico, mas também a pluralidade de sentidos assumidos pelos agentes que lhe foram contemporâneos.
A ideia de fronteira continua sendo seu objeto de análise no capítulo seguinte – “Narrativas e imagens sobre povos indígenas e Amazônia: uma perspectiva processual da fronteira” –, voltado para a análise das representações sobre as populações indígenas amazônicas e sobre a expansão da fronteira nesta região. Para o autor, a singularidade histórica da Amazônia só pode ser entendida quando são analisadas as diferentes formas de fronteiras que ocorreram no Brasil, com características e temporalidades distintas. Sua reflexão é iniciada com a problematização dos dois modelos de colonização vigentes na América portuguesa – a colônia do Brasil e a do Maranhão e Grão-Pará –, abordando, na sequência, as representações sobre o primeiro encontro nas “costas do litoral atlântico e no interior do vale amazônico” até chegar ao cerne do artigo, apresentando “[…] diferentes temporalidades, narrativas e regimes que singularizam essa trajetória histórica das populações autóctones da Amazônia até o momento atual” (p. 185).
No capítulo cinco, Oliveira Filho muda o foco para os povos indígenas do Nordeste, apresentando o artigo “Uma etnologia dos ‘índios misturados’? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais”, trabalho muito conhecido, escrito em 1997 para o concurso ao cargo de professor-titular do MN-UFRJ. Nele, o autor problematiza a ‘emergência’ de novas identidades étnicas no Nordeste, chamando a atenção para o fato de que, embora este fenômeno seja recente, a população se considera originária – são coletividades indígenas convertidas ao cristianismo e que, hoje, vivem como camponeses, parceiros e assalariados. Sua reflexão perpassa questões referentes à formação do objeto de investigação – os ‘índios do Nordeste’ –, discute conceitos-chave para a análise da etnicidade e, por fim, debate a respeito do americanismo, refletindo sobre as perspectivas para o estudo de populações tidas como culturalmente ‘misturadas’.
O capítulo seguinte – “Mensurando alteridades, estabelecendo direitos: práticas e saberes governamentais na criação de fronteiras étnicas” – consiste na análise, a partir de três aspectos específicos, de materiais quantitativos produzidos sobre os povos indígenas. O primeiro é o aspecto demográfico, apresentado por meio de censos nacionais e outros levantamentos; o segundo é o aspecto econômico, representado por meio de dados sobre terras, recursos naturais e conflitos fundiários; e o terceiro é representado pelas divergências em torno da compreensão da presença indígena nos dias atuais. Conforme o autor, o ato de contar sujeitos e processos sociais traz, implícito, os procedimentos de comparação e de normatização; o primeiro como parte do processo cognitivo e o outro como parte do ordenamento político. O ato de contar, portanto, quando realizado por um sujeito que detém algum tipo de poder ou autoridade sobre aqueles a quem observa, arbitra sobre direitos e, no que toca aos povos indígenas, “atropela as alteridades e engendra os subalternos” (p. 230).
Tais dados, contudo, “[…] sugerem um novo perfil demográfico, em que as unidades societárias e a situação de contato dos índios brasileiros já não mais correspondem às antigas interpretações sobre frágeis microssociedades isoladas na floresta amazônica” (p. 265). Por isso, no capítulo seguinte – “Regime tutelar e globalização: um exercício de sociogênese dos atuais movimentos indígenas no Brasil” –, Oliveira Filho analisa o processo de formação do movimento indígena brasileiro, identificando algumas estratégias, alianças e projetos que compõem o universo político contemporâneo. Sinteticamente, o autor agrupa as estratégias políticas dos indígenas a partir de três rótulos: índios funcionários, lideranças e organizações indígenas. Estas estratégias têm em comum a luta por uma cidadania indígena, construída por meio do território étnico; porém, divergem no que toca ao fortalecimento da sociedade civil e à defesa de interesses corporativos.
No oitavo capítulo – “Sem a tutela, uma nova moldura de nação” –, a reflexão tem como tema os dispositivos jurídicos que tratam das populações indígenas. O autor fala sobre os embates de forças durante o processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, destacando a importância atribuída aos índios, bem como o protagonismo indígena, com presença massiva nas audiências públicas, em subcomissões e no debate diário com os parlamentares. Destaca, ainda, a originalidade da nova Constituição, quando comparada a outros marcos jurídicos voltados à regularização da presença indígena na história do Brasil. Em diálogo com a ciência política e a história, o artigo demonstra que a questão indígena impacta não somente os próprios índios, estendendo-se à estruturação do Estado e ao processo de construção de uma identidade nacional.
Para concluir, Oliveira Filho apresenta o texto “Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios”, cuja proposta é refletir sobre alguns usos, presentes e passados, da categoria ‘pacificação’. A sua intenção é analisar como esta categoria, por cinco séculos empregada apenas para a população autóctone, foi divulgada e celebrada como intervenção do poder público nas favelas cariocas. Em sua concepção, há uma clara analogia entre as ‘pacificações’ contemporâneas e as coloniais, pois ambas fazem referência à intervenção dos poderes públicos em áreas que antes escapavam ao seu domínio, recuperando “[…] a retórica da missão civilizatória da elite dirigente e dos agentes do Estado” (p. 338). Assim como os índios bravos da época colonial, os moradores das favelas são pensados como uma alteridade totalizadora, situada nos limites da criminalidade, por isso não são tratados como cidadãos comuns, sendo sujeitados a uma tutela de natureza exclusivamente militar e repressiva, implementada por meio das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP).
A intenção do autor, nesta obra, foi abordar os fenômenos sociais a partir de uma postura etnográfica e dialógica, conjugando o olhar antropológico e a crítica historiográfica. Esse movimento rumo à chamada ‘antropologia histórica’, como ele mesmo destaca, reúne um conjunto de antropólogos, de diferentes países, que convergem no desconforto com relação ao antigo olhar imperial da disciplina e, por isso, propõem novos objetos de investigação e novas abordagens.
A inserção de Oliveira Filho nessa seara não se dá com o intuito de contrapor a história nacional, mas sim de – ao contemplar situações históricas e eventos em que agentes com interesses antagônicos interagem – demonstrar que, conjuntamente, esses sujeitos constroem instituições, significados e estratégias. Em outras palavras, é perceber que os sujeitos imersos nesse encontro colonial estão, apesar das assimetrias do contato, igualmente envolvidos no processo de intercâmbio cultural. Ele chama a atenção, portanto, para a necessidade de revermos, de forma crítica, os modos de construção de uma história nacional e as etnificações produzidas pelo saber colonial.
Por tudo isso, os diferentes eventos, personagens e momentos da história dos indígenas no Brasil analisados nesta obra, bem como as particularidades dos olhares empregados, fazem de “O nascimento do Brasil e outros ensaios” uma leitura fundamental, não somente para os estudiosos do tema, mas também para aqueles que se interessam por uma outra história de nosso país, que reconheça e problematize a dissonância entre os fatos concretos e as grandes interpretações.
Marlise Rosa – Universidade Federal do Rio de Janeiro([email protected])
Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. Hum. vol.12 no.2 Belém May/Aug. 2017.
As quatro partes do mundo: história de uma mundialização – GRUZINSKI (BMPEG-CH)
GRUZINSKI, Serge. As quatro partes do mundo: história de uma mundialização. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo: Edusp, 2014. 576p. Tradução de Cleonice Paes Barreto Mourão e Consuelo Fortes Santiago. Resenha de: SÁ, Charles. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi – Ciências Humanas. vol.12 no.2 Belém May/Aug. 2017.
Historiador francês, especialista no estudo das mentalidades, Serge Gruzinski já é conhecido há algum tempo em relação aos quadros historiográficos brasileiros. Suas obras abordam as múltiplas facetas da colonização espanhola na América, particularmente aquelas ligadas ao estudo da história do México. Ele desenvolve pesquisas que discutem a construção de um mundo novo pelos espanhóis e a intercessão de novos padrões culturais no mundo Ocidental a partir das conexões estabelecidas entre os mais diferentes povos dominados pelo Império Espanhol. Esse fenômeno, fruto do aparecimento de uma nova sociedade por meio da conquista espanhola da América e de outras regiões do globo, emergiu da junção entre pessoas de diferentes paragens do globo, unificadas pela imposição do Império castelhano durante a Idade Moderna.
Com livros publicados no Brasil pela Companhia das Letras, seu último trabalho, lançado em 2004, na França, ganhou tradução brasileira no ano de 2014 pelas editoras da Universidade Federal de Minas Gerais (Editora UFMG) e da Universidade de São Paulo (Edusp).
A obra “As quatro partes do mundo” apresenta discussão assaz interessante sobre a junção do planeta pela égide espanhola. Ao estudar, de modo particular, o mundo dominado por Felipe II até Felipe IV, dialoga com a colonização ibérica nos quatro cantos do globo. Do México, ponto fulcral dos estudos, para a África, do Brasil para a Ásia, de Goa para o Japão e daí para Lisboa e Madri, muitas são as junções que o autor se propõe a analisar. O livro está dividido em quatro partes: mundialização ibérica; cadeia dos mundos; as coisas do mundo; e a esfera de cristal. Possui gama generosa de ilustrações, mapas e fotografias de objetos dos séculos XVI e XVII.
Seu trabalho realça vozes que sempre ficam esquecidas nos estudos mais clássicos e tradicionais. Ao invés de líderes, generais, vice-reis, governadores, conquistadores, entre tantos outros ‘grandes homens’, vê-se, aqui, povos, pessoas subalternas, mestiços. Ao invés de focar em conceitos, como exploração, colonização, dominantes e dominados, ele aborda o período a partir da ideia de ‘mestiçagem’. Este conceito, segundo Gruzinski, é o elemento que ganha força para que se entenda e se explique o desenvolvimento do mundo ibérico no Novo Mundo e em outras partes do globo. Da união entre povos de culturas distintas, resultante da imposição das leis, da religião, dos modos de vestir, do trabalho e do viver inerentes ao mundo ibérico, surgiu uma sociedade não europeia e nem indígena: mestiça.
Esse conceito é assim definido: “As mestiçagens são, em grande parte, constitutivas da monarquia. Estão aí onipresentes. São fenômenos de ordem social, econômica, religiosa e, sobretudo, política, tanto senão mais que processos culturais” (p. 48). Na América colonial, não há mais um mundo ameríndio, tampouco ibérico, o que ecoa é um universo multiétnico e plural. Essa diversidade aponta para caminhos e fronteiras que serão parte constitutiva do mundo contemporâneo. A Modernidade e os questionamentos do século XXI sobre identidade e direitos dos povos podem olhar para o Império ibérico e perceber nele semelhanças com os debates que aconteciam no mundo dos Felipes. Nesse sentido, o diálogo hoje existente sobre o direito à identidade dos povos tem um de seus prelúdios nos primórdios da colonização ibérica em terras americanas. A necessidade de compreender o outro no período filipino foi feita por funcionários, clérigos e intelectuais, isso, porém, nem sempre significou tolerância ou respeito para com outras culturas.
Outro conceito interessante para aqueles que estudam a colonização ibérica é o de ‘mobilização’. Mais do que uma expansão, cuja ideia eurocêntrica tende a ver este povo como os mais destacados no processo de formação do Novo Mundo, a ideia defendida pelo autor para a colonização é a de uma mobilização em profundidade, a qual “provoca movimentos e entusiasmos imponderados que se precipitam, uns e outros, sobre todo o globo” (p. 53), fenômeno este que não pode ser controlado pelos seres humanos, nem mesmo pelos poderosos. Ele escapa das mãos daqueles que governam, bem como dos governados, da mistura desse processo dialético, que exclui e também agrega, tudo é mesclado e se espalha. Mesmo os micróbios são internacionalizados. Para o autor, “esse movimento não conhece limites” (p. 53).
A mundialização promovida pelo império ibérico disseminou valores, ideias, pensamentos, costumes, trabalho. Artesãos indígenas começaram a fazer uso de técnicas europeias; materiais feitos na América passaram a ser utilizados na África e na Ásia. Em pouco tempo, a habilidade dessas pessoas superava a dos europeus: roupas, alimentos, casas, pinturas, metais, temperos, tudo era assimilado e reproduzido. Mesclavam-se aos saberes ibéricos aqueles provenientes do mundo indígena, assim como valores vindos da África e da Ásia. Novos conhecimentos e produtos eram feitos. No entanto, quando pressentiam que estavam perdendo o saber para os mestiços, os europeus impunham, então, sua força: se não podiam dominar por meio do conhecimento, passavam a ter o controle da fabricação. Artesãos e trabalhadores eram cooptados pelos espanhóis para suas oficinas. O trabalho braçal e o fruto do saber mestiço foram dominados pelos castelhanos.
O mundo ibérico fez circular livros e saberes. O local e o global passaram a dialogar. Um indígena no Novo México falava das lutas e das disputas referentes ao trono espanhol. Um monge português apresentava sua visão sobre a Índia. Povos africanos eram explicados nas cortes europeias por viajantes vindos da América portuguesa, enquanto nas igrejas e em conventos da América meninos oriundos de aldeias ou assentamentos indígenas desenvolviam os saberes e os valores da religião transmitida da Europa.
Nesse cenário de povos e de culturas, as revoltas foram componentes intrínsecos ao sistema imperial. Membros da Igreja e governadores travavam embates pelo domínio dos novos espaços de conquista. Na Europa, a crise econômica da coroa espanhola no século XVII, consequência da guerra contra a França e a Holanda, fez com que as reformas propostas pelo ministro e cardeal Duque de Olivares encontrassem forte oposição na população mestiça no Novo Mundo. O aumento de impostos e a retirada de privilégios desse grupo, que não era composto nem por indígenas nem por espanhóis, fez com que a cidade do México entrasse em convulsão. Conexões envolvendo a mundialização de povos e economias tornaram-se parte do cotidiano da sociedade, a qual, por sua vez, não era harmônica ou subserviente. Desse modo, a contestação às leis e às ordens foi uma constante no mundo colonial ibérico.
Outro elemento que a mundialização erigida pelo Império ibérico estabeleceu foi a relativização do saber antigo. O mundo não mais se concebia como sendo plano ou com seres demoníacos em suas águas. Povos, bem como a fauna e a flora dos quatro continentes, são entendidos como pertencentes a uma mesma natureza. A difusão dos saberes e dos conhecimentos da Antiguidade foi o contraponto à sua relativização. Nas quatro partes do mundo, ouvia-se falar da Grécia e de Roma e, dessa maneira, a história europeia difundia-se entre povos não europeus, com as implicações que esse tipo de visão eurocêntrica trouxe para a compreensão da própria historicidade dos povos dominados pelos ibéricos. Da cidade do México a Goa, bebia-se dos valores da Antiguidade e dos padres da Igreja Católica. Uma sociedade paternalista, patriarcal e culturalmente judaico-cristã foi aí forjada, valores fundamentais para a cultura local foram realocados ou então dizimados, juntamente com os povos que o professavam.
Em um mundo que se globaliza cada vez mais, o pertencimento a um lugar continua sendo um item considerável. Ao se tornarem cidadãos do mundo, os ibéricos nem por isso deixavam de ser habitantes dessa península, pois o conhecimento por eles produzidos tinha em sua formação católica e europeia a base segundo a qual as relações e as novas concepções de mundo eram efetuadas. Os experts eram compostos por indivíduos europeus ou mestiços que pensavam esse novo mundo. Estes, por sua vez, eram oriundos da Igreja ou dos quadros administrativos do Império e dialogavam, por meio de seus livros e de viagens com esse novo universo que se abria para eles. Nesse contexto, emergiam novas elites: soldados, mulatos, comerciantes, fazendeiros, pessoas da pequena nobreza. Por meio do trabalho realizado em diversas partes do Império, efetivavam com suas ações e ideias o amálgama que concede unidade em meio à diversidade e ajudavam a compor as costuras que forjavam o império filipino.
As ideias e concepções vindas da Europa encontravam solo fértil no Novo Mundo, na África e na Ásia. Aristóteles e o tomismo da escolástica eram ensinados, debatidos e reproduzidos nos colégios e espaços acadêmicos do Império. Franciscanos, Jesuítas, Dominicanos, entre outras ordens religiosas, divulgavam e faziam com que se conhecessem as ideias advindas da Antiguidade grecoromana. Quadros, pinturas, poemas, tratados, esculturas e muitos outros objetos de arte reproduziam a concepção cristã e Ocidental de mundo.
Da mesma maneira que as artes e a fé se globalizavam, a língua também seguia o mesmo ritmo. Latim, português e castelhano tornaram-se o meio oficial de comunicação entre povos diversos. No entanto, estas línguas sofriam por um processo de hibridização: ao serem faladas por povos de outras regiões do globo, incorporavam elementos desses novos grupos. No Brasil, a Língua Geral, mescla da língua portuguesa com a língua tupi, foi o veículo pelo qual seus habitantes se comunicavam até a segunda metade do século XVIII.
Fé e linguagem uniram-se nas tentativas que jesuítas e demais ordens religiosas empreenderam para a propagação da Igreja Católica. Ao tentarem ver, nas crenças e nos valores dos povos que buscavam converter, elementos que possibilitassem exemplificar os ensinamentos de Cristo, houve, em muitos momentos, resultados inesperados. A partir do diálogo com crenças e cultos estrangeiros, alguns religiosos terminaram por adentrar em áreas que beiravam à heresia.
Em sua obra, Serge Gruzinski desenvolve a todo o momento uma escrita que direciona o leitor ao diálogo com outra época. Na tentativa de dominar as quatro partes do mundo, a monarquia católica da Espanha quase conseguiu seu intento. O tempo, esse monstro voraz, e as condições políticas e econômicas da Europa, bem como as resistências enfrentadas na África e na Ásia, contribuíram para que esse projeto não se concretizasse. Ainda assim, o contexto e as ideias da mundialização ibérica vicejam ainda hoje em nossa sociedade contemporânea, quer seja em seus filmes, obra de artes, romances, na linguagem e em atitudes que estão presentes em uma parte significativa do planeta.
A abordagem que se pretende na obra peca em um ponto: apesar de escrever sobre as diversas partes que compunham o Império espanhol, nota-se, ao longo de toda a obra, maior desenvolvimento de conceitos e de fatos circunscritos ao universo mexicano. Outras partes da América espanhola são menos abordadas do que a área do antigo império asteca. Nesse sentido, nota-se o olhar do especialista, já que Gruzinski tem como principal área de pesquisa o estudo da sociedade mexicana colonial.
Entender a globalização ibérica nos séculos XVI e XVII pode nos levar a refletir sobre a globalização capitalista em nossos dias. Ao adentrar em um mundo que se foi, percebe-se sua permanência. Discussões que foram aventadas na Espanha dos Felipes seguem ainda presentes nas sociedades da pós-modernidade. Dessa forma, a leitura da obra pode revelar formas de diálogos que devem ser buscadas na sociedade atual, bem como mecanismos de exploração que, ao persistirem, devem ser combatidos e extirpados. Boa leitura!
Charles Sá – Universidade do Estado da Bahia ([email protected])
Historia comparada de las literaturas argentina y brasileña. Tomo I: De la colonia a la organización nacional (1808-1845) – CROCE (A-EN)
CROCE, Marcela (Dir.). Historia comparada de las literaturas argentina y brasileña. Tomo I: De la colonia a la organización nacional (1808-1845). Villa María: Eduvin, 2016. Resenha de: COUTINHO, Eduardo. Alea, Rio de Janeiro, v.19 n.1, jan./apr., 2017.
Embora as relações entre o Brasil e os países hispano-americanos estejam constituindo cada vez mais objeto de estudo, em especial nos planos econômico, social e político, essas relações ainda são muito tímidas no que diz respeito à esfera da cultura, e, mais particularmente, da produção literária. Sente-se falta de textos que abordem mais de perto a literatura brasileira e a dos diversos países hispano-americanos, focalizando, por uma perspectiva comparatista, suas semelhanças e diferenças, de modo a estabelecer-se um verdadeiro diálogo entre essas vozes. Têm surgido, nas últimas décadas, histórias literárias voltadas para a América Latina como um todo, que deixaram clara, pelo próprio uso do termo, sua preocupação em incluir o Brasil no conjunto – citem-se aqui as belíssimas séries Palavra, literatura e cultura (1993), organizada por Ana Pizarro, e Literary Cultures of Latin America: A Comparative History (2004), coordenada por Mario Valdés e Djelal Kadir. E lembre-se que, já na década de 1940 (mais precisamente em 1945), Heríquez Ureña expressou essa preocupação ao publicar a sua Corrientes literarias de América Latina, que incluía o Brasil. No entanto, o que prevalece em todas essas histórias é a noção mais ampla de “continente”, recorte adotado que não só justifica, como requer a referida inclusão.
É verdade que o conceito de “nação”, identificado a “estado-nação”, é hoje um conceito que não mais se sustenta do ponto de vista ontológico, como quiseram os adeptos do Iluminismo, mas que ainda tem uma existência sólida como construção discursiva e que se acha presente na maioria das instâncias da vida contemporânea, desde a configuração política dos países no contexto internacional, até os aspectos mais banais da vida cotidiana, como as competições desportivas e as festas que celebram aspectos que se dizem próprios da cultura de um povo. A nação política como construção calcada em interesses específicos do grupo que a constituiu continua atuando como referência nos discursos em voga nas mais variadas áreas do conhecimento, e o conceito segue desempenhando um papel crucial no panorama internacional. Na História, e mais especificamente na História Cultural e Literária, ele é muitas vezes complementado por outros conceitos, como o de “região cultural”, mas não é em momento algum abandonado. A “nação” permanece no contexto internacional como um conjunto que difere de outros por singularidades que, embora provisórias e plurais, atuam como marcas de diferenças. E são esses traços que, mesmo em sua variedade e provisoriedade, devem ser estudados ao abordar-se a produção de um país.
A Historia comparada de las literaturas argentina y brasileña, que Marcela Croce organizou, e para a qual contribuiu também com a redação de diversos capítulos, sozinha ou em colaboração com outro estudioso da questão, é, nesse sentido, uma contribuição extraordinária e pioneira para o estudo da produção literária dos dois países. O Brasil e a Argentina são duas nações geograficamente vizinhas, que passaram por processos de colonização semelhantes, mas com diferenças também importantes, que obtiveram a independência política mais ou menos numa mesma época, mas continuaram dependentes do ponto de vista cultural e econômico, e que chegaram à modernidade com uma série de aspectos que as aproximam e, ao mesmo tempo, as distanciam. Essas semelhanças e diferenças em seu processo de constituição são o objeto de estudo dessa história literária que, entre seus muitos méritos, busca romper a barreira que infelizmente ainda perdura entre os dois países, e para a qual contribuiu inegavelmente a diferença idiomática, sobretudo quando comparamos com o que ocorreu entre os diversos países da América Hispânica.
Na estruturação do volume, que é, aliás, o primeiro de uma série de seis, a organizadora e seus colaboradores optaram por uma metodologia comparatista perfeitamente adequada ao diálogo que pretendiam estabelecer: a relação de semelhanças e diferenças entre as produções dos dois contextos. Foi feita uma seleção de textos literários que contribuíram para a formação de cada nação, e de pontos de encontros e desencontros na história cultural dos dois países, e construiu-se um contraponto rico e instigante, sempre baseado em fatores históricos concretos, que deu origem a uma discussão bastante frutífera entre vozes nem sempre pensadas pelo que tinham em comum, como é o caso de Hidalgo, Ascasubi e Hernández, de um lado, e de Fagundes Varela, de outro, ou de José Bonifácio de Andrada e Silva e Juan María Gutiérrez, os dois últimos lidos pelo autor do capítulo como intelectuais orgânicos na terminologia de Gramsci. Observe-se, contudo, que em todos esses casos foi levada em conta a relação entre os aspectos culturais e histórico-políticos, evitando-se sempre qualquer tipo de arbitrariedade nas aproximações estabelecidas.
O fato de tratar-se de uma história literária que tem como objeto dois países da América Latina já constitui por si só uma grande inovação, na medida em que se rompe com o modelo tradicional desses estudos, quase sempre voltados para a fórmula Europa/América do Norte x América Latina, em prol de um comparatismo intra-americano, mas o mais relevante, no caso, é o abandono da perspectiva hierarquizadora, presente, por exemplo, nos estudos de fontes e influências, e sua substituição por uma visão crítica apurada em que põe por terra qualquer sentido de superioridade ou inferioridade de um dos termos da comparação, adotando-se, em seu lugar, um tratamento em pé de igualdade. Não se trata, nas palavras da organizadora, de “avaliarem-se inovações nem de se estabelecerem prioridades no tempo, mas de se mostrarem as variantes que alguns modelos externos adquirem em cada país”. É assim que o Indianismo brasileiro de um Gonçalves Dias, que idealiza o índio, é confrontado com o Romantismo argentino, que o aborda como um sujeito sem identidade; ou o mito rural na poesia gauchesca, no qual o tipo regional adquire voz, que é estudado lado a lado à figura do negro no século XIX brasileiro, visto antes como objeto do que como sujeito.
Sem nenhuma pretensão de construir-se uma história literária de caráter totalizador, o recorte adotado pela organizadora toma como ponto de partida um momento que considera fundamental na história dos dois países – a recepção local da Revolução Francesa e suas consequências mais representativas, que têm como corolário a constituição das pátrias argentina e brasileira. A partir daí, são traçados paralelos que nem sempre correspondem a uma cronologia rígida e nem a uma equivalência exata no que concerne ao objeto – autores ou obras, por exemplo, são, por vezes, comparados a movimentos literários -, mas esse aspecto, longe de constituir problema, revela, ao contrário, a flexibilidade do método comparatista e a riqueza que este método permite na abordagem do fenômeno. Daí a forma de ensaio que a história literária apresenta, mas de um ensaio que não deixa jamais de lado a dimensão histórica, instituindo-se antes como um conjunto orgânico, uma produção sistemática cuja articulação fica assegurada, nas palavras da própria organizadora, “pela avaliação e relevância que os fatos adquirem nos textos e a maneira com que logram articular-se em uma construção discursiva”.
Eduardo F. Coutinho – Doutor pela Univ. Califórnia (Berkeley, EUA). É Professor Titular de Literatura Comparada da UFRJ e pesquisador I A do CNPq. Tem sido Professor Visitante em diversas universidades no Brasil e no exterior. É membro fundador e ex-presidente da ABRALIC, Vice-Presidente da AILC (Associação Internacional de Literatura Comparada) e consultor científico de diversas agências de fomento à Educação. Publicou grande número de ensaios em revistas e periódicos especializados do Brasil e do exterior e é autor e organizador de diversos livros, dentre os quais The Synthesis Novel in Latin América: a Study of J. G. Rosa’s Grande sertão: veredas (1991), Em busca da terceira margem: ensaios sobre o Grande sertão: veredas (1993), Literatura Comparada na América Latina: ensaios (2003), publicado também em espanhol (Colômbia, 2003), e Literatura Comparada: reflexões (2013). E-mail: [email protected]
[IF]
Arquivos literários: teorias, histórias, desafios – MARQUES (A-EN)
MARQUES, Reinaldo. Arquivos literários: teorias, histórias, desafios. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015. Resenha de: COELHO, Haydée Ribeiro. Arquivos literários: teorias, histórias, desafios. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2015. Alea, Rio de Janeiro, v. n. jan./apr. 2017.
Arquivos literários, comparativismo e outras navegações
O livro que resenhamos, do professor e pesquisador Reinaldo Marques, decorre de reflexões teóricas, da prática de pesquisa em acervos e de sua experiência administrativa como diretor do Centro de Estudos Literários e Culturais da Faculdade de Letras da UFMG. Quatro dos nove ensaios que compõem o livro trazem nos títulos o termo “arquivos literários”. Qual o sentido de arquivo literário? Como conceituá-lo? Na “Apresentação”, o autor afirma ser um conceito que “resultou numa ficção teórica para ficar num registro borgiano” (p.10) e “como produto de uma atividade especulativa (…) remete a um objeto mais imaginado e ideal nem sempre localizável no mundo empírico” (p. 11).
Na exposição sobre o arquivo e a Literatura Comparada (“Arquivos Literários e reinvenção da Literatura Comparada”), parte da perspectiva de Spivack diante dos rumos da Literatura Comparada na contemporaneidade, destacando, entre outros, aspectos como a tradução e o diálogo transdisciplinar, o que o leva a ressaltar ainda o sentido da literatura comparada como “multilíngue”. A partir das questões do comparativismo, propõe pensar no “arquivo literário” e “no pesquisador comparatista no arquivo” (p. 18). Em relação ao primeiro aspecto, são objeto de consideração os sentidos topológico e monológico do arquivo; sua desterritorialização e reterritorialização (que se dá na passagem do privado ao público) e o limiar do privado ao público. A “feição heterogênea” dos “fundos documentais” e a abordagem transdisciplinar, que requer metodologias da arquivologia, da museologia e biblioteconomia, são alguns dos pontos que propiciam o estudo do “arquivo literário” sob a perspectiva do comparativismo.
A reflexão teórica sobre o arquivo, advinda de saberes diferentes como Filosofia, Política e, ainda, Estudos culturais, suscita a noção de “arquivo literário” como “espaço aberto e inacabado, zona de contato e relações entre distintas temporalidades e subjetividades, capaz de percorrer descontinuidades e estranhamentos em relação ao tempo presente, a ativar anacronismos potencialmente problematizadores da racionalidade arcôntica, estatal e científica, da evidência histórica, que normalmente rege o arquivo” (p. 22).
Se, por um lado, o arquivista é responsável por zelar pelos documentos, normalizar, hierarquizar, armazenar e recuperar os dados nos arquivos, cabe ao pesquisador comparatista “desconstruir a ordem estabelecida (…) a intencionalidade que a estruturou” (p. 25). Tornando-se um “anarquivista”, o pesquisador comparatista está atento aos jogos que envolvem o poder e o saber, torna-se um “genealogista” (o que remete ao sentido de arquivo para Michel Foucault). É importante salientar que a proposta do autor dos ensaios, conforme esclarece em nota, anarquizar não corresponde a “bagunçar” o arquivo, mas interpretar os documentos, estabelecendo outras lógicas, outros deslocamentos que podem ser realizados com base nas tendências do comparativismo contemporâneo.
O segundo ensaio do livro, “Arquivos literários, entre o público e o privado”, está dividido nas seguintes seções: Arquivos de escritores: desterritorializações e reterritorializações; O público e o privado: rasuras; O arquivo do escritor no espaço privado; e O pesquisador, o arquivo, a lei. Nos primeiros parágrafos do estudo, há o questionamento da crítica textual, tendo em vista outras abordagens como a pós-estruturalista e aquela desenvolvida pelos estudos culturais. Essas tendências, aliadas aos estudos já existentes sobre os arquivos, podem trazer contribuições inovadoras, como fica comprovado ao longo dos nove ensaios de Arquivos literários: teorias, histórias, desafios.
Ao ser evidenciada a diferença entre a noção de “arquivo literário” daquela de “arquivo do escritor”, é ressaltado que este “ganha visibilidade na cenografia do arquivo literário, exibindo máscaras da persona autoral” (p. 35). Na comparação entre posições críticas (de Michel Foucault e de Jacques Derrida), é observado que a concepção de arquivo para o primeiro é “mais acentuadamente discursiva” (p. 36). Para o segundo filósofo, o princípio institucionalizador do arquivo está marcado pelo “lugar de consignação”. O poder arcôntico da interpretação faz com que Reinaldo Marques trate das relações entre a retórica e os arquivos. A explicitação dos sentidos de “mal de arquivo” expõe as singularidades da teoria derridiana.
A noção de “arquivo do escritor” suscita reflexões sobre o público e o privado, abrindo espaço para um campo amplo de indagações. O autor do estudo toma como referência textos básicos da teoria política moderna (A condição humana, de Hannah Arendt e Mudança estrutural da esfera pública, de Jürgen Habermas). No contexto do mundo globalizado, há um “encolhimento do espaço público” (p. 49), havendo repercussões sob o ponto de vista ético. Ao abordar o arquivo do escritor no espaço privado, muitas são as ideias que Reinaldo Marques deixa semeadas no caminho de nossa leitura, cartografada por ele: a institucionalização da vida privada pela difusão da leitura e da escrita; a biblioteca como refúgio, gerando um duplo afastamento (público e civil); o mundo privado da escrita em comunicação com o público; a relação entre a vida privada e o mundo burguês; o “indivíduo privado” buscando os “holofotes da publicidade”; o “entre-lugar” habitado pelo escritor e “a prática de arquivamento de si”. Esse último ponto é exemplificado com base na correspondência trocada entre Abgar Renault e Carlos Drummond de Andrade, escritores mineiros, cujas missivas são abordadas também em outro estudo do livro, tendo em vista o conceito “locação”, associado ao moderno “nos níveis literário, cultural, político e dos afetos” (p. 174).
Ainda no segundo ensaio, na seção destinada ao pesquisador, ao arquivo e à lei, é salientado, entre outros aspectos, no âmbito do público e do privado, o diálogo entre a arquivologia e o direito. Ao mostrar que o trabalho bemsucedido com os arquivos se realiza pela publicação dos resultados, o autor do livro em destaque, menciona dois exemplos de pesquisa “em acervos literários, um de êxito, outro de dificuldades”. No primeiro caso, refere-se aos trabalhos realizados e publicados a partir dos arquivos de Henriqueta Lisboa e, no segundo, ao “Diário alemão”, texto que foi traduzido e mantido inédito por questões jurídicas. Nessa exposição, fica claro que o arquivo e a memória representam um “campo de lutas políticas” (p. 83). É oportuno ressaltar que “Grafias de coisas, grafias de vida” (outro ensaio do livro) aborda justamente o “Diário alemão”, de Guimarães Rosa. O caráter heterogêneo dos “seis cadernos de anotações de João Guimarães Rosa” demandou um trabalho que abarca diferentes questões tratadas nos itens: leitura e escritura como coleção; a memória das coisas: breve biografia de um documento e biografias entrecruzadas.
No início desta resenha, mostrei que o termo “arquivo literário” aparece nos quatro primeiros ensaios do livro em destaque. No volume publicado, como no conto de Jorge Luis Borges, os artigos de Reinaldo Marques se imbricam e se bifurcam. Nesse sentido, a seguir, tratarei de aspectos que se interceptam e que criam outras possibilidades de análise dos arquivos, levandose em consideração o que já foi exposto e outros caminhos apresentados, no livro, sobre os arquivos.
A importância da imagem na cena contemporânea implica o estudo das representações do escritor, como este se encena nos “arquivos literários”. Tomando como referência o texto de Philippe Artières, Reinaldo mostra que, nas sociedades letradas, a existência dos indivíduos se faz pelo registro escrito. Ao utilizar o conceito de “arquivamento do escritor”, ele revela um duplo movimento que está associado ao arquivamento de papéis e ao arquivamento do próprio escritor que produz imagens de si mesmo, ao arquivar. Nos acervos literários, encontra-se uma variedade de imagens de escritores (“grafemáticas, fotográficas, plásticas, entre outras”). Exemplos ilustrativos, de imagens pictóricas, depreendidos do “Acervo de Escritores Mineiros”, dominam parte do ensaio destinado às imagens do escritor e aos arquivos literários. Os aspectos assinalados permitem que o leitor estabeleça conexões com outro texto do volume. Refiro-me ao artigo “O arquivamento do escritor” em que são assinalados “aspectos apontados por Philippe Artières, na constituição de arquivos pessoais” em confronto com “práticas de arquivamento” de escritores mineiros.
O pesquisador, que anarquiza o arquivo, não perde de vista os “restos” dos arquivos. Como dar conta dos “restos e ruínas”? Para essa travessia, Reinaldo se vale teoricamente das noções de “resíduos e farrapos da história”, de Walter Benjamin; da noção de “resto”, de Giorgio Agamben; e das considerações de Jeanne Marie Gagnebin, explicitadas na apresentação do livro do filósofo italiano – O que resta de Auschwitz. Na esteira da História, não faltam ainda em Arquivos literários: teorias, histórias e desafios, comentários sobre as relações entre arquivos literários e a formação do Estado Nacional; sobre o discurso e o saber sobre a literatura “capitaneado pela universidade”; sobre o papel pioneiro da Academia Brasileira de Letras, e a respeito das histórias locais e os arquivos literários brasileiros.
No último ensaio do livro, Reinaldo mostra que Terry Cook, ao abordar a questão dos arquivos, fornece elementos para se pensar na “dimensão subjetiva e de intervenção do arquivista”. Essa vertente da subjetividade, aliada ao conceito de “imaginação construtiva” (termo utilizado por Robin George Collingwood), evidentemente institui uma ligação intrínseca com o conceito de “arquivo literário” decorrente de uma “ficção teórica”. Apoiado na “imaginação construtiva”, que não perde de vista o “faro para a ‘estória’”, o autor do livro oferece múltiplas navegações em rede. Por essa e por outras razões explicitadas, a publicação comentada constitui uma referência fundamental para o estudo dos arquivos.
Haydée Ribeiro Coelho Professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Possui Graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (1973); Mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais (1981); Doutorado em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo (1990) e Pós-Doutorado pela Universidad de la República, onde desenvolveu uma pesquisa sobre o exílio de Darcy Ribeiro no Uruguai. Dedica-se, atualmente, às interlocuções culturais, literárias e críticas entre o Brasil e a América Latina. Atualmente, é coordenadora do GT ANPOLL Relações Literárias Interamericanas. E-mail: [email protected]
[IF]
Patrimónios de influência portuguesa: modos de olhar – RIBEIRO (A-EN)
RIBEIRO, Margarida Calafate; ROSSA, Walter (Org). Patrimónios de influência portuguesa: modos de olhar. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra; Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian; Niteroi: Editora da UFF, 2015. Resenha de: PÉCORA, Alcir. Alea, Rio de Janeiro, v.18 n.3, dez., 2016.
I
Acaba de ser lançado em Portugal e no Brasil, em coedição da Imprensa da Universidade de Coimbra, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Universidade Federal Fluminense, o trabalho mais abrangente já produzido em português sobre a noção de Patrimônio – em suas várias dimensões éticas, estéticas, técnicas, culturais, sociais, históricas, políticas etc. –, no bojo dos estudos e contextos pós-coloniais, que tanto apõem desconfianças e dificuldades, como abrem veredas ainda pouco exploradas e, por vezes, sequer pensadas antes entre nós, digo, os que se podem identificar como sendo de culturas de influência portuguesa.
Pretendo comentar a grandeza desse trabalho, de um lado, fazendo sínteses rápidas, necessariamente esquemáticas (mas espero que não estúpidas), dos vários textos do livro, que cobrem questões muito novas em relação ao Patrimônio português nos vários países e regiões que os partilharam, modificaram, contaminaram etc.; de outro, propondo-lhes questões gerais que pensam o conjunto e apontam desafios a ser considerados na sua continuação.
Há um gesto de coragem no início desse projeto: sem esconder ou amenizar as assimetrias contundentes no âmbito do processo colonial, ele se propõe como gesto concreto de integração do patrimônio das diferentes culturas, países e territórios envolvidos. Como alertam os organizadores, não se trata de gesto de nostalgia romântica, mas de ação intelectual cujo propósito é subsidiar políticas de ação favoráveis à cidadania.
Em particular, o projeto pretende integrar a noção de Patrimônio à ideia de sustentabilidade cultural (não apenas social, econômica e ambiental), o que implica entendê-lo como plataforma para interação de áreas de preservação e de ação político-cultural em favor da construção da paz, da cooperação e do reconhecimento da cultura do outro.
Enquanto trabalho interdisciplinar análogo aos dos critical heritage studies, de inspiração anglo-saxônica, os estudos de Patrimônio aqui levados a cabo têm como pressuposto a crítica do eurocentrismo. Os seus dois desafios básicos são o reconhecimento das alteridades no interior de uma comunidade ampla e diversificada, e a imaginação de caminhos do desenvolvimento sustentável de cada uma delas.
Supor um Patrimônio plural significa admitir uma pluralidade de olhares e contatos, que, muita vez, obriga a questionar a ideia de “influência portuguesa”. Como dizem os organizadores do volume, a noção de influência, aqui, é basicamente entendida como um “operador histórico”, estruturado pela língua e ativado por Portugal, mas dinamizado por outras geografias e tempos diversos. O resultado pretende ser mais uma celebração de diferenças numa rede de territórios que a identificação de uma essência comum.
Também é obrigatório dizer que o livro não é uma coletânea de textos avulsos, mas uma coleção interdisciplinar cuidadosamente organizada, nascida dos debates empreendidos por duas reuniões gerais, em Bolonha e Coimbra. Está composto em duas partes separadas por uma entrevista dos organizadores com o conhecido crítico português Eduardo Lourenço, que já teve várias passagens pelo Brasil, incluindo uma bastante marcante para mim no Instituto de Estudos da Linguagem, da UNICAMP.
A primeira parte discute criticamente os conceitos tradicionalmente afeitos ao patrimônio como memória, herança, identidade, comunidade, colonialismo, origem, influência etc. e a segunda trata das disciplinas envolvidas e dos novos instrumentos de investigação propostos por elas. Passo, pois, a referir muito sinteticamente o escopo de cada um desses textos.
II
A abertura dos estudos coube a Helder Macedo, que discutiu as noções de língua, comunidade e conhecimento para indicar inicialmente que eles não compõem uma sequência lógica. Nem a língua é indispensável para definição de uma comunidade, nem esta precisa significar um conhecimento efetivamente partilhado, uma vez que, mesmo dentro de um país, as populações podem ter um persistente desconhecimento mútuo. No sentido contrário, diz o autor, escritores africanos que escrevem em línguas europeias podem eventualmente ter mais em comum com os pares europeus do que com as comunidades de origem.
O contato com a língua do poder pode efetivamente levar ao desaparecimento de línguas nativas, pois a central tende à manipulação das outras culturas e conhecimentos em favor próprio, reduzindo-as a um lugar periférico –, o que é reforçado pelo que o autor chama de “solipsismo de centro”, isto é, enxergando-se apenas a si próprio, não pensa a língua senão como instrumento de um imperialismo nacional.
Em oposição a essa política de distinção entre centro e periferia, o autor imagina a possibilidade de um centro sem lugar definido, revitalizado por alternativas não centralizadas e pela emergência de novas potências nacionais, antes periféricas, como, por exemplo, Índia, China e Brasil – países nos quais a língua portuguesa teve lugar histórico, conquanto diverso.
Tal redistribuição democrática de lugares não precisaria significar uma ameaça a nenhuma das línguas de origem, pois, para o autor, quanto mais integrada e segura da sua própria cultura, mais uma língua pode contribuir para a sobrevivência de outras, num mundo de diversidades coexistentes – pensamento que me trouxe à lembrança a afirmação pessoana de que quanto mais forte a identidade de um povo, maior a sua capacidade de importar ideias de outros.
A seguir, Renata Araújo, Professora do Departamento de Artes e Humanidades da Universidade do Algarve, discute os conceitos de influência, origem e matriz. Na de influência, enxerga menor peso hierárquico e, portanto, maior possibilidade de incorporar noções de reciprocidade e de postular um futuro para o passado que dê menos margem a mistificações nacionalistas.
A autora também observa que a ideia de Patrimônio refere “o que fica do pai”, vale dizer, guarda certo caráter fúnebre: objetos de rememoração associados a restos mortais. Daí que a necrópole seja o monumento por antonomásia: o que lembra a morte do antepassado e, ao mesmo tempo, assegura a continuidade da comunidade.
Numa perspectiva cosmopolita e contemporânea, outros pontos de vista se abrem para o enfrentamento dos fantasmas do passado: culturas híbridas, traduzidas umas das outras, que produzem polissemia e maior consciência ética das diferenças entre elas. Daí também a ideia da “tradução” como metáfora do Patrimônio, segundo a qual culturas em contato podem se tornar mutuamente Inteligíveis, sem sacrifício da sua diferença.
Uma nova geografia de difusão influente teria de ser mais centrífuga que centrípeta; menos matricial e mais ambígua, cuja vantagem decisiva está em pensar trocas, resistências e hibridações imprevisíveis em contraste com os aspectos mais coercitivos da ideia de matriz. Nesse novo registro, espera-se tanto a superação do mito étnico, como a admissão de processos de contaminação recíprocos, nos quais os mortos de comunidades diversas se enterram como “parentes” e dão margem à partilha das heranças.
Roberto Vecchi, professor de Literatura Portuguesa e Brasileira da Universidade de Bolonha, trata dos conceitos de identidade, herança e pertença. Propõe uma virada na concepção de identidade, entendendo-a na relação com o Outro, de tal modo que, analogamente, o Patrimônio seja pensado não como igual, mas como “em-comum”, o que também implica redefinição da ideia de comunidade. De uma identidade integral usualmente nostálgica passa a referir uma comunidade incompleta, não homogênea, estruturada pela falta: em construção.
Patrimônio, aqui, teria de perder a essência identitária em favor de singularidades que pactuam novas comunidades. O laço da tradição perderia força para um traço transformador, no qual as culturas são entendidas como traduções sempre incompletas e os espaços da língua portuguesa não são homogêneos, nem têm centro, admitindo mesmo a dispersão como um ganho em relação à noção tradicional de lusofonia.
Assim, contra a ideia de um poder soberano, pleno, central, apresenta-se o que o autor chama de “força débil”, assentada em projetos compartilhados sobre bens culturais “em-comum”, que não admitem grandes narrativas, mas obrigam a repensar o campo inteiro do Patrimônio. Este abandonaria os seus aspectos de museificação e monumentalização de restos dos passados, cuja narração atual já não é capaz de obter identificação de nenhuma comunidade, para se reapresentar como Patrimônio de arte residuária, menos deslumbrante e eloquente: arte modesta feita de indícios, que deve repensar a monumentalidade fora da violência e de categorias plenas. Vale dizer, como contramemória: patrimônio do outro.
Antonio Sousa Ribeiro, professor do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, trata da questão da memória, avançando na mesma direção de modos contra-hegemônicos, em que a memória representa tanto uma crítica do presente como uma estratégia de produção do contemporâneo.
Para ele, o campo de estudos da memória abriga uma visão transdisciplinar, favorável à evidência dos seus quadros sociais, não em termos de um sujeito coletivo romântico, mas antes como memória pública capaz de valorizar o reverso das histórias dominantes: um trabalho de memória consciente das histórias catastróficas do século XX. Ganham força aí os estudos da violência, do holocausto e os estudos pós-coloniais, nos quais se é obrigado, muitas vezes, a considerar patrimônios de silêncio, imateriais.
Não se imagina que essa memória seja consensual, mas sim recoberta por tensões e conflitos. Ter-se-ia de pensar numa transnacionalização da memória, o que inclui fenômenos de deslocalização e de lógicas interculturais ambivalentes.
Outro conceito relevante aqui seria o de “pós-memória pública”, que refere a relação da segunda geração de descendentes em relação a essas experiências conflitantes. A ideia a acentuar é a de que a memória tem uma dimensão multidirecional, nas quais as diferenças não se anulam, articulam-se.
Miguel Bandeira Jerónimo, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, trata do colonialismo moderno e sua justificativa usual como “missão civilizadora”, vale dizer, como empresa de “elevação moral dos povos atrasados”. Talvez o mais duro dos textos do livro, mostra como as leis imperiais evidenciavam um “racismo institucionalizado” a operar como legalização do trabalho forçado. A finalidade última delas seria a autoperpetuação, a preservação do Império, ainda que as ideologias imperiais se recobrissem de certa plasticidade que lhe permite, por vezes, tomar a forma de uma ação benevolente, como a supressão da escravatura, do tráfico, e mesmo incorporar motivações religiosas e humanitárias. Tais ideologias também podem tomar a forma de inevitabilidade histórica ou de consequência natural da superioridade europeia ou ocidental, numa variante da seleção natural, e mesmo de uma tutela progressista, que avança até o momento descolonizador.
As múltiplas doutrinas de missão civilizadora promoveram o que autor chama de “racialização” do mundo imperial, com diferentes políticas de enquadramento das populações nativas, e com diferentes lógicas de assimilação seletiva e de discriminação racial.
Outro aspecto examinado é a propaganda da missão portuguesa nos manuais de administração colonial, nos quais a educação, muitas vezes tratada com o apanágio de ciência, constituía-se sempre como educação para o trabalho.
Ou seja, abuso do trabalho nativo, racialização social, política discriminatória, ausência de estruturas educativas, escassez da presença eclesiástica, insuficiência de desenvolvimento econômico são elementos de continuidade histórica do império colonial que obrigam a refletir judiciosamente sobre o que pode receber o estatuto de patrimônio linguístico e cultural numa situação de afirmação da independência e de tratamento igualitário das antigas colônias. Diante desse quadro duro, mas realista, composto pelo autor, o que se pede é um debate sobre Patrimônio que seja, como diz, “menos etéreo”.
Francisco Bethencourt, professor do Departamento de História no King’s College, investiga os sentidos de colonização e pós-colonização, destacando tanto o processo de coisificação do colonizado pelo colonizador, em que cada um deles habita mundos excludentes, como a interiorização da repressão pelo oprimido. Tais fatos acabam relativizados pela crítica pós-moderna que observa interstícios importantes de negociação e de resistência no colonizado, ou seja, formas de sobrevivência cultural e social mesmo em situação repressiva. Seriam trocas desiguais, mas capazes de produzir formas de articulação entre tradições locais e modos de domínio.
Já a crítica pós-colonial, que avança análises de teor marxista em sociedades não europeias, produz novas análises das consequências do domínio colonial, com destaque tanto para a ideias de emancipação dos povos colonizados da mentalidade de oprimido, como para as contradições no cerne das perspectivas anti-colonialistas, como a realidade desigual do exercício do poder nos países independentes, a apropriação do aparelho do estado por pequenos grupos, a irrupção de neopatrimonialismos e clientelismos etc.
Derivam daí questões cruciais para se pensar os patrimônios da presença portuguesa em outros continentes, a começar pelo emprego de uma terminologia geralmente tributária do passado colonial. O termo “influência”, por exemplo, no dicionário Morais, está associado ao sentido de domínio, de uma submissão pessoal a quem tem direito sobre nós – o que parece produzir uma espécie de retorno do recalcado já no título do volume. De fato, não é crível que, no atual estado dos debates, seja possível não incorrer nessas contradições que são exatamente o foco dos trabalhos aqui reunidos.
O autor examina os empregos históricos de termos como colono, colonização, colonialismo, e também anticolonial e anticolonialista; detém-se no sentido de “descolonização”, onde, paradoxalmente, o domínio do território pela potência em expansão ofusca o papel das lutas das populações submetidas. Em especial, a noção de “retirada” aí implícita perpetua uma visão histórica centrada nas potências colonizadoras. Ou seja, os povos coloniais, ainda depois da independência, são “desapossados” de seu orgulho de conquista da autonomia, como se esta existisse, no limite, por capricho do colonizador.
Nessas circunstâncias, mais uma vez, como pensar o patrimônio? Para o autor, qualquer resposta deve entender que, enquanto relativo à memória coletiva, o Patrimônio é resultado de uma luta pela memória no bojo de lutas sociais e de projetos políticos divergentes.
Em sua breve intervenção, Eduardo Lourenço observa que Camões não teria escrito Os Lusíadas que escreveu se não tivesse empreendido a viagem às Índias, e é este o primeiro poema europeu a ver ou interpelar a Europa de fora. E, em outra de suas brilhantes intuições, observa que, no caso do Brasil, o Império só existiu a título póstumo: reivindicado por D. Pedro I, quando da independência. Em termos portugueses, a centralidade imperial estaria na Índia.
Conquanto o empreendimento imperial português seja do Rei, e da Nação, diversamente da Espanha cuja expansão se deu pela iniciativa privada, de comerciantes, para ele, Portugal nunca chegou a ter uma ideologia imperial, mas apenas religiosa. Como missão religiosa justificaram-se as viagens portuguesas e, em particular, como missão jesuítica, que se institui como ordem cosmopolita destinada a salvar almas para Deus.
No caso do Império do XIX, que distingue essencialmente da primeira expansão fundacional, considera que ele se dá num período em que boa parte das nações europeias tornaram-se colonizadoras, sendo que boa parte delas colonizadoras mais eficazes que Portugal.
Ainda, a reflexão sobre as colônias, no conjunto da sua obra, surge como um esforço de imaginar que não está totalmente perdido o que se perdeu. No Brasil, mais facilmente, porque a ausência de insurreição permite uma ideia de continuidade e de passado português que o inclui. Já em relação à África, há uma tragédia, cuja marca inapagável é a promoção do reino pela escravidão dos povos em contato e o fato de que os agentes decisivos dela não têm qualquer cultura humanística ou fascínio estético que permita sublimar a brutalidade da conquista, a superficialidade das trocas, ou sequer reivindicar a grandeza de uma interpelação das próprias contradições imperiais, como é a de Camões.
A segunda parte dos estudos, denominada Discursos e Percursos, começa com o estudo de uma das organizadoras do volume, Margarida Calafate Ribeiro, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Para ela, uma vez que as literaturas de língua portuguesa foram impostas a todo o Império, trata-se de verificar como uma lei do poder colonial admite a inscrição de diferenças ou a sua reversão como instrumento de emancipação – onde o fluxo também dá lugar ao refluxo.
Nas primeiras narrativas do novo mundo, eurocêntricas e religiosamente motivadas, a autora observa que tanto procuram descrever o novo mundo, o que lhes dá a oportunidade de ver a Europa de fora, como o fazem por meio de uma retórica descritiva que tem a marca do olhar europeu, uma visão por analogia ou semelhança, construída pela fabulação. Tais equivalências assimétricas insinuam um confronto do olhar: dúvidas e questionamentos das realizações imperiais. Ou seja, no desejo de poder e expansão também se manifesta um valor dinâmico de descoberta de autoanálise e do Outro, como se dá em Fernão Mendes Pinto.
Para a autora, a condição moderna de Portugal provém justamente dessa condição de mediadora de mundos, num registro planetário, cujo gesto cosmopolita não apenas torna a Europa um agente de transformação, mas um resultado dela, pois o Atlântico sul não se torna apenas passagem, mas lugar de circulação.
Na carta de Caminha, a autora observa não interiorização do Outro, mas espanto e dificuldade diante da diferença: uma hesitação entre a visão idílica e o comprometimento religioso. A despeito de si mesmo, o poder vinculado à língua imperial é também testemunho de um encontro. Portanto, numa perspectiva crítica contemporânea, trata-se, para a autora, de resgatar discursos nas margens do discurso colonial. De gerar o resgate de identidades rasuradas e histórias silenciadas: levantar inscrições de diferenças na língua portuguesa que rompem o risco de uma história única.
Trata-se de tomar a língua como plataforma de uma conversa possível, pois a hegemonia do poder colonial nunca é completa e a língua do colonizador acaba construindo a base da promoção de um diálogo. No caso africano, a subalternização das línguas nacionais pelo português oficial não impede o que a autora chama de “reescrita da libertação”: a assunção da língua escrita que seleciona e rearranja as suas partes de modo a produzir novos olhares discursivos e interdiscursivos.
Em vez de recusar a herança e o patrimônio literário da língua portuguesa, a questão está em habilitar novos herdeiros. Discutir transferências culturais, num trabalho de tradução, isto é, sem rejeição, mas também sem aceitação passiva, pois os novos cânones ainda têm de ser construídos. Em termos portugueses, trata-se de admitir que a história das literaturas das colônias são também parte da história de Portugal, e que as imagens múltiplas de culturas singulares contribuem para um desenvolvimento mais harmônico do conjunto.
Francisco Noa, professor de Literatura Moçambicana na Universidade Eduardo Mondlane, de Maputo, vem a seguir. Tratando das narrativas em língua portuguesa, em particular no âmbito de Moçambique, o autor considera que a literatura colonial oficial tende a produzir igualmente um imaginário colonial, de rebaixamento dos povos dos territórios conquistados. Insurgir-se contra ela significou revelar pluralidades que, como tais, eram ameaças às formas de controle.
Desde o início, os autores africanos sabiam que o poder comunicacional e transformador das narrativas é exercício de gestação de poder, que toma por vezes a forma de denúncia e de confrontação, mas que tem também um projeto fundacional. Assumido pelos escritores, tal projeto estava associado à obrigação de não esquecer e de narrar uma catástrofe coletiva, culminada nas guerras de África.
Aqui, narrar a violência e a morte são aspectos necessariamente implicados na afirmação de um patrimônio moçambicano, que apenas desta forma conquista singularidade, o que implica em apropriações, rejeições, sínteses e, enfim, diálogos entre meios e tempos distintos.
Sílvio Renato Jorge, professor de Letras da UFF, retoma a piada do brasileiro Osvald de Andrade segundo a qual só a Antropofagia nos une, para dizer que da deglutição do estrangeiro depende a constituição do diferente. Retomando os concretistas junto a Derrida, afirma o princípio de tradução e de transcriação entre as culturas, quando traduzir significa reconhecer multiplicidades irredutíveis ou equivalências sem identidade.
Numa cena político-literária de traduções, a violência é inerente: o privilégio de um aspecto implica na redução de outro. O gesto interpretativo observa espaços de negociação e de fricção, entre-lugares nos quais se favorecem processos de cisão e de hibridização que forneceriam a base dos Patrimônios de influência portuguesa, a valorizar ambivalências.
No horizonte de uma poética de descontinuidades, também a citação ocupa lugar destacado, pois no deslocamento de sentido há descontextualização e recontextualização, procedimentos marcados por uma noção de sujeito, o percurso de uma existência, os pontos de passagem numa relação tensa entre passado e presente.
Se o ponto de partida incontornável dessa poética está na língua portuguesa imposta, o ponto de chegada é o resultado de conflitos de econômicos, políticos, culturais que podem ser pensados pela metáfora da antropofagia como estratégia singular de lidar com a cultura do colonizador, de reler tradições diversas e de situar uma dinâmica própria das diferenças.
Graça dos Santos, professora da Universidade Paris Ouest Nanterre, trata dos Patrimônios de emigração, tomando por base a situação dos portugueses que foram para a França nos anos 60 e que passaram a viver um duplo deslocamento: da origem para o novo destino, e também o inverso, isto é, do novo país em relação à identidade de origem.
Como atriz e encenadora bilíngue, a autora considera haver uma imaginação própria das línguas, explorada pelo grupo de teatro Cá e Lá, criado por imigrantes portugueses na França, no âmbito da Marcha pela Igualdade e contra o Racismo de 1985. Os temas da dupla cultura, dupla pertença, de comportamentos defasados face aos de modelo francês constituem o núcleo das representações do grupo, no qual o humor é estratégia para rir de si como para levar a sério a questão de uma “cultura bastarda”.
O propósito a mover o grupo não é o de desenraizar, mas o de conceber a raiz de modo menos sectário e mais inclusivo, o que só julga possível por meio da tomada de consciência de automatismos da cultura e de sua superação.
Maria Fernanda Bicalho, professora de História da UFF, trata de novos recortes do objeto historiográfico a partir das décadas de 80 e 90, sobretudo originados de estudos anglo-americanos que ofereceram novas perspectivas em relação à historiografia anterior cuja base era o Estado-nação. Ganharam relevo tanto a História Atlântica – o complexo banhado pelo Atlântico e seu sistema de trocas econômicas, sociais, culturais etc. –, como a História Global, que estuda relações internacionais e processos que transcendem regiões, Estados e nações.
Nessas obras, estudam-se conexões até então pouco visíveis entre Portugal e os territórios ultramarinos, e isto não apenas em relação aos sistemas econômicos, mas à apropriação de espaços, reorganização de territórios, disseminação de povos, dinâmicas sociais, configurações temporais do império e práticas de identidade. São estudos que demandam novos conceitos, como o de “rede”, isto é, instrumentos de comunicação entre vários espaços, com descontinuidade territorial, pluralismo institucional e jurídico, bem como coexistência de diferentes lógicas políticas.
A consequência desse novo olhar foi, por exemplo, a percepção de que rotas imperiais eram muitas vezes controladas a partir de áreas periféricas. A noção de Império é afetada pela sua vinculação a famílias empresariais até então insuspeitas ou improváveis. Surgem, enfim, novas histórias que rompem o modelo único da transferência da trajetória europeia para as análises de outras realidades. O comércio, por exemplo, passa a admitir uma versão não-unidirecional, no qual o comparatismo eurocêntrico sofre a concorrência de um novo modo de conectar histórias, de estabelecer negociações potenciais e imprevistas de autoridade, que valorizam relações locais e regionais.
Luís Filipe Oliveira, professor do Departamento de Artes e Humanidades da Universidade do Algarve, recapitula a grande mudança sofrida pela Historiografia nos últimos anos decorrente da crítica do valor instrumental atribuído por ela aos documentos e ao monopólio da História como investigação científica do passado. Quando os documentos deixaram de ser vistos como naturais, que falavam por si mesmos, outros agentes interpretativos, até então considerados subalternos, ganharam estatuto investigativo, como a arquivística, a paleografia, a diplomática, a heráldica e a sigilografia.
A própria natureza dos arquivos entrou em causa com o debate em torno dos objetivos políticos de sua constituição, muitas vezes sob encomenda da Coroa. A partir daí, a história da nação passa a exigir a ampliação de sua investigação aos arquivos familiares e pessoais. Valorizaram-se inventários variados, textos literários, narrativas. Torna-se decisiva a questão da seleção e interpretação dos fatos pelo historiador, bem como as questões relativas a culturas, ideologias e mentalidades.
No período pós-moderno generaliza-se a desconfiança em relação aos grandes temas, que se pulverizam e passam a ser substituídos por estudos de caso, que demandam uma pluralidade de pontos de vista. Vem para o primeiro plano a consciência da metaposição do observador como alguém vinculado ao presente e, por isso mesmo, suscetível a teorias e modelos das ciências sociais.
Hoje, o caráter discursivo e construído das representações do passado estão no centro da investigação histórica, de tal modo que o historiador sofre a concorrência de críticos literários, arquivistas, antropólogos, sociólogos, jornalistas etc. As regras do ofício estão na berlinda, e nada diz mais a respeito disso do que a mudança do estatuto dos documentos. Longe de, isoladamente, entregar o mundo para o historiador, dão-lhe termos parciais, suspeitos, que precisam ser dispostos em séries, confrontados com outros indícios, informações, testemunhos, além de gestos, imagens e vestígios arqueológicos.
Há ainda o reconhecimento da dimensão monumental dos documentos, que expressa a determinação de criar leituras específicas do passado, de modo a impô-las aos pósteros. A percepção crítica dos arquivos documentais, que passam a ser entendidos como espaço de poder sobre o passado e a memória, obriga a uma maior atenção do investigador a suportes, escribas, cópias, ou seja, aos documentos percebidos como objetos sociais plenos e não apenas como fontes. O interesse pela materialidade dos documentos é uma evidência do conjunto desse processo crítico.
Se os arquivos são espaços de poder, lugar da construção de um discurso sobre o passado, outras dimensões deles passam a ser estudadas, como sua existência numa pragmática social, suas técnicas nunca neutras de organização, seus rearranjos segundo linhagens específicas. O arquivo já não é um depósito estático e alheio à vida. Revela-se em movimento e articulação permanente com a história, que tanto garante a memória, como se dispõe a ocultá-la, assegurando estatutos e privilégios, já que invariavelmente os territórios pior documentados são sempre os mais distantes dos centros de poder.
Em seguida, Sandra Xavier e Vera Marques Alves, antropólogas e professoras do Departamento de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, observam que, com o pós-modernismo, cresceram as críticas aos trabalhos antropológicos de campo, seja pela falta de polifonia dos dados, seja pelo questionamento de oposições como nativo e não nativo, seja ainda pelas relações de poder pouco discutidas em relação à própria investigação.
Admitindo a crítica, mas acentuando a importância de se manter a fronteira entre crítica textual e relações intersubjetivas em presença, as autoras traçam o surgimento de novas práticas etnográficas, com manutenção das exigências de pesquisa quotidiana, conhecimento informal e de envolvimento com as comunidades estudadas. No âmbito dessa etnografia reformada, entendem que a sua contribuição ao projeto “Patrimônios de Influência portuguesa” dá-se em termos da superação de oposições esquemáticas entre colonizador e colonizado, em favor de um olhar mais sutil para o complexo colonial, fazendo emergir vozes dissonantes, narrativas divergentes, conflitos de interesse, políticas incompletas de modo a entender o encontro colonial como efeito de processos dinâmicos.
Nesse novo ambiente, os estudos pós-coloniais, centrados na crítica textual, e as novas práticas antropológicas, de dimensão intersubjetiva, podem agir de modo articulado, com base numa “viragem material”, isto é, no estudo das formas materiais de diversos mundos sociais, cujos objetos não apenas significam ou simbolizam, mas influenciam o campo de ação social. A fotografia, por exemplo, passa a ser entendida como lugar de interações sociais e não apenas como consumo visual passivo.
Neste ponto, trata-se de descolonizar os patrimônios, antes dados como processos monolíticos ou homogêneos, dentro de uma etnografia descentrada, colaborativa, polifônica.
Mirian Tavares, professora de Cinema na Universidade do Algarve, considera, inicialmente, que os filmes de modelo hollywoodiano são uma representação simulada do real contra a qual se opõe uma cinematografia divergente, pensada tanto como lugar possível de poesia quanto como revelação de uma história periférica, mantida invisível. No entanto, constata que essa produção, no contexto do cinema africano, é usualmente tratada como world cinema, como se fosse etnografia e não propriamente cinematografia.
Mesmo visões simpáticas a ele tendem a reproduzir a visão da África como “paraíso da etnografia”, aprisionada à tradição. Ao fazê-lo, negam-lhe subjetividade real, pois ela se dissolve em traços comunitários a ser preservados como memória à beira da extinção. Ou seja, não veem o cinema ou a filosofia africana como lugar de pensamento de indivíduos independentes, com capacidade de abandonar o lugar de objeto para o de sujeitos íntegros de seu próprio presente. No fundo, trata-se sempre de uma ideia condescendente, que confirma o discurso hegemônico: defender uma cultura que não pode sobreviver sozinha.
Considerando que o cinema moçambicano, numa primeira fase pós-independência, estabeleceu-se como propaganda do novo regime, observa que, posteriormente, deu lugar a uma filmografia variada, com consequente diminuição do apoio estatal. É um cinema de resistência, uma “insanidade”, com desejo de criar alternativas, de apropriar-se da cidade fragmentada como espaço múltiplo. Cinema marginal, disruptivo, que não replica o cânone, que não se resolve na questão da memória, mas produz reflexão sobre o que vê de forma a promover ação transformadora no presente.
Ana Maria Mauad, professora do Departamento de História da UFF, observa que a ideia corrente da fotografia como realista obscurece as mediações e escolhas que se dão no ato fotográfico entre o sujeito que olha e a imagem elaborada. Uma análise fotográfica consequente também deve considerar o valor atribuído pela sociedade à imagem, bem como a grande capacidade que ela tem, como diz a autora, de potencializar a matéria e engendrar narrativas. Ademais, no caso de fotografias públicas, há que se considerar todo o processo de agenciamento, que diz respeito à sua publicação, arquivamento e guarda.
A fotografia pública, definida como registro de situações associadas ao Estado, à memória visual do poder público ou, enfim, à dimensão social dos fatos, interessa à autora como redefinição de formas de acesso aos acontecimentos históricos e de sua inscrição na memória por meio da produção de imagens com ressonância no campo social. Pode-se então falar propriamente de uma prática artística, de expressão autoral do fotógrafo (que não existe apenas como paciente de um registro realista) e também de uma prática documental, na qual se observam as condições de vida de determinados setores sociais. Tal prática, no âmbito do Patrimônio, pode recobrir informes sobre o passado, mas também a sua própria instauração como monumento, enquanto esforço deliberado de construção de símbolos a ser lançados para o futuro.
Ao analisar um álbum de fotografias realizado em 1938, em Luanda, depois publicado pela Agência Geral de Colônias, a autora observa que ele revela dois objetivos em disputa: a inauguração da exposição, que atendia aos interesses da elite local de Angola, e o registro da visita do presidente português, que atendia aos interesses do governo central de demonstrar a sua presença nas colônias. É um exemplo de como uma pluralidade de discursos pode comparecer nessas fotografias públicas, cuja função é a construção imaginária da nação. Como tais, são patrimônios visuais valiosos: não apenas registros factuais, mas lugar de manifestação de políticas de memória pública.
Luísa Trindade, professora de História da Arte na Universidade de Coimbra, trata da imagem desenhada como instrumento das áreas de Patrimônio, no tocante à arquitetura e ao urbanismo. Limitando o seu enfoque aos séculos XV-XVI e aos territórios de ação portuguesa, observa que o desenho era entendido como representação gráfica, geralmente feito na presença do objeto, com propriedade de verossimilhança. No caso das imagens de cidade, pode ser focado na urbs, vale dizer, a materialidade física dela, ou na civitas, sua comunidade humana ou genius loci.
Em qualquer dos casos, o resultado nunca é cópia fiel, mas nem por isso menos verdadeira. Há necessariamente artifício, quando o desenho tem de descrever detalhes e também propor uma inteligibilidade do todo. É sempre retórico, pois atende a uma encomenda e visa a um propósito. Pode ter a função de demonstração para a Corte de certas soluções propostas ou de ilustração de narrativas; pode ser útil na guerra, em suas formas de cartografia de defesa.
Há uma eloquência própria dos mapas, uma linguagem de poder ali articulada. A moldura técnica partilha da moldura político-social. Por exemplo, nota a autora que, no caso de representação da civitas, apenas Lisboa é desenhada, o que obviamente associa a ideia de cidade à de centro de poder.
Tais observações validam a necessidade de tratar o desenho num quadro interpretativo interdisciplinar, em que têm parte a Literatura, a Geografia, a História, a Arquitetura, a História da Arte etc. Ademais, o desenho pode ser tanto entendido como patrimônio em si mesmo, além de meio para outros fins.
José Pessôa, professor de Arquitetura na UFF, observa que é justamente do campo da arquitetura a prerrogativa de ter sido o objeto principal das construções do patrimônio histórico nacional, desde o século XIX – entendendo-se por monumento histórico sobretudo a arquitetura do passado, com suas igrejas, palácios, castelos etc. Em termos gerais, entende-se o monumento arquitetônico como o que fornece identidade às nações e também o que, enquanto documento histórico, é objeto de restauro e de ações de conservação. Nessa perspectiva tradicional, tem mais peso na ideia de patrimônio a qualidade plástica do edifício do que o valor histórico da arquitetura.
Na Carta de Veneza, de 1964, talvez o documento mais importante para o patrimônio arquitetônico, a ideia de monumento histórico é alargada até alcançar, além da arquitetura erudita, também a arquitetura vernacular, relativa a prédios mais modestos, urbanos e rurais.
No tocante à ideia de restauro é importante entender que ela se aproxima da de recriação: uma reinterpretação do passado pela consolidação de determinada imagem arquitetônica privilegiada em determinado momento histórico, segundo determinada concepção de Patrimônio. Como diz o autor, não é possível lembrar sem inventar.
No caso brasileiro, em que são raras as imagens de cidades anteriores ao século XIX, a recuperação da arquitetura colonial muitas vezes opera por meio de uma imagem idealizada que toma por analogia edifícios similares de outras regiões ou lugares. Dá o exemplo da Capela do Padre Faria, em Ouro Preto, refeita não pela descoberta de sua planta original, mas segundo o modelo da capela contemporânea de S. João Batista. Evidentemente, o procedimento é controverso: refaz-se o passado com base numa ideia de linguagem arquitetura comum, que não é rigorosamente demonstrável.
Nesse contexto, como falar de uma Patrimônio arquitetônico comum aos países de língua portuguesa? Para um arquiteto como Lúcio Costa, há uma mistura de influência e de autonomia nos edifícios coloniais de modo que, no final, os modos de ser portugueses ali encontrados, diz ele, “foram sempre brasileiros” – o que naturalmente (digo eu, não o autor) trai um princípio nacionalista bastante duvidoso para ser aplicado ao período colonial.
Ao autor do estudo, entretanto, interessa mais destacar a existência de uma dialética entre influência portuguesa e mútua influência, na qual aos modelos somam-se soluções autônomas (como a casa de taipa de pilão paulista) e adaptações locais de soluções trazidas de Portugal.
Fecha o volume o texto de Walter Rossa, um dos organizadores do volume e professor do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra. Após considerar que apenas culturas urbanas sobrevivem e que o mundo em 2008, pela primeira vez, tornou-se mais urbano que rural, o grande desafio é produzir uma alteração de paradigma que permita evoluir de um estado cada vez mais comum de aglomeração para uma nova conceptualização de cidade, capaz de a reinventar como ecossistema ideal.
Para isso, julga que será preciso observar a complexidade total do fenômeno da cidade, que hoje vai muito além do antigo limite muralhado ou da ordem disposta a partir do centro. Os processos de urbanização, que têm a ver com a construção física mas também com a vivência das gentes, admitem um estudo em tríade, composta de estrutura (parte mais perene), forma e imagem (a mais volátil), concentrando na primeira as ações mais comuns do Patrimônio.
Após considerar que a Unesco, em 1972, passou a incorporar uma vertente urbana associada à noção de paisagem (tanto natural como cultural), a área ganhou um alento interdisciplinar, consolidado em 1992, com a categoria de “paisagem cultural”, que ultrapassa a noção de centro histórico para representar sítios culturais articulados à vida presente e não apenas à ruína arquitetônica. No entanto, para o autor, os doutrinários da Unesco são apegados a clichês patrimoniais que impedem um salto epistemológico que descolaria a noção de Patrimônio das teorias de conservação e restauro de bens artísticos autônomos, sem nexo com o território e a cidade. O salto, até agora, tem-se dado em torno do conceito de paisagem urbana histórica, ou HUL (Historic Urban Landscape), aprovado apenas como “recomendação”.
Trata-se de uma evolução da ideia de Patrimônio urbanístico, pois possibilita uma abordagem integradora do patrimônio com a cultura e o dia a dia dos cidadãos. Um conceito desse tipo pode também ser aplicado a comunidades distintas, mas com afinidades culturais, como as de influência portuguesa. No entanto, diferentemente de entender essas comunidades como projeção colonial da cultura europeia, o HUL concebe formas de expressão comuns de um conjunto cultural com matizes diversas, valorizando as suas contaminações, e em franca oposição à exclusiva remissão delas às regras de um modelo fundador.
III
Isto dito, e tendo-me já desculpado de antemão pela inépcia de minhas traduções de tantos trabalhos, cuja intensidade não deveria senão aplaudir agradecido e depois calar-me, não me furto, porém, a deixar aqui três questões breves que, ademais, são uma forma de agradecer intelectualmente o grande trabalho testemunhado pelo livro ora lançado.
A questão da teoria
A primeira diz respeito ao fato de que, entendido como está sendo feito aqui, o Patrimônio tende, em certa medida, a desmaterializar-se e, por isso mesmo, passa a exigir uma teoria, ou a depender de uma teoria. Não se trata mais de conservar obras particulares, com qualidade estética ou histórica, mas de formular um campo teórico em que o patrimônio se reinventa, estendendo-se das obras aos conceitos, mais que dos conceitos às obras. Isso é perfeitamente lógico no contexto atual, mas é também ineludivelmente problemático, já que a própria interdisciplinaridade proposta aqui é, antes de mais nada, transferência das disciplinas para um espaço de modelagem teórica, em que a prática delas perde passo para a conceitualização metalinguística e metateórica.
Se essa operação de modelagem é produtiva e pode levar a dissolver vários enganos da política patrimonial do passado, é também um processo de abstratização do patrimônio, que, em determinados momentos, parece depender mais da imaginação do estudioso que da existência histórica das formas e estruturas. E o problema da imaginação do estudioso é que ele imagina por paradigmas redundantes, de tal forma que a teoria é ao mesmo tempo nova e repetida.
Não fiz um levantamento estatístico, mas é evidente que alguns autores comparecem sistematicamente no livro. E um bom autor pode ser bom, claro, mas muitas vezes um mesmo bom autor pode ser redundante ou dar a impressão de que é pouco o que se tem efetivamente à vista ou nas mãos. Acaba dando uma cara comum a uma invenção que, para ser real, precisa ser selvagem, em alguma medida, isto é, enfrentada no corpo a corpo, a cada vez, pelos diferentes pesquisadores, cujas armas interpretativas são mais fortes conforme se ajustam a sua própria experiência e estudo. Uma grande teoria brandida dezenas de vezes pelos pesquisadores mais diversos, em relação a objetos igualmente diversos, dá a impressão menos da força dessa teoria do que do exame exíguo da singularidade da obra.
A questão dos estudos culturais
Além da precedência teórica, os estudos deixam entrever uma perspectiva culturalista, usualmente edificante, isto é, que mostra boa vontade geral diante das relações assimétricas entre os povos recobertos pela ideia de influência portuguesa, e que favorece quase como parti pris as ideias de multiplicidade, pluralidade, diferença etc. Esse é um problema que diria que é inerente aos estudos culturais, e que comprometem as teses pós-colonialistas: nascem de perspectivas que têm um grande sentido de justiça e de ética do tratamento das diferenças e pluralidades das diversas comunidades, mas, no final das contas, além ou aquém dessa boa vontade, estão as obras, as cidades, as culturas, que em geral existem na contradição, na concorrência por vezes insolúvel entre as partes, e, mais ainda, no terreno minado da globalização.
Se é óbvio que todos esses trabalhos não querem bater bumbo para o passado nacionalista, também é importante que não incorram numa espiral de idealismo que se desprenda do solo duro em que todos vivemos e no qual invariavelmente predominam políticas muito parciais, senão muito toscas. Ou seja, se não queremos mais que a questão do Patrimônio seja uma epopeia do colonialismo, temos de estar muito atentos para não fazer dos estudos pós-coloniais uma épica da globalização, como suspeito que usualmente fazem os norte-americanos.
A questão estética
Por fim, um terceiro e talvez o ponto mais importante que deixaria aqui para ser pensado é que é evidente o recuo da estética nessa nova perspectiva integradora do Patrimônio. Se cresce a atenção aos direitos e diferenças, diminui na mesma intensidade a nossa capacidade crítica de avaliação do que se postula como diferente. Pois que categorias seriam adequadas para um juízo estético – e como sequer postular a noção de valor advinda de uma experiência estética — quando o patrimônio se associa sobretudo à criação de comunidades plurais com direito a partilhar um espaço até então ocupado exclusivamente pelas culturas de um centro hegemônico que nunca foi nem um pouco compreensivo?
Desse ponto de vista, fico pensando, incomodado, se o custo das teorias da partilha deve significar necessariamente o sacrifício do estético, do objeto, e, enfim, da forma (pois os conteúdos se dobram mais facilmente ao bom mocismo). Quando a forma – esta, que é o cerne de qualquer questão artística que não se esgote nas conciliações culturais edificantes – deixa de ser decisiva, pode-se ter comunidades de direito, sociedades justas e que convivem bem, mas desgraçadamente já não há Patrimônio artístico.
Nesse caso, para encerrar, gostaria de ecoar aqui a consideração da autora que reivindicou para o cinema moçambicano não uma etnografia, mas uma cinematografia: não a admissão do testemunho de uma memória coletiva em extinção, mas realmente a construção de um cinema contemporâneo, que, por isso mesmo, tenha direito a receber um juízo crítico como qualquer outro cinema. Nesse caso, se o julgarmos digno de ser proclamado mau não será um gesto de reconhecimento maior do que o julgarmos bom por condescendência ou por amor ao folclore?
São questões graves, que formulo não como crítica direta aos ensaios que tentei apresentar aqui, mas como desdobramento do momento tumultuado em que vivemos de que o Patrimônio, prova-o sobejamente o livro, revela justamente seus impasses, contradições e dilemas mais entranhados.
Recebido: 21 de Maio de 2016; Aceito: 14 de Junho de 2016
Alcir Pécora é Professor Titular de Teoria Literária na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 1A. Tem Mestrado em Teoria Literária, pela UNICAMP (1980) e Doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP (1990). Livre-docente, pela UNICAMP, em 2000. Pós-doutorado no Dipartamento di Studi Romanzi della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2004-5).
[IF]
Capitalismo tardio e os fins do sono – CRARY (A-EN)
CRARY, Jonathan. 24/7 – Capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: Cosac Naify, 2014. Resenha de QUEIROZ, Luciana Molina. Alea, Rio de Janeiro, v.18 n.3, sept./dec., 2016.
No primeiro episódio da série da BBC Black Mirror, chamado The National Anthem, o primeiro ministro britânico é chantageado pelos sequestradores de um membro da família real e obrigado a realizar em rede nacional um ato absolutamente constrangedor e degradante, sob a pena de ser responsável pela execução da Princesa Susannah caso não cumprisse as exigências por eles colocadas. Enquanto todos os habitantes do país são mostrados em torno de televisores acompanhando de maneira horrorizada a coragem e decisão do primeiro ministro, a Princesa anda por ruas completamente desertas, sem que ninguém fosse capaz de constatar que ela já havia sido liberada por seus raptores. O argumento dos sequestradores (e, portanto, do episódio) é um dos aspectos mais interessantes abordados por Jonathan Crary em seu livro 24/7 – Capitalismo tardio e os fins do sono: o modo como experiências de gerações inteiras são completamente moldadas a partir da programação da cultura de massa. Um grande evento, como a Copa do Mundo, e mesmo as grandes tragédias, como a morte de um ídolo pop ou o recente ataque ao Charlie Hebdo, assim como a catástrofe do 11 de setembro, são exibidos e acompanhados com viva atenção em escala global. Nesse sentido, a história pessoal de um indivíduo é filtrada por aparelhos.
Tal como Black Mirror, o ensaio de Crary por vezes parece ficção científica. O próprio autor admite que parte de casos extremos para demonstrar a relação entre sono e capitalismo tardio, tais como acidentes industriais noturnos que vitimaram várias pessoas enquanto dormiam. Esses exemplos, que parecem parte de uma distopia ou de um cenário catastrófico num universo cyberpunk, podem facilmente levar o leitor de simpatias tecnofóbicas a desejar voltar a um mundo basicamente pré-capitalista e rural, no qual máquinas não mediavam nossas vidas. É verdade que, hoje, a tecnologia é tão bem aceita dentre os habitantes da cidade grande que qualquer crítica a ela sempre está sob suspeita de ter motivação conservadora ou nostálgica sem mais. Por isso, é vital estarmos alertas à identificação da agenda política e das bases teóricas em que se firmam as críticas à técnica. É necessário lembrar, por mais trivial que possa parecer, que a crítica marxista em geral deixa claro que se opõe ao uso da técnica feito pelo capital, e não à técnica por si, algo ambivalente no discurso de Crary, por vezes mais ansioso em denunciar a alienação do sujeito derivada da dissolução das noções de comunidade e pertencimento existentes nas sociedades tradicionais do que propriamente em esmiuçar a coisificação do sujeito em uma sociedade em que o capital adquire inúmeras vantagens quando aliado à técnica.
Apesar dos exageros de tom apocalíptico, algo subjaz de terrivelmente verdadeiro na exposição de Crary: a preocupação com a tendência do capitalismo a tudo colonizar e instrumentalizar. “Existem agora pouquíssimos interlúdios significativos na existência humana (com a exceção colossal do sono) que não tenham sido permeados ou apropriados pelo tempo de trabalho, pelo consumo ou pelo marketing” (CRARY, 2014: 24), argumenta. Há, então, incompatibilidade entre as demandas do mercado e as necessidades de uma vida humana saudável. Em uma época marcada pelo estranhamento e pela reificação, em que se sedimenta a crença de que não se pode encontrar prazer no trabalho, o tempo/espaço referente ao trabalho e o referente ao lazer são reinseridos em um continuum, talvez ainda mais pernicioso, posto que ainda se caracteriza pela alienação, e não tem ruptura ou escapatória. Nesse sentido, compreendemos as altas taxas de adoecimento físico e psíquico exibidas pelos professores universitários. Não só porque também se encontram subsumidos nesse mesmo imperativo categórico do publish or perish, mas também porque a mercadoria-fetiche por excelência do acadêmico, o conhecimento, e suas configurações em livros, cursos on-line e transmissões ao vivo do evento sobre comunismo em Bogotá ou Istambul parecem multiplicados pelas indicações realizadas pelos bancos de dados das lojas online e pelas atualizações das redes sociais. Em meio a curtidas de fotos do bebê do colega de trabalho, aparecem para ele inúmeras indicações de leitura. A todo instante se exige do acadêmico que esteja up-to-date, e em seus aspectos regressivos isso implica que ele deve se inteirar das novidades do mundo intelectual, sejam essas importantes ou frívolas. Faz parte do funcionamento da indústria acadêmica a existência de intelectuais pop star como o Žižek e de best sellers da economia como O capital no século XXI, de Thomas Piketty, pois eles são marcas da impotência do acadêmico para ignorar informações. Pertencer à comunidade acadêmica é algo que ironicamente reduz o tempo do intelectual junto às suas próprias inquietações teórico-existenciais, no corpo a corpo de seu objeto de pesquisa, e o reinsere na lógica capitalista – menos um intelectual autônomo e mais um autômato 24/7.
O horror da tese de Crary nos persuade porque mesmo o sono, esse último reduto do ser humano contra a produtividade capitalista, vem sendo progressivamente desguarnecido. Se há alguns anos o sonho ainda era visto como uma zona impassível de ser ocupada pelo capitalismo, o autor demonstra, através da análise da cultura de massas, que até ele aparece em filmes como A Origem, de Christopher Nolan, como algo passível de ser entendido por critérios de rentabilidade. É como se no imaginário popular já estivesse consolidado o desejo de eliminar o que Crary considera a última barreira para a expansão capitalista: o sono e o descanso. Isso o leva a empreender uma crítica a um só tempo corajosa e selvagem ao pai da psicanálise, que teria em sua primeira formulação a respeito dos sonhos afirmado que todo sonho é a realização de um desejo do sonhador (afirmação que ganharia um ad hoc quando Freud se colocou com a devida atenção a questão do sonho traumático). Para o estadunidense, essa formulação do sonho como algo existente somente como anseio individual, somada à crítica de Freud aos movimentos gregários em sua análise da psicologia das massas, teria acarretado graves equívocos teóricos e práticos. Freud nunca teve o interesse explícito e primordial de se comprometer com algum partido ou ideário político ao erguer as bases de seu trabalho. Mas Crary defende que subterraneamente haveria ali uma concepção de desejo ideologicamente favorável à manutenção desse estado de coisas, em que o privatismo dos gadgets pessoais se tornaria um sintoma externo do individualismo crescente. Para ele, “a privatização dos sonhos por Freud é apenas um sinal de uma supressão maior da possibilidade de seu significado transindividual. Por todo o século XX, pensou-se que os anseios estivessem ligados exclusivamente a desejos individuais – desejar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos ou férias” (CRARY, 2014: 118).
Contudo, ainda parece ser a psicanálise, aliada às ciências sociais, o principal ferramental teórico para se compreender o desejo individual manifesto no sonho como algo formulado no estado de vigília a partir de vivências historicamente situadas. Nesse sentido, é útil voltar à “indústria cultural”, conceito cunhado por Adorno e Horkheimer. Ao nos chamar a atenção para o grande número de experiências compartilhados pelas mídias, Crary poderia ter ido além, e especulado como que essas experiências também moldam desejos e, combinando aspectos da teoria dos sonhos de Freud e da exposição de Marx sobre o fetichismo da mercadoria, poderíamos então nos questionar se a indústria cultural, ao contrário do que ele pensa, já não foi capaz de entrar no terreno insondável do sonho, submetendo-o ao menos em parte à lógica do capitalismo tardio. Afinal, um aspecto comum ao sonho e à mercadoria é justamente o modo como ambos são expressão de um desejo. Ainda que as pessoas sejam capazes de se associar a padrões de consumo diversificados, é inegável que muitas necessidades são moldadas pelo fetichismo da mercadoria, esse “passe de mágica” pelo qual de repente nos vemos absolutamente ávidos em adquirir determinado objeto convencidos de que há nele algo capaz de mudar nossas vidas. A cultura de massas, que engloba a publicidade, a imprensa e os meios de comunicação, bem como suas trocas com a indústria do entretenimento e do lazer, participa de uma equação na qual os desejos individuais tornam-se cada vez menos idiossincráticos, tendo em vista que são em alguma medida formados por uma estrutura totalizadora que é recebida coletivamente. Se isso vem ocorrendo, então os desejos já são em certo sentido transindividuais – sem dúvida não do jeito que pretende Crary, mas sim a partir de uma massificação dos objetos desejados e da própria faculdade de apetecer, que também pode ter como princípio algum anseio de ordem local, nacional ou mesmo mundial. As grandes detentoras dos meios de comunicação que buscam influenciar politicamente uma eleição ou sugerir para o público como deve se sentir e pensar a respeito de uma manifestação política ou sobre a possibilidade do país sediar uma Copa ou as Olimpíadas são capazes de atestar isso. Torna-se claro, então, que a questão que deve ser colocada não é a de se é possível sustentar algum desejo coletivo, mas antes se deve ter como foco o modo como esse desejo pode se dar.
Se Crary não desejava que sua crítica aos meios de comunicação e novas tecnologias fosse confundida com mera tecnofobia, teria feito bem em especificar de maneira mais rigorosa as diferenças entre individualismo e individualidade, pois, diante de sua argumentação, por vezes temos a impressão de que a única solução para o que observamos seria voltar a um modelo de sociedade pré-moderna, em que não havia possibilidade para a constituição forte de sujeito. Falta a ele ter uma visão mais dialética da coletividade, pois em seu ensaio retorna como falta o principal impasse relativo à cultura de massas (já presente no debate marxista, e mais especificamente nas disputas entre adornianos e benjaminianos): a relação entre o individual e o coletivo. Apontada como contribuintes do individualismo social, a cultura de massas no entanto reproduz uma estrutura que é recebida coletivamente, e que tem força suficiente para em alguma medida homogeneizar as massas em relação a uma visão de mundo e a um comportamento a favor do capitalismo. O blockbuster hollywoodiano, por exemplo, não só nos provê firmes noções de beleza e de erotismo, como também as associa a objetos e mercadorias específicos, tornando-se assim uma instância capaz de formar desejos associados ao estilo de vida existente no capitalismo. O sujeito não só se autodefine e se comporta como um consumidor como também naturaliza esse comportamento. Marcuse inteligentemente disse que, no capitalismo de hoje, a indústria cultural muitas vezes viria a substituir a lei paterna. Como construir utopias e desejos coletivos se a cultura de massas justamente opera a partir da falta de autonomia individual? Trata-se de uma das tarefas fulcrais da práxis política hoje: construir uma coletividade que se baseie não num comportamento comumente associado às massas, de irracionalidade quase animalesca (no retrato de Freud) ou de rebanho (como já aparecia na obra de Nietzsche), mas sim num comportamento em que as individualidades, de egos fortes e críticos, não se tornem facilmente massa de manobra de uma personalidade carismática e autoritária, como demonstram os usos feitos pelo nazismo da técnica, mas possam antes se agregar em torno da construção de uma utopia comum de motivações emancipadoras.
Luciana Molina Queiroz. Mestra em Filosofia pela UFMG e doutoranda em Teoria e História Literária pela Unicamp.E-mail: [email protected]
[IF]
Modo “cartonero” de reprodução e circulação para a literatura (A-EN)
Modo “cartonero” de reprodução e circulação para a literatura. Resenha de: FANJUL, Adrián Pablo. Malha fina cartonera: novidade e projeto formador. Alea, Rio de Janeiro, v.18, n.2, p.369-374, ago. 2016.
Em agosto de 2015, em São Paulo, começou suas atividades uma nova editora independente: a Malha Fina Cartonera. Como seu nome já antecipa, trata-se de um empreendimento “cartonero”, que vem somar-se às centenas de selos editoriais desse tipo que surgiram no mundo, e muito especialmente na América Latina, desde o início deste século. No caso, Malha Fina Cartonera é iniciativa de professores e estudantes do curso de Letras de Universidade de São Paulo, sendo a professora Idalia Morejón Arnaiz e a pós-graduanda Tatiana Lima Faria suas inspiradoras iniciais e quem têm garantido um vínculo acadêmico para as atividades da nova editora. Encontramos Malha Fina Cartonera na web no seguinte endereço: <https://malhafinacartonera.wordpress.com/>.
Entrando ao blog da editora, podemos apreciar imediatamente o logotipo, criado com base na forma de uma folha de barbear. O desenho é do artista cubano Enrique Hernández. No blog lemos, a respeito, que
Tal como, de modo geral, as lâminas revelam as faces por detrás das barbas, inclusive às vezes revelam novas faces para rostos já conhecidos, a Malha Fina Cartonera pretende revelar para o seu público tanto escritores da FFLCH que permanecem inéditos quanto obras latino-americanas pouco conhecidas do público brasileiro.
Nosso principal objetivo aqui é resenhar o trabalho editorial de Malha Fina Cartonera, sua inserção na tradição das editoras denominadas “cartoneras” da América Latina, distinguindo de maneira especial seu projeto cultural focado na interseção dos universos linguístico-culturais hispânicos e brasileiros e destacando também o importante papel que esta iniciativa pode ganhar na formação de diversos profissionais, inclusive de educadores, no campo da linguagem.
Em 2002, em Buenos Aires, dá seus primeiros passos o que logo seria a editora Eloísa Cartonera. O poeta Washington Cucurto e o artista visual Javier Barilaro vinham trabalhando em um projeto de edição que já tinha o nome “Eloísa”. Para viabilizar economicamente as edições, começam a comprar o papelão (em espanhol, “cartón”) vendido por catadores que, na Argentina, são conhecidos como “cartoneros” porque recolhem e vendem papel e papelão. Cucurto, Barilaro, e os que participavam do projeto, compravam o papelão a um preço maior que o que pagavam as empresas que exploravam o trabalho dos catadores. A relação com os “cartoneros” e a participação deles no processo de produção dos livros foi crescendo, já que os editores montaram uma oficina onde os livros se armavam, encadernavam e pintavam artesanalmente. Assim surgiu “Eloisa Cartonera”, primeira editora com essas características, que começou a funcionar no início de 2003, em um local onde também se vendiam verduras e legumes. No início, se acrescentou a curadora de arte Fernanda Laguna.
Vemos, então, que o modo “cartonero” de reprodução e circulação para a literatura surge das condições do atual capitalismo nos espaços urbanos, porém, mais especificamente, dos processos de resistência (nas mais diversas acepções do termo) contra o neoliberalismo. Com efeito, “Eloisa Cartonera” não é imaginável fora do contexto de empreendimentos autogestivos que percorreram todas as áreas de economia na crise que levou à insurreição argentina de 2001 e cujas penúrias econômicas se prolongaram por alguns anos mais. Não apenas a rebeldia, mas sobretudo a criação de fortes redes solidárias caracterizaram esse histórico processo mediante o qual os argentinos deixaram atrás a desintegração provocada pelo neoliberalismo e recuperaram o crescimento econômico. Em relação à produção industrial de bens surgiram as empresas comunitárias geridas pelos próprios trabalhadores (PETRAS & VELTMEYER, 2002). Mas, como explica Palomino, os próprios movimentos massivos de assembleias de bairros e de desempregados que povoaram o espaço público desenvolveram, além do protesto, “huertas comunitarias, venta directa de la producción a través de redes de comercialización alternativas, elaboración y manufactura artesanal e industrial de productos frutihortícolas, panaderías, tejidos y confecciones artesanales e industriales, etc” (PALOMINO, 2003: 119). Sem dúvida, esse entorno de sociabilidade contribuiu para que se pudesse visualizar o possível ganho mútuo nessa iniciativa solidária específica que foi a edição “cartonera”.
Não casualmente, o manifesto de Eloisa Cartonera − que aqui citamos de sua reprodução em Akademia Cartonera: A Primer of Latin American Cartonera Publishers (2009) − começa localizando seu nascimento nesse contexto e determinado por ele:
Nació en el 2003, por aquellos días furiosos en que el pueblo copaba las calles, protestando, luchando, armando asambleas barriales, asambleas populares, el club del trueque, ¿se acuerdan del club del trueque?, ¡Cómo pasa el tiempo de este lado de la tierra! Por aquellos días, hombres y mujeres perdieron sus trabajos, y se volcaron masivamente a las calles en busca del pan para parar la olla, como se dice, y conocimos a los cartoneros. (BILBIJA & CELIS CARABAJAL, 2009: 57)
A editora, como fariam de modo geral as muitas cartoneras que depois surgiram, combinava alguns autores novos com textos inéditos de autores consagrados, alguns dos quais, como Ricardo Piglia, César Aira, Rodolfo Fogwill e Tomás Eloy Martínez doaram obras breves.
Nos doze anos que se passaram, as editoras cartoneras se multiplicaram rapidamente. Segundo dados no blog de Malha Fina, elas já existem em 21 países e há mais de 300 editoras do tipo reconhecidas na América Latina. No Brasil, a primeira cartonera foi Dulcinéia Catadora, fundada em 2007, em São Paulo, por Lucia Rosa e Peterson Emboava. De modo geral, a elaboração dos livros pelas cartoneras é artesanal e cada exemplar é pintado individualmente com tinta guache. Muitas cartoneras e os coletivos que as sustentam oferecem oficinas de edição, como é o caso também desta nova Malha Fina, que, como veremos, já organizou atividades desse tipo.
Quando foi criada a primeira editora cartonera do Brasil, “Dulcineia Catadora”, o nome “Dulcinéia” era o de uma catadora próxima dos fundadores. Porém, como eles não deixaram de perceber, é também remissão a uma figura memorável das literaturas hispânicas. É que a edição cartonera no Brasil mostra uma particular vinculação com os espaços de língua espanhola e uma indagação em determinadas relações possíveis entre os universos linguístico-culturais brasileiros e hispânicos. Concordamos a respeito com Flávia Krauss (2015), quem encontra na prática editorial cartonera um lugar propício para o “entremeio”, termo que adota de María Teresa Celada (2010) para significar as relações de proximidade e diferenciação incompleta entre ambas as línguas, e a vivência de instabilidade semântica de circular entre elas.
Não casualmente, um dos primeiros livros publicados por Dulcinéia Catadora no seu primeiro ano de funcionamento foi Uma flor na solapa da miséria, de Douglas Diegues, escritor que produz na forma interlingual que ele denomina “portunhol selvagem” (com instabilidade na grafia da própria denominação). Essa obra já tinha sido publicada em 2005 pela Eloisa Cartonera. Diegues, em 2007, deu início também a uma editora cartonera, Yiyi Jambo, que funciona na cidade de Ponta Porã, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E são numerosos, dentre os títulos publicados pelas cartoneras de países do Cone Sul, os que correspondem a traduções do espanhol para o português e vice-versa.
Nesse contexto, a aparição de Malha Fina Cartonera, por envolver em ampla proporção professores, pesquisadores e alunos da área de Espanhol da USP, promete ser um espaço que reflita e amplie esse lugar da edição como cenário privilegiado para diversas formas de relação, no discurso literário, entre os dizeres e as identidades linguísticas brasileiras e hispano-americanas.
Não é raro, para quem observa listas e coleções de editoras cartoneras, encontrar que algumas delas se desenvolvem no âmbito universitário ou em colaboração com grupos dessa extração. Embora não tenha sido essa sua origem, é compreensível que tenha acontecido esse direcionamento, já que a crítica acadêmica, marcada por uma relação com as práticas de pesquisa, tende a cumprir, em relação ao campo literário, um papel simultaneamente consagrador e desestabilizador, atento às novas formas de produção.
Malha Fina surge como uma das editoras cartoneras que começam no âmbito universitário. No caso, do curso de Letras da Universidade de São Paulo, e com uma forte interação inicial com um selo editorial (La Sofía Cartonera) vinculado à Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, com a qual a área de Espanhol da USP mantém diversos intercâmbios desde tempo atrás.
Já na seção “Quem somos?” do seu blog, Malha Fina Cartonera sinaliza essa relação com a universidade, vínculo que, mais que como institucional, se apresenta como o de um espaço de práticas letradas:
A Malha Fina Cartonera é um selo editorial que resulta de um desejo incessante pelo novo. Busca estimular a produção e vida literárias no âmbito universitário de modo não convencional e autônomo, proporcionando um espaço de atuação e mobilização dos estudantes de Letras. Nesse primeiro ano serão publicados autores latino americanos em traduções inéditas e também outros livros de autores vinculados à Universidade de São Paulo. Nossa equipe é composta por professores, alunos e colaboradores. Está sempre de capas abertas à espera de interesse e entusiasmo.
Malha Fina, nos seus cinco meses de existência, tem promovido oficinas sobre design editorial e sobre como editar livros cartoneros. Esse tipo de atividades, junto com as que necessariamente fazem parte de um projeto editorial, tais como a investigação literária, a tradução e a arte de desenho, têm, no âmbito universitário e sob a proposta de um modo de produção autônomo, uma grande potencialidade formadora sobre profissionais das letras e da linguística. Não apenas no campo da edição, também nos da tradução e do ensino das literaturas e mesmo das línguas, se levarmos em conta o modo como a diversidade linguística do espanhol e os sentidos que resultam de sua enunciação no espaço do português brasileiro podem fazer parte da materialidade dessa realização. Do lugar que nos cabe nas ciências da linguagem e na formação de professores de espanhol no Brasil, cremos que uma impronta “cartonera” pode contribuir grandemente para desestabilizar estereótipos sobre as línguas e culturas com que trabalhamos.
Não faremos aqui uma leitura crítica dos quatro livros já publicados por Malha Fina, dos quais há uma boa resenha no próprio blog da editora (SOUSA, 2015), mas os descreveremos brevemente.
O livro 22 poemas, de Fabiano Calixto, foi publicado em parceria com a já mencionada Yiyi Jambo, de Ponta Porã. É, como o próprio título indica, uma seleção de poemas desse autor de origem pernambucana, radicado em São Paulo, que já conta com vasta obra publicada, inclusive um livro pela editora Cosac Naify, e traduções do poeta dominicano León Félix Batista.
Também poesia, Pretexto para todos os meus vícios, de Heitor Ferraz Melo, autor de São Paulo embora nascido na França, apresenta textos inéditos. Ferraz Melo tem ao menos cinco livros de poesia publicados previamente, além de muitas colaborações com a revista CULT como crítico literário.
Outro dos livros, Os olhos dos pobres, de Julián Fuks, narrador conhecido por títulos como Histórias de literatura e cegueira (Record, 2007) ou o recente romance A resistência (Companhia das Letras, 2015), reúne dois contos: o homônimo e “O jantar”, que já foram publicados em espanhol em 2014 pela editora La Sofía Cartonera.
Diálogos e incorporações, de Juliano Garcia Pessanha, circula entre modulações literárias e ensaísticas no tipo de vozes que cria e põe em cena. Dividida em quatro partes, cada uma delas tem como centro de referência um escritor ou um filósofo. O autor tem sua obra anterior recentemente recopilada em uma edição de Cosac Naify, Testemunho transiente.
Para concretizar outra das suas ambições, que é divulgar produção literária de estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade de São Paulo, Malha Fina Cartonera realizou uma convocatória pública que está em andamento. Um comitê formado por reconhecidos críticos e editores selecionará duas propostas dentro das modalidades de poesia e/ou narrativa. As obras selecionadas serão publicadas em formato cartonero, inicialmente em cem exemplares.
Finalizando, embora Malha Fina Cartonera não seja a primeira editora desse tipo no país, é sim, a primeira que surge no âmbito dos estudos hispânicos no Brasil, e isso não é pouco. Sua potencialidade como espaço para mostrar relações pouco visíveis entre as línguas, literaturas e culturas da América Latina encontrará, sem dúvida, terreno fértil em uma Faculdade como a de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em especial na sua área de Espanhol, onde a experimentação, a reflexão e a pesquisa sobre esses “entremeios” já tiveram expressões pioneiras.
Por isso, cremos também que pode atingir uma boa projeção sobre o conjunto do hispanismo brasileiro e de modo geral sobre aqueles que, na universidade, tentam pensar a América Latina a partir das suas práticas literárias e culturais. Para sua abordagem no século XXI, é cada vez mais evidente que a modalidade cartonera deve integrar o repertório de estudos.
Referências
BILBIJA, Ksenija & CELIS CARABAJAL, Paloma (Ed.). Akademia Cartonera: A Primer of Latin American Cartonera Publishers. Winconsin: Paralell Press, 2009. [ Links ]
CELADA, María Teresa. “Entremeio español / portugués – errar, deseo, devenir”, Caracol, n. 1, 2010: 110-150. [ Links ]
KRAUSS, Flávia. “Sobre o entremeio: a escritura dos manifestos presentes em Akademia Cartonera”, Malha Fina Cartonera (blog), 2015. Disponível em <https://goo.gl/v8I03g>. Acesso em: 20 nov. 2015. [ Links ]
PALOMINO, Héctor; “Las experiencias actuales de autogestión en Argentina. Entre la informalidad y la economía social.” Nueva Sociedad, n. 184, 2003: 115-128. [ Links ]
PETRAS, James & VELTMEYER, Henry. Argentina: entre la desintegración y la revolución. Buenos Aires: La Maza, 2002. [ Links ]
SOUSA, Pacelli Alves de. “Coedições e outras considerações: Fuks, Pessanha, Calixto e Ferraz na Malha Fina”, Malha Fina Cartonera (blog), 2015. Disponível em: <https://goo.gl/E4Su7d>. Acesso em: 20 nov. 2015. [ Links ]
Adrián Pablo Fanjul é professor no Departamento de Letras Modernas da USP e doutor em Linguística pela Universidade Estadual Paulista, campus de Araraquara. É bolsista de produtividade nível 2 do CNPq. Publicou os livros Espanhol e português brasileiro: estudos comparados (Parábola, 2014), em coautoria com Neide González, e Português e Espanhol: línguas próximas sob o olhar discursivo (Claraluz, 2002), e, nos últimos anos, artigos nas revistas Bahtiniana, Cadernos de Letras da UFF, Lingua(gem) em Discurso e Letras de Hoje.
[IF]Huni kuin hiwepaunibuki: a história dos caxinauás por eles mesmos. La historia de los cashinahuas por ellos mismos – CAMARGO; VILLAR (BMPEG-CH)
CAMARGO, Eliane; VILLAR, Diego. Huni kuin hiwepaunibuki: a história dos caxinauás por eles mesmos. La historia de los cashinahuas por ellos mismos. São Paulo: Edições SESC, 2013. 304p. Resenha de: REITER, Sabine. Acabou o tempo dos mitos? Uma historiografia caxinauá moderna. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, vol.11, n.2, mai./ago. 2016.
O livro “Huni kuin hiwepaunibuki: a história dos caxinauás por eles mesmos” é uma coletânea trilíngue (em caxinauá1, português e espanhol) de textos com relatos sobre o passado remoto e mais recente dessa etnia indígena que vive na região fronteiriça entre o Brasil e o Peru. Foi organizado por Eliane Camargo e Diego Villar, uma linguista e um antropólogo, em colaboração com Texerino Capitán e Alberto Toríbio, dois caxinauás de diferentes comunidades do rio Purus, localizadas no lado peruano da fronteira. Com cerca de 2.400 integrantes, o grupo étnico no Peru é menos extenso em número do que seus mais de 7.500 parentes no lado brasileiro, mas – devido ao maior isolamento na primeira metade do século XX – todos ainda falam a língua nativa, comparados aos caxinauás brasileiros, entre os quais há uma parte que fala apenas português2.
Apesar da presença de missionários em suas aldeias, a partir dos anos 1960, os caxinauás peruanos também conseguiram manter viva maior parte da cultura tradicional, enquanto, no Acre, os caxinauás – que conviviam com uma população não indígena nos seringais desde a época da borracha – perderam quase por completo os antigos costumes. Foi nesse grupo peruano que Camargo começou a pesquisar há mais de 25 anos e, principalmente, entre 2006 e 2011, quando levantou e arquivou dados de língua e cultura desse povo no âmbito do programa Documentation of Endangered Languages (DOBES, 2000-2016), com projeto de documentação sediado no Instituto Max-Planck de Antropologia Evolutiva (MPI-EVA), em Leipzig, e na Université X de Paris, em Nanterre (DOBES, 2000-2016).
Neste livro, publicado em 2013, Camargo foi responsável pelas transcrições e traduções ao português dos textos orais, em boa parte provenientes do acervo digital do projeto DOBES. Villar, que é pesquisador adjunto do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas na Argentina e especialista de culturas pano, por sua parte, responsabilizou-se pela versão espanhola dos textos. Além disso, os dois organizadores restringiram-se a elaborar algumas frases introdutórias e comentários aos textos narrativos em notas de rodapé, onde explicam ao leitor o contexto narrativo, construções linguísticas e conceitos culturais. A escolha dos textos assim como a sua edição para formato escrito, no entanto, coube a uma equipe de jovens caxinauás, coordenada por Texerino Capitán, professor de escola bilíngue, e Alberto Toríbio, principal assistente de pesquisa do projeto DOBES. O livro, como informa Bernard Comrie, então diretor do departamento de linguística do MPI-EVA, na apresentação, é um dos produtos do projeto de documentação da iniciativa DOBES, que, através da perspectiva própria de um povo, “nos fornece uma visão diferente do mundo e a compreensão de nós mesmos” (Comrie, 2013, p. 23-25). Até hoje, é uma das poucas publicações que deixa falar – na sua totalidade – os próprios integrantes de um povo indígena amazônico.
O livro consiste em cinco partes principais. Nelas, os caxinauás informam sobre os hábitos dos seus antepassados, lembrados por alguns idosos e presentes na memória coletiva. Eles falam sobre os encontros com outras etnias pano, inclusive com aquelas encontradas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em 2008, celebradas pela mídia internacional como “os últimos selvagens”3, e sobre os primeiros contatos com os ‘nauás’, os outros, não indígenas de origem europeia. Relatam sobre as suas experiências em território alheio e nas grandes cidades, e sobre a história de migração e dispersão do próprio grupo, que se iniciou nos tempos míticos com uma briga entre o criador Txi Wa e seu parente Apu, e continuou com acontecimentos em consequência dos primeiros contatos com brasileiros nos seringais. O anexo que segue as partes principais do livro apresenta uma nota sobre a grafia utilizada e um léxico trilíngue extraído dos textos em caxinauá e de termos significativos.
As fontes das narrativas são diversas: cinco dos 25 textos provêm do livro “Rã-txã hu-ni kuï: grammatica, textos e vocabulário caxinauás. A lingua dos caxinauás do rio Ibuacú, affluente do Murú (Prefeitura de Tarauacá)”, de João Capistrano de Abreu (1914), o historiador brasileiro que – em inícios do século XX – montou uma primeira coletânea de mitos, textos históricos e de outros gêneros, em conjunto com dois jovens caxinauás da região do rio Murú, no Acre. A grande maioria dos textos é composta por depoimentos e memórias polifônicas, gravadas dos anos 1990 para cá, e informações obtidas por meio de entrevistas com pessoas mais idosas – todas do grupo peruano, um segmento da população caxinauá que fugiu de um seringal brasileiro no início do século XX. No Peru, esses caxinauás e seus descendentes viviam afastados da sociedade e só foram ‘redescobertos’ ao final dos anos 1940; contato que foi documentado pelo fotógrafo Harald Schultz, em 1951, constituindo um acervo de aproximadamente 80 fotografias, com imagens de uma pescaria e de uma festa.
Uma variedade de trabalhos desse fotógrafo teuto-brasileiro, mostrando cenas cotidianas daquela época, assim como imagens de objetos coletados por ele – que hoje se encontram no acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP) –, ilustra o livro, junto com fotografias recentes e desenhos feitos por integrantes do grupo especialmente para esta publicação. Entre eles encontramos os kene, grafismos tradicionais reproduzidos na tecelagem, na pintura corporal, em objetos e desenhos de cenas das narrativas, da vida cotidiana e de rituais. O que chama a atenção é que esses desenhos, produzidos em várias épocas, têm uma estilização própria: veem-se pessoas e objetos ‘deitados’ em uma vista de pássaro, para poder mostrar mais do que seria perceptível por meio do simples olhar de um espectador humano.
Todo o material recolhido neste livro foi selecionado pela equipe caxinauá, com o intuito de informar aos seus descendentes (filhos, netos) sobre a própria cultura, sendo veiculado na própria língua, a fim de manter viva a memória e uma identidade própria, como os dois colaboradores caxinauás escrevem no seu prefácio, que termina assim: “por esse motivo quisemos elaborar este livro. Dessa forma podemos todos juntos ler e aprender claramente a tradição” (Capitán; Toribio, 2013, p. 31). Ao mesmo tempo, o livro é um passo importante em direção a uma verdadeira participação dos povos indígenas na sociedade moderna através dos seus próprios discursos. Em uma época em que presenciamos ameaça cada vez mais forte à vida tradicional de povos indígenas em toda a América Latina, é essencial que um público maior tome conhecimento da história desse grupo, a qual reflete, de maneira exemplar, desenvolvimento ocorrido em muitos outros grupos, repetindo-se até hoje. Isso ocorreu desde o primeiro contato desses povos com a sociedade nacional, representada notadamente por bandeirantes/ coronéis, soldados da borracha, viajantes, missionários e pesquisadores, resultando em interferência cultural. Nas palavras dos caxinauás (traduzidas para o português), essa interferência se lê assim: “já nos tornamos nauás com suas roupas e comida. […] já não somos mais caxinauás! […] O governo diz que somos todos peruanos. É assim que falam” (2013, p. 227).
Ao mesmo tempo, a citação deixa bem claro que essa é uma visão de fora, a qual não reflete necessariamente a opinião do falante. A língua pano consegue expressar essas diferentes perspectivas de maneira elegante, através de marcadores de evidencialidade (no caso, -ikiki em akikiki, 2013, p. 226) que indicam, para os membros da comunidade de fala, o compromisso epistemológico com a informação dada. Essa técnica linguística pode até ser interpretada aqui como relevante indício de uma resistência clandestina e de uma mera adaptação superficial.
Uma atitude de ‘acostumação’, longe de ser assimilação por completo, também se manifesta em outro depoimento. Um caxinauá descreve como chegou a trabalhar como mecânico para um missionário americano: “um dia quebrei um parafuso e ele ficou furioso. […], achava que iria me bater. Achei isso porque me tratava assim. […] Depois eu me acostumei com ele. […] com suas palavras fortes” (2013, p. 203). Este trecho mostra mais um aspecto interessante do livro, a abertura para uma perspectiva intercultural: nós, os nauás, ficamos sabendo algo sobre como somos percebidos pelos caxinauás – como pessoas ameaçadoras pelo simples tom da voz! Ao passo que as narrativas exibem, em diferentes partes, uma visão caxinauá, o livro em si já é uma manifestação aberta da luta para a preservação de uma identidade própria.
Comparado com outras manifestações escritas na língua caxinauá, principalmente com a obra do grande historiador brasileiro do começo do século XX, este livro se destaca como marcador de uma mudança na percepção e no tratamento do elemento ‘indígena’ na sociedade. Enquanto o livro de Capistrano possui, sobretudo, relatos míticos, este é uma historiografia, em grande parte, de fatos vividos pelos caxinauás nos últimos 100 anos. Quem escolheu o material de “Rã-txã hu-ni ku-ï” foi o próprio Capistrano, tendo os dois caxinauás como fornecedores de informação e tradutores; aqui, os agentes principais são caxinauás, que selecionaram os textos baseados em critérios de informatividade a um público caxinauá atual e jovem4. Os textos de Capistrano também já eram traduzidos para o português na época, e existia uma explicação de ortografia destinada ao leitor brasileiro erudito. Porém, aquela tradução palavra por palavra deixou o texto original parecer ‘desajeitado’ ao leitor brasileiro monolíngue. Certamente, não fornece uma base para ser elaborada hoje em dia na educação bilíngue indígena, já que a ortografia desenvolvida pelo historiador autodidata em linguística não reflete bem a estrutura morfofonêmica da língua, não sendo legível para os caxinauás de hoje. A mesma crítica da ortografia inadequada pode se fazer a várias publicações recentes nessa língua indígena no Brasil. A maioria dos livros em caxinauá publicada, tanto no Brasil como no Peru, porém, é dirigida ao ensino nas escolas bilíngues, enquanto este livro pode ser de interesse de um público diversificado, mono e bilíngue, jovem e adulto, estudante e professor, leigo e acadêmico, voltado aos caxinauás e a cada pessoa que tenha curiosidade de conhecer outra perspectiva do mundo. Além de valorizar a cultura caxinauá, ele representa uma restituição ao grupo de coleta de relatos históricos, efetuada por pesquisadores, contribuindo igualmente para a difusão da diversidade do patrimônio cultural imaterial da Amazônia indígena.
Notas
1 O caxinauá pertence à família linguística pano.
2 Esses são os números oficiais do Instituto Socioambiental (Ricardo, B.; Ricardo, F., 2011, p. 12), que divergem consideravelmente de números informados em outras fontes, por exemplo, no site Ethnologue (Lewis et al., 2016). Segundo o Ethnologue, atualmente todos os caxinauás adquirem a língua nativa. Como o nível de conhecimento da língua indígena é uma questão política no Brasil, há diferenças entre os números oficiais em relação ao que se pode observar in situ.
3 Veja, por exemplo, Seidler; Lubbadeh (2008).
4 Neste contexto, pode-se questionar se o resultado realmente representa o ‘olhar caxinauá’, já que a equipe consiste de caxinauás escolarizados, parcialmente trabalhando na educação infantil, que, portanto, internalizaram um discurso padrão para texto escrito.
Referências
CAPISTRANO DE ABREU, João. Rã-txa hu-ni-ku-ï: grammatica, textos e vocabulário caxinauás. A lingua dos caxinauás do rio Ibuacú, affluente do Murú (Prefeitura de Tarauacá). Rio de Janeiro: Sociedade Capistrano de Abreu, 1914. [ Links ]
CAPITÁN, Tescerino Kirino; TORIBIO, Alberto Roque. Prefácio. In: CAMARGO, Eliane. VILLAR, Diego (Org.). Huni kuin hiwepaunibuki: a história dos caxinauás por eles mesmos. La historia de los cashinahuas por ellos mismos. São Paulo: Edições SESC, 2013. p. 31. [ Links ]
COMRIE, Bernard. Apresentação. In: CAMARGO, Eliane. VILLAR, Diego (Org.). Huni kuin hiwepaunibuki: a história dos caxinauás por eles mesmos. La historia de los cashinahuas por ellos mismos. São Paulo: Edições SESC, 2013. p. 17-19. [ Links ]
DOCUMENTAÇÃO DE LÍNGUAS AMEAÇADAS (DOBES). Cashinahua. A documentation of Cashinahua language and culture. [S.l.]: Projeto DOBES, 2006-2011. Disponível em: <http://dobes.mpi.nl/projects/cashinahua/?lang=pt>. Acesso em: 8 abr. 2016. [ Links ]
LEWIS, M. Paul; SIMONS, Gary F.; FENNIG, Charles D. (Ed.). Ethnologue: languages of the world. 19. ed. Dallas, Texas: SIL International, 2016. Disponível em: <http://www.ethnologue.com>. Acesso em: 8 abr. 2016. [ Links ]
RICARDO, Beto; RICARDO, Fany (Ed.). Povos indígenas no Brasil: 2006-2010. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2011. [ Links ]
SEIDLER, Christoph; LUBBADEH, Jens. Neuentdeckter Indianerstamm: “Das kann der Anfang vom Ende sein”. Spiegel Online, 30 maio 2008. Disponível em: <http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/neuentdeckter-indianerstamm-das-kann-deranfang-vom-ende-sein-a-556720.html>. Acesso em: 8 abr. 2016. [ Links ]
Sabine Reiter – Universidade Federal do Pará. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Literatura comparada. Reflexões – COUTINHO (A-EN)
COUTINHO, Eduardo. Literatura comparada. Reflexões. São Paulo: Annablume, 2013. Resenha de: SILVA, Maurício. Alea, Rio de Janeiro, v.18 n.1, jan./apr. 2016.
Professor titular de Literatura Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e de diversas universidades estrangeiras, além de membro fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), Eduardo Coutinho publica em 2013 um livro que, de certo modo, é uma espécie de continuação do livro que publicou há dez anos (Literatura comparada na América Latina: ensaios), como o próprio autor lembra em seu prefácio. Privilegiando aspectos do comparatismo literário na segunda metade do século XX e no contexto da América Latina, Coutinho elenca alguns textos publicados anteriormente em revistas acadêmicas ou coletâneas de estudos teóricos sobre o tema. Pode-se dizer que são três os temas principais analisados e discutidos pelo autor nesse seu novo livro: 1. o comparatismo literário em geral e suas relações com áreas afins (crítica literária, historiografia literária, tradução etc.); 2. a relação entre a Literatura Comparada e o advento do pós-modernismo/pós-modernidade; 3. a presença da Literatura Comparada na América Latina, problematizando essa proximidade.
Em relação ao primeiro tema, Coutinho destaca – em “Literatura comparada: reflexões sobre uma disciplina acadêmica” (2013: 11-31) – o fato de que a Literatura Comparada tem como marca fundamental o conceito de transversalidade, tanto em relação à fronteira entre nações e idiomas quanto em relação aos limites entre áreas do conhecimento. Retoma, nesse sentido, alguns momentos do comparatismo literário, como o de Guyard (La littérature comparée, 1951), com o predomínio dos binarismos da Escola Francesa ou o de Pichois e Rousseau (La littérature comparée, 1967); como o de Owen Aldridge (Comparative literature, 1969), com uma perspectiva mais abrangente, relacionada à interdisciplinaridade, da Escola Americana ou o de Henry Remak (Comparative literature, 1961). Para o autor, a noção de transversalidade, contudo, se faz mais explícita na inter-relação da literatura com outras áreas do conhecimento, tendência que vem se ampliando cada vez mais atualmente. Trata-se, portanto, de uma das principais preocupações teórico-metodológicas dos pesquisadores da área, repercutindo, no presente, a contribuição dos Estudos Culturais e Pós-Coloniais no campo do comparatismo, que desvia a ênfase no literário (ainda presente mesmo na Escola Americana) para outras áreas do saber: hoje, pode-se dizer, prevalece um sentido de interdisciplinaridade entre culturas.
Já em “Criação e crítica: reflexões sobre o papel do crítico literário” (2013: 99-108), Coutinho trata do papel e da natureza da Crítica Literária, afirmando que “é possível intuir-se até certo ponto a qualidade de uma obra, mas não estabelecerem-se critérios objetivos de avaliação” (2013: 101). Essa situação se torna mais evidente com questões trazidas pela pós-modernidade, levando a Crítica a “mergulha(r) em terreno pantanoso, sem parâmetros definidos” (2013: 104), resultando numa “espécie de relativização segundo a qual os critérios de avaliação passam a oscilar de acordo com o olhar adotado e o locus de enunciação do estudioso” (2013: 105). Reflexões análogas a esta o autor faz em relação à tradução, quando – em “Literatura comparada e tradução no Brasil: breves reflexões” (2013: 109-119) – lembra que a tradução vem sendo tradicionalmente considerada uma atividade secundária, situação que sofre significativa transformação com o advento dos Estudos Culturais, os Estudos Pós-Coloniais e a Desconstrução: a Tradução (ou o que passou a se chamar Estudos de Tradução) torna-se mais valorizada, destacando diferenças históricas e culturais, rompendo com a hierarquia entre o original e o traduzido: “dentro dessa perspectiva, traduzir se torna estabelecer um diálogo, e não apenas no nível linguístico, mas principalmente no nível cultural” (2013: 112); ou quando lembra – em “O comparatismo nas fronteiras do conhecimento: contradições e conflitos” (2013: 121-133) – que, ao contrário da lógica iluminista, a pós-moderna considera o conhecimento como algo instável, desqualificando a noção de fronteira e a compartimentação de saberes e valorizando noções como as de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade e, finalmente, colocando em xeque o “privilégio concedido ao texto literário” (2013: 123) pelo comparatismo tradicional. Amplia-se, assim, a reflexão em torno da produção literária, incentivando suas relações extrínsecas com contextos históricos, sociológicos, psicológicos etc. e promovendo o diálogo com as demais disciplinas: “as fronteiras, embora tênues, que ainda marcavam o comparatismo foram amplamente esgarçadas, e a disciplina [Literatura Comparada], além de absorver elementos de outras e de prestar subsídios a suas elaborações, tem-se erigido como espaço de reflexão sobre a produção, a circulação e a negociação de objetos e valores, contribuindo assim de maneira decisiva para a esfera mais ampla dos Estudos de Humanidades” (2013: 127). Tem-se, desse modo, que os princípios tradicionais do comparatismo literário foi combatido pelos Estudos Culturais, além de ter muitos de seus pressupostos questionados pelos Estudos Pós-Coloniais.
Em relação ao segundo tema, o autor – em “Revisitando o pós-moderno” (2013: 33-58) – começa distinguindo pós-modernidade de pós-modernismo, nos seguintes termos: “encaramos a pós-modernidade como um fenômeno geral, uma Weltanschauung, que implica uma série de transformações no panorama cultural ocidental, e o pós-modernismo como um estilo de época, marcado por traços mais ou menos definíveis, que refletem tais transformações” (2013: 34). O autor se propõe a abordar esses conceitos no contexto latino-americano (em particular, no brasileiro), tendo como eixo da discussão a tensão entre identidade e diferença. Lembra, por exemplo, que o Modernismo, ao se opor à representação realista, instaura uma crise da representação, conferindo à obra de arte uma autonomia que a dissociava do contexto histórico e a destituía de preocupações fora da ordem estética, ligando-se à racionalidade. Após a Segunda Guerra Mundial, essa perspectiva começa a apresentar sinais de exaustão, e a partir dos anos 50-60 seus pressupostos começam a ser colocados em xeque pelo que, depois, se convencionou chamar de pós-modernismo. A obra de arte, então, deixa de ser modelar, rompendo-se a separação entre o erudito e o popular e revalorizando o contexto histórico: “partindo da consciência de sua condição de discurso e do reconhecimento de seu caráter histórico, o pós-moderno põe em xeque princípios como valor, ordem, significado, controle e identidade, que constituíram premissas básicas do liberalismo burguês, e se erige como um fenômeno fundamentalmente contraditório, marcado por traços como o paradoxo, a ambiguidade, a ironia, a indeterminação e a contingência. Desaparece, assim, a segurança ética, ontológica e epistemológica, que a razão garantia no paradigma moderno e o pós-moderno se insurge como o reino da relatividade” (2013: 40). E completando:
O fenômeno pós-moderno se revela justamente naquelas obras em que se vislumbra uma pluralidade de linguagens, modelos e procedimentos, e onde oposições como aquelas entre realismo e irrealismo, formalismo e conteudismo, esteticismo e engajamento político, literatura erudita e popular cedem lugar a uma coexistência em tensão desses mesmos elementos. Utilizando-se da paródia e de outros recursos técnicos desestabilizadores, o Pós-Modernismo desestrutura figuras e vozes narrativas estáveis e problematiza toda a noção tradicional de conhecimento histórico, pondo em questão ao mesmo tempo todas as instituições e sistemas que constituem as fontes básicas de significado e valor da tradição estética ocidental. (2013: 41)
Analisando o fenômeno do Pós-Modernismo historicamente, Coutinho lembra que, nos anos 1960, ele se afirma como um movimento de contestação e irreverência, ligando-se aos movimentos de arte pop e, de certo modo, revitalizando alguns movimentos de vanguarda e dando-lhes uma roupagem mais norte-americana; nos anos 1970 e 1980, o conceito se alia a uma visão mais crítica da realidade, para, nos anos 1990, a participação de minorias conferir-lhe um sentido próximo da então chamada literatura pós-colonial (e, também, dos Estudos Culturais), retomando, além disso, a questão da representação e do sujeito, fazendo com que o Pós-Modernismo adquira um sentido mais político, na medida em que passa a contestar toda sorte de etnocentrismo. Para o autor, no contexto latino-americano, o conceito de Pós-Modernismo remete, principalmente, à produção artística pós-segunda metade do século XX.
Finalmente, em relação ao terceiro tema, começa tratando – em “América Latina: o móvel e o plural” (2013: 59-67) – do termo América Latina, desde a chegada dos europeus associado à ideia de colonização e, na sequência, vinculado a processos de independência e de afirmação de identidades locais. A ideia passa por algumas ampliações semânticas, incluindo o Brasil e, posteriormente, a América Central, caráter mais inclusivo que vai se afirmando também com as novas correntes teóricas de reflexão acerca da cultura (Nova História, Estudos Culturais, Estudos Pós-Coloniais etc.).
Em “Transferências e trocas culturais na América Latina” (2013: 69-84), afirma que a Literatura Comparada, desde o início, surge “como um conceito relacional, ou, melhor, como o estudo das relações entre produções literárias distintas” (2013: 69), diferenciando-se das literaturas nacionais por ter como objeto “produtos literários, e por extensão culturais, distintos, caracterizando-se como o estudo dos contatos, trocas, intercâmbios e embates entre tais produtos, ou, para colocar em termos mais acadêmicos, como o estudo, mais ou menos sistemático, dos diálogos entre culturas” (2013: 70). Após uma fase de ênfase quase que exclusiva no texto literário (como se verifica na Escola Americana), o advento dos Estudos Culturais ressaltou, no âmbito do comparatismo literário, aspectos mais gerais da literatura, contribuindo para “situar a reflexão literária num âmbito mais geral que diz respeito à cultura de uma ou de várias sociedades” (2013: 71). Essa postura contribui significativamente para uma compreensão mais larga da realidade latino-americana, quase sempre vista numa dependência da europeia, prejudicando leituras que a pudessem contemplar como um “espaço distinto do eurocentrismo” (2013: 73). É o que propõem teorias como as de heterogeneidade cultural (Cornejo Polar), culturas híbridas (Canclini), heterogeneidade cultural heterônoma (Brunner), pós-ocidentalismo (Mignolo) e outras, novos modos e novas estratégias de leitura diante de um espaço cultural plural. Nesse contexto, o atual papel da Literatura Comparada (não, evidentemente, a tradicional, que aborda as relações a partir do modelo europeu) torna-se fundamental, no sentido de promover “um comparatismo que permita o contraste entre distintas práticas sociais discursivas procedentes de culturas diferentes que convivem em um mesmo espaço-tempo” (2013: 89). Trata-se, assim, de um comparatismo que reconhece a existência de práticas discursivas próprias de contextos colonizados; reconhece, portanto, o conhecimento produzido pelo outro: “trata-se, em última instância, de um comparatismo situado no contexto de onde olhamos, que, ao contrastar as produções locais com as provenientes de outros lugares, instaure uma reciprocidade cultural, uma interação plural, que induz conhecimento a partir do contacto com outras culturas” (2013: 83).
Já em “Cartografias literárias na América Latina: algumas reflexões” (2013: 85-108), o autor afirma que a nova historiografia literária vem procurando formular um “discurso fundamentalmente plural, heterogêneo, representado por múltiplos sujeitos, que dê conta da diversidade dos universos representados” (2013: 86), desafiando os historiadores literários a produzir um relato inclusivo. Assim, o discurso nacional contemporâneo precisa ser um espaço de negociação e conversação pelos sujeitos que compõem o cenário da nação, sendo colocada em suspeição a ideia de uma versão oficial e única dos fatos. No âmbito da historiografia literária, portanto, “a busca da construção de uma história democrática da produção literária de uma nação [deve] passar necessariamente pelo questionamento [do] cânone [oficial], sobretudo com seus vieses excludentes e elitistas” (2013: 87). Nesse processo de redimensionamento da historiografia literária, os Estudos Culturais desempenham papel relevante, incluindo entre as preocupações daquela dos discursos e saberes, ultrapassando as fronteiras do que até então era considerado literário: “agora, ao lado do exame do texto, bem como dos gêneros, estilos e topos, que por tanto tempo alicerçaram as obras de História da Literatura, torna-se relevante também a análise do campo em que se produziu a experiência literária, e o contexto de recepção da obra é tratado com a mesma importância do de produção” (2013: 89). Nesse novo contexto, o discurso da historiografia literária passa a ser visto como uma construção: “Como são muitos os sujeitos sociais que passam a narrar a história, e esses sujeitos procedem de origens distintas, o idioma canônico deixa de ser a única forma de expressão de uma determinada comunidade, passando a aceitar outras linguagens, e rompendo-se, assim, com toda sorte de visão monolítica do real” (2013: 90). Nesse contexto ainda, em que a episteme pós-moderna coloca em xeque os discursos autoritários, a historiografia literária vem adquirindo uma nova face, que se organiza tanto no eixo temporal (substituindo uma noção de progressão/evolucionismo pela de simultaneidade) quanto no espacial (considerando regiões culturais até então excluídas do cânone), além de um alargamento das formas literárias, incorporando algumas tradicionalmente excluídas da historiografia (como o corrido mexicano ou o cordel brasileiro).
Por fim, em “Velhas dicotomias que se enlaçam: voz/letra, público/privado no universo latino-americano” (2013: 135-145), o autor trata, entre outras coisas, da reverência à cultura letrada no processo de colonização da América Latina (“A palavra falada, a voz, pertencia ao reino do inseguro e do precário; e a escritura, ao contrário, possuía rigidez e permanência, um modo autônomo que arremedava a eternidade”, 2013: 138).
Pode-se dizer que seu livro é uma consciente e bem fundamentada apologia dos ganhos e achados oferecidos ao comparatismo literário – em vários de seus níveis de atuação prática – pelas novas teorias que, na contemporaneidade, recebem a designação de Estudos Culturais e Pós-Coloniais e abordagens congêneres, dentro do que o autor chama de episteme pós-moderna.
Mauricio Silva possui doutorado e pós-doutorado em Letras Clássicas e Vernáculas pela Universidade de São Paulo. Professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação, na Universidade Nove de Julho (São Paulo), é autor dos livros A Hélade e o Subúrbio. Confrontos Literários na Belle Époque Carioca (São Paulo, Edusp, 2006); A Resignação dos Humildes. Estética e Combate na Ficção de Lima Barreto (São Paulo, Annablume, 2011), entre outros. É organizador da coleção de Literatura Brasileira Contemporânea, pela Editora Terracota, atualmente com três títulos publicados. Endereço para correspondência: Rua General Rondon, 44 – Ap. 10 – São Paulo – SP – 01204-010. E-mail: [email protected].
[IF]
Literatura e ética: da forma para a força – KLINGER (A-EN)
KLINGER, Diana. Literatura e ética: da forma para a força. Rio de Janeiro: Editora da Rocco, 2014. Resenha de ANDRADE, Antonio. A força ética de uma reflexão. Alea, Rio de Janeiro, v.17 n.2, july/dec., 2015.
O livro Literatura e ética: da forma para a força, de Diana Klinger – lançado pela coleção Entrecríticas (coordenada por Paloma Vidal) – situa, a meu ver, os leitores e pesquisadores da literatura contemporânea diante da problemática mudança de paradigmas que o declínio de valores éticos e estéticos da modernidade provoca. A passagem do campo da autonomia da obra de arte – do objeto literário, ficcional ou poético – para o “pós-autônomo” – termo utilizado por setores da crítica dedicados à reflexão sobre a produção contemporânea que se afasta das ideias de literariedade e autorreferencialidade do texto literário para aderir a um modo de escrita que se faz “em continuidade com os dados da realidade” (KLINGER, 2014: 41) – implica, para esta ensaísta, a necessidade de se repensar pressupostos teóricos que instrumentalizam o estudioso da literatura, com vistas a estabelecer uma rede de conceitos e estratégias de leitura capazes de funcionar como critérios de escolha e positivação de autores e textos.
Esse movimento do discurso crítico-ensaístico de modo algum é simples. Na verdade, constitui no texto de Diana um profundo empenho de ressubjetivação que se produz por meio de mecanismos de endereçamento, haja vista a mescla do gênero epistolar com o ensaio nas três cartas à amiga Luciana Di Leone, que marcam momentos fundamentais do livro: pela forte presença do autobiográfico na escrita crítica, configurada pela articulação da narrativa memorialística com a argumentação teórica ou analítica; pela construção de um lugar de autoria que joga, de maneira proposital, com referências dialógicas de ordens distintas ao desdobrar, por exemplo, reflexões em torno de poemas ou estudos críticos produzidos por amigos, alunos e colegas, ao lado de citações e discussões sobre Nietzsche, Adorno, Benjamin, Deleuze, Blanchot etc. Tal empenho não se produz, sem dúvida, isento de contradições. Ao buscar uma espécie de tom “menor” para seu ensaio, incorre na negação (psicanalítica) daquilo que se é, ou se deseja: “Os textos sobre esses autores não são de crítica literária nem têm essa pretensão. São anotações de pensamentos suscitados por essas leituras” (KLINGER, 2014: 14 – grifos meus). Não à toa, em alguns momentos centrais do texto, a autora não se vexa em assumir a enunciação assertiva, e até certas construções de caráter prescritivo, no afã de conduzir/persuadir seus leitores/destinatários: “A literatura não é uma força, mas é preciso transformá-la numa força” (ibidem: 191); “O que a poesia de Tamara encena é […]” (KLINGER, 2014: 107 – grifos meus). E, decerto, devido à percepção dessa contradição, enxerga a necessidade de modalizar suas formulações, que, se por um lado, “apostam” na recuperação ressignificada da ideia de resistência da literatura, por outro compreendem a relatividade do alcance da potência discursiva do literário – a qual parece advir de sua própria fragilidade: “Talvez seja possível, no entanto, apostar numa forma de resistência mais ‘fraca’ ou sutil” (KLINGER, 2014: 162).
Buscando através dessas sutilezas uma forma de expressão crítica que se coadune à ideia de crise, Diana tenta em seu texto configurar, retomando Barthes, o lugar tensivo de uma meia distância, isto é, de um distanciamento crítico “que não quebre o afeto” e que seja atravessado pela “delicadeza” (KLINGER, 2014: 118). Isso significa, em outros termos, ruptura com os valores de objetividade e frieza que tanto o estabelecimento de critérios de correferencialidade e padrões esteticistas canônicos da arte autônoma quanto os parâmetros generalistas da aparente “chave de leitura” concebida pela perspectiva pós-autônoma parecem projetar. Em oposição a eles, seu olhar crítico mobiliza-se em torno das ideias de singularidade, diferença e excepcionalidade, locupletando, por sua vez, o forte anseio por modos “singulares” de expressão e de subjetivação configurados pelos discursos teóricos relacionados às questões do contemporâneo. Cito, como exemplo, sua justificativa para a eleição dos autores focalizados no livro (a saber: Cortázar, Barthes, Kamenszain e Bolaño): “Trago Bolaño aqui não apenas porque ele me ajuda a pensar a vivência do medo. Também porque ele, como os outros autores a que me referi antes, sugere em sua obra uma aproximação com a própria vida que não tem nada a ver com propostas performáticas e autoficcionais de sua geração” (KLINGER, 2014: 134).
Nota-se, então, que nesse recorte está embutida certa “queixa” – a meu ver, também, bastante necessária – em relação à replicação de modelos estéticos que se tornaram hegemônicos na literatura atual. Entretanto, não se pode negar que suas escolhas, pelo menos as mais aprofundadas, se assentam sobre nomes consagrados do passado e do presente, cujo valor já constitui uma espécie de “indubitável”. Desse modo, não haveria já um forte processo de singularização desses autores e de seus textos? Se concordamos que sim, é possível compreender, então, que a tarefa crítica é menos a de desvelar singularidades camufladas em meio ao “semsentido” – para usar um termo empregado pela ensaísta -, e mais a de mediar a relação de seus interlocutores com essas vozes “singulares”.
Outro ponto que se explicita na construção de seu critério eletivo é a importância da relação literatura e vida, que fomenta e atravessa toda a discussão em torno do afeto e da ética no livro. Tal relação serve-lhe de base para pensar a escrita “como uma prática ou ritual, uma forma de estar no mundo” (ibidem: 49), concebendo-a assim fora do modelo estético da representação. E, também, para pensar a leitura, ou melhor, o modo como o sujeito pode ser afetado pelos textos, aproximando pois literatura e leitor no complexo processo de procura do sentido da vida. A condição paradoxal, no entanto, dessa busca é que ela se faz justamente negando tudo aquilo que se considera banal, tudo que estaria submetido à ordem do capitalismo cultural, ou preso às diretrizes da “sociedade de controle”, para usar um conceito deleuzeano discutido pela autora. Nesse sentido, a afirmação da vida, bem como a inscrição da ética no âmbito da imanência – de acordo com os pressupostos filosóficos que engendram aí a articulação entre Spinoza, Nietzsche, Foucault, Deleuze e Guattari – interpelam intelectuais como Diana a assumir um posicionamento contradiscursivo, avesso ao funcionamento comum da linguagem e aos dispositivos habituais de produção dos sentidos – sobretudo os que se ligam ao poder midiático.
“Da forma para a força” é a formulação postulada já no subtítulo da obra para sinalizar o movimento de passagem de uma instância de reflexão sobre o biopoder para a proposição de uma biopotência afirmativa: força de resistência não imobilizada pelo espectro das representações, e sim propulsora de “práticas alheias aos modos de subjetivação estatal” (KLINGER, 2014: 81), com o intuito de “construir um plano de consistência para afetos que não estejam atravessados pela axiomática da troca” (KLINGER, 2014: 71). O trajeto argumentativo de Literatura e ética é, portanto, o de afirmação desse lugar singular da potência: o que seria, em si mesmo, já uma atitude ética. Contudo, não só o fato de tal atitude ser pensada a partir da dicotomia entre gestos especiais, repletos de “intensidade”, e práticas cotidianas, ainda mais esvaziadas de sentido se vistas com as lentes desta ótica filosófica, mas também a consciência de um iminente fracasso da literatura nesse intento de criar e difundir práticas que liberem o desejo, os afetos e as relações dos aparatos culturais e discursivos que os (re)capturam a todo instante, deslocam qualquer grau de certeza em relação à noção de ética para o espaço de um interrogante: o que é ético? Esta atitude é realmente ética?
Percebe-se, em diversos momentos do texto de Klinger, a dimensão problemática dessa dúvida. Não à toa, no capítulo “O remorso da literatura” assinala-se a questão da culpa como aporia constitutiva tanto da arte autônoma quanto da pós-autônoma. Já em “O sentido da escrita”, a ensaísta trata de dar sustentação teórica à afirmação da ideia de potência e à aposta na literatura como forma de promessa, que, conforme demonstra sua releitura de Benjamin, deve ser contínua e simultaneamente desauratizada e apropriada como meio de busca do sentido em face do vazio e da banalidade. A construção dessa perspectiva, que para alguns leitores pode soar como demasiado positiva, é dialetizada pelo capítulo “Em nome próprio”, em que, por meio da incursão no terreno autobiográfico, tensamente relacionado à leitura de Tamara Kamenszain, Diana produz uma interessante reflexão a respeito das noções de fuga, esquecimento e sobrevivência, chamando a atenção para as possibilidades de proposição de novos agenciamentos políticos a partir da perda.
Todo o desenvolvimento dessa discussão parece impelir Diana a endossar uma visão filosófica negativa da ideia de comunidade, na clave de Bataille, Nancy e Blanchot. Isso é bem perceptível em “A comunidade em suspenso”, capítulo que, se por um lado revela grande fôlego teórico da autora/pesquisadora, não obstante conduz, por outro, a um fechamento da leitura, na medida em que desinveste os traços identitários que constituem os diversos tipos de arranjo comunitário de qualquer potencialidade possível, chegando a realizar afirmativas como: “o que os seres compartilham é a diferença que os singulariza” (KLINGER, 2014: 111). A meu ver, este tipo de frase tende a certa clicherização na esfera crítico-acadêmica. É preciso, portanto, ler nas dobras da contradição que esse discurso deixa escapar a produtividade da tensão entre fuga e pertencimento: note-se que, embora a ensaísta seja uma argentina radicada no Rio de Janeiro, suas escolhas afetivas de leitura nesse livro revelam a priorização de escritores também hispânicos – dois argentinos (Cortázar e Kamenszain) e um chileno (Bolaño) que, como ela, viveu durante muito tempo fora de seu país natal. E é justamente em “Queime os livros!”, capítulo onde analisa a obra de Bolaño, que o texto de Diana alcança grande capacidade de captura do leitor: após belo momento autobiográfico sobre a violência e o medo que ocupam suas memórias de infância e juventude na Argentina, a autora desenvolve a seguinte reflexão no bojo de sua leitura do romance 2666: “A literatura está imersa nesse território da violência, nesse deserto onde só cabe desaparecer; por outro lado, a literatura é o único território” (KLINGER, 2014: 140), reafirmando assim sua aposta no literário como espaço de potência ética.
Essa perspectiva ainda se desdobra no capítulo “Spinoza e a potência da literatura”, no qual se oferece ao leitor um bom estudo sobre os modos de recuperação e reverberação do pensamento spinoziano na filosofia contemporânea (Negri & Hardt, Deleuze & Guattari, sobretudo), e em “Uma pequenina luz”, capítulo em que chama a atenção para o caráter dúplice que o poder de resistência da literatura enceta: “força ambígua, ao mesmo tempo desmesurada e desesperançada. Essa frágil força do desejo” (KLINGER, 2014: 183-184). Porém, é sob essa luz pequenina, sob essa força frágil, que Diana ensaia o risco de uma escrita original e instigante, que, em vez de partir do prognóstico apriorístico da impotência do discurso literário na contemporaneidade, investe na indagação dessa potencialidade problemática, perguntando-se, ao longo de todo o percurso: “o que pode a literatura?” (KLINGER, 2014: 135).
Antonio Andrade – Professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua como docente permanente do programa de pós-graduação em Letras Neolatinas da UFRJ. Desenvolve pesquisas nas áreas de análise do discurso, formação de professores e literatura contemporânea. Publicou diversos artigos em livros e revistas acadêmicas, dentre os quais se destacam “Diálogos e tombeaux: Haroldo de Campos, Néstor Perlongher e Severo Sarduy” (Gragoatá, v. 31) e “Literatura e comunidade na formação de professores de Espanhol/LE (Abehache, v. 4). E-mail: [email protected].
[IF]
Monstros e arquivos. Textos críticos reunidos – ECHEVARRÍA (A-EN)
ECHEVARRÍA, Roberto González. Monstros e arquivos. Textos críticos reunidos. Organização e apresentação: GONZÁLES, Elena Palmero. Tradução de Ary Pimentel. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2014. Resenha de: GUTIÉRREZ, Rafael. Alea, Rio de Janeiro, v.17 n.2, july/dec., 2015.
A publicação pela primeira vez, no Brasil, de um conjunto de textos do crítico literário cubano e professor da Universidade de Yale Roberto González Echevarría permite ao leitor brasileiro um percorrido detalhado por autores, temas e obsessões críticas em torno da literatura hispano-americana, assim como algumas de suas conexões com a literatura espanhola.
De Cervantes a Severo Sarduy e Alvaro Mutis, passando por Calderón, Góngora, Lezama, Carpentier, Borges e García Márquez, os ensaios de González Echevarría aprofundam na análise textual das obras destes autores, revelando diversas interpretações, influências e conexões inusitadas. Embora seu enfoque seja, primordialmente, sobre as literaturas hispano-americanas e espanhola, tem um destaque especial sua aproximação a Euclides da Cunha e Os sertões, obra-chave em um de seus textos críticos mais conhecidos Myth and archive: a theory of latin american narrative (1990) e que, na coletânea agora publicada no Brasil, é novamente retomada no ensaio “De Sarmiento a Euclides: natureza e mito”.
Tal como aparece no título e é sublinhado pela introdução da professora Elena Palmeiro ao volume, esses dois conceitos, “Monstros e Arquivos”, funcionam como núcleos de atração que vinculam grande parte dos ensaios reunidos. Monstros, no sentido de figuras feitas de rasgos contraditórios e que se exibem, escritores e textos marcados pela sua excepcionalidade. Palmeiro lembra, nesse sentido, a expressão cervantina usada no prólogo a suas Comedias y entremeses, na qual Cervantes chama Lope de “monstro da natureza” para destacar seu talento dramático.
A figura do monstro é central no ensaio que González dedica à obra de Calderón A vida é sonho, mas também aparece ao falar de um personagem como Antônio Conselheiro. Em palavras de González Echeverría: “Como Facundo Quiroga, Antônio Conselheiro é um monstro, um mutante, um acidente. Seu caráter evasivo, como um objeto de observação e de perseguição militar por parte da República, deve muito a essa falta de antecedentes classificáveis” (ECHEVERRÍA, 2014: 245). E em outro lugar do livro em que o tom ensaístico do volume tende para a anedota e as intimidades da vida literária hispano-americana, Lezama é também retratado desde uma certa monstruosidade: “A gula desaforada e a resultante gordura, que o forçava a escrever sentado em uma poltrona, pois sua barriga não lhe permitia trabalhar confortavelmente em uma escrivaninha, davam a ele um aspecto monstruosamente ridículo” (ECHEVERRÍA, 2014: 216).
A apropriação particular do conceito de arquivo, como Echeverría explicita no prólogo ao volume, surge de seus estudos sobre o direito na Espanha e no Novo Mundo dos séculos XVI e XVII e se manifesta em seu ensaio sobre o amor e o direito em Cervantes, mas também em suas análises sobre as formas em que a própria materialidade dos recipientes utilizados para a atividade de arquivar se manifesta metaficcionalmente em obras centrais da literatura hispano-americana como El Aleph de Borges e Cien años de Soledad, de García Márquez.
Além da rigorosidade acadêmica que demonstra a escrita de González Echeverría, o livro está atravessado de maneira permanente por uma força afetiva e autobiográfica que permeia as análises e que se evidencia mais explicitamente nas cartas e homenagens póstumas que fazem parte da seleção de textos (cartas a Alejo Carpentier e ao economista cubano Carlos Díaz Alejandro, assim como textos de despedida para Severo Sarduy, Emir Rodríguez Monegal e Álvaro Mutis).
A amizade e proximidade do crítico com vários dos escritores estudados, especialmente com Severo Sarduy, assim como sua cercania com outros críticos destacados no contexto da literatura hispano-americana como o uruguaio Emir Rodríguez Monegal, fazem com que muitos dos ensaios de González Echeverría funcionem, eles mesmos, como uma sorte de arquivo afetivo e íntimo da vida literária e crítica hispano-americana da segunda metade do século XX. Expondo sua própria intimidade muitas vezes de forma expressiva e radical, o crítico parece atualizar aquela máxima de Oscar Wilde: “The highest, as the lowest, form of criticism is a mode of autobiography”.
Embora não seja seu eixo central, Cuba ocupa um espaço privilegiado nos ensaios de González, não somente pela importância que ocupam em suas análises os escritores cubanos, mas também em sua preocupação pela cultura popular e a formação da nacionalidade no ensaio intitulado “Literatura, dança e beisebol no (último) fim de século cubano”. O caso de Cuba, afirma González Echeverría neste que poderia ser considerado um ensaio de história cultural sobre as origens do danzón1e da prática do beisebol na ilha: “[…] pode fornecer lições para o estudo da emergência das nacionalidades modernas, que quase sempre são pensadas com base em atividades políticas e intelectuais, ignorando-se outras de caráter mais material ou físico, como os jogos, os rituais coletivos, as danças e até mesmo a cozinha” (ECHEVERRÍA, 2014: 276).
Cuba e a política é também um tema inevitável quando se trata de abordar a figura de Severo Sarduy. Neste caso, especialmente no texto de despedida que González dedica a Sarduy, publicado originalmente em 1993, o crítico deixa claro seu posicionamento de defesa do amigo frente aos ataques dogmáticos e homofóbicos sofridos por Sarduy nos anos 1960 e 1970 por parte de críticos próximos do regime.
No entanto, no ensaio em que analisa a obra De donde son los cantantes (1967), o crítico expõe seu sentimento de dúvida sobre o valor atual da obra de Sarduy, fazendo eco a alguns questionamentos que vinculam sua obra com uma cronologia específica (boom, estruturalismo, pós-estruturalismo) e mostra seu ceticismo frente a algumas das posições do escritor, especialmente seu entusiasmo lacaniano e sua rejeição de um autor como Alejo Carpentier. Parece-me que a tensão revela a tentativa de González de manter certo distanciamento crítico com a obra de Sarduy, ao tempo em que tenta compreender o fascínio que lhe produz e a sua influência na sua própria obra crítica.
Escrevendo precisamente sobre Sarduy, González declara um dos princípios centrais de sua prática leitora e crítica: “[…] ler obras modernas e contemporâneas como se já fossem clássicos, ler Sarduy como leio Cervantes e Shakespeare” (ECHEVERRÍA, 2014: 333). A seleção de textos reunidos em “Monstros e Arquivos” se configura nessa permanente oscilação entre autores clássicos e contemporâneos e a partir das conexões, continuidades e rupturas que o autor decifra na tradição literária hispano-americana.
***
Finalmente, quero destacar a relevância desta iniciativa, levada a cabo pela professora Elena Palmero, da UFRJ, e acolhida pela editora da UFMG, que permitiu reunir e dar a conhecer ao público brasileiro parte significativa do trabalho de um dos críticos mais reconhecidos no campo dos estudos literários hispano-americanos dos últimos anos, assim como a cuidadosa tradução do professor Ary Pimentel, que consegue manter em português a fluência narrativa e o ritmo da prosa de González.
Tomara que este tipo de iniciativas continuem se afiançando no âmbito editorial brasileiro, no sentido de promover a difusão do pensamento crítico hispano-americano com traduções em língua portuguesa. Um campo de intercâmbio que, historicamente, apresenta lacunas, desencontros e algumas reticências, mas que, acredito, configura um caminho produtivo e interessante a ser mais explorado e discutido. Gênero musical que, com o tempo, seria identificado com a música cubana.
Rafael Gutiérrez – Escritor, crítico literário e tradutor. Doutor em Estudos de Literatura da PUC-Rio e mestre em Literatura Latino-americana da Universidade Javeriana de Bogotá. Atualmente, realiza pós-doutorado no Departamento de Letras Neolatinas da UFRJ. É autor do romance Como se tornar um escritor cult de forma rápida e simples (Rio de Janeiro: 7Letras, 2013) e organizador do livro NósOtros. Diálogos literários entre o Brasil e a América Hispânica (Rio de Janeiro: 7Letras, 2010).
[IF]A persistência da memória. Romances de anterioridade e seus modos de transmissão intergeracional – BERND (A-EN)
BERND, Zilá. A persistência da memória. Romances de anterioridade e seus modos de transmissão intergeracional. Porto Alegre: Besouro Box, 2018. Resenha de MELLO, Ana Maria Lisboa de. Memória cultural e modos de transmissão nos romances contemporâneos das Américas. Alea, Rio de Janeiro, v.20 n.2, may./aug., 2018.
Memória e transmissão estão intimamente associadas: o processo fragmentário e sempre recomeçado da rememoração encontra seu sentido na transmissão.
Zilá Bernd
O livro A persistência da memória traz relevantes resultados de pesquisa da investigadora Zilá Bernd sobre as relações literárias interamericanas contemporâneas, o papel da memória, da genealogia e filiações no romance das duas últimas décadas, com reflexões teóricas sobre memória cultural. Bernd coloca em confronto diferentes abordagens teóricas de pesquisadores do mesmo campo de interesse, sobretudo francófonos, com destaque para o romance memorial (Régine Robin) e o romance de filiação (Dominique Viart; Laurent Demanze), adotando uma perspectiva comparada tanto no que se refere a reflexões dos teóricos com os quais dialoga, quanto no que diz respeito às obras literárias selecionadas como corpus para as suas análises.
A memória cultural, tal como apontam teóricos como Aleida e Jan Assmann e Andreas Huyssen, cujas ideias vêm ao encontro das reflexões da pesquisadora brasileira, não se refere apenas a dados armazenados em arquivos, mas inclui também tudo aquilo que escapa ao registro oficial, tais como o residual, o obliterado, o reprimido. De acordo com Bernd, a memória cultural incorporaria, portanto, o que foge do registro hegemônico do poder, com tentativas de construção de uma identidade nacional sólida e totalizante, e absorve os elementos da esfera do sensível e do simbólico, sendo que a sua construção depende da transmissão geracional.
O papel de transmissão fica explícito no ensaio autobiográfico de Régine Robin, Le roman mémoriel (1989), que reúne textos críticos e narrativas de vidas de pessoas que foram obrigadas a “silenciar, a esquecer e a reprimir para sobreviver” (BERND, 2018, p. 23), como o que ocorreu com a comunidade judaica. Observa a pesquisadora que Robin insere nesse livro uma passagem do seu próprio romance La Québécoite (1983), em que a personagem rememora nostalgicamente o que ela e a família faziam, quando refugiados na França, durante a ocupação nazista no seu país, a Polônia: os livros que liam, os exercícios de piano, objetos que decoravam a casa, fotos, entre outras lembranças. Enfim, trata-se de uma memória cultural polifônica e mais vívida no texto ficcional do que na escrita da História e em dados de arquivos.
No que se refere à questão da transmissão geracional, Zilá Bernd e Rodrigues Soares (2016), em artigo intitulado Modos de transmissão intergeracional em romances da literatura brasileira atual, já haviam assinalado que o romance memorial “[…] está […] associado à transmissão da memória cultural, à transmissão inter e transgeracional e à postura do sujeito narrador de assumir-se como herdeiro – para dar continuidade ao patrimônio memorial herdado – ou romper com ele”. (BERND; SOARES, 2016, p. 408)
Quase duas décadas depois da publicação do livro de Régine Robin, Dominique Viart centra-se no estudo dos romances denominados parentais ou de filiação, que são narrativas preocupadas com temática da ascendência, ancestralidade dentro do espectro do que se pode denominar “escritas de si”. Essa expressão introduz uma distância que afasta o perigo do egocentrismo e egotismo, em substituição a “escritas do Eu” (Georges Gusdorf). As escritas de si reúnem um conjunto de categorias, tais como autobiografia, diário íntimo, correspondência, memórias e a autoficção. Para Bernd, nas narrativas contemporâneas, a interioridade de narradores-protagonistas é marcada por uma volta ao passado – anterioridade – ancorada nas rememorações e reminiscências. Esse retorno aos ancestrais e às suas histórias, a partir de vestígios deixados por eles (fotos, objetos, cartas etc.), é na verdade uma necessidade de o eu-narrador “[…] promover a reconstrução de trajetórias vividas por seus ancestrais e, através desse processo, (re)significar e/ou (re)construir o presente”(BERND, 2018, p. 47).
Além da contribuição de Viart, para traçar o perfil do romance de filiação na contemporaneidade, Zilá Bernd destaca os aportes de Laurent Demanze que, em Encres orphelines (2008), retoma e discute o estudo de Viart sobre o romance de filiação, e acrescenta novas reflexões sobre as manifestações desse subgênero na ficção contemporânea. A pesquisadora aponta para o fato, assinalado por Demanze, que, por vezes, o passado do narrador de um romance de filiação é um capítulo vazio da memória que o sujeito tenta reconstruir por meio de pesquisas genealógicas e investigações imaginárias; entretanto, esse passado mostra-se inalcançável, de transmissão impossível, de modo que a relação do indivíduo contemporâneo com seu passado pode ser atingida pelo selo da perda.
Bernd assinala que o romance de filiação geralmente emprega os seguintes mecanismos de transmissão em relação ao passado: um empenho do narrador em recuperar e preservar a memória da história familiar, atuando como um porta-voz dos antepassados; um processo narrativo que revela uma memória envergonhada ou ferida, que rejeita o passado familiar e faz ajustes de contas; uma narrativa que introduz elementos novos pelo narrador, os quais dão margem a uma negociação com o passado e pode articular mais de um modo de transmissão.
Tanto o romance memorial como o de filiação se particularizam pelo caráter da “anterioridade”, já que para falar de si o narrador busca a figura de um ancestral, como pais, avós ou até um ancestral mítico. Em síntese, Bernd aponta as duas variantes do romance de anterioridade:
- Romance memorial, que seria uma faceta pós-moderna da saga, com ênfase na busca de vestígios, rastros, fragmentos olvidados no passado e que constituem a memória cultural, definida por Régine Robin como aquela feita ‘de pequenos nadas’ (BERND, 1989, p. 21);
- Romance de filiação (ou parental), variante da autoficção com a característica de usar o subterfúgio de focalizar a narrativa na vida de um ancestral (pai, mão, avós), numa perspectiva de ajuste de contas com o passado; neste caso, temos presença do que Laurent Demanze chama de ‘herdeiro inquieto e problemático’, que hesita entre reivindicar a herança paterna ou repudiá-la. (BERND, 2018, p. 25)
Na análise do corpus selecionado, relativo a obras ficcionais nas três Américas, de autores brasileiros, antilhanos francófonos e quebequenses, a pesquisadora aponta tendências comuns de escritores que pertencem a “comunidades de memória”, expressão de Pierre Ouellet, no livro Testaments (2012), para dar conta de contextos que, como o do Quebec, acolhem povos de diferentes países, com suas tradições e histórias. Essas passam a formar, juntos com os autóctones, uma memória múltipla e aberta a trocas. E Bernd cita depoimento de Ouellet, em entrevista de 2015 publicada na Revista Letras de Hoje, em que ele deixa nítida essa visão de partilha de diferentes memórias:
Não se trata de uma memória comum (coletiva) porque ela pertence a várias tradições, com diferentes histórias, desenvolvidas em diversos lugares, mas o fato de que pessoas de diferentes origens participem agora da sociedade quebequense faz com que vivamos em comunidade de memórias. (OUELLET apudBERND, 2018)
Assim, à luz de sólida investigação teórica, Zilá Bernd, em A persistência da memória, analisa obras de autores de comunidades de memórias que, em romances de filiação, partilham tradições, reminiscências, traumas, como romances dos brasileiros Moacyr Scliar, Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, Tatiana Salem Levi, Cíntia Moscovich, Adriana Lisboa e Eliane Brum. São objeto de análise também romances das quebequenses Louise Dupré, Catherine Mavrikakis e Francine Noël; e obras do escritor André Schwartz-Bart, que emigrou para Guadalupe. Além desses, nas passagens de reflexões teóricas, a pesquisadora cita outras obras, de autores que escreveram romances de filiação nas Américas, com narradores que interrogam o passado de seu núcleo familiar ou de algum predecessor, como forma de ajuste de contas.
Bernd observa que essas narrativas de filiação podem mesclar focos em primeira e terceira pessoas, como forma de recuperar um passado do qual o narrador não participou e, portanto, não foi testemunha, mas que, no entanto, pode ter sido decisivo para a sua existência atual. Percebe-se, nesses romances contemporâneos, alternâncias de focos narrativos, como recurso para iluminar a história do protagonista e abrir portas que permitam desvendar segredos, preencher lacunas da sua história. Nos romances analisados, a investigadora aponta para a preservação da memória cultural, construída “a partir dos restos e vestígios memoriais” (BERND, 2018, p. 160), indiciadores do passado.
As obras literárias, analisadas por Bernd bem como as que serviram de exemplo para suas abordagens teóricas, formam um corpus de pesquisa que inclui obras de escritores de famílias de imigrantes, que buscaram refúgio no Novo Mundo, as quais apresentam narradores que rememoram o passado dos ancestrais para compreensão de si mesmos, bem como de escritores autóctones, que dialogam com o passado para estabelecer uma continuidade geracional e preservar legados familiares. Nos dois casos, podem surgir narradores em conflito com o passado familiar – caso do “herdeiro problemático” de Demanze – que, através da escrita, procuram liberar-se de uma história pautada por angústias e sofrimentos. Para Zilá Bernd,
Os romances memorial e de filiação revogam de certa forma essa tendência da modernidade de arquivar seu passado. Destacando erros e acertos, encontros e desencontros dos ascendentes, a perspectiva transgeracional das narrativas de filiação recompõe áreas de sombra do passado e se constitui como estelas, marcos ou monumentos dedicados a essa ascendência. […] O romance de filiação, alimentando-se da memória cultural, pode dar as respostas que a perspectiva histórica não soube fornecer. (BERND, 2018, p. 156-157)
A persistência da memória é um título inspirado na tela do surrealista Salvador Dalí, de 1931, com “relógios derretidos”, que já não marcam a passagem temporal porque não estão em pleno funcionamento. Segundo Bernd, com a imagem dos relógios deformados, talvez “[…] o artista quisesse expressar que a noção de memória remete sempre à de esquecimento, sendo memória e esquecimento as duas faces da mesma moeda” (BERND, 2018, p. 16).
Trata-se de um livro que articula as mais recentes discussões teóricas sobre o romance contemporâneo de anterioridade – romances memorial e de filiação – e sobre a memória cultural, trazendo autores ainda não traduzidos para a língua portuguesa, e transmitindo informações imprescindíveis aos pesquisadores, incluindo estudantes da área de Letras, que participam de pesquisas que têm por corpus esse gênero ficcional.
Referências
BERND, Zilá ; SOARES, Tanira Rodrigues. Modos de transmissão intergeracional em romances da literatura brasileira atual. Alea: Estudos Neolatinos, v. 18, n.3, 2016, p. 405-421 [ Links ]
BERND, Zilá . A persistência da memória. Romances de anterioridade e seus modos de transmissão intergeracional. Porto Alegre: BesouroBox, 2018. [ Links ]
DEMANZE, Laurent. Encres orphelines: Pierre Bergounioux, Gérard Macé, Pierre Michon. Paris: José Corti, 2008. [ Links ]
OUELLET, Pierre. Testaments: le témoignage et le sacré. Montreal: Liber, 2012. [ Links ]
OUELLET, Pierre. Entretien avec Pierre Ouellet (Entrevista concedida a Ana Maria Lisboa de Mello, Zilá Bernd, Marie Hélène Paret Passos). Letras de Hoje, PUCRS, v. 50, n. 2, abril-junho 2015, p. 229-240. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/view/21342> [ Links ]
ROBIN, Régine. La Québécoite – roman. Montreal: Québec/Amérique, Collection Littérature d’Amérique, 1983. [ Links ]
ROBIN, Régine. Le roman mémoriel: de l’histoire à l’écriture du hors lieu. Montréal: Préambule, 1989. [ Links ]
VIART, D. Récit de filiation. In: VIART, D.; VERCIER, B. (éds). La littérature française au présent. Paris: Bordas, 2008. [ Links ]
Ana Maria Lisboa de Mello é graduada em Letras-Licenciatura em Português e Francês e respectivas literaturas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e Mestrado e Doutorado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na Área de Teoria da Literatura. Fez estágios de pós-doutoramento no Centre de Recherches sur l Imaginaire, na Université Stendhal, Grenoble III (1995-96), com bolsa do CNPq, na Sorbonne Nouvelle – Paris III (2004) e na University of Toronto (2013-2014), com bolsa CAPES. É membro associada ao Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL) da Universidade de Lisboa, e ao Centre de Recherches sur les Pays Lusophones (CREPAL) da Université de la Sorbonne Nouvelle. Tem experiência na área de Letras, subáreas de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura, com ênfase em poesia, narrativa, teorias e críticas do imaginário. Vinculou-se em 2017 ao Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas (PPGLEN), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e editora da revista Alea: Estudos Neolatinos. E-mail: [email protected]
[IF]
Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004) – DERRIDA (A-EN)
DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004). Organização de Ginette Michaud, Joana Masó e Javier Bassas. Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. Revisão técnica de João Camillo Penna. Florianópolis: Editora UFSC, 2012. Resenha de PIMENTEL, Davi Andrade, Alea, Rio de Janeiro, v.17 n.1, jan./june, 2015.
Gostaria de começar esta resenha pelo tom dado por Derrida a seus textos que compõem o livro Pensar em não ver. O tom é o modo pelo qual o escritor convida o leitor a participar de seu texto. O tom, por assim dizer, é um chamado que, segundo Derrida, ganha o contorno da palavra vem – é preciso dizer que essa palavra está desconstruída pelo escritor, está violentada, retomada, reprisada, maltratada para que possa significar o além-dela-mesma. No momento em que esses textos dizem vem, eles nos chamam a participar de uma experiência de escrita que retoma ou nos direciona a uma experiência sobre a arte visual em parceria com o escritor; experiência que se configura como um chamado que não nos diz vem por aqui ou por ali, que não nos garante nada e que nem mesmo nos faz uma promessa. É por nada prometer que cada momento de leitura desses textos se transforma em um acontecimento – ele próprio, o livro, é o acontecimento: “trata-se da viagem não programável, da viagem cuja cartografia não é desenhável, de uma viagem sem design, de uma viagem sem desígnio, sem meta e sem horizonte. A experiência, a meu ver, seria exatamente isso” (DERRIDA, 2012: 80). O vem é o tom de um chamado, é a experiência – esta, por sua vez, nos chega através da árdua tarefa do tradutor Marcelo Jacques de Moraes, com suas perdas e ganhos, tensionada entre a dívida e a criação, entre a língua a traduzir e a língua traduzida. Tarefa que faz ressoar o tom derridiano, um tom também a traduzir, já traduzido.
Desde o primeiro texto, “As artes espaciais: uma entrevista com Jacques Derrida”, o escritor expõe a importância do tom antes mesmo do conteúdo de seus textos, pois o tom é o que se apresenta primeiro no jogo de apostas da escritura, como também é a base para que esse jogo possa ser efetivamente jogado. O tom mantém com o texto e com o leitor uma relação de risco, de incitação, de excitação e de gozo, por isso a iniciativa de Derrida em pluralizar o tom, em escrever em vários tons, para que o seu texto não fique restrito a um só interlocutor: “Pergunto-me com quem estou falando, como vou jogar com o tom, o tom sendo precisamente o que informa e estabelece a relação” (DERRIDA, 2012: 42). Se não podemos negligenciar os suportes, os “debaixos” de uma obra de arte, como bem lembra Derrida no texto “Os debaixos da pintura, da escrita e do desenho: suporte, substância, sujeito, sequaz e suplício”, por ser o debaixo o suporte necessário para que a obra de arte possa ser tomada enquanto tal, não podemos negligenciar também o tom que age como suporte do texto apresentado pelo escritor, por todo e qualquer escritor: “qualquer que seja sua matéria, o corpo do suporte é uma parte indissociável da obra” (DERRIDA, 2012: 287).
Da composição dos textos derridianos de Pensar em não ver, o tom que se sobressai é o de uma certa familiaridade, ou melhor, de uma certa informalidade, no que essas duas palavras têm de um certo deixar-se à vontade, não apenas pelas entrevistas que recortam magistralmente o todo do livro, como costuras que reafirmam a relação entre escritor e leitor, mas, sobretudo, pelos textos corridos. Quando Derrida reflete sobre a pintura, a fotografia, o desenho, o teatro, a videoinstalação e o cinema, o tom dado a esses textos é o tom de uma familiaridade que rompe com a formalidade mais precisa que encontramos em outros textos seus. Tudo se passa como se o próprio Derrida estivesse em face do leitor para compartilhar com ele o seu pensamento sobre as artes do visível, sobre a sua potência impotente que a todo instante se faz presente quando lhe é pedido para falar/escrever sobre uma arte que não é a da escritura: “Estou muito feliz e honrado por me encontrar aqui, intimidado também porque, como os senhores verão, minha incompetência é real, e não é de modo algum por uma fórmula de polidez ou de modéstia que começo declarando-a, essa incompetência” (DERRIDA, 2012: 163).
Em Pensar em não ver, do convite do tom se passa ao convite em forma de pensamento que Derrida faz tão bem: “O pensamento é também pensável em um movimento pelo qual ele chama a vir, ele chama, ele nos chama” (DERRIDA, 2012: 75). Pensamento que convida a pensar a arte visual enquanto produto de uma invisibilidade que lhe é essencial. Derrida defende ao longo de seus 20 textos que a visibilidade tem como contraponto seu suporte invisível. Na verdade, o que nos é dado a ver é o invisível, não o visível. No texto “O Sacrifício”, dedicado ao teatro, Derrida diz: “Mas se, desde sempre, o invisível trabalha o visível, se, por exemplo, a visibilidade do visível – o que torna visível a coisa visível – não é visível, então uma certa noite vem cavar um abismo na própria apresentação do visível” (DERRIDA, 2012: 399). A própria luz que nos ilumina é invisível, a própria palavra que nos constitui homens é invisível, logo, somos todos feitos, desenhados, pintados, modelados, filmados a partir de nossa nudez invisível.
Do contorno invisível próprio a toda arte, Derrida elege a figura do cego como o modelo de sua concepção artística. No texto “Pensar em não ver”, o escritor compreende que, para existir o desenho, ou, de uma forma mais geral, para que a arte visual possa existir enquanto acontecimento singular e único, é preciso que metaforicamente o artista se cegue, é preciso que ele passe pelo processo do enceguecimento. Em uma das passagens mais brilhantes do livro, Derrida comenta que, por termos os olhos à frente de nossos rostos, temos o que chamamos de horizonte. Através do horizonte, vemos vir o que nos chega e, desse modo, podemos tanto afastar quanto acolher ou nos defender do que vem do fundo do horizonte. Se por um lado a visão nos protege, essa mesma visão faz com que o acontecimento, no sentido próprio do que surpreende, se neutralize, perca sua potencialidade enquanto violência, enquanto irrupção artística. Por essa razão, o acontecimento somente pode surgir quando não é mais possível ter o horizonte como perspectiva: “o movimento em que o desenho inventa, em que ele se inventa, é um momento em que o desenhista é de algum modo cego, em que ele não vê, ele não vê vir, ele é surpreendido pelo próprio traço que ele trilha, pela trilha do traço, ele está cego” (DERRIDA, 2012: 71).
É preciso estar cego, é preciso se entregar ao movimento estabelecido pelo lápis, pelo pincel ou pela câmera para que a arte possa surgir enquanto acontecimento. O gozo artístico provém dessa entrega, dessa suspensão da visão, dessa cegueira que aflora os demais sentidos, que aflora a sensibilidade do artista, que deixa por instantes os conceitos ou pré-conceitos que formulam o mundo visível para se entregar ao abismo de uma certa noite – entregar, palavra libidinosa que expõe o artista e nos expõe à arte desse artista. Em uma entrevista com Derrida, o artista Valerio Adami, no texto “Êxtase, crise. Entrevista com Roger Lesgards e Valerio Adami”, comenta o passo inicial de seu processo criador, que se assemelha em muitos aspectos ao processo de enceguecimento proposto por Derrida:
Apoio, então, o lápis no papel, faço um ponto e a mão se move: esse ponto se torna, portanto, linha, essa linha se torna o perfil de uma montanha… É um caminho para o maravilhamento, a descoberta, em relação direta com o instinto e a memória – a memória instintiva. A mão se move porque consigo realmente me esvaziar de tudo, deixando a ela a liberdade (DERRIDA, 2012: 239).
Poderíamos supor que, ao falar do desenho, Adami tocaria na questão da visão, mas o que lemos é exatamente a não-visão, a mão que se deixa livre, liberdade daqueles que somente têm a mão como suporte no mundo; nada mais intrínseco ao cego do que as mãos. Responde Adami a Derrida e Lesgards: “A mão sempre foi uma das minhas obsessões” (DERRIDA, 2012: 240). Da imagem dos cegos, somos direcionados por Derrida à imagem das palavras que constituem os textos de Pensar em não ver. As palavras, como disse acima, seguem um tom, elas próprias dão um tom particular aos textos presentes no livro.
As palavras deixam de ser meros transmissores para, elas também, se configurarem em objetos de arte. O modo como Derrida tece seu texto, o modo como ele trabalha a palavra, maltratando-a, violentando-a, faz dela um acontecimento: “O que faço com as palavras é fazê-las explodir para que o não verbal apareça no verbal” (DERRIDA, 2012: 39). Em muitos momentos, a relação que as palavras mantêm entre si faz delas imagem, elas produzem uma imagem, mas não no sentido corrente da relação do signo linguístico – a palavra derridiana vai além da reunião de morfemas para se desenhar em imagem, em palavra-imagem. Ao lermos determinadas passagens de Pensar em não ver, é como se estivéssemos diante de uma tela. Estamos, a bem da verdade, visualizando e não lendo, como nesta bela passagem do texto “Com o desígnio, o desenho”: “o desenhista, quando desenha um cego, quaisquer que sejam a variedade ou a complexidade da cena, está sempre desenhando a si mesmo, desenhando o que pode lhe acontecer, e, portanto, já está na dimensão alucinada do autorretrato” (DERRIDA, 2012: 174). Visualizo, antes de tudo, o autorretrato de um desenhista cego.
As palavras-imagens são retomadas por Derrida ao conversar sobre o filme em que participou, segundo ele, como ator: D’ailleurs, Derrida. No texto em que se discute sobre o filme, “Rastro e arquivo, imagem e arte. Diálogo”, o escritor comenta da participação da palavra, agora não mais a palavra escrita, mas sim a falada: “As falas estavam ali como imagens, feitas para serem, de algum modo, levadas pela necessidade do ritmo, do encadeamento, da consequência icônica […] Icônico quer dizer estruturado segundo a necessidade e a lei da imagem” (DERRIDA, 2012: 101). Semelhante com o que ocorre no filme, a palavra no texto derridiano destacado acima é tornada elemento icônico. Desse modo, ao refletir sobre o desenho, sobre o movimento do artista ao desenhar, Derrida comenta o desenho de Valerio Adami ou de François Loubrieu com um outro desenho – desenho provindo de sua escrita atravessada por palavras-imagens. Logo, o movimento que adquire o texto derridiano é de uma profusão de reflexos, de pinturas distendidas em palavras-imagens, desenhos que se assemelham a seus próprios desenhos de escrita, fotografias que recontam o negativo de sua escrita de imagem. Imagens e mais imagens, profusão de imagens en abyme.
O leitor provavelmente se demorará na leitura sobre as fotografias de Frédéric Brenner, não por ser o texto longo ou de difícil compreensão, não, não se trata disso. A dificuldade está na delicadeza a qual se expõe Derrida ao analisá-las. Fotografias de judeus, fotografias da memória. Diferente dos outros textos, o tom familiar, quase prosaico com o qual o escritor vai tecendo o seu pensamento sobre as questões da comunidade judaica, sobre suas próprias questões recalcadas ou veladas, produz um sentimento de falta, de perda, no leitor. Ao lermos o texto “[Revelações, e outros textos. Leituras das fotografias de Frédéric Brenner]”, quase que imediatamente nos colocamos no lugar do outro, do outro sem pátria, sem terra, do outro-sem, por assim dizer, quase esquecido e, por isso mesmo, afeito à memória, a velar a memória de um passado que ainda assombra, mas que, continuamente, se transforma em um passado esquecível, esquecido: “A melancolia do homem é visível. Será legível? Ela pode assinar a memória enlutada com aquilo que ele recorda e que ele ainda vela, mas ela pode também chorar a amnésia, o esquecimento daquilo mesmo que teria sido preciso velar para que se velasse – e que ameaça apagar-se no próximo sopro da história” (DERRIDA, 2012: 332).
O visível da fotografia dá a ver o invisível que se esconde por trás da figura conhecida de Jacques Derrida. Nesse texto, sabemos um pouco de sua infância, de seu prenome judeu, de sua mãe, de seu avô… estamos íntimos de Derrida, o que confere a familiaridade do tom. Do mesmo modo como nos identificamos com a falta judaica – “todos nós nos identificamos, universalmente, com uma minoria” (DERRIDA, 2012: 343) -, o escritor, sendo judeu, não poderia deixar de se identificar com as fotografias de Brenner: “Tento identificar, mas também me identificar, ao mesmo tempo em que persigo o limite de uma tentação tão irresistível, de uma compulsão como essa” (DERRIDA, 2012: 327). Identificação acordada com uma reflexão constante sobre a falta/perda que acomete(u) o povo judeu. Diáspora? Não significa somente a dispersão dos judeus pelo mundo – significa algo ainda mais profundo. Segundo Derrida, a diáspora afeta a partir do interior, “ela divide o corpo e a alma e a memória de cada comunidade” (DERRIDA, 2012: 323). É o sentimento de estar deslocado que afeta os judeus, nada lhes é mais autêntico. Mas não nos esqueçamos, como também os judeus não se esquecem, que nada nos é próprio, nem mesmo a nossa língua nos é própria:
Nós, nós todos, todos os seres vivos presentes, os seres vivos do passado e os espectros do futuro, nós todos, homens ou animais, não temos lugar próprio e terra bem-amada a não ser prometida, e prometida desde uma expropriação sem idade, mais velha do que todas as nossas memórias (DERRIDA, 2012: 341).
O visível fotográfico, ao trazer à tona o obscuro da memória de Derrida, dialoga com as perspectivas da invisibilidade com as quais o escritor trabalhou ao longo de seus textos de Pensar em não ver, não por acaso o título do livro carrega a marca da invisibilidade, ou, se quisermos, a marca da cegueira: não ver. A partir dos tons dos vários textos derridianos presentes neste livro, sobressai o pensamento de que a arte da visibilidade tem como suporte, base de sua contra-assinatura, a invisibilidade ou, como sugere Derrida, em “Aletheia“, a noite, o obscuro: “Nada é mais escuro do que a visibilidade da luz, nada é mais claro do que essa noite sem sol” (DERRIDA, 2012: 305). O que presenciamos ao ver uma obra é sua inscrição invisível. Em um desenho, em uma pintura, o que vemos é o traço diferencial que não mais existe, mas que persiste no rastro que se torna o desenho ou a pintura que observamos em um museu, em um livro, em qualquer lugar em que a arte esteja exposta. A arte visual é produzida a partir dos debaixos, de traços já inexistentes, do flash noturno que ilumina o invisível diante da máquina fotográfica. É nos debaixos que o efeito da arte é produzido – é lá, no debaixo, que se produz o desejo, a interdição, o gozo, a incitação, a excitação, a obra: “Quando se fica sem ar diante de um desenho ou de uma pintura, é porque não se vê nada; o que se vê essencialmente não é o que se vê, mas, imediatamente, a visibilidade. E, portanto, o invisível” (DERRIDA, 2012: 82).
Da leitura desses textos, o que resta para além da ideia da arte visual é o pensamento de que nós, seres humanos, somos constituídos de uma invisibilidade atordoante; não por menos, a arte, as artes do visível, tem como suporte a invisibilidade. A reflexão sobre as artes do visível é o grande mérito dos textos derridianos organizados com extrema precisão por Ginette Michaud, Joana Masó e Javier Bassas na elaboração do livro Pensar em não ver – mérito que a Editora UFSC considerou ao publicá-lo, oferecendo, assim, ao leitor brasileiro, a oportunidade de ter em mãos textos de Derrida raros sobre essas artes e somente agora traduzidos para o português.
Davi Andrade Pimentel – Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atua como pesquisador da obra do escritor francês Maurice Blanchot. É autor dos artigos: “Thomas – o primeiro blanchotiano” (Revista Letras Hoje, n. 48/ 2013), “O espectro de Kafka na narrativa Pena de Morte, de Maurice Blanchot” (Revista Gragoatá, n. 31/2011), “Rascunhos de um pensamento arrebatador: Maurice Blanchot” (Revista Todas as Letras, n. 12/2010), dentre outros. E-mail: [email protected]. Endereço: Rua Leopoldo Miguez, n. 129, apto. 706, CEP.: 22060-020, Copacabana – Rio de Janeiro – RJ.
[IF]
Les Troubadours. Une histoire poétique – ZINK (A-EN)
ZINK, Michel. Les Troubadours. Une histoire poétique. Paris: Editions Perrin, 2013. Resenha de: GUIMARÃES, Marcella Lopes. Alea, Rio de Janeiro, v.16 n.2, july/dec. 2014.
Les Troubadours. Une histoire poétique é o último lançamento de Michel Zink, Professor de Literatura Francesa do Collège de France, secretário perpétuo da Académie des inscriptions et Belles-Lettres, dentre outras inúmeras distinções e atividades docentes, literárias e de pesquisa. No Brasil, o seu artigo “Literatura” do Dicionário Temático do Ocidente Medieval, organizado por Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt talvez seja o seu trabalho mais lido, mas é possível também conhecê-lo em outra tradução, O Jogral de Nossa Senhora, publicado pela Editora Quadrante. Na verdade, diante de uma carreira notável, o leitor brasileiro não francófono tem acesso a ainda muito pouco do seu trabalho… Esperamos que isso possa mudar!
Qual é o sentido de voltar ao tema dos trovadores, a partir de suas vidase razos 112 em sintonia com a poesia? O Professor Zink não esconde suas motivações. Para ele, ainda que a investigação possa reconstituir o universo da poesia medieval e o sentido que ela teve para seus contemporâneos, ela descortina a nossa distância desse mundo…, mas uma distância que não impede a comunicação – lembremo-nos de Georges Duby, é com as diferenças que aprendemos mais* e convida mesmo a uma compreensão continuamente renovada de seus temas e de sua complexidade. Um dos mais eficazes vieses pelos quais essa comunicação é possível na contemporaneidade, segundo Zink, é o da autorreflexão, pois a poesia medieval é uma poesia que “não cessa de voltar a ela mesma e à ideia que ela faz de si mesma”.* 113
Espera-se de uma obra intitulada Les Troubadours que ela resgate a poesia dos mais importantes trovadores occitanos, ou seja, dos criadores de um lirismo novo no Ocidente Medieval. Mas a obra tem um subtítulo e ele entrega a sua singularidade. Uma história poética dos trovadores é, segundo o seu autor, “feita de sua vida, de suas viagens e de seus amores, de seus encontros, de sua carreira e de sua obra. A história poética dos trovadores é também a história de sua arte e de sua influência, em particular a história dos manuscritos que, acabada a sua grande época, aplicaram-se a preservá-la. A história poética dos trovadores é ainda essa grande história fragmentada, feita de várias histórias que são escritas em torno de seus poemas, que se inspiram neles, que os comentam e que alguns manuscritos conservaram. Ao mesmo tempo em que são biografias largamente imaginárias, espécies de vidas sonhadas em poesia, esses textos oferecem da poesia dos trovadores uma interpretação em forma de história”.*
Logo depois da abertura da obra, o Professor Zink se entrega a uma discussão importante sobre as escolhas realizadas pelas boas edições dedicadas à literatura medieval, ou seja, justifica o fato de começarem com a descrição dos manuscritos conservados. Por quê? Porque tudo o que sabemos dessa poesia provém dos cancioneiros, ou seja, das recolhas posteriores dessa poesia, realizadas em regiões diferentes daquelas onde viveram os trovadores. O Professor Zink não só justifica a escolha das edições como emula o método ao discorrer também sobre os cancioneiros logo no início da obra, mas essa “defesa” se funda no fato de essas recolhas oferecerem ao autor o insumo fundamental para a sua histoire poétique, ou seja, “as canções de cada trovador, escritas a tinta preta, são aí precedidas de sua vida, escrita à tinta vermelha”.* O momento em que essas vidas são compostas e recolhidas está em consonância com uma nova concepção de poesia do século XIII, “recitada, edificante na origem, moral ou satírica”.* O autor vai buscar nelas inspiração, mas não só, ao longo de todo o texto, busca compreender as relações entre os poemas e esses textos alicerçados em outras fontes e nos versos dos trovadores.
Depois das motivações, do ensaio sobre os cancioneiros, Les Troubadoursdescortina a sua primeira vida. Como não poderia deixar de ser, trata-se do Duque da Aquitânia e Conde de Poitiers Guilherme IX (1071-1126), o primeiro trovador conhecido. Sua breve vida destaca a sua mobilidade (afinal participou da 1a cruzada, entre outras aventuras); sua habilidade na sedução, “un des plus grands trompeurs de dames”;* destreza em armas e sua arte. Na verdade, a vida ironiza a associação entre a poesia e a sedução das damas, uma primeira pista sobre a relação entre essas narrativas e a obra dos trovadores. Zink lamenta, é pouco sobre esse trovador extraordinário de cuja obra restam 10 cantigas autênticas, então a ele dedica-se mais, 114 começando pelo célebre “Farai un vers de dreit nien”.
Ao observar que “a associação do amor, da alegria e da juventude marcam a celebração do fin’amor“,* Michel Zink reconhece que ela aparece na poesia de Guilherme da Aquitânia antes mesmo que esse poeta tenha “inventado” o conceito e que, entre a sua faceta considerada obscena e a cortês, não há contradição. Um dos aspectos mais interessantes da obra já se revela nesse primeiro capítulo dedicado ao Conde de Poitiers, ou seja, na maneira como o vastíssimo repertório de Michel Zink entra em cena para demonstrar a convergência 115 de poéticas. Em nenhum momento o autor é seduzido pelo “ídolo das origens”,* está mais interessado em interseções e redes, como quando mais de uma vez evoca as Kharjas moçárabes, essas composições que cantam, com voz feminina, a paixão e o sofrimento, antes que o Conde de Poitiers interseccione nessa rede a sua poesia; ou quando compara os modelos estróficos adotados por Guilherme da Aquitância a outros, como o da poesia litúrgica de Saint-Martial;* ou ainda quando evoca as cantigas de amigo galego-portuguesas. Ora, das Kharjas para a poesia de Guilherme da Aquitânia – sem que seja possível medir ou averiguar influências -, passando para o jogo e para a arte de conversação, que teria na segunda das Siete Partidas de Afonso X de Castela, dois séculos depois, um postulado poético, 116 é possível ler em Les Troubadours uma aventura dinâmica, protagonizada pela poesia medieval, cheia de vozes e vidas que se alimentam mutuamente.
Nas páginas dessa história poética, a poesia de Cercamon é revisitada, bem como a hipótese de que ele seria o visconde Eble II de Ventadour (esse trovador sem canção) e a sua constância amorosa, que se manifesta na convicção poética de que o amor não depende da estação. Marcabru também é personagem da história, ainda que nada saibamos de sua vida fora os 44 poemas que dele sobreviveram, ou seja, seus versos, como os trovadores concebiam a materialidade da sua poesia. Michel Zink debate com a bibliografia sobre as “contradições” da poesia de Marcabru e desafia nosso ceticismo anacrônico com uma pertinente questão: “Porque recusar sistematicamente escutar os autores medievais quando eles dizem sua fé e invocam a Sagrada Escritura?”.* Mas a história poética não segue o fio cronológico, salta um século, traz Guiraut Riquier que não desprezaria mais ser trovador, antes ao contrário, reivindicaria a denominação,* para depois voltar ao século XII e a Jaufré Rudel, protagonista de uma das mais conhecidas vidas. Conhecemos dele 6 cantigas, todavia talvez o evoquemos mais pelos seus amores pela Condessa de Trípoli, que ele nunca viu até a hora derradeira… A vida de Rudel é exemplar para a postura de Michel Zink em relação a essas notas biográficas fundadas em tamanha imaginação. Longe de exigir delas a verdade sucedida, que, no caso do Prince de Blaye, logo descobrimos o equívoco (afinal, o poeta não morreu nos braços da Condessa de Trípoli, cuja identidade desconhecemos…), o professor vai buscar na vida do poeta o conflito que nutre toda a poesia dos trovadores, ou seja, estou aqui, enquanto ela, a amada, está lá, longe, “tel est l’mor de lonh”.* Assim, as vidas e razos dos trovadores “não rompem com as cantigas, nem as interpretam mal”,* elas evidenciam o essencial da poesia.*
Michel Zink também contempla a poesia satírica, não só quando evoca Marcabru, mas quando traz a conhecida canção de Peire d’Auvergne, “Chantarai d’aquestz trobadors”, em que satiriza vários trovadores. Mas, novamente, não está interessado em demarcar a distância entre os gêneros, nem em investir em uma literatura profana apartada de uma literatura religiosa.
A história poética não estaria completa, essa também não é a aspiração do autor…, sem o célebre Bernard de Ventadour, trazido ao texto em mais de um capítulo em perspectiva dialógica com outros trovadores. Em um dos momentos a que se dedica a Ventadour, Zink traz ao texto a famosa canção da cotovia, que plena da alegria se entrega a um gesto suicida que não é outro que o da evocação da pequena morte no amor… Nesse poema, o autor ainda surpreende a inveja sexual do eu lírico em relação ao gozo dos outros, interdito ao eu. Frustração análoga também se afigura na poesia de outros trovadores, como na de Raimon de Miraval, assim como a inveja, esse sentimento onipresente.
Em meio a um universo que não é exaustivo, mas rico, o Conde de Poitiers é uma presença fundamental, mesmo quando outras vidas compõem novos capítulos da história poética de Michel Zink. A poesia de Guilherme da Aquitânia é chamada a dialogar com a obra de quase todos os poetas, trazidos da mesma forma por suas vidas e por fragmentos da sua poesia. Com eles, Zink desenha uma geografia da poesia occitana. Porém, nesse caminho, é possível ler uma outra história poética, a de um grande investigador e sua biblioteca. Essa “narrativa” foi escrita de forma concomitante, cerzida na observação rigorosa das cantigas; no reconhecimento de referências de uma vida, a sua; na alusão a teses audaciosas; na mudança de perspectiva; na polida discordância que desenha um irresistível debate e no reconhecimento do caráter provisório das próprias conclusões. Na “Tornada”, o Professor Michel Zink encerra sua histoire poétique com a afirmação de que ela afinal não fora mais que “um passeio entre as cantigas”.* Aceitamos a sua elegante modéstia, para revelar o segredo da perpétua juventude intelectual de um homem a quem não falta reconhecimento, a paixão pela poesia medieval.
Referências
* (DUBY, Georges. Ano 1000 ano 2000: na pista de nossos medos. São Paulo: Editora UNESP/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999. p. 13) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours. Une histoire poétique. Paris: Editions Perrin, 2013. p. 15.) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours. Une histoire poétique. Paris: Editions Perrin, 2013. p. 16) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours. Une histoire poétique. Paris: Editions Perrin, 2013. p. 25) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours…., p.29) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours…., p.33) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours…., p.50) [ Links ]
* (BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. p.56.) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours…., p. 91) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours…., p.128) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours…., p. 137) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours…., p. 154) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours…., p. 240) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours…., p.258) [ Links ]
* (ZINK, Michel. Les Troubadours…., p. 303) [ Links ]
112” Ensemble de 225 courts textes occitans en prose qui, dans les chansonniers lyriques, servent de notules biographiques (‘vidas‘) préfaçant ou glosant (‘razos‘) les pièces de 101 troubadours des XIIe au XIVe s. Conservés par 23 manuscrits, ces textes – revendiqués uniquement par deux auteurs (Uc de Saint-Circ et Miquel de la Tor) – servaient sans doute initialement aux jongleurs à présenter les auteurs des pièces récitées ou les anecdotes les ayant engendrées.” HUCHET, Jean-Claude. “Vidas et Razos” in GAUVARD, Claude, LIBERA, Alain, ZINK, Michel. Dictionnaire du Moyen Âge (2ª ed. 4ª tir.). Paris: PUF, 2004 (2012). p. 1446.
113 Todas as traduções dessa obra realizadas nesta resenha são de minha autoria.
114 É interessante constatar que, no mesmo ano do lançamento de Les Troubadours. Une histoire poétique, o Conde de Poitiers mereceu outro tributo, ou seja, a edição de Katy Bernard, que não é uma edição crítica, mas uma tradução “rythmée et poétique dont le but est de respecter au mieux la mesure et le rythme des vers du poète, sa musique, de même que l’esprit de ses chansos.” Le Néant et la joie. Chansons de Guillaume d’Aquitaine. Présentation et traduction de Katy Bernard. Éd. Bilingue occitan-français. Gardonne: Éditions Fédérop, 2013. p. 9.
115 Ainda que o Prof. Zink não empregue a palavra convergência, creio ser acertado empregá-la no sentido em que Edson Rosa da Silva o fez em seu ensaio “A metamorfose da arte: do quadro ao poema”. Nele celebra a convergência entre Jorge de Sena e André Malraux, refutando a influência como essência da relação proposta: “Não pretendo dizer que há aí influência, isso não me parece importante, há aí, sim, coincidência, convergência de pensamentos, que veem na arte uma manifestação elevada do espírito humano. E é nisso que eles se encontram”. SILVA, Edson Rosa da. “A metamorfose da arte: do quadro ao poema” in Metamorfoses 10.2. Revista da Cátedra Jorge de Sena para Estudos Literários Luso-Afro-Brasileiros da UFRJ. Lisboa: Caminho, 2010. p. 100.
116 Sobre isso, conferir a imprescindível obra de Paulo Sodré: O Riso no jogo e o jogo no riso na sátira galego-portuguesa (Vitória: EDUFES, 2010), em que o autor contextualiza o fablar en gasaiado como prática cortesã, da qual participa a poesia.
Marcella Lopes Guimarães – Profa. Dra. Adjunta IV de História Medieval da Universidade Federal do Paraná. É vinculada ao Núcleo de Estudos Mediterrânicos – NEMED (www.nemed.he.com.br). E-mail: <[email protected]>.
[IF]
Meio ambiente e Antropologia – WALDMAN (RMPEG-CH)
WALDMAN, Maurício. Meio ambiente e Antropologia. São Paulo: Editora SENAC, 2012. (Série Meio Ambiente, n. 6). 233 p. Resenha de: LELIS, Michelle Gomes; FERREIRA NETO, José Ambrósio. Um olhar antropológico sobre a questão ambiental. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.9, n.2, mai./ago. 2014.
O homem contemporâneo está em conflito permanente com o outro de si mesmo, visto como uma espécie de intruso alojado no seu interior, um ‘invasor de corpo’ preocupado em devorá-lo por dentro e, quem sabe, assumir de vez sua corporalidade (Waldman, 2012, p. 185).
Maurício Waldman, brasileiro, docente na Universidade de São Paulo (USP), onde leciona as disciplinas Administração dos recursos ambientais, Sociedade e meio ambiente, Ética profissional, Geografia da África negra e Introdução aos estudos africanos, é sociólogo, geógrafo e antropólogo pela USP. Possui Doutorado em Geografia Humana (2006) e Mestrado em Antropologia Social (1997), ambos pela USP. Com uma importante reflexão na área de antropologia social, escreveu “Meio ambiente e antropologia”, entre outros livros. Neste texto, seu objetivo central foi discutir as relações que conjugam a antropologia com a questão ambiental. Paralelamente a essa preocupação, outra intenção foi alinhavar as possíveis contribuições do enfoque antropológico, no sentido de aprofundar a compreensão da temática relacionada ao meio ambiente.
Na introdução, esclarece que somente a partir das três últimas décadas do século passado é que a defesa da natureza passou a inspirar crescentes manifestações, envolvendo os mais diversos segmentos sociais ao redor do mundo. Tal mobilização, explicitamente posicionando-se em favor de uma relação equilibrada com o meio ambiente, configurou-se por intermédio de um rol de reivindicações impensáveis, mesmo em passado histórico não muito distante. É nesse contexto que o autor justifica a importância da análise do meio ambiente, um tema contemporâneo e urgente de mudanças.
Como foco da sua reflexão, ele ressalta que a antropologia tem se voltado, cada vez mais abertamente, para o estudo dos processos sociais e culturais na sua acepção mais ampla, independentemente da localização no espaço ou no tempo. Na antropologia, a cultura distingue um modo de vida típico de um grupo de pessoas, fundamentado em comportamentos apreendidos e transmitidos de geração a geração, por meio da língua e do convívio social.
O primeiro capítulo do livro explana sobre a relação entre “Antropologia, questão ambiental e cultura”, trazendo algumas considerações relacionadas com as potencialidades da antropologia enquanto ciência da cultura. Waldman detalha o debate a respeito das possíveis contribuições da antropologia e sua particularidade diante das demais disciplinas. Para o autor, tanto a biologia quanto a geografia desconsideram a abordagem social e cultural, não as utilizando para analisar a questão ambiental.
O autor evidencia a proeminência dos estudos clássicos desenvolvidos no âmbito da antropologia relativamente às potencialidades da disciplina para o entendimento da questão ambiental. Ele aponta que uma grande produção teórica efetivou-se em termos do paradigma da oposição entre cultura e natureza, atentando para a postura do antropólogo.
No segundo capítulo, denominado “Cultura, mundo tradicional e meio ambiente”, a análise centra-se no homem tradicional e nas implicações do seu relacionamento com o meio natural. O autor deixa claro que, qualquer que seja o tipo de relacionamento estabelecido pela sociedade tradicional com o meio natural, este, no geral, mantém seus grandes ciclos em funcionamento. Ao contrário da sociedade contemporânea, o mundo da tradição pautou-se por uma convivência com a esfera do natural, e não pela sua exclusão.
No terceiro capítulo, “Temporalidade, modernidade e natureza”, visando sublinhar o que há de descontínuo nas duas grandes esferas da cultura humana que define como objeto da discussão – quais sejam, o mundo da tradição e o da modernidade -, o autor analisa as mudanças que o mundo contemporâneo instaurou na forma de compreensão do meio natural, assim como no relacionamento mantido com este. Isso sem perder de vista o mundo tradicional, cujo estranhamento conduz a se colocar em questão o que aparenta ser autenticamente novo.
Ele destaca que o tempo linear e progressivo, emanação de forças sociais que subentendiam os humanos e a natureza como elementos à disposição do progresso, excluiu todas as acepções sensíveis porventura existentes. Por isso mesmo, o homem contemporâneo está em conflito permanente com o outro de si mesmo, visto como uma espécie de intruso alojado no seu interior, um “invasor de corpo”, preocupado em devorá-lo por dentro e, quem sabe, assumir de vez sua corporalidade. Separado física e psiquicamente dos seus semelhantes, fica comprometido para o homem moderno qualquer vínculo duradouro e sincero do indivíduo com o coletivo e com o espaço público.
Até o quarto capítulo, “Antropologia, humanidade e questão ambiental”, o autor percorre um caminho que conduz o leitor desde os tempos mais remotos até as cintilantes metrópoles da modernidade. Nesse momento, Maurício Waldman traça alternativas, propõe enfoques e costura proposições referentes ao tema primordial. Conclui, nesta parte, que a diversidade cultural não pode estar dissociada da diversidade biológica, sendo redobrado o interesse pela perpetuação dos estilos de vida que se mantiveram regrados pela tradição.
A partir da análise construída por Waldman, ressalta-se que o conceito de cultura, além de materializar-se como um instrumental de indispensável importância para a análise das sociedades tradicionais, mantém, de igual modo, seu vigor operatório e sua eficácia na avaliação do dinamismo cultural contemporâneo. A cultura perpassa por todo um rol de comportamentos relacionados com o meio ambiente e, na ausência dessa perspectiva, necessariamente qualquer avaliação estaria prejudicada na sua fundamentação, nas suas propostas e nas suas conclusões.
Na “Conclusão”, o autor ressalta que o esforço de sua análise foi muito mais direcionado para construir uma perspectiva de avaliação, ao invés de pensar sobre formas de gestão, atividades gerais ou aplicadas da disciplina. Por outro lado, argumenta que essa opção em nada seria impeditiva da indicação de problemáticas com as quais a antropologia pode, com toda distinção possível, prontificar-se a destinar sua contribuição no que se refere à questão ambiental.
Para tanto, ao longo do texto, Waldman dialoga com diversos autores, entre eles François Laplantine (1988), “Aprender antropologia”, Edward Evans-Pritchard (1978), “Os Nuer: uma descrição do modo de subsistência e das instituições de um povo nilota”, e Walter Neves (1996), “Antropologia ecológica: um olhar materialista sobre as sociedades humanas”, para argumentar e refletir sobre a relação da antropologia com o meio ambiente. Ele apresenta uma abordagem educativa interdisciplinar por meio de duas áreas, meio ambiente e antropologia, transformando-as em uma antropologia ambiental, empenhada em revelar o caráter transformador do homem em sociedade diante do ambiente natural, instigado particularmente pela dimensão da cultura, da sociedade e das suas dinâmicas.
A antropologia, tendo por objetivo estudar a mais vasta gama possível da diversidade humana nos modos de vida, nas formas de organização social, nos comportamentos e nas crenças, foi levada a privilegiar a observação das sociedades que permanecem (ou que permaneceram) fora do quadro unificador, representado pela civilização técnica e científica corporificada no Ocidente moderno. Dessa forma, estudos antropológicos privilegiam permanentemente a periferia do sistema dominante.
Segundo o autor, é justamente nos marcos da modernidade que os problemas ecológicos se especificaram na sua plenitude. Dessa forma, esclarecer e discutir as perspectivas da antropologia, enquanto disciplina, para com este mesmo mundo moderno abre caminhos para evidenciar o alcance das possíveis contribuições, assim como da eficácia operacional das abordagens que agitam o interior do seu campo teórico.
A capacitação da antropologia em identificar opções diversas das que regram o mundo moderno pode, de igual modo, prontificar-se para consolidar propostas alternativas aos desafios criados ao longo do processo de expansão da civilização ocidental, entre esses evidentemente os de ordem ambiental.
Waldman discute os conceitos de cultura e de natureza, além de reforçar a importância da diferença entre etnografia e etnologia. Afirma que a antropologia cultural teve sua consolidação enormemente apoiada no paradigma da oposição entre cultura e natureza.
Outro argumento do autor é que o leque de consequências da modernidade possui rebatimentos inquestionáveis no relacionamento com o meio natural. Basicamente em razão de que, com a modernidade, o fruir do tempo se materializa a partir de uma sobreposição globalmente desarmoniosa para com o tempo da natureza, o dos homens e com todos os demais tempos sociais, entendidos como obstáculos à implantação dos ritmos e das sequências da temporalidade moderna.
O autor destaca que o conceito de meio ambiente diz respeito aos elementos habilitados a influenciarem o dinamismo social, a repercussão das intervenções culturais e o conjunto das condições que permitem o estabelecimento e a reprodução da vida humana. Assim, ele propõe a construção de uma antropologia ambiental, preocupada em identificar os vínculos indissociáveis que a crise do meio ambiente sustenta com o padrão civilizatório, que é origem da sua manifestação. Tanto no passado do homem quanto nos dias de hoje, a questão ambiental relaciona-se sumamente com um sistema de poder econômico, social, político e ideológico, não podendo ser aquilatada na sua devida extensão na ausência desses referenciais.
Este ensaio, ao mesmo tempo desafiador e aberto aos questionamentos, apresenta a importância de abordar diálogos entre duas áreas abrangentes, como meio ambiente e antropologia, reforçando a possibilidade e a necessidade do trabalho interdisciplinar, com o intuito de minimizar os problemas ambientais causados pelo homem. O autor manifesta nas entrelinhas sua esperança e expectativas de que a humanidade consiga construir um oikos comum a todas as pessoas, um mundo socialmente justo e ecologicamente responsável, no qual o homem não mais permaneça artificialmente dividido e encontre-se na sua totalidade.
Referências
EVANS-PRITCHARD, Edward E. Os Nuer: uma descrição do modo de subsistência e das instituições de um povo nilota. São Paulo: Perspectiva, 1978. (Coleção Estudos, n. 53). [ Links ]
LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1988. [ Links ]
NEVES, Walter. Antropologia ecológica: um olhar materialista sobre as sociedades humanas. São Paulo: Cortez, 1996. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 59). [ Links ]
Michelle Gomes Lelis – Universidade Federal de Viçosa. E-mail: [email protected]
José Ambrósio Ferreira Neto – Universidade Federal de Viçosa. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Arqueologia Guarani na laguna dos Patos e serra do Sudeste – MILHEIRA (BMPEG-CH)
MILHEIRA, Rafael. Arqueologia Guarani na laguna dos Patos e serra do Sudeste. Pelotas: Editora da Universidade Federal de Pelotas, 2014. 306 Resenha de: RIBEIRO, Bruno Leonardo Ricardo. Arqueologia Guarani na ponta sul do Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, vol.9, n.2, mai./ago. 2014.
Este livro é uma versão revisada da dissertação de mestrado de Rafael Guedes Milheira, composto por sete capítulos e prefácio de Paulo DeBlasis. A importância da obra é ressaltada já no prefácio, por ser a primeira a, de fato, sistematizar a ocupação Guarani no extremo sul do Brasil, mais precisamente na área entre a laguna dos Patos, a leste, e a região serrana, a oeste. Lançando mão de uma metodologia de enfoque regional, Milheira conseguiu realizar uma pesquisa arqueológica que possibilita o diálogo com a Antropologia e a História, além da “construção de uma História indígena propriamente dita” (p. 20), o que torna seu livro indispensável para aqueles que procuram estudar as ocupações Guarani no sul do Brasil, sejam eles especialistas da área ou estudantes.
Na introdução, Milheira informa que sua principal motivação para a pesquisa partiu da constatação da quase completa ausência de registros históricos que fizessem referência à participação da cultura indígena na formação identitária regional, relegando às populações indígenas um papel secundário e marginal no processo de construção social local. Ainda, e à contramão dos registros históricos, os achados arqueológicos atestam a presença significativa de variadas populações indígenas na região, envolvidas em um complexo sistema de relações e redes sociais que remetem a mais de 2.500 anos, sistematicamente eliminadas física e culturalmente desde a chegada dos primeiros colonizadores europeus. Mesmo que não levados ao completo extermínio, hoje ainda reside na região apenas uma parcela ínfima do que antes foi uma nação indígena sem precedentes.
Os dois primeiros capítulos são fundamentais para a compreensão da obra e da proposta do autor, e neles é apresentado um panorama geral da arqueologia Guarani, desde as primeiras pesquisas realizadas não apenas na área de estudo, mas também aquelas relacionadas às ocupações caracterizadas como pertencentes a este grupo em várias regiões do Brasil. É dada ênfase aos estudos realizados por Alfred Métraux na primeira metade do século XX e sua contribuição à formação do pensamento arqueológico brasileiro sobre os Guaranis, como as proposições que fez sobre a busca guarani pela ‘terra sem males’ e sobre a zona de fronteira entre os Tupinambás, ao norte, e os Guaranis, ao sul, no interior do estado de São Paulo – proposta posteriormente refinada por Scatamacchia (1990). O autor tece ainda algumas críticas sobre o papel pretensamente apolítico desempenhado pelo Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA) e seus impactos em estudos posteriores.
Em seguida, partindo de uma proposta que intercala informações em nível micro e macrocontextual, Milheira apresenta temas que vão desde a definição das estruturas arqueológicas pertinentes à interpretação dos dados empíricos por ele levantados – como estruturas funerárias e de combustão – até noções de territorialidade, organização social e expansão, definindo o processo de expansão territorial Guarani como ‘enxameamento’, conceito apresentado por Brochado (1984) e amplamente aceito na comunidade acadêmica. Essa definição parte da premissa de que o processo de expansão territorial Guarani foi contínuo, e a ocupação espacial se deu de forma radial, iniciada com uma grande pressão demográfica, que tornou obrigatória uma divisão celular da aldeia e a procura e obtenção por novas áreas de captação de recursos para ocupação e assentamentos permanentes (sobre este assunto, sugiro também o texto de Noelli, 1993).
Esse conceito é fundamental para o entendimento das áreas e dos tipos de atividades relacionados a cada sítio estudado, além de auxiliar na interpretação desses sítios como acampamentos temporários e/ou aldeias. Nessa parte do livro, torna-se claro o exaustivo levantamento bibliográfico realizado pelo autor no que tange à arqueologia Guarani.
Talvez uma única ressalva a ser levantada esteja relacionada ao caráter restritivo da discussão. Apesar de fazer um breve relato sobre o complexo panorama multicultural verificado na região quando da chegada do europeu, então compartilhada por grupos majoritariamente Guarani, mas também por povos Cerriteiros, Jê e Sambaquieiros, a pesquisa de Milheira quase não trespassa a temática Guarani ou extrapola o limite sul do Brasil, nem estabelece um diálogo significativo com pesquisadores ou estudos realizados acima do rio Paranapanema e referentes aos povos Tupi. Acredito que um maior diálogo com tal temática seria muito proveitoso, não apenas para a obra em si, mas também para pesquisadores futuros que utilizarão este livro como referência. Uma vez que Guaranis e Tupis são grupos similares, a ponto de representarem ramificações de um mesmo tronco linguístico ou, para alguns pesquisadores, uma mesma ‘tradição’ arqueológica, o estabelecimento de contraposições ou a verificação de similaridades, em qualquer nível ou de qualquer caráter, seria mais uma contribuição significativa para a construção do conhecimento arqueológico sobre estas populações de outrora.
No terceiro capítulo, partindo principalmente dos estudos realizados pelo Projeto RADAMBRASIL, o autor faz uma caracterização espacial e geomorfológica da área alvo da pesquisa. Salientando que ela abrange tanto a planície costeira quanto o escudo sul-rio-grandense, descreve sucintamente as paisagens serranas e litorâneas, logo iniciando a apresentação das metodologias adotadas em campo, onde articulou métodos de levantamento probabilístico e oportunístico com a proposta dos estágios múltiplos – reconhecimento geral da área de estudo, levantamento arqueológico, prospecção e escavação. Finalmente, mas não menos importante, Milheira explica sua opção por uma abordagem voltada à arqueologia regional. Sendo seu objetivo compreender o sistema de ocupação Guarani em uma área até então pouco pesquisada, tal enfoque lhe permitiria reconstruir o contexto de implantação dessas ocupações, em seu sentido mais amplo e em seu caráter de longa duração.
Os capítulos quatro e cinco são os mais densos do livro. No quarto, é apresentada a arqueografia de cada um dos sítios identificados ao longo da pesquisa, agrupados de acordo com a fisiografia local – cinco sítios identificados na região litorânea da lagoa dos Patos e dez sítios identificados na região serrana. A apresentação das intervenções realizadas e dos vestígios arqueológicos identificados em cada um destes sítios é extremamente detalhada e minuciosa. Cabe salientar que, sempre que possível, Milheira realiza inferências e proposições acerca da funcionalidade dos contextos arqueológicos verificados em cada um dos sítios, correlacionando suas impressões sobre as escavações com os resultados das análises posteriores.
No capítulo cinco, são apresentados os resultados das análises dos vestígios arqueológicos propriamente ditos. Partindo de uma proposta tecno-tipológica, a metodologia elaborada para a análise dos vestígios cerâmicos é construída principalmente sobre um ‘tripé’ composto por La Salvia e Brochado (1989), Shepard (1985 [1956]) e Orton et al. (1993). A ficha descritiva e os procedimentos de análise também são detalhadamente apresentados, além de várias páginas serem dedicadas à discussão crítica sobre as potencialidades e as possibilidades de erros relacionados às mais do que comuns projeções de forma, quando elaboradas a partir de fragmentos cerâmicos de tamanhos diminutos. A primazia verificada nesta seção da obra é sem igual, assim como a confiabilidade dos resultados obtidos.
Por outro lado, pouca ênfase foi dedicada aos vestígios líticos, possivelmente em função de sua menor recorrência entre os sítios arqueológicos. A metodologia adotada se pauta pela proposta de cadeia operacional sugerida por Schiffer (1972, 1987), e a análise é de caráter tecno-tipológica, embasada principalmente no esquema elaborado por Dias e Hoeltz (1997). Não pude deixar de pensar que os trabalhos de análise dedicados aos materiais líticos foram, em certo grau, muito sucintos, principalmente se comparados aos realizados com os vestígios cerâmicos, e que, talvez, se uma maior profundidade tivesse sido atribuída a eles, como a adoção de uma metodologia embasada em parâmetros tecno-funcionais, apontamentos mais significativos teriam sido alcançados.
Tais estudos tiveram como objetivo não apenas a caracterização destas indústrias líticas e cerâmicas, mas também o levantamento de apontamentos que possibilitassem pensar o domínio e o uso territorial dos Guaranis na região, sobretudo após a constatação do autor de que as matérias-primas identificadas nos sítios litorâneos não estão presentes in loco, e remeteriam a cinco jazidas diferentes, que distam entre 30 e 200 km da Lagoa dos Patos, nas terras altas da serra do sudeste. Vestígios arqueofaunísticos também foram identificados, em baixas quantidades e em estado de conservação insatisfatório, em dois dos sítios escavados na área litorânea. Perante esta baixa relevância, a análise esteve voltada à procura por informações relacionáveis à dieta e às espécies consumidas nos sítios da região, além da procura de possíveis elementos cabíveis de inferências que correlacionassem espécie, apreensão e habitat, e da distribuição espacial dos vestígios com áreas de atividades específicas.
Concluindo a obra, os capítulos seis e sete são dedicados à hipótese elaborada para a ocupação territorial da área-alvo pelos Guaranis e à apresentação do modelo interpretativo adotado pelo autor. Embasado majoritariamente na perspectiva sistêmica de Binford (1980, 1991 [1983]) e no modelo de ocupação proposto por Noelli (1993), Milheira pressupõe a existência de um contexto macroespacial, onde todos os sítios estudados, sejam eles entendidos como aldeias ou acampamentos temporários, estão interligados por uma imbricada rede de relações sociais, ideológicas, ambientais e econômicas. Tal contexto seria o do ‘Teko’a do Arroio Pelotas’, abrangeria aproximados 35 km de raio e se dividiria em litoral e serra, não apenas pelo tipo de ambiente ocupado, mas também pelas modalidades e características de cada assentamento verificado – além do domínio territorial projetado.
Segundo o autor, estes dois ambientes de ocupação estariam intrinsecamente interligados, sendo a porção litorânea uma extensão da porção serrana. As ocupações da região serrana apresentam distribuição espacial mais aglomerada, maiores dimensões e remetem a períodos mais antigos. Estão situadas em áreas de melhor acesso a recursos naturais e mais propensas à agricultura. As ocupações da porção litorânea, por sua vez, seriam mais recentes e periféricas às ocupações serranas, de distribuição mais esparsa e voltadas à obtenção de recursos marítimos. Seriam oriundas da necessidade por novos territórios, em função de pressões demográficas e do processo de expansão por enxameamento, e apresentariam certo grau de dependência em relação às aldeias serranas centrais (em relação à obtenção de matérias-primas líticas, por exemplo).
Não posso deixar de exaltar os esforços realizados por Milheira em relação ao levantamento das fontes de matéria-prima e à correlação perspicaz entre as distâncias, o estabelecimento de redes de troca e o ciclo de vida dos instrumentos líticos. Isso é algo de extrema importância para a interpretação e distinção relacionadas à funcionalidade de determinados acampamentos litorâneos e à organização do ‘Teko’a do Arroio Pelotas’ em nível Guará, uma vez que, segundo sua hipótese, apenas uma das cinco jazidas de matérias-primas estaria dentro dos limites deste ‘Teko’a’, o que demandaria, obrigatoriamente, outras formas de obtenção das matérias-primas, além do simples aprovisionamento.
Por fim, elogios devem ser feitos ao autor pela utilização de verbetes êmicos Guarani, retirados de leituras etno-históricas e utilizados ao longo de toda a obra, mas principalmente ao nomear as funções exercidas pelos instrumentos líticos, quando inova ao apresentar a outros pesquisadores interessados em estudos similares as possibilidades de um diálogo etnográfico, como há muito vem sendo realizado entre aqueles que estudam cerâmica arqueológica.
Referências
BINFORD, L. R. Em busca do passado: a decodificação do registro arqueológico. Portugal: Europa-América, 1991 [1983] [ Links ].
BINFORD, L. R. Willow smoke and dog’s tails: hunter-gatherer settlement systems and archaeological site formation. American Antiquity, Washington, v. 45, p. 4-20, 1980. [ Links ]
BROCHADO, J. P. An ecological model of the spread of potter and agriculture into Eastern South America. 1984. Tese (Doutorado em Antropologia) – University of Illinois, Urbana, 1984. [ Links ]
DIAS, A. S.; HOELTZ, S. E. Proposta metodológica para o estudo de indústrias líticas do Sul do Brasil. Revista do CEPA, Santa Cruz do Sul, v. 25, n. 21, p. 21-62, 1997. [ Links ]
LA SALVIA, F.; BROCHADO, J. P. Cerâmica Guarani. Porto Alegre: Posenato e Cultura, 1989. [ Links ]
NOELLI, F. S. Sem Tekohá não há Tekó: em busca de um modelo etnoarqueológico da subsistência e da aldeia Guarani aplicada a uma área de domínio no delta do Jacuí/RS. 1993. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1993. [ Links ]
ORTON, C.; TYERS, P.; VINCE, A. Pottery in archaeology. London: Cambridge University Press, 1993. [ Links ]
SCATAMACCHIA, M. C. M. A tradição policrômica no leste da América do Sul evidenciada pela ocupação Guarani e Tupinambá: fontes arqueológicas e etno-históricas. 1990. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990. [ Links ]
SCHIFFER, M. B. Formation process of the archaeological record. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1987. [ Links ]
SCHIFFER, M. B. Archaeological context and systemic context. American Antiquity, Washington, v. 37, n. 2, p. 156-165, 1972. [ Links ]
SHEPARD, A. O. Ceramics for the archaeologist. Washington: Carnegie Institution of Washington, 1985 [1956] [ Links ].
RIBEIRO, Bruno Leonardo Ricardo. Resenha: Arqueologia Guarani na ponta sul do Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 9, n. 2, p. 573-576, maio-ago. 2014
Bruno Leonardo Ricardo Ribeiro – Universidade Federal de Pelotas E-mail: [email protected]
[MLPDB]
“Todavía no se hallaron hablar en idioma”. Procesos de socialización lingüística de los niños en el barrio toba de Derqui (Argentina) – HECH (BMPEG-CH)
HECHT, Ana Carolina. “Todavía no se hallaron hablar en idioma”. Procesos de socialización lingüística de los niños en el barrio toba de Derqui (Argentina). Munich: LINCOM Europa Academic Publisher, 2010. (LINCOM Studies in Sociolinguistics, 9). 282 p. Resenha de: OSSOLA, María Macarena. Crianças e línguas indígenas: contribuições para o debate sobre o deslocamento linguístico em comunidades indígenas urbanas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.9 n.1, jan./abr. 2014.
“‘Todavía no se hallaron hablar en idioma’. Procesos de socialización lingüística de los niños en el barrio toba de Derqui (Argentina)” é uma versão revisada da tese doutoral da autora, defendida na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires (2009), e adaptada para a divulgação no formato de livro. O principal propósito da tese consiste em dar conta dos modos em que se usam e representam a língua indígena toba e o espanhol nas interações cotidianas de uma população Toba, composta por famílias migrantes que moram em um bairro situado em Derqui, província de Buenos Aires.
Os Toba, cujo etnônimo é Qompi, integram o grupo étnico e linguístico chamado Guaycurú (Messineo, 2003). A população Toba na Argentina é estimada em 69.452 pessoas, segundo dados da “Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas” (ECPI), realizada durante 2004 e 2005. Os Toba moravam em bandas bilaterais nômades compostas por famílias extensas que se dedicavam à caça e à coleta na região do Gran Chaco (Miller, 1979). A partir do século XIX, suas condições de vida foram cada vez mais adversas, iniciando-se o processo de desterritorialização e migração para as grandes cidades da Argentina, onde atualmente muitos deles moram e reivindicam seus direitos coletivos (Wright, 1999; Tamagno, 2001).
Em primeiro lugar, é preciso destacar que se trata de um livro que sintetiza o prolongado trabalho de campo feito pela autora na região, período no qual se dedicou não só à pesquisa, mas também coordenou oficinas de língua toba e fez enquetes, entre outras atividades. Por isso, o trabalho tem a riqueza de ser, ao mesmo tempo, o produto de um processo formativo, uma amostra de trabalho etnográfico reflexivo e a síntese da triangulação possível entre pesquisa e transferência.
A obra se organiza em quatro eixos, composto cada um por dois ou três capítulos, respectivamente. O primeiro eixo, intitulado “¿(Dis)continuidades lingüísticas y culturales? Entre la perspectiva sociolingüística y la antropológica”, repassa as explicações formuladas desde a sociolinguística e a antropologia linguística a respeito dos processos de deslocamento das línguas. Ela parte da formulação da pergunta: o que leva um grupo de falantes a mudar o uso de uma língua (toba) por outra (espanhol)? Então, faz uma detalhada descrição das teorias que intentaram fornecer as respostas a essa questão. Assim, a autora define três aspectos de relevância para a obra toda. Por uma parte, explicita sua intenção etnográfica: a etnografia é uma estratégia que não só lhe permite se centrar na cotidianidade da substituição linguística, mas também se colocar corretamente no debate a respeito da dualidade entre a análise macrossocial e a análise microssocial. Simultaneamente, destaca a complexidade do estudo dos processos de socialização, colocando as crianças como sujeitos ativos na transmissão de conhecimentos entre gerações. Finalmente, situa a linguagem em uma esfera social, política e cultural estendida.
“Entre el Chaco y Buenos Aires. Aproximación etnográfica y sociolingüística al barrio toba de Derqui” é o titulo do segundo eixo. Além de descrever as características físicas do bairro e as características fonológicas e morfológicas da língua toba (cujo etnônimo é qom l’aqtaqa, o idioma dos qom), esse capítulo oferece a oportunidade de conhecer como território(s), língua(s) e sentimentos de comunidade se encontram relacionados intimamente. A história do bairro toba de Derqui inicia-se no ano 1995 (quando sua edificação começou) e sua extensão física materializa-se nas trinta e duas casas que o compõem. Desse modo, a etnografia da autora aponta para a análise processual e nos remonta à história dos tobas habitantes do Gran Chaco e aos modos como essa história não só se recria nas interações cotidianas em Derqui, mas também como ela permeia os atuais processos de socialização e transmissão de conhecimentos entre gerações. A ênfase na desfolclorização e na desessencialização que a autora coloca ao traçar processos sociais vivenciados pelos moradores do bairro encontra-se presente também no momento de analisar as línguas. Assim, entrecruzando fragmentos de entrevistas com os vizinhos de Derqui, a autora refaz os espaços, os tons e os modos de uso de cada uma das línguas em contextos particulares.
O terceiro eixo, “Socialización en y a través del toba y el español durante la niñez”, é composto por três capítulos. Os dois primeiros ocupam-se do estudo das especificidades com que é percebida a infância como etapa do ciclo vital, de acordo com a perspectiva toba, ao tempo em que aprofunda sobre os tipos de atos comunicativos que privilegiam o uso de uma ou de outra língua segundo o contexto, a posição social e a idade das pessoas que intervêm na comunicação. Assinala-se, por exemplo, que, embora o deslocamento do toba para o espanhol seja constante, existem âmbitos nos quais a comunicação é realizada exclusivamente em toba (por exemplo, entre idosos emigrados da província do Chaco), ou com emissões em toba e respostas no espanhol (como no caso dos mandados ou ordens cotidianas que os pais indicam para seus filhos). A autora descreve também os espaços onde as interações se produzem exclusivamente em espanhol, como as que as crianças mantêm entre si, com crianças dos outros bairros e com adultos e crianças no âmbito escolar.
Dada à centralidade que tem esse último espaço formativo na configuração da identidade, no capítulo sete analisam-se os sentidos dados à experiência escolar por parte das crianças, complementando-os com as perspectivas das famílias, dos docentes e dos administradores. O título do capítulo, “Encrucijadas en la escuela”, faz uma síntese dos complexos processos experimentados pelas crianças em uma instituição educacional de nível primário, onde são interpeladas pelos docentes a partir de seu pertencimento étnico e pelas supostas dificuldades que também trouxe seu bilinguismo, entre outras representações. Simultaneamente, a autora nos mostra o quanto as famílias valorizam a escola como o espaço adequado para aprender o espanhol (particularmente a escrita), confiando em que o correto uso dessa língua permitirá a seus filhos terem acesso a melhores posições no mercado de trabalho e a projetos de vida mais amplos.
No último eixo, “Distancias lingüísticas, distancias generacionales. Reflexiones acerca del papel del habla en la vida social”, se faz uma proposta para a leitura dos dados apresentados, a partir da união, em duas ideologias linguísticas, das representações que os adultos têm a respeito da fraqueza do uso do toba nas crianças. Assim, uma “ideologia do receio” condensa aqueles sentidos que observam a troca do toba pelo espanhol como um processo irreversível, ao tempo em que desde uma “ideologia do anseio” se coloca nas crianças a esperança de uma revitalização futura da língua toba.
Com a claridade e consistência que caracterizam o livro, Hecht nos oferece uma conclusão na qual são apresentados os resultados da pesquisa. Eles nos fazem um convite para refletir sobre as ideias nativas com relação às necessidades comunicativas das crianças em um cenário complexo, atravessado pelos repertórios linguísticos em toba e em espanhol. Nessa seção, fica explícita a contribuição do livro nas suas duas direções principais: de um lado, (a) o avanço na documentação dos processos de socialização linguística a partir das construções de sentido feitas pelas próprias crianças e, do outro lado, (b) a utilização de uma perspectiva etnográfica que permite configurar uma leitura renovada e criativa nas discussões sobre o deslocamento linguístico e a perda das línguas indígenas.
Com relação ao primeiro ponto (a), a autora nos apresenta uma proposta original para realizar o trabalho etnográfico com e entre meninos e meninas. A estratégia de lançar mão, primeiramente, das perspectivas nativas, ao invés de recorrer às categorias sociológicas no que diz respeito às classificações etárias, nos introduz em uma leitura onde tanto a ‘infância’ como seus atributos são compreendidos como construções feitas desde a própria práxis etnográfica. Assim, o livro traz uma valiosa contribuição ao conhecimento dos usos das línguas a partir do olhar das crianças de Derqui, demonstrando que eles ocupam uma posição dinâmica nos processos de transmissão cultural, organizando ativamente a informação que lhes é comunicada, e articulando uma concepção própria da sua identidade.
Em paralelo, a obra avança no campo da etnolinguística contemporânea ao oferecer uma perspectiva renovada dentro do debate a respeito da perda das línguas indígenas (b). Desse modo, ao estudar os processos de socialização das crianças tobas de Derqui, a autora sublinha que, frente às visões duais que proclamam a irreversível perda da(s) língua(s) indígena(s), de um lado, e a esperança da revitalização e do ‘retorno às origens’, do outro, existem múltiplos espaços locais onde as pessoas e os grupos participam ativamente da criação, do uso e da ressignificação dos elementos linguísticos. Os mesmos provêm de diferentes contextos e são válidos enquanto tornarem possível a comunicação cotidiana e a elaboração de projetos de vida e de identidade comum.
“Todavía no se hallaron hablar en idioma” é um livro que nos coloca frente às complexidades dos processos linguístico-culturais vivenciados pelas comunidades indígenas argentinas contemporâneas. A partir da análise do bairro toba de Derqui e das línguas que ali são utilizadas, a etnografia de Hecht nos mostra o contexto de redefinições (linguísticas, identitárias, geográficas, educativas) no qual essas populações se encontram atravessando e disputando. Com base em um rigoroso registro do campo etnográfico, a autora afirma que as análises sociais referidas ao deslocamento linguístico devem ser lidas no marco das disputas e tensões interculturais de maior escala, levando em conta que as práticas linguísticas – enquanto práticas sociais – se encontram estreitamente relacionadas com outras (políticas, socioculturais e econômicas), que constantemente as condicionam, possibilitam e interpelam.
Referências
MESSINEO, Cristina. Lengua toba (guaycurú). Aspectos gramaticales y discursivos. Munich: LINCOM Europa Academic Publisher, 2003. (LINCOM Studies in Native American Linguistics, 48). [ Links ]
MILLER, Elmer. Los Tobas argentinos: armonía y disonancia en una sociedad. México: Editorial Siglo XXI, 1979. [ Links ]
TAMAGNO, Liliana. ‘Nam Qom Hueta’a na Doqshi Lma’. Los tobas en la casa del hombre blanco. Identidad, memoria y utopía. La Plata: Ediciones Al Margen, 2001. [ Links ]
WRIGHT, Pablo. Histories of Buenos Aires. In: MILLER, Elmer (Ed.). Peoples of the Chaco. Westport: Bergin & Garvey, 1999. p. 135-156.
María Macarena Ossola – Universidad Nacional de Salta – CONICET. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Abordagens estratégicas em sambaquis – GASPAR; SOUZA (BMPEG-CH)
GASPAR, Maria Dulce; SOUZA, Sheila Mendonça de (Orgs.). Abordagens estratégicas em sambaquis. Erechim: Habilis Editora, 2013. 311 p. Resenha de MILHEIRA, Rafael Guedes. Metodologia de pesquisa em sambaquis: uma leitura sobre abordagens estratégicas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.9 no.1, jan./abr. 2014.
Quando me deparei na livraria com esta obra, intitulada “Abordagens estratégicas em sambaquis”, eu já sabia que o conteúdo traria grandes contribuições metodológicas para a área de Arqueologia no Brasil. É o tipo de trabalho que eu costumo chamar de “Arqueologia na veia”, pois trata de temas específicos da Arqueologia (no caso, técnicas de campo), de maneira ortodoxa e interdisciplinar, contribuindo na direção de como e por que fazer trabalhos de campo, otimizando recursos e maximizando resultados. Ao iniciar as primeiras páginas, foi ficando evidente que o livro, embora tenha um foco centrado na temática dos sítios sambaquieiros da costa litorânea brasileira, dialoga e propõe técnicas de campo que podem ser facilmente utilizadas em todos os sítios arqueológicos pré-históricos (e não seria exagero incluir os sítios históricos) do Brasil. Aliás, essa foi também a impressão de André Prous na apresentação do livro, ao comentar que “o presente livro será, sem dúvida, de grande utilidade para os estudantes e pesquisadores – não apenas para aqueles que estudam os sambaquis, mas também para todos os praticantes de Arqueologia”.
Na introdução, as organizadoras recorrem a um breve histórico das pesquisas em sambaquis no Brasil desde o século XIX, os avanços e desafios dos últimos anos, sobretudo com o acúmulo de conhecimento resultante de grandes projetos temáticos financiados, predominantemente, por agências nacionais e públicas de pesquisa, amplamente divulgados no cenário nacional e internacional. Esses projetos foram a base das experiências dos autores dos treze capítulos do livro, e é claro que as discussões amadurecidas só chegaram ao alto nível de qualidade por conta da formação de equipes interdisciplinares, experientes e altamente comprometidas com o estudo dos sambaquis da costa brasileira. O livro, além do formato impresso, é acompanhado (opcionalmente) por um CD-ROM, que é o “Guia ilustrado das abordagens estratégicas em sambaquis”. Esse guia é um banco de imagens devidamente legendadas, que exemplificam as orientações metodológicas apresentadas nos textos, tornando a leitura da obra mais didática e acessível.
Seria demasiadamente enfadonho sintetizar aqui o conteúdo e as discussões de cada um dos capítulos do livro. Porém, arrisco-me a classificar os temas dos textos em três tópicos latu sensu: prospecção e registro de imagens em campo; estudos e coleta para sedimentologia e geoarqueologia; análises e coleta de material bioarqueológico (zooarqueologia, arqueobotânica e antropologia física). Embora haja uma divisão de temáticas abordadas no livro, há algumas questões que permeiam todos os textos e que merecem ser destacadas, por exemplo: como coletar amostras em campo, para que coletá-las e como registrá-las e acondicioná-las devidamente para análises futuras em laboratório. São questões relevantes e que atormentam (pelo menos, deveriam atormentar) qualquer coordenador de campo, na medida em que nos fazem pensar sobre a fragilidade e sutileza do registro arqueológico, a facilidade em confundir, misturar e perder amostras e, portanto, dados arqueológicos. E, por fim, refletir sobre o tamanho adequado das amostras versus o tamanho, geralmente limitado, das nossas reservas técnicas espalhadas pelo Brasil.
Eis uma das principais contribuições do livro: os autores conseguem, com maestria, demonstrar que é possível realizar intervenções pontuais nos sítios arqueológicos, minimizando os impactos físicos aos pacotes deposicionais e maximizando os resultados interpretativos. Essa conta positiva é possível com a padronização adequada e experimentada de coletas amostrais, que permitem obter vestígios microscópicos oriundos desses sítios arqueológicos monumentais, materiais que, embora sejam micro em tamanho, ao serem identificados, permitem avançar em discussões de larga escala, que vão da economia e dieta alimentar até práticas de manejo da paisagem e conformação territorial; vide o caso dos parasitos, o estudo da fauna ictiológica e o estudo dos carvões que compõem as fogueiras rituais e de aquecimento residencial.
A padronização das amostras em volume, formato e registro são temas importantes e que foram amplamente discutidos no livro por quase todos os autores. Da mesma forma, os autores foram bastante contundentes ao incentivar o uso de protocolos de coleta altamente padronizados, que permitam a comparação das amostras no processo laboratorial. Porém, há um aspecto que me preocupou na leitura e que poderia ter sido mais bem conduzido, talvez, até mesmo, por um capítulo à parte: o perigo da ‘superpadronização’. Os autores demonstraram uma grande preocupação em tecer uma escrita que, não obstante tenha um caráter bastante técnico, consiga atingir os recém-iniciados em Arqueologia. É até curioso um texto acadêmico que ensina como segurar a pá, para que lado e em que sentido se deve realizar uma limpeza e retificação de perfil, e de que forma se deve preencher um diário de campo.
Com certeza, os autores estiveram preocupados em manter uma linguagem bastante clara e acessível, visto que, no cenário nacional universitário, novos cursos de graduação em Arqueologia vêm sendo criados sistematicamente, o que gera novos leitores. Eu, como professor de práticas de campo e laboratório, fico extremamente agradecido, pois vale lembrar que, nas graduações brasileiras, utilizar um texto em língua estrangeira é quase um atentado, portanto textos que ‘traduzam’, por assim dizer, técnicas e métodos difundidos internacionalmente são muito bem-vindos. Entretanto, retomando minha preocupação com a ‘superpadronização’, fiquei pensando que um jovem leitor poderá facilmente entender que as escavações arqueológicas devem atingir um alto nível de padronização, em que todas as informações devem ser protocoladas em fichas de conteúdo fechado e limitadas em seus campos de respostas, uma espécie de ‘ficha de ticar’, em que caberia ao arqueólogo coletar amostras em volumes pré-determinados, preencher os protocolos e armazená-las adequadamente para incorrer corretamente às análises laboratoriais. Certamente, não foi essa a mensagem que moveu o interesse dos autores ao compor a obra, contudo vale a pena lembrar os leitores de que fazer ciência requer um alto grau de sensibilidade e subjetividade e que, não seria incorreto dizer, em Arqueologia, pelo caráter empírico, confiar no feeling não é ceder à falta de objetividade.
Trago essa discussão exatamente pela minha experiência como professor de graduação e pós-graduação em Arqueologia, e por estar imerso num cenário em que essa disciplina é cada vez mais demandada pelos empreendimentos de engenharia no Brasil, por conta das práticas de licenciamento ambiental. No contexto das atividades de licenciamento, vem se tornando senso comum que a qualidade das pesquisas arqueológicas está relacionada ao volume de dados que gera e, sobretudo, à confiabilidade técnica que conformou os dados. Nesse sentido, a padronização das informações registradas em campo vem sendo tomada como essencial, refletindo qualidade e confiabilidade na pesquisa. Logo, o estabelecimento de um protocolo de coleta, em todas as etapas do quotidiano da pesquisa, permite aos arqueólogos gerarem dados ‘a toque de caixa’, com baixo índice de subjetividade científica e que nega ou dificulta o exercício da reflexão. Nesse sentido, é importante ressaltar que o livro em tela contribui para a divulgação de técnicas padronizadas, que devem ser adotadas nas diferentes pesquisas após reflexões aprofundadas, algo que, muitas vezes, a Arqueologia de contrato não atende.
Há, ainda, outro aspecto a destacar. A coleta e o estudo cuidadoso das coleções artefatuais e das amostras biológicas em campo elucidam uma discussão emergente no Brasil. Cada vez mais, arqueólogos têm se debruçado sobre uma tendência recente em desvalorizar, de certa forma, atividades interventivas nos sítios arqueológicos, baseando-se no discurso do preservacionismo e da limitação das reservas técnicas. Da mesma forma, desconsideram a importância de análises sobre coleções fragmentárias, argumentando que somente as coleções artefatuais mais significativas deveriam ser abordadas, pelo seu cunho elucidativo, simbólico e educativo. Porém, com a leitura da obra, fica também evidente que foi somente com novas intervenções arqueológicas em sítios já bastante estudados, e com base em análises de coleções até então desconsideradas pelo seu aspecto microescalar ou secundário, que novos modelos teóricos sobre as sociedades sambaquieiras puderam ser constituídos, ou seja, esses modelos são fruto de trabalhos de campo exaustivos, experimentação, discussões amadurecidas e publicação de dados. Invariavelmente, essas novas intervenções arqueológicas avolumaram as reservas técnicas, o que leva a discussão para além da Arqueologia tradicionalmente realizada no Brasil, invadindo temas como gestão do patrimônio arqueológico, reservas técnicas, ciência da conservação e museologia.
Na busca da popularização de uma abordagem estratégica bem pensada, que dialogue com pesquisas nacionais e internacionais, a obra contribui amplamente para o desenho de projetos de pesquisa e, com certeza, se tornará uma boa referência. Considerando o pool de pesquisadores que contribuíram para a tessitura do livro, e pelo seu conhecimento de técnicas importantes que ultrapassam as práticas de campo, fico na expectativa da publicação de um segundo volume, composto por abordagens metodológicas em laboratório, envolvendo as mesmas temáticas já abordadas na obra.
Rafael Guedes Milheira – Universidade Federal de Pelotas. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Encontro de Antropologia: homenagem a Eduardo Galvão – MAGALHÃES et al (BMPEG-CH)
MAGALHÃES, Sônia Barbosa; SILVEIRA, Isolda Maciel da; SANTOS, Antônio Maria de Souza (Orgs.). Encontro de Antropologia: homenagem a Eduardo Galvão. Manaus: Editora da UFAM; Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2011. 560 p. Resenha de: SCHRÖDER, Peter. Homenagem tardia. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, vol.9, n.1, jan./abr. 2014.
Estranheza. Esta foi uma das primeiras reações ao folhear esta coletânea com seu motivo de capa atraente. A razão? Não o tema do livro, mas o tempo que levou para ser lançado. Trata-se de um conjunto de exposições e comunicações apresentadas por ocasião do Seminário Eduardo Galvão, realizado no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), de 2 a 5 de setembro de 1997.
O objetivo do evento era, como fica evidente com a leitura das contribuições, tanto uma homenagem quanto uma avaliação crítica de vida e obra de Eduardo Galvão (* 25/01/1921, Rio de Janeiro – † 24/08/1976, Rio de Janeiro) no contexto da antropologia brasileira, ou seja, um tema que pode ser justificado com facilidade. Mas resta a questão por que levou 14 anos (ou talvez 16, quando se leva em conta algumas divulgações de lançamento em meados de 2013?) para se publicar as contribuições ao evento. Geralmente, o interesse por anais de eventos, por exemplo, dissipa-se depois de poucos anos, a não ser que fossem publicados alguns papers excepcionais, apreciados por especialistas. Na coletânea resenhada, no entanto, não é possível encontrar a resposta pela questão do hiato temporal entre evento e publicação.
Organizar um evento para avaliar as contribuições e os impactos de um pesquisador importante em sua área e depois publicar as conferências e comunicações não são tarefas cotidianas nas ciências humanas, mas nenhuma coisa incomum. Entre os diversos aspectos que podem ser citados com relação a tais homenagens críticas figura a distância entre o falecimento do homenageado e o ano do evento. Será que um intervalo de vinte anos permite uma avaliação historicamente equilibrada e sóbria sobre o homenageado? Ou será que as impressões subjetivas ainda exercem influências muito fortes nas avaliações? Parece ser mais fácil garantir tal distanciamento em casos de pesquisadores temporalmente mais afastados, como Nimuendajú ou Radcliffe-Brown.
No caso da coletânea resenhada, porém, pode ser apresentada uma justificativa importante: o fato de Galvão quase ter desaparecido, desmerecidamente, das leituras canônicas em antropologia brasileira, tanto nas graduações quanto nas pós-graduações. Desse modo, o livro podia ser um estímulo para ‘redescobrir’ um autor importante na história da antropologia brasileira. No entanto, sempre existe o perigo, no caso de eventos com publicações como a coletânea, de produzir uma obra cujas contribuições majoritariamente têm pouco a ver com o homenageado, como já aconteceu no caso de um colóquio, realizado em Jena, Alemanha, em 2005, por ocasião do sexagésimo aniversário da morte de Nimuendajú (Born, 2007).
O título do livro é uma alusão explícita a “Encontro de sociedades”, coletânea com textos de Galvão postumamente publicada em 1979. Infelizmente, não se encontra, como se podia esperar, uma síntese biográfica do homenageado e nem uma lista de suas publicações (como em Galvão, 1996). A “resenha biográfica” no final do livro, de basicamente uma página (p. 551-552), não faz jus a Galvão.
Em toda a coletânea, há apenas quatro artigos, de 32, no total, que de fato se concentram em aspectos da vida e obra de Galvão. O primeiro, de Orlando Sampaio Silva, é uma sistematização descritiva dos enfoques regionais e temáticos na obra de Galvão, relacionando as áreas onde este realizou suas pesquisas de campo com as publicações resultantes. O autor chama a atenção para as delimitações temáticas e situacionais de Galvão nos estudos de aculturação realizados nas décadas de 1950 e 1960, a distinção sistemática entre mudança cultural e aculturação, os exercícios classificatórios (áreas culturais) e as referências teóricas (principalmente, a antropologia americana da época), porém, a síntese da obra ficou inacabada nesse texto. Neste sentido, o segundo artigo, de Pedro Agostinho, oferece uma abordagem interpretativa mais abrangente, embora trate ‘apenas’ do “tempo de Brasília” de Galvão (1963-1965). O artigo de Roque Laraia, por sua vez, destaca a importância histórica da obra de Galvão no contexto da antropologia brasileira. Além disso, é uma bela reflexão sobre sense e nonsense de publicar diários de campo. Chama a atenção que este assunto também é discutido na introdução escrita pelos organizadores da coletânea. No caso dos diários de campo de Galvão (1996), a questão principal é se eles revelam novidades sobre o autor ou sobre suas pesquisas publicadas, e o fato de esta dúvida existir é revelador em si.
O quarto artigo, de Heraldo Maués, focaliza os ‘pais fundadores’ da antropologia institucionalizada no Pará: Galvão, no MPEG, e Napoleão Figueiredo, na Universidade Federal do Pará. De forma imprevista, a estupidez da máquina ditatorial, que afastou Galvão de Brasília, favoreceu o fortalecimento da antropologia em Belém. Como Maués bem observa, com isso foi rompido certo padrão de relacionamentos profissionais de antropólogos com a região, já que por muito tempo a Amazônia foi considerada exclusivamente como ambiente para coletar informações a serem analisadas em contextos institucionais fora da região.
Há mais quatro artigos na primeira parte do livro, sobre as contribuições de Galvão à antropologia brasileira, porém estes textos, de Yonne Leite, Samuel Sá, Isidoro Alves e Mark Harris, focalizam menos o pesquisador Galvão do que os quatro anteriores. A segunda parte do livro, por sua vez, está composta por fragmentos de mitos coletados por Galvão e por quatro álbuns fotográficos muito interessantes (do alto Xingu, do alto rio Negro, dos Kaiowá e dos Tenetehara), inclusive mostrando diversos colaboradores e interlocutores de Galvão.
A terceira parte, com 24 artigos, representa mais de dois terços do livro, mas os textos muitas vezes não têm nada a ver com Galvão ou estão relacionados com sua obra apenas indiretamente, por afinidade temática ou regional. Às vezes, Galvão é citado ‘de alguma maneira’, sem que isto tenha consequências para as análises apresentadas; e em várias contribuições nem se encontra referência bibliográfica alguma a ele. Até um leitor muito ingênuo pode se perguntar: onde estão as conexões com o tema do evento?
Uma parte das contribuições parece representar projetos de pesquisa em andamento, porém certamente já concluídos em 2011 (por exemplo, o artigo de Denize Genuína da Silva Adrião sobre concepções de natureza e cultura no médio rio Negro). Certos temas ou conjuntos temáticos, por sua vez, predominam: por exemplo, estudos sobre populações pesqueiras e suas práticas econômicas, com dez artigos, o que evidentemente tem a ver com os interesses de Galvão. Também há diversos textos sobre meio ambiente e sobre saúde.
Na introdução à coletânea, os organizadores explicitam sua visão da obra de Galvão: por um lado, caracterizada por perspicácia analítica, por outro lado, ultrapassada em termos epistêmicos. Certos aspectos de sua atuação acadêmica são destacados: sua capacidade de formar novos pesquisadores, seus estímulos inovadores, seus interesses bem articulados numa antropologia prática e suas contribuições à institucionalização da antropologia na Amazônia. Também é abordada a questão de qual foi a linhagem acadêmica constituída por Galvão.
Os organizadores também explicam que ainda há muito material documental nos arquivos do MPEG, que poderia servir de base empírica para pesquisas futuras sobre vida e obra de Galvão. Em todos os casos, o livro resenhado é muito interessante, tem diagramação bastante agradável e permite uma primeira abordagem ao homenageado, mas não fornece uma base de consulta sistemática. E certamente esta nem era a intenção da publicação, a qual, de alguma forma, representa um estado da arte: aquele da pesquisa antropológica na Amazônia em meados dos anos 1990.
Referências
BORN, Joachim (Org.). Curt Unckel Nimuendajú – ein Jenenser als Pionier im brasilianischen Nord(ost)en. Wien: Praesens, 2007. (Beihefte zu “Quo vadis, Romania?”, 29). [ Links ]
GALVÃO, Eduardo. Diários de campo de Eduardo Galvão: Tenetehara, Kaioá e índios do Xingu. Organização, edição e introdução de Marco Antonio Gonçalves. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Museu do Índio/FUNAI, 1996. [ Links ]
Peter Schröder – Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
História militar do Mundo Antigo: guerras e representações | Pedro Paulo A. Funari et. al
A obra História Militar do Mundo Antigo, lançada em 2012 pela editora Annablume, é dividida em três volumes: I – Guerras e Identidades, II – Guerras e Representações e III – Guerras e Culturas. A série é organizada pelos estudiosos Pedro Paulo Abreu Funari, professor da Universidade Estadual de Campinas, Margarida Maria de Carvalho, da Universidade Estadual Paulista (campus de Franca), Claudio Umpierre Carlan, docente de Unifal, e Érica Cristhyane Morais da Silva, da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesta resenha, será analisado o segundo volume, que objetiva mostrar como distintas culturas do Mundo Antigo se representavam nos conflitos bélicos.
O livro se inicia com uma apresentação dos organizadores que recapitula o estudo da História Militar e defende como ele tem sido renovado graças à incorporação de temas relacionados à vida sexual, às identidades sociais, ao colonialismo, às relações de gênero, às subjetividades e ao abastecimento militar. O primeiro artigo do tomo é de Katia Maria Paim Pozzer, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de título “Guerra e Arte no Mundo Antigo: Representação Imagética Assíria”. Nele, Pozzer investiga os baixo-relevos de palácios assírios, advogando-os como fundamentais na organização social daquela sociedade, em particular na guerra. Isto porque os relevos apresentam, muitas vezes, as vitórias assírias obtidas no campo de batalha, em especial a crueldade empregada contra seus atacantes. Além disso, mostravam o monarca como campeão militar, aspecto de primeira grandeza em sua legitimidade.
O segundo artigo do volume é “Marchando ao som de auloí e trompetes: a música e o lógos hoplítico na Grécia Antiga”, do docente da Universidade Federal de Pelotas, Fábio Vergara Cerqueira. O autor defende que a música encontrava-se no âmago na sociedade grega Antiga, se fazendo presente até nas mais ígneas batalhas, conforme encontrado em autores clássicos e na iconografia de vasos de cerâmica. Também é destacado o pioneirismo espartano no uso de instrumentos em campos de guerra, facilitando a comunicação entre os combatentes. Maria Regina Candido, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Alair Figueiredo Duarte, doutorando da mesma instituição, assinam o texto “Atenas entre a Guerra e a Paz na Região de Anfípolis”. Analisando como região de Anfípolis era de grande importância estratégia devido a seus recursos naturais e questões relativas ao abastecimento militar, os estudiosos relatam toda a série de escaramuças que ocorrem por seu controle. Já Ana Teresa Marques Gonçalves, professora da Universidade Federal de Goiás, e Henrique Modanez de Sant’Anna, docente da Universidade de Brasília, põem sua rubrica no texto “As Mandíbulas de Aníbal: os Barca e as Táticas Helenísticas na Batalha de Canas (216 a.C.)”. O artigo desvenda as estratégias do célebre general cartaginês durante as Guerras Púnicas, alegando que a vitória avassaladora das forças de Cartago na batalha de Canas teria promovido uma profunda reorganização das tropas romanas, que voltaram a pautar seu contingente pelo apelo aos “soldados-cidadãos”.
O escrito “Aquisição de inteligência militar entre Alexandre e César: dois estudos de caso” é de lavra de Vicente Dobroruka, também da Universidade de Brasília. Nele, define-se aquisição de inteligência militar como a obtenção de informações acerca do inimigo, aspecto explorado na análise das trajetórias dos conquistadores supracitados. Valendo-se de trechos de autores como Plutarco, Arriano e do próprio César, Dobroruka objetiva demonstrar como a obtenção de dados sobre os adversários é um prática que data de há muito, embora com notáveis diferenças em relação ao mundo hodierno. Claudia Beltrão da Rosa, professora da Unirio, contribui com “Guerra, Direito e religião na Roma tardo-republicana: o ius fetiale”. Os ius fetiale, mencionados no título, eram sacerdotes romanos responsáveis por uma declaração formal de guerra, por meio de uma série de rituais, o que os colocaria como personagens de relevo numa sociedade marcada pela interseção entre o direito, a guerra e a religião. Fundamental mencionar que estes rituais sofreram mudanças ao longo do tempo, em particular durante o período imperial, no qual as batalhas eram travadas a distâncias cada vez maiores da Península Itálica.
O professor Fábio Joly, da Universidade Federal de Ouro Preto, é responsável pelo capítulo “Guerra e escravidão no Mundo Romano”. Nele, o que mais chama a atenção é o relato das ressignificações que a figura do escravo rebelde Espártaco teve no correr dos séculos, de ícone da luta proletária marxista a baluarte da disputa por liberdade política na Europa do Antigo Regime. A docente da UFPR, Renata Garraffoni, assina “Exército romano na Bretanha: o caso de Vindolanda”. Garraffoni revisita as formas por meios das quais a História e a Arqueologia abordaram as relações culturais no Mundo Antigo, primeiro com modelos normativos rígidos e depois com abordagens mais multifacetas e fluidas. No caso de Vindola, região da Bretanha Romana, mostra-se como inscrições encontradas em cultura material podem advogar em favor de uma sociedade na qual as mulheres também possuíam certa voz ativa. Lourdes Feitosa, da Universidade Sagrado Coração, e Maximiliano Martin Vicente, da Unesp/Bauru, também analisam as questões de gênero em “Masculinidade do soldado romano: uma representação midiática”. O estudo de caso dos autores é o seriado “Roma”, exibido nos canais HBO e BBC. De acordo com os estudiosos, a série reforça os estereótipos de Roma com uma sociedade violenta e libidinosa. Neste particular, as personagens masculinas, como legionários e centuriões, são, amiúde, representadas como beberrões, mulherengos e impetuosos.
“O Poder romano por Flávio Josefo: uma compreensão política e religiosa da submissão” é o título do texto de Ivan Esperança Rocha, da Unesp/Assis. Ao aquilatar os escritos de Josefo, o autor pondera sobre os seus aspectos dúbios, uma vez que eles, ao mesmo tempo, são elogiosos tanto a romanos quanto a judeus. Regina Maria da Cunha Bustamante, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, emprega sua pena em “Bellum Iustum e a Revolta de Tacfarinas”. O conceito romano de Bellum Iustum liga-se à noção “guerra defensiva”, ou seja, um conflito militar que tem sua origem numa infâmia provocada pelo inimigo. Já a Revolta de Tacfarinas foi um levante que insurgiu contra o jugo romano no norte da África no princípio do século I. Andrea Rossi, da Unesp/Assis, é a autora de “As guerras dádicas: uma leitura da fontes textuais e da Coluna de Trajano (101 d.C – 113 d.C.)”. Visando a uma diálogo entre as fontes materiais e textuais, o artigo analisa a expansão territorial promovida pelo Imperador supracitado tanto à luz dos autores clássicos como das imagens de seu triunfo estampadas na famosa coluna. “Exército, Igreja e migrações bárbaras no Império Romano: João Crisóstomo e a Revolta de Gainas”, de Gilvan Ventura da Silva (Universidade Federal do Espírito Santo) é o último artigo do volume. O autor versa a respeito de toda a série de conflitos ocorridos no período final do Império romano em virtude das migrações bárbaras e suas relações com os imperadores e as práticas religiosas.
Diante do que foi exposto, fica patente que História Militar do Mundo Antigo: guerras e representações é uma obra de grande valor. Trata-se de um volume com artigos de alto grau de sofisticação e com reflexões que, decerto, irão interessar não somente aos aficionados pelos combates travados na Antiguidade, mas a todos que têm em mente a máxima de Heráclito: “a guerra é o pai de todas as coisas”.
Thiago do Amaral Biazotto – Graduado em História pela Unicamp. Mestrando em História pela mesma instituição.
FUNARI, P. P. A.; CARVALHO, M. M.; CARLAN, C.; SILVA, E. C. M. (Orgs.). “História militar do Mundo Antigo: guerras e representações”. São Paulo: Annablume, 2012. Resenha de: BIAZOTTO, Thiago do Amaral. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.9, n.1, p.160-163, 2014.
Revisão legal e renovação religiosa no antigo Israel | Bernard M. Levinson
É com entusiasmo que recebemos em língua portuguesa uma obra de Bernard M. Levinson.2 Temos em mãos uma pesquisa multidisciplinar seminal, cujo objetivo do autor é “abrir o diálogo entre os Estudos Bíblicos e as ciências humanas” (p. 33). As abordagens científicas são dos documentos legais da Bíblia hebraica, mas não se restringem a eles, tendo como cenário o Sitz im Leben siro-palestino no contexto das transições sociais envolvendo a população judaíta entre os séculos VIII-V a.C. Diante das quase restritivas especializações acadêmicas o objetivo é digno de nota, por isso o livro traz já em seu primeiro capítulo, “Os estudos bíblicos como o ponto de encontro das ciências humanas”, a argumentação conceitual sobre o “cânon” como uma possível ponte entre disciplinas que trabalham a reavaliação das forças intelectuais e históricas, as ideologias e códigos definidores do cânon bíblico e de outros cânones.[3]Para o autor, a “ausência de diálogo com os Estudos Bíblicos empobrece a teoria contemporânea em disciplinas nas ciências humanas e a priva de modelos intelectuais que de fato favoreceriam o seu intento” (p. 28), mormente em seu emprego crítico das teorias das suposições ideológicas que objeta a noção de um cânon por ser a mesma uma entidade autossuficiente, um fóssil literário imutável.
É por este pressuposto que os estudos em história, arqueologia, filosofia, filologia e antropologia – acrescentaríamos a psicologia –, mesmo como disciplinas, podem contribuir conjuntamente com os Estudos Bíblicos quanto ao exame das construções teóricas e processos metodológicos com base histórica, pois o próprio cânon sanciona a centralidade da teoria crítica. Nesse sentido, “a interpretação é constitutiva do cânon” (p. 39). As camadas literárias, particularmente, e os livros da Bíblia hebraica não devem ser vistos somente como “teologia”, mas mormente como obra intelectual. Desse modo, a teoria cultural, por exemplo, atingiria maior fundamentação em diálogo com a pesquisa cujo foco é o rigor filológico. Aqui está realmente um dos temas em que o livro se encaixa nos debates contemporâneos, problematizado por várias abordagens.
Em princípio, a eliminação dos códigos legais do corpus bíblico da noção de lex ex nihilo. A cultura material do antigo Oriente-Próximo tem comprovado que as leis cuneiformes, originadas na Suméria no final do terceiro milênio a.C. e descobertas em escrita suméria, acadiana e hitita, ao espalhar-se pelo Mediterrâneo influenciaram inclusive os escribas israelitas, que passaram a copiá-las (como o modelo de tratado neoassírio pressuposto como modelo no livro do Deuteronômio, capítulo 28). “Usando as categorias da crítica literária, pode-se dizer que uma voz textual era dada a essas coleções legais por meio de tal moldura, que as coloca na boca de um monarca reinante. Não é que o divino esteja desconectado da lei no material cuneiforme” (p. 46). De fato, as chamadas leis humanitárias israelitas são expressão revelada do divino, de forma que inexiste atribuição autoral, mas um mediador venerável.
Nessa reorganização de textos, surge a necessidade por parte dos revisores de evitar o questionamento à infalibilidade de Deus e o conceito de revelação divina, resolver o acaso de injustiça de Deus e manter a perpetuidade das leis. Estas questões estão arguidas e pesquisadas exemplarmente do capítulo dois ao quatro no livro e com suas implicações melhor elaboradas no capítulo cinco – intitulado “O cânon como patrocinador de inovação”. Entretanto, resta a constatação, não vista por Levinson, de que o Deus do antigo Israel nunca refere a sua palavra (dabar) como “lei” (dat), mas como “instrução” (torah). Estes problemas são elucidados pelo autor à medida que identifica as técnicas literárias israelitas, mormente nas composições sacerdotais do período pós-exílico (após 538 a.C.) com evidências na Antiguidade Clássica, nomeadamente a subversão textual estruturada como “lema”, “retórica de encobrimento”, “exegese harmonística”, modelos e terminologias dos tratados de Estado hititas, neoassírios e aramitas, o straw man (técnica retórica de superar a proposição original), o tertium quid (presente no Targum), a paráfrase homilética, retroprojeção, adição editorial, pseudepigrafia, glosa. Todo o trabalho hermenêutico intracanônico, literariamente revisionista, ocorre tendo como tempo narrado o ambiente político das ameaças neoassíria e, em seguida, neobabilônica aos grupos populacionais israelitas na faixa leste-oeste da região do Jordão, cujo tempo presente dos escribas são os períodos arqueológicos persa e grego.
Decerto, a apresentação de uma obra ou biblioteca autorizada como obra aberta não é novidade, mas não a tarefa de repensá-la a partir da sua “fórmula de cânon” em relação à exegese e à hermenêutica intracanônicas,[4] histórica e filologicamente apropriadas como instrumentos de renovação cultural. Bernard M. Levinson empreende tal pesquisa com as camadas literárias legais tendo como fontes as coleções legais reais do Oriente-Próximo e a sua noção de um vínculo jurídico obrigatório, compreendidas como sendo feitas em perpetuidade. A fórmula nos textos do antigo Oriente tem a intenção de impedir inovações literárias, preservar o texto fixado originalmente. Com isso, as gerações posteriores têm o desafio de ampliar um corpus delimitado, suficiente e autorizado através da incorporação das suas vidas, adaptando-o às realidades em suas amplas esferas não contempladas na época de sua composição. Destarte, esses procedimentos etnográficos, não raros no antigo Oriente-Próximo, estão presentes na literatura do antigo Israel.
A originalidade da historiografia bíblica [5] é explorada na pesquisa sobre a revisão legal para demonstrar a própria ideia de história legal em que o tempo narrativo serve como um tropo literário em apoio à probabilidade jurídica. Quanto a isso, Bernard M. Levinson apresenta uma interpretação metodologicamente complexa e inovadora do livro de Rute da Bíblia hebraica, apresentando-o como oposição revisionista e talvez subversiva das “leis mosaicas” operadas pelo escriba judeu Esdras no final do século V a.C. Assim, ele introduz o debate sobre as identidades étnica e social no âmbito das questões jurídicas e sua transferência para o domínio teológico.
Fundamentando-se em sólido trabalho documental (chamamos a atenção para as notas de rodapé!), a pesquisa da revisão legal no antigo Israel apresenta como seu ponto alto da multidisciplinaridade os textos do livro do profeta Ezequiel da Bíblia hebraica (profeta ativo de c. 593-573 a.C.).[6] Aqui o debate profético dá-se com o Decálogo e a sua doutrina do “pecado geracional”. O profeta revisa a doutrina, minuciosamente historicizada por Levinson apreendendo a técnica do straw man: o profeta lança mão de uma estratégia para absolvição por rejeição popular da torah divina através de institucionalização de sabedoria popular, o que extrapola como história social os limites da teologia. De forma adequada para prosseguir na abordagem da interpretação e revisão da “lei” no livro do Deuteronômio e nos Targumim, [7] Levinson demonstra que o livro do profeta Ezequiel ao rejeitar por completo a doutrina do pecado geracional está argumentando “que o futuro não está hermeticamente fechado” (p. 78), o que para a sua época soaria como uma pedagogia da esperança. O argumento é de que “a despeito da sua terminologia religiosa, ela [a formulação da liberdade elaborada pelo profeta] é essencialmente moderna em sua estrutura conceitual” (p. 79), comparável na história da filosofia ao conceito de liberdade moral de Immanuel Kant (1724-1804).
Tanto quanto Ezequiel fez, Kant prepara uma crítica pungente da ideia de que o passado determina as ações de uma pessoa no presente. Ele desafia qualquer colocação que reduza uma pessoa ao seu passado e impeça o exercício do livre arbítrio ou a possibilidade de mudança. Ele sustenta que as pessoas são livres a cada momento para fazerem novas escolhas morais. Sua concepção de liberdade é dialética: embora não exista na natureza nenhuma liberdade proveniente da causalidade (de uma causa imediatamente precedente), a liberdade de escolha existe para os seres humanos com base na perspectiva da ética e da religião (p. 79).
Assim como o filósofo Immanuel Kant rejeita filosofias coetâneas (Thomas Hobbes, o determinismo associado ao “espinosismo”, Gottfried Leibniz), o profeta Ezequiel rejeita o determinismo pactual templar do período da monarquia israelita, tendo a seu favor o caráter dialético do conceito de autoridade textual presente no antigo Israel. Portanto, não é difícil desfazer o ponto cego filosófico entre razão e revelação. E, ao contrário do que comumente se pensa, a revisão do cânon é intrínseca ao próprio cânon, pois “a revelação não é anterior nem externa ao texto; a revelação é no texto e do texto” (p. 95); daí a pseudepigrafia mosaica, que contribui teórica e metodologicamente para uma história da recepção e interpretação dos textos.
Em adição, um terço do livro, isto é, o sexto capítulo, dedica-se ao pesquisador, a nosso ver, sem prejuízo dos demais leitores; o autor o chama de “genealogia intelectual” ou história da pesquisa por meio de pequenos ensaios bibliográficos de várias das mais importantes obras científicas sobre a literatura e a sociedade do antigo Israel, desde a produção do final do século dezenove até a mais recente. Por fim, saliente-se que o autor do livro não esboçou alguma tentativa de conceituar “etnicidade e identidade” – assim mesmo enunciado, como fundações construcionistas isoladas [8] – e a sua aplicação aos grupos populacionais da Antiguidade, omissão que não compromete a importância e a qualidade científica do livro, que certamente interessará aos estudiosos da grande área de Ciências Humanas.
Notas
3. Com relação à literatura clássica ocidental, basta consultar as últimas obras de Harold Bloom (Yale University) para perceber que ele dedicou-se a esta tarefa; com relação à literatura hebraica, mencionamos a importante produção de Robert Alter (University of California). Sem embargo, é sempre pertinente voltarmos à obra-prima fundante de Eric Auerbach, Mimesis (publicada no Brasil pela editora Perspectiva).
4. Para Levinson, exegese ou hermenêutica é o conjunto de estratégias interpretativas destinado a estender a aplicação de um cânon à vida e suas circunstâncias não contempladas. Para conceito e abordagem diferentes sugerimos a opus magnum em três volumes de Jorn Rüsen, publicada pela editora da Universidade de Brasília, Teoria da história I (2001), Teoria da história II (2007) e Teoria da história III (2010).
5. Este domínio da História há muito tem sido tema de importantes pesquisas de historiadores, arqueólogos, antropólogos e filólogos, das quais arrolamos algumas não citadas por Levinson: CHÂTELET, François. La naissance de l’histoire. Tomes 1 et 2. Paris: Éditions de Minuit, 1996; MOMIGLIANO, Arnaldo. Problèmes d’historiographie ancienne et moderne. Paris: Gallimard, 1983; SETERS, John van. Em busca da história: historiografia no mundo antigo e as origens da história bíblica. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008; ASSMANN, Jan. La mémoire culturelle: écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques. Paris: Éditions Flammarion, 2010; PRATO, Gian Luigi. Identità e memoria nell’Israele antico: storiografia e confronto culturale negli scritti biblici e giudaici. Brescia: Paideia Editrici, 2010; LIVERANI, Mario. Oltre la Bibbia: storia antica di Israele. 9. ed. Roma, Editori Laterza, 2012 [1. ed., 2003].
6. John Baines em importante investigação sobre a realeza egípcia (BAINES, John. “A realeza egípcia antiga: formas oficiais, retórica, contexto”. In: DAY, John (org.). Rei e messias em Israel e no antigo Oriente Próximo. São Paulo: Paulinas, 2005, p. 48-49), ao referir-se à religião e crenças egípcias oferece uma informação relevante sobre a Bíblia hebraica: “Assmann [Jan] considera a evocação pelo rei da ordem geral parte do caráter de ‘religião primordial’ das crenças egípcias: a ‘religião’ egípcia é de uma sociedade ou civilização única e não pode ser separada da ordem social dessa sociedade. O mundo da Bíblia Hebraica era um mundo de fé declarada e de compromisso com uma divindade e um sistema religioso determinados por grupos principalmente de elite em uma sociedade organizada relativamente pequena que se insurgiu contra outras sociedades circundantes, mas também tinha aspirações universalizantes; suas crenças normativas também eram objeto de intensa discussão interna”. Em adição, a nosso ver, por uma forte corrente religiosa posicionar-se em favor do “povo da terra” e contra a monarquia, que mantinha o templo como uma espécie de anexo legitimador do palácio, a religião do antigo Israel pré-exílico manteve características suprassociais e maior atenção aos movimentos vitais.
7. Apenas como informação geral, a grafia para expressar uma determinada quantidade de Targum ou o seu plural não é “targuns”, como traduzido no livro (p. 92), mas Targumim.
8. Em contrário, “identidade” é um termo autoexplicativo usado de diferentes maneiras, não é algo estático, mas um processo contínuo e interativo; portanto, construímos identidades étnica, religosa, de gênero etc. Sobre isto, à época da sua pesquisa Bernard M. Levinson teria provavelmente acesso à importante obra: DÍAZ-ANDREU, Margarita et al. The archaeology of identity: approaches to gender, age, status, ethnicity and religion. London: Routledge, 2005. Em adição, recomendamos ao leitor: CARDOSO, Ciro Flamarion S. “Etnia, nação e a Antiguidade: um debate”. In: NOBRE, Chimene Kuhn; CERQUEIRA, Fabio Vergara; POZZER, Katia Maria Paim (eds.). Fronteiras e etnicidade no mundo antigo. Anais do V Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Pelotas, 15-19 de setembro de 2003. Pelotas: Editora e Gráfica da Universidade Federal de Pelotas; Canoas: Editora da Universidade Luterana do Brasil, 2005, p. 87-104. Recentemente publicamos uma pesquisa com esta temática: SANTOS, João Batista Ribeiro. “Os povos da terra. Abordagem historiográfica de grandezas sociais do antigo Oriente-Próximo no segundo milênio a.C.: uma apresentação comparativa”, Revista Caminhando, v. 18, n. 1, p. 125-136, 2013.
João Batista Ribeiro Santos – Mestre em Ciências da Religião, com pesquisa na Bíblia hebraica, pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e mestre em História, com pesquisa em história antiga, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
LEVINSON, Bernard M. Revisão legal e renovação religiosa no antigo Israel. Tradução de Elizangela A. Soares. São Paulo: Paulus, 2011. Resenha de: SANTOS, João Batista Ribeiro. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.9, n.1, p.164-169, 2014.
Acessar publicação original [DR]
Walter Benjamin: rastro, aura e história – SEDIMAYER (A-EN)
SEDIMAYER, Sabrina; GINZBURG, Jaime (Orgs.). Walter Benjamin: rastro, aura e história. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2012. Resenha de: VASCONCELOS, Lisa Carvalho. Walter Benjamin: rastro, aura e história. Alea, Rio de Janeiro, jan./jun., 2013.
Em 1935, Erich Auerbach escreve uma triste carta a seu colega Walter Benjamin. Nela, o autor da Mimesis explica que suas pretensões de obter para o colega um posto na Universidade de São Paulo, que então se formava, haviam sido completamente frustradas. Na época, para ambos os intelectuais, que compartilhavam também a origem judaica e a nacionalidade alemã, a emigração parecia ser a única saída de uma Europa cada vez mais beligerante e totalitária. Sabemos que Auerbach, pouco tempo depois, de fato se exilou na Turquia, sendo obrigado a deixar para trás sua biblioteca e os muitos trabalhos que conduzia; sabemos também que Benjamin, entretanto, não teve a mesma sorte: ele morreu em 1940, durante uma última e fracassada tentativa de fugir à perseguição e à guerra, na travessia dos Pireneus já quase em solo espanhol. Pressentiria ele, então, que sua obra faria anos depois o caminho que não conseguiu fazer pessoalmente, com os próprios pés? Afinal, se o próprio Benjamin não conseguiu atravessar o oceano, seus trabalhos têm hoje aqui, do outro lado do Atlântico – no país que um dia poderia ter vindo a habitar – uma rica e fértil recepção.
Segundo Hannah Arendt, “a fama póstuma parece ser o quinhão dos inclassificáveis”.*1 Benjamin, a quem a frase se refere, foi um autor cuja obra não se adequava à ordem de sua época: sem ser propriamente um historiador, um teólogo, um filósofo da linguagem ou um crítico da literatura e da arte, escrevia sobre história, teologia, estética e literatura indistintamente, misturava áreas e saberes constituindo uma forma própria de lidar com o mundo e com o conhecimento.1 Nos dias de hoje, nos quais a valorização da interdisciplinariedade e da interpenetração de saberes vai se tornando o caminho prioritário, seu trabalho se torna particularmente atual. Prova disso é que no Brasil, sua acolhida não se limitou aos campos mencionados acima, mas se espraiou e vem se espraiando pelos campos da psicanálise, da arquitetura, da sociologia e, principalmente, da teoria literária, disciplina que recentemente tem se expandido para dar conta não só de objetos artísticos, mas também dos discursos e das narrativas que compõem o vasto panorama da cultura.
O volume Walter Benjamin: rastro, aura e história, lançado pela Editora UFMG, no segundo semestre de 2012, é um bom exemplo do que afirmamos. Fruto de um trabalho coletivo, o livro é a mais nova produção do Núcleo Walter Benjamin, grupo coordenado, entre outros por Georg Otte e Élcio Cornelsen e que, desde 2006, se dedica à pesquisa e à divulgação dos trabalhos do pensador alemão. O livro reúne em forma de ensaios as principais comunicações dadas à luz durante o segundo Colóquio Internacional do núcleo, intitulado “Spuren: rastros, traços, vestígios” realizado em 2010 na Universidade Federal de Minas Gerais e acrescenta, a esse material, contribuições de convidados, que vem enriquecer e ampliar o projeto inicial. O resultado é um volume amplo e diversificado que mistura reflexões teóricas exclusivamente benjaminianas (como as de Rolf-Peter Janz e de Jeanne Marie Gagnebin, que procuram delimitar filosoficamente os conceitos aura e rastro, fundamentais para as posteriores discussões do livro) com trabalhos de natureza comparatista (como, por exemplo, os de Paulo César Endo e Michele Cometa, que procuram estabelecer a relação entre Benjamin e outros pensadores, no caso Sigmund Freud e o historiador italiano Carlo Ginzburg), e ainda com trabalhos nos quais os conceitos e formulações de Benjamin são usados na abordagem de realidades outras (como fazem Márcio Seligmann-Silva, ao usar o conceito de rastro para abordar a obra da artista plástica Regina Silveira, ou Willi Bolle, que procura ler a cidade de Belém a partir dos mesmos protocolos que Benjamin mobiliza para ler Paris, na obra das Passagens; vale lembrar, entretanto, que seu paradigma de modernidade não é mais Baudelaire, mas Dalcídio Jurandir, escritor paraense e o seu romance Belém do Grão-Pará).
Como o próprio título dá a entender, para todos esses autores serão essenciais os conceitos de rastro e aura. Ambos fazem referência a realidades fugidias e às expressões usadas para se referir aos dois não o são em menor medida. “Aparição única de uma coisa distante, por mais perto que esteja”*2 é uma das definições de aura elencadas por Rolf-Peter Janz. “Presença de uma ausência e ausência de uma presença” é como Gagnebin define rastro. Ao longo dos textos, esses conceitos se alternam colocando em oposição duas realidades diferentes, mediadas pelo terceiro item da tríade que dá título ao livro, a história. Se no passado os objetos históricos (a obra de arte em especial) eram cercados de uma aura que lhes conferia valor quase religioso, hoje, no contexto de sociedades pós-industriais, só podemos entrar em contato com o passado através de seus rastros.
Em dois artigos específicos esses conceitos são empregados em situações particularmente interessantes para a reflexão sobre o mundo contemporâneo. Em “A interpretação do rastro em Walter Benjamin” de Jaime Ginzburg, o rastro é elegido como concepção fundamental para o entendimento da realidade brasileira em seus recalques e não ditos. Já em “A memória poética da guerra colonial de Portugal na África: os vestígios como material de uma construção possível”, de Roberto Vecchi e Margarida Calafate Ribeiro, o rastro vai ser o elemento que permitirá a construção de uma memória da guerra no contexto pós-colonial português, utilizando para isso a produção poética (canônica e não canônica) disponível sobre o assunto.
No primeiro desses artigos, Jaime Ginzburg partirá de uma diferenciação básica no que diz respeito ao conceito de rastro para problematizar as especificidades da realidade brasileira (e da sua representação artística). Para isso, o professor e pesquisador se dedica ao estudo comparativo de dois teóricos importantes: o historiador Carlo Ginzburg e o próprio Walter Benjamin. Para o primeiro, o rastro é compreendido como parte constitutiva de uma narrativa a ser formada. Em sua acepção mais básica, o rastro é a marca (a pegada) deixada por um animal em seu caminho. Cabe ao caçador, recompor, a partir dessas marcas, um percurso que o permita encontrar o animal buscado. Para Carlo Ginzburg, o historiador deve agir como um caçador, selecionando “os principais elementos decisivos para a compreensão do passado”*3 e formando a partir deles a narrativa a que chamamos história. A concepção de Benjamin sobre esse mesmo assunto, entretanto, não poderia ser mais diferente. Segundo Jaime Ginzburg, ele “entende a interpretação do humano em pautas que envolvem componentes dissociativos e cindidos”,*4 ou seja, em sua concepção, o rastro não seria necessariamente encaixável em uma narrativa linear e totalizadora, mas produziria cortes, esquecimentos e dissonâncias.
Ao estudar as especificidades do caso brasileiro (das suas narrativas históricas dominantes, das suas elaborações conceituais, da formação das suas instituições), ele encontra muitos exemplos desses cortes e disjunções. Enquanto país, viemos, no Brasil, ao longo de nossa história, reprimindo as memórias da violência estrutural e formadora do país: a destruição de povos indígenas, a escravidão africana, o massacre de Canudos, a repressão e os assassinatos durante os regimes de exceção (com a ditadura civil-militar de 1964 em primeiro plano). Todos são episódios do nosso passado que preferimos deixar de lado, numa verdadeira política do esquecimento. Ainda segundo Ginzburg, a literatura brasileira dá testemunho formal de uma desconfiança legítima em relação às narrativas falsas e totalizadoras. Bons exemplos disso são, nessa perspectiva, os narradores pouco confiáveis de Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos ou mesmo Raduan Nassar. Tanto Bentinho, como Riobaldo, Paulo Honório ou André desprezam a linearidade e a causalidade das estórias que contam e se revelam sempre hesitantes e desconfiados da própria memória.
O segundo artigo é quase um corpo estranho dentro da coletânea. Sem se dedicar especificamente a Benjamin ou a realidades próximas ao contexto brasileiro ele faz, entretanto, um movimento muito interessante de buscar no rastro benjaminiano as bases para a construção literal de uma memória coletiva. É preciso deixar claro que esse processo não tem ambições totalizadoras; muito pelo contrário, é uma memória falha, estilhaçada e fragmentada a que se desenha através desse esforço. Talvez a única memória possível em uma situação de guerra generalizada. Expliquemos. O artigo de Roberto Vecchi e Margarida Calafate Ribeiro vem debater teoricamente os princípios de uma coletânea poética elaborada pelos próprios autores – a Antologia da memória poética da Guerra Colonial. O livro procura, nas palavras de seus próprios organizadores, recolher um corpo textual que paute os principais temas e problemas da produção poética feita no e a partir do período da Guerra Colonial portuguesa (1961-1974). Nesse sentido, os conceitos benjaminianos de rastro, vestígio e ruína se revelaram essenciais, como afirmam Vecchi e Ribeiro, uma vez que fundamentaram as questões iniciais a partir das quais foi possível se desenhar um corpus para o trabalho. É preciso lembrar que o conflito colonial foi uma experiência praticamente universal dentro da realidade portuguesa da época, mobilizando algo em torno de um milhão de soldados e atingindo quase todas as famílias do país, independentemente da classe social. A produção artístico-literária que lida diretamente com o assunto é igualmente profusa, daí a dificuldade e ambição da tarefa.
Elegido um material de trabalho, a tentativa dos autores foi então a de abordar os poemas e fragmentos textuais que compõem o livro como rastros, que, lidos em sequência, comporiam uma narrativa incompleta, mais ainda assim uma narrativa. O modelo usado para isso é novamente o do caçador, que recompõe o percurso de sua presa a partir das pegadas deixadas por ela. Ao contrário da narrativa linear e causal de uma caça, a memória recomposta pelos poemas seria uma memória em perigo, ou ainda uma memória em disputa. E isso se dá não só porque aquilo que os poemas buscam partilhar faz oposição direta à política de esquecimento adotada pelos órgãos oficiais do país, mas também pelo caráter traumático dessa própria memória. A experiência avassaladora e sem sentido da guerra se erige nesses textos como fato não simbolizável, como ruína e signo (mudo) de morte, e instaura, assim, um tempo recursivo, não linear dentro do qual é impossível enterrar o passado. Não é sem razão que o corpo insepulto será, como lembram os autores do ensaio, um tema recorrente na literatura portuguesa de guerra. Como um fantasma a materialidade do império desfeito sem impõem sem “nenhuma totalidade ou sentido possível”*5 resistindo à amnésia do mundo da técnica.
Assim como os dois artigos mencionados acima, muitos outros da coletânea Walter Benjamin: rastro, aura e história mereceriam uma leitura mais prolongada aqui. As limitações da presente resenha impedem, entretanto, uma análise maior ou mais detalhada. Fica registrado aqui o convite para que o leitor dê continuidade a esse trabalho, através da leitura desse livro que, como queremos enfatizar, é fundamental para a compreensão seja do Brasil, seja de outras realidades.
Notas
*1 (ARENDT, Hanna. Walter Benjamin: 1892-1940. In: Homens em tempos sombrios. São Paulo: Companhia das Letras: 167. [ Links ])
*2 (SEDLMAYER, Sabrina e GINZBURG, Jaime (Org.). Walter Benjamin: rastro, aura e história. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2012: 13. [ Links ])
*3 (Ibidem: 119.)
*4 (Ibidem: 124.)
*5 (Ibidem: 98.)
1 Vide Theodor Adorno, em “O ensaio como forma”. In: Notas de literatura I. Tradução e apresentação de Jorge de Almeida. São Paulo: Duas cidades; Editora 34, 2003.
Lisa Carvalho Vasconcellos é doutora em Teoria Literária pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E-mail: <[email protected]>
[IF]
Sur le désir de se jeter à l’eau – QUIGNARD; FENOGLIO (A-EN)
QUIGNARD, P.; FENOGLIO, I. Sur le désir de se jeter à l’eau. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2011. Resenha de: GALÍNDEZ-JORGE, Verónica. Surpreenda-se com o direito à propriedade. Alea, Rio de Janeiro, v.14, n.2, jul./dec., 2012.
Há anos conhecemos obras dedicadas aos manuscritos de escritores. Dos cadernos manuscritos publicados sob a forma de fac-símiles com transcrições, às edições fac-similares de rascunhos; da publicação da fábrica de Francis Ponge, aos estados não acabados de edições de obras completas. O público, seja ele universitário ou não especializado, terá praticamente visto de tudo. Ora, foi necessário esperar esta última empreitada para que a literatura e a crítica testemunhassem um diálogo inédito, do qual nos foram legados apenas vestígios, certamente, mas, mais importante, reflexões.
Por um lado, temos o escritor, para quem a empreitada genética será objeto de análise antes de tornar-se algo próprio. Do outro, o investigador, que procura a gênese in vivo e que se verá dividido entre a construção da distância crítica e a proximidade do corpus que lhe é confiado diretamente.
Sur le désir nos apresenta a reprodução dos manuscritos de trabalho, com anotações e desenhos que compõem o dossiê genético de Boutès, de Pascal Quignard, publicado em 2008 pela editora Galilée e acompanhado de textos – as categorias narrativas não são úteis para descrevê-los – , dois que pertencem ao escritor e três à crítica e diretora de pesquisas do ITEM (Instituto de Textos e Manuscritos Modernos), Irène Fenoglio. Esses textos são testemunho da amizade que se construiu entre os dois, mas também de um pacto tácito de generosidade. O leitor confirmará a generosidade do escritor para com a crítica, mas também desta para com o escritor e dos dois, tornados autores deste livro, para com o público. De modo algum trata-se aqui de demonstrar um percurso de criação, como poderia dar ler a reprodução dos manuscritos, mas de tornar público um processo, uma aprendizagem, o desafio que se coloca às duas partes implicadas. A empreitada deste livro poderia ser situada muito mais do lado da criação de um novo tipo de corpus que do lado da constituição de um processo que se daria a ler e analisar.
Os dois, Quignard e Fenoglio, se lançam nos manuscritos, assim como faz Boutès, para efetivamente ouvir o canto das sereias, para a escuta recíproca. Os textos descortinam o contexto deste projeto, as condições nas quais os manuscritos foram arquivados para serem posteriormente transmitidos ao investigador, que se interroga sobre como lê-los, como abordá-los.
Não se trata, como sugerido em outro lugar, de um dossiê escapado das chamas – Quignard costuma queimar seus manuscritos, ato que já foi filmado uma vez – mas da formalização de uma troca de natureza rara em nossos tempos: a da partilha. “Normalmente destruo tudo para que o quarto fique vazio. Para que a casa fique fazia. E também para que a vida fique vazia.
Aceitei. Irène Fenoglio ensinara-me tanto – desenganara-me tanto – sobre o meu próprio trabalho”, afirma Quignard.
O escritor não se contenta em conservar seus traços para que outro avalie seu trabalho, ou sua eventual genialidade, mas decide lançar-se em um diálogo com a pesquisadora. Desse processo repleto de questionamentos, surge o projeto editorial que contempla a publicação dos manuscritos. Esse primeiro projeto não será publicado.
Por sua vez, a pesquisadora tenta compreender as razões que levam-na a querer trabalhar sobre manuscritos tão contemporâneos, ultracontemporâneos: “[…] sempre pareceu-me que compreender o processo de criação pela escrita se beneficiaria de um olhar que fosse orientado para o que se escreve hoje, no tempo de um atual questionamento sobre a escrita”. E esse objetivo é trabalhado sob forma de apresentação da escrita de Pascal Quignard, das pistas que permitem que o leitor leia os manuscritos publicados à sua maneira. Assim, os textos de Fenoglio apresentam as diferentes materialidades do conjunto genético: desenhos, fotos impressas, folios impressos a partir do uso de editor de texto e anotações manuscritas, papeletas manuscritas, para descrever um gesto de escrita, assim como suas “quedas” e questões relativas à própria possibilidade de leitura de manuscritos. “Abrir o manuscrito permite passar o limiar, introduzir-se atrás da tela que o escritor constrói para si mesmo para, atrás dela, retirar-se. É crer na possibilidade de introduzir-se. De fato, permanecemos sempre sobre o limiar para passar ao ato do nosso próprio desejo”.
Essas mesmas “quedas” serão objeto de escritos inéditos de autoria de Quignard e que formalizam a atividade de escrita tal como parece vivê-la: “Rupturas de oralidade, é o que são os livros”.
Ainda que a pesquisadora nos chame a atenção: “Um manuscrito não se abre“. Ainda que previna que o leitor se perderá, ele reencontrará, neste diálogo único e original, a essência de Boutès, o “único herói da antiguidade que terá tido a audácia de mergulhar no mar para juntar-se às sereias”.
Trata-se, sem dúvida, de uma obra que acabará questionando os criadores e os pesquisadores, dado que será necessário incorporar definitivamente a materialidade dos manuscritos como evidência de diálogo à toda reflexão sobre a criação. Se por acaso a crítica vê-se incapaz de reconstituir um eventual interlocutor, pelo menos emergirá o diálogo que o ato em si, aquele de guardar vestígios, estabelece com a escrita como ato, como política, como partilha.
Verónica Galíndez-Jorge – Professora de literatura francesa na área de Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês do Departamento de Letras Modernas da USP. É autora de Fogos de artifício. Flaubert e a escritura. Traduziu, em colaboração com Roberto Zular, a coletânea de poemas franceses Dois ao cubo. Alguma poesia francesa contemporânea. Atualmente dirige a coleção Ecritures du XXIe siècle com Irène Fenoglio, dedicada a mapear e analisar a produção literária contemporânea. E-mail: <[email protected]>.
[IF]
Livro – PEIXOTO (A-EN)
PEIXOTO, José Luís. Livro. Lisboa: Quetzal, 2010. Resenha de: NOGUEIRA, Carlos. Alea, Rio de Janeiro, v.14 n.1, jan./jun., 2012.
Livro, o sexto romance de José Luís Peixoto (1974), tem como contexto a emigração portuguesa para França e a literatura enquanto universo complexo, enigmático e contraditório. Estes dois temas surgem ligados na primeira frase do romance, mas o leitor não poderá compreender a verdadeira amplitude desta associação senão na segunda parte do livro.
“A mãe pousou o livro nas mãos do filho” (11) inicia uma narrativa que seduz o leitor pela imprevisibilidade e pelo dramatismo das situações, pela densidade psicológica das personagens e pelo encadeamento dos episódios, que se vão sucedendo numa progressão cronológica assinalada, entre parênteses, no início de alguns capítulos ou no seu interior, imediatamente antes do parágrafo que se segue e no mesmo tipo de letra do texto. Há ainda palavras-chave, como “(Fonte)” (26) ou “Posto da guarda” (101), números, o nome de uma personagem e, por vezes, a representação pictórica de uma mala, que também delimitam os momentos narrativos. À medida que o romance avança, o andamento dos episódios e a alternância entre eles intensificam-se.
Também neste aspecto da sintagmática narrativa o autor recorre, no nível gráfico, a uma estratégia que visa marcar esses momentos: um espaço em branco, equivalente a duas ou três linhas, entre cada parte. Num livro que tem tanto de romance tradicional como de narrativa pós-moderna, esta técnica, tal como as que enumeramos acima, contribui para a inscrição do romance numa categoria genealógica singular. As personagens deste romance estão divididas entre Portugal, de onde algumas nunca saíram, como Josué e a velha Lubélia, e França, para onde partiram na situação de emigrantes não propriamente convencionais e de onde voltam para períodos de férias e, mais tarde, no caso de Adelaide e do filho “Livro”, definitivamente.
Lubélia, personagem amargurada por ter abortado e por ter sido afastada pelos pais da experiência amorosa, envia a sobrinha à força para França, para separá-la de Ilídio, que, ao aperceber-se disso, decide partir à procura de Adelaide. Para além do episódio inicial, constituído pelo abandono de Ilídio pela mãe, que parte para França, é este o núcleo a partir do qual se desencadeiam todas as outras linhas efabulativas do romance. Apesar de narrados autonomamente, todos estes episódios se encontram associados numa lógica de alternância cinematográfica que dá ao leitor a possibilidade de saber o que as personagens não sabem umas das outras.
Fala-se, neste romance, de vidas humanas individuais, dos seus desejos, vontades, erros e conflitos; fala-se de amor, de morte, de encontros e desencontros; e fala-se também de Portugal como povo, com as suas crendices e obsessões, vícios e virtudes, alegrias e tragédias, e como país que vive a tragédia de uma ditadura e a conquista de liberdade política, social e individual. 1974 é, por isso mesmo, um ano privilegiado neste livro, em especial os dias que precedem e sucedem à revolução do 25 de Abril. “27 de Abril de 1974” é uma data com implicações narrativas e autobiográficas: é a data que assinala o fim da primeira parte do romance, narrado em terceira pessoa, e a data de nascimento do narrador (autodiegético) da segunda parte, que é também a data de nascimento do autor empírico (cuja projeção autobiográfica tem ainda a ver com o facto de os pais de José Luís Peixoto terem sido emigrantes em França nos anos 60).
O livro que Ilídio recebe da mãe é o mesmo livro que ele, adolescente, oferecerá a Adelaide, com quem, muito mais tarde, terá um filho ilegítimo, cujo nome insólito é também o nome deste romance: Livro.
Este é um romance que muda radicalmente de registo no início da segunda parte, que surpreende o leitor com um inquérito, constituído por doze perguntas, enunciado nestes termos: “Indique os seguintes dados” (207). Percebe-se, mais à frente, que o próprio narrador autodiegético responderá a este questionário repentino e insólito, em que entram aspectos de natureza não só civil e biográfica, mas também pessoal: “Nome da sua mãe” ou “Nome do seu bilhete de identidade”, por um lado, e “Adjectivo que melhor caracteriza o penteado que tem neste momento” ou “Número de vezes que lava os dentes por semana” (207), por outro. Antes, contudo, dos primeiros indícios que fazem a ligação com a intriga da primeira parte do romance, surge outro momento perturbador que acentua ainda mais o estranhamento causado pelo inquérito: “Preencha os espaços em branco com as respostas anteriores” (209).
Esta segunda parte não se desliga completamente da anterior, mas obriga o leitor a rever as expectativas que foi criando ao longo de duzentas páginas. Paralelamente às sequências de ações, às relações entre personagens e à caracterização direta e indireta de espaços e figuras, as incursões no metaliterário inscrevem este romance no âmbito pós-moderno. O leitor lê o livro, primeiro na segurança de uma história bem-construída e escrita com a elegância de um autor que sabe usar o ritmo, a metáfora e a comparação: “Cada martelada que acertava na parede era como uma explosão no centro da terra. […] As cabeças dos martelos eram pesadelos de aço maciço, trovões negros. O Ilídio segurava o seu martelo com as duas mãos e acertava na parede, que caía em grandes postas caiadas, com tijolos vermelhos nas pontas, como entranhas” (178).
Mas este Livro também interpela o leitor através da visão criativa do pós-moderno, que já não se satisfaz com a apresentação de uma história linear e previsível; interessa-lhe, dialogando ironicamente com o passado histórico, literário e cultural, inovar pelo lado da reflexão metaliterária. Para o narrador deste Livro, que no final se dirige a um narratário, tudo está em julgamento e em movimento: a sociedade, o pensamento e a própria literatura: “Este livro podia acabar aqui. Ficávamos assim, no vácuo desta revelação. The end. Ou talvez nem seja sequer uma revelação, talvez seja apenas um sinal da minha incapacidade de interpretar detalhes” (261).
Carlos Nogueira – Universidade Nova de Lisboa [email protected]
[IF]
Writing and Empire in Tacitus | Dylan Sailor
Públio Cornélio Tácito é reconhecido hoje como um dos maiores historiadores do Principado. Considerando Ronald Haithwaite Martin [157] e Fábio Joly podemos afirmar que, ao pensarmos sobre vida e obra de Tácito, percebemos que sua obra histórica abarca o relato sobre as duas primeiras dinastias – dos Júlio-Claudianos e dos Flavianos – e a guerra civil de 69. Além de obras do gênero histórico, Tácito escreveu outras obras – Germânia, Agrícola e, possivelmente, Diálogo dos Oradores – e exerceu uma gama de cargos políticos dentro do Principado, entre eles estãoo de questor em Roma, no ano 81, e de procurador na Germânia, ainda no mesmo ano. Suas obras teriam sido compostas nos principados de Domiciano, Nerva e Trajano. Martin destaca ainda que os escritos de Tácito foram de grande importância e influência para os autores de século III e para os epitomadores dos séculos IV e V.
É na busca pela delimitação do estilo tacitista de escrita que Dylan Sailor compõe a obra Writing and Empire in Tacitus. Nesse livro o autor tenta mostrar como as obras e o estilo de Tácito são frutos de seu tempo e de sua carreira. Para isso , ao analisar as obras de Tácito, Sailor mostra como se desenvolvia a produção literária no Principado, não somente no tempo de Tácito, mas comparando com outros momentos da história do Principado, como quando remete a Sêneca e a outros autores citados nas próprias obras deTácito. É perceptível que, seguramente, a obra de Sailor segue a mesma linha de Sir Ronald Syme (Tacitus, 1958), em que credita o estilo de escrita de Tácito à carreira política e ao tempo em que escreveu. E que se contrapõe a O’ Gorman (Irony and Misreading in the Annals of Tacitus. Cambridge University Press, 2000) e Haynes (The history of make-believe: Tacitus on Imperial Rome. University of California Press, 2003) que creditariam o estilo taciteano a uma tradição em Roma, abalando o vínculo entre Tácito, sua obra e a realidade mais imediata. Evidentemente, para esses dois autores, Tácito estaria mais próximo de Tito Lívio, enquanto, para Syme e Sailor, um bom marco comparativo seria Salústio. Notoriamente, podemos ver que a opção tomada por Sailor parece mais adequada ao analisar a obra taciteana. Porém, ao contrário de Salústio, Tácito é envolto pelo regime imperial. Um regime que oprime por vezes a liberdade de se escrever o que pensa. A obra de Sailor aborda, de maneira muito enfática e convincente, que não é possível analisar as obras de Tácito sem conseguir enxergar o contexto de sua carreira, de sua obra literária e de sua vida social nas entre linhas de suas obras historiográficas.
O livro é dividido em seis capítulos: “Introdução”, “Autonomia, autoridade e representação do passado sob o Principado”, “Agrícola e a crise de representação”, “Os encargos de Histórias”, “Em outros lugares de Roma”, “Tácito e Cremutio” e “Conclusão: conhecendo Tácito”. O autor constrói a sua obra mostrando como podemos distinguir o autor, do político e do homem aristocrata nas obras de Tácito.
A opção de Sailor por iniciar o livro com um capítulo focando os conceitos sobre os quais ele debate ao longo de sua obra parece ser a estratégia mais adequada. Isso porque nesse capítulo o autor discute justamente o caminho pelo qual seguirão seus argumentosao longo de sua obra. O autor começa o capítulo introdutório “Autonomia, autoridade e representação do passado sob o Principado” se indagando sobre a possibilidade de Tácito ter criticado tão claramente a hipocrisia do Principado – do qual fez parte como deixa claro sua extensa carreira política. Nesse capítulo percebe-se que é indispensável, para Sailor, termos em mente que, para os romanos, era essencial a separação entre o autor e a voz narrativa da obra.
Esse primeiro capítulo nos permite entender que, para Sailor (assim como para Ronald Syme) somente foi possível a Tácito exercitar esse distanciamento entre a pessoa e a obra porque ele eraa membro de uma elite de origem provincial. Segundo Sailor, as obras no mundo romano tinham várias funções, mas a principal seria se tornar um monumentum tanto para o presente quanto para a posteridade, sendo algo perdurável, simbólico com intenção de se tornar permanente. É a obra que dava peso ao nome do autor e lhe propiciava a noção de “grande dever” cumprido. Sailor apresenta nesse capítulo a ideia, que defende em toda em sua obra, de que Tácito, por estar presente no principado, não age apenas como um simples escritor, mas também como um agente social nesse meio. Essa ideia apresentada por Sailor, de que o historiador também é um agente social é bem interessante, e também se adéqua a outras personalidades do mundo romano que também registraram seus posicionamentos sobre o poder enquanto estavam dentro das estruturas de poder.
Os demais capítulos seguem a mesma linha de raciocínio, porém, é notório que o autor não aborda as questões conceituais como abordara no primeiro, tornando assim o capítulo inicial de mais relevância à obra. No segundo capítulo, intitulado “Agrícola e a crise de representação”, o autor comenta sobre o monopólio por parte da casa imperial dos triunfos militares e sobre como era perigoso se destacar à frente do Imperador. Essa crise das representações gera um processos de exageração das vitórias ou até mesmo a fabricação dessas. A partir das narrativas de Tácito, Sailor interpreta que Agrícola teria achado uma alternativa para esse processo, reconciliando realidade e representação. De acordo com Sailor, em certa medida a obra Agrícola, de Tácito, [158] se preocupa tanto com a representação quanto com o restabelecimento da verdade, ligada à negação do triunfo à Agrícola. Desse ponto, surgem duas questões. Se é negado à elite e à não-elite as honras pelo triunfo, o que as diferenciam? Se não existe mais o mérito pela honra, o que poderia motivar os membros da sociedade romana a se esforçarem pelo Império? Um dos pontos tocados pelo autor é a questão da virtude. Nesse momento do Império, qual seria o caminho para os homens ilustres mostrarem suas virtudes? Em uma seção do capítulo, Sailor apresenta como era fácil em outros tempos apresentar as virtudes para sociedade, e como era possível produzir esta noção de representação de modo claro.
No terceiro capítulo “Os encargos de Histórias”, Sailor diferencia os objetivos e o estilo de Agrícola e das Histórias. Sailor demonstra como ambas obras trazem a tona problemas políticos, mas em Agrícola, Tácito visa a enaltecer a memória de seu sogro em contraposição ao antagonista, Domiciano. Segundo a análise de Sailor, em Histórias pode se notar um amadurecimento de Tácito ao comentar sobre a tirania que foi se formando, até culminar no desfecho de Domiciano/Agrícola. Sailor aponta como a história da escrita de Tácito se confunde com a história política de Roma por mostrar as mudanças institucionais do Império e as reviravoltas que mudaram os poderes dentro da sociedade. Ao mesmo tempo, Tácito descreve a relação entre o historiador e o príncipe. Para Sailor, Tácito realizaria uma história da historiografia para explicar os motivos da escrita de seu livro.
Primeiramente, Tácito aponta a mudança de poder quanto à escrita da história que, a partir da batalha de Actium, esteve condicionada a uma pessoa: o príncipe. E que, após isso, as histórias estiveram condicionadas a analisarem as res gestae deste homem. A partir da instauração do principado há uma troca da eloquentia e libertas, comuns na escrita da história antes da batalha de Actium, pelo servilismo que passa existir em relação ao imperador. Outro ponto que o autor levanta é que as biografias realizadas até então foram presas à adulatio. Parece sensato destacar um ponto bem abordado por Sailor: nas Histórias, Tácito se livra da relação de poder entre súditos e imperador (caracterizada por uma relação de servilismo) removendo a figura de Trajano do prefácio. Assim, pode a Tácito ser configurada uma liberdade, que a meu ver é o grande diferencial de Tácito para os demais autores da era imperial.
No quarto capítulo “Em outros lugares de Roma”, o autor discute a relação que existe entre a história escrita por Tácito, o regime do Principado, a cidade de Roma, e os demais componentes do Império. Para isso, Sailor analisa o uso da semiótica presente na obra de Tácito contrapondo, princeps a súditos, escravos a senhores, romanos a estrangeiros. O texto mostra como era a relação do princeps com a monumentalidade da cidade de Roma através de passagem que mostra obras erguidas por imperadores. Sailor mostra como Tácito trabalha com a crise da semiótica durante o período de Guerra Civil e que possibilita que os romanos matem uns aos outros. Esse, a meu ver, é o capítulo que Sailor tenta tirar Tácito de seu contexto político e o leva para o contexto social do Império. Sailor mostra nesse capítulo como o historiador latino se relacionava com os costumes dos antepassados e como os comparava com os do seu presente. É certo, pela obra de Sailor, identificar a inquietação de Tácito ao exercer uma reflexão sobre seu tempo.
No quinto capítulo “Tácito e Cremutio”, Sailor aponta para a dificuldade de recepção das obras de Tácito em seu tempo. Valendo-se de uma análise da obra Anais, de Tácito, demonstra os perigos existentes em se escrever tal tipo de obra, e os recursos utilizados para demonstrar tal fato. Para Sailor, diante de tal contexto, a obra Anais serve para nos convencer de todas as dificuldades que rondavam a escrita do historiador, e o risco destas obras despertarem desconfiança ou indiferença no contexto imperial. O que Sailor aponta é que Tácito, através do exemplo de Cremutio, expõe que escrever sobre o Principado era perigoso para o historiador, e que mesmo falando de imperadores mortos (mesmo de uma linhagem já morta!) continuava sendo perigoso tanto para a obra quanto para o autor. Esse capítulo faz um contraponto com o primeiro, quando discute a questão do mártir. Sailor chega à conclusão de que a obra Anais é perigosa porque ajuda os leitores da época a entenderem a natureza dos príncipes e os meios de tirar vantagem deles.
Em “Conclusão: conhecendo Tácito”, o autor fecha com duas ideias em torno do programático e da representação, que se cruzam constantemente na historiografia taciteana. A primeira, sobre a representação do papel do historiador e da história dentro da História, e, a segunda, das relações históricas de atores para obras do passado ou o futuro da história. Tácito, de acordo com Sailor, buscaria mostrar a finalidade de sua obra apresentando a representação do Império, da cidade ou até mesmo do julgamento de Cremutio. Por outro lado, não se abstém de uma discussão programática de seu ofício inserindo o leitor no contexto político que cerca a escrita de sua obra. O que Sailor aponta com esses dois elementos é que a obra de Tácito apresenta como escrever história poderia ser um modo de vida. A obra de Tácito teria permitido a ele se mostrar em um meio público e ao mesmo tempo indicar como o historiador latino se postava contra a ordem de poder existente.
Faço ainda duas ponderações sobre a obra de Sailor. A primeira é que, mesmo abordando grandes obras como Agrícola, Histórias e Anais o autor se abstém de uma análise de outras duas obras taciteanas: Germânia e Diálogo dos Oradores. Essas duas obras poderiam fundamentar ainda mais a tese dele, já que a primeira trata justamente do período em que Tácito esteve inserido como parte operante da política romana e que a segunda trata de uma reflexão sobre a oratória em seu tempo (ainda que sua autoria siga em debate). Nesse mesmo ponto, é visível que o autor se concentra por demais na análise de Vida de Agrícola e História, o que empobreceu a análise sobre Anais, obra com a mesma importância que as duas anteriores. A segunda ponderação, é que, em muitos momentos de sua obra, Sailor não torna possível reconhecer que um conceito usado na análise de uma obra se estende às demais. Por exemplo, se a mesma noção de virtude em Agrícola está presente em Anais. Ele consegue deixari bem clara a ideia de que todas as obras de Tácito são marcadas pela ambiguidade (porque o Principado é ambíguo), masdeixa obscuro se as demais ideias seriam percepctíveis em todas obras. Apesar disso, não vejodúvidas sobre o grande valor que a obra de Sailor traz aos pesquisadores de história antiga e de historiografia porcontribuir gerando uma bem fundada interpretação da escrita de Tácito
Notas
157. CF. MARTIN, R.H. Tacitus. In: Hornblower, Simon and Spawforth, Antony (Ed.). The Oxford classical dictionary. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 1469-1471.
158. Agrícola – obra de cunho biográfico que Tácito teria composto em louvor ao sogro ao qual o Imperador Domiciano teria o negado o triunfo pelas campanhas na Bretanha.
Willian Mancini – Mestrando pela Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: [email protected]
SAILOR, Dylan. Writing and Empire in Tacitus. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Resenha de: MANCINI, Willian. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.2, n.2, p.129-132, jul./dez., 2011.
Agonie terminée, agonie interminable – BLANCHOT (A-EN)
BLANCHOT, Maurice. Agonie terminée, agonie interminable. [Agonia terminada, agonia interminável]. Paris: Editora Galilée, 2011. Resenha de: PENNA, João Camilo. Alea, Rio de Janeiro, v.13 n.2 July/Dec, 2011.
“A experiência da morte – esta pura impossibilidade – seria a condição, o fim e a origem, ou quem sabe o imperativo categórico (o ‘é preciso’ incondicionado) da literatura como do pensamento”. Essa frase resume o livro póstumo de Philippe Lacoue-Labarthe (1940-2007), Agonie terminée, agonie interminable. Sur Maurice Blanchot, que chega agora à forma de volume, graças ao trabalho de Aristide Bianchi e Leonid Kharlamov. O livro fora anunciado na Amazon.com e .fr desde 2004, mas fora deixado incompleto, ou “interminado”, como diz o próprio título, pelo autor em vida. A publicação coincide com a abertura do arquivo de Lacoue-Labarthe no IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine), onde estão depositados os arquivos de muitos dos grandes escritores franceses contemporâneos. O livro é composto de textos heterogêneos, três conferências, dois textos encomendados, um outro mais antigo, da série de prosas Frases (Phrases), coligidas em volume em 2000 (Paris: Christian Bourgois). Pelas notas deixadas em seus arquivos, pode-se reconstituir o formato que teria o livro se concluído, o que nos permite deduzir-lhe o escopo. A apresentação dos dois editores faz o trabalho de recomposição do todo, citando notas de seminários, correspondência, anotações esparsas do autor para si próprio, e não chegam propriamente a preencher-lhe as lacunas, mas dão uma medida do contorno fantasmático do que seria a obra, caso Lacoue-Labarthe tivesse podido concluí-la. Os editores dão um passo adiante com relação ao todo, de maneira discreta mas firme, demonstrando que em parte Lacoue-Labarthe deixou o livro incompleto não apenas pela doença que o matou, mas por dúvidas essenciais com relação ao objeto de sua investigação, que de alguma maneira o título agônico, mais uma vez, nomeia.
Todos os textos que compõem o volume, no estado possível em que foi deixado pelo autor após sua morte, giram diretamente em torno de Maurice Blanchot, mais especialmente em torno de dois textos de caráter autobiográfico, ou testemunhal, mesmo que o primeiro termo faça problema e o segundo fuja ao tema que interessa a Lacoue-Labarthe. Os dois textos são: o pequeno fragmento “Uma cena primitiva?” (“Une scène primitive?“), publicado pela primeira vez em 1976, em uma revista editada por Lacoue-Labarthe,*1 e depois incluído, em versão ligeiramente modificada, com uma série de outros fragmentos de que ele é como que a condição de possibilidade, em A escrita do desastre (L’Écriture du désastre. Paris: Gallimard, 1980); e o segundo é O instante de minha morte (L’Instant de ma mort. Paris: Gallimard, 2002). Os dois textos não têm aparentemente nada em comum. O primeiro relata um episódio de infância: um menino “de sete ou talvez oito anos”, olhando pela janela, e subitamente encarando o céu, reconhecendo-o como vazio – “o céu, o mesmo céu, de repente aberto, negro absolutamente e vazio absolutamente” – e fazendo a revelação determinante para o resto de sua vida, resumida na seguinte frase: “nada é o que há e antes de mais nada nada além” (“rien est ce qu’il y a et d’abord rien au-délà “). O que doravante fará o menino viver “no segredo”: “Ele nunca mais chorará”. O segundo relata um episódio ocorrido no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, com um “jovem”, no interior da França, quando, preso por um pelotão da SS, escapa por um acaso da sorte de ser fuzilado. A experiência da quase morte é vivida como um êxtase, “uma espécie de beatitude”, uma revelação da leveza (ele “experimentou então um sentimento de extraodinária leveza”). Essa experiência e o sentimento inanalisável que provocou no jovem o marcarão para sempre, transformando o resto de sua vida em uma espécie de resto póstumo: “nem felicidade, nem infelicidade. Nem ausência de temor e talvez já o passo além [le pas au-delà : ao mesmo tempo ‘passo além’ e ‘nada além’]”.
O que têm os dois textos em comum além do aspecto, como já disse, problematicamente autobiográfico, disfarçado pelo uso da terceira pessoa? Duas coisas. Em primeiro lugar, trata-se em ambos os casos de experiências, mas de experiências paradoxais, “experiências sem experiência”, para usar uma expressão de Blanchot, em que nada propriamente é experimentado ou em que precisamente o “nada” é experimentado, e sobretudo em que a impossível experiência da morte é, por assim dizer, vivida enquanto quase morte, simulacro da morte. Em ambos os casos, temos uma espécie de êxtase vazio, sem objeto, beirando a revelação mística, como mística negativa, revelação ateia do vazio dos céus no primeiro, e, no segundo, como dádiva da vida, vivida, a partir da experiência crucial que se conta, como sobrevivência, sobrevida ou segunda vida, de tal modo que se inverte a fórmula consensual: a vida é que é a consequência da morte, esta sendo a íntima condição daquela. Teríamos aqui dois exemplares do que Lacoue-Labarthe chama de “a escrita póstuma” de Blanchot.
Em segundo lugar, e aqui tocamos no cerne da hipótese de Lacoue-Labarthe, os dos textos situam-se no contexto do programa rigoroso estabelecido pelo “último Blanchot” de desmitologização ou de desconstrução do mitológico, do sagrado ou da religião. A hipótese é formulada de maneira mais clara quando Lacoue-Labarthe lê a referência lacônica a André Malraux, no final de O instante de minha morte. O “jovem” teria se encontrado pouco tempo depois do incidente do quase fuzilamento com André Malraux em Paris, que lhe relata a perda de um manuscrito, em um incidente com um pelotão SS. Na invasão ao Castelo em que morava o “jovem”, a propriedade da tradicional família de Blanchot, em Quain, o SS teria encontrado também um “grosso manuscrito”, talvez “planos de guerra”. O texto sugere a junção entre os dois manuscritos (o do “jovem” e o de Malraux), nos fazendo pensar, com Lacoue-Labarthe, que eles fossem quem sabe o mesmo. O fundo do problema, no entanto, está na motivação dessa referência a Malraux no texto de Blanchot. Lacoue-Labarthe desentranha um episódio narrado nas Antimemórias de Malraux. Ele teria passado por um quase fuzilamento semelhante ao de Blanchot, e exatamente na mesma época, fato que Malraux aparentemente ignorava. Após ser preso com documentos falsos, perto de Gramat, e interrogado pela Gestapo, Malraux fora colocado diante de um pelotão de fuzilamento que, no entanto, não o executa. O paralelo entre os dois simulacros de execução aponta, na verdade, segundo Lacoue-Labarthe, para uma oposição entre duas políticas da escrita, que Blanchot visaria demonstrar: a sua e a de Malraux. A operação romanesco-memorialística de Malraux contém uma intensa mitologização, enquanto a de Blanchot se construiria como negação do mitológico.
Lacoue-Labarthe analisa a bela cena de renascimento para a vida, como repetição da origem do mundo, também em Le Miroir des limbes, nas Antimemórias, em termos que lembram os de Blanchot, embora carregados de uma mitologia inteiramente ausente do texto de Blanchot.
Eu sabia agora o que significavam os mitos antigos dos seres arrancados aos mortos. Eu quase não me lembrava da morte; o que eu levava comigo era a descoberta de um segredo bastante simples, intransmissível e sagrado.
Assim, talvez, Deus olhou o primeiro homem…*2
A oposição de procedimento literário se completa por uma oposição política, Blanchot tendo se contraposto resolutamente às posições defendidas pelo Malraux-homem de estado a partir do final dos anos 1950.
A conclusão de Lacoue-Labarthe é que aqui justamente se situaria o cerne do paradoxo banchotiano: a escrita antimitológica não deixa de conter sua parte de mitologização, nem que seja a mitologia da falta de mitologia. De maneira essencial, Blanchot teria encarnado mais do que ninguém o mito do escritor e da escrita moderna. Afinal, é ele quem coloca em O espaço literário a escrita sob a égide do mito de Orfeu, ou seja, da descida aos infernos, a nékuia, inscrita nas Geórgicas de Virgílio, e que encontra o seu modelo na Odisseia de Homero, na descida de Ulisses aos infernos. Esta travessia da morte é precisamente a matriz da cena do quase fuzilamento de Malraux, Blanchot e, é claro, de Dostoievski, que Malraux não deixa de citar em suas Antimemórias. A nékuia remeteria a um rito iniciático quem sabe universal, e que teria como complemento esta outra cena paradigmática, também originada em Homero, desta vez na Ilíada, a da ira, com todos os harmônicos políticos contidos nela: a ira contra a injustiça, fonte de toda a protestação política, como a do jovem Marx.
A desmitologização programática de Blanchot não deixa de conter a sua parte de mitologia. A cena do nascimento depois da morte, a “leveza”, a “beatitude”, e a alegria que sucede à travessia da morte retomam uma tópica que aparece em uma certa literatura francesa: ela aparece no ensaio “De l’exercitation” de Montaigne e na segunda rêverie de Rousseau. Em ambos os casos, trata-se de voltar literalmente da experiência da quase morte. A citação consistindo no método da mitologização, contra a qual alertava Blanchot, sem querer nem poder de todo recusá-la.
As duas cenas paradigmáticas que resumem a literatura ocidental, ou o Ocidente enquanto literatura, a nékuia e a da ira, do protesto e da revolta, enfeixariam a relação essencial entre mitologia e política, sacrifício e política, formulados de modo matricial na modernidade pela sequência que se abre com o terror jacobino (1792-1794) e a Festa do Ser Supremo (1794). A recusa à mitologia tem uma importância essencial no programa político-literário de Blanchot, no que toca o nazismo, e este acontecimento que divide o século XX, o extermínio dos judeus da Europa. Pois, segundo Blanchot: “No judeu, no ‘mito do judeu’, o que Hitler quer aniquilar é precisamente o homem liberto de mitos”. Afirmação polêmica, questionada por Derrida (onde há religião há sempre uma parte de sacrifício e sagrado), que assinala a judeofilia de Blanchot. É em torno desta cena político-literária, ou mitológico-política, que se divide também a vocação política de Blanchot: sua dupla “conversão” à direita nacionalista no início dos anos 1930, e à esquerda, ao que parece, após o encontro de Georges Bataille, em 1940.
O livro de Lacoue-Labarthe deixa todas essas questões em aberto. Em seu estado póstumo de fragmento inacabado, ele instala de forma definitiva a questão ético-política que ocupou a vida de seu autor: a afirmação de que “é a remitologização que traz sozinha a responsabilidade do mal”. Aqui ele retorna a todos os seus temas e autores prediletos: Bataille, Hölderlin, Rousseau, Freud e, sobretudo, Blanchot. É, portanto, em torno do motivo do póstumo e da morte que se fecha o ciclo literário e essa vida. Em torno mais precisamente desta revelação: a de que a morte é a condição de possiblidade, no sentido transcendental, kantiano, da vida.
1 (Première Livraison, nº 4, Mathieu Bénézet e Philippe Lacoue-Labarthe (eds.). Paris-Strasbourg, fevereiro-março, 1976.)
2 (Malraux. André. “Antimémoires, III, 2, Oeuvres complètes, volume III. Paris: Éditions Gallimard, 1966, p. 240. Minha tradução.)
João Camillo Penna – Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
[IF]Proteção à natureza e identidade nacional no Brasil, anos 1920-1940 – FRANCO; DRUMMOND (BMPEG-CH)
FRANCO, José Luiz de Andrade; DRUMMOND, José Augusto. Proteção à natureza e identidade nacional no Brasil, anos 1920-1940. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009, 272p. (Coleção História e Saúde). Resenha de: HEIZER, Alda. A construção da identidade nacional (1920 e 1940): entre práticas e projetos. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, vol.5, n.3, nov./dez. 2010.
“Proteção à natureza e identidade nacional no Brasil, anos 1920-1940”, de José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond, é um livro que apresenta ao leitor uma análise que se afasta das interpretações reducionistas e, por vezes, anacrônicas que têm como objeto a ‘conservação do mundo natural’. Os autores, ao explicitarem o lugar de suas reflexões na produção historiográfica sobre a conservação da biodiversidade, privilegiaram como a ‘conservação do mundo natural’ foi pensada em determinado contexto, sem perder de vista as especificidades das propostas em questão, olhando para um passado escolhido (1920-1940), num lugar também escolhido, o Brasil. Ao se debruçarem sobre uma geração de ‘protetores da natureza’, relacionando suas formulações à temática da identidade nacional, os autores trouxeram para a cena atores, instituições e trajetórias.
Resultado de pesquisa minuciosa, o livro foi dividido em introdução, quatro capítulos e epílogo. A apresentação ficou a cargo de Regina Horta Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pesquisadora e referência obrigatória para quem quer estudar o período e as relações entre biologia e natureza. A ‘orelha’ do livro, escrita pela pesquisadora Magali Romero Sá, da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, demonstra o cuidado dos editores do livro ao escolher quem o apresentaria ao leitor.
Na introdução, os autores anunciam suas preocupações: estudar um grupo de cientistas brasileiros e suas preocupações com a proteção da natureza num período específico, 1920-1940, ressaltando como eles pensaram a questão e a presença de suas ideias nas estratégias de ação em um cenário de discussões sobre o nacional e o cientificismo.
Ao se disporem a refletir sobre esse quadro, Franco e Drummond se valeram de uma bibliografia abrangente, que nos permite identificar no texto uma aproximação de questões relacionadas à interpretação das culturas, bem como à importância de se ressaltar a trajetória de conceitos e seus conteúdos.
Os autores utilizaram textos de época de um mesmo autor, em diversos suportes de publicação e para finalidades diversas. Por exemplo, o relatório, a resenha histórica, a iconografia de plantas de Frederico Carlos Hoehne (1882-1959), como a flora de Mato Grosso publicada nos “Archivos do Museu Nacional”, o clube de amigos da natureza na “Revista Nacional de Educação”, entre outros. É nesse quadro que é preciso ler os autores escolhidos por Franco e Drummond.
“As Contribuições de Alberto José Sampaio e Armando Magalhães Corrêa para um programa de proteção à Natureza” é um capítulo em que, particularmente, os autores alcançam o objetivo anunciado. Ele apresenta como os dois personagens escolhidos pretendiam articular a proteção da natureza e a construção de uma identidade nacional. Sem dúvida, a opção por tecer um relato biográfico de Sampaio e de Magalhães Corrêa foi importante para que o leitor pudesse compreendê-los em seus contextos específicos. Um exemplo é a preocupação de Sampaio – que foi assistente de botânica do Museu Nacional e professor chefe da Seção de Botânica do mesmo museu – em não se restringir à botânica sistemática, ao fazer viagens de campo e ao dedicar sua obra sobre a flora de Mato Grosso (estudo de 1916) aos botânicos da Comissão Rondon. Sua relação com as academias científicas, os conselhos e as frentes internacionais mostram igualmente ao leitor a práxis deste cientista e homem público, distanciando a biografia dos cientistas de certa assepsia predominante em trabalhos da área.
Outro aspecto fundamental na obra é a preocupação dos autores com a reprodução de documentos, como a lista dos 62 congressos realizados entre 1884 e 1935, nos quais o tema de proteção da natureza havia sido debatido. Ou ainda destacar as preocupações de Corrêa, que, em 1936, em “O Sertão Carioca”, conclamava o “esforço abnegado dos patriotas” por um “Brasil grande, forte (…) com leis brasileiras para os brasileiros”.
No terceiro capítulo, os autores trazem “Cândido de Mello Leitão e o ponto de vista da Zoologia”, utilizando-se do mesmo formato do capítulo anterior ao apresentar o cientista, porém dedicando mais tempo à obra “A Biologia no Brasil”. Os autores apresentam também a preocupação dos cientistas com a divulgação de suas práticas. Tal postura é igualmente reconhecida no trabalho de Mello Leitão, que atuou com a mesma preocupação e teve o referido livro prefaciado por Edgar Roquette-Pinto (1884-1954), que o considerava um “naturalista de raça” com “elevadas preocupações sociais referentes à sua gente e à sua terra”.
Os autores buscaram registrar a interpretação do Mello Leitão para o “caráter utilitário que os portugueses atribuíram à natureza”, a ordenação cronológica e o relato dos viajantes, bem como o que significou o século XVII para a História da Biologia. Interessante notar, ainda que não nos caiba aqui uma análise detalhada, a afirmação de Mello Leitão a respeito de a Península Ibérica ter ficado alheia às especulações científicas, afirmação esta que foi atualizada por seus sucessores e que está presente na maioria das análises, o que restringe bastante a possibilidade de pensar a Península Ibérica sob outras lentes, o que já vem sendo realizado em pesquisas no Brasil, como as de Carlos Ziller Camenietzki.
O último capítulo, “Frederico Carlos Hoehne e a Conservação da Natureza em São Paulo”, é de uma atualidade excepcional. Os autores permitem ao leitor ter acesso a fragmentos dos trabalhos de Hoehne em diferentes momentos de sua trajetória, desde sua atuação no Museu Nacional, incluindo sua publicação de 1930 sobre as “Plantas Ornamentais da Flora Brasílica”. Para Hoehne, trata-se de uma publicação cuja “intenção é nobre e patriótica, porque é pura, despida de vaidade e orgulho…”, corroborando um movimento visível na produção da época, resultado de um projeto ideológico que não poderia prescindir de uma produção que levasse ao conhecimento nacional o que havia sido feito por brasileiros, sempre valorizando uma nova ordem.
Outro aspecto salientado pelos autores e presente ao longo do texto é o propósito de demonstrar que nos escritos dos cientistas contemplados no livro havia uma preocupação em valorizar um saber que não era acadêmico, como o do indígena, presente, por exemplo, no texto de Hoehne, datado de 1930, sobre a devastação dos campos e das florestas do Paraná e de Santa Catarina, a preocupação com o colono e sua relação com o entorno. A intenção do cientista era alertar os governos sobre a proteção do ‘patrimônio natural’, tema que lhe era caro desde o início do século XX. Seu relato é permeado de lembranças tristes sobre sua participação na Comissão Rondon, em 1909; bem como sua publicação posterior a respeito da importância do Código Florestal Brasileiro, que ressaltava que “as florestas existentes no território nacional, consideradas em conjunto, constituem bem de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com limitação que as leis em geral, e especialmente este Código, estabelecem”.
Franco e Drummond finalizam o livro chamando a atenção para a importância de revisitar os autores estudados e o conteúdo de suas preocupações com a inclusão da proteção à natureza em políticas públicas eficientes. Por certo, com uma análise mais rica que uma resenha pode comportar, o livro traz à cena intelectuais que foram fundamentais para formulações futuras relacionadas à proteção da natureza. Também contribui para o mapeamento de como uma mesma preocupação se apresenta de forma diferenciada em diferentes tempos, e muitas vezes na obra de um mesmo cientista, justificando a localização do livro na fronteira de áreas do conhecimento que são pouco exploradas, e num movimento necessário da história de mudanças e permanências. Trata-se de um livro que abre caminho para pesquisas futuras sobre assuntos urgentes e profundos.
Alda Heizer – Doutora em Geociências pela Universidade Estadual de Campinas. Tecnologista do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Problemáticas sociais para sociedades plurais: políticas indigenistas, sociais e de desenvolvimento em perspectiva comparada – SILVA et al (BMPEG-CH)
SILVA, Crishian Teófilo da Silva; LIMA, Antônio Carlos de Souza; BAINES, Stephen Grant (Orgs.). Problemáticas sociais para sociedades plurais: políticas indigenistas, sociais e de desenvolvimento em perspectiva comparada. São Paulo: Annablume; Distrito Federal: FAP-DF, 2009, 244p. Resenha de: SILVA, Nathália Thaís Cosmo da; DOULA, Sheila María. Desenvolvimento, políticas sociais e acesso à Justiça para os povos indígenas americanos. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.3, nov./dez. 2010.
O livro “Problemáticas sociais para sociedades plurais” aborda grandes temas relacionados às sociedades indígenas americanas, tais como identidade étnica, cidadania, direitos coletivos e diferenciados e problemas sociais. Dividida em três partes, a obra foi organizada por Cristhian Teófilo da Silva e Stephen Grant Baines, ambos professores da Universidade de Brasília, e por Antonio Carlos de Souza Lima, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A primeira parte do livro discute indigenismo e desenvolvimento, com ênfase na questão da convivência interétnica nas Américas; a segunda analisa as políticas sociais para povos indígenas em perspectiva comparada; e a terceira parte aborda os direitos diferenciados de acesso à Justiça.
Os fios condutores da primeira parte do livro são a construção da identidade e da autonomia indígena em face da identidade, da soberania e dos modelos de desenvolvimento nacionais, e as limitações da nova semântica multiculturalista. Os artigos são: “Desenvolvimento, etnodesenvolvimento e integração latino-americana”, de Ricardo Verdum; “Conflitos e reivindicações territoriais nas fronteiras: povos indígenas na fronteira Brasil-Guiana”, de Sthephen Grant Baines; “Políticas indigenistas e cidadania no México e EUA: John Collier, Moisés Sáenz e os índios das Américas”, de Thaddeus Gregory Blanchette; “Indigenismo, antropologia y pueblos índios en México”, de Mariano Baez Landa.
Sob a ótica da relação entre identidade indígena e soberania nacional, o texto de Verdum discute o conceito de ‘etnodesenvolvimento’ como alternativa que leva em consideração a autonomia dos grupos étnicos dos Estados Nacionais, destacando o papel protagonista do Banco Mundial (BIRD) na disseminação deste ideário. O autor assinala a existência de um campo de interesses e disputas presentes nas representações e nos discursos acerca do lugar dos povos indígenas no desenvolvimento da América Latina, enfatizando que as manifestações de diversidade cultural são limitadas por concepções sociais e econômicas de ‘pobreza’ e ‘marginalidade’. Segundo ele, a concepção do Banco Mundial sobre o ‘empoderamento’ é impregnada pela ideologia progressista com o intuito de capacitar os indígenas para participarem de todo o “ciclo de desenvolvimento”.
Seguindo o fio argumentativo sobre as fronteiras e a soberania nacional, o texto de Baines analisa o conflito social em torno da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, mostrando que a regularização desta área pelo governo brasileiro garante a Soberania Nacional e também o manejo sustentável pelos povos indígenas, ao passo que a exploração da terra pelos grileiros rizicultores tinha como objetivo a privatização das terras da União e, como consequência, danos ambientais irreversíveis pelo uso intensivo de agrotóxicos. Baines aponta, no contexto de fronteira entre Brasil e Guiana, o conflito de interesses entre os povos indígenas e o Exército, salientado o desrespeito histórico que marcou a construção de rodovias, de usinas hidrelétricas e a abertura de minas nos territórios indígenas Makuxi e Wapichana. Assim, a fronteira, como sugere o autor, deixa de ser uma questão militar – tendo em vista que ambos os povos expressam patriotismo em relação às suas nações – e passa a ser uma questão econômica.
Blanchette, por sua vez, contextualiza os períodos da construção da identidade indígena na história norte-americana e mexicana. No âmbito do indigenismo norte-americano, assinala a passagem do período de assimilação forçada no final do século XIX, quando os índios tinham a condição de cidadãos de segunda classe, para as primeiras décadas do século XX, quando eles foram representados como um símbolo nacional, assumindo o papel de protetores da fronteira. Esta transformação possibilitou o surgimento do pluralismo e do relativismo cultural dentro do campo político, abrindo caminhos para que, mais tarde, em meados do século XX, o grande personagem do indigenismo americano, John Collier, reformulasse a política assimilativa, priorizando a integração dos grupos numa estrutura pluralista. Collier, com o apoio do presidente Franklin Roosevelt e dos indigenistas mexicanos Moisés Sáenz Garza e Manuel Gamio, foi responsável por mudanças legislativas relevantes em relação às políticas indigenistas nas Américas.
Já na história mexicana, os índios eram considerados um ‘problema’ da nação, de modo que a lógica do progresso induzia o seu desaparecimento. O indigenismo mexicano somou esforços a fim de incorporar os índios como cidadãos, mas essa reorientação acabou se limitando à aparência, uma vez que os índios continuaram a ser vistos como imperfeitamente civilizados.
No que se refere à representação do indígena na trajetória mexicana, Landa expõe que, com uma história marcada por levantes e rebeliões, a figura do índio era a de um bravo combatente pela independência frente à Espanha. No entanto, após esse período, ele passou a significar um entrave à integração e ao desenvolvimento da nação. De acordo com o autor, a identidade nacional construída no México nega as diferenças, tanto pela via da exclusão, que separa e isola as diferentes etnias, quanto pela via da inclusão, que apaga as identidades. Landa sustenta que o indigenismo moderno se impôs igualando pequenos produtores, índios, latinos e mestiços para serem atendidos pelos programas de combate à pobreza e de compensação social, o que culminou na renúncia da condição étnica para obtenção de recursos governamentais.
A segunda parte do livro trata das políticas sociais envolvendo os povos indígenas em temas como a educação superior, as relações de gênero, saúde, contaminação com o vírus HIV e previdência social. Os artigos são: “Cooperação Internacional e Educação Superior para indígenas no Brasil: reflexões a partir de um caso específico”, de Antonio Carlos de Souza Lima; “Políticas sociais, diversidade cultural e igualdade de gênero”, de Lia Zanotta Machado; “Políticas de saúde indígena no Brasil em perspectiva”, de Carla Costa Teixeira; “Un acercamiento a la problemática del HIV/SIDA al interior de los pueblos índios”, de Patrícia Ponce Jimenez; “‘No soy mandado, soy jubilado’: previsión social y pueblos indígenas en el Amazonas brasileño”, de Gabriel O. Alvarez.
No que se refere à educação superior, é a partir da reflexão sobre o projeto “Trilhas do Conhecimento” que Lima discute a utilização dos recursos advindos da cooperação internacional e das políticas públicas. Argumenta que, embora a inovação promovida no cenário das políticas para os povos indígenas tenha se ancorado em subsídios da cooperação técnica internacional, com destaque para a Fundação Ford e para a Fundação Rockfeller, não se pode esquecer que os recursos de natureza privada servem a ações demonstrativas de curta duração e que, portanto, são incompatíveis com tarefas de longo prazo próprias das políticas públicas.
As relações de gênero são problematizadas por Machado, que alerta para o fato de que agressões morais e físicas podem não ser consideradas como violência em determinados contextos culturais e que o significado de violência e discriminação contra as mulheres é construído sem o reconhecimento da cultura local. A autora defende, pois, a diversidade cultural e a igualdade de gênero como questões que dizem respeito fundamentalmente à dignidade humana e, portanto, se antepõe a uma sociedade tradicional que tem arraigadas as práticas da discriminação.
Em outra perspectiva, por meio da análise do processo histórico e político institucional, Teixeira argumenta que a política pública brasileira de saúde para os povos indígenas é dotada de uma profunda força antidemocrática, uma vez que as intervenções sanitárias buscam a incorporação de novas práticas e valores higiênicos pelos indígenas. Aponta no Manual de Orientações Técnicas destinado aos agentes de saúde o predomínio da função simbólica nas ilustrações do texto, que enfatizam a proximidade de comportamentos entre índios, animais e fezes, evidenciando que o foco não é a ausência de infraestrutura sanitária, mas sim o inadequado comportamento higiênico dos indígenas, o que reforça a missão de “sanear pessoas” para o agente indígena.
Quanto à epidemia do vírus HIV, Ponce destaca os perigos de se desconsiderar sua proliferação entre os povos indígenas, entendendo que as políticas públicas nesse setor partem de alguns pressupostos equivocados: os índios são concebidos como exóticos que moram em lugares inacessíveis, inclusive para a AIDS, e a crença de que todos os índios são heterossexuais, sendo também comum a associação da epidemia com a homossexualidade. Novamente, portanto, a crítica recai na incapacidade verificada na formulação de políticas públicas que considerem a diversidade e as especificidades culturais. Essa situação remete a uma “vulnerabilidade multidimensional” que exige novas posturas de líderes e de comunidades indígenas, e também da academia no sentido de assumir o imperativo de falar de sexualidade e diversidade sexual.
O texto de Alvarez discute o impacto das políticas previdenciárias nas comunidades indígenas por meio de três experiências na Amazônia. Em primeiro lugar, nota-se uma valorização social dos aposentados, na medida em que, em alguns casos, os beneficiários conseguem abandonar a condição de trabalhadores e tornam-se patrões; em outros casos, verifica-se um fenômeno mais complexo, no qual o dinheiro passa a ter impacto sobre a vida cultural do grupo, pois os idosos assumem as despesas com rituais e ocupam um lugar proeminente no grupo; finalmente, a aposentadoria tem servido para reverter a situação de marginalidade econômica, subordinação social e estigmatização histórica sofrida, por exemplo, pelos Ticuna, representados como inaptos para o mundo do trabalho, alcoólatras e selvagens. O autor relata, ainda, o recente “drama dos documentos” em decorrência da atuação autoritária da Fundação Nacional do Índio, que, diante da apuração de denúncias de fraudes pontuais com a população indígena Ticuna no município de Tabatinga (AM), mandou suspender a emissão de declarações que dão início aos trâmites para obtenção de recursos previdenciários. Este episódio, por um lado, evoca a atualização dos estigmas ligados aos Ticuna; por outro, traz a reflexão de que, ao contrário do passado, quando muitos deles renunciaram sua identidade indígena, no presente, com a implementação de políticas diferenciadas, seus descendentes assumem suas identidades para ter acesso aos benefícios.
A terceira parte do livro se destina a discutir os direitos diferenciados de acesso à Justiça. Os artigos são: “A Convenção 169 da OIT e o Direito de Consulta Prévia”, de Simone Rodrigues Pinto; “Criminalização indígena e abandono legal: aspectos da situação penal dos índios no Brasil”, de Cristhian Teófilo da Silva.
As proposições de Pinto se referem ao direito de consulta prévia, que foi instituído na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e seu papel fundamental de intermediar e negociar as reivindicações dos povos indígenas e dos Estados. No caso brasileiro, esse direito ainda carece de regulamentação e a falta de definição clara do papel dos povos indígenas acarreta no risco de a consulta se tornar mera formalidade. Faz-se necessário, neste processo, a informação qualificada, que implica tradução não só dos aspectos linguísticos, mas dos “modos de pensar”. Tomando como exemplo os impactos causados por 200 obras propostas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, a autora analisa as possíveis manipulações por parte das empresas responsáveis e chama a atenção para os empreendimentos que afetam diretamente as comunidades indígenas, mesmo que não estejam situados em suas terras.
Finalmente, no âmbito da criminalização indígena, o artigo de Silva denuncia o abandono legal dos índios nas prisões e a necessidade de um aprofundamento empírico e teórico sobre essa realidade no Brasil. O autor alerta para o não reconhecimento do status jurídico dos índios pela justiça criminal, apontando para uma distorção no uso das categorias ‘índios’ e ‘pardos’, e a consequente descaracterização étnica. Evidencia também o racismo institucional e a manipulação da indianidade pelos agentes que relegam aos índios, sob o discurso da aculturação, o tratamento diferenciado. Resta aos estudiosos somar esforços para tentar compreender o que a realidade desses processos de criminalização dos índios que estão nas prisões brasileiras nos diz sobre a pretensa democracia étnica e plural do país.
Nathália Thaís Cosmo da Silva – Mestranda em Extensão Rural na Universidade Federal de Viçosa. E-mail: [email protected]
Sheila Maria Doula – Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Professora Associada da Universidade Federal de Viçosa. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Categorie Italiane. Studi di poetica e di letteratura – AGAMBEN (A-EN)
AGAMBEN, Giorgio. Categorie Italiane. Studi di poetica e di letteratura [Categorias Italianas. Estudos de poética e de literatura]. Bari: Editora de Laterza, 2010. Resenha de: GUERENI, Andréia; MULINACCI, Roberto. Um filósofo nos meandros da literatura: Agamben e as categorias italianas. Alea, Rio de Janeiro, v.12 n.2, jul./dec., 2010.
Giacomo Leopardi, em algumas passagens do seu Zibaldone di Pensieri (1817-1832), reflete sobre a relação entre o poeta e o filósofo. Em um trecho de 1821, o autor de “L’Infinito” afirma que “quem não tem ou nunca teve imaginação, sentimento, capacidade de entusiasmo, heroísmo, de ilusões vivas e grandes, de fortes e várias paixões, quem não conhece o imenso sistema do belo, quem não lê ou não ouve, ou nunca leu ou ouviu os poetas, não pode absolutamente ser um grande, verdadeiro e perfeito filósofo […]”.
Esse não parece ser o caso de Giorgio Agamben, que, no recém-publicado Categorie Italiane. Studi di poetica e di letteratura [Categorias italianas. Estudos de poética e de literatura], demonstra possuir uma profunda afinidade com temas literários, ser um grande conhecedor de obras, escritores, críticos e ter sensibilidade para discutir sobre o “belo”. Aliás, em Nudità (2009) Agamben diz que “uma obra crítica ou filosófica, que não está em algum modo em relação essencial com a criação, está condenada a ficar no vazio, assim como uma obra de arte ou poesia, que não contém em si uma exigência crítica, está destinada ao esquecimento”.
Foi com Italo Calvino e Claudio Rugafiori que Agamben, entre 1974 e 1976, pensou em um projeto de revista para a editora Einaudi. A única coisa acordada entre os três, como o próprio Agamben conta, é que uma das seções da revista deveria se dedicar ao esboço conceitual das assim chamadas “categorias italianas”, visando, portanto, a abranger, através de uma série de pares dicotômicos, as características fundamentais da tradição cultural italiana, em particular a literária. O projeto acabou não dando certo, mas Agamben, continuando fiel aos princípios teóricos que o tinham norteado, publica, em 1996, pela editora Marsilio, uma primeira versão de Categorie italiane, onde ele dá justamente forma, embora parcial e provisória (enquanto parte de uma tentativa de sistematização mais ampla, ainda por cumprir), à tensão dialética entre aquelas “estruturas categoriais” cuja definição, na realidade, transcende – apesar de os textos analisados serem quase todos italianos, com a única exceção dos sirventeses do provençal Arnaut Daniel – o seu específico e explícito âmbito de referência nacional. De qualquer maneira, como o livro estava esgotado há muito tempo, no início de 2010, felizmente, a editora Laterza colocou no mercado editorial italiano uma edição nova e atualizada, que, conforme declara o autor na “Avvertenza alla presente edizione” [Advertência à presente edição], é um livro “substancialmente novo”, devido ao “número e à importância dos textos acrescentados” (p. v), como, de resto, se pode verificar ao final do livro, na “Nota ai testi” [Nota aos textos], contendo as informações precisas de onde cada ensaio foi publicado ou apresentado, qual é inédito, qual não é. Além disso, na qualidade de uma autêntica mais-valia exegética, esta nova edição conta ainda com um belo posfácio, de sabor tipicamente agambeniano (“Profanare il dispositivo”/Profanar o dispositivo), assinado por Andrea Cortellessa, um dos mais brilhantes representantes da nouvelle vague da crítica italiana.
No entanto, na impossibilidade de dar conta, em conjunto, de uma coleção de ensaios tão instigante, talvez valha a pena destacarmos alguns deles, em que esse método analítico por meio de categorias antitéticas se revela hermeneuticamente mais produtivo, a partir, por exemplo, daquela oposição tragédia/comédia sobre a qual se constrói o primeiro “exercício de leitura” do volume, tendo como objeto nada menos que o maior clássico da literatura italiana: a Divina Comédia, de Dante Alighieri. De fato, no texto intitulado justamente “Comedia”, Agamben retoma a velha questão do título da obra, que foi bastante subestimada pela crítica e que, a seu ver, ainda hoje mereceria estudos mais aprofundados, pois Dante, com toda a sua erudição, não teria decerto escolhido este nome, que indica um gênero literário específico, sem algum critério bem fundamentado. É nesse sentido que o autor de O que é contemporâneo? se debruça sobre o “problema” da aparente contraditoriedade de uma titulação cômica para um projeto poético que, na esteira de outras obras dantescas, parecia nascer sob o signo do trágico (pense-se, por exemplo, no De Vulgari Eloquentia) e cuja explicação não pode se contentar, então, com o lugar-comum crítico da oposição entre tragédia e comédia do ponto de vista da matéria, isto é, da diferente articulação interna do conteúdo, distinguindo entre o início “próspero” e o fim “horrível” (típico da tragédia) e seu contrário (o início horrível e o fim próspero, tão característico da comédia). Com efeito, essas categorias de trágico e cômico, que o próprio Dante, na sua célebre carta a Cangrande della Scala, tinha contribuído a cristalizar em uma oposição conteudística condizente essencialmente com os ditames das poéticas medievais, se rede-finem agora não só no quadro temático da inocência e da culpa, vistas da perspectiva do subiectum (para o qual tragédia e comédia não passam de modalidades literárias de seu percurso de condenação ou salvação individual), mas também no contexto de outro dualismo irredutível, aquele entre natureza e pessoa, ou seja, cindindo a culpa natural da culpa pessoal e transformando, assim, o conflito trágico entre inocência pessoal e culpa natural na “conciliação cômica da inocência natural e da culpa pessoal”. Considerado por esse ângulo, o título da Divina Commedia – no centro da qual está a justificativa do culpado ao invés da punição trágica do justo – não se limita a ser “perfeitamente coerente”, como se torna também revelador da íntima tendência anti-trágica da cultura italiana que Dante vai passar para a posteridade.
Mas se o diálogo de Dante com a poesia provençal constitui o imediato elo de ligação unindo “Comedia” ao texto sucessivo, “Corn: dall’anatomia alla poetica” [“Corn: da anatomia à poética”], no qual Agamben relê alegoricamente o debate diacrônico em torno daquela controversa palavra epônima (corn) usada pelo trovador Arnaut Daniel – que, diferentemente da sua interpretação literal, se torna, antes, o equivalente semântico de rima não encadeada (convertendo, dessa forma, o suposto tema obsceno do sirventês num problema métrico) –, é sobretudo esse curto-circuito vertiginoso entre filologia e filosofia que marca uma das principais linhas de continuidade ao longo dos textos. Basta ver, por exemplo, os dois ensaios logo a seguir, “Il sogno della lingua” [O sonho da língua] e “Pascoli e il pensiero della voce” [“Pascoli e o pensamento da voz”], onde o eixo filológico da dicotomia entre língua viva e língua morta acaba sendo ressemantizado no horizonte filosófico de uma experiência de linguagem que se situa para além das línguas, naquele não lugar entre o que foi (língua morta/voz) e o que ainda não é (língua viva/significado), delimitando assim uma dimensão negativa aberta tanto para o ser quanto para o abismo da nada. Não é por acaso que, no primeiro elemento desse díptico ensaístico, vale dizer em “Il sogno della lingua”, ao tratar de um incunábulo impresso em Veneza em 1499, Hypnerotomachia Poliphili, e do estranhamento que o leitor tem ao ler tal obra, pois não sabe em qual língua está lendo (“se em latim ou em vulgar ou em um terceiro idioma”, p. 46), Agamben fala de “um unicum monstruoso” decorrente da fago-citação lexical do latim por parte da estrutura frásica do italiano, embora essa contaminação linguística encontre seu pleno sentido só na reflexão metalinguística que ela contém acerca do bilinguismo (não apenas quatrocentista) enquanto condição inerente à qualquer palavra humana (daí o sonho, justamente, com uma “língua desconhecida e novíssima” que está por detrás da história de Polia e Polifilo e no qual o leitor vai ouvir ressoar a lição benjaminiana da “reine Sprache”…).
Sempre a relação entre língua morta e língua viva continua sendo o âmago da questão em “Pascoli e il pensiero della voce”, conquanto, desta vez, a língua morta não seja mais o latim como a língua da poesia em geral, na qual cabem também aquelas célebres glossolalias e onomatopeias tão ao gosto do lírico decadente italiano. Só que estas, longe de serem a expressão de uma linguagem pré-gramatical – conforme a classificação do crítico italiano Contini – representam, pelo contrário, a gramaticalização daquela voz da natureza, cuja morte está inscrita mesmo nas letras das palavras, como uma intenção de significado a se realizar, porém, unicamente na linguagem articulada. Contudo, retomando algumas observações que estavam já presentes no seu ensaio de 1982, Il linguaggio e la morte [A linguagem e a morte], Agamben não identifica aqui a Voz com a mera phoné, mas sim com aquela vontade de significação permitindo a passagem para o logos, de modo que a letra dos poemas pascolianos se torna afinal, na leitura dele, uma experiência de morte: morte da voz que, ao se inscrever nos signos linguísticos, morre como puro som (onomatopeia) e morte da língua que, ao se reduzir a som, marca a sua saída da dimensão semântica (glossolalia). Mas se, “a poesia é experiência da letra” – conclui o filósofo – pode existir uma experiência da palavra (como também da poesia e do pensamento) que vai para além da letra?
A esta pergunta, Agamben responde indiretamente em “Il dettato della poesia” [O ditado da poesia], onde aborda a relação entre vida e poesia, ou melhor, aquela oposição biografia/fábula, a qual pressupõe, justamente, a relação mais problemática entre vida e palavra. Nessa análise, o autor passa pela tradição teológica, pela literatura dos séculos XIII e XIV até chegar ao século XX, com a poesia de Antonio Delfini, que tenta recompor aquela fractura entre realidade e literatura, antes que ela, mutatis mutandis, se proponha de novo, na poesia de Caproni (“Disappropriata maniera” [Maneira desapropriada]) sob a forma da divaricação entre estilo e maneira. A mesma lógica de análise se dá no capítulo 7, no qual Agamben fala da poesia de Andrea Zanzotto e da sua peculiar e indissolúvel reflexão sobre língua e prática poética. Já em “Il torso orfico della poesia” [Anatomia órfica da poesia], temos a discussão sobre o caráter elegíaco da poesia, principalmente a do século XX. Segundo ele, esta pode ser definida através da contaminação entre hino e elegia. No último texto do livro, intitulado “La fine del poema” [O final do poema], Agamben trata, como o título do capítulo sugere, do final do poema, pois os estudos sobre o assunto são praticamente inexistentes. Aqui, o filósofo, na tentativa de elaborar uma teoria própria, fala da relação entre poesia e verso, rima e metro, som e sentido, a ponto de afirmar que “se o verso se define através da possibilidade do enjambement, disso segue que o último verso da poesia não é um verso” (p. 141). O resultado disso será “uma verdadeira e própria crise de vers, em que está em jogo a sua própria consistência” (p. 141).
Esse grande interesse de Agamben pela poesia em seus mais variados aspectos vai, guardadas as devidas proporções, na mesma direção proposta por Leopardi, pois a poesia e a filosofia estão no mesmo nível, andam lado a lado e são, nas palavras de Leopardi “o ápice do humano espírito[…]”.
Embora os capítulos 8, 10 e 11 não tratem de poesia, discutem temas afins e que podem se relacionar aos assuntos mostrados acima. No capítulo 8 entra em cena a relação entre literatura e política, através da análise do léxico (teológico/político) do escritor Giorgio Manganelli. No capítulo 10, Agamben discute a paródia, através da análise de textos não tão clássicos como L’isola di Arturo (A ilha de Arturo. Tradução e apresentação de Loredana de Stauber Caprara. São Paulo: Berlendis & Vertecchia, 2005.), de Elsa Morante, em que o gênero paródia é o protagonista do livro. Por fim, no capítulo 11 o autor trata da relação entre literatura e filosofia, especialmente da presença de Spinoza em textos de Elsa Morante.
Uma das características recorrentes dos ensaios do livro é a forma “adorniana” de coordenação dos elementos com que Agamben constrói os seus escritos, que aqui podem ser lidos autonomamente. Também o conjunto de textos parece formar um pequeno “sistema” das categorias literárias italianas, que serão úteis para refletir sobre a literatura italiana, mas também sobre outras literaturas, porque Agamben utiliza a forma comparada de análise. Aliás, o ex-professor de filosofia da Universidade de Veneza sabe que a literatura pode ser vista como um eterno “corso-ricorso” viconiano, simplesmente porque “qualquer coisa acaba para sempre e qualquer coisa começa, e aquilo que começa, começa apenas naquilo que acaba” (p. 95).
Esperemos que essa obra de Agamben, autor muito traduzido entre nós, ganhe em breve uma edição brasileira. Como costuma ocorrer com os textos dele, Categorie Italiane agradará tanto os estudiosos de literatura, quanto os que não estão satisfeitos com o especialismo por vezes um pouco asfíxico da crítica literária e gostam de novos horizontes epistemológicos, conscientes de que – como dizia Barthes – “passar da leitura à crítica é mudar de desejo, é desejar não mais a obra, mas sua própria linguagem”.
Andréia Guerini – Universidade Federal de Santa Catarina
Roberto Mulinacci – Università degli Studi di Bologna
[IF]Les littératures de langue française à l’heure de la mondialisation – GAUVIN (A-EN)
GAUVIN, Li-Se (org). Les littératures de langue française à l’heure de la mondialisation. Montreal: Editora da Constantes/Académie des Lettres du Québec/Hurtubise, 2010. Resenha de: FIGUEIREDO, Eurídice. Uma visão atual das literaturas de língua francesa. Alea, Rio de Janeiro, v.12 n.2 jul./dec., 2010.
O livro Les littératures de langue française à l’heure de la mondialisation, organizado por Lise Gauvin, contém textos apresentados no colóquio anual da Académie des Lettres du Québec, feito em parceria com a Bibliothèque et Archives nationales du Québec. O evento foi realizado em Montreal, no dia 17 de outubro de 2008, simultaneamente à reunião de cúpula da OIT (Organização Internacional da Francofonia), que aconteceu na cidade de Quebec. O tema em torno do qual girou o colóquio foi o Manifeste pour une littérature-monde en français, publicado no jornal Le Monde em março de 2007. Este livro assinala a posição crítica dos quebequenses em relação ao Manifesto e a favor da francofonia literária, embora reconheça o ranço colonial que subsiste no termo francofonia, tal como usado no terreno da política internacional.
Lise Gauvin, professora da Universidade de Montreal, que era então presidente da Academia, fala de “malentendido francófono”, visando atacar sobretudo as instituições literárias francesas: o paradoxo apontado por ela é que a França constitui o centro da francofonia sem querer fazer parte dela. No artigo “La francophonie littéraire, un espace encore à créer”, ela comenta o sentido e as repercussões do Manifeste pour une littérature-monde en français, que tinha a pretensão de marcar a morte da francofonia. Aliás, curiosamente, o Manifesto aqui aparece publicado pela primeira vez em livro, apesar de seus mentores, Michel Le Bris e Jean Rouaud, terem dado a público, pela Gallimard, Pour une littérature-monde poucos meses depois (2007), com textos de alguns escritores, signatários ou não do Manifesto, mas sem o Manifesto.
Associando o termo littérature-monde com World Literature, Lise Gauvin diz temer que esta noção seja um avatar disfarçado da ideia de universal imposto pelas culturas dominantes para garantir sua hegemonia. Ela retoma uma noção, já desenvolvida por ela há alguns anos, notadamente no livro Langagement (Boréal, 2000), de que o escritor de língua francesa desenvolve uma superconsciência linguística (surconscience linguistique) pelo fato de conviver com mais de uma língua, seja com o inglês no caso do Quebec, com o crioulo nas Antilhas, com o árabe no Magreb, com línguas étnicas na África subsaariana. “Condenado a pensar a língua, a encontrar sua própria língua de escrita num contexto multilingue, este autor deve inventar novas formas capazes de fazer ouvir a complexidade de suas pertenças. Deve assim, sem renunciar a certos patamares de legibilidade, compor com a opacidade das culturas singulares no imaginário da língua” (p. 28). A hibridação provocada pelo contato com outra língua contribui fortemente para processos de desterritorialização do francês e para transformações da forma romancesca nas literaturas francófonas. Inspirada na poética de Fernando Pessoa, Gauvin considera que se trata de “literaturas do desassossego” (littératures de l’intranquillité), em contraposição ao conceito de “literatura menor”, cunhado por Gilles Deleuze e Jacques Guattari em seu livro sobre Kafka, que muitos críticos associaram a essas literaturas. Ela observa também que a forma do romance foi desestabilizada e reinventada por autores caribenhos e latino-americanos, ao estabelecerem fronteiras porosas entre a realidade e a ficção, entre os diversos níveis de ficção, interpelando o leitor e obrigando-o a uma constante reavaliação do pacto enunciativo (p. 25).
No belo depoimento de J.M.G. Le Clézio, “Le français, beaucoup plus qu’une langue”, primeira conferência proferida por ele após o anúncio do Prêmio Nobel que lhe foi conferido em 2008, ele evoca suas lembranças de infância, época formadora de seu imaginário. Considera que a história das línguas é tão injusta e imprevisível quanto a história dos povos já que à dominação de umas cor-responde o enfraquecimento – quiçá o desaparecimento – de outras. Ele reitera aquilo que Roland Barthes já dizia, que as línguas não são inocentes, elas têm uma história política. No caso do francês, trata-se de uma língua que tem uma situação ambígua: ameaçada no Quebec, ela é, por isto mesmo, fortemente reivindicada; já em antigas colônias da América e da África, ela pode ser vista como uma língua de dominação, impregnada de violência e de racismo. Ele avalia positivamente o estatuto do francês no mundo contemporâneo, afirmando: “O francês é muito mais que uma língua. É um lugar de trocas e encontros. Suas fronteiras se dissolveram na totalidade do mundo, o que não significa um desenraizamento nem uma vulnerabilidade, mas ao contrário maior liberdade, uma audácia e uma ressonância novas” (p. 41).
Olivier Kemeid, em “Une résistance classique”, manifesta-se também contrário a alguns pontos levantados pelo Manifesto, assinalando que a causa principal da recusa dos autores francófonos na França estaria antes no uso particular que eles fazem da língua francesa. Desde Richelieu, o francês tornou-se uma língua rígida, clássica, que não admite barroquismos; assim, os franceses podem apreciar o barroco praticado por escritores latino-americanos, traduzidos em francês, mas não aceitam as rupturas praticadas no nível linguístico por aqueles que escrevem em francês.
Em “La littérature-monde au détour de la transculturalité?”, Dominique D. Fisher considera que a literatura do Quebec não carrega o peso da história colonial francesa nem as pressões das instituições literárias francesas, o lhe confere autonomia. Além disto, desde os anos 1980 ela se inscreve numa geopolítica transnacional e transcultural, com o aporte dos numerosos escritores vindos dos quatro cantos do mundo.
Dany Laferrière, que deixou o Haiti em 1976 devido à ditadura de Baby Doc e se radicou no Quebec, critica a etiqueta usada pela crítica quebequense que o classifica como escritor exilado ou imigrado (écrivain exilé, écrivain immigré), afirmando que o escritor não escreve porque é exilado ou porque emigrou. Aliás, em outros textos, Laferrière recusa outras apelações, tais como escritor francófono ou antilhano, declarando-se, antes, escritor americano. Provocadoramente, ele publicou um romance intitulado Je suis un écrivain japonais em 2008.
Dois textos – um do crítico quebequense Paul Chamberland, e outro, do cineasta Jean-Daniel Lafond – são depoimentos sobre Aimé Césaire, sua vida e sua obra. Durante o colóquio de 2008, foi projetado o filme La manière nègre ou Aimé Césaire, chemin faisant, realizado por Lafond.
Além destes, o livro reúne artigos de outros escritores e críticos do Quebec, como Lise Bissonnette, Madeleine Gagnon, Vénus Khoury-Ghata, Monique LaRue, Joël Des Rosiers e Gilles Pellerin. No final, aparece o Manifesto Pour une “littérature-monde” en français, que foi assinado por 44 escritores, entre eles Edouard Glissant, J.M.G. Le Clézio, Dany Laferrière, Nancy Huston, Jacques Godbout, Maryse Condé e Alain Mabanckou.
Eurídice Figueiredo – UFF/CNPq
[IF]
Oleaginosas da Amazônia – PESCE (BMPEG-CH)
PESCE, Celestino. Oleaginosas da Amazônia. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi; Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2 ed., 2009. 334 p. Resenha de: MANTOVANI, Waldir. Oleaginosas da Amazônia. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.2, maio/ago. 2010.
O livro “Oleaginosas da Amazônia”, de Celestino Pesce, teve a primeira edição publicada em 1941, sendo agora publicada sua segunda edição, revisada e ampliada, pelo Museu Paraense Emílio Goeldi e pelo Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esta edição da obra traz a estrutura original, é acrescida de um capítulo sobre “O potencial da flora oleífera na Amazônia” e recebe ilustrações de espécies apresentadas.
Antes de ser uma obra que descreve características de espécies de plantas da Amazônia com sementes oleaginosas, o livro reflete a preocupação do autor com a conservação da região e com a necessidade de investimentos na produção racional e em pesquisas sobre o tema, incluindo o melhoramento e o cultivo das espécies cujas sementes eram, até então, colhidas após a queda no solo e armazenadas em condições inadequadas, com a perda de suas qualidades.
As descrições feitas para muitas das espécies tratam de seus habitats e das suas características botânicas, demonstrando a experiência de observação em campo adquirida pelo autor em várias regiões da Amazônia, além de apontar para as melhores formas de obtenção e de conservação das sementes, de extração e de manutenção de propriedades químicas e físicas de suas gorduras e óleos, enquanto para outras espécies são apontados usos potenciais, ainda a serem explorados, incluindo o de consumo das polpas dos frutos.
Ressaltam, nessas descrições, as observações feitas sobre o uso de sementes diversas pelos índios, a exploração feita pelos lavradores do interior e os limites de extração do óleo ou da gordura, seja pela ausência de equipamentos adequados ou pela distância entre o local de produção e o de comercialização, incluindo a exportação para países da Europa, ou pela forma de extração e armazenagem, refletindo a preocupação do autor com a produção em toda a sua cadeia.
Nesta obra, é ressaltada a importância da flora composta pelas palmeiras, das quais descreve características de 36 espécies, além de 64 outras de famílias diversas, ressaltando-se Clusiaceae, Euphorbiaceae e Sterculiaceae. As informações apresentadas para as espécies são desiguais, havendo algumas bastante detalhadas em todos os seus aspectos, enquanto outras, principalmente aquelas para as quais indica potencial de uso, são descritas superficialmente.
Em um momento extremamente controverso acerca do valor da biodiversidade contida em biomas no Brasil, o livro “Oleaginosas da Amazônia” aponta para um dos muitos potenciais recursos de interesse humano ainda não completamente explorados, mostrados pelo olhar de um estrangeiro que se interessou pela região de forma ampla, como quando escreveu sobre a sua conservação: “O próprio caráter da região onde se encontram tais sementes indica que a vegetação das plantas que as produzem é a que deve predominar”.
Trata-se de uma obra que interessa à conservação de recursos naturais, à botânica econômica e, nela, particularmente, à produção de combustíveis alternativos, de óleos aromáticos, de sabões, entre outros produtos. Com um texto rico em informações diversas sobre a Amazônia e sobre as espécies tratadas, de uma forma agradável de ser lida e olhada devido à qualidade da impressão, à variedade e aos detalhes das figuras, este livro escrito em 1941 é extremamente atual em sua mensagem, compondo uma obra incomum.
Celestino Pesce (1896-1942) era italiano, químico, vindo de São Paulo, que se interessou pelas plantas oleaginosas da Amazônia e, desde 1913, dedicado à extração de óleos e gorduras de sementes de várias espécies já conhecidas e de novas descobertas feitas em diversas viagens que realizou pela região. Morreu afogado durante um banho em águas do rio Amazonas. Neste livro, vive para nos alertar.
Waldir Mantovani – Doutor em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas Professor Titular da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Das pedras aos homens: tecnologia lítica na Arqueologia Brasileira – BUENO; ISNARDIS (BMPEG-CH)
BUENO, Lucas; ISNARDIS, Andrei (Orgs.). Das pedras aos homens: tecnologia lítica na Arqueologia Brasileira. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2007. 270 p. Resenha de: FONSECA, João Aires da. Pesquisas recentes sobre material lítico na Arqueologia Brasileira. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.2, maio/ago. 2010.
O livro “Das pedras aos homens” surgiu a partir das ideias discutidas no seminário “Tecnologia Lítica no Brasil. Fundamentos teóricos, problemas e perspectivas de pesquisa”. Organizado por Lucas Bueno e Andrei Isnardis, o livro tem como proposta reunir pesquisadores de diferentes formações científicas dentro da arqueologia, disponibilizando aos leitores um panorama não somente interessante como também essencial para que a arqueologia brasileira se torne cada vez mais sólida em conceitos e metodologias de pesquisa. Não há dúvida de que somente com esta diversidade de pesquisadores foi possível alcançar a proposta de se escrever um panorama de problemas e perspectivas sobre o contexto do material lítico em sítios arqueológicos brasileiros.
O que o livro apresenta ao longo de seus onze capítulos são as novas abordagens para o estudo deste tipo de material, não permanecendo somente nos estudos das ‘pedras’ (rochas) em si, mas indo além, criando contextos e quadros hipotéticos que permitem ir “das pedras aos homens”. Esta coletânea de artigos passa a ser uma referência atual sobre o estudo de tecnologia lítica na arqueologia brasileira, disponibilizando referências bibliográficas úteis sobre os temas abordados, o que permite aos leitores, em especial estudantes de arqueologia, um maior aprofundamento sobre os temas descritos.
Como exemplo, quais são as referências existentes sobre arqueologia experimental no Brasil? Como esta parte da arqueologia vem se desenvolvendo atualmente? É neste ponto que “Experimentação na Arqueologia Brasileira: entre gestos e funções”, de André Prous, e “Recent advances in stone-tool reduction analysis: A review for Brazilian archaeologists”, de Michael Shott, trazem à tona uma revisão do uso da experimentação.
André Prous introduz a importância da etnoarqueologia e do esforço próprio que o arqueólogo precisa ter ao reproduzir e utilizar o que poderiam ser as réplicas de instrumentos arqueológicos. Desta forma, o pesquisador aborda o material lítico a partir da experimentação, adquirindo mais dados para suas interpretações dos vestígios coletados e de seus prováveis contextos. É neste sentido também que a argumentação de Michael Shott incide sobre os diversos processos de redução que um artefato lítico pode ter passado, seja por meio do uso intenso ou de retoques para reavivar gumes, por exemplo.
As interpretações sobre o contexto arqueológico assumem um papel muito importante neste livro. Tal importância é justamente por ser esta a principal meta das pesquisas arqueológicas recentes. Para Andrei Isnardis, autor do capítulo “Notas sobre a solidão das indústrias líticas”, a distribuição espacial de diversos vestígios é essencial para retirar as indústrias líticas do que ele considera como “solidão”. Trata-se de uma crítica às pesquisas que lidam com os materiais analisados de maneira isolada, deixando de lado a interpretação do restante do material coletado, criando, assim, interpretações parciais do contexto do sítio.
Tal problema de interpretações parciais pode advir das divisões por grandes classes de vestígios. Para Isnardis, alguns pesquisadores acabam sendo caracterizados como ‘arqueólogos do lítico’, ‘arqueólogos da cerâmica’ ou ‘arqueólogos da arte rupestre’. A especialização dos pesquisadores acaba por causar este isolamento do material analisado, contudo, como o principal objetivo das pesquisas são as sociedades humanas, existe a necessidade de estudos que usem os vários artefatos dentro de um conjunto para que se chegue às possíveis interpretações de contextos sociais mais complexos, e não apenas de uma parte especializada.
Como exemplos desta necessidade de interpretar diversos dados, buscando uma visão dinâmica sobre a pré-história brasileira, na tentativa de articular vestígios, sítios, regiões e macrorregiões, pode-se citar os capítulos sobre o Brasil Central, “Organização tecnológica e Teoria do Design: entre estratégias e características de performance”, de Lucas Bueno, e “Metodologia de análise para as indústrias líticas do Pleistoceno no Brasil Central”, de Águeda Vilhena-Vialou.
Outra vertente clara no livro, tomada por todos os seus autores, é a inviabilidade, ou ineficácia, em se produzir estudos arqueológicos que contemplem estudos tipológicos baseados unicamente em instrumentos acabados. Como abordado por Jacqueline Rodet em “Uma terminologia para a indústria lítica brasileira”, e por Paulo Jobim em “Possibilidades de abordagens em indústrias expedientes”, existe uma tendência, iniciada na década de 1980, para a inserção nos estudos de contexto e de tecnologia dos conceitos de cadeia operatória, gesto, teoria do design e experimentação, em vez de estudos meramente tipológicos de peças já acabadas, enfatizando a necessidade de homogeneização da terminologia utilizada pelos pesquisadores, buscando-se sistematizar as nomenclaturas para a análise da tecnologia lítica.
Mais exemplos advém de Pedro Schmitz em “O estudo das indústrias líticas no PRONAPA, seus seguidores e imitadores”; de Adriana Schmidt em “Da tipologia à tecnologia: reflexões sobre a variabilidade das indústrias líticas da Tradição Umbu”; e de Sirlei Hoeltz em “Contexto e tecnologia: parâmetros para uma interpretação das indústrias líticas do Sul do Brasil”.
O capítulo de Pedro Schmitz caracteriza o papel da ciência arqueológica: cada época possui um contexto e limitações de pesquisa, e cada época sucessora irá acumular conhecimentos de épocas anteriores, reformulando-os e aplicando novos. A principal diferença entre o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA) da década de 1970 e as pesquisas recentes, como a desenvolvida na Floresta Atlântica, é o maior dinamismo das pesquisas que, com o quadro teórico atual, possibilitaram chegar a conclusões regionais e mais amplas sobre a ocupação humana na região Sul do Brasil. Nesta mesma linha, Adriana Schmidt e Sirlei Hoeltz enfatizam a importância dos estudos que enfocam o caráter regional e que respeitam a contextualização espacial dos sítios, em suas características internas e externas, associadas a propostas metodológicas que compreendam a variabilidade artefatual como resultado de escolhas tecnológicas, na busca por identidades sociais no registro arqueológico.
Por fim, temos o divertido experimento literário escrito por Klaus Hilbert, “Indústrias líticas como vetores de organização social ou: Um ensaio sobre pedras e pessoas”. Hilbert preferiu intuir, explicando por meio de crônicas e múltiplas narrativas, “as pedras arqueológicas e as pedras lúdicas da infância e adolescência”, deixando um pouco de lado as listas de sequências analíticas de gestos e de atributos tecnotipológicos, descrevendo algumas relações entre pessoas e ‘pedras’.
A meu ver, o principal ponto do livro incide nas experiências dos autores, através de projetos de pesquisas que exemplificam seus fundamentos teóricos, seus problemas e as perspectivas abordadas. Contudo, como a proposta do livro refere-se à arqueologia brasileira, a principal crítica diz respeito em não ter explorado, por exemplo, referências sobre estudos de materiais líticos na porção Norte do Brasil, mais especificamente na região amazônica. Talvez esta seja uma lacuna importante a ser apontada, até mesmo devido à escassez de produção bibliográfica sobre o tema.
Como, provavelmente, ainda serão feitos novos congressos sobre tecnologia lítica brasileira, certamente não só a região amazônica entrará em pauta, como também as demais regiões que não foram discutidas neste primeiro livro, formando, assim, um panorama mais amplo, semelhante ao apresentado com maestria pelos organizadores.
João Aires da Fonseca – Mestre em Arqueologia pela Universidade de São Paulo. Bolsista do Programa de Capacitação Institucional do Museu Paraense Emílio Goeldi/MCT. Curador do Museu do Marajó. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Grandes Expedições à Amazônia Brasileira, 1500-1930 – MEIRELLES FILHO (BMPEG-CH)
MEIRELLES FILHO, João. Grandes Expedições à Amazônia Brasileira, 1500-1930. São Paulo: Metalivros, 2009. 241 p. Resenha de: DRUMMOND, José Augusto. Expedição literária pela Amazônia. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.2, maio/ago. 2010.
Este livro de Meirelles é capaz de abalar, mesmo entre os mais céticos, a noção de que os brasileiros não se esforçam para conhecer a Amazônia, mais da metade da qual pertence ao território do Brasil. É verdade que a atenção maior dada à região nas últimas décadas originou-se em boa parte fora do país, incentivada por estudos, relatos e preocupações de não-brasileiros. De resto, o mesmo aconteceu no passado mais distante, conforme registrado pela própria obra resenhada, pois grande parte das expedições abordadas teve iniciativa, apoio e participantes estrangeiros. No entanto, temos há algum tempo uma massa crítica instalada no país, dentro e fora da região amazônica, dotada da capacidade de estudar, conhecer e divulgar as suas singularidades e os seus significados em escala nacional, continental e global.
Resultado de um longo e abrangente trabalho de pesquisa e de um admirável esforço de síntese de escrita, este livro exemplifica essa capacidade. Foi composto por uma grande equipe de pesquisadores, consultores, tradutores, revisores, diagramadores, designers e técnicos em reprodução de imagens, trabalhando numa empreitada de longa duração. Embora seja principalmente uma obra de divulgação para um público ampliado, a alta qualidade dos textos e das ilustrações e o rigor da documentação das informações fazem dela uma rica fonte para estudos acadêmicos, monográficos e técnicos. Ela sobressairia mesmo se fosse apenas uma obra de divulgação, pela seriedade, pelo capricho e pela resolução impecável.
João Meirelles é escritor e ativista ambiental (dirigente do Instituto Peabiru), envolvido com diversas instituições do Terceiro Setor e participante de projetos de proteção de áreas naturais, dentro e fora da Amazônia. É autor de “O Livro de Ouro da Amazônia” (Ediouro, 2004). É o responsável pelo texto deste novo livro, que, com a ajuda de riquíssimas ilustrações, narra e costura entre si 42 expedições selecionadas que percorreram diferentes partes da Amazônia brasileira entre 1500 e 1930. Este amplo período é delimitado no seu início pelas primeiras viagens periféricas de navegadores europeus em torno da foz do rio Amazonas e, no seu final, pelas últimas expedições basicamente terrestres de Cândido Rondon até o coração continental da Amazônia.
Escolher essas 42 expedições, deixando de fora cerca de 30 outras, deve ter sido uma das tarefas mais difíceis do autor na montagem desta publicação, mas o seu esforço de síntese funcionou: permitiu que o livro ficasse dentro de dimensões razoáveis para o tipo de obra que ele pretendia fazer – um livro de textos, fartamente ilustrado e com o adicional de apresentar uma alta qualidade de impressão. Pode-se esperar, com fundamentadas razões, que a obra aqui resenhada vá merecer pelo menos um segundo volume, que inclua as três dezenas de expedições que, embora registradas e estudadas, ficaram de fora. Para dar a dimensão do contexto ainda maior de expedições na região amazônica, Meirelles teve o cuidado de listar, em breves verbetes que compõem um anexo, outras 525 viagens que percorreram trechos da Amazônia, muitas em territórios dos demais países que compartilham a Grande Amazônia com o Brasil. A amostra de expedições analisadas por Meirelles pode até ser considerada pequena em face desse universo enorme, mas a obra é de peso, pois parece ser única, pela sua abrangência e pela sua concepção.
O formato adotado na obra merece ser comentado, pois é sistemático e eficaz. Cada expedição analisada recebe um texto padronizado, acompanhado por uma programação gráfica que combina beleza e funcionalidade. O texto é distribuído por quatro colunas em cada página, com inserções de ilustrações que variam em tamanho, forma, natureza e cores – mapas, fotografias, gravuras e pinturas (com paisagens, animais, plantas), roteiros etc. Muitas ilustrações são de página inteira. Todos os textos contêm as mesmas seções – contexto, líder, colaboradores, percurso, obra (textos ou outros materiais produzidos pelos expedicionários), principais contribuições (literárias, científicas, econômicas, geopolíticas, etnográficas etc.) e as notas bibliográficas. As duas primeiras páginas referentes a cada expedição trazem, ao alto, informações adicionais e sintéticas sobre duração, financiadores e percursos. Cada ilustração é acompanhada da identificação de autores, das datas e da sua fonte original – livros, coleções de museus e arquivos, acervos científicos, acervos particulares, álbuns de exposições e muitas outras.
O autor explica brevemente, na introdução, porque incluiu alguns viajantes e excluiu outros. Ressalta que o critério principal foi o de incluir aqueles que “empresta[m] um novo olhar, nova perspectiva sobre a região, a partir de [suas] andanças” (p. 17). Ele buscou evitar redundâncias, fazendo variar as particularidades individuais e as missões dos expedicionários escolhidos – bandeirantes, clérigos, missionários, militares, demarcadores de fronteiras, cientistas (etnólogos, arqueólogos, botânicos, zoólogos, geólogos, linguistas), pintores etc. Fica patente que era impossível incluir todos. No entanto, em face da relevância dos aspectos humanos e naturais da região e da própria abundância de expedições e de documentação conexa, nenhum critério de seleção agradará a tantos leitores quanto a esperança de que Meirelles e a sua equipe produzam um ou mais volumes que incluam as expedições que a obra resenhada foi obrigada a excluir.
Dada a homogeneidade dos 42 relatos, é difícil destacar qualquer um deles. Algumas expedições e alguns expedicionários chamam a atenção exatamente por serem mais conhecidos – Pedro Teixeira, Condamine, Alexandre Rodrigues Ferreira, Spix e Martius, Langsdorff, Wallace, Agassiz e Rondon. Em outros relatos há ilustrações de qualidade excepcional que seduzem o leitor predisposto a usufruir de um livro tão ricamente ilustrado. As cristalinas fotos das expedições de Rondon, as suaves borboletas pintadas por Bates e as densas gravuras de Orton são exemplos disso.
Apenas para enriquecer a apreciação da obra, destaco o capítulo dedicado a Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958), militar brasileiro, já que brasileiros propriamente ditos (como Couto de Magalhães, Euclides da Cunha e Mário de Andrade) formam uma pequena minoria dos líderes das expedições selecionadas. Além disso, Meirelles destaca que Rondon, entre todos os expedicionários estudados, foi o “grande viajante”, ou seja, aquele que percorreu as maiores distâncias, acumuladas ao longo de quatro décadas de excursões por áreas hoje incorporadas aos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Goiás, Tocantins, Amapá e Roraima.
Meirelles registra outros feitos notáveis de Rondon. As suas numerosas expedições geraram abundantes 140 relatórios (mais de 20.000 páginas) e outros materiais impressos. Mesmo exercitando a sua notável capacidade de síntese, Meirelles se viu obrigado a dividir as numerosas expedições de Rondon em 14 ciclos, cada um dos quais abrange muitas viagens. Essas expedições foram também as maiores coletoras de materiais científicos e etnográficos depositados no Museu Nacional do Rio de Janeiro e em outras instituições. É relevante notar também que Rondon cumpriu uma grande variedade de missões em sua longa carreira de viajante – construtor de picadas e de linhas e estações telegráficas; produtor de documentação cartográfica; fornecedor de materiais para estudos científicos; demarcador de fronteiras internacionais; pacificador e protetor de indígenas; fundador e primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio. Rondon exerceu até o curioso papel composto de líder expedicionário e guia do ex-presidente dos EUA, Theodore Roosevelt, que se incorporou como convidado do governo brasileiro a uma de suas mais difíceis expedições (ao rio da Dúvida). Roosevelt quase morreu nessa expedição e escreveu sobre ela um ótimo relato de viagem, com fartos elogios a Rondon. Dessa forma, Meirelles ajuda a recuperar a memória deste grande brasileiro que foi Rondon.
Resta dizer que o texto não tem uma ‘tese’ central a argumentar ou provar, conforme destaca o próprio autor na sua introdução. No entanto, seria errado dizer que o livro é meramente descritivo, pois nenhum autor, ao reunir, refletir sobre, selecionar e usar tantos materiais sobre uma região de tão grande complexidade poderia se comportar como um narrador descomprometido. Com efeito, o autor manifesta as suas preocupações e a sua atenção para com questões como a dizimação física, territorial e cultural dos povos indígenas da região, a repartição da região entre a soberania de vários países, a escassez de instituições científicas e de cientistas brasileiros instalados na e estudiosos da região, o papel do avanço das fronteiras agrícolas, pecuárias, mineradoras e madeireiras contemporâneas na degradação do bioma Amazônia, entre outras. No entanto, a alma do livro é a recuperação da memória e dos feitos dos expedicionários e das expedições.
Meirelles produziu um livro vitorioso que merece ser lido pelo público mais variado e amplo possível, desde estudiosos da Amazônia a cidadãos comuns, brasileiros da região e de fora dela e estrangeiros que se interessam por ela. Conforme sugerido acima, fica a esperança de que ele e sua equipe produzam um ou mais novos volumes que tratem de outros expedicionários e outras expedições, para assim enriquecer o acervo de produções nacionais sobre a Amazônia.
José Augusto Drummond – Doutor em Land Resources pela Universidade de Wisconsin, USA. Professor Associado do Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Priprioca: um recurso aromático do Pará – POTYGUARA (BMPEG-CH)
POTYGUARA, Raimunda Conceição de Vilhena; Zoghbi, Maria das Graças Bichara (Orgs.). Priprioca: um recurso aromático do Pará. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi/Universidade do Estado do Pará, 2008. 204 p. Resenha de: ALMEIDA, Samuel Soares. As pripriocas: seus aromas e suas estruturas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.1, jan./abr. 2010.
O livro “Priprioca: um recurso aromático do Pará” foi organizado por Raimunda Conceição de Vilhena Potyguara e Maria das Graças Bichara Zoghbi, da Coordenação de Botânica do Museu Paraense Emílio Goeldi, especialistas em diferentes aspectos da botânica amazônica. A primeira, doutora em Botânica Tropical, atua na investigação da morfologia interna de órgãos e estruturas vegetais de espécies com interesse econômico, tais como plantas fibrosas, alimentícias e aromáticas. A outra organizadora é doutora em Química Orgânica, com atuação em química de produtos naturais, especialmente na prospecção de espécies e identificação de substâncias e estruturas químicas de essências aromáticas, empregadas em perfumes e cosméticos.
A obra é um marco referencial do conhecimento científico e tecnológico sobre a priprioca (Cyperus articulatus L.), uma erva que cresce naturalmente em campos, áreas úmidas e costeiras, sendo também cultivada em pequenas áreas agrícolas, quintais e hortas caseiras. A priprioca é exclusivamente distribuída na Amazônia, concentrada no leste do estado do Pará, nos baixos cursos dos rios Acará, Moju e Tocantins; parte dos campos inundáveis do arquipélago do Marajó e das microrregiões do Salgado e Bragantina.
A obra é multidisciplinar e seus 12 capítulos podem ser divididos em três grupos de assuntos afins: o primeiro trata de aspectos taxonômicos, morfológicos e de distribuição geográfica. O segundo é direcionado ao entendimento de aspectos químicos e agronômicos, incluindo a propagação da espécie; e o último se refere às cadeias produtiva e comercial, bem como às informações sobre usos e botânica econômica.
Conhecida e comercializada há bastante tempo nas feiras e mercados da região, a priprioca, antes de se tornar de interesse para a indústria de perfumaria, era utilizada em pequena escala na preparação e composição de banhos de cheiro e perfumes artesanais, sendo o ‘cheiro-do-pará’ o mais requisitado deles, e em sachês e aromatizantes de roupas e armários. A obra reúne informações sobre aspectos científicos, tecnológicos e agronômicos recentes, produzidos em instituições científicas e acadêmicas públicas da região. Com ela toma-se conhecimento que a priprioca não é apenas uma espécie, mas pelo menos três – e que os seus rizomas, ou raízes subterrâneas, possuem células oleíferas, secretoras das substâncias aromáticas. A parte química revelou a identidade e as estruturas orgânicas dessas substâncias; suas propriedades alelopáticas, ou o efeito inibidor de seu extrato sobre a germinação de sementes e crescimento de mudas de outras espécies; e, ainda, a ação de contração muscular em cobaias. Os estudos agronômicos recomendam técnicas de cultivo e tratos culturais; propagação vegetativa através dos rizomas; densidade de plantio, produção e produtividade; cadeia produtiva, mercado; e informações sobre outros usos das pripriocas, além do aromático, na medicina tradicional e no artesanato.
A obra representa um avanço considerável para a domesticação da espécie, mas deve-se considerar e creditar que grande parte dos saberes e conhecimentos acumulados sobre os usos e o cultivo das pripriocas advém da experiência e das práticas tradicionais de erveiras, mateiros, perfumistas e pequenos produtores. Ainda há um longo caminho a ser percorrido a fim de disponibilizar mais informações sobre o cultivo da espécie, que permitam às pripriocas se constituir num recurso sustentável que possa ser produzido e comercializado numa escala mais abrangente de mercado.
Samuel Soares de Almeida – Mestre em Biologia (Ecologia) pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Pesquisador Associado do Museu Paraense Em ílio Goeldi. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Caderno de Diretrizes Museológicas 2. Mediação em museus: curadorias, exposições, ação educativa – JULIÃO; BITTENCOURT (BMPEG-CH)
JULIÃO, Letícia; BITTENCOURT, José Neves (Orgs.). Caderno de Diretrizes Museológicas 2. Mediação em museus: curadorias, exposições, ação educativa. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais/Superintendência de Museus, 2008. 180p. Resenha de: RANGEL, Marcio. Curadoria em museus: múltiplos olhares. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.1, jan./abr. 2010.
O “Caderno de Diretrizes Museológicas 2 – Mediação em museus: curadorias, exposições, ação educativa”, publicado pela Secretaria de Cultura de Minas Gerais através da Superintendência de Museus, tem por objetivo promover, a partir de uma perspectiva multidisciplinar, um debate sobre as diferentes abordagens relacionadas com a mediação museológica, com especial ênfase nos processos curatoriais desenvolvidos pelos museus. Os artigos reunidos no livro propõem novas reflexões e interpretações para este tema, que, com a complexidade de sua natureza, tem sido objeto de variadas discussões.
A principal intenção dos organizadores e autores que compõem o livro é dar visibilidade às múltiplas possibilidades da curadoria, neste caso, por meio de artigos que apresentam diferentes perspectivas de compreensão do tema e, em outros momentos, evidenciam percepções convergentes.
Além de um texto introdutório de José Neves Bittencourt, que analisa a etimologia da palavra curadoria e apresenta a estrutura da obra, os trabalhos foram organizados em três partes, sendo a primeira composta por três artigos, a segunda por oito artigos e a terceira por um vídeo.
O trabalho de abertura é de autoria de Cristina Bruno, que inicia sua discussão com a análise do percurso conceitual do termo curadoria, tendo como referencial um olhar sobre os “diferentes tempos históricos, distintos campos de conhecimento e múltiplos usos” (p. 15). Após indicar a difícil tarefa de mapear a trajetória do conceito de curadoria, Bruno estrutura seu artigo pontuando algumas perspectivas: os aspectos do percurso histórico do conceito de curadoria que geraram heranças relevantes para a atual proposta de definição; os matizes de sua ampliação contemporânea e os reflexos desta herança; o delineamento do perfil profissional do curador e o desenvolvimento do processo curatorial dentro dos museus. Bruno afirma que sua análise tem como base uma perspectiva museológica.
No artigo seguinte, Nelson Sanjad e Carlos Brandão definem curadoria “como o ciclo completo de atividades relativas aos acervos, compreendendo a execução ou a orientação da formação e desenvolvimento de coleções, segundo uma racionalidade pré-definida por uma política de acervos…” (p. 25). Podemos perceber nesta definição a influência da experiência profissional dos autores, ambos vinculados a museus com forte tradição na formação de coleções de história natural: Museu Paraense Emílio Goeldi e Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. O eixo central do artigo trata da relação da comunicação museológica com a política curatorial dos museus, priorizando os processos expositivos. Nesta análise, Sanjad e Brandão estruturam seus argumentos em três partes: a primeira apresenta a relação entre a história dos museus e o desenvolvimento dos acervos; nas seguintes, abordam a exposição como processo de comunicação, produtora de um discurso específico, incluindo neste processo a recepção do discurso pelos diferentes públicos.
Concluindo esta primeira parte da publicação, o artigo de Tereza Scheiner afirma que “não é possível tratar dos processos curatoriais sem, entretanto, definir que ideia de museu lhes serve de fundamento” (p. 36). Para Scheiner, a análise da trajetória do museu no quadro simbólico das diferentes sociedades é uma tarefa da Museologia, disciplina que, segundo a autora, “não tem como objeto de estudo os museus, ou a instituição museu, mas sim a ideia de museu desenvolvida em cada sociedade, em cada momento de sua história” (p. 40). De acordo com a autora, cabe à Museologia analisar as diferentes tipologias de museus atualmente existentes, “tratando de compreender em profundidade quais os contextos, razões e propósitos que as fundamentam, e buscando identificar como algumas delas se realizam hoje na sociedade contemporânea” (p. 43). Neste cenário, os processos curatoriais são compreendidos como “dispositivos técnicos, segundo os quais se realizam as funções intrínsecas a cada um destes tipos de museu” (p. 46).
A segunda parte da obra é aberta por Aline Montenegro e Francisco Régis, que analisam a curadoria de exposições em museus de história, mais especificamente no Museu Histórico Nacional e no Museu do Ceará. Os autores discutem os processos expositivos destas instituições e apresentam as diferentes possibilidades de abordagem de um tema histórico. Ressaltando a importância dos “indícios do passado”, apontam para a importância da “elaboração de problemáticas históricas sobre as relações entre passado, presente e futuro” (p. 49). Montenegro e Régis problematizam a combinação de imagens, objetos, textos e outros recursos na elaboração das exposições, tendo em vista que, segundo os autores, “tudo indica que há uma dependência da escrita para se chegar a certos sentidos do objeto” (p. 68). Além das múltiplas possibilidades e desafios do processo curatorial em museus de história, o artigo também ressalta a importância do caráter educacional neste processo.
A partir do campo da arte, Roberto Condurú discute os principais traços característicos do fazer artístico e problematiza as formas de comunicação adotadas pelos salões, bienais e museus. Percebendo os curadores como intermediários nas relações entre as obras, os artistas e os públicos, o autor aponta para o papel de destaque deste personagem na estratificação dos agentes do campo artístico. De acordo com Condurú, uma característica marcante dos tempos atuais é a percepção da exposição de arte como “uma obra em si, com autorias, teorias, práticas e histórias” (p. 76). Sendo assim, torna-se fundamental o equilíbrio entre a exposição como obra e as obras de arte exibidas entre o curador e os demais autores envolvidos.
Em um outro campo e tendo como referencial as exposições de ciência e tecnologia, Cátia Rodrigues Barbosa reflete sobre a capacidade comunicativa desta tipologia de acervo e o papel exercido pelo curador neste processo de comunicação. Para Barbosa, o curador é um comunicador que cria elos entre o visitante e o objeto.
Ao descrever a implantação do Museu Municipal de Pains, Gilmar Henrique, Pablo de Oliveira Lima e Márcio Castro destacam o caráter multidisciplinar do projeto curatorial da instituição. Tendo o acervo arqueológico como eixo central de todas as discussões, os autores apresentam as diferentes categorias estabelecidas pelo projeto que orientaram a formação do acervo e a organização expositiva do museu: “artefatos líticos polidos; artefatos líticos lascados; artefatos de cerâmica; restos humanos e artefatos fabricados sobre material orgânico” (p. 97). Deve-se destacar que neste artigo os autores discutem um processo curatorial amplo, ou seja, da criação de um museu, considerando neste processo a formação de seu acervo, sua missão, sua exposição permanente/longa duração; sua estrutura física e organizacional.
No artigo seguinte, Cláudia Penha e Marcus Granato, ambos do Museu de Astronomia e Ciências Afins, optam por discutir o conceito de curadoria de acervos museológicos. Os autores definem esta curadoria como um processo que se inicia com a coleta e culmina com a divulgação e disseminação dos acervos. Ao longo do artigo, Santos e Granato, além de apresentarem “opiniões formuladas por diversos autores sobre o papel do curador e da curadoria de acervos” (p. 124), afirmam que “o que precisamos é uma abordagem do trabalho curatorial que reconheça o inter-relacionamento dos objetos, pessoas e sociedades, e expressem essa relação em contextos sociais e culturais” (p. 113).
Ao analisar o Museu Histórico Abílio Barreto, Thaís Velloso e Thiago Costa problematizam o papel das exposições como produto final dos museus. De acordo com os autores, mesmo que reconheçamos o papel de destaque exercido por este modelo de comunicação, devemos tornar evidente a “articulação solidária” (p. 129) existente entre todas as ações desenvolvidas pela instituição. Entre as atribuições do curador, os autores destacam a pesquisa como parte integrante de suas responsabilidades, pois esta possibilita o adensamento do tema ou conceito que irá nortear a estruturação da exposição.
Em uma outra perspectiva, mas com o mesmo objeto de análise, ou seja, o Museu Histórico Abílio Barreto, Célia Regina Alves e Nila Rodrigues discutem “as atividades práticas de avaliação, organização e tratamento técnico das informações de acervos formados por documentos cujo suporte é o papel, observando também a conservação física dos mesmos” (p. 145). No processo curatorial de documentos textuais e iconográficos, Alves e Rodrigues destacam três aspectos básicos: a compreensão do processo de formação da coleção em si; a obtenção das informações contidas nas unidades documentais; e a elaboração da documentação museológica.
O último artigo do “Caderno de Diretrizes Museológicas 2”, de autoria de Magaly Cabral e Aparecida Rangel, aborda o tema da educação. Podemos afirmar que, de forma direta e indireta, esta questão transpassa todos os trabalhos desta publicação. Localizando a “curadoria educativa” dentro dos processos educativos definidos pelas instituições, as autoras afirmam que, assim como as demais curadorias abordadas nos artigos anteriores, a curadoria educativa também deve fazer parte do Plano Museológico (p. 165). De acordo com Cabral e Rangel, esta ação não estaria somente relacionada ao desenvolvimento de materiais complementares destinados a segmentos específicos de público, estendendo-se também aos processos de avaliação. Para as autoras, “a exposição deve ser um ponto de partida e não de chegada, na forma de comunicação com o público” (p. 168).
Com imagens de museus de diferentes regiões e variadas tipologias, o DVD que acompanha o livro apresenta de forma dinâmica e ilustrativa o depoimento de profissionais sobre curadoria. Apesar de ser estruturado em outra mídia e em outra linguagem, José Neves Bittencourt chama a atenção para o fato de que “o vídeo não é um complemento do livro” (p. 8). O mesmo deve ser considerado a terceira e última parte da publicação.
Finalizando, desejo destacar a contribuição desta obra para a prática curatorial desenvolvida nas instituições museológicas brasileiras. Os trabalhos apresentados nesta publicação enfatizam a necessidade de reinterpretar continuamente o próprio fazer expositivo e todas as ações derivadas desta prática. O “Caderno de Diretrizes Museológicas 2” é um convite reflexivo sobre um dos principais meios de comunicação dos museus.
Marcio Rangel – Doutor em História das Ciências e da Sa úde pela Fundação Oswaldo Cruz. Pesquisador do Museu de Astronomia e Ci ências Afins/MCT. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Bildungsbürger im Urwald: Die deutsche ethnologische Amazonien-forschung (1884–1929) – KRAUS (BMPEG-CH)
KRAUS, Michael. Bildungsbürger im Urwald: Die deutsche ethnologische Amazonien-forschung (1884–1929). Marburg: Curupira, 2004. 539 p. Resenha de: DRUDE, Sebastian. Expedições alemães que fundaram a etnologia da Amazônia. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.1, jan./abr. 2010.
Existem hoje, no Brasil, várias instituições, especialmente universidades e museus, onde se realizam pesquisas científicas dedicadas à população nativa, suas culturas e línguas, em particular na Amazônia. É impossível se interessar por esta área de estudos sem conhecer bem os nomes de seus fundadores, entre eles muitos alemães, como Karl von den Steinen, Theodor Koch-Grünberg e outros. Mas quem eram esses ilustres personagens? Cientistas eruditos? Aventureiros? O que fizeram aqui, como se organizavam, como obtinham financiamento, como aproveitaram suas viagens? O que os motivou? Quais eram os principais conhecimentos buscados e obtidos por suas pesquisas? E por que a tradição etnológica alemã, que tanto prometia no século XIX, foi praticamente interrompida nos anos 1920?
Com esta obra, cujo título em português poderia ser “Burgueses de educação (ou de formação) na selva: a pesquisa etnológica alemã na Amazônia (1884–1929)”, o antropólogo alemão Michael Kraus1 apresenta um estudo completo e detalhado com algumas respostas para estas perguntas. Esta obra preenche uma lacuna, pois além de algumas notas bio- e bibliográficas (em especial as feitas no Brasil por Herbert Baldus e Egon Schaden), não há muito material disponível sobre os fundadores dos estudos científicos antropológicos e linguísticos sobre a população indígena das terras baixas da América do Sul2. No entanto, mesmo que hoje não seja um fato amplamente conhecido, esta área de estudos foi uma das mais destacadas no estabelecimento da disciplina ‘etnologia/antropologia’.
O estudo de Kraus tem quase 500 páginas, além de 35 páginas de referências. Estas proporções são indício de uma das características mais notáveis do livro: um grande cuidado e respeito pelas fontes originais e pelos seus autores. Apesar deste rigor científico exemplar (em média, três notas de rodapé por página, muitas com valiosas observações adicionais), o livro em nenhum momento é uma leitura seca ou chata – ao contrário, é muito bem escrito (a linguagem chega a ter qualidades literárias) e prende o leitor em todas as páginas.
O foco do trabalho são as viagens ou expedições dos pesquisadores alemães; as condições institucionais e pessoais constituem seu fundo; os resultados científicos são abordados de forma sucinta. O livro é estruturado em cinco partes, iniciadas por um curto prólogo que explica a ênfase e a abordagem escolhidas. A segunda parte, “condições básicas na Alemanha”, tem três capítulos: um apresenta os pesquisadores examinados; o seguinte, as instituições envolvidas; enquanto que o último analisa as motivações individuais e institucionais, a concorrência e o papel da então jovem disciplina ‘etnologia’, ainda em processo de constituição, discutindo, por exemplo, sua fixação em objetos etnográficos.
Os pesquisadores examinados são Karl von den Steinen, Paul Ehrenreich, Konrad T. Preuss, Theodor Koch-Grünberg, Max Schmidt e Fritz Krause (ao final do livro, o leitor parece conhecer estes pesquisadores como se tivesse convivido algum tempo com eles). São incluídos, ainda, mas com menos ênfase, três pesquisadores que não foram amazonistas ou que não foram cientistas profissionais: Hermann Meyer, Wilhelm Kissenberth e Felix Speiser.
A parte principal do trabalho, “expedições à Amazônia”, consiste de três capítulos extensos dedicados a três ‘passos’ das expedições: 1) os preparativos e a viagem até a América do Sul; 2) as viagens até a região dos índios; e 3) as pesquisas em si, no local de destino. Para cada etapa, Kraus organiza sua exposição em três ou quatro subcapítulos temáticos. Por exemplo, o sub-capítulo III.2.4, “Trabalhadores braçais de mula, lenha e remo: – Os ‘camaradas’ da ciência”, consiste de 25 páginas dedicadas às relações de cooperação, amizade, conflito, dependência e poder entre os pesquisadores e seus acompanhantes europeus, crioulos e indígenas. Analisa desde a quantidade de pessoas envolvidas (ao longo do tempo, as expedições levavam cada vez menos acompanhantes, o que ajudava a intensificar o contato direto entre os pesquisadores e a população nativa estudada, indicando que o ideal moderno da pesquisa de campo como experiência de imersão cultural já existia na época) até as personalidades e os estilos dos pesquisadores ao lidar com este aspecto das expedições. Para cada um destes aspectos, Kraus apresenta o que encontrou no rico material deixado pelos pesquisadores e, ao comparar diferentes expedições e relatos, identifica padrões e características individuais dos cientistas e de suas pesquisas. A maioria dos subcapítulos são estudos preciosos, que podem ser considerados separadamente, sem perder seus méritos.
A parte quatro, “a antropologia dos etnógrafos”, dirige seu foco sobre a história da ciência, analisando as ideias, a visão e as contribuições dos pesquisadores, sem, contudo, apresentar análise e avaliação abrangentes de seus resultados etnográficos e antropológicos, a partir das teorias e dos conhecimentos atuais. Em vez disso, os dois capítulos elucidativos desta parte, “metodologia e temática” e “teoria e visão global”, tentam se aproximar do native’s point of view – ou seja, da visão e concepção dos próprios pesquisadores estudados.
Isto, aliás, é um dos pontos mais marcantes do livro. Kraus sempre procura se aproximar dos pesquisadores que estuda como um etnógrafo deve se aproximar de uma população nativa – procurando um entendimento profundo e holístico, ciente das próprias limitações e do fato de não estar livre das influências de sua própria origem e formação, respeitando a visão ‘êmica’ em vez de julgá-los etnocentricamente ou, neste caso, ‘cronocentricamente’. Evidentemente, esta abordagem encontra seus limites nas fontes existentes – não foi possível para Kraus entrevistar os pesquisadores estudados e muito menos participar como observador das suas pesquisas (é interessante ver como os alemães eram, em geral, francos e honestos o bastante para admitir suas próprias limitações e falhas – o que contrasta com a visão muitas vezes difundida sobre eles, de acordo com a qual estes buscariam esconder os lados menos bem sucedidos de suas pesquisas, na suposta tentativa de construir uma imagem impecável).
O procedimento escolhido por Kraus tem o mérito de ser muito mais instrutivo do que a simples confirmação (ou não) das opiniões modernas difundidas sobre a etnologia do final do século XIX. Assim, um ponto que Kraus discute em várias passagens do livro é que, muitas vezes, o discurso moderno e supostamente ‘desmistificador’ sobre os fundadores da disciplina é, de fato, preconceituoso e algo arrogante, não conseguindo fazer jus à obra realizada e ao avanço científico que esta trouxe. Isto vale, em particular, para o discurso pós-moderno e desconstrutivista – em muitas ocasiões, em contraste com os nossos preconceitos, é possível perceber que os pesquisadores antigos tinham uma visão muito mais diferenciada dos ‘índios’ e de suas culturas do que a que seus críticos modernos têm destes pesquisadores.
Felizmente, Kraus raramente corre o risco de idealizar os pesquisadores alemães, e tampouco fecha os olhos diante de ideias ou comportamentos que são inaceitáveis, do atual ponto de vista (e, às vezes, também a partir de um ponto de vista humanista já existente na época). Em geral, os pesquisadores estudados surgem como humanistas e críticos do etnocentrismo e das crenças progressistas de sua época; e como pensadores independentes e, em vários aspectos, céticos das teorias universalistas (em particular, do evolucionismo e do difusionismo). Depois da Primeira Guerra Mundial, chegaram a ser pessimistas sobre a própria cultura ao compararem-na com as culturas indígenas por eles observadas. Este contraste entre ‘nossa’ cultura e as dos povos indígenas já era bastante visível nas próprias viagens, no contexto colonial e de exploração do interior da Amazônia, em particular durante o primeiro ciclo da borracha, que marca a época das viagens estudadas por Kraus. As pesquisas não deixaram de se realizar neste contexto violento, que, às vezes, era vantajoso para elas, outras vezes não. Isso não significa que as pesquisas fossem de motivação ou caráter colonialista ou explorador, como tantas vezes se proclama. Como Kraus mostra convincentemente, ao menos entre os pesquisadores interessados na Amazônia, a tradição humanista e liberal se manteve viva nos anos 1920. Os homens aqui abordados estavam muito mais preocupados em contribuir para a construção de conhecimento, universal sobre a diversidade cultural ainda existente, do que com interesses nacionais e imperialistas, econômicos ou missionários3.
Lamentavelmente, preconceitos contra pesquisadores do ‘primeiro mundo’ retornam, hoje, por exemplo, sob o rótulo de ‘combate à biopirataria’, no discurso nacionalista e também no discurso anti-imperialista e anti-globalização, supostamente progressista, colocando sob suspeita todo tipo de cooperação internacional. Este não é o único paralelo à situação atual que se pode estabelecer ao ler a obra de Kraus. Quem já fez expedições para estudar grupos indígenas pode ver as próprias experiências espelhadas nos relatos dos viajantes de 100 ou 120 anos atrás, por exemplo, quando são abordados problemas de financiamento ou de transporte, o ritmo diferente do tempo na viagem e ‘no campo’, e, em particular, os relacionamentos (sempre muito diversos e heterogêneos) com indivíduos e grupos indígenas. Estas relações são descritas muito vivamente pelos pesquisadores – e Kraus consegue transmitir esta plasticidade em seu trabalho.
Prosseguindo na comparação da situação da época com a de hoje: embora a população indígena tenha se mostrado, em geral, bem mais resistente do que se poderia imaginar a partir dos cenários pessimistas de alguns dos ilustres cientistas de um século atrás, a situação geral das populações amazônicas, inclusive no Brasil, não é muito animadora, pois continua a ser marcada pela dominação, pela ignorância, pelo desrespeito, pela negligência e, às vezes, pela violência brutal. Na época, como hoje, qualquer pesquisa que ignora esta realidade está condenada a ser julgada de forma negativa pela posteridade. Muito se perdeu nos últimos 100 anos. Assim, os relatos dos pesquisadores são, muitas vezes, as únicas fontes de informação sobre elementos culturais ou sobre grupos indígenas que não existem mais. Como o processo da globalização (interno e externo) está se acelerando cada vez mais, o risco de perder muito mais nos próximos 100 anos é iminente. Na época, como hoje, somente uma parcela pequena da sociedade está ciente destas questões, e muitas vezes não é fácil achar aliados e apoio substancial nas instituições estatais na tentativa de documentar e preservar a riqueza cultural e linguística ainda existente, tarefa cada dia mais urgente4.
Também neste sentido, há boas razões para crer que é lamentável que a tradição alemã da etnologia dos grupos indígenas que habitam as terras baixas da América do Sul não tenha conseguido se recuperar da ruptura que significou a Primeira Guerra Mundial. É deplorável que esta área de estudos não tenha conseguido estabelecer-se nas universidades alemãs (até hoje, na Alemanha, pouquíssimas cadeiras de Etnologia possuem professores com esta especialidade), sendo, posteriormente, quase esquecida nesse país, muito embora em outros, inclusive nos Estados Unidos5 e no Brasil, suas contribuições sejam valorizadas até hoje. No seu epílogo, Kraus reflete brevemente sobre os caminhos desta área de estudos na Alemanha depois da época delimitada pelo seu trabalho (de 1884 a 1929, anos da primeira expedição ao Xingu e da morte de Karl von den Steinen, respectivamente).
A única crítica que se poderia fazer às 500 páginas do livro de Kraus é a mesma que J. R. R. Tolkien acatou em relação ao seu “Senhor dos Anéis”: “O livro é curto demais”. Porém, era necessário, embora lamentável, que o livro se restringisse para poder ser finalizado e publicado. Seria muito bom podermos dispor de uma abordagem semelhante para os precursores (em particular, von Martius) e para alguns estudiosos que não faziam parte da comunidade científica alemã, não tendo sido, por isso, incluídos neste estudo. O próprio autor admite que, provavelmente, muitos iriam sentir falta de Curt Nimuendajú na lista dos estudados. Uma das maiores lacunas na historiografia da antropologia brasileira é a ausência de estudos detalhados sobre as viagens deste pesquisador e sobre os resultados que obteve, e a não publicação da sua volumosa obra inédita6 (o mesmo vale para outros pesquisadores, ainda falando de alemães, como Emilie e Emil Snethlage).
Em suma, o estudo de Michael Kraus é de grande valor e merece ser conhecido internacionalmente, sobretudo entre os antropólogos no Brasil. Por sorte, várias das obras dos ilustres alemães vêm sendo traduzidas e continuam nas listas de leitura dos cursos universitários. É desejável que o mesmo aconteça com o livro de Kraus.
Notas
1 O alemão Michael Kraus, que obteve seu doutoramento em 2002 em Marburg com uma tese que depois transformou neste livro, não deve ser confundido com Michael E. Krauss, linguista norte-americano baseado em Fairbanks, Alaska, que estuda as línguas nativas norte-americanas, nem com os desportistas alemães homônimos.
2 No Brasil, felizmente, existe o tomo editado por Vera Penteado Coelho (1993), embora este seja limitado aos estudos do Alto Xingu e, em particular, aos de Karl von den Steinen.
3 Nisto, Kraus confirma os resultados de Penny (2002), que salientam a visão humanista, anti-racista e o interesse pelo entendimento holístico, do ponto de vista êmico, das culturas humanas (no plural, já nos anos 1880), dominantes na etnologia na Alemanha entre 1870 e 1920.
4 Recentes iniciativas da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), como os projetos de documentação de línguas e culturas indígenas do Museu do Índio, são motivo para alguma esperança neste contexto. Ver http://prodoc.museudoindio.gov.br/.
5 Neste contexto, vale lembrar que Franz Boas recebeu uma parte importante de sua formação nos museus etnológicos alemães. Suas ideias anti-etnocentristas, que hoje são um dos pilares da antropologia moderna, mostram que ele, como também os pesquisadores aqui em foco, era parte da mesma tradição humanista pluri-culturalista alemã, iniciada por Herder e continuada por Wilhelm Humboldt e Adolf Bastian (Bunzl, 1996; Frank, 2005).
6 Existem poucos estudos em alemão sobre este pesquisador, notadamente Dungs (1991), que também merecem ser conhecidos no Brasil.
Referência
BUNZL, Matti. Franz Boas and the humboldtian tradition: from Volksgeist and Nationalcharakter to an anthropological concept of culture. In: STOCKING JR., G. W. (Org.). Volksgeist as Method and Ethic. Madison: University of Wisconsin Press, 1996. p. 17-78. [ Links ]
COELHO, Vera Penteado (Org.). Karl von den Steinen: um século de antropologia no Xingu. São Paulo: EDUSP, 1993. [ Links ]
DUNGS, Günther F. Die Feldforschung von Curt Unckel Nimuendaju und ihre theoretisch-methodischen Grundlagen. Bonn: Holos, 1991. (Série Mundus Ethnologie, v. 43). [ Links ]
FRANK, Erwin. “Viajar é preciso”: Theodor Koch-Grünberg e a Völkerkunde alemã do século XIX. Revista de Antropologia, v. 48, n. 2, p. 559-584, 2005. [ Links ]
PENNY, H. Glenn. Objects of Culture: Ethnology and Ethnographic Museums in Imperial Germany. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002. [ Links ]
Sebastian Drude – Doutor em Linguística pela Freie Universität Berlin. Dilthey-Fellow da Goethe-Universit ät Frankfurt e Pesquisador Associado do Museu Paraense Em ílio Goeldi/MCT. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Rio-Durham (NC)-Berlim: um diário de idéias – DURÃO (A-EN)
DURÃO, Fábrio Akcelrud. Rio-Durham (NC)-Berlim: um diário de idéias. Campinas: Editora da UNICAMP/IEL/Setor de Publicações, 2008. Resenha de: LOSSO, Eduardo Guerreiro Brito. Teoria e ascese cotidiana. Alea, Rio de Janeiro, v.11 n.2, dec., 2009.
O livro do professor do Departamento de Teoria Literária da Unicamp, Fábio Durão, é um acontecimento único na produção editorial da teoria no Brasil. Trata-se de um “diário de idéias” feito de fragmentos aforismáticos que discorre de maneira muito pessoal sobre a situação da teoria nos três países – Brasil, EUA e Alemanha – que fizeram parte da formação do autor; por outro lado, aborda de maneira muito teórica experiências pessoais e cotidianas. É na duplicidade constitutiva da proposta que vamos nos adentrar.
Os fragmentos focam diferentes insights da relação de um personagem teórico com dois ambientes aparentemente estranhos: a universidade e o cotidiano. O desafio é, precisamente, pensar um com os olhos do outro, de modo que, recolhendo o melhor da teoria (a virulência crítica) e do cotidiano (a delimitação prática), haja de certo modo uma correção mútua do pior e potencialização mútua do melhor. Na teoria, o problema está na pletora de objetos mapeados e fabricação de modos de interpretação infinitos que neutralizam um trabalho do pensamento feito de irrupções, elaboração e pausas – momentos de silêncio. Essa questão aparece no interior de teorias atuais (desconstrução, estudos culturais), bem como na dimensão da prática universitária: excesso competitivo de estudo, iconização do nome dos filósofos, economia das citações, classificação de teorias como modos de leitura da realidade, métodos de ensino da literatura (p. 14, 21, 41). No cotidiano, a dificuldade está em lidar com a estrutura perversa do sistema de nos levar a vivências já preparadas, um consumo de modos de viver prévios. São analisados vários exemplos: os 100 sabores da loja de sorvete (p. 24, fragmento 19), as janelas dos apartamentos americanos (p. 25, fragmento 20), a visita e foto turística obsessiva por todos os lugares (p. 26-27, fragmento 22), o trabalho da audição nas salas de concertos (p. 24, fragmento 18) etc. A reflexão do cotidiano se desdobra em tornar o olhar estrangeiro uma forma metodológica de crítica de diferentes culturas, cotejando entre si EUA, Brasil e Alemanha, algo que poderíamos chamar de crítica da cultura comparada.
Por outro lado, o olhar desconfiado frente ao cotidiano não poupa o próprio cotidiano da universidade: pensa-se o quanto a vida intelectual está aprisionada em práticas estandardizadas e o quanto a reflexão sobre o seu cotidiano ataca diretamente a reificação do conteúdo produzido. Em ambos os casos, o personagem teórico dos fragmentos elenca os modos de reprodução da vida falsificada no mundo administrado em tempos pós-modernos e se coloca em questão, em primeira pessoa, na prática mais pessoal e inalienável (em pleno conflito com a inoculação íntima da alienação), sobre como agir e reagir, como avaliar e apreciar o que advém da imediaticidade do cotidiano.
Contra as diversas formas de ascese obsessiva que o sistema impõe (criando modelos de conduta, verdadeiros personagens típicos da cultura, como o do playboy brasileiro) (p. 45-46, fragmento 49), o ousado e modesto teórico não deixa de, ao procurar surpreender teoricamente um campo de problemas do cotidiano feito para se conservar impensado, praticar uma outra ascese. Trata-se de uma ascese da resistência (ou na expressão do esclarecedor prefácio de Marcus Siscar, “postura de resistência”) (p. 8) contra vivências imediatas impostas pelo sistema de conduta do estado falso, contra a aniquilação da experiência feita pelo controle disciplinar do espaço-tempo de trabalho e lazer; trata-se, enfim, de suspender o fluxo de imposições imediatas com a mediação de uma teorização do cotidiano. Isto é, nada mais ascético, mesmo que tal suspensão seja, em certos aspectos, anti-laboral, feita na mesa de bar, contrária à abundância de referências, ferramentas, possibilidades infinitas. A ascese moderna da teorização do cotidiano é contra, no fundo, pseudo-asceses que obedecem a modelos midiáticos e institucionais disciplinares, mesmo quando tais modelos se reproduzem no lugar que mais deveria questioná-los: na universidade pós-moderna, no próprio modo de vida dos críticos da reificação.
Daí a relevância, aqui, de nossa resenha dever abrir um parêntese para a diferença entre ascese e disciplina. A disciplina é imposta por educadores e instituições para a obtenção de êxitos em avaliações (provas, concursos), a ascese é construída por um sujeito singular para realização de um desejo absoluto (principalmente no caso da mística) por meio da renúncia a prazeres mundanos. A ascese tradicional de monges foi feita com base numa instituição que fomenta lugares de recolhimento, como o mosteiro, a disciplina tradicional se dá sempre no interior de uma instituição que controla o espaço-tempo do indivíduo – escola, hospital, prisão. Contudo, podemos pensar que, atualmente, com a informalização das atividades trabalhistas, o controle vigilante ao ar livre de cada movimento dos cidadãos, a passividade forçada da televisão e a atividade falsa dos jogos e da navegação virtual, entre outros fenômenos, o regime disciplinar se torna onipresente. A ascese, hoje, é em grande parte uma radicalização da disciplina: a anorexia das patricinhas, os workaholics, o planejamento sufocante dos turistas com seu roteiro, tudo isso é uma forma de, por meio de sacrifício dos prazeres do ócio, obter as virtudes do sistema: beleza, dinheiro, sucesso, signos de poder. Logo, a prática ascética é, nesses casos, nada mais do que o desdobramento exagerado da disciplina atual, em harmonia com o conceito de ascese protestante dos primeiros capitalistas de Weber, sendo dela a perfeita herdeira. Quando Fabio Durão pensa, nos EUA, o quanto o gordo se tornou proletário e o jovem marombeiro frequentador de academia, o burguês atual (p. 20, fragmento 13), está se referindo, a nosso ver, a uma das metamorfoses recentes da ascese burguesa.
Contudo, se o mundo é cada vez mais disciplinar e suscita asceses heterônomas, é necessário um grande esforço – ascético – para resistir não só à reprodução prática da disciplina imposta pela falsificação da existência, mas principalmente aos valores dessa falsificação. Isso só pode ser feito com a ascese singular do teórico crítico, que insere mediações do exercício crítico de pensar, suspensões, pausas, sedimentações. É uma ascese estética, hedonista, por um lado, para abrir espaço ao potencial crítico do ócio (que só é ócio do ponto de vista do mero cálculo das horas de trabalho, porém na verdade é outro tipo de trabalho ininterrupto, como provam as especulações do nosso personagem teórico pensando no vendedor turco na Alemanha) (p. 56-57, fragmento 64); e ainda mais trabalhosa, por outro, por demandar um esforço de recusa monstruoso diante da facilidade imediata.
Por isso, consideramos esse um livro genuinamente ascético. Ele nos apresenta uma estimável ascese teórica, e nos convida, sem dúvida, a praticar uma outra, contribui decisivamente para a ascese singular de cada um, pois asceses explícitas na escrita teórica servem para entrarem em diálogo, dialética. Nesse sentido, o livro abre uma perspectiva riquíssima – pouco percebida em outros livros que procuraram uma reflexão parecida, como Minima moralia de Adorno, Cool memories de Baudrillard, Rua de mão única de Benjamin –: tornar a teoria menos reprodutora de si mesma, por mais que ela deva se distanciar da prática, e mais prática, por mais que sua imanência seja insolúvel. Mas em que sentido a teoria deveria tornar-se mais prática, se justamente ela deve lutar contra a resistência à teoria das visões utilitaristas? No fato de que, justamente, ela pensou pouco um tipo de prática que a literatura pensou muito: a cotidiana, em forma de diário, na primeira pessoa; encarar a pobreza e a riqueza da experiência individual. É uma forma de a teoria ser mais literária, ainda que o livro sabiamente evite narrativas pessoais, não fale de amores nem de família, selecionando, no limite, apenas pequenos momentos de conversas com amigos para decolar o vôo de reflexões ao rés do chão. O objeto da teorização do cotidiano impele ao enfoque pessoal, mas na medida certa, de modo a focar fenômenos culturais gerais, que, entretanto, atingem intimamente a vida do dia a dia de todos.
A forma do diário, enfim, aproxima-se menos da autobiografia, demasiadamente individual, do que de textos ascéticos tradicionais, que observam o cotidiano com vistas a criticá-lo e transformá-lo com o olhar pessoal e exercícios específicos; mas é claro que a semelhança para por aí, pois o pensamento é laico e o objetivo não é religioso. Ainda assim, quando recusamos a semelhança superficial, insistimos na semelhança profunda (vinda da mais extrema diferença histórica) de uma resistência mediante certas renúncias: na ascese tradicional, aos prazeres mundanos, na ascese teórica, aos gozos da vida falsificada. Assim como para o asceta tradicional o mundo é pecado, para o teórico crítico, o mundo é regido pelo estado falso, e uma experiência que possa sair daí, na medida do possível, só se dá no deserto solitário da teoria sem concessões ao pecado capital de entregar a vida aos ditames da maioria. O conceito de prática aqui, portanto, não é privilegiadamente político, mas ligado ao âmbito da experiência individual, não é só a micro-política, é a micro-existência de viver a minúcia profana. É aí, a nosso ver, que a teoria pode e deve tornar-se mais prática: em pensar e experimentar uma prática impensada e mal praticada, precisamente, pela teoria e mesmo pela vida universitária.
Com isso, o teórico não se furta aos prazeres da indústria cultural, não é tão chato assim, mas vai surpreender a lidar com a imediaticidade precisamente lá onde ela mais está nos invadindo, conquistando, assim, territórios que os papers e a codificação da forma nas revistas acadêmicas insistem em não tocar (para uma análise de uma das formas de codificação do artigo científico, “Sobre o conceito de X em Y”, ver p. 42, fragmento 45). Quando a teoria se torna mais prática, intrometendo-se na dimensão da objetividade mais intransitável e impensada pela filosofia (ainda que Montaigne, pré-românticos alemães e muitos outros desmintam o muro estabelecido pelos sistemas filosóficos e sejam sempre mal aproveitados), a teoria se mostra mais digna de seu nome. Se a forma ensaística foi parcialmente codificada pelo artigo universitário, mesmo assim os fragmentos do livro expõem o grau de distância que o artigo acadêmico se encontra de uma crítica que atinja hábitos tornados regra de conduta na concretude da vivência diária.
Por isso e muito mais, o livro de Fábio Durão dá um sopro renovador na teoria literária brasileira. Lembro que o Brasil produz trabalho de qualidade na área de teoria geralmente quando aborda objetos de estudo nacionais, restringindo o alcance da teorização ao seu território, daí o fato de a sociologia da literatura ter dados frutos mais rentáveis. Contudo, falta uma simultânea ousadia e consistência para pensar também simultaneamente o aqui e o ali e refletir sobre a teoria, hoje globalizada, sem cair em classificações escolares, métodos fixos de interpretação ou mera reprodução de escolas importadas. Durão realiza essa difícil tarefa da forma (no duplo sentido) mais modesta. Em primeira pessoa, trata até mesmo o Brasil como lá, enquanto está na Alemanha e nos EUA, mas justamente nesse momento a tradição não só de pensar o Brasil como do exercício autônomo de pensar dos brasileiros, feito precisamente sob a pressão do deslocamento do exílio, está dando seu mais novo salto.
Eduardo Guerreiro Brito Losso – UFRRJ
[IF]Pagu | Unicamp | 1993
Cadernos Pagu (Campinas, 1993-), publicação quadrimestral interdisciplinar, tem como objetivo contribuir para a ampliação e o fortalecimento do campo interdisciplinar de estudos de gênero, dando visibilidade à produção realizada no Brasil e promovendo o intercâmbio de conhecimento internacional sobre a problemática. Publica artigos inéditos com contribuições científicas originais, que colaborem para a inovação teórica, metodológica e/ou agreguem conhecimento empírico inovador, e debates em torno de textos teóricos relevantes no campo dos estudos de gênero, viabilizando, assim, a difusão de conhecimentos na área e a leitura crítica da produção internacional.
Tem publicado contribuições das seguintes áreas: Antropologia, Sociologia, História, Ciência Política, Letras e Linguística, História da Ciência, Educação. Mais recentemente, também de áreas como Direito, Psicologia, Comunicação, Saúde Coletiva e Serviço Social. Estimula a publicação de artigos de diferentes áreas disciplinares, desde que estabeleçam uma discussão com as teorias de gênero e feministas, buscando articulações entre gênero e outras diferenças (raça/etnia, cultura, classe, idade/geração, sexualidade e outras). São bem-vindas contribuições em língua portuguesa, espanhola ou inglesa.
A publicação dos cadernos pagu iniciou-se em 1993 e desde então vem contribuindo para a constituição do campo de estudos de gênero no Brasil. A revista foi criada em um momento em que os estudos de gênero já contavam com alguma legitimidade acadêmica no país e a intenção era ampliar sua visibilidade, difundindo e estimulando a produção de conhecimento na área.
A criação do cadernos pagu foi resultado de mais de dois anos de leituras, pesquisas e debates, nos quais integrantes do Núcleo de Estudos de Gênero – Pagu mapeavam os avanços na produção sobre gênero e seus impasses. O primeiro número foi inteiramente redigido por integrantes do Núcleo, cujos artigos esboçavam essas inquietações. Entre o segundo e o terceiro número, a publicação redefiniu sua política editorial e, simultaneamente, abriu para contribuições de pesquisadoras/es brasileiras/os e estrangeiras/os. Para tanto, constituiu-se um corpo de pareceristas ad-hoc e foram criados o Comitê e o Conselho Editorial. A partir do quinto número, a revista contou com financiamento externo à universidade.
De fato, há dois momentos na história da publicação, visíveis em diversos aspectos da revista, que estão ligados à obtenção do apoio de diversas agências -FAPESP, FAEPEx (Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão, da Unicamp) e, sobretudo, CNPq, que concedeu o apoio mais relevante em termos de recursos e de continuidade a partir de 1996. Esses financiamentos foram cruciais para o crescimento da publicação, não apenas no que se refere à melhoria da qualidade gráfica e à incorporação de maior número de textos, mas também à adequação às normas editoriais, à ampliação do Conselho Editorial, ao registro em diversos indexadores nacionais e internacionais.
Periodicidade quadrimestral.
Acesso livre.
ISSN 1809 4449 (Impresso)
ISSN 0104-8333 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos



