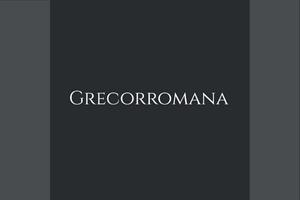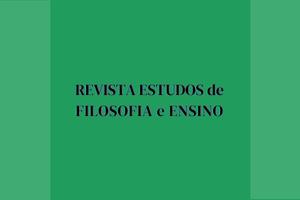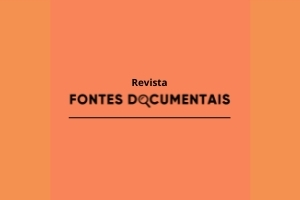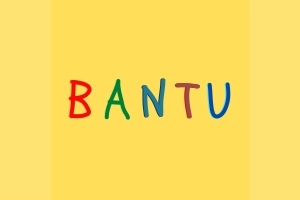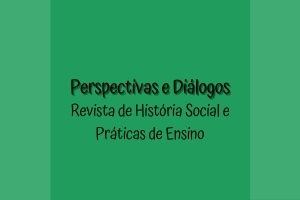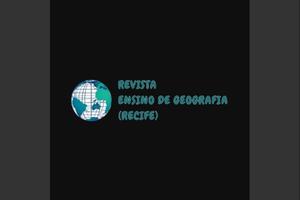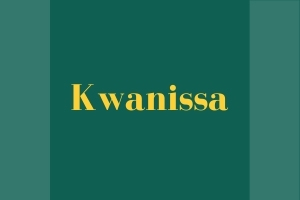Multidisciplinar
Rural e Urbano | UFPE | 2016
A Revista Rural-Urbano (2016-) é um periódico semestral vinculado ao Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco e gerida pelos grupos de pesquisas “Produção do Espaço, Metropolização e Relação Rural-Urbano” da Universidade Federal Rural de Pernambuco (GPRU/UFRPE) e “Sociedade & Natureza” da Universidade Federal de Pernambuco (Nexus/UFPE). Seu objetivo é constituir-se enquanto canal de veiculação científica da rede de pesquisadores sobre as relações rural-urbano, bem como congregar artigos, ensaios e resenhas científicas a partir da História e da Geografia, que versem sobre processos passados e atualmente existentes no espaço rural e no urbano. A revista também objetiva congregar trabalhos das áreas de História, Geografia, Sociologia, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional, Serviço Social e Educação.
Periodicidade Semestral
Acesso livre
ISSN 2525-6092
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
História & outras eróticas | Marcos Antonio de Menezes, Martha S. Santos e Robson Pereira da Silva
Orestes perseguido por las Furias, de William-Adolphe Bouguereau (1862) | Domínio público |
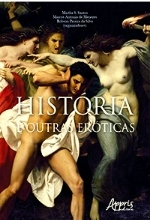
Um novo tempo há de vencer
Pra que a gente possa florescer
E, baby, amar, amar, sem temer
Eles não vão vencer
– Johnny Hooker
Apesar dos constates ataques que a educação e a ciência têm sofrido no Brasil, principalmente nos últimos anos, por conta da gestão genocida empreendida por Jair Bolsonaro bem como por todos os outros ignóbeis que se somam a ele, ainda assim é possível notar uma resistência por parte daqueles que não aceitam abaixar a guarda e continuam firmes na produção de um conhecimento que busca reflexões contínuas da sociedade atual e da pluralidade de indivíduos nela inseridos.
Desse desejo de resistir é que nasceu História e outras eróticas (2020), organizado por Martha S. Santos, Marcos Antonio de Menezes e Robson Pereira da Silva. A obra mostra a que veio logo em suas primeiras páginas, ao dar as boas-vindas aos leitores com uma citação do sociólogo inglês Anthony Giddens que, dentre outros assuntos, investiga as transformações contemporâneas e seus reflexos nas relações amorosas e eróticas, e também com um trecho do single God Control (2019), de Madonna, que em sua música faz um manifesto contra o porte de armas nos Estados Unidos e relembra no clipe da canção o massacre [2] ocorrido em uma boate LGBT, no mesmo país.
A coletânea de textos que se seguem é inaugurada por Tamsin Spargo, que no primeiro capítulo do livro tece considerações abarcando sexo, gênero e sexualidade, partindo principalmente dessas temáticas para promover reflexões que vão desde o tratamento misógino que observou em ambientes de trabalho dos quais fez parte até a maneira como a pornografia colabora para as representações sexualizadas de corpos hiperbólicos. Em seu texto, Spargo dialoga em grande medida com o filósofo Michel Foucault, umas das maiores referências no que diz respeito as temáticas de sexualidade e educação, bem como a relação destes com o poder. Ademais, a autora ainda relembra a publicação de seu ensaio Foucault e a teoria queer (1999), onde ela explora o modo como o pensamento do filósofo teria refletido na construção e entendimento da referida teoria.
Na sequência, Luisa Consuelo Soler Lizarazo reflete sobre as fronteiras sexuais que ainda perduram paralelamente a diversidade de gênero, sobretudo àquelas observadas em sociedades transculturais, ao mesmo tempo em que problematiza a ordem moral que continuamente busca impor um modelo de família funcional apenas à sistemas patriarcais e capitalistas. A autora faz um levantamento de como as questões relacionadas ao assunto foram observadas ao longo dos séculos e evidencia a importância do direito de se exercer a possibilidade de escolha de cada sujeito.
Ao longo do tempo tem-se observando a História e a ficção protagonizando discussões acaloradas que resultaram em mudanças e reestruturações no fazer historiográfico. Seguindo nessa linha de raciocínio, Peterson José de Oliveira constrói seu texto a partir da relação dos historiadores com a verdade e a ficção e traz para o leitor a novela, um gênero um tanto quanto subestimado e ainda pouco estudado. Para suas análises, Oliveira concentra seu trabalho principalmente a partir do uso da montagem e da polifonia, duas formas narrativas essenciais para a construção de O mezz da gripe (1998) de Valêncio Xavier que, por meio maneira de sua narrativa, mescla ficção e realidade e, por conseguinte, reflete sobre os efeitos de verdade presentes na novela.
No capítulo seguinte a autora Lúcia R. V. Romano promove reflexões importantes a respeito das intersecções entre as artes cênicas e o feminismo, elucidando a importância da história para a construção de um diálogo entre os dois campos e pontuando a colaboração cada vez mais notável da historiografia para os estudos feministas. Em seu texto, Romano deixa claro que muitas são as questões atuais envolvendo a história, o teatro e o pensamento feminista e abre espaço para se pensar o artivismo feminista, com ênfase no Madeirite Rosa, um coletivo teatral paulistano.
Outra linguagem artística colocada em pauta ao longo da obra História e outras eróticas (2020) é o cinema, abordado no texto de Grace Campos Costa e Lays da Cruz Capelozi, que trazem para os leitores um debate precioso sobre a representação feminina a partir da filmografia de Catherine Breillat. Em um texto bastante didático e rico em imagens, as autoras apresentam uma discussão que vai de encontro a um tabu ainda muito atual: o prazer feminino. Como objeto de estudo é analisado o filme Romance X (1999) e ao longo do texto, além de conhecer um pouco mais sobre o cinema de Breillat também é possível compreender a forma como ela se posiciona antagonicamente aos estereótipos que ainda são observados no que diz respeito ao desejo feminino em representações cinematográficas.
No capítulo seguinte, Ana Lorym Soares faz um interessante paralelo entre a realidade a qual temos vivido e a distopia, lançando seu olhar para o romance O conto da Aia (1939), de Margaret Atwood. A autora explica que em outras obras de distopia o que se observa é um padrão onde os personagens principais são, na grande maioria das vezes, homens, de modo que no romance estudado, Margaret Atwood inova ao trazer uma mulher como personagem central da obra, fugindo dos padrões observado neste gênero da literatura. Desse modo, além de importantes reflexões a respeito da escrita feminina de Atwood, direito das mulheres e seus corpos enquanto campo de poder, Ana Lorym Soares ainda deixa evidente a importância de um olhar atento a realidade, a fim de que as distopias permaneçam no campo de conhecimento da ficção.
Também no campo da literatura, Marcos Antonio de Menezes, constrói seu texto a partir de romances e poesias, sendo que nas páginas que se seguem os leitores serão levados a refletir sobre a(s) representações do(s) feminino(s) na obra de Charles Baudelaire, levando em consideração questões postas em pauta pelo movimento feminista atualmente. Indo contra a grande maioria das produções literárias do século XIX, tecidas a partir da ótica masculina e burguesa, os leitores poderão conhecer um pouco mais sobre a estética, a recepção e as temáticas abordadas nos enredos de grandes obras, como As flores do mal (1857), de Baudeleire e Madamy Bovary (1856), de Gustave Flaubert.
No capítulo seguinte, Robson Pereira da Silva, apresenta-nos ao subversivo Hélio Oiticia, um dos artistas mais completos e importantes da arte brasileira. No texto é apresentada e discutida a antiarte e a arte de subversão de Oiticica nos anos de 1960 e 1970, onde através da performance o mesmo combatia todo e qualquer autoritarismo institucionalizado. O texto é essencial para compreender as configurações do corpo como objeto inventivo bem como do uso da contraviolência de Hélio Oiticica, que se valia da arte para combater a repressão vivida no contexto da ditadura militar no Brasil. O trabalho de ativistas/artivistas negros queer no estado da Bahia é preconizado por meio do texto de Tanya Saunders, que a partir do seu estudo relacionado a discussões de gênero, raça e sexualidade debate de que maneira se tem observado a construção crescente do “não humano”. No capítulo, o retrocesso vivido atualmente no Brasil é colocado em xeque e debatido através da ótica da colonialidade, do afrofuturismo e da necropolítica, que de maneira cada vez mais pungente e perigosa busca ditar quem têm ou não importância em sociedade.
No capítulo seguinte, Martha S. Santos toca com coragem em uma ferida ainda aberta, especialmente, ao problematizar a importância da compreensão da instituição da escravidão no Brasil a fim de que se entenda de uma vez por todas os reflexos desta para a criação e manutenção de privilégios desfrutados por determinadas classes sociais em nosso país. Em seu texto, a autora busca fazer um rápido balanço historiográfico dos estudos ligados a escravidão nas últimas quatro décadas no Brasil além de apresentar seus estudos, concentrados no interior do Ceará, e dialogar intrinsicamente com os estudos de gênero ao refletir sobre a maneira pela qual mulheres e crianças aparecem inseridas no processo da escravidão.
Com um olhar voltado também para a escravidão, Murilo Borges da Silva dialoga com o texto anterior ao abordar os relatos de viajantes no estado de Goiás, bem como as contribuições destes para a produção de corpos femininos negros e representações do feminino muitas vezes equivocadas.
Em seu texto, Silva trabalha com os relatos de Saint-Hilaire (1975) e Johann Emanuel Pohl (1976) para verificar como as mulheres negras aparecem nestes relatos, através dos quais nota-se que há uma tentativa de silenciamento por parte dos viajantes em questão, que não raras vezes, faziam de seus escritos um lugar seletivo, tornando visível determinados fatos e invisíveis outros, da maneira como lhes era favorável e de acordo com aquilo que consideravam necessário.
Logo em seguida os leitores são postos frente a questões direcionadas principalmente aqueles que se dedicam a produção de conhecimento, pois Fábio Henrique Lopes lança um problema grave que diz respeito a maneira como muitas vezes utilizam-se de pessoas transsexuais e de outras identidades de gênero apenas como objetos de estudo. Partindo dessa colocação, o autor torna possível um olhar mais atento ao lugar de fala que cabe a nós, pesquisadores. Aqui, fica claro que é necessário que haja um repensar do fazer historiográfico e epistemológico de modo a não ferir o outro e deixa a todos uma breve, mas, importante advertência: “incluir, excluindo é fácil […]” (LOPES, 2020, p. 276).
O próximo capítulo é um nó na garganta, daqueles que a cada palavra lida cresce um pouco mais, pois logo de cara, Miguel Rodrigues de Sousa Neto e Diego Aparecido Cafola lançam alguns fatos que não podem serem ignorados: a heterossexualidade e a cisgeneridade compulsória tem acarretado na invisibilização e precarização da existência da população LGBTQI+ e, consequentemente, na sua eliminação física. Os autores afirmam que o conhecimento produzido na academia não tem ultrapassado seus muros e que os reflexos dos discursos construídos em cima de conservadorismos podem ser notados cada vez mais através da violência com que a população LGBTQI+ tem sido alvo constante. Em um texto tocante, os autores colocam em xeque a noção atual de humanidade e questionam o processo de exclusão de grupos marcados pela diferença, ou melhor, que as maiorias silenciadas têm sofrido.
No texto que se segue as problemáticas levantadas dialogam com estas do texto anterior, porém, são levadas para o espaço escolar ao demonstrar como a escola tem atuando como agente da normatividade. Neste capítulo, Aguinaldo Rodrigues Gomes problematiza a hierarquização e o silenciamento de corpos dissidentes por meio do discurso falacioso da “ideologia de gênero” difundida, inclusive, como uma das principais bandeiras levantadas e defendidas durante a eleição de Jair Bolsonaro. O autor reitera os ataques aos quais a educação tem sofrido no campo dos estudos de gênero e da educação sexual, além de expor o cerceamento de professores, aos quais os conservadores e reacionários tentam colocar em uma redoma cujas grades é a ignorância e o preconceito.
Por fim, o último capítulo traz aos leitores uma “greve selvagem” que resultou na derrota do capitalismo em uma luta protagonizada por estudantes e trabalhadores. Em seu texto, João Alberto da Costa Pinto aborda a Revolução do Maio de 1968, a mais importante revolução anticapitalista do século XX. Sua análise parte da trajetória política e teórica de Raoul Vaneigem e se expande para outros militantes que fizeram parte do movimento que ficou conhecido como Internacional Situacionista (IS). De forma clara, Pinto explana o que levou dez milhões de trabalhadores e estudantes a frearem o capitalismo na França de forma totalmente espontânea e auto-organizada.
Dessa feita, levando em consideração o cenário hostil em que a produção de conhecimento científico se encontra em discrédito, como política de governo, bem como os ataques que as populações negras, índigenas, de mulheres e LGBTQI+, sobretudo àqueles sujeitos e sujeitas marcadas pela pobreza e precariedade da vida e do mundo do trabalho tem sofrido cotidianamente com as políticas de morte e indiferença, conclui-se que a coletânea de textos reunida em História e outras eróticas (2020) além de sinônimo de resistência é também um contributo a produção intelectual que se preocupa em pensar, refletir e problematizar os campos de estudo da política, raça, femininos e performatividades de gênero. Nas páginas desta obra, os leitores irão encontrar questionamentos relevantes acerca de temas atuais e necessários, fazendo com que a obra se configure como um alento a defesa dos direitos humanos, revestido de esperança, força e coragem para continuar na luta por igualdade.
Nota
2. O massacre na boate “Pulse” aconteceu em Orlando, no dia 12 de junho de 2016. Na data, Omar Mateen abriu fogo dentro do local e assassinou quarenta e nove pessoas e deixou cinquenta e três gravemente feridas.
LOPES, Fábio Henrique. Efeitos de uma experimentação político-Historiográfica com travestis da primeira geração. Rio de janeiro. In: MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020.
MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020.
Natália Peres Carvalho – Graduada em História pela Universidade Federal de Goiás e mestranda no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade Federal de Goiás. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9841094387536865. E-mail: [email protected].
MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020. Resenha de: CARVALHO, Natália Peres. História & outras eróticas (2020) – Uma obra urgente e necessária. Albuquerque. Campo Grande, v.13, n.25, p.184-188, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF].
Resenha Crítica, Aracaju & Crato, n.4, 1 jul., 2021.
Edição n.4 (2021)
Apresentação
Nesta edição, disponibilizamos as aquisições do período 01 a 30 de junho de 2021. Destacamos resenhas sobre livros de história das mulheres, histórias do erotismo, do colonialismo em Moçambique e dos governos progressistas na América Latina. Também reblogamos resenha em periódico espanhol que avalia o escrito de autor brasileiro sobre Epistemologia Histórica.
Necessariamente, o tema da pandemia continua a pautar dossiês de modo objetivo ou como instrumento de contextualização.
Das novas revistas incorporadas ao acervo, destacamos dois periódicos: Filosofia e História da Biologia (USP/2020) e Palavras ABEHrtas (ABEH/2021), revista especializada em Ensino de História.
Aproveitamos para anunciar a finalização da captura dos dossiês de 120 revistas brasileiras de História. Cerca de 2100 textos de apresentação, linkados aos seus seus respectivos artigos, estão à disposição, via busca livre ou consulta parametrizada no índice de objetos de dossiê.
O trabalho de captura de resenhas continua. Hoje, acumulamos cerca de 3200 textos produzidos nos últimos 40 anos, já disponíveis para a consulta no índice de objetos de resenha,
Saúde e trabalho para todos nós!
Itamar Freitas e Jane Semeão (Editores)
Resenhas
- Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica | Frank Gaudichaud, Jeffrery Webber e Massimo Modonesi
- 29 de junho de 2021
- La ciencia de la erradicación. Modernidad urbana neoliberalismo en Santiago de Chile, 1973-1990 | César Leyton Robinson
- 25 de junho de 2021
- Canguilhem e a gênese do possível. Estudo sobre a historização das ciências | Tiago Santos Almeida
- 25 de junho de 2021
- Acre, Formas de Olhar e de Narrar: Natureza e História nas Ausências | Francisco Bento da Silva
- 9 de junho de 2021
- Mulheres e caça às bruxas: da Idade Média aos dias atuais | Silvia Federici
- 9 de junho de 2021
- Aquirianas: mulheres da floresta na história do Acre | Carlos Alberto Alves de Souza
- 9 de junho de 2021
- História & outras eróticas | Marcos A. Menezes, Martha S. Santos e Robson P. Silva
- 9 de junho de 2021
- A vida e o mundo: meio ambiente patrimônio e museus | Paulo H. Martinez
- 9 de junho de 2021
- Antonio Fagundes no palco da história: um ator | Rosangela Patriota
- 9 de junho de 2021
- Sex, Law, and Sovereignty in French Algeria, 1830–1930 | Judith Surkis
- 4 de junho de 2021
Dossiês
- Povos originários e Covid-19: Experiências indígenas diante da Pandemia na América Latina | Albuquerque | 2021
- 9 de junho de 2021
- RESISTÊNCIA: A construção de saberes históricos em tempo de pandemia | Das Amazônias | 2021
- 9 de junho de 2021
Sumários
- Boletim Historiar | Aracaju, v.8, n. 2, abr./jun. 2021.
- 29 de junho de 2021
- Asclepio – Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Madrid, v.73, n.1, 2021.
- 25 de junho de 2021
- Revista de História Regional | Curitiba, v.26, n.1, 2021.
- 18 de junho de 2021
Revistas recentemente incorporadas ao acervo
- Palavras ABEHrtas | ABEH | 2021
- 7 de junho de 2021
- Filosofia e História da Biologia | USP | 2020
- 1 de novembro de 2020
Conheça a totalidade do acervo
Para adequado uso do espaço na página inicial deste blog, destacamos até treze resenhas, cinco dossiês, cinco sumários correntes e cinco periódicos recentemente incorporados ao acervo em cada edição mensal do Resenha Crítica.
A quantidade de textos, porém, se altera à medida que incorporamos novos periódicos, retroativamente, aos nossos bancos de dados.
Para conhecer a totalidade das aquisições de resenhas, apresentações de dossiês e sumários, publicados originalmente no período 1839-2021, utilize os filtros da barra lateral.
Das Amazônias | Rio Branco, v.4, n.1, 2021.
Dossiê RESISTÊNCIA: A construção de saberes históricos em tempo de pandemia
Apresentação da Capa
- Apresentação da Capa | Jardel Silva França |
Ficha Técnica
Sumário
Editorial
Artigos
- Disputas entre medicinasprática e ensino médico e as artes de curar no Brasil e nas Amazônias no século XIX | Ana Paula Oliveira do Nascimento | PDF
- A música como forma de expressão e manifestação contra a ditadura Civil-Militar no Brasil | Cyndy Nathana Melo de Souza, Uizenairian Rodrigues da Rocha, Elcio Gomes Araújo | PDF
- Entre memórias e fontes históricasdiálogos, problemáticas e historiografias em sala de aula no ensino de história | Danilo Rodrigues do Nascimento, Poliana de Melo Nogueira | PDF
- Do Casarão à Casa de Memóriaum lugar de memória na Rua 20 | Darlen Priscila Santana Rodrigues | PDF
- O Discurso colonizador camuflado de ciência na Amazônia do século 19 | Déborah Santos | PDF
- Racismo conceito historicamente construído na legislação brasileira | Diego Manoel de Medeiros de Albuquerque | PDF
- História e alimentaçãopolíticas de assistência alimentar na Amazônia (1940-1950) | Edson Gabriel dos Santos Dias | PDF
- A escola nunca vai entender a comunidade…e será que a comunidade entende o significado da escola? | Jose Manuel Ribeiro Meireles | PDF
- Nas Entrelinhas da Históriarepresentações sobre mulheres no romance de Francisco Galvão| Neila Braga Monteiro | PDF
- A Revista Manchete Rural e a antena parabólicatecnologia, integração enovos hábitos | Roberto Biluczyk | PDF
- A História da Madeira-MamoréMedos, desafios e enfrentamentos na construção da EFMM | Rosa Thaís Neves Hydall | PDF
- Os Intelectuais na cosntrução de uma Bahia imaginada entre as décadas de 1910 e 1950 | Sura Souza Carmo | PDF
- Do Interior baiano à selva de pedra paulistanadesafios frente a migração nordestina em São Paulo | Victor Hugo de Almeida França | PDF
Resenha
- Notas sobre o “desdizer” e o “desexplicar” de Francisco Bento da Silva, na obra “Acre, formas de olhar e de narrar: natureza e história nas ausências” | Ezir Moura Júnior | PDF
- Aquirianaso protagonismo feminino na floresta acriana | Jardel Silva França | PDF
- Caça às Bruxasa contribuição do capitalismo para o aumento da violência contra às mulheres | Karolaine da Silva Oliveira | PDF
Publicado em 09 jun | v.4, n.1 (2021)
A vida e o mundo: meio ambiente patrimônio e museus | Paulo H. Martinez
 Estela Okabayaski Fuzii, Angelita Marques Visalli, Paulo HenriqueMartinez e Chico Guariba | Foto: Agência UEL |
Estela Okabayaski Fuzii, Angelita Marques Visalli, Paulo HenriqueMartinez e Chico Guariba | Foto: Agência UEL |
Estabelecer conexões concretas entre as potencialidades de ação educativa dos patrimônios e museus com o meio ambiente foi o desafio do historiador Paulo Henrique Martinez em seu mais recente trabalho A vida e o mundo: meio ambiente, patrimônio e museus. Publicado em 2020 pela editora Humanitas, o livro reúne textos de diferentes naturezas escritos pelo autor em sua extensa trajetória de pesquisa e ensino voltada a cooperação técnica, cuja atuação permeou universidades, Câmara dos Deputados, conselhos municipais, organizações não-governamentais, entre muitos outros.
A reunião das produções entre os anos de 2003 e 2017, demonstra a atuação deste historiador diante os acontecimentos que atravessaram as áreas de meio ambiente, patrimônio e museus.
A variedade do material, entre capítulos de livros, artigos de revista científica, resenhas de obras publicadas, artigos em revista universitária e jornais locais, evidencia um trabalho atento às transformações do presente e da vida cotidiana, além da preocupação em ampliar o acesso aos conhecimentos produzidos na universidade e nas instituições culturais ao público geral.
Nesses moldes, a primeira parte do livro denominada Museus e mudança social procura delinear um diagnóstico da situação dos museus no Brasil, no momento da escrita dos textos. Partindo de questões do presente e da esfera local, Martinez articula os acontecimentos com documentos, instituições e agendas nacionais e internacionais tal como a Política Nacional de Museus (2003), o Conselho Internacional de Museus (1946) e a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS, 2005-2014).
A sensível tarefa de repensar o processo de desenvolvimento, sobretudo mediante as significativas transformações no meio ambiente, analisando e promovendo a distribuição de seus benefícios ao conjunto da sociedade global, exige tratar as especificidades culturais, de gênero, classe social e raça. O desenvolvimento sustentável, conceito orientador no século XXI, contempla com atenção este último aspecto do desenvolvimento humano, emergindo as demandas de formação de cidadãos, geração de emprego, combate à pobreza, igualdade de gênero e acesso à educação e saúde de qualidade.
Qual o potencial dos museus na educação para o desenvolvimento sustentável? As diretrizes estabelecidas em documentos internacionais tal como a Agenda 21, elaborada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, documento gerador da já mencionada DEDS e, atualmente, da Agenda 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (2015-2030) encontram um fértil terreno nos patrimônios ambiental e cultural presente nos museus.
A cultura, protagonista nas atividades museológicas, é uma das bases do desenvolvimento sustentável pois concentra os mecanismos e finalidades do desenvolvimento.
Vida humana e não humana se encontram em um mundo diversificado, identificado por valores, crenças, saberes, técnicas, instrumentos de produção e consumo que se estabelecem em meio as harmonias e conflitos entre estes dois universos profundamente conectados. A reordenação das atividades humanas e o meio ambiente, o “pensar ecológico” é, para Martinez, parte do trabalho de profissionais das ciências sociais, em geral, e dos historiadores, em particular, que atuam em instituições museológicas.
Atento às transformações do tempo presente, o caráter de experimentação proporcionado pelos museus em exposições e acervos apresentam um novo plano de realidade com o aprimoramento dos usos dos recursos naturais e do capital humano. Parece ser esta a participação institucional de parques e museus no desenvolvimento sustentável, a preservação, valorização, pesquisa e comunicação da cultura material e imaterial e dos patrimônios ambientais. Articulados, garantem a cidadania, inclusão social e vida digna a toda população.
Estas características ganham maior expressão quando vinculados à cultura indígena no Brasil.
A Lei n°11.645 de 2008 institucionaliza a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena nos currículos escolares da educação básica e superior. O patrimônio indígena, fundamental para a constituição e conhecimento da história do Brasil, encontra debates fecundos e atuais na segunda parte do livro Patrimônio indígena no Brasil. A localização dos elementos indígenas na sociedade brasileira constitui um dos primeiros passos para o conhecimento da história nacional.
A rivalidade dos discursos hoje predominantes, como aquele vivido pela Aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, nos auspícios da Copa do Mundo, corresponde aos conflitos de narrativas de dominação enraizadas no cotidiano brasileiro. As diferentes simbologias presentes nessa experiência narrada na obra, o futebol, a hostilidade com os indígenas, o desenvolvimento econômico no qual os grupos tradicionais são vistos como obstáculos naturais e o autoritarismo da política nacional, são explicativas para compreensão da realidade O sincretismo no uso da palavra “Maracanã” e a luta pela permanência da aldeia indígena naquela região do Rio de Janeiro complementa aquilo que já havia observado o historiador Caio Prado Jr sobre o passado vivo no cotidiano dos brasileiros. Os aspectos coloniais dessa experiência no Brasil, faz aquele “lugar de memória” converter o passado sua forma de resistência e respeito ao compreender os processos no qual deram origem a esta sociedade tão diversificada.
Em todas as situações discutidas, seja nos museus municipais, exposições itinerantes, centros culturais ou universidades, Martinez conduz a educação como inerente às transformações para o século XXI. Em consonância com documentos legislativos e acordos institucionais como as citadas Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas (PNGATI) e a Convenção sobre Diversidade Biológica, a afirmação e o reconhecimento da cultura e dos direitos dos povos indígenas, a inclusão na vida social, a garantia de participação nos planos de gestão é diretamente dependente de um processo educativo que valoriza a cultura, a natureza, as mulheres, a cooperação e a democracia.
O Parque do Xingu e o Museu do Índio no Rio de Janeiro são alguns exemplos concretos desses anseios que relembram a trajetória violenta da colonização e preservam a cultura e a memória dos grupos indígenas. Para além destas instituições, as universidades também desempenham função importante com o desenvolvimento de disciplinas que abordem os temas, no gerenciamento de museus universitários, na formação de profissionais qualificados e na inserção destes grupos no ambiente universitário.
Apresentando a “Universidade da Selva” como ficou proclamada a Universidade Federal do Mato Grosso através de uma resenha da obra Museu Rondon: Antropologia e indigenismo na Universidade da Selva da antropóloga Maria Fátima Roberto Machado, Martinez testemunha os aspectos institucionais da identificação e preservação da cultura material e imaterial na universidade. Estas instituições acompanham os processos de formação intelectual e produção de conhecimentos em conjunto com os museus, embora os últimos tenham sua data de nascimento anterior às primeiras, no Brasil. Este fato, no entanto, reforça as complementaridades entre ambas e os benefícios do trabalho conjunto, adicionando, ainda, a escola de educação básica.
As perspectivas de trabalho nos museus para a abertura de temas relacionados ao meio ambiente, principalmente para a constituição da história dos municípios, destacam o valor do patrimônio indígena. Os processos de formação nacional em seus aspectos econômicos, sociais e políticos esbarram com a trajetória desses povos cujos reflexos ainda permeiam no século XXI. A PGNATI foi um material analisado para demarcar os complexos desafios de preservação e recuperação dos recursos naturais e o reconhecimento da propriedade intelectual e do patrimônio genético. A educação ambiental e indigenista é definida como a principal estratégia destes objetivos, beneficiando não apenas a população indígena, mas todos os cidadãos.
A partir dos exemplos observados, o volume encerra com um caráter pedagógico de demonstração prática das potencialidades da educação patrimonial e ambiental na formação da cidadania.
Uma organização documental para auxiliar historiadores, em especial aqueles dedicados à História Ambiental, aos profissionais da área de museus e professores de educação básica e superior, que permite visualizar as narrativas presentes nos objetos e paisagens como fontes de observação e pesquisa histórica.
O significado cultural da alta produção de carrancas, marcante na paisagem do São Francisco, os processos de utilização deste rio para transporte e comércio, a formação da cidade e da cultura material, dos valores, saberes e comportamentos da população da região são demonstrativos da promoção do patrimônio na construção do conhecimento histórico. Os objetos cotidianos, como o automóvel e os elementos da cultura afro-brasileira também são destacados como mecanismos para compreender a organização da vida social, os processos de industrialização e seus efeitos, principalmente nos centros urbanos.
A pandemia de COVID-19 colocou em evidência as consequências do modelo industrial globalizado na vida humana e não humana. O surgimento de novas doenças, a perda de ecossistemas e da biodiversidade desloca a atenção para fora das cidades e marca os estreitos vínculos entre seres humanos e natureza. Esta experiência demonstra os sintomas de um planeta cujos padrões da vida atual não consegue sustentar e no qual deve-se estar atento. Como observou Donald Worster, todas as epidemias ao longo da história tiveram origem onde o equilíbrio com a natureza estava abalado.
Em sua argumentação sobre o patrimônio indígena, Martinez reforça o utilitarismo como obstáculo para a proteção desses povos e do meio ambiente. Percebe-se que esta perspectiva atravessa diferentes dimensões da vida humana, atribuindo valores distintos, muitas vezes alimentados pelo objetivo do crescimento econômico. Assim, os recursos naturais são destruídos, os objetos musealizados perdem a importância em sua função prática e se fortalece a narrativa dos museus “viverem do passado”. São para estes critérios que a pandemia exige observação, pois escancarou as desigualdades sociais e a crise ambiental da atualidade.
Ao mesmo tempo o isolamento social, para impedir a propagação da doença, fortaleceu os meios de comunicação e incentivou as instituições culturais a se renovarem para acompanhar as novas demandas. As redes sociais se tornaram ferramentas apropriadas pelos museus. A 14° dos Primavera dos Museus, em 2020, trouxe como tema Mundo Digital: museus em transformação e convidou os profissionais a pensar a inserção destas instituições nos novos mecanismos de comunicação.
Martinez nos mostra que as possibilidades de atuação são muitas e trazem consigo resultados positivos à sociedade.
Ao demonstrar os frutíferos e os frustrantes trabalhos que presenciou ao longo de sua carreira, transmite um apelo para a expansão das instituições que já existem e para a valorização e o investimento daquelas que ainda não tem usufruído de seu potencial. Demonstra com clareza os benefícios da cooperação nas dimensões individuais, institucionais e sociais do trabalho. A leitura da obra é direcionada aos profissionais da educação e museus, em etapas de formação inicial ou continuada, para vislumbrarem os contextos no qual fazem parte, integrar e valorizar os conhecimentos locais e aplicar essas ações em todas as oportunidades que vierem à frente.
Os desafios emergentes já visíveis neste século e aqueles que ainda estão por vir convergem na ação educativa como ferramenta fundamental. O trabalho educativo dos museus na promoção da cidadania e da preservação do patrimônio cultural e ambiental convergem com as diretrizes de ação internacional, fortalecendo, ainda, a cooperação para o desenvolvimento sustentável.
Referências
MARTINEZ, Paulo Henrique. A vida e o mundo: meio ambiente, patrimônio e museus. São Paulo: Humanitas, 2020.
NORA, Pierre. Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 1984.
PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1961.
WORSTER, Donald. Otra primavera silenciosa. Historia Ambiental Latioamericana y Caribeña, 10, ed. sup. 1, p. 128-138, 2020. Disponível em: https://www.halacsolcha.org/index.php/halac/ issue/view/40 Acesso em: 26 fev. 2021.
Cíntia Verza Amarante – Mestranda em História pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, câmpus de Assis. Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8845494592325213. E-mail: [email protected].
MARTINEZ, Paulo Henrique. A vida e o mundo: meio ambiente, patrimônio e museus. São Paulo: Humanitas, 2020. Resenha de: AMARANTE, Cíntia Verza. Educação Ambiental em Museus. Albuquerque. Campo Grande, v.13, n.25, p.189-193, jan./jun.2021. Acessar publicação original [IF].
Antonio Fagundes no palco da história: um ator | Rosangela Patriota
 Antônio Fagundes e Rosângela Patriota | Foto: Agenda |
Antônio Fagundes e Rosângela Patriota | Foto: Agenda |
Professora aposentada da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Rosangela Patriota é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), coordenadora do Núcleo de Estudos em História Social da Arte e da Cultura (NEHAC/UFU), e coordenadora do GT Nacional de História Cultural da ANPUH e da Rede Internacional de Pesquisa em História e Cultura no Mundo Contemporâneo. Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Artes e História da Cultura (PPGEAHC) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Com uma trajetória sólida nos debates que se endereçam a pensar as relações e imbricamentos entre História e Teatro, sobretudo no que se refere à produção da História Cultural, a historiadora Rosangela Patriota se desafia a inserir o ator no centro desses debates de maneira crítica, na contramão de grande parte das pesquisas acadêmicas que estão voltadas para a História do Teatro Brasileiro que, de certa maneira, tendem a privilegiar dramaturgos, críticos e companhias teatrais.
Assim, a autora busca suprir uma lacuna, na área de História, acerca da inserção histórica de atores e atrizes em “termos de periodização da história do teatro no Brasil” (PATRIOTA, 2018, p. 401).
Essa obliteração, ou, a secundarização do ‘trabalho atorial’ que, segundo Rabetti (2012), consiste em interpretação, atuação e presença cênica que corporifica de maneira mediada anseios múltiplos, inclusive os seus, diante deste circuito que configura o funcionamento da arte teatral no Brasil. Assim como Rabetti (2012), Patriota (2008) aponta para as dificuldades de lidar com a figura do ator por dois pontos específicos: a efemeridade da cena no acontecimento do fenômeno teatral e pela hierarquia da crítica cultural, ou mesmo, a tirania do texto escrito, como bem salientado por Roger Chartier (2010), evocando as formas de corporeidade, representação, apropriação e vocalização desses textos.
Dessa feita, o ator seria um ponto fulcral na circulação e personificação de textos e ideias. Porém, mesmo sendo um elemento e figura tão primordial para a construção cênica, o trabalho do ator acontece no espectro temporal do efêmero, que é construído na delicadeza de expressões e gestos e, talvez, por esse motivo seja mais dificultoso lidar com ele no campo da pesquisa, mas não impossível, pois o teatro não se restringe apenas a zona do espetacular ou as características específicas do trabalho de performance atorial que, inclusive, é parcialmente capturada em registros audiovisuais, fotográficos e por índices de recepção fragmentados, como grande parte dos documentos utilizados em História. Sobre isso, Patriota afirma que o fenômeno teatral faz com que o teatro possua inúmeras linguagens (PATRIOTA, 2018, p. 400).
No coração de seu tempo Para o enfrentamento de tal empreitada de contar a história do teatro sob o ponto de vista de uma historiadora de ofício, Rosangela Patriota escolheu Antonio Fagundes como sujeito no palco da História, especialmente, para não dizer que não falou dos atores por causa da efemeridade da ação teatral. Esse desafio está estampado nas páginas de Antonio Fagundes no palco da História: um ator, lançado em 2018, pela Editora Perspectiva. Sempre com um diálogo em primeira pessoa com os leitores, Patriota é franca ao afirmar como será difícil essa jornada, porém em vários momentos reafirma com argumentos muito bem sustentados que a biografia intelectual traz questões impres cindíveis, mesmo dispondo de poucos documentos que façam referência específica a performance do ator. Mas, nem por isso, o cotejamento com outros fragmentos documentais é menos eficaz em responder as perguntas dela enquanto historiadora. Assim, ela insiste que a fabricação de tais documentos está carregada de intenções e, por isso, a ajudam na construção histórica da trajetória e carreira de Antonio Fagundes, pois:
Todavia, uma trajetória é muito mais que a mera exposição de vontades e realizações. Pelo contrário, ela, de acordo com meu entendimento, deve ser vista, interpretada e compreendida à luz das circunstâncias históricas e sociais que a acolheram.
Sob essa óptica, Fagundes é uma personagem fascinante, na medida em que construiu suas experiências em meio a debates e tensões possíveis de serem analisadas, sob o horizontes de expectativas diferentes, ou, em outras palavras: é sabido que o tempo não é apreendido da mesma forma por sujeitos e esferas sociais distintos, isto é, as rupturas vistas e sentidas, por exemplo, no campo da política não se apresentam necessariamente nos mesmos termos na esfera cultural, assim como os ditames e os ritmos da ordem econômica muitas vezes são sentidos e definidos sob regimes e expectativas próprias. (PATRIOTA, 2018, p. 52)
O aporte teórico está afetuosa e devidamente baseado na obra A Teia do Fato (1997), de Carlos Alberto Vesentini, que se acerca da compreensão da construção, disseminação e cristalização do fato histórico, inclusive, de seu poder hipnótico de condução das narrativas que em volta dele gravitam, seja pelo aspecto dos temas, marcos temporais, personagens e acontecimentos, conduzindo e produzindo o sentido e seus respectivos ordenamentos periodizadores. No teatro, por exemplo, a ideia e o desejo de modernização enquanto bandeira, especialmente calcada em referenciais eurocentrados, fez com que o ‘teatro do ator’ fosse relegado como aspecto menor a ser superado, chamado inclusive de ‘teatro velho’ em prol da estetização resumida à atmosfera da cena, especificamente, na passagem do ensaiador para o encenador. Tal procedimento, por exemplo, fez de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, peça encenada pelo polonês Zbgniev Ziembinski, em 1943, um marco convencionado moderno e tido como um referencial na história do teatro brasileiro, por sua renovação cênica, cristalizando assim uma memória histórica carregada de hierarquias da consagração especialmente constituídas pela crítica, como consta no Dicionário do Teatro Brasileiro.
[…] consolidam-se no âmbito profissional vários projetos de renovação cênica que contestam o protagonismo do ator na concepção do espetáculo. O deslocamento do foco do ator para o encenador é explicitado pelo crítico Décio de Almeida PRADO aos seus leitores em uma crítica publicada em 1947: ‘Presenciamos então, já no nosso século, esse fato inacreditável: a fama e o prestígio dos metteurs em scéne obscurecem a dos atores, e mesmo a dos autores. (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, p. 43).
Afirmamos aqui que a historiadora Rosangela Patriota se propôs o desafio de tratar sobre o ator, sobretudo, por ela já possuir uma trajetória frutífera nos debates do campo da historiografia do teatro brasileiro. Ao fazê-lo se coloca diante de um salto frente às suas próprias produções anteriores que se dedicaram a pensar sujeitos históricos que transitaram no circuito teatral, especialmente na qualidade de dramaturgos, críticos, grupos e companhias teatrais; agora foi chegada a hora de pensar a presença do ator em meio a esse emaranhado de questões. Nesses termos, suas contri buições nos estudos sobre teatro já se apresentam em sua primeira obra, Vianinha: um dramaturgo no coração de seu tempo (1999) e Crítica de um Teatro Crítico (2007). Não podemos deixar de mencionar a frutífera parceria entre a historiadora com o saudoso professor Jacó Guinsburg, que está registrada em livros, como J. Guinsburg, a cena em aula: Itinerários de um professor em devir (2009) que reúne a transcrição de fitas da disciplina Estética Teatral, ministrada pelo professor Jacó Guinsburg, e também em Teatro Brasileiro: Ideias de uma História (2012).
Dessa feita, sob a posse desse debate e aporte teórico-metodológico bem definido, a autora faz com que, a partir da experiência profissional de Antonio Fagundes, surja a figura do ator diante desses e de outros acontecimentos históricos. A biografia se dedica a pensar a vida artística de Fagundes desde o início, com a peça A Ceia dos Cardeais (Julio Dantas, 1902), encenada em 1963, nos tempos que o protagonista ainda era estudante colegial, até a peça Tribos (Nina Raine, 2013). Respaldada pela micro-história italiana de Giovani Levi, Patriota torna Antonio Fagundes protagonista de uma narrativa histórica que o considera como eixo norteador da relação entre sujeito e sociedade e, neste interstício, apresenta-se o processo histórico no qual ele se inseriu e continua inserido.
Por conseguinte, a autora faz com que o texto biográfico suscite a abertura de ângulos interpretativos em relação à história do teatro brasileiro, tendo a vida e obra desse ator como eixo condutor. Deste modo, essa biografia não se apresenta como convencional, mas como uma biografia intelectual que ganha forma a partir de temas e problematizações que em outras oportunidades ficaram restritas aos dramaturgos, críticos e companhias.
Entrementes, a narrativa biográfica produzida por Patriota, sobre Fagundes, enfrenta com profundidade a construção e a cristalização de marcos na história do teatro brasileiro. Assim posto, fica claro que Rosangela Patriota tem fôlego para tal discussão que está por vir, a trajetória do ator Antonio Fagundes, conhecido nacionalmente e internacionalmente, por seus trabalhos no teatro, televisão e cinema. Sobretudo, a autora inverte a consagração do galã dessas últimas linguagens, especialmente por sua profícua e longeva atuação em telenovelas, e privilegia o ator e produtor de teatro. Assim, a autora demonstra como os trabalhos de Fagundes na TV e no cinema, de certa forma (não sem restrições e limites), constituíram capital financeiro e de público que sustentaram a sua consolidação no campo teatral, inclusive angariando público para suas produções no Teatro (locus onde ele iniciou sua carreira), proporcionando-lhe este espaço como formativo.
Como bem apontamos, o livro Antonio Fagundes no palco da História: um ator é uma biografia crítica que nos apresenta momentos marcantes, de um ator que iniciou suas atividades e paixão pelo teatro ainda como estudante do Colégio Rio Branco. Fagundes atuou em alguns espetáculos infantis dirigido por Afonso Gentil, que também trabalhava na seção de teatro infantil do Teatro de Arena de São Paulo, e assim aconteceu o convite para Antonio Fagundes participar do núcleo de teatro infantil do grupo de teatro paulista. Ou seja, Rosangela Patriota produz ‘poeira da estrela’[3], porém sem glamourização, pois demonstra que Antonio da Silva Fagundes Filho não esteve predestinado a ser o ator/galã Antonio Fagundes, ou, até mesmo ter uma carreira de sucesso especialmente cristalizada por sua presença em telenovelas.
A autora trata de uma construção artística balizada em processos de formação e atuação teatral, trabalho e uma rede de sociabilidade construída pari passu com a constituição de Antonio Fagundes enquanto ator. A referida rede foi formada por Afonso Gentil, Carlos Augustos Strazzer, Myriam Muniz, Gianfrancesco Guarnieri, José Renato, Augusto Boal, Ademar Guerra, Marta Oberbeck, Armando Bógus, Oswaldo Campozana, Sylvio Zilber, Othon Bastos, Consuelo de Castro, Fernando Peixoto, Antônio Bivar, etc.
No palco das palavras.
O primeiro capítulo intitulado Antonio Fagundes ou Estratégias para a composição de uma narrativa biográfica, trata-se de um balanço crítico que perpassa discussões teórico-metodológicas que esbarram na carreira do ator. Patriota consegue englobar discussões que são caras, não só a nós, historiadores, mas a todos que trabalham com objetos artísticos em geral, pois essas questões se apresentam como um quiasma na trajetória de Fagundes.
Uma das perguntas que move a autora a pensar esse trabalho, como um todo, é: por que Antonio Fagundes passa despercebido perante a historiografia do Teatro Brasileiro até então? Mesmo com sua participação no Teatro de Arena, que foi a sua primeira escola formativa e trabalho atoral profissional. A pergunta é respondida com uma digressão importante sobre as construções que foram feitas ao longo da escrita da História do Teatro, que não foi feita apenas por historiadores, mas também por críticos que estabeleceram certos marcos e fatos, incluindo assim certos grupos teatrais.
Nessa concepção foi estabelecida uma diferença entre teatro empresarial e teatro de grupo. O primeiro foi denominado como um teatro comercial, que visa lucros com a bilheteria, teoricamente sem se importar com o público ou a qualidade do espetáculo, o segundo foi denominado como um teatro sério, que busca o diálogo com os dramaturgos e é composto por grupos teatrais que possuem uma proposta de diálogo entre arte e sociedade.
Antonio Fagundes, por seu sucesso como galã de telenovelas, foi sumariamente engessado como pertencente a categoria de teatro empresarial, como uma espécie de distinção hierárquica estabelecida no circuito teatral, o espoliando de um capital cultural formado no teatro anteriormente ao seu ingresso nas produções televisivas. Diante dessas reflexões, o segundo capítulo intitulado O Teatro de Arena, os espetáculos da resistência democrática e a formação de um ator e de um cidadão, Patriota se debruça na formação intelectual e profissional de Fagundes nos primeiros anos de carreira, focando principalmente na sua frutífera estadia no Teatro de Arena.
No final da década de 1970, Fagundes assinou o contrato com a Rede Globo de Televisão e aceita integrar o elenco da novela Dancin’ Days (Gilberto Braga; direção de Daniel Filho, Gonzaga Blota, Marcos Paulo e Dennis Carvalho; codireção: José Carlos Pieri, 1978). Patriota explica aos leitores a historicidade da palavra galã e, assim, nos demostra como seu protagonista começa a ser reconhecido como galã ao interpretar o papel do ‘mocinho’ Carlos Eduardo Amaral Cardoso, o Cacá, par romântico da personagem Júlia Matos interpretada por Sônia Braga, que já havia estado em cena com Fagundes em Hair (direção de Ademar Guerra, 1969). Em um breve intervalo de tempo, ele estreia, também na televisão, a série composta por cinquenta e quatro episódios, Carga Pesada, na qual toda a sensibilidade de Cacá é posta de lado para dar vida ao viril Pedro, um caminhoneiro que percorre as estradas do país, na companhia de Bino (Stênio Garcia).
A Companhia Estável de Repertório (CER) é objeto do terceiro capítulo, no qual Rosangela Patriota consta a consolidação do homem de teatro e de cultura que passa a colocar em prática de maneira sistematizada todos os seus aprendizados e formação no circuito e no mercado teatral, inclusive, como alguém que se dispõe a debater publicamente as políticas culturais do país ou a falta delas. A referida companhia surge em um contexto de horizontes de expectativas marcado pelo campo da experiência de uma ditadura militar em processo de abertura e redemocratização, momento no qual setores da cultura começam a discutir suas posições na constituição de uma memória histórica sobre a resistência democrática e pensando novos rumos e maneiras diversas de lidar com a linguagem teatral. Como aponta Patriota (2018, p. 198), o telos que antes unira distintos grupos no compromisso com a luta democrática já não atendida mais os anseios de alguns segmentos, inclusive dos mais jovens.
Nesse contexto, em 1981, a CER inicia suas atividades que estiveram em cartaz até 1991, com peças dentre as quais destacamos: O Homem Elefante (de Bernard Pomerance, com direção de Paulo Autran, em 1981); Morte Acidental de um Anarquista (de Dario FO, 1982, direção de Antônio Abujanra); Xandu Quaresma (de Chico de Assis, 1984, sob a direção de Adriano Stuart); Cyrano de Bergerac (de Edmond Rostand, 1985, direção de Flávio Rangel); Carmem Com Filtro (de Daniela e Gerald Thomas, 1986, sob a direção de Gerald Thomas) e Fragmentos de um Discurso Amoroso (de Roland Barthes, 1988, com direção de Ulysses Cruz).
Antonio Fagundes no palco da História: um ator aponta para a confirmação da tese de que a importância do ator para o teatro no Brasil foi de certa maneira suprimida, especialmente, entre a década de 1940 e 1950, devido ao adensamento e a propagação de ideias-força (nacionalismo, modernidades, modernização, politização, estetização) que secundarizaram a figura do ator em meio aos anseios por um moderno teatro brasileiro. Isso, inclusive fez com que o ‘teatro de ator’[4] tão latente na primeira metade do século XX, especialmente, caracterizado por figuras que aproximaram o trabalho atoral com o empresarial na área teatral, como João Caetano, Armando Gonzaga, Dulcina de Moraes, Leopoldo Fróes, etc., fosse considerado como ‘velho teatro’ e visto de certa forma como um entrave para uma pretensa linha evolutiva do teatro brasileiro que deveria ter como destino o signo do novo, o encenador estrangeiro, para se constituir enquanto moderno. Parte desse debate é expressado por Patriota, especialmente, no quinto e último capítulo que recebe o título O ator no centro da narrativa: contribuições à escrita da história do teatro brasileiro, no qual afirma:
De posse desse repertório teórico-metodológico, acredito que comecei a refinar meu olhar interpretativo sobre as histórias do teatro brasileiro, tanto que, em 2012 tive o privilégio de escrever, em parceria com J. Guinsburg, o livro Teatro Brasileiro: ideias de uma História. Nele, foi possível aprofundar questões referentes à urdidura da narrativa histórica e evidenciar como os embates e os anseios dos contemporâneos orientam as ideias-forças que organizam e alicerçam os marcos identificados como a história do teatro brasileiro. […] conseguimos, eu e J. Guinsburg, expor a maneira pela qual as bandeiras artísticas, defendidas por críticos teatrais, em sintonia com grupos e/ou companhias, tornaram-se o leitmotiv da escrita da história de inúmeras histórias do teatro brasileiro. (PATRIOTA, 2018, p. 383)
Em suma, recomenda-se a leitura de Antonio Fagundes, no palco da História: Um Ator, pois através da narrativa biográfica balizada em um robusto trato da documentação (críticas, fotografias, gravações audiovisuais, programas de peças, entrevistas, cartas), Rosangela Patriota nos convida conhecer os ângulos interpretativos de enfrentamentos historiográficos e embarcar na imersão em 50 anos de história cultural brasileira, especificamente, com foco na história do teatro. O grande mérito dessa obra está na sua capacidade intelectual de perspectivar debates e problemáticas es pecíficas da História e Historiografia do Teatro em atravessamentos transversais da vida e obra do ator/produtor teatral Antonio Fagundes, assim desconstruindo a sua atuação do engessamento da cristalizada imagem de galã televisivo, o conduzindo junto com o seu público das telas e palcos às páginas, ou seja, o livro trata da singularidade e o percurso de um ator no meandro de um debate político e cultural do teatro brasileiro.
Referências
BRANDÃO, T. Ora, direis ouvir estrelas: historiografia e história do teatro brasileiro. Sala Preta, v.1, p. 199-217, 28 set. 2001.
CHARTIER, Roger. Escutar os mortos com os olhos. Estudos avançados, v. 24, n. 69, p. 6-30, 2010.
GUINSBURG, Jacó; FARIA, João Roberto; LIMA, Mariângela Alves de (orgs). Dicionário do
Teatro Brasileiro: temas, formas e conceitos. [S.l: s.n.], 2006.
PATRIOTA, Rosangela. O teatro e historiador: interlocuções entre linguagem artística e pesquisa histórica. In: RAMOS, Alcides Freire; PEIXOTO, Fernando; PATRIOTA, Rosangela. A história
invade a cena. São Paulo: Editora Hucitec, 2008.
PATRIOTA, Rosangela. Vianinha: um dramaturgo no coração de seu tempo. São Paulo: Hucitec, 1999.
PATRIOTA, Rosangela. A crítica de um teatro crítico. São Paulo: Perspectiva, 2007.
PATRIOTA, Rosangela; GUINSBURG, J. (org.). J. Guinsburg, a cena em aula – itinerários de um professor em devir. São Paulo: EDUSP, 2009.
PATRIOTA, Rosangela; GUINSBURG, Jacó. Teatro Brasileiro: ideias de uma história. São Paulo: Perspectiva, 2012.
PATRIOTA, Rosangela. Antonio Fagundes no palco da história: um ator. São Paulo: Perspectiva, 2018.
RABETTI, Maria de Lourdes. Subsídios para a história do ator no Brasil: pontuações em torno do lugar ocupado pelo modo de interpretar de Dulcina de Morais entre tradição popular e projeto moderno. ILINX-Revista do LUME, v. 1, n. 1, 2012.
VESENTINI, Carlos Alberto. A teia do fato: uma proposta de estudo sobre a Memória Histórica.
São Paulo: Hucitec; História Social da USP, 1997.
Notas
3. Como bem salienta Tania Brandão (2001, p. 199): “Escrever história do teatro é, em mais de um sentido, produzir poeira de estrelas, escrever a história das estrelas.”
4. Sobre o teatro do ator conferir: (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, p. 44-45).
Robson Pereira da Silva – Doutor em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia. Mestre pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás (Mestrado). Licenciado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso. Membro do Laboratório de Estudos em Diferenças & Linguagens – LEDLin/ UFMS e do Núcleo de Estudos em História Social da Arte e da Cultura (NEHAC/UFU). Membro associado da Rede Internacional de Pesquisa em História e Culturas no Mundo Contemporâneo. Tendo experiência na área de História, com ênfase em História Cultural e Ensino de História. Autor do livro Ney Matogrosso…para além do bustiê: performances da contraviolência na obra Bandido (1976-1977). Currículo Lattes: http://lattes.cnpq. br/5608673598392485. E-mail: [email protected].
Lays da Cruz Capelozi – Doutoranda em História pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Pela mesma instituição, estudado o Mestrado em História e o Curso de Graduação em História – Bacharelado e Licenciatura -. É membro do NEHAC – Núcleo de Estudos em História Social da Arte e da Cultura. Membro associada da Rede Internacional de Pesquisa em História e Culturas no Mundo Contemporâneo. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8785972568211269. E-mail: [email protected].
PATRIOTA, Rosangela. Antonio Fagundes no palco da história: um ator. São Paulo: Perspectiva, 2018. Resenha de: SILVA, Robson Pereira da; CAPELOZI, Lays da Cruz. Antonio Fagundes: o ator do palco às páginas. Albuquerque. Campo Grande, v.13, n.25, p.176-183, jan./jun.2021. Acessar publicação original [IF].
Povos originários e Covid-19: Experiências indígenas diante da Pandemia na América Latina | Albuquerque | 2021
Covid-19 | Foto: OPAS |
Apresentação
Las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo, como plagas bíblicas, la viruela y el tétanos, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. La viruela fue la primera en aparecer. ¿No sería un castigo sobrenatural aquella epidemia desconocida y repugnante que encendía la fiebre y descomponía las carnes? «Ya se fueron a meter en Tlaxcala. Entonces se difundió la epidemia: tos, granos ardientes, que queman», dice un testimonio indígena, y otro: «A muchos dio muerte la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos». Los indios morían como moscas; sus organismos no oponían defensas ante las enfermedades nuevas. Y los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles. El antropólogo brasilero Darcy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los hombres blancos. (GALEANO, 2008, p. 35) La rápida expansión del COVID-19 ha tenido un fuerte impacto sobre la vida diaria y la organización sanitaria, escolar, política y económica de las sociedades en su conjunto. Si bien la pandemia afectó de modo simultáneo a poblaciones y territorios a lo largo y ancho del planeta, a partir de la proliferación de un virus que no distingue clivajes de clase, etnia, género ni religión, a poco tiempo de transcurrida no fue difícil discernir sus impactos diferenciales en territorios y poblaciones concretas. Leia Mais
RESISTÊNCIA: A construção de saberes históricos em tempo de pandemia | Das Amazônias | 2021
Iniciamos esta edição com sinceras condolências em respeito a todos os brasileiros e brasileiras que partiram devido à crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus, mas sobretudo pesarosos do contexto ideológico em que o Brasil está inserido. A Revista Discente das Amazônias se irmana no sentimento de tristeza de cada ente querido que sente a dor da saudade, palavra encontrada apenas no português do Brasil (e que faz muito sentido face a falta do avô, da mãe, do irmão, do pai, da tia, do primo, do próximo ou do distante), na ausência da vida. Externamos nossa solidariedade aos que permanecem e lastimamos por aquelas pessoas que se tornaram montante numérico superior a 470.000 mil mortos, vítimas de um genocídio resultante da ignorância, do negacionismo e da pseudociência.
Mas, nos apeguemos aos respingos de esperanças. Paulo Freire, fugindo da norma, já nos convidava a conjugar o substantivo “esperança” – esperançar é preciso. É nesses embalos de incerteza de um viver marcado por lutas, que devemos acreditar na ciência, na educação pública e gratuita e sua fundamental importância e contribuição para à sociedade. Assim, caros(as) leitores e leitoras, lhes convidamos a lerem os trabalhos submetidos à Das Amazônias, Revista Discente de História da Ufac (em seu volume 4, número 1), que compõe o conjunto de periódicos da área de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), da Universidade Federal do Acre (Ufac). Leia Mais
Palavras ABEHrtas | ABEH | 2021
A proposta de Palavras ABEHrtas (Ponta Grossa, 2021) é que ele se configure como território amplo e aberto para divulgação, informação e debates no que se refere e afeta o ensino de História, conforme os atuais valores e missões da ABEH de estabelecer interlocuções cada vez mais abrangentes e de valorizar o trabalho de professores e professoras de História em todos os níveis e âmbitos de ensino, gestão, pesquisa e divulgação. A intenção é reunir depoimentos e relatos de experiências, produções de estudantes da Educação Básica e do Ensino Superior, debates conceituais no campo do Ensino de História, bem como discutir temáticas de demandas contemporâneas e divulgar projetos e iniciativas pelo Brasil e pelo mundo.
A revista será composta por sete colunas, cada uma contando com uma dupla de curadores/as e coordenada por uma editoria renovada anualmente. Os textos serão publicados quinzenalmente (com ahead of print), a partir de convites da curadoria e também por livre demanda. Os textos deverão estar conformes ao escopo de cada coluna e adequados às normas de formatação, além de respeitar os princípios éticos da Revista. Serão aceitos também diversos formatos de expressão, tais como: textos escritos, vídeos, podcasts, canções, entre outros meios de interação, sempre acompanhados de uma apresentação que contextualize o conteúdo.
Os materiais enviados serão submetidos a uma comissão editorial e a um conselho de consultores que avaliarão criticamente as propostas. Textos bilíngues também serão aceitos, privilegiando a publicação de versões em inglês e em espanhol.
Pretendemos constituir um espaço de divulgação científica em um formato ágil, que atue como um portal de atividades comentadas da área, de troca de experiências de sala de aula, de debate político geral e das políticas públicas para a área em particular. Vislumbra-se a perspectiva de integrar o periódico com as diversas iniciativas de produção de conteúdo no Ensino de História, como os projetos Chão da História, Bate Papo sobre ensino de História, atividades do GT Nacional e dos GTs regionais de ensino de História da Anpuh, laboratórios, grupos de pesquisa, ações de extensão, etc.
Por fim, é importante que os textos e outros materiais sejam provocadores de debates e de ampliação das trocas. Assim, as curadorias podem convidar pessoas para comentar os materiais publicados. Esses comentários poderão aparecer sob a forma de novos textos linkados aos iniciais, de modo a ir criando uma rede de materiais e de discussões. Adicionalmente, os conteúdos também serão divulgados e debatidos nas redes sociais da Abeh.
Propomos sete colunas com escopo definido, que publicarão tanto conteúdos encomendados quanto avaliarão o que for recebido em livre demanda, de modo a garantir a periodicidade semanal, mas que se adaptem às necessidades de discussão e comunicação da nossa comunidade. Cada coluna contará com uma dupla de curadores/as composta por sócias/os da ABEH.
Essa iniciativa da ABEH visa possibilitar, em seu site, a divulgação de trabalhos desenvolvidos no Brasil e no exterior sobre o ensino de história, no formato de divulgação científica. Além disso, o objetivo é amplificar discussões que vão dar sequência aos textos publicados, ou seja, buscamos criar oportunidade de encontros entre todas-os-es que pensam, refletem, pesquisam e mobilizam práticas sensíveis nos mais diversos espaços que envolvem o ensino de história: escolas, espaços culturais e de memória, redes sociais, arquivos, universidades, movimentos sociais, entre outros.
As publicações serão feitas semanalmente com textos, imagens, registros, descrições, lançamentos e informações sobre diversos temas do ensino de história, conforme o escopo de cada coluna. Serão aceitos materiais de docentes e discentes da educação básica assim como do ensino superior e das pós-graduações.
Periodicidade semanal.
Acesso livre.
ISSN 2764-0922
Acessar resenhas [Não publicou resenhas até 2021]
Acessar dossiês [Não publicou dossiês até 2021]
Acessar sumários
Acessar arquivos
Cadernos Pagu | Campinas, n.61, 2021.
Edição n. 61 (2021)
Artigos
- Gênero, feminismo e geração: uma análise dos perfis e opiniões das mulheres manifestantes no Rio de Janeiro ARTIGO
- Daflon, Veronica Toste; Costa, Débora Thomé; Borba, Felipe
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Erotizando la lucha contra la precaridad ARTIGO
- MORETTI BASSO, Ianina; CANSECO, Alberto
- Resumo: EN ES
- Texto: EN ES
- PDF: EN ES
- Afetividades (co)extensíveis em “periferias” urbanas: (homo)sexualidades, amizades e pertencimentos ARTIGO
- Reis, Ramon
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Lampião da Esquinana mira da ditadura hetero-militar de 1964 ARTIGO
- Quinalha, Renan
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Escribir bajo censura: mujeres, represión y resistencia en Brasil (1937-1945) ARTIGO
- LIMA GRECCO, Gabriela de
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- Mulher negra, professora e historiadora: a atuação de Maria Eremita de Souza no Serro/MG, 1913 a 2003 ARTIGO
- Briskievicz, Danilo Arnaldo
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Vivências de Ercília Nogueira Cobra em Caxias do Sul: sob o prisma de registros históricos ARTIGO
- Nostrane, Kátia Cardoso; Zinani, Cecil Jeanine Albert
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Sed ego te narrationibus lepidis anilibusque fabulis protinus avocabo:las vetulae como transmisoras de sabiduría en la Antigua Roma ARTIGO
- CASAMAYOR MANCISIDOR, Sara
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- A construção do feminino no cinema de Pedro Almodóvar ARTIGO
- Coelho, Paloma
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Aonde isso vai parar? Desafios éticos na pesquisa-documentário com travestis ARTIGO
- Carrijo, Gilson Goulart; Rasera, Emerson Fernando; Teixeira, Flávia B.
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Drag, glamour, filth: gênero e monstruosidade em Rupaul’s Drag Racee Dragula ARTIGO
- Gadelha, Dilermando; Maia, Yasmim; Lima, Regina Lucia Alves de
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Feminismo de mercado: um mapeamento do debate entre feminismos e consumo ARTIGO
- Januário, Soraya Barreto
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Uma análise interseccional de gênero e raça sobre as medidas adotadas em prol da eficácia da CEDAW no Brasil ARTIGO
- Kyrillos, Gabriela M.; Stelzer, Joana
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Mulheres policiais em Portugal no século XX: a profecia não realizada* ARTIGO
- Durão, Susana
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- “Tudo é questão de postura”: o trabalho emocional realizado por agentes socioeducativos em centros de internação do Rio de Janeiro* ARTIGO
- Vinuto, Juliana
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- Rituais da escolarização e gênero ARTIGO
- Carvalho, Rosângela Tenório
- Resumo: EN PT
- Texto: EN PT
- PDF: EN PT
- Discutindo gênero na educação profissional e tecnológica: conquistas, desafios, tabus e preconceitos ARTIGOS
- Incerti, Tânia Gracieli Vega; Casagrande, Lindamir Salete
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
- “Hemos aprendido que los hombres no son más importantes que las mujeres”. Una investigación sobre la construcción de una escuela coeducativa en Cantabria (España) ARTIGOS
- SAIZ LINARES, Ángela; CEBALLOS LÓPEZ, Noelia
- Resumo: EN ES
- Texto: ES
- PDF: ES
- As intervenções com autores de violência doméstica e familiar no Brasil e suas relações com a Lei Maria da Penha* ARTIGO
- Nothaft, Raíssa Jeanine; Lisboa, Teresa Kleba
- Resumo: EN PT
- Texto: PT
- PDF: PT
Resenhas
- História, delito e relações de gênero: um panorama sobre o delito de estupro na Europa* RESENHA
- Massuchetto, Vanessa Caroline
- Texto: PT
- PDF: PT
- Perspectivas de análise histórica da fonte epistolar* RESENHA
- Barbosa, Everton Vieira
- Texto: PT
- PDF: PT
ERRATA ERRATA
Canoa do Tempo | Manaus, v. 13, 2021. (S)
Editorial
- · APRESENTAÇÃO.Introduction
- Luis Balkar Sá Peixoto Pinheiro
Dossiê-Fronteiras étnicas e conflitos sociais no Rio Madeira
- · Apresentação-Fronteiras étnicas e conflitos sociais no Rio Madeira
- Davi Avelino Leal
- · ENGENHEIROS, INDÍGENAS E OPERÁRIOS: OS MALFADADOS CAMINHOS DA ESTRADA DE FERRO MADEIRA-MAMORÉ (1870-1883)ENGINEERS, INDIGENOUS AND WORKERS: THE MALFATED PATHWAYS OF THE MADEIRA-MAMORÉ RAILWAY (1870-1883)
- Antonio Alexandre Isídio Cardoso
- · AS FRENTES DE EXPANSÃO NAS FRONTEIRAS DO ALTO MADEIRA (1867–1915)THE EXPANSION FRONTS AT THE BORDERS OF ALTO MADEIRA (1867-1915)
- Jorge de Oliveira Campos
- · O INEVITÁVEL ENCONTRO: POVOS KAGWAHIVA, AGENTES DO SPI E OS COMERCIANTES NO RIO MADEIRATHE INEVITABLE MEETING: KAGWAHIVA PEOPLE, SPI AGENTS AND TRADERS ON THE MADEIRA RIVER
- Jordeanes do Nascimento Araújo
- · OS MURA EM MOVIMENTO: MOBILIDADE E RESISTÊNCIA NAS ÁGUAS DO MADEIRATHE MURA IN MOTION: MOBILITY AND RESISTANCE IN THE WATERS OF MADEIRA
- Vanice Siqueira de Melo, Alik Nascimento de Araújo, Letícia Pereira Barriga
- · A ÍNDIA MUNDURUCU CAROLINA ROSALINA DE OLIVEIRA E SEUS LIDERADOS NA LUTA CONTRA O ESBULHO DE SEU TERRITÓRIO ÉTNICO: O CONFLITO DO RIO ATININGA, MANICORÉ/AM (1955)THE MUNDURUCU INDIA CAROLINA ROSALINA DE OLIVEIRA AND ITS LEADERS IN THE FIGHT AGAINST THE OUTLINES OF ITS ETHNIC TERRITORY: THE CONFLICT OF THE ATININGA RIVER, MANICORÉ / AM (1955)
- Davi Avelino Leal, Dário Duarte Araújo
- Dossiê-Experiências coloniais na África: Instituições, Dinâmicas e Sujeitos
- · Apresentação-Experiências coloniais na África: Instituições, Dinâmicas e Sujeitos
- Keith Valéria de Oliveira Barbosa, Patrícia Teixiera Santos, Nuno de Pinho Falcão
- · NAS TRAMAS DAS MEMÓRIAS: ANÁLISE DAS MEMÓRIAS DE LÍDERES DA FRELIMO, ENTRE O PASSADO COLONIAL E O PÓS-GUERRA CIVILIN MEMORY WEAVE: ANALYZES OF THE MEMORIES OF FRELIMO LEADERS, BETWEEN THE COLONIAL PASS AND THE POST-CIVIL WAR
- Mirian Cristina de Moura Garrido
- · MEDICINA, SAÚDE, DOENÇA E COLONIALISMO EM MOÇAMBIQUE (1930-1940)MEDICINE, HEALTH, DISEASE AND COLONIALISM IN MOZAMBIQUE (1930-1940)
- Keith Valéria de Oliveira Barbosa
- · INTERESSES E AÇÕES DE JOÃO FERNANDES VIEIRA E ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS CONTRA O ESTADO DO CONGO: TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS E OUTROS NEGÓCIOS DA ÁFRICA CENTRO OCIDENTAL PARA PERNAMBUCO (1658-1666)INTERESTS AND ACTIONS OF JOÃO FERNANDES VIEIRA AND ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS AGAINST THE STATE OF CONGO: SLAVE TRADE AND OTHER BUSINESSES FROM WEST CENTRAL AFRICA TO PERNAMBUCO (1658-1666)
- Leandro Nascimento de Souza
- · 140 ANOS DA REVOLTA MAHDISTA NO SUDÃO: UMA HISTÓRIA DE RESISTÊNCIA E DE CONQUISTA COLONIAL.140 YEARS OF THE MAHDIST REVOLT IN SUDAN: A HISTORY OF RESISTANCE AND COLONIAL CONQUEST.
- Patricia Teixeira Santos
- · POLÍTICA DO OLHAR E COMUNIDADE DE SENTIDOS NAS REPRESENTAÇÕES FOTOGRÁFICAS DE UMA “ÁFRICA PORTUGUESA” (1960-1970)POLICY OF LOOKING AND COMMUNITY OF SENSES IN PHOTOGRAPHIC REPRESENTATIONS OF A “PORTUGUESE AFRICA” (1960-1970)
- Harley Abrantes Moreira
Artigos Livres
- · UMA DUPLA CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA ESTRADA DE FERRO MADEIRA-MAMORÉ PELAS FOTOGRAFIAS DE DANA MERRILLA DOUBLE DISCURSIVE CONSTRUCTION OF THE MADEIRA-MAMORÉ RAILROAD BY DANA MERRILL’S PHOTOGRAPHS
- Patrícia Helena dos Santos Carneiro, Júlio César Barreto Rocha, Antônio Cândido da Silva
- 1-21
- · “SONHO CABANO”: MEMÓRIA DA CABANAGEM E DEMOCRACIA NO CARNAVAL PARAENSE (1985)“SONHO CABANO”: MEMORY OF CABANAGEM AND DEMOCRACY IN CARNIVAL PARAENSE (1985)
- Edilson Mateus Costa da Silva
- · OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS ENTRE SESMEIROS E POSSEIROS NOS SERTÕES DO MARANHÃO, PIAUÍ E BAHIA DURANTE O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA CONQUISTA E OCUPAÇÃO COLONIAL (SÉCULOS XVII E XVIII)THE LAND CONFLICTS BETWEEN SESMEIROS AND POSSEIROS IN THE BACKLANDS OF MARANHÃO, PIAUÍ AND BAHIA DURING THE CONSOLIDATION PROCESS OF THE COLONIAL CONQUEST AND OCCUPATION 17TH AND 18TH CENTURIES)
- Samir Lola Roland
- · A INFÂNCIA E O FUTURO DA NAÇÃO:A CRIANÇA E A (BIO) POLÍTICA DA ESPERANÇA NA PARAÍBA (1940-1950)
- José dos Santos Costa Júnior
- · A EXPERIÊNCIA INDÍGENA URBANA E OS OLHARES DO SABER ACADÊMICO: BREVES REFLEXÕES SOBRE O CASO MANAUARATHE INDIGENOUS URBAN EXPERIENCE AND THE PERSPECTIVES OF ACADEMIC KNOWLEDGE: BRIEF REFLECTIONS ON THE MANAUARA CASE
- Amilcar Aroucha Jimenes
- · DJALMA BATISTA: O COMPLEXO DA AMAZÔNIA COMO CUIDADO DE SIDJALMA BATISTA: THE AMAZON COMPLEX AS SELF-CARE
- Vinicius Alves do Amaral
- · CAETANO DA SILVA SANCHES: UM GOVERNADOR POUCO ILUMINADOCAETANO DA SILVA SANCHES: A POORLY LIT GOVERNOR
- Jeferson dos Santos Mendes
- · “QUE SERÁ DE TI, AMAZÔNIA?… AGORA SÃO AS AVES DE TUAS MATAS QUE SE DESFAZEM NA ESCURIDÃO” – EM MEMÓRIA DE ANACLETO BARÉWHAT WILL BECOME OF YOU, AMAZÔNIA?… NOW ARE THE BIRDS OF YOUR FOREST THAT FALL APART IN THE DARKNESS” – IM MEMORY OF ANACLETO BARÉ
- Angela Rebelo da Silva Arruda
- · DANÇA AFRICANA DE TEFÉ – AM: ORIGEM, FOLCLORE, TRADIÇÃO E RE(SIGNIFICAÇÃO) NO CONTEXTO AMAZÔNICOAFRICAN DANCE OF TEFÉ – AM: ORIGIN, FOLKLORE, TRADITION AND RE(SIGNIFICATION) IN THE AMAZON CONTEXT
- Patricia Torme de Oliveira
- · NECROMEMÓRIA: REFLEXÕES SOBRE UM CONCEITONECROMEMORY: REFLECTIONS ON A CONCEPT
- Vandelir Camilo
- · “O CETRO DAQUELES QUE SOFREM A OPRESSÃO DOS PONTENTADOS”: JORNAIS MANUSCRITOS E IMPRESSOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA MICROESFERA PÚBLICA EM RORAIMA“THE SCEPTER OF THOSE WHO SUFFER THE OPPRESSION OF THE POTENTATES”:MANUSCRIPTS AND PRINTED PAPERS IN THE CONSTRUCTION OF A PUBLIC MICROSPHERE IN RORAIMA
- Luís Francisco Munaro, Cyneida Menezes Correia
- · A TRAJETÓRIA DE FREDERICO GUILHERME (1897-1972): INTERLOCUÇÕES COM A ESCOLARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA SUL-RIO-GRANDENSEFREDERICO GUILHERME GAELZER’S TRAJECTORY (*1897+1972): INTERLOCATIONS WITH THE SCHOOL OF SUL-RIO-GRANDENSE PHYSICAL EDUCATION
- Professora Janice Zarpellon Mazo, Professora Vanessa Bellani Lyra, Tuany Defaveri Begossi
- · SOBRE O VERMELHO EM CASA GRANDE & SENZALANOTES ON RED IN THE MASTERS AND THE SLAVES
- Maria Alice Ribeiro Gabriel
Resenha
- · Ser criança no exílio e na terra da Esperança.To be a child in exile and in the land of Hope.
- Patricia Teixeira Santos
Entrevista
- · JOSÉ D’ASSUNÇÃO BARROS:UM INTELECTUAL POLIFÔNICO.
- Robeilton Gomes
Publicado: 2021-05-28
Pacientes que curam: o cotidiano de uma médica do SUS | Júlia Rocha (R)
Júlia Rocha | Imagem: Canal Júlia Rocha |
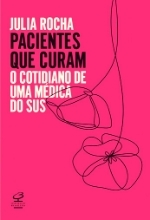
O livro “Pacientes que Curam: O cotidiano de uma médica do SUS”, não narra uma experiência ou um ambiente exclusivamente de assistência hospitalar – como o título pode sugerir. Em vez disso, nos apresenta as vivências de Júlia Rocha – mulher, negra que trabalha como médica de família e comunidade no SUS [3] – com pouco mais de 10 anos de carreira. Graduada em medicina no ano de 2010 e com residência médica concluída em 2015, a autora destaca a partir de sua formação e experiência profissional que o “cuidado em saúde é algo impossível de se fazer só” (ROCHA, 2020, p: 301). Assim, embora o livro não faça referência à história institucional do SUS, ele nos apresenta questões fundamentais para a reflexão sobre a importância desse sistema e sua atuação diante das mais profundas contradições brasileiras. Leia Mais
Cadernos de História da Educação. Uberlândia, v.20, 2021.
Artigos
- Da “educação como salvação” à “crise da escola”: notas sobre a história da instituição escolar| Ana Paula Sampaio Caldeira
- Francisco Alves da Silva Castilho: um professor na invenção da Escola Brasileira oitocentista | Angélica Borges, Giselle Baptista Teixeira
- A constituição do professor primário na Bahia republicana: diálogo com a legislação (1890-1919)| Antonieta Miguel, Jaci Maria de Ferraz Menezes, Elizabete Conceição Santana
- A revista Movimento da UNE como objeto e fonte para a História da Educação brasileira | Carla Michele Ramos Torres, Maria Isabel Moura Nascimento
- Escola mista nos primeiros anos da República: das Escolas Isoladas aos Grupos Escolares (Pará/Brasil, 1890-1901)| Clarice Nascimento de Melo
- Alguns subsídios para a compreensão da educação de surdos espanhola: indícios históricos e legais| Daiane Natalia Schiavon, Maria Cristina Piumbato Innocentini Hayashi
- Memórias de gestores de escolas rurais durante a Ditadura Civil-Militar brasileira (1964-1985)| Darciel Pasinato
- As letras e a nação: Olavo Bilac e suas crônicas sobre educação (1900-1906)| Felipe Yera Barchi, Fabiana Lopes da Cunha
- Maria Victoria Peralta. Seu compromisso com a educação pré-escolar no Chile e na América Latina| Jaime Caiceo Escudero
- Instrução agrícola, saúde, higiene e moralização dos costumes na Cartilha do agricultor| Joaquim Tavares Conceição, Aristela Arestides Lima
- “Difundir as luzes para o progresso”: a expansão do Ensino Normal pela iniciativa municipal e particular em São Paulo (1927-1930) | Leila Maria Inoue, Ana Clara Bortoleto Nery
- Reformas da educação e trabalho no Brasil: um breve histórico do ensino em migalhas | Lilian Fávaro Alegrâncio Iwasse, Renan Bandeirante Araujo, Amanda Cristina Ribeiro
- Maio de 68: contribuições para nascer a primeira universidade de tecnologia na França | Marizete Righi Cechin, Luiz Alberto Pilatti, Bruno Ramond
- O processo civilizatório da infância pelo corpo: um pouco do que a História nos conta | Nair Correia Salgado de Azevedo, José Milton de Lima
- Divertimentos e educação do corpo no protestantismo de Benjamin Franklin (1682 -1791)| Narayana Astra Van Amstel, Evelise Amgarten Quitzau, Marcelo Moraes e Silva
- Padre Montoya e as estratégias de conquista espiritual nas missões do Guairá | Natália Cristina de Oliveira, Névio de Campos, Oriomar Skalinski Junior
- O público e o privado na LDB 4.024/1961: marcos históricos para o financiamento da educação | Rosimar Serena Siqueira Esquinsani
- Sons da alfabetização no Brasil Império: atualidade de Castilho e Jacotot | Suzana Lopes de Albuquerque, Carlota Boto
- A educação do corpo no Grupo Escolar João Alcântara em Porteirinha/MG e sua interface com o projeto católico | Wilney Fernando Silva, Armindo Quillicci Neto
- História e Educação: as instituições escolares dominicanas-anastasianas em Goiás | Cesar Evangelista Fernandes Bressanin, Maria Zeneide Carneiro Magalhães de Almeida
- O método da igualdade: Jacotot e a experiência do ensino universal no contexto da Revolução Francesa | Crislaine Santana Cruz, Silvana Aparecida Bretas
- Programas de educação rural no norte da província de Entre Ríos (Argentina, 1978-2018) | Eva Mara Petitti, María Emilia Schmuck
- Apontamentos sobre o testemunho infantil na historiografia da Educação (Brasil, Séculos 19 e 20) | Juarez José Tuchinski dos Anjos
- A criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo na Era Vargas: debates e circulação de ideias| Lara Rodrigues Pereira
- Industriar o professor: uma cartografia dos cinematógrafos no Brasil (1910 a 1930) | Luani de Liz Souza, Vera Lucia Gaspar da Silva
- As recomendações internacionais (BIE e Unesco), a Lei Orgânica do Ensino Normal e formação de professores no Paraná (1946-1961) | Maria Elisabeth Blanck Miguel
- A trajetória das ideias políticas de Alceu Amoroso Lima: da contrarrevolução ao modernismo católico (1928-1938) | Rodrigo Augusto de Souza
- Ginzburg na oficina do historiador da educação: algumas considerações metodológicas | Thiago Borges de Aguiar, Paula Leonardi, Fernando Antonio Peres
Comunicação
- A constituição técnica e teórica do Repositório Digital Tatu | Simôni Costa Monteiro Gervasio, Alessandro Carvalho Bica, Tobias de Medeiros Rodrigues
Resenhas
- Caricaturas da Revista Ilustrada | Cézar de Alencar Arnaut de Toledo, Fabrícia de Cássia Grou de Paula
- Um educador comprometido com a transformação da educação | Estela Socías Muñoz
- História da Educação em perspectiva transnacional | Carolina Mostaro Neves da Silva
Política e sociedade no Brasil oitocentista: história e historiografia (II) / Clio – Revista de Pesquisa Histórica / 2021
Rancho na região da serra do Caraça, MG, Spix e Von Martius, 1817-1820 | Imagem: JLLO |
É com satisfação que publicamos a segunda parte do dossiê Política e sociedade no Brasil oitocentista: história e historiografia. Os artigos selecionados tratam das interfaces entre o poder, as culturas políticas e a sociedade, a partir de perspectivas teórico-metodológicas que focalizem as rupturas, as permanências, os antagonismos e as ambivalências historicamente tecidas nas múltiplas formas de relações sociais entre as elites e as camadas populares no Brasil durante o século XIX, nas mais diversas dimensões do poder e seus reflexos na sociedade e na economia. Atualizações e ressignificações do local e do regional diante das injunções produzidas pela dinâmica do global, assim com os processos e as tramas que singularizam as histórias do local e regional, em suas demissões social, econômica e de poder são também contempladas.
O primeiro artigo que abre o Dossiê, de Francivaldo Alves Nunes, intitulado na gigantesca floresta de metais: O Engenho Central São Pedro do Pindaré e os debates sobre a lavoura maranhense no século XIX, nos remete a implantação dos engenhos centrais como solução para o processo de modernização da atividade açucareira em fins do século XIX, tendo como palco a província do Maranhão. Em diálogo com a historiografia, o autor demonstra o quanto o otimismo presente na imprensa e nos relatórios dos presidentes de província em relação a essa inovação produtiva contrastava com as dificuldades e os obstáculos encontrados para sua realização, tais como a falta do concurso do capital externo para atender aos seus vultosos custos, o conflito de interesses entre produtores de cana e o Engenho central e a ausência de inovação na atividade agrícola.
Já o artigo Ofícios mecânicos e a câmara: regulamentação e controle na Vila Real de Sabará (1735-1829), de Ludmila Machado Pereira de Oliveira Torres, analisa a ação de reguladora exercida pela Câmara municipal de Sabará no território sub sua jurisdição e na ausência de corporações com essas funções em Minas Gerais, em fins do período colonial e início do Imperial. Nessa direção, a autora procede à verificação da eficiência deste poder público em regulamentar o trabalho mecânico por meio da realização de exames dos candidatos aos ofícios, proceder às eleições de juízes de ofício, tabelar preços e conceder licenças à categoria. Por outro lado, o texto ainda se detém no universo dos ofícios mecânicos na região, na maior ou menor presença de escravizados no seu meio e na relação desses trabalhadores com a instituição que os fiscalizava e regulava.
No texto de Jeffrey Aislan de Souza Silva, “Nunca pode, um sequer, ser preso pela ativa guarda”: a Guarda Cívica do Recife e as críticas ao policiamento urbano no século XIX (1876-1889), temos a abordagem de um aparato policial criado na capital de Pernambuco com a dupla função de combater a criminalidade e disciplinar a população. Nele é investigada a lei que criou essa força pública em seus diversos aspectos, como também a sua estrutura hierárquica, funções e os requisitos para o ingresso na corporação Além disso, o autor discute a eficácia e comportamento desse aparato de segurança, que mereceu uma avaliação nada lisonjeira dos seus contemporâneos na imprensa.
Com o título Gênero, raça e classe no Oitocentos: os casos da Assembleia do Bello Sexo e do Congresso Feminino, Laura Junqueira de Mello Reis pesquisa dois jornais na Corte, A Marmota na Corte e O Periódico dos Pobres, que possuíam seções especificamente dedicas às mulheres, e que tinham como seus principais colaboradores homens. Ao longo do artigo discutem-se os assuntos e as abordagens constantes nesses impressos do interesse de suas leitoras, como matrimônio, adultério, maternidade e emancipação feminina, entre outros. A perspectiva teórico-metodológica da autora busca realçar a questão de gênero sempre levando em conta a condição racial e de classe das mulheres a que os dois periódicos almejavam cativar e orientar, no caso as mulheres brancas, alfabetizadas e da elite.
O trabalho Arranjos eleitorais no processo de eleições em Minas Gerais na década de 1860, de Michel Saldanha, versa sobre importante temática política que cada vez mais vem merecendo a atenção da historiografia: as eleições. Embora as eleições sejam um assunto sempre referido nos trabalhos sobre a histórica política do Império, só recentemente vimos surgir inúmeras pesquisas que têm como seu objetivo particular o processo e a dinâmica eleitoral em diversos momentos e espaços do Brasil oitocentista. A autora se debruça sobre as eleições em Minas Gerais, na década de 1860, com um intuito de discutir as estratégias informais e formais utilizadas pelos candidatos e partidos para obtenção de sucesso nas urnas. Neste sentido, a difícil feitura da chapa de candidatos, a busca de aproximação dos dirigentes políticos com o seu eleitorado e a qualificação dos votantes estão entre as práticas eleitorais analisadas.
Educação e trabalho: a função “regeneradora” das escolas nas cadeias da Parahyba Norte é o título do artigo Suênya do Nascimento Costa. Nas suas páginas, são abordadas as práticas pedagógicas no Brasil do século XIX direcionadas à população carcerária, em sua maioria constituída de pessoas de origem humilde, no intuito não só de discipliná-las, mas também instruí-las sobre os valores dominantes que deveriam reabilitar os indivíduos criminosos para o convívio social, especialmente através do trabalho, em conformidade as ideias em voga no século XIX.
O artigo de Paulo de Oliveira Nascimento, intitulado Até onde mandam os delegados: limites e possibilidades do poder dos presidentes de província no Grão-Pará e Amazonas (1849 – 1856), versa sobre o executivo provincial cujos titulares, na qualidade de representantes do governo central, buscavam impor a orientação dos gabinetes às diversas partes do Império nem sempre com sucesso. No território do Amazonas o autor explora as dificuldades enfrentadas pelos presidentes para administrar um conflito antigo em particular, o que envolvia o religioso e diretor da Missão de Andiras e as autoridades locais pelo controle dos indígenas.
O estudo sobre a instância de poder provincial é também o assunto do artigo Instituições entre disputas de poder e a remoção dos párocos em Minas Gerais, de Júlia Lopes Viana lazzarine, que aborda a interferência dos presidentes de província no Padroado Régio, tida como supostamente prevista no Ato Adicional. Como aconteceu frequentemente por todo o país à época da Regência, a extrapolação das atribuições de poder na esfera províncias, prevista naquela lei descentralizadora, terminou por conflitar diversas instâncias político-administrativas. Em Minas Gerais não foi diferente. No caso discutido, ocorreu o embate, de um lado, entre o governo provincial e a Igreja; e de outro, entre a Assembleia Provincial e a Câmara dos deputados.
O artigo de Rafhaela Ferreira Gonçalves, Contornos políticos em torno dos processos cíveis de liberdade na zona da mata pernambucana: a denúncia de Florinda Maria e o caso dos pardos Antônio Gonçalves e Bellarmino José (1860-1870), discuti como base documental os processos cíveis, que constam na atualidade como fontes valiosas para a compreensão da luta dos escravizados pela liberdade. Por meio da análise de um deles, a autora consegue muito bem desvendar as estratégias encontradas pelos escravizados para se valerem do sistema normativo dominante a seu favor nos tribunais. A ação de liberdade escolhida pela autora para apreciação não poderia ser melhor. Trata-se do caso de uma liberta que engravidou de seu antigo senhor e depois viu seus filhos, nascidos do ventre livre, serem vendidos pelo pai como se fossem cativos.
Manoel Nunes Cavalcanti Junior, em A Revolta dos Matutos: entre o medo da escravização e a ameaça dos “republiqueiros” (Pernambuco-1838), investiga uma revolta da população livre e pobre do interior, na região da Zona da Mata e Agreste, que teve como estopim um decreto do governo interpretado pelos populares como uma medida visando escravizá-los. Na sua abordagem o autor investiga o levante em dupla perspectiva. Primeiro, no contexto do conflito intra-elite no período regencial , quando a boataria sobre o cativeiro da população foi atribuída pelas autoridades aos inimigos do governo, os chamados Exaltados, os quais procuraram aliciar para o seu lado os habitantes do interior tidos à época como “ignorantes” e de fácil sedução. Segundo, procurando compreender a revolta a partir das motivações próprias da gente livre e pobre do campo, que era a que mais penava com o recrutamento militar e tinha razões de sobra para desconfiar de tudo que vinha das elites e do Estado.
O trabalho O julgamento do patacho Nova Granada: embates diplomáticos entre Brasil e Inglaterra no auge do tráfico atlântico de escravizados nos anos de 1840, de Aline Emanuelle De Biase Albuquerque, nos remete à questão da repressão ao comércio negreiro e dos envolvidos nesse negócio ilícito, arriscado e lucrativo. Por meio de um processo crime que durou anos e que não condenou ninguém, a autora desvenda o conluio entre o governo brasileiro e os traficantes, os desacordos entre as autoridades britânicas e brasileiras no caso, assim como quem eram os integrantes dessa atividade mercantil proibida desde 1831. Na sua apreciação, aspectos interessantes da logística e da organização do tráfico são também revelados, como o tipo de equipamento encontrado nas naus que seguiam para África ou de lá retornavam, e que era considerado prova da atividade negreira, independe da presença de cativos na embarcação.
A imprensa no período de emancipação do Brasil de Portugal, no momento de definição dos rumos da nação que se pretendia construir, consta como temática do artigo O Reverbero Constitucional Fluminense e as interpretações do tempo no contexto da Independência (1821-1822), de João Carlos Escosteguy Filho. Nesse sentido, o autor expõe e problematiza a compreensão do tempo e da trajetória histórica do Brasil e das Américas presentes nas páginas da folha em tela, cujos propósitos eram o de influenciar o debate público e os rumos políticos do país.
Amanda Chiamenti Both, em seu trabalho Imediatos auxiliares da administração: o papel da secretaria de governo na administração da província do Rio Grande do Sul, estuda a secretaria de governo provincial, de grande importância para as presidências, mas ainda pouco explorada pela historiografia. Em meio à substituição frequente de presidentes, o artigo demonstra a relativa permanência dos indivíduos indicados para o posto de secretário da presidência no Rio Grande do Sul, além de explorar quem eram seus titulares, como se dava sua escolha e quais as suas atribuições. Suas conclusões apontam para a posição estratégica desse funcionário para o desejado entrosamento entre os presidentes e a sociedade local.
O texto de Ivan Soares dos Santos encerra o dossiê, intitulado Uma trama de fios discretos: alianças interprovinciais das sociedades públicas de Pernambuco (1831-1832). Ele retoma os estudos de duas importantes associações federais por um viés diferenciado daquele geralmente presente na historiografia sobre o período regencial. Neste sentido, o autor procura explorar e realçar as estratégias políticas construídas pelos liberais federalistas de Pernambuco para além das fronteiras da sua província, no intuito de fortalecê-los como grupo em luta pelo o poder.
Em vista dessas considerações, convidamos todos os interessados na produção histórica recente, inédita e de qualidade à leitura deste dossiê dedicado ao Brasil oitocentista.
Cristiano Luis Cristillino
Suzana Cavani Rosas
Maria Sarita Cristina Mota
CRISTILINO, Cristiano Luís; ROSAS, Suzana Cavani; MOTA, Maria Sarita Cristina. Apresentação. CLIO: Revista de Pesquisa Histórica. Recife, v.39, p.1-6, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF].
Fronteiras Étnicas e Conflitos Sociais no Rio Madeira / Canoa do Tempo / 2021
Rio Madeira | Foto: Santo Antônio Energia |
Os artigos que compõem o presente dossiê articulam-se a partir de duas dimensões: o eixo dos encontros e confrontos entre grupos étnicos distintos em um contexto de avanço do extrativismo da borracha no sentido dos altos rios; a dimensão conflitiva, marcada por estratégias de resistências e formas de agenciamento que permeavam a vida dos múltiplos agentes envolvidos.
São investigações sobre a história social na região do rio Madeira, área situada ao Sul do Estado do Amazonas, que abarcam um período que vai de meados do século XIX a meados do século XX. Todos os textos vinculam-se a ideia de construção de uma fronteira étnica1 reveladora das complexas teias de alianças e das múltiplas relações de conflito que atravessaram as histórias dos grupos sociais envolvidos. Destaca-se ainda o fato de que as mais recentes pesquisas no campo da história e das ciências sociais na Amazônia têm adotado como eixo articulador de temas e problemas de investigação os rios2 que compõem a bacia hidrográfica da região. Aparentemente, não há distinção entre as novas pesquisas e o clássico trabalho de Leandro Tocantins. Entretanto, hoje os rios emergem como uma unidade política de reflexão e mobilização, marcada por situações sociais que redefinem as modalidades de percepção, pois estão relacionadas a uma tomada de consciência ambiental.3
Embora esteja ligado a um dado natural, o que está em jogo na atualidade é a compreensão sócio-histórica das transformações pelas quais os povos que vivem nesses rios vêm passando, certamente como resultado de suas próprias ações, bem como a busca do entendimento das estratégias de dominação desenvolvidas pelos aparelhos burocráticos de poder ligados a contextos mais amplos. Trata-se de se estabelecer relações entre contextos locais e as dinâmicas mais ampliadas do capitalismo global, evitando-se, portanto, abordagens de caráter regional, desvinculadas dos elementos transnacionais que ligam a história da Amazônia ao sistema mundo.
Essa é abordagem proposta por Antônio Alexandre Isídio Cardoso ao problematizar as relações que se estabelecem na fronteira étnica formada por povos indígenas, operários e engenheiros de diversas origens étnicas e sociais no contexto de construção da rodovia Madeira-Mamoré. Recuperando os relatos de Ernesto Matoso Maia Forte, secretário da Comissão Morsing, Cardoso situa os diversos momentos em que os encontros de alteridade entre Mundurucu, Mura, Acanga-Piranga e os adventícios exploradores do rio, se deram. Tensões, conflitos e também múltiplas possibilidades de agência permeavam as relações sociais entre esses múltiplos agentes.
Essa vertente analítica também foi explorada pelo texto de Jorge Oliveira Campos ao investigar o avanço da frente de expansão de comerciantes e seringalistas sobre os territórios étnicos dos índios Parintintin desde meados do século XIX. A sanha capitalista de acesso aos recursos naturais que estão dentro dos caminhos da guerra dos Kawaiba, transforma esses povos indígenas e alvos privilegiados de ataques e correrias. A estratégia Parintintin de fazer a guerra mantem-se intacta por toda segunda metade do Oitocentos e adentra os anos iniciais do século XX.
Conforme demonstrado por Jordeanes Araújo, os Parintintin passaram a adotar uma nova estratégia etnopolítica a partir dos movimentos de aproximação e “pacificação” entabuladas pelo Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais” (SPILTN), tendo como principal mediador o mais conhecido e respeitado indigenista atuando no Brasil à época, Curt Nimuendajú. A parir de 1921, pequenos grupos foram se aproximando dos barracões de Manoel de Souza Lobo, um dos mais destacados seringalistas da região do médio e alto Madeira, e estabelecendo relações de trabalho e sociabilidades com os moradores do seringal Três Casas.
Vanice Siqueira, Alik Nascimento e Letícia Pereira abordam as dinâmicas históricas e territoriais dos índios Mura na região do médio e baixo Madeira. Remontando aos conflitos do século XVIII, as autoras(es) recuperam a forma como para os índios Mura a fronteira étnica foi sendo redefinida. Das guerras contra a dominação europeia na região do interflúvio, passando pela debatida redução dos Mura e o processo de “pacificação” até o retorno dos conflitos já contra as forças imperiais no período da cabanagem, os Mura foram historicamente definindo espaços de resistências e formas de apropriação das relações étnicas.
O processo de esbulho e intrusão dos territórios étnicos no rio Madeira segue no século XX, gerando tensões e conflitos nas áreas de coleta de castanha. Dário Duarte e Davi Leal recuperam essa dimensão para o rio Anitinga, município de Manicoré, a partir da reveladora trajetória de Carolina Rosalina de Oliveira, índia Mundurucu, que liderou uma revolta contra Hélio Rego e Raimundo Avelino, dois comerciantes locais que intentaram intrusar as terras da comunidade. A disputar ganhou as páginas dos grandes jornais do Estado, gerou uma interessante documentação no SPI e chegou ao conhecimento do presidente Juscelino Kubitscheck quando da sua passagem por Manaus em 1956.
Os textos confluem, portanto, para desvelar aspectos muitas vezes insuspeitos do processo de construção política das relações de alteridade, em um contexto histórico fortemente impactado por forças econômicas exógenas que haviam se vinculados às correntes mercantis e que passaram a adentrar a região do rio Madeira em meados do Oitocentos.
Referências
ALBUQUERQUE, Gerson Rodrigues de. Seringueiros, Caçadores e Agricultores: trabalhadores do rio Muru (1970-1990). São Paulo: PUC-Dissertação de Mestrado, 1995.
BARAÚNA, Gláucia Maria Quintino. As políticas governamentais que afetam as “comunidades ribeirinhas” no municipio de Humaitá- Am, rio Madeira. In: ALMEIDA, Alfredo W. B. de. Conflitos Sociais no Complexo Madeira. Manaus: UEA edições, 2009.
BARTH, Fredrik. Os grupos étnicos e suas fronteiras. In: O Guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: ContraCapa, 2000.
DAVIDSON, David M. “Rivers and Empires: The Madeira Route and the Incorporation of the Brazilian Far West, 1737-1808, Ph.D. diss, Yale Univ. 1979;
MENEZES, Elieyd. Conflitos socioambientais e transformações sociais em Novo Airão. In: ALMEIDA, Alfredo W. B. de. (Org). Mobilizações Étnicas e Transformações Sociais no Rio Negro. Manaus, UEA edições, 2010.
TOCANTINS, Leandro. O rio comanda a vida: uma interpretação da Amazônia. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1973.
Davi Avelino Leal
LEAL, Davi Avelino Apresentação. Canoa do Tempo. Manaus, v.13, n.1, p.3-6, jan./abr. 2021. Acessar publicação original [IF]. Acessar publicação original [IF].
Clio – Revista de Pesquisa Histórica. Recife, v. 39, n. 1, jan./jun, 2021. (S)
Dossiê: Política e sociedade no Brasil oitocentista: história e historiografia – Parte 2
Apresentação
- Apresentação | Suzana Cavani Rosas, Cristiano Luís Christilino, Maria Sarita Cristina Mota | PDF | 01-05
Dossiê
- Na gigantesca floresta de metais: o Engenho Central São Pedro do Pindaré e os debates sobre a lavoura maranhense no século XIX | Francivaldo Alves Nunes | PDF | 06-28
- Ofícios mecânicos e a câmara: regulamentação e controle na Vila Real de Sabará (1735-1829) | Ludmila Machado Pereira de Oliveira Torres | PDF | 29-61
- “Nunca pode, um sequer, ser preso pela ativa guarda”: a Guarda Cívica do Recife e as críticas ao policiamento urbano no século XIX (1876-1890) | Jeffrey Aislan de Souza Silva | PDF | 62-86
- Gênero, raça e classe no Oitocentos: os casos da Assembleia do Bello Sexo e do Congresso Feminino | Laura Junqueira de Mello Reis | PDF | 87-104
- Arranjos eleitorais no processo de eleições em Minas Gerais na década de 1860 | Michel Saldanha | PDF | 105-123
- Educação e trabalho: a função ‘regeneradora’ das escolas nas cadeias da Parahyba do Norte | Suenya Nascimento Costa | PDF | 124-142
- Até onde mandam os delegados: limites e possibilidades do poder dos Presidentes de Província no Grão-Pará e Amazonas (1849 – 1856) | Paulo de Oliveira Nascimento | PDF | 143-167
- Instituições entre disputas de poder e a remoção dos párocos em Minas Gerais | Júlia Lopes Viana Lazzarini | PDF | 168-194
- Contornos políticos em torno dos processos cíveis de liberdade na zona da mata pernambucana (1860-1870) | Raphaela Ferreira Gonçalves | PDF | 195-220
- A revolta dos matutos: entre o medo da escravização e as ameaças dos “republiqueiros” (Pernambuco-1838) | Manoel Nunes Cavalcanti Junior | PDF | 221-245
- O julgamento do patacho Nova Granada: embates diplomáticos entre Brasil e Inglaterra no auge do tráfico atlântico de escravizados nos anos de 1840 | Aline Emanuelle De Biase Albuquerque | PDF | 246-267
- O Reverbero Constitucional Fluminense e as interpretações do tempo no contexto da Independência (1821-1822) | João Carlos Escosteguy Filho | PDF | 268-292
- Imediatos auxiliares da administração: o papel da secretaria de governo na administração da província do Rio Grande do Sul | Amanda Chiamenti Both | PDF | 293-314
- Uma trama de fios discretos: alianças interprovinciais das sociedades públicas de Pernambuco (1831-1832) | Ivan Soares | PDF | 315-341
Artigos Livres
- A requalificação do Forte de Tamandaré (Pernambuco) | Maria do Carmo Ferrão Santos | PDF | 342-365
- Paraná das tipografias, Paraná das letras: elementos para uma história da cultura escrita no Paraná | Silvia Gomes Bento de Mello | PDF | 366-383
- Ciências Naturais, História e os Recursos Minerais no Ceará Colonial (1750-1822) | Marilda Santana Silva, José Adilson Dias Cavalcanti | PDF | 384-404
- Revisitando a Setembrada: disputas e tensões políticas no Maranhão durante a Regência (1831-1833) | Raissa Gabrielle Vieira Cirino | PDF | 405-436
- Scenas da escravidão: coluna denuncia do Jornal do Recife. | Jefferson Gonçalo Do Carmo | PDF | 437-454
- Ensino de História, Teoria da História, Metodologia da História: tempo de revolucionar, pensar junto, fazer diferente. | Aryana Costa, Marta Margarida de Andrade Lima | PDF | 455-467
- A história dos governadores da capitania de Minas Gerais nas instruções de José João Teixeira Coelho | Luiz Francisco Albuquerque de Miranda, Natália Cristina Santos Ribeiro | PDF | 468-489
- Trânsito e transitados na província de Santo Antônio do Brasil (Séc. XVIII) | Bruno Kawai Souto Maior de Melo | PDF | 490-507
Resenhas
- A persistência do privilégio: uma história das estruturas e das hierarquias do Brasil | Flavio Dantas Martins | PDF | 508-513
- Crítica da razão negra e a introdução ao pensamento decolonial | Ana Luiza Rios Martins | PDF | 514-518
- “Muitas vezes é mais cômodo conviver com uma falsa verdade do que modificar a realidade” | Filipe Soares | PDF | 519-524 | Sobre a Revista | Expediente | Suzana Cavani Rosas | PDF
Antígona | UFT | 2021
A revista Antígona (Porto Nacional, 2021-) destina-se a publicações no campo de História, Educação e Áreas afins, prezando pela produção, pelo ineditismo e pela inovação. Visando difundir as pesquisas dos professores e dos alunos e, assim, ampliando a visibilidade do Curso de História e do PPGHispam.
Antígona, de Sófocles, coloca-se no espaço público como expoente e defensora dos direitos individuais e coletivos, heroína do direito natural, da ética, do desejo, da resistência e da subversão. Por seu nome e sua inspiração, a Revista Antígona deve vivificar propostas que questionam doutrinas pré-estabelecidas, levantando novas problematizações, novas abordagens, novos temas e novas metodologias.
Seus dossiês, artigos, resenhas e traduções devem contribuir para o aprofundamento e consistência da História e da Historiografia, da Licenciatura em História, das Ciências Humanas e Áreas afins, bem como para o debate sobre o Direito dos Povos, desenvolvidos nesse campus. Seu candelabro simboliza a inspiração da chama do conhecimento, da solidão do trabalho intelectual e da luz regeneradora que atravessa caminhos na escuridão.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
Acessar resenhas [Não publicou resenhas em 2021]
Acessar dossiês [Não publicou resenhas em 2021]
Acessar sumários
Acessar arquivos
Filosofia e História da Biologia | USP | 2006
Filosofia e História da Biologia (São Paulo, 2006-) é uma revista da USP com a parceria da Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia (ABFHiB). Ela integra as publicações do Centro Interunidades de História da Ciência (CHC) da Universidade de São Paulo. Criada em 2006, passou a ter periodicidade semestral a partir de 2010.
Publica artigos resultantes de pesquisas originais referentes a filosofia e/ou história da biologia e suas interfaces epistêmicas, como história e filosofia da biologia e educação científica.
[Periodização semestral].
Acesso livre.
ISSN 1983-053X (Impressa)
ISSN 2178-6224 (Online)
Acessar resenhas [Ainda não publicou resenhas]
Acessar dossiês [Ainda não publicou dossiês]
Acessar sumários [Disponível somente a partir de 2020]
Acessar arquivos
El pueblo contra la democracia: por qué nuestra libertad está em peligro y cómo salvarla | Yascha Mounk
A onda de recessão democrática global gerou outra onda: a de livros teóricos sobre o tema, que surgiram aos montes em tempos recentes. Um desses é El pubelo contra la democracia, de Yascha Mounk, professor de Harvard. Yascha, como grande parte dos pesquisadores do Norte, prefere trabalhar com o conceito de populismo, evitando outras noções também em voga como fascismo, democratura e afins. Independente do rótulo utilizado, Yascha prossegue com a discussão que se tornou em voga: por que a democracia liberal passou a dar sinais de decadência após décadas de estabilidade?
Enquanto autores como Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (2018, p. 33-34) preferiram focar sua obra, na fragilização das instituições através de um processo de autoritarismo gradual, Mounk direciona o seu livro para uma visão menos institucional e mais “popular”. Isto é, busca compreender menos os líderes por trás desses movimentos anti- democráticos, e mais a base que os sustentam: o povo, conforme até mesmo o título deixa claro. Para isso, se propõe a debater os motivos que levaram parte da população mundial a rejeitar a democracia, que, outrora com apoio majoritário, atualmente encontra-se, na melhor das hipóteses, desacreditada (MOUNK, 2018, p. 64).
A surpreendente vitória de Donald Trump em 2016 serviu para evidenciar um tumor no âmago da democracia liberal (MOUNK, 2018, p. 10): se a suposta democracia mais estável e poderosa do planeta pode eleger um demagogo, o que será das outras? Previsível, portanto, que essa eleição tenha acabado por impulsionar também a eleição de outros demagogos ao redor do planeta (MOUNK, 2018, p. 10). Apesar de suas idiossincrasias variáveis de nação para nação, todos esses “homens fortes” (MOUNK, 2018, p. 13) possuem características interseccionais entre si: os ataques à mídia livre; a perseguição à oposição; a existência de inimigos invisíveis, dentro e fora de seus países; e, mais notável, a simplicidade com que tratam a democracia, interpretando a realidade como crianças mimadas, se propondo a solucionar todos os problemas possíveis (apenas para suas seitas), mas sem propostas reais de como fazê-lo (MOUNK, 2018, p. 12-16). Mas o que leva as pessoas desejarem isso, almejarem trocar a estabilidade da democracia liberal por um movimento populista autoritário, quando não fascista?
Para Mounk (2018, p. 159) o primeiro motivo é pragmático: estagnação econômica. Crises e estagnações historicamente sempre favoreceram o surgimento ou ascensão de regimes autoritários, principalmente quando aliadas a altos índices de corrupção. A crise de 2008 e as medidas de austeridade que se seguiram a ela, adicionaram ainda mais caldo ao ressentimento criado pela estagnação. Na impossibilidade de prover a família ou de desfrutar do mesmo conforto que outrora possuíra, as pessoas direcionam o seu ressentimento e frustração para a política e para bodes expiatórios conforme a necessidade: alguém precisa ser culpabilizado pelo fracasso. No caso europeu e estadunidense, os imigrantes; no caso brasileiro, a corrupção e o fantasma invisível e onipresente de um comunismo inexistente.
Segundo Mounk (2018, p. 172), a segunda razão, principalmente na Europa e na América do Norte, é a imigração. A presença do alien, do desconhecido, o contato com novas culturas, principalmente em momentos de crise, é um ingrediente importante para o bolo do nacionalismo populista. Como efeito, Mounk também constata que homens são mais suscetíveis a sucumbir à hipnose populista pela perda de autoridade masculina conforme, nas últimas décadas, a tradição de poder é progressivamente questionada. Da mesma forma, o Partido Republicano, nos EUA, é particularmente forte entre os homens brancos, o maior eleitorado de Donald Trump, dado que sentem um esvaziamento de seu poder e se colocam, eles próprios, como vítimas (STANLEY, 2018, p. 98, 104-105). Assim, surgem narrativas que apontam mulheres independentes, negros, judeus, árabes, homossexuais, ou qualquer desviante da tradição, como responsáveis por um suposto declínio da nação.
O terceiro motivo, o grande diferencial dos populismos contemporâneos, é a ascensão da internet e das redes sociais como ferramenta de comunicação em massa (MOUNK, 2018, p. 152-153). Ao passo que fenômenos como a tão em voga fake news pouco têm de novo, as redes sociais ajudaram na disseminação da mentira, bem como na organização de grupos de ódio e na padronização dos pensamentos através de algoritmos. Se na realidade somos constantemente expostos ao outro, a uma alteridade forçada, na internet podemos facilmente nos fechar em pequenos grupos, repetindo mentiras até que se tornem verdades. Como Orwell (2009, p. 338) já mostrava, 2 + 2 passa a ser 5 se assim for conveniente, e quem mostrar que é 4 é obviamente um (insira aqui o rótulo do inimigo objetivo do movimento).
Foucault (1979, p. 77) já dizia que “as massas, no momento do fascismo desejam que alguns exerçam o poder, alguns que, no entanto, não se confundem com elas, visto que o poder se exercerá sobre elas […]; e, no entanto, elas desejam este poder, desejam que esse poder seja exercido.” Embora Mounk evite trabalhar com a ideia de fascismo, conforme já foi aventado, o conceito de populismo que desenvolve lida com a mesma ideia: a necessidade das pessoas, em um momento de frustração e desilusão com o establishment político, desejarem avidamente por um “homem forte”, pouco importando seu preparo para o cargo. A capa da edição espanhola, edição que aqui está sendo resenhada, um rebanho de ovelhas, ilustra justamente a submissão do homem-massa ao messias, ao líder.
O modus operandi desses populistas autoritários é padrão e já foi bastante relatado nos últimos anos: a classificação maniqueísta do mundo em uma oposição binária. Consequentemente, todos aqueles que não apoiam esses grupos, são automaticamente classificados como “malignos”. Os meios de comunicação, a oposição e as universidades são alvos preferenciais, e inimigos invisíveis aparecem por todos os lugares. Se há uma característica em comum, a despeito de todas as diferenças, entre esses grupos, essa é o conspiracionismo paranoico.
Um dos exemplos mais mencionados por Mounk (2018, p. 17) é a Hungria de Orbán, sugerida por politólogos após a queda da União Soviética como um dos antigos satélites com mais chances de consolidar uma democracia liberal. Mounk (2018, p. 18) aponta alguns dos pontos que indicavam que a democracia iria se tornar resiliente na Hungria: experiência democrática no passado; legado autoritário mais frágil do que os demais ex- satélites soviéticos; país fronteiriço com outras democracias estáveis; crescimento econômico; mídia, ONGs e universidades fortes. Trinta anos depois, verifica-se justamente o contrário: após anos gradualmente dissolvendo as instituições do país, aparelhando a corte, perseguindo jornalistas e acadêmicos, Viktor Orbán conseguiu, no escopo da crise do coronavírus, enorme poderes (O GLOBO, 2020) e poucos discordariam que a Hungria é, hoje, autoritária.
Outra força importante da obra de Mounk é ressaltar a diferença entre liberalismo e democracia, discussão pouco levantada por outros autores sobre a temática. Com a queda do Muro de Berlim, e o suposto fim da história, o homem se acostumou à falácia de que democracia e liberalismo são sinônimos, de que não há democracia sem liberdade individual, e que não há liberdade individual sem democracia. Viktor Orbán classifica o seu regime como uma “democracia iliberal”, nome orwelliano que, em última análise, sintetiza o seu autoritarismo e o de tantos outros atuais: uma ditadura velada, com uma democracia de fachada, inexistente na prática, com restrição de liberdades individuais e do livre-pensamento (MOUNK, 2018, p. 18). Um método eficiente de “democratura” desenvolvida pela escola Putin de governar.
Mounk divide essas “democraturas” em dois tipos: liberalismo antidemocrático e democracia iliberal. Em outras palavras, uma cisão na noção de democracia liberal, que se parte em duas. A primeira é caracterizada por um sistema fechado, que exclui a população, através do representativismo, da participação política, concentrando o poder nas mãos de uma elite oligárquica. Ou, como Robert Dahl (2005, p. 31) já havia apontado quase 50 anos atrás em Poliarquia, uma hegemonia ou uma semi-poliarquia, considerando que, para Dahl, somente um regime inclusivo e igualitário poderia ser classificado como poliarquia, isto é, o mais próximo possível de uma democracia, esta um ideal utópico a ser perseguido mas nunca alcançado. Entrementes, o liberalismo antidemocrático de Mounk, assim como a hegemonia ou semi-poliarquia de Dahl, é marcado pela concentração de poder e limitação da liberdade apenas para a elite, enquanto o restante da população é progressivamente excluído. O segundo sistema, a democracia iliberal, é uma consequência do primeiro. A população politicamente invisível acaba por ser presa fácil de movimentos populistas anti-democráticos, que supostamente visam subjugar o primeiro sistema, embora, muitas vezes, como ocorreu no Brasil de 2018, sejam parte dessa própria elite. Conforme aponta Jason Stanley (2018, p. 82), “a democracia não pode florescer em terreno envenenado pela desigualdade”. O povo é, assim, capturado pelo discurso do “homem forte”, que retomará o país aos tempos de glória, não importando se a morte da democracia real é uma consequência inevitável desse processo. Soma-se a isso a diminuição da representatividade na democracia representativa. Embora, por sua própria definição, a democracia representativa implica em certo afastamento do povo em relação ao político, dado que o primeiro fica, em grande parte, impossibilitado de tomar decisões diretas, há uma ascensão no sentimento desse afastamento. Isto é, a democracia está supostamente cada vez menos representativa, e os políticos profissionais progressivamente mais afastados da opinião popular (MOUNK, 2018, p. 64).
Talvez o maior defeito da obra de Mounk – um defeito que não é exclusivo seu, mas sim de grande parte dos livros sobre movimentos anti-democráticos contemporâneos -, é vender suas ideias como se fossem novidades, quando Robert Dahl, meio século atrás, já apontava as mesmas questões com nomenclaturas distintas, ressaltando ainda a importância de perceber que a democracia plena é impossível e utópica. Tanto mais, a insistência de Mounk com o rótulo de populismo autoritário recusa, possivelmente para evitar utilizar um termo tão desgastado, a ideia de que parte desses movimentos anti-democráticos sejam de fato movimentos fascistas. Entretanto, se por um lado é realmente necessário evitar elasticizar o conceito de fascismo para não englobar tudo, por outro somente com malabarismo intelectual é possível classificar um Jair Bolsonaro, para usar um exemplo de nosso país, como apenas um “populista de extrema-direita, ultraconservador e nacionalista”. Mesmo porque um populista de extrema-direita, ultraconservador e nacionalista é justamente um fascista.
Referências
DAHL, Robert. Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.
O GLOBO. Parlamento da Hungria aprova lei de emergência que dá a Orbán poderes quase ilimitados. O Globo, Rio de Janeiro, 01 abr. 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/parlamento-da-hungria-aprova-lei-de-emergencia-que-da-orban-poderes-quase-ilimitados-24338118 . Acesso em: 15 ago. 2020.
ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
MOUNK, Yascha. El pueblo contra la democracia: por qué nuestra libertad está em peligro y cómo salvarla. Espasa Libros: Barcelona, 2018.
STANLEY, Jason. Como funciona o fascismo: a política do “nós” e “eles”. Porto Alegre: L&PM, 2018.
Sergio Schargel – Mestrando em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio, mestrando em Ciência Política pela UNIRIO. Bolsista CNPq. E-mail: [email protected]
MOUNK, Yascha. El pueblo contra la democracia: por qué nuestra libertad está em peligro y cómo salvarla. Barcelona: Espasa Libros, 2018. Resenha de: SCHARGEL, Sergio. Velhas ideias sob novas roupagens. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 12, n. 24, p. 220-224, jul./dez., 2020.
Rock cá/ rock lá: a produção roqueira no Brasil e em Portugal na imprensa – 1970/1985 | Paulo Gustavo da Encarnação
Bichos escrotos saiam dos esgotos
Bichos escrotos venham enfeitar […]
Bichos, saiam dos lixos
Baratas me deixem ver suas patas
Ratos entrem nos sapatos
Do cidadão civilizado
(TITÃS, 1986).
Nas favelas, no Senado
Sujeira pra todo lado
Ninguém respeita a Constituição
Mas todos acreditam no futuro da Nação
(LEGIÃO URBANA, 1987)
O primeiro fragmento citado compõe a letra da música “Bichos escrotos”, do álbum Cabeça Dinossauro da banda Titãs. Ainda que apresentada em shows desde o começo da década de 1980, a música foi gravada apenas em 1986. O motivo: a censura imposta no regime militar. Já o segundo excerto compõe o disco Que país é este, da banda Legião Urbana. Lançado no álbum de 1987, a música, igualmente intitulada “Que país é este”, rapidamente se transformou num hit da banda e embalou gerações. Ambas foram oficialmente lançadas nos anos iniciais do processo de redemocratização do Brasil. Contêm críticas profundas ao período e aos fundamentos da Nova República, denominação cunhada para tratar do período iniciado com o fim da ditadura militar (FERREIRA; DELGADO, 2018).
Elas foram (e são) entoadas por jovens de diferentes gerações como canções de protesto e contestação à ordem política vigente e à estrutura social. Embora trintonas, são extremamente atuais para pensarmos o cenário político brasileiro, as relações entre Executivo e Legislativo e, principalmente, as práticas políticas adotadas. Afinal, atualmente ainda sobram “bichos escrotos” que desrespeitam a Constituição, mas, apesar da dura realidade enfrentada pelo cidadão brasileiro, entoam fábulas encantadoras sobre o “futuro da Nação”.
Não obstante, as canções também possibilitam aprofundar a discussão acerca das complexas relações entre história, rock, mídia e política. E suscitam outras importantes indagações, tais como: O que é rock? É um gênero nacional ou estrangeiro? É popular ou elitista? É música de caráter alienante ou música de protesto? É expressão de posturas progressistas ou conservadoras? Como é comumente classificado por agentes do campo midiático?
Esses são alguns dos problemas argutamente debatidos pelo trabalho recém-publicado por Paulo Gustavo da Encarnação, doutor em história pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e com estágio pós-doutoral realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Fruto da sua tese de doutorado, sob a orientação do professor doutor Áureo Busetto, e com estágio de pesquisa em Portugal, o historiador publicou o livro intitulado Rock cá, rock lá: a produção roqueira no Brasil e em Portugal na imprensa (1970-1985).
A obra apresentada se inscreve no horizonte da chamada “história política renovada”, que, como formulado por René Rémond (1996), concebe a amplitude dos objetos enfocados pela história política. Toma o rock como objeto com potencial para o conhecimento de práticas políticas diversas e múltiplas dimensões da identidade coletiva — perspectiva que possibilita adentramos “terrenos que, mesmo aparentemente apresentados como paisagens desérticas e estéreis, são searas para serem trilhadas pelo historiador do contemporâneo” (ENCARNAÇÃO, 2018, p. 32). O autor do livro observa a “relação rock/política como resultado de um feixe de relações sociais, cujos subsídios principais podem ser percebidos em discursos, nos comportamentos e, inclusive, nas aparentes ausências de elementos e ingredientes da política” (ENCARNAÇÃO, 2018, p. 32).
Com tais preocupações, Paulo Gustavo da Encarnação procura demonstrar as proximidades entre o rock brasileiro e o lusitano entre as décadas de 1970 e 1980. Aponta semelhanças entre os países; por exemplo, os períodos de ditadura. Mas também cuida das particularidades. Munido de uma perspectiva comparativa, afasta-se de visões totalizantes, hegemônicas e uniformes para pensar os agentes e expedientes dos universos roqueiros brasileiro e português. Como bem lembrou Marc Bloch sobre o trabalho do historiador (2001, p. 112), “no final das contas, a crítica do testemunho apóia- se numa instintiva metafísica do semelhante e do dessemelhante, do Uno e do Múltiplo”.
Assim, o livro busca refletir comparativamente acerca das características do rock lusitano e do brasileiro. Para tanto, leva em conta parâmetros linguístico-poéticos e musicais na análise de canções com críticas sociais e políticas. Procura demonstrar como o gênero foi classificado, respectivamente, por agentes brasileiros e portugueses, ocupando-se especialmente das definições e dos estereótipos formulados pelos integrantes do universo midiático, assim como da constituição e atuação da crítica musical veiculada em cadernos jornalísticos específicos e/ou em revistas especializadas. Portanto, historiciza o rock e o modo como o gênero foi tomado pela imprensa nos universos brasileiro e português.
Com relação à imprensa, concebe as diferentes e, por vezes, antagônicas facetas que conferem existência a uma empresa midiática. Compreende o estatuto das suas fontes e explica, detalhadamente, os passos trilhados para a realização do estudo. Apresenta, por exemplo, o modo como constituiu quadros temáticos para realização da pesquisa documental e para o trabalho com a bibliografia — expediente que possibilitou estruturar uma narrativa fluente e pouco afeita apenas à exposição cronológica e linear dos fatos.
Com base nos dados obtidos em pesquisa documental de fôlego e a partir da consulta crítica e assertiva à ampla e diversificada bibliografia, o pesquisador expõe consistente tese sobre o tema:
O rock produzido em língua portuguesa, no Brasil e em Portugal, desde os anos 1950 vinha num processo de nacionalização que culminaria, a partir da década de 1970 e, com especial destaque, para os anos 1980, no denominado rock nacional. […] defendemos a tese de que o rock produzido durante o período de 1970-1985 expressou e lançou mensagens musicais e críticas políticas. Ele se tornou, por conseguinte, um catalisador e um difusor de anseios e visões de mundo de uma parcela da juventude que não estava disposta a ver suas expectativas com relação à vida cultural e à política encerradas nas dicotomias: nacional/ estrangeiro, popular/elitista, capitalismo/socialismo (ENCARNAÇÃO, 2018, p. 25).
Além de fértil e sólida tese, o leitor terá a oportunidade de conhecer o trabalho de um pesquisador incansável que minerou e lapidou dados e elementos históricos. Ademais, o livro de Paulo Gustavo da Encarnação é leitura obrigatória para pesquisadores que apreciam a constituição de séries no trabalho de pesquisa documental, a organização do material e sua exposição numa narrativa envolvente, sem, contudo, renunciar ao enfretamento de densas e qualificadas questões teórico-metodológicas. Ao longo dos quatro capítulos, o leitor terá a chance de conhecer a história do rock e, também, uma potente análise sobre as relações desse gênero musical com a mídia e a política no Brasil e em Portugal.
Se, por um lado, o trabalho de Paulo Gustavo nos ensina sobre um objeto específico e a operação do historiador num recorte temporal definido, comparando práticas em dois espaços distintos, por outro lado, chama atenção para a importância de entendermos o universo político para além das leituras simplistas sustentadas por visões duais e dicotômicas de mundo. Essa não seria, aliás, uma necessidade da nossa frágil democracia? Que a leitura de Rock cá, rock lá fomente a reflexão e o debate. E que os leitores experimentem mais do que visões binárias e esquemáticas de mundo. Afinal, como o autor colocou, o rock “é uma miscelânea de difícil definição”, mas como “posicionamentos que buscam criticar os pilares da sociedade”, expressando, “muitas vezes, elementos, mensagens e linguagem contestadoras” (ENCARNAÇÃO, 2018, p. 267-8).
Referências
BLOCH, Marc. Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
ENCARNAÇÃO, Paulo Gustavo da. Rock cá, rock lá: a produção roqueira no Brasil e em Portugal na imprensa – 1970/1985. São Paulo: Intermeios; Fapesp, 2018.
FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucila de Almeida Neves (Org.). O tempo da Nova República: da transição democrática à crise política de 2016 – Quinta República (1985-2016). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. v. 5.
LEGIÃO URBANA. Que país é este. In: LEGIÃO URBANA. Que país é este. Rio de Janeiro: EMI-Odeon Brasil, 1987. 1 áudio (2 min. 57).
RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: UFRJ/FGV, 1996.
TITÃS. Bichos escrotos. In: TITÃS. Cabeça Dinossauro. Rio de Janeiro: Warner, 1986. 1 áudio (3 min. 17).
Edvaldo Correa Sotana – Mestre e doutor em História pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Assis). Professor da Graduação e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). E-mail: [email protected]
ENCARNAÇÃO, Paulo Gustavo da. Rock cá, rock lá: a produção roqueira no Brasil e em Portugal na imprensa – 1970/1985. São Paulo: Intermeios/Fapesp, 2018. Resenha de: SOTANA, Edvaldo Correa. Rock, mídia e política: história numa perspectiva comparada. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 12, n. 24, p. 225-228, jul./dez., 2020.
Revista do Arquivo Público do Espírito Santo. Vitória, v.4 n.8, 2020.
Editorial
Apresentação
- Dossiê: Justiça, Cidadania e Direito na História do Espírito Santo
- Kátia Sausen da Motta |pdf
Entrevista
- As contribuições do Arquivo Público e dos documentos de arquivo para o acesso à informação na perspectiva das pesquisas de Ana Célia Rodrigues
- Alexandre Faben | pdf
Dossiê: Justiça, Cidadania e Direito na História do Espírito Santo
- O “Império quer dizer Governo ou Nação”: o Espírito Santo emerge como província
- Adriana Pereira Campos | pdf
- Os votantes da Província do Espírito Santo: direito de voto e perfil socioeconômico (1824-1881)
- Kátia Sausen da Motta | pdf
- “Diz a senhora suplicante que o recrutado a sustenta”: mulheres, justiça e cidadania no Espírito Santo do Oitocentos
- Karolina Fernandes Rocha | pdf
- A sociedade propagadora da instrução pública capixaba em fins do Oitocentos
- Meryhelen Quiuqui | pdf
- Liberdades controladas: da Lei do Ventre Livre aos sexagenários. Espírito Santo (1871-1888)
- Rafaela Domingos Lago | pdf
- A Jagunçada de Barracão: vingança, racismo e morte na comarca de Santa Teresa/ES (1897)
- Francisco Roldi Guariz
- As mobilizações pela anistia brasileira no estado do Espírito Santo (1975-1979)
- Brenda Soares Bernardes, Pedro Ernesto Fagundes | pdf
- As solicitações de informação na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo entre os anos de 2017 e 2019
- Camila Mattos da Costa, Maria Ivonete Rodrigues Pego | pdf
Artigos
- Paisagem urbana do Centro de Vitória (ES) no início do século XX: a fotografia no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
- Enzo Daltoé Nepomoceno, Maira Cristina Grigoleto | pdf
- O poder político-econômico da Companhia de Jesus na capitania do Espírito Santo: uma análise da Devassa de 1761
- Vinícius Silva dos Santos | pdf
- Experiências interdisciplinares nos acervos históricos de Fundão
- Gabriela de Oliveira Gobbi, Marcello França Furtado, Jessica Dalcolmo de Sá | pdf
Colaborações especiais
- Resenha do Ciclo de Comunicações: 112 anos do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
- Kimberlly de Mattos | pdf
- Documentos
- Pelo direito de votar: justiça, cidadania e a Lei Saraiva na Província do Espírito Santo (1881)
- Larissa Ricas Cardinot | pdf
Resenhas
- Estatuto da Mulher Casada e a cidadania no Brasil: História, Gênero e Direito
- Bárbara Lempé Alonso Scardua | pdf
- Reportagens
- Fazenda do Centro: 175 anos de história
- Cilmar Franceschetto | pdf
Justiça, Cidadania e Direito na História do Espírito Santo | Revista do Arquivo Público do Estado do Espirito Santo | 2020
Justiça, Cidadania e Direito são temas de longa tradição no campo da História que contemplam fenômenos jurídicos e políticos numa perspectiva ampla e interdisciplinar. Recentes estudos e abordagens têm evidenciado o papel relevante das culturas jurídicas e políticas para a compreensão das ideias, instituições, comportamentos e relações de poder nos mais variados contextos históricos. Em consonância com as tendências historiográficas dos últimos decênios, que indagam as interpretações generalizantes e, por vezes, reducionistas, o dossiê objetivou congregar estudos que se dedicam ao exame das práticas e do pensamento no âmbito político-jurídico e suas transformações ao longo da História. Abre-se, assim, uma série de problemas ligados às práticas judiciárias e políticas, construção da cidadania, garantia de direitos, acesso à justiça e à informação. Para essa edição da Revista do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, o dossiê procurou incorporar pesquisas que tratam a temática no âmbito do Espírito Santo, perpassando os diversos regimes políticos e jurídicos, desde o processo de independência do Brasil até a República e suas diversas temporalidades. Leia Mais
Cultura e democracia: convergências, conflitos e interesses públicos / Albuquerque: revista de história / 2020
Até ontem a palavra do alto César podia resistir ao mundo inteiro. Hoje, ei-lo aí, sem que ante o seu cadáver se curve o mais humilde. Ó cidadãos! Se eu disposto estivesse a rebelar-vos o coração e a mente, espicaçando-os para a revolta, ofenderia Bruto, ofenderia Cássio, que são homens honrados, como vós bem os sabeis. Não pretendo ofendê-los; antes quero ofender o defunto, a mim e a vós, do que ofender pessoas tão honradas. (Marco Antônio, em Júlio César de William Shakespeare)
O dossiê Cultura e Democracia: convergências, conflitos e interesses públicos, ainda que esteja ligado a temas e problemas temporais próximos ao que estamos vivendo no imediato presente, abrange uma temporalidade mais ampla que envolve os diversos meandros que compõe a estrutura do mundo e do Estado modernos. Desde as revoluções burguesas, que marcaram o surgimento de uma nova sociedade, homens e mulheres em vários espaços geográficos passaram por diferentes tipos de instabilidades políticas, o que gerou muitos debates intelectuais além de lutas e disputas frequentes pelas formas de entendimento sobre o poder de atuação das pessoas no espaço público.
O século XIX, por exemplo, é caracterizado no âmbito do continente europeu por numerosas lutas de trabalhadores que perceberam as possibilidades de transformação de suas condições de sobrevivência e de atuação política inaugurada pelo enredo liberal no final do século anterior. Um dos exemplos mais importantes nesse sentido ocorreu em Paris em 1848 quando a utopia da transformação atingiu inúmeras pessoas que incendiaram e subverteram as ruas da capital. A população invadiu e saqueou o Palácio das Tulherias, então residência do rei Luís Felipe. E antes que um governo provisório fosse formado e a Dinastia dos Orleans perdesse o poder, populares arrastaram o trono pelas ruas e o incendiaram na Bastilha. A força política e simbólica do que ocorreu a partir desse acontecimento foi retratada por imagens e palavras, mas nada mais forte que a análise produzida por Karl Marx em O 18 de Brumário de Luís Bonaparte.
Escrito entre dezembro de 1851 e fevereiro de 1852, Marx elaborou no calor dos acontecimentos uma análise cortante sobre a amplitude da atuação política de setores sociais explorados na vida democrática da França à época. O mesmo país que poucos anos antes havia legado ao mundo o lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” e a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” utilizou o discurso da democracia para que as subversões e lutas de 1848 fossem acalmadas e conformadas. A derrota imediata dos trabalhadores que ocupavam as ruas de Paris ocorreu a partir de junho de 1848, quando a Assembleia Nacional Constituinte foi formada e começou a elaboração das bases da Segunda República Francesa. O trono queimado de 1848 foi calmamente reconstruído até que, em 1851, o sobrinho imitou o tio e fez do dia 2 dezembro o seu 18 de Brumário.
Esse é apenas um exemplo onde os temas da democracia e da cultura estiveram fortemente imbricados em um “momento de perigo” do século XIX. Nele podemos observar muitas coisas e tirar diversas conclusões, mas o mais importante é perceber que o discurso democrático, por si mesmo, não garante a ampla e profunda participação política de diferentes estratos sociais. Aqui é desnecessário realçar a habilidade de Marx em tratar desse tema, inclusive porque O 18 de Brumário é inquestionavelmente um clássico, mas é impressionante perceber que desde 1852, quando ele foi publicado, temos condições de desdobrar essa discussão principalmente para entender que a democracia não é um bem em si, mas um constructo social que depende de variáveis históricas e, portanto, de condições sociais que precisam ser cotidianamente pensadas e, claro, reescritas. Inclusive o próprio Marx nas linhas iniciais de seu texto chama a atenção para o fato de que “Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram” (MARX, 2001, p. 25). A participação política requer responsabilidade de todos. As noções de cidadania, igualdade e direitos, entre outros, como todos os aparatos discursivos, possuem correspondentes na prática. O autor alemão nos mostrou no século XIX, que quando alguns grupos colocam em prática a igualdade, outros reagem, inclusive no campo do discurso lançando mão do vocabulário de participação política inaugurado pelas revoluções burguesas.
Tomando essa reminiscência do século XIX como referência, podemos buscar outras no século posterior. O que nos motiva nesse caminhar é o vocabulário político do Estado Moderno, lembrando sempre que nosso escopo são as convergências entre democracia e cultura.
Ao longo do século XX, as duas guerras mundiais foram acontecimentos que alteraram profundamente os debates sobre democracia. Se antes de começar, o primeiro conflito fora saudado em prosa e verso por inúmeras pessoas embaladas pelo nacionalismo e o imperialismo de fins de século na Europa, 1918 apresentou um quadro muito distinto. Além dos problemas econômicos decorrentes da guerra e do novo quadro de forças políticas mundiais, o nacionalismo adquiriu cada vez mais traços xenófobos e chauvinistas. Isso sem contar o peso que a Revolução Russa de 1917 teve para os debates ideológicos da época bem como a acentuada gravidade do processo de exploração do continente africano para a política internacional. Não por acaso, as derrotas mais duras para o campo democrático não tardaram a chegar. Em 1922, Benito Mussolini promoveu a conhecida Marcha sobre Roma, com isso o fascismo entrava triunfal na cena pública contemporânea e, em 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Paul von Hindenburg. Daí até a Segunda Guerra Mundial foi uma questão de tempo e novamente o mundo se viu diante de inúmeros debates sobre a questão democrática.
Muitos autores se dedicaram à discussão sobre democracia e espaço público nesse amplo contexto que abarca também o período posterior a 1945, quando inclusive se coloca em prática no ambiente europeu o Estado de bem estar social. Uma das reflexões mais marcantes da época surge das letras da filósofa Hannah Arendt, em especial por ela entender que o espaço da ação política é o espaço da ação pública por excelência. A política se efetiva onde os Homens se unem aos seus iguais, são capazes de assumir posicionamentos, persuadem, sofrem e aceitam derrotas.
Arendt se dedicou, desde As Origens do Totalitarismo (1951), amplamente às reflexões que envolvem “ação” e “pensamento” no ambiente dos autoritarismos inaugurados no século XX. Os leitores atentos encontram nos seus livros análises primorosas sobre as incongruências que o tema da democracia carrega, entre eles Sobre Revolução (1963), Entre o passado e o futuro (1968) e Crises da República (1969). Nesse último, tratando especificamente da realidade dos Estados Unidos, país que acolheu a autora quando ela fugira do Nazismo, a análise se volta para a revisão da ideia de representatividade política frente às questões da liberdade pública:
Queremos participar, queremos debater, queremos que nossas vozes sejam ouvidas em público, e queremos ter uma possibilidade de determinar o curso político do nosso país. Já que o país é grande demais para que todos nós nos unamos para determinar nosso destino, precisamos de um certo número de espaços públicos dentro dele. As cabines em que depositamos as cédulas são, sem sombra de dúvida, muito pequenas, pois só têm lugar para um. Os partidos são completamente impróprios; lá somos, quase todos nós, nada mais que o eleitorado manipulado. Mas se apenas dez de nós estivermos sentados em volta de uma mesa, cada um expressando a sua opinião, cada um ouvindo a opinião dos outros, então uma formação racional de opinião pode ter lugar através da troca de opiniões. (ARENDT, 2010, p. 200)
É perceptível pela ótica da autora, entre outras coisas, que a participação democrática ampla depende de fatores que vão além do depósito do voto nas urnas e inclui a ampliação dos espaços públicos, a capacidade de diálogo, o processo formativo cultural e educacional, daí a importância do ambiente escolar e da escolarização, discutidos de maneira tão contundente no texto A Crise na Educação. Ninguém nasce em um mundo livre de construções humanas, por isso cada nova geração tem responsabilidade com o passado e com o futuro. Portanto, sem o processo educacional, corremos o risco de ignorar o que as gerações anteriores construíram e, com isso, desprezamos os perigos autoritários inaugurados no passado. E isso, infelizmente, é possível sem o diálogo frequente e a expansão da esfera pública.
Com tantos e profundos autoritarismos no século XX percebemos, lendo autores diferentes e refletindo sobre momentos e sociedades distintas, que é impossível não ser constantemente vigilantes com o processo formativo das pessoas. É ele que minimamente pode garantir um debate mais consistente sobre os meandros democráticos e, principalmente, condições de sobrevivência onde existam conflitos e convergências de interesses públicos.
Apesar de termos percorrido apenas vinte anos do século XXI, está claro que a força autoritária recrudesce imensamente no mundo e no Brasil nos últimos anos. Há inclusive uma extensa bibliografia sobre o tema que vem colocando acentos interpretativos distintos e importantes sobre a ideia de democracia. Desde a publicação de Como as democracias morrem (2018), de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, temos acesso no Brasil aos livros Como a democracia chega ao fim (2018), de David Runciman; O povo contra a democracia (2019), de Yascha Mounk; Na contramão da liberdade (2019), de Timothy Snyder, entre outros. Já entre autores e pesquisadores brasileiros a situação não é diferente e merece destaque o livro do sociólogo Leonardo Avritzer, O pêndulo da democracia (2019).
Levando em conta toda essa discussão e entendendo, desde os escritos mais contundentes do século XIX, que a democracia é um tema sempre a ser discutido, construído e cultivado que estruturamos a proposição deste dossiê. Assim, a articulação entre Cultura e Democracia não é apenas um jogo de palavras que diz respeito às urgências intelectuais da época em que vivemos, mas é um retorno ao passado carregado de historicidade e de respeito aos contínuos movimentos das lutas de homens e mulheres que formaram nossa sociedade ao longo do tempo. Está também relacionada à constatação de que o conhecimento acadêmico é fundamental para uma época que despreza a ciência e a racionalidade como sintoma de autoritarismos políticos e sociais que desprezam a vida e a multiplicidade humana.
Abrindo o dossiê, Durval Muniz de Albuquerque Júnior no texto Narrar vidas, sem pudor e sem pecado: as carnes como espaço de inscrição do texto biográfico ou como uma biografia ganha corpo problematiza a noção de biografia histórica, trazendo à tona como o ato de escrever biografias maneja a dimensão temporal e carnal da existência. Para tanto, o historiador lança mão da obra Roland Barthes por Roland Barthes (2017) e permite que os leitores compreendam que o ato de narrar e ler sobre vidas é carregado de significados variados. No campo do debate sobre democracia, o texto adquire singularidade por nos permitir compreender que quando lidamos com agentes do passado por meio de biografias estamos diante de uma “potência carnal que corporifica a escrita biográfica”.
Na sequência, disponibilizamos as reflexões de Rosangela Patriota sobre as incertezas contemporâneas em torno de práticas democráticas, por meio do artigo A questão democrática em tempos de incertezas. Com essa preocupação, a autora realiza um mergulho no cenário político internacional das últimas décadas para, posteriormente, discutir o tema do antissemitismo em sociedades contemporâneas, a partir do revisionismo na historiografia do Holocausto e por intermédio da peça teatral Praça dos Heróis de Thomas Bernhard. Articulando diálogos entre passado / presente, Patriota problematiza dúvidas e impasses de nossa história imediata.
Ainda no contexto de elaboração de narrativas históricas, cabe destacar o artigo do historiador Antonio de Pádua Bosi, Trabalho, Imigrantes e Política em “Greve na Fábrica”: o maio de 68 para Robert Linhart. Homem público francês, que viveu um dos momentos mais intensos dos debates democráticos da segunda metade do século XX, Linhart produziu um texto revelador sobre identidades culturais e experiência de trabalho industrial a partir da vivência de operários de diferentes nacionalidades na linha de montagem da Citroën, em 1969. Bosi recupera esses escritos e dá dimensão histórica e crítica ao livro do autor francês. Ler o artigo nos ajuda a perceber o quanto a dinâmica do trabalho e o debate sobre democracia se alterou ao longo do tempo, ao mesmo tempo que trouxe consequências marcantes para a vida e a luta dos operários.
Caminhando para a compreensão das discussões da democracia no Brasil, o artigo Paulo Freire: el método de la concientización, em la educación, para analizar y compreender el contexto actual de la Globalización, escrito por José Marin Gonzáles, traz para o debate sobre democracia o tema da educação por meio do método de Paulo Freire no atual contexto de Globalização. O texto é fundamental para um momento em que muito se critica o educador brasileiro sem nenhum tipo de fundamentação acadêmica e mais ainda quando o processo educacional é pensado prioritariamente como corpo que oferece aos sujeitos, desvinculados de quaisquer coletividades, ferramentas exclusivas para o mercado de trabalho. Freire é um chamamento à coletividade, à noção de educação voltada para o bem comum e principalmente para a justiça social, temas caros às experiências democráticas.
Entrando especificamente no diálogo com linguagens artísticas no Brasil dos últimos anos, o dossiê conta com quatro artigos. Em O homem de La Mancha: aspectos da utopia no teatro musical brasileiro da década de 1970, André Luis Bertelli Duarte promove importantes discussões sobre o teatro brasileiro nos duros anos da repressão política brasileira, com destaque para as possibilidades do debate democrático promovido pela encenação musical de O homem de la mancha (Dale Wasserman, 1965), produzido por Paulo Pontes, sob a direção de Flávio Rangel, em 1972-1973. No ambiente de autoritarismos diversos e em especial contra a figura de artistas e intelectuais, a releitura de Quixote se apresentava como ideal de justiça e liberdade.
Ainda dialogando com o campo teatral, Rodrigo de Freitas Costa promove no artigo O teatro de rua e sua expressão política: os primeiros anos do Grupo Galpão de Belo Horizonte (1982-1990) reflexões sobre o teatro de rua no período logo após o processo de abertura política, tendo por referência o trabalho desenvolvido pelo conhecido grupo teatral da capital mineira. O texto contribui para a discussão sobre democracia e cultura no Brasil especialmente por problematizar e questionar a ideia de “vazio cultural” desenvolvida por inúmeros críticos teatrais que tratam da produção nacional pós Estado Autoritário. Nesse sentido, as primeiras peças escritas e encenadas pelo Galpão são o mote para compreender parte da complexidade do processo cultural brasileiro e a amplitude do teatro político nos anos 1980.
Já sobre a relação entre Cinema, Democracia e História, o artigo de Rodrigo Francisco Dias, Autoritarismo e democracia nos filmes “Jânio a 24 Quadros” (1981, de Luís Alberto Pereira) e “Jango” (1984, de Silvio Tendler), permite ao leitor compreender como os temas do autoritarismo e da democracia são reelaborados nos documentários de Luís Alberto Pereira e Silvio Tendler no início da década de 1980. Abordando aspectos formais, o autor mostra como as configurações estéticas carregam posicionamentos históricos e políticos. Com isso, une forma e conteúdo por meio da historicidade e promove considerações importantes capazes de elucidar as dinâmicas do debate democrático dos anos finais da Ditadura Militar.
Por fim, o dossiê se encerra com uma discussão sobre financiamento cultural nos dias atuais. Essa discussão é fundamental para o Brasil de hoje, onde a arte é menosprezada e diversos artistas e intelectuais são hostilizados publicamente. Em um país que investe pouco em educação e cultura, sabemos que as discussões democráticas são frágeis e que os espaços públicos são minados por discursos surdos e preconceituosos. O artigo Democracia e Arte: as percepções da Lei Rouanet e o financiamento da cultura de Jacqueline Siqueira Vigário e Anna Paula Teixeira Daher promove reflexões importantes recolocando essa discussão em bases acadêmicas inicialmente analisando a lei de incentivo à cultura e, por fim, utilizando como exemplo o caso da exposição “Queermuseu: Cartografia da diferença na arte brasileira” (2017).
Como parte do dossiê para este este número de albuquerque: revista de história, há uma entrevista da Professora Doutora Maria Helena Rolim Capelato. Historiadora atuante na esfera pública, árdua defensora do conhecimento histórico cientificamente elaborado e produtora de reflexões importantes sobre História e Imprensa no Brasil do século XX. Na entrevista, a professora fala de sua formação ainda na Ditadura Militar, destaca os principais debates que dizem respeito à sua pesquisa sobre imprensa no Brasil e na América Latina e, por fim, reflete sobre temas políticos brasileiros contemporâneos.
Esperamos que os leitores aproveitem as reflexões que o dossiê traz e que possam cada vez mais entender e divulgar que a democracia não é um bem em si, mas um processo que precisa constantemente ser reelaborado, inclusive quando o objetivo é favorecer o humanismo em tempos sombrios.
Referências
ARENDT, Hannah. Crises na República. Tradução de José Volkmann. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
AVRITZER, Leonardo. O pêndulo da democracia. São Paulo: Todavia, 2019.
LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. Tradução de Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011.
MOUNK, Yascha. O povo contra a democracia. Tradução de Cássio de Arantes Leite e Débora Landsberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
RUNCIMAN, David. Como a democracia chega ao fim. Tradução de Sérgio Flaksman. São Paulo: Todavia, 2018.
SNYDER, Timothy. Na contramão da liberdade: a guinada autoritária nas democracias contemporâneas. Tradução de Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
Rosangela Patriota (Universidade Presbiteriana Mackenzie / CNPq)
Rodrigo de Freitas Costa (Universidade Federal do Triângulo Mineiro)
Thaís Leão Vieira (Universidade Federal de Mato Grosso)
Organizadores
PATRIOTA, Rosangela; COSTA, Rodrigo de Freitas; VIEIRA, Thaís Leão. Apresentação. Albuquerque: revista de história, Mato Grosso do Sul, v.12, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
História da Arte e da Cultura | Unicamp | 2020
A Revista de História da Arte e da Cultura (Campinas, 2020-) é uma publicação vinculada ao Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas e uma iniciativa do Centro de História da Arte e Arqueologia (CHAA), desta universidade. Seu principal objetivo é promover um contínuo desenvolvimento da História da Arte e da Cultura no Brasil, relacionando-as com a produção internacional da área.
A Revista de História da Arte e da Cultura é a continuação natural da Revista de História da Arte e Arqueologia (RHAA), que em seus 24 números, entre 1994 e 2015, tornou-se referência das revistas científicas brasileiras na área, além de ser a primeira a tratar as duas disciplinas de modo correlato. O objetivo da nova RHAC é continuar com excelência o trabalho, adequando-se às novas necessidades e determinações dos padrões internacionais das revistas acadêmicas.
Primeiro a Revista de História da Arte e Arqueologia e agora a Revista de História da Arte e da Cultura são partícipes do crescente interesse na disciplina, que no departamento de História da Universidade Estadual de Campinas cristaliza-se com a área de concentração em História da Arte e suas linhas de pesquisas. Este periódico afirma o compromisso com a área e sua divulgação em um cenário internacional. Sua publicação online garante uma irrestrita visualização a todos os interessados na disciplina.
A RHAC tem por objetivo a publicação e divulgação da produção acadêmica na área de História da Arte e da Cultura. Abrange textos voltados particularmente à reflexão sobre a visualidade, em suas conexões com o campo cultural. A publicação de trabalhos em português, inglês, francês, italiano e espanhol facilita o acesso a leitores brasileiros e estrangeiros. Publica inéditos de especialistas nacionais e estrangeiros nas seguintes modalidades: artigos, resenhas, entrevistas e transcrições de documentos. Propostas para dossiês podem ser encaminhadas para aprovação no conselho.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2675-9829
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Mulheres e Gênero na Historiografia Capixaba | Revista do Arquivo Público do Estado do Espirito Santo | 2020
O presente dossiê é fruto de reflexões que vêm ocorrendo há quase duas décadas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), notadamente a partir da criação do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência (LEG). A institucionalização desse campo de estudos, em especial com pesquisas sobre mulheres, tem contribuído para promover na historiografia capixaba novas perspectivas e novos objetos. Este é um movimento de renovação devedor de muitas fontes. Está atrelado tanto a mudanças de paradigmas nas Ciências Humanas, quanto a uma tradição capixaba de memória e história que começou a ser repensada a partir da publicação de obras pioneiras, como A mulher na História do Espírito Santo, de Maria Stella de Novaes.
Escrito nos idos dos anos 1950, mas publicado somente em fins da década de 1990, a obra de Novaes pode ser lida em diálogo com uma vertente mais testemunhal e memorialística, mas que indica uma busca de espaço pouco discutida até então sobre a urgente necessidade de se narrar as experiências marginalizadas de mulheres. De lá para cá, a historiografia produzida no Espírito Santo vem trilhando um longo caminho, no esforço por consolidar os estudos sobre mulheres e relações de gênero. Nesse ponto, uma crítica é pertinente, pois se houve avanços incontestáveis de abordagem e método, ainda estamos longe de ter uma extensa produção acadêmica pautada nas temáticas de gênero, com pesquisas que privilegiem o enfoque regional. Leia Mais
O Tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da história | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. O Tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da história. São Paulo: Intermeios, 2019. Resenha de: MAYER, Milena Santos. Revista Expedições, Morrinhos, v. 11, jan./dez. 2020.
“Os textos aqui reunidos formam uma constelação simultaneamente erudita e polêmica, ferina e generosa, que pode ser lida de trás para frente, de frente para trás, com pés calçados no presente, com olhos no passado ou como um projeto de história futura” (CEZAR, 2019, p.12). É assim que o historiador Temístocles Cezar apresenta o livro “O Tecelão dos Tempos “publicado no ano de 2019 pela Editora Intermeios. Publicados anteriormente em outros livros ou revistas acadêmicas, os escritos são frutos de análises, pesquisas e apresentações do historiador Durval Muniz Albuquerque Junior em conferências, aulas magnas ou seminários. O autor de “A Invenção do Nordeste e Outras Artes” (1999), “Nordestino: Uma Invenção do Falo – Uma História do Gênero Masculino” (2003) e “História: A Arte de Inventar o Passado” (2007), dentre outros, apresenta a nova publicação rebatendo críticas e comentando a repercussão que o livro de 2007, dedicado também à teoria, que causou entre os colegas da academia.
Segundo Durval, as críticas iniciaram pelo próprio título, uma vez que os termos arte e invenção sugerem um debate polêmico e recorrente no campo da história diante da busca por uma cientificidade. Além das questões teóricas, o autor foi avaliado em relação a forma em que o texto foi construído e apresentado. Por esse motivo, o historiador dedica a apresentação do novo livro para rebater as críticas, justificar e argumentar o uso do ensaio como gênero de escrita. Para ele é possível produzir conhecimento histórico preocupando-se também com a forma e com a estética da narrativa. No decorrer da leitura é possível perceber a intenção em reforçar o entendimento de que o trabalho do historiador é um trabalho de escrita e que, portanto, a forma dessa escrita é essencial e um desafio constante. “Sem a reflexão crítica sobre a arte da narrativa não há ciência possível na historiografia” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2019, p. 16). Leia Mais
Lenguaje, autoridad e historia – ZAMORA (A-EN)
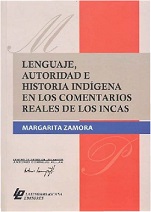
La obra del Inca Garcilaso de la Vega, por su extensión y complejidad, ha dado lugar a múltiples debates para su exégesis. Al escritor se le ha considerado desde un cronista fiable hasta un fabulador, desde un humanista aculturado hasta “Un humanista inca” (David Brading), desde un escritor que buscaba la reconciliación entre etnias hasta alguien que fue leído por Tupac Amaru II como estímulo para su revolución, desde un hacedor de una utopía imposible hasta un promotor de un gobierno viable para el Perú. Margarita Zamora, en su libro Lenguaje, autoridad e historia indígena en los Comentarios de los Incas, de reciente publicación en español gracias a la traducción de Juan Rodríguez Piñero y Vanina M. Teglia, retoma y reelabora estas polémicas y profundiza algunos tópicos mencionados pero no profundizados por diversos estudios sobre la obra del gran cronista peruano.
Usos de la tradición
En este libro, Zamora aborda los Comentarios reales desde la filología como construcción de autoridad y como llave de la historia. Para esto, la especialista realiza un exhaustivo racconto de la tradición humanista europea de la que se nutre el Inca Garcilaso, partiendo de figuras tales como Antonio de Nebrija, Lorenzo Valla, Erasmo y Fray Luis de León. En cuanto a Valla, en los escritos de la Antigüedad, se cifra el anhelo de la recuperación de un orden perdido, “en consecuencia, el mal uso del lenguaje o la traducción errónea constituían un ataque a ese orden” (ZAMORA, 2018, p. 44). En Erasmo, hay un deseo de volver a las fuentes cristianas a través de una purga y su correspondiente comentario. Y, por último, en Fray Luis, también se encuentra el proyecto de purificar dichas fuentes, pero teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones de la lengua en la que serán traducidas. A través de la contextualización, la autora demuestra los usos que hace Garcilaso de la tradición europea, es decir, cómo se nutre de ella para crear su propia autoridad: si con la conquista gana prestigio el punto de vista del testigo, el Inca deberá crear otros recursos de validación para su autoría teniendo en cuenta que su nacimiento es posterior y que el punto de vista de los cronistas suele ser el del conquistador. Si el cronista insiste en que los españoles todo lo corrompen, y que los infortunios del virreinato se debían a una falta de comprensión lingüística, entonces los europeos carecerían de las competencias necesarias para una cabal comprensión de los nativos, sus costumbres y su pasado. Así, el cronista parte de la idea de que el trauma de la conquista no fue fruto de los deseos de posesión y dominio por parte de los españoles -como podría argumentar un Fray Bartolomé de Las Casas- sino de la falta de comprensión entre lenguas y culturas tan diversas entre sí. Pero si el problema del primer encuentro entre los representantes de España y los del Incario fue de corte lingüístico, esto le permite al autor posicionarse mejor que un testigo: con Los comentarios reales pasamos del paradigma del punto de vista al paradigma filológico con el que se obtendría un acceso más verdadero, tanto a los sucesos precolombinos como a los de la conquista, gracias al conocimiento de las lenguas de los sectores en pugna y no gracias a una experiencia de primera mano. A su vez, a través de la comparación entre Las Casas y el Inca, Zamora demuestra que, al correr el eje de la crítica a los españoles (de ambiciosos a ignorantes), la crítica de Garcilaso es más sutil, al mismo tiempo que más vehemente: la cultura letrada y la cultura del libro poseen un límite epistemológico.
En busca del origen perdido
La autora recuerda la concepción de Nebrija: la filología como forma de recuperar el origen perdido. Con este método, las palabras recobrarían un significado esencial y arrojarían luz sobre el pasado de una cultura otra o propia, actual o perdida. Este clima intelectual de época avala que el Inca Garcilaso asegure que la confusión lingüística de los españoles conlleva errores múltiples. De esta manera, la filología es una llave al pasado: a través de un estudio de la lengua, se pueden establecer períodos históricos. Esto va a sostener Garcilaso para defender al gobierno incaico de acusaciones tales como tiranías o sacrificios humanos ante sus detractores. Al confundir las palabras quechuas, el europeo mezcló y, según el Inca Garcilaso, malinterpretó la teología incaica. De esta manera, confundieron las dos etapas precolombinas, la pre-incaica y la incaica (ZAMORA, 2018, p. 88). Esta torre de Babel llevó a que los españoles confundieran a los Incas y los interpretaran como hacedores de los actos barbáricos antes señalados. El autor de los Los comentarios sostendría que los españoles no serían buenos conocedores de la religión e historia incaicas sino, más bien, que habrían carecido de los conocimientos para comprenderlas. Las consecuencias de esta afirmación de Garcilaso se vuelven preocupantes para la España católica e imperialista: al no poder conocer bien a otras culturas, la labor evangélica se dificulta, con lo que se corre el riesgo de que los nativos vuelvan a los cultos pre-incaicos, según demuestra Zamora.
Providencia y mundo andino
¿Cuáles serían los riesgos de una vuelta a las creencias pre-incaicas, además de los sacrificios humanos o de la antropofagia? Al establecer su rol como “traductor” entre culturas, Garcilaso establece una cronología que comienza con aquellos pueblos barbáricos, seguida por la expansión de la civilización cusqueña como foco que irradia un proto-cristianismo y, por último, la venida del cristianismo propiamente dicho. La diferenciación entre etapas en el período precolombino ya había sido llevada a cabo por otros cronistas. La sagacidad garciliana se funda en conectar esas etapas con la actual, la cristiana. Estas tres fases se encuentran unidas gracias a la providencia divina, es decir, hay una intervención divina para arrancar a los indígenas de su período desgraciado hacia uno civilizado. De esta forma, el período incaico no es algo anecdótico sino crucial para la pacificación de los indígenas y su preparación para el evangelio. Ahora bien, los españoles, al confundir ambas etapas, persiguen las costumbres incaicas y terminan erosionando el eslabón de esa cadena que conectaría al cristianismo. Como indica Zamora, “para Garcilaso la idea de una teología monoteísta inca está unida a su presentación del Tahuantinsuyu como praeparatio evangelica, lo que le garantiza, a la civilización inca, un lugar de privilegio en la historia cristiana” (ZAMORA, 2018, p. 137). La autora explica que la presentación de una religión amerindia proto-cristiana o proto-monoteísta es una estrategia de Garcilaso para presentar, al Cuzco y a sus gobernantes, como piezas importantes de la historia universal y como propagadores del monoteísmo y no como idólatras y tiranos. De esta manera, lo que han perdido los españoles es la posibilidad de cristianizar por métodos pacíficos a los indígenas, porque no han comprendido el rol del Cuzco como foco civilizador ni que Pachacámac, en realidad, no haya sido el diablo sino una intuición racional del verdadero Dios cristiano. Al perseguir el culto inca en vez de guiarlo hacia el cristiano, los indígenas se refugian en viejos dioses. Esto indica dos cosas: un atraso para los planes evangelizadores (los cristianos sabotean su propia misión), pero, además, según Zamora demuestra de manera lúcida, el hecho de que Garcilaso da a entender que los Incas civilizaban sin perseguir otros cultos, es decir, la autora evidencia una de las tantas críticas veladas hechas por el cronista.
Utopía pero con topos
Uno de los puntos más fuertes del libro Lenguaje, autoridad e historia indígena en los Comentarios de los Incas radica en la profundización del concepto de utopía en el Inca Garcilaso, mencionado por varios estudios pero no profundizado. Para comprender los alcances de este concepto, Zamora desarrollará la propuesta de Tomás Moro y su Utopía para luego mostrar su articulación en los Comentarios reales. Como ella señala, Utopía es un “modelo político de una civilización americana imaginaria” (ZAMORA, 2018, p. 149). De esta forma, el gobierno perfecto que diseñó el inglés sirve como modelo para el Inca. La diferencia está en que, para el primero, era una proyección mientras que, para el segundo, algo real y concreto, anclado en la historia. Pero el uso que hará el cronista peruano irá más allá. Según Zamora, el Inca realizó una traducción, pero no en el sentido que habitualmente se le da. Ella citará al lingüista y crítico literario Roman Jakobson, quien propone una traducción intersemiótica, es decir, un concepto que sea común a ambas culturas (la utopía, en este caso), a fin de poder explicar a los europeos lo que fue el Tahuantinsuyu (ZAMORA, 2018, p. 154-155). De esta forma, Zamora no se contenta con señalar que estamos ante un discurso utópico sino que explica cómo opera este concepto renacentista en la crónica y con qué fines es utilizado.
Para concluir, la traducción de Lenguaje, autoridad e historia indígena en los Comentarios de los Incas, realizada por Juan Rodríguez Piñero y Vanina Teglia, acerca, al mundo hispanohablante, un libro necesario para seguir pensando la obra garciliana y para cuestionar y profundizar algunas perspectivas trabajadas por otros críticos, centrándose en las estrategias discursivas que realizara Garcilaso para construir su autoridad ante los cronistas con los que está polemizando. Un libro que reabre nuevas discusiones sobre el cronista mestizo en cuanto a los usos de las tradiciones humanista y cristiana.
Referências
LA VEGA, Garcilaso de. Comentarios Reales. Lima: Editorial Mercurio, 1970 [ Links ]
ZAMORA, Margarita. Lenguaje, identidad e historia en Los comentarios reales de los Incas. Lima: Latinoamericana Editores, 2018. [ Links ]
ZAMORA, Margarita. Language, Authority, and Indigenous History in the Comentarios reales de los Incas. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. [ Links ]
1Traducción al español de la edición de Cambridge: Language, Authority, and Indigenous History in the Comentarios reales de los Incas, Cambridge University Press, 1988
Nicolás Aizenberg. Estudiante de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y adscripto a la cátedra Literatura latinoamericana I (cátedra Colombi) de la misma universidad con un proyecto de investigación sobre “El Inca Garcilaso de la Vega y su visión pesimista del Perú colonial”, dirigido por Vanina Teglia. Ha participado como expositor de varios congresos de literatura colonial. E-mail [email protected].
História do Direito | UFPR/IBHD | 2020
A Revista História do Direito – Revista do Instituto Brasileiro de História do Direito (Curitiba, 2020), publicada pela Universidade Federal do Paraná em conjunto com o Instituto Brasileiro de História do Direito, é um periódico científico semestral destinado à publicação de textos de excelência na área de História do Direito e ao aprofundamento do diálogo com áreas afins.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
Ideias para adiar o fim do mundo / Ailton Krenak
 Ailton Krenak / Foto: Fondation Cartier /
Ailton Krenak / Foto: Fondation Cartier /
O livro de Ailton Krenak, estruturado em três capítulos referente a palestras e adaptação de uma entrevista realizada em Lisboa – Portugal, configura-se enquanto uma excelente ferramenta de auxílio para o questionamento do desenvolvimento moderno e a sua humanidade. O autor indígena, oriundo do povo Krenak que se territorializou na região do Vale do Rio Doce, além de produtor gráfico e jornalista dedicou-se ao ativismo do movimento socioambiental e dos direitos dos povos indígenas, sendo lembrado muitas vezes pelo seu discurso proferido na Assembleia Constituinte de 1987, aonde, protestando pintou seu rosto com tinta de jenipapo como expressão do luto ao massacre dos povos indígenas legitimado pelo retrocesso dos direitos das comunidades tradicionais.
Seu livro “Ideias para adiar o fim do mundo” objetiva realizar uma discussão sobre os impactos das ações que imprimimos no planeta terra orientados pela cosmovisão de que somos seres separados da natureza, retroalimentando uma autodestruição, que não é compreendida pela ideia de humanidade construída pela modernidade eurocêntrica. Sendo assim, os povos tradicionais, compreendidos como sub-humanos pela modernidade, são compreendidos pelo autor como uma alternativa a lógica de autodestruição e exploração excessiva da natureza. Leia Mais
Alteridades em tempos de (in)certezas / Miriam Hermeto, Gabriel Amato e Carolina Dellamore
A história imediata nos ajuda a pensar algumas razões do estado atual das coisas. Tenho pesquisado, desde dezembro de 2019, o fenômeno da emergência e organização de policiais organizados em um movimento antifascismo, acompanhando debates públicos e realizando entrevistas com os sujeitos envolvidos. Para executar essa tarefa é preciso uma postura sensível aos anseios desses profissionais da segurança pública (policiais militares, civis e federais, guardas municipais, bombeiros, agentes penitenciários, peritos, etc.), expressos nos seus posicionamentos públicos sobre os rumos das polícias e das políticas de segurança pública no Brasil e sobre o avanço de estruturas políticas que favorecem a disseminação de práticas fascistas. Refletir sobre o tempo presente e sobre as dinâmicas que contribuíram para a configuração política do presente, disso que Wendy Brown (2019) chamou de Frankenstein gerido pelo neoliberalismo, é uma tarefa que demanda uma escuta sensível, um olhar sensível, uma atenção com o mundo. Escutar o outro em tempos dissonantes e incertos como o nosso, demanda um trabalho de reconfiguração das nossas certezas e de nossas incertezas epistemológicas.
É exatamente este o convite dos organizadores do livro Alteridades em tempos de (in)certezas: escutas sensíveis, Miram Hermeto, Gabriel Amato e Carolina Dellamore, na introdução à coletânea. Os autores são, respectivamente, coordenadora e membros do Núcleo de História Oral da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais (FAFICH-UFMG) e são pesquisadores de temas caros ao tempo presente: sindicalismo industrial, políticas públicas para a juventude, teatro e arte no período da ditadura civil-militar. A organização do livro se deu pela participação dos autores na comissão local do XII Encontro Regional Sudeste de História Oral – Alteridade em tempos de (in)certeza: escutas sensíveis, em Belo Horizonte, no ano de 2017, ocasião em que foram responsáveis pelo planejamento da programação das mesas redondas, conferências e atividades ao longo do evento.
A coletânea é a reunião dessas falas pronunciadas por pesquisadores, de formação múltipla, nos auditórios da UFMG, mas também em outros espaços públicos, como o Museu de Arte da Pampulha e a Casa de Referência da Mulher Tina Martins. A história oral e, especialmente, o problema da escuta sensível, nos são apresentados de modos distintos nesse livro: reflexão sobre acervos, memória e identidade, alteridade e espaço urbano, a entrevista como prática social e coletiva, as estratégias de organização individuais e coletivas, o oral e o audiovisual na construção de sentidos, a urgência da participação da história e das(os) historiadoras (es) no debate público, a publicização de experiências de vidas que demandam cuidado e atenção e a reflexão sobre percursos biográficos ligados à própria história da pesquisa em história oral.
Na introdução, o livro é dividido em três grandes conjuntos de textos: alteridade como marcador das possibilidades da entrevista de história oral; “problematizações de identidades de minorias políticas”; e “escutas sensíveis diante das diferenças”. Ana Maria Mauad abre o primeiro grupo de texto com um artigo que analisa a questão indígena na obra fotográfica de Claudia Andujar, analisando seu trabalho a partir da categoria de fotografia pública, associando-a com “uma dimensão crítica e (…) dialética” (p. 25). O engajamento público de Andujar na causa indígena se deu, também, pelo movimento de inclusão da comunidade Yanomami como parte desse público e também como partícipe da narrativa pública sobre os sentidos das imagens. A confiança é a base dessa relação pública com a questão indígena, assim como a relação entrevistador-entrevistado.
O segundo texto, de Mario Brum, aprofunda o problema da relação entre fatos e representações, abordado por Alessandro Portelli, ao analisar as representações sociais e as identidades em torno da construção da favela da Cidade Alta (e seus entornos) na cidade do Rio de Janeiro. O estigma dos “removidos” da região central para a Cidade Alta, marcou “toda a trajetória posterior do conjunto” habitacional, seja a partir do silenciamento, seja pela diferenciação social com outra categoria, a dos “inseridos”. Em seguida, Luciana Kine e Emilene Souza apresentam reflexões metodológicas para lidar com narrativas de vida ligadas a “tópicos sensíveis”, em especial jovens vivendo com HIV/aids. A multiplicidade das experiências de vida que giram em torno de “temas delicados”, remonta à ideia de calidoscópio narrativos e conduz a uma reflexão ética sobre a relação entrevistado-entrevistador e a condução partilhada do processo de narrar e da elaboração do produto final da pesquisa. No caso, as autoras exploraram uma metodologia de embaralhamento das histórias, “estratégia ética, estética e política” que possibilitou a discussão de “experiências do cotidiano” (p. 50) e criou uma alternativa para superar os limites do sigilo, e do constrangimento. Os diálogos possibilitados por essa metodologia reafirmam um posicionamento epistemológico da “pesquisa como prática social [e] ação coletiva” (p. 54).
Abrindo o segundo conjunto de textos, Valéria Barbosa de Magalhães e Luiz Morando, apresentam, respectivamente, duas reflexões sobre migração e sociabilidade da comunidade LGBT(QIA) em espaços e situações distintas. O primeiro texto apresenta pouca reflexão propriamente dita em relação às entrevistas, mas propõe uma indagação fundamental sobre a relação entre sexualidade e migrações em contextos políticos conturbados, como a eleição de um governo autoritário no Brasil. Magalhães apresenta, muito atenta aos anseios e às experiências de migrantes brasileiros LGBT na Flórida (EUA) na última década, a mudança das “estratégias de legalização no exterior” e a apreensão que o cenário político produziu nas expectativas de vidas desses sujeitos. Seu trabalho desloca o objeto da pesquisa sobre imigração e sexualidade do campo dos problemas de saúde e da exploração sexual, interrogando outros modos pelos quais a imigração relaciona-se com a sexualidade para além do negativo.
Já Morando, apresenta uma reflexão sobre identidade e diferença, analisando representações identitárias de homens gays em relação à memória e à suas experiências em espaços de sociabilidade LGBT em Belo Horizonte, entre 1960 e 1980. O texto faz uma divisão analítica de duas formas imbricadas de lidar com essa memória, percebidas pelo pesquisador em suas entrevistas: a romantização do passado e o ceticismo em relação à experiência dos clubes noturnos da capital mineira. O gozo e a descrença apresentaram-se como faces do mesmo problema: o prazer e o desconforto de lembrar as vivências do passado. Se o estabelecimento da diferença e da identidade implica em distanciamentos temporais, tricotar – “fazer um tricô”, ou seja, estabelecer um diálogo – figura como uma alternativa para o isolamento social de gerações mais novas em relação à vivência de gerações anteriores.
O historiador Amilcar Araújo Pereira, apresenta um belo estudo sobre a luta e a formação dos movimentos negros no Brasil, organizados durante a ditadura militar. Surgida a partir de reuniões em bairros, universidades, ou grupos de teatro, no Nordeste e no Sudeste, a militância negra brasileira se caracterizou pela pluralidade de perspectiva, pelas diferenças regionais, geracionais e ideológicas. Apesar dessas diferenças, Amílcar Pereira, buscou demonstrar a importância das redes estabelecidas pelos militantes, que criaram conexões e espaços de experiência compartilhadas por diferentes grupos. A proposição no final da década de 1970, de organização do movimento por rede, teve como norte o fortalecimento e o estímulo de formação de lideranças. Já o artigo de Samuel Silva Rodrigues de Oliveira e Roberto Carlos da Silva Borges aborda o problema do audiovisual como parte do projeto de construção narrativa sobre o passado e o imaginário da cultura negra, contribuindo para uma educação antirracista no Brasil. Os autores estão interessados em investigar o “estatuto de testemunho” em torno da produção audiovisual sobre e da cultura negra, no sentido de problematizar o “funcionamento da memória” que funda “imaginários individuais e coletivos” (p. 106). Os vídeos analisados, produzidos em diferentes instâncias, representam formas heterogêneas de “contraponto à ideologia da branquitude” que sustenta as relações étnico-raciais no Brasil (p. 118).
Finalmente, o terceiro grupo de artigos apresenta diferentes abordagens metodológicas da pesquisa com a alteridade. As demandas dos policiais militares contidas no acervo “Tropas em Protesto”, que reúne narrativas de policiais, tendo como ponto de partida o movimento das praças das polícias desde 1997, ficaram silenciadas na década de 2010, especialmente após o arquivamento da PEC 21/2005, que previa a desmilitarização das polícias estaduais. Juniele Almeida argumenta a necessidade urgente de retomar o debate público em torno da desmilitarização das polícias. As “tensões históricas”, que esse debate faz emergir, correspondem à ideia de pertencimento à corporação e, ao mesmo tempo, aos movimentos contestatórios da estrutura militarizada das polícias brasileiras. Até hoje, essas tensões podem ser representadas a partir de três grandes dimensões que norteiam a urgência da redefinição do papel da polícia em um estado democrático: “o discurso institucional militarista, os problemas em segurança pública [da sociedade brasileira] e as questões trabalhistas dos servidores públicos” da segurança (p. 122).
A historiadora Marta Gouveia de Oliveira Rovai, com sua sensibilidade ímpar, tece uma reflexão muito provocativa sobre um conjunto de memórias de mulheres que nos ensinam novas “formas de entrevistar e de registrar narrativas” (p. 141) e nos impulsionam para uma nova concepção de conhecimento histórico, compromissado com uma “escuta atenta” (p. 151). Em atenção às vidas que pedem cuidado e reparação, a autora propõe uma postura de amorosidade do pesquisador diante da “intolerância” e dos silenciamentos que atravessam as vidas de mulheres. A história oral como espaço de reinvenção da existência, como espaço de audiência – e não de análise – segue sendo uma possibilidade de compromisso ético do pesquisador, uma “escuta atenta” – e não promessa de remissão – capaz de intermediar outras possibilidades de construção de um mundo mais humano.
Rodrigo Patto Sá Motta nos brinda com uma reflexão sobre o uso de fontes orais em suas pesquisas sobre as universidades durante a ditadura e as surpresas advindas desse processo, contribuindo, inclusive, para incorporação do conceito de acomodação para leitura dos arranjos sócio-políticos no período (p. 158). A emoção do pesquisador ao entrevistar intelectuais importantes para o campo das ciências no Brasil, em especial na área de Ciências Humanas, e a emoção dos indivíduos ao receber informações pessoais por parte do pesquisador, contribuíram para mudanças dos sentidos da pesquisa. Proporcionando o redimensionamento dos problemas de pesquisa a partir do confronto entre diferentes documentos, por um lado, e a reapropriação e ressignificação dos objetivos da pesquisa por parte dos sujeitos entrevistados. O conceito de acomodação, como lembra Motta, não se pretendeu um modelo perfeito, mas visou apresentar uma explicação aos eventos da ditadura a partir de evidências que emergiram na pesquisa em história oral, aprofundando o debate e nos convidando para possibilidade de transformação, criando e mobilizando outros jogos que não o das acomodações (p. 162-163).
Encerrando o volume, o pesquisador Ricardo Santhiago apresenta uma reflexão sobre a trajetória biobibliográfica de Ecléa Bosi e sua contribuição para a formação do campo da história oral no Brasil. A trajetória intelectual de Bosi nos convida a uma reflexão sobre “a capacidade humana e humanizadora do exercício da escuta” como prática de formação dos jovens pesquisadores (p. 175). Os conselhos, as indicações e as sugestões de Ecléa Bosi emergem como elementos metodológicos. Ao invés da rigidez das normas, a atenção, a afetividade, a criatividade, a sensibilidade. A partir das reflexões iniciais em sua tese de doutorado, o autor argumenta a importância seminal do trabalho de Bosi para o campo da história oral brasileira, de onde se desabrocharam diferentes frutos, com pesquisas atentas “à memória, à linguagem”, a partir da “empatia, curiosidade e pluralismo” (p. 177).
Gostaria de ressaltar que há uma dissonância no ritmo de leitura do livro, pois cada capítulo corresponde a uma dimensão da pluralidade da pesquisa em história oral. Levando em consideração os itinerários formativos das(os) pesquisadoras(es), essa dissonância longe de significar um problema, torna-se potência para o contato do leitor com uma gama de leitura polissêmica sobre as possibilidades de escutar o outro de modo sensível sem abandonar o rigor metodológico. Miriam Hermeto, Gabriel Amato e Carolina Dellamore nos brindam com um livro plural que retoma o antigo problema da relação pesquisador-entrevistado, apresentando contribuições proveitosas e polêmicas para a pesquisa em história oral (que por sua vez, é preciso dizer, não é metodologia, campo ou área exclusivos de historiadores).
A multiplicidade de abordagens e perspectivas dos artigos do livro, que se configura como um desafio para toda coletânea, funciona como uma postura necessária diante do desafio de se produzir conhecimento sobre o tempo presente. Mais do que mera alegoria, essa multiplicidade é, ao mesmo tempo, unidade em diferença e múltiplo nas identidades. As bases epistemológicas para imaginar outras formas de relação de poder, implicam em diálogos mais profundos e em escutas mais sinceras entre diferentes áreas do conhecimento. O livro em questão é resultado de um refinado trabalho de seleção e de enfrentamento de questões políticas e epistemológicas desse tempo imediato. De tudo ficam algumas questões: Estamos preparados para escutar o outro? Até que ponto conseguimos realizar a escuta do diferente? Em tempos de monstruosidades políticas típicas do fascismo, ou do que Traverso (2019, p. 19) chama de pós-fascismo – enfatizando as continuidades e transformações históricas do fenômeno – até quando teremos forças e disposição para ouvir quem não admite escutar? Como restabelecer o diálogo – em que a arte da escuta (PORTELLI, 2016) é o centro dessa relação – em um mundo que nasceu e da implosão das noções do “comum” e da “democracia”, das próprias “ruínas do neoliberalismo” (BROWN, 2019)?
Referências
BROWN, Wendy. Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no Ocidente. São Paulo: Politeia, 2019.
PORTELLI, Alessandro. História oral como arte da escuta. São Paulo: Letra e Voz, 2016. (Coleção Ideias).
TRAVERSO, Enzo. The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right. Translation David Broder. New York/London: Verso., 2019.
Lucas Carvalho Soares de Aguiar Pereira – Doutor em História Social (UFRJ). É professor do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Betim. Atualmente, faz residência pós-doutoral na UFF, investigando o debate público promovido por e em torno dos policiais antifascismo. E-mail: [email protected].
HERMETO, Miriam; AMATO, Gabriel; DELLAMORE, Carolina (Org). Alteridades em tempos de (in)certezas: escutas sensíveis. São Paulo: Letra e Voz, 2019. 180p. Resenha de: PEREIRA, Lucas Carvalho Soares de Aquiar. A escuta do outro em tempos dissonantes. Canoa do Tempo, Manaus, v.12, n.1, p.457-463, 2020. Acessar publicação original. [IF].
Sobre a tirania: vinte lições do século XX para o presente / Timothy Snyder
No pensamento político moderno, coube a Nicolau Maquiavel expor a importância de compreender a natureza da tirania. O pensador florentino desferiu suas argutas críticas ao príncipe bárbaro, inimigo das artes, destruidor das religiões, inimigo das letras e da virtù. Nesta análise, Maquiavel prorrompeu seu julgamento ao qualificar o tirano numa espécie de licencioso, oposto ao homem político, em que a virtù opera nele práticas violentas, mas ele não se deixa cegar pelo poder ao ponto de perder de vista a glória e o reconhecimento dos homens. Não me parece distante pensar nas questões da tirania contemporânea aos problemas diagnosticados pelo autor de O príncipe.
Daí a importância da reflexão do historiador Timothy David Snyder, a respeito da tirania no século XX como lição para o presente. Assim, pensar o impacto histórico dos regimes tirânicos ao longo do último século, tornou-se um ato ético, pois os inúmeros revisionismos historiográficos dos regimes de exceção, sinalizam para a urgência inequívoca deste objeto de estudo. Inclusive ao pensar “o longo século XX”, que inaugurou aquilo que Walter Benjamin denominou de “estado de exceção” permanente. E que também, Hannah Arendt ao tratar dos totalitarismos, vinculou as violações aos direitos humanos enquanto instrumentos de violência onipresentes; estes totalitarismos também foram utilizados, com frequência e insistência, na modernidade nas irrupções das guerras mundiais e revoluções (ARENDT, 2013, P. 11-13). Aqui seria oportuno pensar e atualizar as sincronias inferida por Arendt no prefácio do livro Origens do Totalitarismo (1950), em que denominou de “otimismo temerário” e, também, no “desespero temerário, os seus sentimentos políticos do mundo pós totalitarismo. Leia Mais
Rhetoric turn and medieval history: a look into europe and usa / Brathair / 2020
That historiography is indebted to a «linguistic turn» may today be taken for granted, and appears to be almost banal. Historiographic essays, methodological introductions, disciplinary discussions describing the developments of European and American historiography in the second half of the twentieth century, all of them agree in identifying an important turning point in the 1960s, the time when research began to be increasingly influenced by linguistic and language studies. The same thing is true in practice, given that no good research today would be conceivable without a thorough analysis of textual construction of its written sources1. Instead, less well known and therefore less obvious is to affirm that between that «linguistic turn» and today‘s research there have been further moments of development and reflection, which have led to refine methodologies, rethink some basic assumptions, extend the scope of some acquisitions to disciplines so far remained at the margins of those developments. This is the case of the intellectual phenomenon known to various scholars as the «rhetorical turn».
What is the «rhetorical turn»? Basically, it is an awareness of the limits of objectivism and materialism that, starting from the Enlightenment, influenced, and in some cases structured, many scientific, social and humanistic disciplines. Some scholars, mostly American social scientists strongly influenced by European intellectuals such as Jacques Derrida and Roland Barthes, realized that scientific communities are influenced by appeals to auctoritates, traditions, conventions, intuitions, anecdotes and aesthetic care no less than by those rigid formal and deductive logics and by those sets of impartial data that we are still used to associating with scientists today. Following Thomas Kuhn in his The Structure of Scientific Revolutions, they realized that very often those scientific communities look much more like religious groups than detached intellectuals with brilliant minds; likewise, those scientific revolutions and paradigm shifts are much more like religious conversions than carefully considered and well-reasoned shift in scientific practices2. Such an awareness has thus generated particular attention to mechanisms of persuasion that make knowledge changes possible. In other words, it put rhetoric at the center of the debate. «What can rhetorical theory teach us about how to adjudicate among competing values, or prescriptions, or knowledge claims?». This is the question those scholars have posed to themselves and to their colleagues, near and far. Guided by Herbert W. Simons, they were thus able to identify a real «rhetorical turn» in the «growing recognition of rhetoric in contemporary thought, especially among the special substantive sciences. It means that the special sciences are becoming increasingly rhetorically self-conscious»3.
As they matured such reflections, which came together in a volume published in 1990, those scholars were well aware that they had not created that phenomenon but, more simply, they realized that they had revealed an intellectual movement that had begun some time earlier but was particularly evident at that moment. One of them, Dilip Parameshwar Gaonkar, has effectively identified a double dimension in this turn. On the one hand, an explicit dimension coincides with the work of those who have explicitly recognized the relevance of rhetoric for contemporary thought and have used rhetoric as a critical and interpretative tool. On the other hand, an implicit dimension concerns production and reflection of all those who were little aware of the rhetorical lexicon and on disciplines inherent in communication, but even so recognized the importance of formal and persuasive aspects of the discourse starting from problems internal to their specific disciplines, no matter whether scientific or humanistic. According to Gaonkar, the internal dimension is much more important than the external one, due to the empirical processes that characterize it and involve, not only philosophers and experts in literary theory and criticism, but also scholars like Walter J. Ong and Tzvetan Todorov: perhaps not all will agree in defining them as historians à part entière but, of course, all will agree in affirming that they have practiced historical research4.
The presence of history in the «rhetorical turn» is not surprising for two reasons. The first reason is that the vast majority of sources that historians have to deal with are usually elaborated by one or more senders for one or more recipients, with the aim of persuading the latter to do or to accept something. This persuasive dimension is clearly present in written sources, but it is also present in the visual ones, which in fact have been well valued from this point of view by many scholars, on top of which is Peter Burke5. The second reason is that rhetoric, i.e. «the study and practices of persuasion»6, «l‘art de persuader et la science du bien dire»7, often tends to have parasitic relations with other disciplines. It therefore finds a particularly suitable host in the prismatic and multidisciplinary dimension of history.
But what exactly did the «rhetorical turn» mean for historians and particularly for historians of the Middle Ages? One could speak in general of a double movement, which became evident starting from the early 1990s and decidedly accelerated in the last ten years. On the one hand, rhetoric has acquired a deeper and a more concrete temporal and contextual dimension thanks to a new narrative: it is no longer a technique promoted by the Greeks in Antiquity, interrupted during the Middle Ages and recovered by Humanism, but a discipline that has transformed from Antiquity to present day according to a continuum rich in nuance and to temporal, cultural and social variations. On the other hand, like other disciplines, even as history, after having long despised rhetoric, because it is opposed to the Enlightenment scientific methodologies, research has returned to dialogue with it by acquiring new research tools useful both for analyzing and questioning sources and for constructing its own discourses. Medieval history, and medieval history of Europe in particular, played an important role in this evaluation. Given the intense relations between history and diplomatics, i.e. the discipline that studies historical documents from a formal point of view, it could be said that in a certain sense medieval history was more ready than other disciplines to accept rhetoric. In addition to this, medieval European history has played a pivotal role in ‗unlocking‘ the historical dimension of rhetoric. As I said, until the last quarter of the twentieth century the dominant narrative was that of an «art of persuasion» very widespread in Antiquity, but which vanished in the Middle Ages and was rediscovered by humanists at the beginning of the Modern Era. Nothing could be a greater falsehood, and historians have well noticed it: in the Middle Ages, rhetoric pervaded many areas of human action, starting from the teaching of systems of rhetoric, passing through the writing of documents and literary works up to liturgy, preaching, assemblies and so on. After all, the articles published in this dossier of Brathair are all indebted to this revaluation, and on their own make a significant contribution to it. Since – except for my mistake – a reflection on these developments in European and American medieval history has not yet been produced, I believe it is useful in these pages to propose a brief illustration. It could constitute a first historiographic orientation on the subject. I need to anticipate that it is not possible, in this case, to establish a direct derivation of these researches from the explicit awareness summarized in the American volume published in 1990. We deal, rather, with a complex, composite process, rich in nuances and also developed, in many cases, from reflections internal to the discipline or to a single research itinerary. Nevertheless, the spread of historiographic topics appears to be coherent to the point of suggesting a real cultural movement. Given their international dimension, I will focus on historiographical fields rather than on individual national historiographies.
A point that is common to all areas, with USA in advance compared to Europe, is the extension of the rhetoric object to historical disciplines starting from literary, philosophical and social disciplines. The first historiographical areas that have benefited from this extension are Renaissance Italy and Byzantium. The reason is quite clear: Renaissance Italy explicitly recovered the rhetoric of the Greco-Roman period, whereas Byzantium is the direct heir of the Greco-Roman structures from which rhetoric was born. But, from there, its extension covered several other areas of Europe, in particular France, Germany, England and Spain — first in the late medieval period, more recently in the early and high medieval ones. In most of these researches, rhetoric was part of a binomial, that is, it was observed in relation to other aspects of human action, but one can also observe a development of rhetoric as a specific object of historical research.
Among the more in-depth topics there is undoubtedly the relationship between rhetoric and politics, directly derived from the late twentieth-century research on ideologies and propaganda in the Middle Ages. Beyond Byzantium, the research focused mainly on communal Italy and on the struggle between the German empire and the papacy in the thirteenth century. The studies on communal Italy were inaugurated by Enrico Artifoni, who, in the 1990s, sparked the attention of political historians towards characters and texts that had been totally ignored until that moment, as is the case of Boncompagno da Signa, Albertano da Brescia and their works. At the same time, Artifoni showed that political practices of thirteenth-century Italy were pervaded by the art of the word, to which Italians were educated through handbooks of ars dictandi and ars arengandi. After him, Enrico Faini, Lorenzo Tanzini and Florian Hartmann further articulated the reflections by extending them to the entire communal period (twelfthfourteenth centuries) and bringing a magnifying glass closer to the specific relationships between city assemblies, rhetorical education of participants, epistolary and historiographical production. Research on empire and papacy also used similar methodologies: after reflecting at length on ars dictaminis, Peter Herde, Laurie Shepard and Benoît Grévin showed that from the thirteenth century the rhetorical dimension of public epistolary production, i.e., the production of documents that were read aloud in assemblies, was at the center of ideological and political constructions of the two institutions and more generally of the greater European monarchies. More recently, Mayke de Jong has explored France during the Carolingian era, drawing attention to the relationship between the polemical intellectual production of the monk Radbert, his rhetorical strategies, his audience, and the consent towards sovereigns during the ninth century8.
A topic closely linked to the political one is the relationship between rhetoric and documentary production. Reflections on rhetorical aspects of medieval documents took shape even before the «rhetorical turn», thanks to diplomatic studies that started with Heinrich Fichtenau, if not earlier, focused on the more literary sections of public documents such as the arengae. The intersection between these older studies and the new rhetorical awareness has meant that, from around 2000, not only researchers in diplomatics but also historians dealt more systematically with the persuasive dimension of medieval written sources. Starting from a complete re-evaluation of sources such as the epistles, these scholars have understood that, within medieval chanceries, notaries and officers sought the maximum effect of rhetoric for their texts, with the help of tools such as literary manuscripts of classical authors and, above all, model-letter collections. Furthermore, that rhetoric effect found its raison d‘être in the public reading of documents in highly ritualized contexts, such as assemblies. The ancient and resistant barrier between diplomatics / history and literature has thus begun to crumble. At the heart of these reassessments are the studies of Benoît Grévin and Fulvio Delle Donne, but important steps have also been produced thanks to collective works, such as a French one on the language of Western and Byzantine acts or an Italian one on epistolary correspondence in Italy. The most investigated documentary productions are those of the papacy and the empire between the twelfth and fifteenth centuries, but recently there have been many new openings: Maria Isabel Alfonso Anton and David Aller Soriano have studied the Spanish fueros between the eleventh and thirteenth centuries, Brigitte Resl the twelfth-century Italian cartularies, Adele di Lorenzo the Italian Greek acts of the Norman period, Dario Internullo the communal epistles of Rome, Pierre Chastang and François Otchakovsky-Laurens the thirteenth-century statutes of Marseille, Adrien Roguet the French and German documents of the twelfth century, Thomas W. Smith, Matthew Phillips, Helen Killick, Linda Clark and others the English petitions and documents of the thirteenth-fifteenth centuries, Benoît Grévin and Sébastien Barret the French royal acts in the fourteenth century9.
Moving on the relationship between rhetoric and groups, first of all, one should note that already in the early 1980s there was in Italy a conference on the relationship between rhetoric and social classes. Since the 1990s the discourses have developed further, on the one hand around the formation of ethnic-religious groups, as is the case of the early medieval Bulgarians studied by Lilia Metodieva, or the late medieval Georgian church studied by Barbara Schellewald; on the other hand, around the construction of social groups or genders. Vincent Serverat, in the footsteps of Georges Duby, has studied the rhetorical construction of social classes in Castile, Catalonia and Portugal through a corpus of over 400 texts; François Menant and Enrico Faini explored the concept of populus in Italy and Europe between the eleventh and thirteenth centuries, coming to the conclusion that, even before a social class, populus designates a political program aimed at framing urban and rural communities within precise institutional frameworks, first episcopal and then municipal; Francesco Stella revealed a cultural circuit between teachers of rhetoric, hagiographic production and the emergence of civic identity in the communal cities of Bologna and Arezzo between the twelfth and thirteenth centuries. As far as genres are concerned, the development of research around late medieval women, especially those of higher social level, is truly remarkable: this is the case for instance of the studies led by Liz Oakley Brown and Louise J. Wilkinson on the rituals and rhetoric of queenship between the Middle Ages and the Modern Era, those of Rüdiger Schnell on the relationship between gender and rhetoric in the Middle Ages and in the early Modern Era, or those of Nuria Gonzalez Sanchez, Jane Couchman, Ann Crabb on the rhetoric, persuasion, and female epistolography at the end of the Middle Ages10.
Another particularly practiced theme concerns the relationship between rhetoric and images. Although already practiced by Jacob Burckhardt and Johan Huizinga, historical studies on images have greatly benefited from the twentieth-century reflections on photography, more generally on images, creating in the 1990s a fruitful field of study. I refer here to the works that explicitly use the concept of rhetoric in their research on images: Suzanne Lewis studied the narrative rhetoric of Norman Bayeux tapestries; Thomas Dittelbach and Beat Brenk studied paintings and sculptures of the palatine chapel in Palermo during the Norman period; Nirit Ben-Aryeh Debby and Marco Folin focused respectively on the persuasive aspects of the «images of the Saracens» and on the civic functions of buildings an monuments in Florence in the late Middle Ages; Olga Perez Monzon, Matilde Miquel Juan and Maria Martin Gil have contextualized and unveiled the rhetorical construction of the funeral monument of Alvaro de Luna (†1453) in the cathedral of Toledo, a monument aimed at redeeming the memory of a Spanish officer who was publicly killed under the accusation of sorcery; Mary Carruthers led a collective work on medieval artistic production (lato sensu) aimed at applying the concept of performance to authors and public, as well as at reflecting on the persuasion strategies implemented by ‗non-verbal‘ enterprises such as the architectural, figurative, musical and liturgical ones, with particular attention to late medieval France and England. As I said, these are the most aware studies of the rhetorical dimensions of images and monuments, but there are many researchers who have used similar methodologies. In addition, especially in Germany and France, there have been several collective reflections on the «rhetoric of images» in the Middle Ages11.
The encounter between rhetoric and religious history was fruitful as well. In this sense, the research focused above all on the relationship between rhetoric and preaching. Some seminal ideas seem to have come from French historiography around Jacques Le Goff between the late 1970s and the 1980s: a collective work published in 1980 focused on the rhetorical exemplum as a basis for investigating the histoire des mentalités between Antiquity and the Middle Ages, which was followed by a work by Le Goff himself on the relationship between exemplum and the rhetoric of preaching. Also in this case the 1990s witnessed to a growth in intensity of such research: starting from those early French works Nicole Bériou explored the persuasion of late medieval preaching in France with dozens of articles, recently collected in a volume; Bériou led together with Jean-Patrice Boudet and Irène Rosier-Catach a collective research on Le pouvoir des mots au Moyen Âge, focused on virtus verborum in the most diverse cultural practices of the Middle Ages, from preaching to theological writing, from miracles to curses up to magic; Michael Menzel has published a book focusing on the rhetoric of historical exemplum in late medieval artes praedicandi and sermons; Carlo Delcorno concentrated on medieval Italian preaching from many points of view, from exemplum to ecclesiastical politics, from the literary dimension to the linguistic one; Nicolangelo D‘Acunto investigated the political rhetoric of the main actors in the Investiture Conflict, as well as in religious order in the thirteenth century; Gian Luca Potestà studied the prophetic rhetoric of the Minor Friars in relation to Gioachimism; Francesca Romoli explored the communication strategies of Slavic preachers between the eleventh and thirteenth centuries, adopting a comparative perspective that took into account both the Western world of artes praedicandi and Byzantium; Antonio Sennis dealt with the persuasion strategies of monastic supernatural visions in Italy in the eleventh and twelfth centuries; in the wake of Bériou, Christian Grasso illustrated the relationship between papal politics, preaching and the crusades in the thirteenth century; Victoria Smirnova and Marie-Anne Polo de Beaulieu reflected on the Cistercian collections of exempla in Germany during the fifteenth century12.
Such rhetorical and discursive dimensions — not only of medieval texts themselves, but also pertaining to our historiographic operation — have not passed unheeded by in the studies of scholars not strictly bound to rhetorical studies or approach. It is, par excellence, the case of Joseph Morsel, professor and researcher at the University of Paris-1 – Panthéon Sorbonne, whose theoretical reflections recover a great range of intellectual interests and topics. We should like to highlight some of his writings, specially his Le diable est-il dans les détails? L‘historien, l‘indice et le cas particulier (―Is the devil in the details? The historian, the signal and the particular case‖, 2019) and Traces, quelles traces? Réflexions pour une Histoire non passéiste (―Traces, what traces? Reflections for a non-backward-looking History‖, 2016), among many other pieces of work. Morsel is also a strong interlocutor of Flavio de Campos and Hilário Franco Júnior, along with Eliana Magnani, Daniel Russo and Dominique IognaPrat. He also has valuable essays on the matter of archives and diplomatics, in the light of historical theory, here we will mention Histoire, Archives et Documents – vieux problèmes, nouvelles perspectives (―History, Archives and Documents – old problems, new perspectives‖, 2020), but there are many others.
Although emerged from the traditional narrative (see above) the studies that have dealt with the relationship between rhetoric and Humanism are decidedly important from a historiographical point of view. Thanks to a greater awareness of the ‗historicity‘ of rhetoric, they have managed to rethink deeply that cultural movement. Among the main players in this renewal are Marc Fumaroli, Ronald Witt and Clémence Revest. Fumaroli has the merit of placing the debates on style and forms of speech, promoted by the humanists themselves in the fifteenth and sixteenth centuries, in a more concrete perspective, thus raising the awareness of many historians towards the subject. In the wake of Paul Oskar Kristeller, Ronald Witt then has rediscovered the links between medieval and humanistic culture, identifying their trait d‘union in the rhetorical style of ars dictaminis practiced by Italian notaries and teachers of rhetoric, especially those who lived in Florence and Padua. Lastly, Clémence Revest was able to retrace ex novo the entire humanist movement, using public and private letter sources and observing its expansion through stylistic networks that not only from Florence, but also from papal Rome spread first in Italy and then pervaded whole Europe, inducing intellectuals to abandon ars dictaminis for a new classicizing style based on Cicero. That style in turn would have influenced the ways of thinking culture to the point of profoundly modifying educational programs of Europe13.
Those illustrated here are of course not all the historiographical fields that were formed through the «rhetorical turn», but they are certainly the most practiced. Rather than dwelling on other developing topics, such as the relationship between rhetoric and judicial practices, rhetoric and music and rhetoric and medicine, I find it more useful to conclude on rhetoric as a historiographical theme in itself. There are two trends that can be detected in the studies of the last three decades. On the one hand, the ancient binary of rhetoric as an argument and as a method of literary disciplines has by no means vanished after the «rhetorical turn» in history. Indeed, it seems that the «rhetorical turn» has also refreshed literary studies with a new strength, as it is demonstrated by a recent volume on Dante and rhetoric, edited by Luca Marcozzi. The same can be said for studies on medieval education: given that rhetoric was part of the arts of trivium since the early Middle Ages, there are countless researches that have deepened the mechanism of learning transmission of the «science du bien dire». We should mention the most recent collective studies on medieval universities, in particular those promoted by Joël Chandelier and Robert Aurélien, involving scholars such as Benoît Grévin and Clémence Revest: they have well incorporated the most recent contributions of French historiography on rhetoric. Similarly, the most recent studies on the so-called artes poetriae, promoted by Gian Carlo Alessio and Domenico Losappio, have clearly identified the schooling and rhetoric dimension of these manuals, long neglected by research, providing further insights for eliminating the border between history and literature. On the other hand, and I come here to the second trend, rhetoric as a scientific object has not only entered with new vigor in numerous historical researches, ranging once more from Byzantium to Europe, but has also undergone an interesting transformation: research has passed from the study of the theory of rhetoric to the study of rhetoric in practice, according to a process similar to that which led political history to pass from institutions to the relationship between rulers and ruled. Particularly indicative, in this sense, are the studies promoted by Floriam Hartmann on the functions of eloquence in communal Italy; the ones by Georg Strack and Julia Knödler on concepts, practices and diversity of medieval and Renaissance rhetoric; by Benoît Grévin and Anne-Marie Turcan-Verkerk on ars dictaminis in all its forms; those by Irene van Renswoude on rhetoric of free speech from the second to the tenth century – the latter also being effective in breaking down the disciplinary barrier between Late Antiquity and the Middle Ages, highlighting historical and cultural consistency of the «first millennium» well illustrated by Garth Fowden. If we adopt this broader chronological perspective, it is finally worth mentioning the ERC-funded project coordinated by Peter Riedlberger on the late antique conciliar proceedings: being focused on rhetorical and communicative aspects that lie behind the complex manuscript tradition of the proceedings, it could provide many methodological insights to the study of political and judicial acts and speeches of the Middle Ages14.
Rhetoric Turn and Medieval History. A look into Brazil.
Notwithstanding the fact that some really good researches on Rhetoric have been carried out in Brazil in the last decades, which gave rise to some mandatory readings for students and postgraduate researchers, the field is still to be deepened. As a matter of fact, should we set up a brief archeology of Brazilian pieces of work on Rhetoric and Human Sciences, we would necessarily come across initial writings in legal and literary studies.
Indeed, the first major influences from the Linguistic Turn of the 1980s was exerted in all areas of Human and Social Sciences, especially Anthropology and Law, yet the properly called Rhetoric Turn came about recently and found a large critical fortune in Philosophy of Law. In this ballast, we can mention a prime book by Professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Law, Rhetoric and Communication (Direito, Retórica e Comunicação, 1979), which features a thought-provoking dialogue with his former mentor at the University of Mainz (Germany), Theodor Viehweg (1907-1988). Actually, Viehweg was responsible for this inaugural approach to Legal Philosophy in Topics and Jurisprudence (Topik und Jurisprudenz, 1953), by linking up Rhetoric, Dialectics and Law in a very original reflection.
Sampaio Júnior‘s work has also brought about an entire ―rhetorical‖ tradition in Legal Studies in Brazil, particularly at the University of São Paulo (USP), for which the Faculty of Law – Faculdade de Direito do Largo de São Francisco – has proved to be an actual hatchery. For instance, some significant writing on Law and Rhetoric have been put forth by José Eduardo Faria – Political Rhetoric and Democratic Ideology (Retórica Polìtica e Ideologia Democrática, 1982)
A first and not unimportant binding with History was to be perceived in Sampaio Júnior‘s work, mainly concerning the idea of History, Crisis and Politics by Hannah Arendt in her The Human Condition of 1958. Viehweg also temporally precedes all the New Rhetoric (Nouvelle Rhétorique) championed by Chaïm Perelment (1912-1984) and Lucie Olbrechts-Tyteca (1899-1987) in Treatise of Argumentation – The New Rhetoric (Traité de l‘Argumentation – La Nouvelle Rhétorique), Law and Anthropology have preceded History in terms of adopting the rhetorical method. Henceforth, the first attempts to provide History and Literary Theory with an innovative method couched in rhetorical formulation has come from Legal Philosophy.
Nevertheless, it seems that legal-philosophical and sociological approaches have been prone to reduce the manifold dimensions of Rhetoric to the sense of Forensic Oratory, which draws roots in Cicero‘s De Oratore, with few regards to Aristotle.
Soon there will be a book by Professor José Reinaldo de Lima Lopes (University of São Paulo), named Course of Philosophy of Law: Law as Practice, expected for 2021, where an entire chapter is devoted to Rhetoric. Lima Lopes‘ great merit, in our view, is his sensibility and sensitiveness to realize that Aristotle must still be looked upon as the most important auctoritas in the field of Philosophy and History. For Professor Lopes, Rhetoric could not be reduced, at all, to its oratory dimension. It is a matter of urgently retrieving its contents as the ars of producing veracity in social relationships and providing legal practice with rational and reasonable arguments and mostly the capacity to formulate truthful judgements and assertions.
Thus, his book is going to endow us with reflections that are vital both to the realms of Cultural History and History of Law, which confirms the author‘s primacy in History and Philosophy of Law in terms of Brazil and internationally. It is not at all by chance that one of the very leading historians of our time takes exactly the same pathway. In fact, in his History, Rhetoric, and Proof (The Menahem Stern Jerusalem Lectures) (Rapporti di Forza – Storia, Retorica, Prova, 1999), Ginzburg tells of the trend to approach Rhetoric through a Ciceronian view. It hinders historians and other researchers to unfold the huge heuristic potential of Aristotle‘s doctrine of Rhetoric as the art (in the sense of τέχνη) that grants us the ways to formulate proof to our speeches, i.e., the way to elaborate truthful reasoning.
Before making its way towards History in Brazil, Rhetoric were also widely influenced by Literary Studies. However, this time, the linkage to History turned out to be much more profound and fruitful. There are, to our mind, two founding names for these studies, especially regarding the medieval period, who are Professor Márcia Mongelli and Professor Yara Frateschi Vieira.
First comes a book, organized by Professor Mongelli (University of São Paulo), called Trivium and Quadrivium – The Liberal Arts in Middle Ages (Trivium e Quadrivium – As Artes Liberais na Idade Média, 1999), wherein Mongelli has written a chapter herself, entitled ―Rhetoric: the virtuous elegance of well sayinging” (“Retórica: a virtuosa elegância do bem dizer”).
Moreover, in her turn, Professor Frateschi Vieira has composed an already classic article drawing attention to the rhetorical dimensions of narrative, ―‗A Bee in the Rain‘: rhetorical proceedings of narrative‖, which was published in Alfa – Revista de Linguìstica, 16th volume, 1970.
Both scholars organized a collection of medieval writings and narratives featuring rhetorical motives and topics ranging from the 11th to the 15th century and entailing auctoritates both from Islam and Latin Christendom. Their excellent Introduction to the collection itself can perfectly act out as a detailed guidebook for rhetorical studies and maiden researches in the area, as was our own case. The collection book is nominated Medieval Aesthetics (Estética Medieval, 2001).
A colleague and friend of Mongelli and Frateschi Vieira, Professor Maria do Amparo Tavares Maleval, is as well to be regarded as a major researcher on Medieval Rhetoric, which we can promptly infer from her book Fernão Lopes and Medieval Rhetoric (Fernão Lopes e a Retórica Medieval, 2010). The three of them, Mongelli, Frateschi Vieira and Maleval, with the support of the Brazilian historian Hilário Franco Júnior, stand for the very idealizers and founding members of the Brazilian Association of Medieval Studies (ABREM), which has existed since 1996.
One specific citation is as well mandatory: a very recent piece of work by Dante Tringali (University of São Paulo), Ancient Rhetoric and Other Rhetorics (A Retórica Antiga e Outras Retóricas, 2013), which stands for a culminating moment of his research career, having succeed two other masterpieces in Brazil, i.e. The Poetics of Horace (A Arte Poética de Horácio, 1983) and Introduction to Rhetoric: rhetoric as literary criticism (Introdução à Retórica: a retórica como crìtica literária, 1988).
Furthermore, it is relevant to point out the works, specifically dedicated to Rhetoric, by José Luiz Fiorin (University of São Paulo), with his recent Rhetorical Figures (Figuras de Retórica, 2014), and Luiz Rohden (UNISINOS), with The Power of Language: The Rhetoric of Aristotle (O Poder da Linguagem: a Arte Retórica de Aristóteles, 1997).
Recently, much attention is drawn to the researches of Artur Costrino (UFOP), whose main subject is the rhetorical production of Alcuin of York (c.735-804), principally couched in his De Rhetorica from around the year 790, drawing its roots to the Palatine Court of Charlemagne.
Nonetheless, the very ground of Rhetorical Studies in nowadays Brazil definitely lies upon two major authors, João Adolfo Hansen (University of São Paulo) and Alcir Pécora (University of Campinas). They respectively wrote The Satire and the Spirit: Gregório de Matos and 17th century Bahia (A Sátira e o Engenho: Gregório de Matos e a Bahia do século XVII, 1989) and The Machine of Genders (Máquina de Gêneros, 2001), both having given rise to a huge number of studies, monographic pieces of work, dissertations and books on Rhetorics and Belles Lettres.
Their great influence has not been restricted to the field of Literary Theory or Critics. The domain of Cultural History has gained a great deal from it in Brazil, as we can prove by resorting to the great work of Alìrio Carvalho Cardoso (Federal University of Maranhão) on Rhetorics and Epistolography, mainly pointing out to his article, composed in partnership with Alcir Pécora, ―An art lost in the Tropics: Jesuit‘s Epistolography in Maranhão and Grão-Pará (17th-18th centuries)‖ (―Uma arte perdida nos Trópicos: a epistolografia jesuìta no Maranhão e Grão-Pará, Séculos XVII-XVIII‖), published in the 8th volume of the Revista de Estudos Amazônicos (2012).
Although not a tout court historian, we should like to mention the writing of Fábio Palácio (Federal University of Maranhão) on Rhetorics and Economics, in partnership with Cristiano Capovilla, named ―We are, in fact, hell: on method and rhetoric in Economics‖ (―Somos, de fato, o inferno: sobre método e retórica na Economia‖), published in Revista Princìpios, 8th volume, 2016. This piece of critical work draws an important interface with Economic History and has proved much influential in our Northeast part of Brazil, especially in Maranhão, where Brathair is officially held.
At last, directly pertaining to the realm of Medieval History, there are the researches by Professor Flavio de Campos (University of São Paulo), which encompass the theme of games and ludic modalities, wherein he handles Aquinas‘ retrieval of the Aristotelean virtue named eutrapely (ST. II-IIae, q.168), also appearing in the Comments to Aristotle‘s Ethics (IV,16). It is indeed the virtue ordaining and balancing human appetite to experience fun.
It is certainly worthy catching a glimpse of the work of Ricardo da Costa (Federal University of Espìrito Santo), specially The Rhetoric in Antiquity and the Middle Ages from the perspective of eleven philosophers (2019) and his painstaking translation of Ramon Llull‘s New Rhetoric (1301).
Finally, there has been the recent work by Marcus Baccega (Federal University of Maranhão) addressing the rhetorical and sacramental dimensions of chivalric romans from the Central Middle Ages in the German regions of Central Europe. We should like to mention his book The Sacrament of the Holy Grail (2020), in which a reflection on medieval sacramentology and rhetoric is developed by leading off from German Arthurian narratives of the 13th century.
Baccega‘s researches are deeply influenced by the French medievalist Professor Joseph Morsel (University of Paris-1 – Panthéon Sorbonne), whose theoretical reflection on reading and interpreting medieval writings and also on Methodology and Theory of History have turned out to be a great source of scientific inspiration. The first wave of inspiration and enthusiasm for the rhetorical approach to medieval romans and chivalric novels has come from Professor Flavio de Campos, who has permanently been sensitive to the need of defining other ways of focusing medieval narratives. A great influence is also exerted by the work of the aforementioned Professor Benoît Grévin (University of Paris-1 – Panthéon Sorbonne), whose researches deal directly with Rhetorics in Middle Ages, as already explained in the first part of this Editorial.
Contributions to this Edition
It is actually on this ballast that the articles found in this edition of Brathair explore the manifold relationships between the Rhetoric Turn and Human Sciences, evincing all its heuristic potential to Medieval History.
Therefore, our edition, nominated Rhetoric in Middle Ages, features at first the dense article by Professor Benoît Grévin (LAMOP / University Paris I), L‘ars dictaminis et la poésie: questions théoriques et pratiques (XIe-XIVe s.) (The ars dictaminis and poetry: theoretical and practical questions), which lays emphasis on the epistolographic character of medieval rhetorics, thus stressing a major dissemblance to ancient rhetoric. Very relevant for both personal and political purposes, letters were the sources of rhetorical expression. From the 11th to the 15th centuries. This is why the so-called Artes Poetriae and Artes Dictaminis feature so many intersections and convergences, being one of their functions the teaching on how to compose decorous pieces of writing for communication. The article explores as well the metrical and properly poetical traits of these letters, gracing our Edition with a true Lectio on the subject, as the readers shall certainly remark.
Our second article is by Professor Alberto Cotza (University of Florence), Le orazioni nel Liber Maiorichinus (Prayers in the Liber Maiorichinus), which poses very pertinent questions on language and speech in the 12th century Pisan society through a truly exegetical approach of a text barely known to Brazilian scholars. It is the Liber Maiorichinus, an epic poem dealing with the history of the Balearic war, which the Pisans and other Christians conducted against the Muslims in Ibiza, Minorca, and Mallorca (1113-1115), as the author lectures.
Such a sophisticated exegesis, in terms of Linguistics and Rhetoric is to be found as well in Professor Clara Barros‘ (University of Porto) reflection entitled A construção da imagem do poder em textos jurìdicos da Idade Média peninsular (The construction of the image of power in legal texts of the Middle Ages). Drawing precisely upon the theoretical and methodological interface between Discourse Pragmatics and the multiple versions pertaining to the Theories of Argumentation, Barros seeks to analyze some strategies of the persuasion characteristic of Afonso X – the Wise‘s legislative work which reveal a certain relationship between rhetorical construction and political power in the Peninsular Middle Ages (in the 13th and 14th centuries). Focus is here laid upon the argumentum ab auctoritate in the Primeyra Partida (1265) and the Foro Real (c.1280), which allows the author to explain in detail and by means of graphs the ideological structure of Iberian medieval societies in the 13th and 14th centuries.
By dint of his expertise in the field of Rhetorics and Historiography, the Italian researcher Dario Internullo (University of Rome-3) proposes a dense reflection about the links between Historical Theory, Diplomatics and Rhetorics regarding the legal practice of process citation in the commune of Rome during the Late Middle Ages. His article is called A citação na chancelaria – a comuna de Roma no Medievo (Citation in Chancellery – The commune of Rome in Middle Ages) and presents the very potential of rhetorical analysis not only to the sciences of language and to interpreting documents and testimonies (in this case, sources contrived and made circulate by lay and clerical authorities), but to casting a complex historiographical problem to hard political and legal documentation in order to achieve what we would dare to call a Total History.
Providing very qualified concreteness to our purpose of an interdisciplinary dialogue, and once again exposing how Historiography owns much to Literary Theory in terms of rhetorical studies, we present the text by Professor Márcia Mongelli (University of São Paulo), which analyses the connection between Rhetoric and Poetry in the troubadours‘ and trouvères‘ love songs from Central Middle Ages. The poem chosen in her A ―retórica cortês‖ e suas sutilezas (Courtly Rhetoric and its subtleties) is Senhor Genta (―Gentle Lady‖), composed by the Galician-Portuguese troubadour Joan Lobeyra (c. 1233-1285), which would grant the poetic matter and topics to the notorious 16th century chivalric novel Amadis de Gaula (1508), by Garci Rodrìguez de Montalvo.
This early 16th century Portuguese edition was preceded by a Castilian one from 1496, yet both of them take roots in an original Portuguese version that would have been conceived by Vasco Lobeira during the reign of Dom Fernando I (1367-1383). Mongelli‘s piece of work actually acquires poetic tones and builds up a past-present analysis by resorting to the poems of Amor em Leonoreta (1951) by the major neosymbolist Brazilian poet Cecìlia Meireles, who devoted part of her poetic production to retrieving our medieval roots.
In the present edition of Brathair, we are also graced at the presence of an article by a much prominent scholar in the domain of Medieval Rhetoric, Professor Maria do Amparo Tavares Maleval (State University of Rio de Janeiro), whose contribution is dedicated to a rhetorical analysis of the great figure of Portuguese drama in Late Middle Ages. The article is entitled A Retórica no Purgatório de Gil Vicente (Rhetoric in the Purgatory of Gil Vicente). It is certainly a discussion on the playwright Gil Vicente, whose play Auto da Barca do Purgatório (―Purgatory barge auto‖, 1518) is here the theme for manifold perceptions concerning the classical parts of rhetoric, mainly the elocutio, dispositio and inventio. Thus, traits of humor, comic scenes and strict morality and virtues are interlarded in the plot, along with the threefold conception of the Other World. For historians interested in unravelling the late medieval imaginary about death and afterlife, this text is definitely a must.
Appealing to the Early Middle Ages – or Late Antiquity, as the author advocates – Professor Ana Paula Tavares Magalhães (University of São Paulo) brings us a reflection about the conversion itinerary pertaining to Saint Augustin, from 382 to 386. Her piece of work could not have been nominated in a different manner: A Ars Rhetorica de Agostinho de Hipona na narrativa das Confissões (The Rhetoric Art of Augustine of Hyppo in the narrative of The Confessions). Such testimony is couched in the most well-known opusculum by the Doctor Gratiae, The Confessions, written between 397 and 400, which poses the many pathways and drawbacks of a former Roman pagan from the classis senatorialis in his, so to say, ―itinerarium mentis in Deum‖. Our present comparison takes roots forward to Saint Bonaventure‘s treatise of the year 1259, as a way to highlight the role played by Magalhães as a specialist in Franciscan studies, whose highbrow qualities allow her to identify and dissect Saint Augustine‘s work itself and his huge theological and philosophical influence over the Franciscan writers. This is precisely the reason why the author resorts to the mystic of conversion regarding Augustine, as a manner to uncover a meaningful pattern for the studies on Augustin‘s Rhetoric techniques, as well as it provides a paradigm of symmetry between Augustin‘s life and the History of the Church, her specialty.
Also dealing with the erudite culture layers in Central Middle Ages, Professor Sérgio Feldman (Federal University of Espìrito Santo), a highlighted specialist for Jewish history in the Middle Ages proposes a reflection on a wise Jew from the Hispania of the three religions. As a matter of fact, the article Yehuda Ha-Levi: a retórica na polêmica religiosa no século XI-XII – O Livro de Cuzari (Iehudá Ha-Levi: rhetoric in the religious polemics in the 11th-12th centuries – The Book of Cuzari) portrays and dissect the many rhetoric disputationes in Iberia on the ―true‖ or ―best‖ religion. This way, Feldman narrates and casts a historiographical problem on the Book of Cuzari, the narrative of the conversion of the Khazars to Judaism. So, a literary work that endeavors to demonstrate that the Jewish religion is superior to that of its competitors, even if the Jewish people were subject to an oppressed minority condition.
At this moment of our edition, we come across a very original reflection by Professor Terezinha Oliveira (State University of Maringá) about the statute of language as a subject and the philosophy of language in Aquinas, by making use of the Summa Theologiae: Quaestiones 176 and 177 – IIa-IIae . The article A Retórica como Princìpio do Intelecto e da Linguagem em Tomás de Aquino (Rhetoric as principle of the Intellect and Language in Thomas Aquinas). Having been a profound specialist in the thought – both theological and philosophical – of Aquinas for decades, Oliveira poses herself the challenge of dissecting the role and philosophical locus of Rhetoric as a grounding pillar of his reasoning on language and the unity of the human intellect. This papers also handles Aquinas‘ reading of Aristotle as a rhetoric auctoritas, basically by leading off from Aquinas‘ Commentary on Aristotle’s On Interpretation very well, which demonstrates the connection between language and the intellective appetite of human beings.
Further reflection on highbrow culture in High Middle Ages is provided by a young and much talented scholar from the Federal University of Ouro Preto, Professor Artur Costrino, who has spent many years investigating the work of Alcuin of York De Rhetorica (c.790). As the author pinpoints in his Disputatio de rhetorica et virtutibus de Alcuìno de York: crìtica às recepções modernas e hipótese sobre a organização dos dois assuntos do diálogo (Alcuin‘s of York Disputatio de rhetorica et virtutibus: criticism of modern receptions and a hypothesis about the organization of the two subjects of the dialogue), this dialogue by Charlemagne‘s most famous teacher had a huge favourable acceptance and circulation in its period. Nonetheless, De Rhetorica seems to have been forgotten by scholarly research in our time. Therefore, Costrino‘s piece of work shall surely open up new investigation lines in Medieval Rhetorics and the practices of power by the time of first Renovatio Imperii under Charlemagne and in the aftermath.
In contrast to Costrino‘s analysis of De Rhetorica as an ars of prudence and exercising virtues, Professor Leandro Rust (University of Brasìlia) stresses warfare and violence in Middle Ages, attempting to think the theme of bloodshed over. His article Retórica Sangrenta: pensar a comunidade na Idade Média (Bloody Rhetoric: thinking Community in Middle Ages) challenges the reader to rethink and cast doubt on the common images we all would, almost automatically, associate with our period of study and research. It is not a matter of whittling down that violence and bloodshed were ubiquitous, yet rather of spelling out its significance in terms of medieval communities. Such is the aim of Rust in this reflection, which leads off from a crime that took place in England in the 13th century, which sets bloodshed, authority, power and crime together as signs to be deciphered.
We have in this edition a text that merges History, Literary Theory and Philosophy, approaching a female voice of wisdom in the Late Middle Ages, Christine de Pizan. The Book of the City of Ladies (1405) is probably her most celebrated piece of work and here stirs up a reflection on Education, on women‘s condition in our own time and in Middle Ages. This is why Professor Luciana Eleonora Deplagne (Federal University of Paraìba) endeavors to formulate a hermeneutic exercise regarding the Socratic idea of maieutic applied to the struggle of women for more autonomy and rights to perform tasks usually thought of as masculine. Therefore, the idea of knowledge being born in a metaphorical scene with three « midwifes » and the « parturient » apprentice is here presented as a Platonic dialogue between Lady Reason, Lady Justice and Lady Righteousness and the narrative persona of Christine de Pizan.
The following article can be properly situated in the typically medieval intertextuality drawn between hagiographic narratives (Vitae), rhetorical topics and homiletics in Early Middle Ages / Late Antiquity. Called Retórica e Hagiografia: a Vita Martini (Rhetorics and Hagiography: the Vita Martini), by post-doctoral researcher Glìcia Campos (State University of Rio de Janeiro), the text bethinks the rhetorical aspects of Christian persuasion and exemplarity of conduct by the saints. The basic dialogue of the main part of the corpus is held – and it could not be any different – with the auctoritas of Aristotle and his Rhetorical Art. The writing of Campos bears resemblance, concerning its aims, to Grévin‘s contribution, since the scope of language analysis ranges from Rhetorics to Hagiography, having the idea of conversio morum as a common trait, just like the dictamina.
Moreover, in a sort of dialogue with Mongelli‘s writing, Doctor Ana Luiza Mendes aims at investigating the rhetorical traits of King Dom Dinis‘s poetry. The author regards him as the greatest Portuguese troubadour and a hugely erudite man of his days. Though not intended to be any ―biography‖ of Dom Dinis, this A retórica trovadoresca de Dom Dinis, o rei que não tira a coroa ao trovar (The troubadours‘ rhetoric of Dom Dinis, the king who did not take out the crown to composse troves) features a kind of historiographic individual inquiry that can be sorted out and demonstrated by the traces and indices left by Dom Dinis in his love songs. Our readers shall find it amusing to uncover this enormous cultural heritage hidden in the royal figure, who gives way to catching a glimpse of all the social structures and processes.
A thought-provoking reflection on the relationships between History and Rhetoric, having the Regnum Francorum and the transition from the Carolingian to the Capetians, is adduced by Professor Bruno Casseb Pessoti (Federal University of Western Bahia). Addressing the Historiarum Libri Quatuor by the monk Richer of Saint-Rémi, A retórica como suporte da ‗verdade‘ em um livro de História do século X (The rhetoric as support for ‗truth‘ in a 10th century History book) explores the close bonds between the activity of writing History and persuasive topics handled to legitimate the new dynasty. In this sense, Pessoti achieves a refined combination of Rhetorics and Political History, without renouncing to ensemble view, thus being able to fathom social sensibilities related to Frankish monarchy at the passing of the millennium.
The last thematic article was written by Professor Marcus Baccega (Federal University of Maranhão). Named A Demanda do Santo Graal: Retórica e Poder no Milênio (The Quest of the Holy Grail: Rhetoric and Power in the millennium), the paper aims at proposing a Total History of the passage of the first millennium of the Common Era, by resorting to the Holy Grail as a metaphor, at the level of the ideological representation, of such moving totality. By the way, the Holy Grail purports many dimensions, even heretic ones, of the central-medieval imaginary, defined by the theological concepts of sacraments and sacramentals, point out to a trace of mentality ranging from the Cathars and Templar Knights to the so-called erudite culture. The basic idea is that the Holy Grail acts out (in the sense of having social agency) as a strong symptom of the Immitatio Christi and the Vita vere apostolica as mental traces which are set into dispute both by the Pontifical Reform and by the centralizing attempts of the Holy Roman Empire.
In the section reserved to articles with free choice themes, we also begin with a medievalist of value, Professor Carlile Lanzieri Júnior (Federal University of Mato Grosso). His piece of work, called O lugar da infância medieval nos escritos dos mestres Alain de Lille (1128-1203), João de Salisbury (c.1115-1180) e Adelardo de Bath (1080-1152) (The place of the medieval childhood in the writings of the masters Alain of Lille (1128-1203), John of Salisbury (ca.1115-1180) and Adelard of Bath (1080- 1152), is much thought-provoking as well. Lanzieri draws upon the lectiones of the aforementioned masters and the emphasis they used to lay on Grammar, in order to demonstrate that there was a specific social locus for children and teenagers during the Middle Ages. Therefore, it is a challenging writing in terms of the traditional historiography of the 20th century and even most historians nowadays.
The second article of free choice subject is a contribution by Professor João Batista Bitencourt (Federal University of Maranhão), who lectures Theory of History and History of Historiography at UFMA. The writing deals with a theoretical reflection about History as a scientific discipline and the historiographical operation, by leading off from a famous and intriguing film of the year 1995, nominated Se7en, shot by David Fincher. The author resorts to the philosophy of History of Walter Benjamin in order to weave a joint reasoning about time, event and narrative and to think the implications of the past we retrieve to the present of the historian.
We should also like to offer a very good translation of The New Rhetoric (1301) by Ramon Llull, composed by a major specialist in the life, thought and relationships of the Mallorcan philosopher. It is here a very well carried out and painstaking translation that will certainly give rise to and assist a great number of new researches on the life and work of Llull. The choice could not have been better and we thank Professor Ricardo da Costa for this gift granted to Brathair.
Last, but not least, there is the recension written by a junior researcher of Brathair, Thaìs dos Santos, about the recent book Les Gaulois. Variétés et Légende (2018) de Jean-Louis Brunaux which matches the initial and permanent thematic scope of our journal. There are still very few researches on Celts in terms of Historiography, being the Celtic culture more widely known to Literary Theory and Archeology. This well contrived recension – we do hope – is going to wake up new professional callings to such studies.
Notas
1. For the linguistic turn see Yilmaz 2007.
2. Kuhn 1962; Gaonkar 1990, 354.
3. Simons 1990.
4. Gaonkar 1990.
5. Burke 2001.
6. Simons 1990, 5.
7. Hostein 2003, 2.
8. For Byzantium see Koutrakou 1994; Dostalova 1995; Hilsdale 2003. For communal Italy see Artifoni 1993, 2002, 2011; Cirier 2007; Tanzini 2014; Faini 2015, 2018; Hartmann 2013, 2019. For empire and papacy see Shepard 1999; Herde 2008; Grévin 2008a. For the early Middle Ages see De Jong 2019.
9 For reflections on diplomatics, see Fichtenau 1957 and Winau 1965. The above-mentioned studies, well contextualized also in the so-called «archeology of medieval text» (Chastang 2008), are: Delle Donne 2003, 2004, 2016; Alfonso Anton 2007 and Aller Soriano 2009; Grévin 2008a and 2008b; Resl 2008; Di Lorenzo 2009; Dodd et al. 2014; Barret-Grévin 2014; Clark 2017; Chastang-Otchakovsky 2017; Roguet 2017; Smith-Killick 2018; Internullo 2019. For papacy and empire see, beyond Grévin: Hold 2001 and 2006, Holzapfl 2008. Collective works are Guyotjeannin 2004; Gioanni-Cammarosano 2013; Cammarosano et al. 2016 and now also Grévin-Hartmann 2020.
10 Cortelazzo 1983; Metodieva 1993; Schellewald 2012; Serverat 1997; Menant 2019; Faini c.d.s.; Stella 2009; Oakley Brown-Wilkinson 2009; Schnell 2010; Gonzalez Sanchez 2013; Couchman-Morton Crabb 2005. For women‘s writing in the Middle Ages and the Renaissance see also Zarri 1999; Miglio 2008; Lazzarini 2018.
11 For the reconsideration of images see Burke 2001. The here mentioned researches are Lewis 1999; Dittelbach 2006; Brenk 2011; Debby 2012; Folin 2013; Perez Monzon et al. 2018; Carruthers 2010. For some collective reflections see Kapp 1990; Brassat 2005 e Knape 2007; Vuilleumier Laurens-Laurens 2010; Fricke-Krass 2015.
12 David-Berlioz 1980; Le Goff 1988; Bériou 2018; Bériou et al. 2014; Menzel 1998; Delcorno 1974, 1989, 2009, 2015a, 2015b; Potestà 2007; D‘Acunto 2009, 2012, 2018; Romoli 2009; Sennis 2013; Grasso 2010, 2013, 2014; Smirnova-Polo de Beaulieu 2019.
13 Fumaroli 1980; Kristeller 1969, 1981; Witt 2000, 2012; Revest 2013a, 2013b; Delle Donne-Revest 2016. Other important works are Murphy 1983; Rubinstein 1990; Plett 1993; Vasoli 1999; Vaillancourt 2003; Helmrath 2011; Mack 2011; Delle Donne-Santi 2013; Russo 2019.
14 Marcozzi 2017; Chandelier-Robert 2015; Alessio-Losappio 2018; Hartmann 2011; Strack-Knödler 2011; Grévin-Turcan-Verkerk 2015; van Renswoude 2019. For Riedlberger‘s project and the conciliar proceedings see and Mari 2019. See also Acerbi 2011. For further recent studies on medieval rhetoric see Fried 1997, Carracedo Fraga 2002, Jeffreys 2003, Borch 2004, Kofler-Töchterle 2005, von Moos-Melville 2006; Romano 2007; Struever 2009; Maldina 2011; Camargo 2012; Kraus 2015; Ward 2019; Burkard 2019. For the «first millennium» see Fowden 2014.
Referências
Acerbi 2011: S. Acerbi, Concilios y propaganda eclesiastica en el siglo V. Estrategias de persuasion y adquisicion del consenso al servicio del poder episcopal, in Propaganda y persuasion en el mundo romano. Actas del VIII Coloquio de la Asociacion Interdisciplinar de Estudios Romanos, Madrid 1-2 diciembre 2010, ed. by. Bravo Castaneda, R. Gonzalez Salinero, Madrid 2011, 295-308
Alessio-Losappio 2018: Le «poetriae» del medioevo latino. Modelli, fortuna, commenti, ed. by G.C. Alessio, D. Losappio, Venezia 2018 Alfonso Anton 2007: M.I.
Alfonso Antón, La rhétorique de légitimation seigneuriale dans les fueros de León (XIe -XIIIe siècles), in Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe -XIVe siècles). Les mots, les temps, les lieux. Colloque tenu à Jaca du 5 au 9 juin 2002, ed. by M. Bourin, P. Martinez Sopena, Paris 2007, 229-252
Aller Soriano 2009: D. Aller Soriano, El fuero como retorica. De religquia positiva a canon identitario, «Sancho el Sabio» 31 (2009), 55-80
Artifoni 1993: E. Artifoni, Sull’eloquenza politica nel Duecento italiano, «Quaderni medievali» 35 (1993), 57-78
Artifoni 1994: E. Artifoni, Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano, in Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, ed. by P. Cammarosano, Roma 1994, 157-182
Artifoni 2002: E. Artifoni, Boncompagno da Signa, i maestri di retorica e le città comunali nella prima metà del Duecento, in Il pensiero e l’opera di Boncompagno da Signa, ed. by M. Baldini, Signa 2002, 23-36
Artifoni 2011: E. Artifoni, L’oratoria politica comunale e i «laici rudes et modice literati», in Zwischen Pragmatik und Performanz. Dimensionen mittelalterliche Schriftkultur, ed. by C. Dartmann, T. Scharff, C.F. Weber, Turnhout 2011, 237-262
Barret-Grévin 2014: S. Barret, B. Grévin, Regalis excellentia. Les préambules des actes des rois de France au XIVe siècle (1300-1380), Paris 2014
Bartuschat 2004: La Persuasion, ed. by J. Bartuschat, Grénoble 2004
Bériou et al. 2014: Le pouvoir des mots au Moyen Âge, ed. by N. Bériou, J.-P. Boudet, I. Rosier-Catach, Turnhout 2014
Bériou 2018: N. Bériou, Religion et communication. Un autre regard sur la prédication au Moyen Âge, Genève 2018
Borch 2004: Text and Voice. The Rhetoric of Authority in the Middle Ages, ed. by M. Borch, Odense 2004
Brenk 2011: B. Brenk, Rhetorik, Anspruch und Funktion der Cappella Palatina in Palermo, in Die Cappella Palatina in Palermo. Geschichte, Kunst, Funktionen, ed. by T. Dittelbach, Künzelsau 2011, 242-271
Brassat 2005: Bild-Rhetorik, ed. by W. Brassat, Tübingen 2005
Burkard 2019: T. Burkard, Rhetorik im Mittelalter und im Humanismus, in Handbuch Antike Rhetorik, ed. by M. Erler, C. Tornau, Berlin, 2019, 697-760
Burke 2001: P. Burke, Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence, London 2001
Camargo 2012: M. Camargo, Essays on Medieval Rhetoric, Farnham 2012
Cammarosano et al. 2016: Art de la lettre et lettre d’art. Epistolaire politique III, ed. by P. Cammarosano, B. Dumézil, S. Giovanni, L. Vissière, Trieste 2016
Carracedo Fraga 2002: J. Carracedo Fraga, La retorica en la Hispania visigotica, «Euphrosyne» 30 (2002), 115-130
Carruthers 2010: M.J. Carruthers, Rhetoric beyond words. Delight and Persuasion in the arts of the Middle Ages, New York 2010
Chandelier-Robert 2015: Frontières des savoirs en Italie à l’époque des premières universités (XIIIe -XVe siècles), ed. by J. Chandelier, A. Robert, Roma 2015
Chastang 2008: P. Chastang, L’archéologie du texte médiéval, «Annales. Histoire, Sciences Sociales 63 / 2 (2008), 245-269
Chastang-Otchakovsy-Laurens 2017: P. Chastang, F. Otchakovsy-Laurens, Les statuts urbains de Marseille. Acteurs, rhétorique et mise par écrit de la norme, in La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe -XVe siècle), Paris 2017, 15-40
Cirier 2007: A. Cirier, Diplomazia e retorica comunale. La comunicazione attraverso lo spionaggio politico nell’Italia medievale (secc. XII-XIII), in Comunicazione e propaganda nei secoli XII e XIII. Atti del Convegno internazionale (Messina, 24- 26 maggio 2007), ed. by R. Castano, F. Latella, T. Sorrenti, Roma 2007, 199-216
Civra 2009: F. Civra, Musica poetica. Retorica e musica nel periodo della Riforma, Lucca 2009
Clark 2017: The Fifteenth Century. Writing, Records and Rhetoric, ed. by L. Clark, Woodbridge 2017
Cortelazzo 1983: Retorica e classi sociali. Atti del IX Convegno internuniversitario di studi, Bressanone 1981, ed. by M.A. Cortelazzo, Padova 1983
Coste et al. 2012: La rhétorique médicale à travers les siècles. Actes du colloque international de Paris, 9 et 10 octobre 2008, ed. by J. Coste, D. Jacquart, J. Pigeaud, Genève 2012
Couchmann-Morton Crabb 2005: Women’s Letters Across Europe (1400-1700). Form and Persuasion, ed. by J. Couchman, A. Morton Crabb, Burlington 2005
D‘Acunto 2009: N. D‘Acunto, Pier Damiani fra retorica e tensione eremitica, in Sassoferrato. Alla memoria del professor Alberto Grilli, ed. by F. Bertini, Sassoferrato 2009, 35-45
D‘Acunto 2012: N. D‘Acunto, Le forme della comunicazione negli ordini religiosi del XII e XIII secolo. Il centro, in Die Ordnung der Kommunikation und die Kommunikation der Ordnungen, I, Netzwerke: Klöster und Ordnen im Europa des 12. und 13. Jahrhunderts, ed. by C. Andenna, K. Herbers, G. Melvile, Stuttgart 2012, 253-260
D‘Acunto 2018: Argomenti di natura giuridica e strumenti della comuicazione pubblica durante la lotta per le investiture, in Verbum e ius. Predicazione e sistemi giuridici nell’occidente medievale = Preaching and Legal Frameworks in the Middle Ages, ed. by L. Gaffuri, R.M. Parrinello, Firenze 2018, 89-108
David-Berlioz 1980: Rhétorique et histoire. L’«exemplum» et le modèle de comportement dans le discours antique et médiéval, ed. by J.-M. David, J. Berlioz, «Mélanges de l‘École Française de Rome» 92 / 1 (1980), 1-179
De Jong 2019: M. De Jong, Epitaph for an Era. Politics and Rhetoric in the Carolingian World, Cambridge 2019
Delcorno 1974: C. Delcorno, La predicazione in età comunale, Firenze 1975
Delcorno 1989: C. Delcorno, Exemplum e letteratura. Tra Medioevo e Rinascimento, Bologna 1989
Delcorno 2009: C. Delcorno, «Quasi quidam cantus». Studi sulla predicazione medievale, Firenze 2009
Delcorno 2015a: C. Delcorno, Comunicare dal pulpito (sec. XIII-XV), in Comunicare nel Medioevo. La conoscenza e l’uso delle lingue nei secoli XII-XV. Atti del convegno di studio, Ascoli Piceno, 28-30 novembre 2013, ed. by I. Lori Sanfilippo, G. Pinto, 183-208
Delcorno 2015b: C. Delcorno, Apogeo e crisi della predicazione francescana tra Quattro e Cinqucento, «Studi Francescani» 112 (2015), 399-440
Delle Donne 2003: Nicola da Rocca, Epistolae, ed. by F. Delle Donne, Firenze 2003
Delle Donne 2004: F. Delle Donne, Una «costellazione» di epistolari del secolo XIII. Tommaso di Capua, Pier della Vigna, Nicola da Rocca, «Filologia Mediolatina» 11 (2004), 143-160
Delle Donne-Santi 2013: Dall’«ars dictaminis» al preumanesimo? Per un profilo letterario del secolo XIII, ed. by F. Delle Donne, F. Santi, Firenze 2013
Delle Donne 2016: Le parole del potere e il potere delle parole. Le epistole della cancelleria sveva, in Art de la lettre et lettre d’art. Epistolaire politique III, ed. by P. Cammarosano, B. Dumézil, S. Giovanni, L. Vissière, Trieste 2016, 161-174
Delle Donne-Revest 2016: – L’essor de la rhétorique humaniste. Réseaux, modèles et vecteurs, ed. by F. Delle Donne e C. Revest, «Mélanges de l‘École Française de Rome. Moyen Âge» 128 / 1 (2016)
Debbyt 2012: N.B.-A. Debby, Retorica visual. Imagenes de sarracenos en iglesias florentinas, «Anuario de estudios medievales» 42 (2012), 7-28
Di Lorenzo 2009: A. Di Lorenzo, Tra retorica e formularità. Le arenghe degli atti di donazione italo-greci di età normanna nel Mezzogiorno, «Medioevo Greco» 9 (2009), 107-178
Dittelbach 2006: T. Dittelbach, Rhetorik in Stein. Der normannische Osterleuchter der Cappella Palatina in Palermo, in Visualisierungen von Herrschaft. Frühmittelalterliche Residenzen, Gestalt und Zeremoniell, ed. by F. Alto Bauer, Istanbul 2006, 329-351
Dodd et al. 2014: G. Dodd, M. Phillips, H. Killick, Multiple-clause Petitions to the English Parliament in the Later Middle Ages. Instruments of Pragmatism or Persuasion?, «Journal of Medieval History» 40 (2014), 176-194
Dostalova 1995: R. Dostalova, Der Einfluss der Rhetorik auf die Objektivität der historische Information in den Werken byzantinischen Historiker, «Byzantinoslavica» 56 (1995), 291-303
Faini 2015: E. Faini, Annali cittadini, memoria pubblica ed eloquenza civile in età comunale, «Storica» 60-61 (2015), 109-142
Faini 2018: E. Faini, Italica gens. Memoria e immaginario politico dei cavaliericittadini (secoli XII-XIII), Roma 2018
Faini [forthcoming]: E. Faini, Il Comune e il suo contrario. Assenza, presenza, scelta nel lessico politico (secolo XII), forthcoming
Fichtenau 1957: H. Fichtenau, Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, Graz 1957
Folin 2013: M. Folin, Edifici comunali e retorica civica a Firenze (secoli XII-XV), in Dal giglio a David. Arte civica a Firenze fra Medioevo e Rinascimento, ed. by M.M. Donato, D. Parenti, Firenze 2013, 56-65
Fowden 2014: G. Fowden, Before and after Muhammad. The First Millennium Refocused, Princeton 2014
Fried 1997: Dialektik und Rhetorik im früheren und hohen Mittelalter. Rezeption, Überlieferung und gesellschaftliche Wirkung antiker Gelehrsamkeit vornehmlich im 9. und 12. Jahrhundert, ed. by J. Fried, München 1997
Fricke-Krass 2015: The public in the Picture. Involving the Beholder in Antique, Islamic, Byzantine and Western Medieval and Renaissance Art, ed. by B. Fricke, U. Krass, Zürich 2015, 205-230
Fumaroli 1980: M. Fumaroli, L’âge de l’éloquence. Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Paris 1980
Gadebusch Bondio-Ricklin 2008: Exempla medicorum. Die Ärzte und ihre Beispiele (14.-18. Jahrhundert), ed. by M. Gadebusch Bondio, T. Ricklin, Firenze 2008
Gaonkar 1990: D.P. Gaonkar, Rhetoric and Its Double. Reflections on the Rhetorical Turn in the Human Sciences, in The Rhetorical Turn. Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry, ed. by H.W. Simons, Chicago 1990, 341-366
Gioanni-Cammarosano 2013: La corrispondenza epistolare in Italia, ed. by S. Gioanni, P. Cammarosano, Trieste 2013
Gonzalez Sanchez 2013: N. Gonzalez Sanchez, Mujeres y retorica latina. Aproximacion, analisis y estudio de los epistolarios latinos medievales femininos, in Ser mujer en la ciudad medieval europea, ed. by B. Arizaga Bolumburu, A.A.A. de Andrade, J.A. Solorzano Telechea, Logrono 2013, 491-514
Grasso 2010: C. Grasso, Ars Praedicandi e crociata nella predicazione dei magistri parigini, in Come l’orco della fiaba. Studi per Franco Cardini, ed. by M. Montesano, Firenze 2010, 141-150
Grasso 2013: C. Grasso, La delega papale alla predicazione della crociata al tempo del IV concilio Lateranense, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia» 67 (2013), 37-54
Grasso 2014: C. Grasso, Legati papali e predicatori della quinta crociata, in Legati, delegati e l’impresa d’Oltremare (secoli XII-XIII), ed. by M.P. Alberzoni, P. Montaubin, Turnhout 2014, 262-282
Grévin 2008a: B. Grévin, Rhétorique du pouvoir médiéval. Les «Lettres» de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen (XIIIe -XVe siècle), Roma 2008
Grévin 2008b: B. Grévin, Les mystères rhétoriques de l’État médiéval. L’écriture du pouvoir en Europe occidentale (XIIIe -XVe siècle), «Annales. Histoire, Sciences Sociales» 63 / 2 (2008), 271-300
Grévin-Turcan-Verkerk 2015: Le dictamen dans tout ses états. Perspectives de recherche sur la théorie et la pratique de l’«ars dictaminis», ed. by B. Grévin, A.- M. Turcan-Verkerk, Turnhout 2015
Grévin-Hartmann 2020: – Der mittelalterliche Brief zwischen Norm und Praxis, ed. by B. Grévin, F. Hartmann, Köln 2020
Guyotjeannin 2004: La langue des actes. Actes du XIe Congrès international de diplomatique (Troyes, 11-13 septembre 2003), ed. by O. Guyotjeannin, Paris 2004
Hartmann 2011: Funktionen der Beredsamkeit = Funzioni dell’eloquenza nell’Italia comunale, ed. by F. Hartmann, Göttingen 2011
Hartmann 2013: F. Hartmann, Ars dictaminis. Briefsteller und verbale Kommunikation in den italienischen Stadtkommunen des 11. bis 13. Jahrhunderts, Ostfildern 2013
Hartmann 2019: F. Hartmann, Il linguaggio del consenso nell’elaborazione della retorica comunale, in Costruire consenso. Modelli, pratiche, linguaggi tra Medioevo ed età moderna, ed. by di M.P. Alberzoni, R. Lambertini, Milano 2019, 145-158
Helmrat 2006: J. Helmrath, Der europäische Humanismus und die Funktion der Rhetorik, in Funktionen des Humanismus. Studien zum Nutzen des Neuen in der humanistischen Kultur, ed. by T. Maissen, G. Walther, Göttingen 2006, 18-49
Herde 2008: P. Herde, Friedrich II. und das Papsttum. Politik und Rhetorik, in Kaiser Friedrich II. (1194-1250). Welt und Kultur des Mittelmeerraums, ed. by M. Fansa, Mainz 2008, 52-65
Hilsdale 2003: C.J. Hilsdale, Diplomacy by design. Rhetorical strategies of the Byzantine gift, Chicago 2003
Hohmann 1998: H. Hohmann, Logic and Rhetoric in Legal Argumentation. Some Medieval Perspectives, «Argumentation» 12 (1998), 39-55
Hold 2001: H. Hold, Cural- und Gratial-Rhetorik. Untersuchungen an Arengen in Schreiben des Avignoneser Papsttums, 2 voll., Wien 2001
Hold 2006: H. Hold, Päpstliche Arengen-Rhetorik zur Avignoneser Zeit. Integralistisch angelegte Kultur-Manipulation?, in Inkulturation. Historische Beispiele und theologische Reflexionen zur Flexibilität und Widerständigkeit des Christlichen, ed. by R. Klieber, M. Stowasser, Wien 2006, 129-139
Holzapfl 2008: J. Holzapfl, Kanzleikorrespondenz des späten Mittelalters in Bayern. Schriftlichkeit, Sprache und politische Rhetorik, München 2008
Hostein 2003: A. Hostein, Histoire et rhétorique. Rappels historiographiques et états des lieux, «Hypothèses» 6 (2003), 219-234
Internullo 2019: D. Internullo, La citazione in cancelleria. Il comune di Roma nel Medioevo, «Parole Rubate» 19 (2019), 55-79
Jeffreys 2003: Rhetoric in Byzantium. Papers from the thirty-fifth Spring Symposium of Byzantine Studies, Exeter College, University of Oxford, March 2001, ed. by E.M. Jeffreys, Aldershot 2003
Kapp 1990: Die Sprache der Zeichen und Bilder. Rhetorik und nonverbale Kommunikation in der frühen Neuzeit, ed. by V. Kapp, Marburg 1990
Knape 207: Bildrhetorik. Zweites Tübinger Rhetorikgespräch am 4. und 6. Oktober 2002, ed. by J. Knape, Baden 2007
Kofler-Töchterle 2005: Die antike Rhetorik in der europäischen Geistesgeschichte, ed. by W. Kofler, K. Töchterle, Innsbruck 2005
Koutrakou 1994: N. Koutrakou, La propagande impériale byzantine. Persuasion et réaction (VIIIe -X e siècles), Athene 1994
Kraus 2015: J. Kraus, Rhetoric in European Culture and Beyond, Praha 2015 Kristeller 1969: P.O. Kristeller, Der italienische Humanismus und seine Bedeutung, Basel 1969
Kristeller 1981: – P.O. Kristeller, Studien zur Geschichte der Rhetorik und zum Begriff des Menschen in der Renaissance, Göttingen 1981
Kuhn 1962: T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, Chicago 1962
Lazzarini 2018: I. Lazzarini, Epistolarità dinastica e autografia femminile. La corrispondenza delle principesse di casa Gonzaga (fine XIV-primo XVI secolo) in Donne Gonzaga a corte. Reti istituzionali, pratiche culturali e affari di governo, ed. by C. Continisio, R. Tamalio, Roma 2018, 49-62
Le Goff 1988: J. Le Goff, L’exemplum et la rhétorique de la prédication aux XIIIe et XIVe siècles, in Retorica e poetica tra i secoli XII e XIV. Atti del secondo convegno internazionale di studi sull’Associazione per il Medioevo e l’Umanesimo Latini (AMUL) in onore e memoria di Ezio Franceschini (Trento e Rovereto 2-5 ottobre 1985), ed. by C. Leonardi, E. Menestò, Perugia-Firenze 1988, 3-29
Lewis 1999: S. Lewis, The Rhetoric of Power in the Bayeux Tapestry, Cambridge 1999
Mack 2011: P. Mack, A History of Renaissance Rhetoric (1380-1620), Oxford 2011
Maldina 2011: N. Maldina, La retorica dalle università alle città, in Il Medioevo. Castelli, mercanti, poeti, ed. by U. Eco, Milano 2011, 387-351
Marcozzi 2017: Dante e la retorica, ed. by L. Marcozzi, Ravenna 2017
Mari 2019: T. Mari, Working on the Minuts of Late Antique Church Councils. A Methodological Framework, «Journal for Late Antique Religion and Culture» 13 (2019), 42-59
Marietti 2002: La science du bien dire. Rhétorique et rhétoriciens au Moyen Âge, ed. by M. Marietti, Paris 2002
Menant 2019: Qu’est-ce que le peuple au Moyen Âge?, «Mélanges de l‘École Française de Rome» 131 / 1 (2019)
Menzel 1998: M. Menzel, Predigt und Geschichte. Historische Exempel in der geistlichen Rhetorik des Mittelalters, Köln 1998
Metodieva 1993: L. Metodieva, La naissance de la rhétorique bulgare. L’influence de l’oeuvre de Jean Chrysostome et des grands cappadociens sur le développement de la prose rhétorique bulgare ancienne aux IXe et Xe siècles, «Rhetorica» 11 (1993), 27-41
Miglio 2008: L. Miglio, Governare l’alfabeto. Donne, scrittura e libri nel Medioevo, Roma 2008
Morsel 2019: J. Morsel, Le diable est-il dans les détails? L’historien, l’indice et le cas particulier, Paris 2019
Morsel 2016: J. Morsel, Traces, quelles traces? Réflexions pour une Histoire non passéiste, Paris 2016
Morsel 2007: J. Morsel, L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat, Paris, LAMOP, 2007
Murphy 1983: Renaissance Eloquence. Studies in the Theory and Practice of Renaissance Rhetoric, ed. by J.J. Murphy, Berkeley 1983
Nicoud 2013: M. Nicoud, Medici, lettere e pazienti. Pratica medica e retorica nella corrispondenza della cancelleria sforzesca, in Étre médecin à la cour (Italie, France, Espagne, XIIIe -XVIIIe siècle), ed. by E. Andretta, M. Nicoud, Firenze 2013, 213-233
Noille 2018: – C. Noille, La narration dans la rhétorique judiciaire. Formes possibles et usages modélisés, in Les recueils de plaidoyez à la Renaissance, ed. by G. Cazals, Genève 2018, 21-38
Oakley Brown-Wilkinson 2009: The Rituals and Rhetoric of Queenship. Medieval to early Modern, ed. by L. Oakley-Brown, L.J. Wilkinson, Dublin 2009
Perez Monzon et al. 2018: Retorica artistica en el tardogotico castellano. La capilla funebre de Alvaro de Luna en contexto, ed. by O. Pérez Monzon, M. Miquel Juan, M. Martin Gil, Madrid 2018
Potestà 2007: G.L. Potestà, Le forme di una retorica profetica e apocalittica. I Frati Minori e il Gioachimismo (secoli XIII-XIV), in El fuego y la palabra. San Vincente Ferrer en el 550 aniversario. Actas del Ier Simposium Internacional Vicentino, Valencia, 26-29 de abril 2005, ed. by E. Callado Estela, Valencia 2007, 233-256
Plett 1993: Renaissance-Rhetorik = Renaissance Rhetoric, ed. by H.F. Plett, Berlin 1993
Resl 2008: B. Resl, Illustration and Persuasion in Southern Italian Cartularies (c. 1100), in Strategies of Writing. Studies on Text and Trust in the Middle Ages. Papers from «Trust in Writing in the Middle Ages, Utrecht 28-29 november 2002», ed. by P. Schulte, M. Mostert, I. van Renswoude, Turnhout 2008, 95-110
Revest 2013a: C. Revest, La naissance de l’humanisme comme mouvement au tournant du XVe siècle, «Annales. Histoire, Sciences Sociales» 68 / 3 (2013), 665-696
Revest 2013b: C. Revest, Naissance du cicéronianisme et émergence de l’humanisme comme culture dominante. Réflexions pour une histoire de la rhétorique humaniste comme pratique sociale, «Mélanges de l‘École Française de Rome. Moyen Âge» 125 / 2 (2013)
Roguet 2017: A. Roguet, Rhétorique et pouvoir. Les chancelleries française et allemande sous les règnes de Louis VII et Frédéric Barberousse, in Aux sources du pouvoir. Voir, approcher, comprendre le pouvoir politique au Moyen Âge, ed. by S. Gouguenheim, Paris 2017, 223-244
Romano 2007: R. Romano, La teoria della retorica a Bisanzio dal tardoantico alla rinascenza macedone, «Porphyra» 9 (2007), 107-125
Romoli 2009: F. Romoli, Predicatori nelle terre slavo-orientali (XI-XIII sec.). Retorica e strategie comunicative, Firenze 2009
Rubinstein 1990: N. Rubinstein, Il Bruni a Firenze. Retorica e politica, in Leonardo Bruni. Cancelliere della Repubblica di Firenze. Convegno di studi, Firenze 27-29 ottobre 1987, ed. by P. Viti, Firenze 1990, 15-28
Russo 2019: – C. Russo, Firenze nuova Roma. Arte retorica e impegno civile nelle miscellanee di prose del primo Rinascimento, Firenze 2019
Schellewald 2012: B.M. Schellewald, Rhetorik um 1200. Die Ausmalung der Kirche von Kintsvisi (Georgien) und Byzanz, in Schnittpunkt Slavistik. Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag, ed. by I. Podtergera, Bonn 2012, II, 363-374
Schnell 2010: R. Schnell, Gender und Rhetorik in Mittelalter und Früher Neuzeit. Zur Kommunikation der Geschlechter, in Rhetoric und Gender, ed. by D. Bischoff, M. Wagner-Egelhaaf, Berlin 2010, 1-18
Sennis 2013: – Sennis, Linguaggi della persuasione. Le visioni soprannaturali nel mondo monastico medievale, in Ricerca come incontro. Archeologi, paleografi e storici per Paolo Delogu, ed. by G. Barone, A. Esposito, C. Frova, Roma 2013, 227-243
Senséby 2004: C. Senséby, Pratiques judiciaires et rhétorique monastique à la lumière de notices ligériennes (fin XIe siècle), «Revue Historique» 306 (2004), 3-47
Serverat 1997: V. Serverat, La Pourpre et la glèbe. Rhétorique des états de la société dans l’Espagne médiévale, Grénoble 1997
Shepard 1999: L.A. Shepard, Courting Power. Persuasion and Politics in the early Thirteenth Century, New York 1999
Simons 1990: The Rhetorical Turn. Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry, ed. by H.W. Simons, Chicago 1990
Smirnova-Polo de Beaulieu 2019: – V. Smirnova, M.-A. Polo de Beaulieu, Lire et faire lire des recueils d’exempla. Entre persuasion cistercienne et efficace dominicaine, in Le texte médiéval dans le processus de communication, ed. by L.V. Evdokimova, A. Marchandisse, Paris 2019, 133-154
Smith-Killick 2018: Petitions and strategies of persuasion in the Middle Ages. The English crown and the church (1200-1550), ed. by T.W. Smith, H. Killick, Woodbridge 2018
Stella 2009: F. Stella, Retorica e agiografia come strumenti per la costruzione dell’identità civica. Arezzo e Bologna fra Chiesa e Studium, in Civis – Civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna. Atti del seminario internazionale, Siena-Montepulciano, 10-13 luglio 2008, Montepulciano 2009, 265-284
Strack-Knödler 2011: Rhetorik in Mittelalter und Renaissance. Konzepte – PraxisDiversität, ed. by G. Strack, J. Knödler, München 2011
Struever 2009: – N.S. Struever, The History of Rhetoric and the Rhetoric of History, Aldershot 2009
Sultan 2005: A. Sultan, «En conjunction de science». Musique et rhétorique à la fin du Moyen Âge, Paris 2005
Tanzini 2014: L. Tanzini, A consiglio. La vita politica nell’Italia dei comuni, RomaBari 2014
Vaillancourt 2003: L. Vaillancourt, La lettre familière au XVIe siècle. Rhétorique humaniste de l’épistolaire, Paris 2003
van Renswoude 2019: I. van Renswoude, The Rhetoric of Free Speech in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Cambridge 2019
Vasoli 1999: C. Vasoli, L’humanisme rhétorique en Italie au XVe siècle, in Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne (1450-1950), ed. by M. Fumaroli, Paris 1999, 45-129
von Moo-Melville 2006: Gesammelte Schriften zum Mittelalter Bd. 2. Rhetorik, Kommunikation und Medialität, ed. by P. von Moos, G. Melville, Berlin 2006
Vuilleumier Laurens-Laurens 2010: F. Vuilleumier Laurens, P. Laurens, L’âge de l’inscription. La rhétorique du monument en Europe du XVe au XVIIe siècle, Paris 2010
Ward 2019: J.O. Ward, Classical Rhetoric in the Middle Ages. The Medieval Rhetors and their Art (400-1300), with Manuscript Survey to 1500 CE, Leiden 2019
Winau 1965: R. Winau, Formular und Rhetorik in den Urkunden Kaiser Ludwigs II, Bamberg 1965
Witt 2000: R. G. Witt, «In the Footsteps of the Ancients». The Origins of Humanism from Lovato to Bruni, Leiden 2000
Witt 2012: – R.G. Witt, The Two Latin Cultures and the Foundation of Renaissance Humanism in Medieval Italy, Cambridge 2012
Yilmaz 2007: K. Yilmaz, Introducing the «Linguistic Turn» to History Education, «International Education Journal» 8 / 1 (2007), 270-278
Zarri 1999: Per lettera. La scrittura epistolare femminile tra archivio e tipografia secoli XV-XVII, ed. by G. Zarri, Roma 1999
Dario Internullo (University of Rome-3). E-mail: [email protected]
Marcus Baccega (Federal University of Maranhão). E-mail: [email protected]
INTERNULLO, Dario; BACCEGA, Marcus. Editorial. Brathair, São Luís, v.20, n.1, 2020. Acessar publicação original [DR]
Corpos em trânsito: existências, subjetividades e representatividades | Aguinaldo Rodrigues Gomes
A obra Corpos em trânsito: existências, subjetividades e representatividades, sob organização de Antonio Ricardo Calori de Lion e Aguinaldo Rodrigues Gomes, nos apresenta, em suas 408 páginas, uma sequência de vinte artigos, divididos em três partes distintas: Existências/Resistências; Subjetividades e as reinvenções de si; e (In)visibilidades e representatividades. Pontuando variados períodos da história humana, o conjunto de textos englobados na obra nos fornece um interessante panorama acerca do corpo e de suas subjetividades desde a antiguidade romana até a contemporaneidade.
Ao considerarmos o atual momento histórico-social brasileiro, no qual a invisibilidade e a marginalização da comunidade LGBT+ [2] aparenta ser uma questão à qual os poderes governamentais gradativamente parecem se afeiçoar, principalmente através de discursos de ódio voltados ao “diferente”, o conteúdo disposto em Corpos em trânsito: existências, subjetividades e representatividades apresenta-se como uma leitura fundamental para entendermos não apenas as transmutações históricas da mentalidade, corporalidade e sexualidade LGBT+, mas também como uma maneira de compreendermos a vivência desses sujeitos frente às violências quotidianas a que são submetidos.
Embora o foco da maioria dos textos que a compõem seja voltado para experiências de travestis e mulheres transexuais, a obra mostra-se uma prolífica mina de conhecimento ao englobar ideias de importantes pensadores como Judith Butler, Paul Beatriz Preciado, Angela Davis e Michel Foucault, entre outras/os, além de entrevistas com sujeitas/os cujas vivências foram e ainda são marcadas por experiências corporais tidas como desviantes dentro de um contexto patriarcal cis- heteronormativo.
A obra inicia na antiguidade romana, ao examinar a corporeidade masculina em contraste com a idealização quase utópica acerca do conceito de masculinidade e feminilidade da época. Ao explorar a relação do imperador Nero e do escravo Esporo em Um eunuco e um imperador: o discurso literário sobre casamento, corpo e gênero no Império Romano, o autor do texto, Benedito Inácio Ribeiro Júnior, traça uma importante análise sobre o corpo masculino e as funções sociais de homens e mulheres no Império Romano. Ao explorar as relações de poder que permeavam os estratos sociais mais altos da sociedade romana da época, o autor nos convida a questionar como são construídas as identidades de sexo, gênero e corpo, bem como os papéis atribuídos socialmente ao masculino e feminino na sociedade antiga – um questionamento que nos causa também uma reflexão sobre esses mesmos elementos na sociedade contemporânea.
Corpos e comportamentos em desconformidade às regras socialmente estabelecidas também são abordadas no texto Efeminados, travestis, transexuais e hermafroditas luso-afro-brasileiras nas garras da inquisição, de Luiz Mott. Nele, o autor comenta acerca do modo como sujeitos biologicamente identificados como sendo do sexo masculino eram levados aos tribunais inquisitoriais devido a comportamentos desviantes dos padrões patriarcais do período. Para a realização de seu estudo, Mott reúne registros da Torre do Tombo e traça um panorama não apenas do pensamento e valores da época sobre o “ser” masculino, mas também uma visão do feminino enquanto um elemento depreciativo na conduta de homens e rapazes. Nesse contexto, a transexualidade e a travestilidade são empurrados para a margem social como condutas consideradas violações sérias aos olhos da sociedade e da religião, punidas com a prisão, degredo ou mesmo a morte.
Ao pensarmos a realidade brasileira desses indivíduos marginalizados, um ponto bastante complexo e muitas vezes ignorado pelos poderes governamentais é a situação dessas pessoas quando parte da população carcerária. É essa realidade que Aguinaldo Rodrigues Gomes e Josimara Aparecida Magnani exploram em seu texto Travas e Trans – abjetificação e precarização de vidas no cárcere brasileiro. O capítulo traça um retrato da precarização e do desrespeito aos direitos humanos dentro do sistema penal, bem como da violência reservada a esses corpos dentro das instituições carcerárias no Brasil, dando-nos uma visão bastante ampla acerca da virilidade inserida no sistema penal como um instrumento de dominação e uma forma de subjugar corporalidades consideradas abjetas, excluídas do ideário machista.
A questão da corporalidade é também trabalhada lançando-se um olhar para a área da saúde. Nos textos Cada cicatriz conta uma história: corpos doloridos, de Regiane Corrêa de Oliveira Ramos e Frida Pascio Monteiro; Paradoxos discursivos na luta pela inserção social das brésiliennes em Paris, de Marina Duarte e Daniel Wanderson Ferreira; e Despatologização das identidades trans desde os transativismos na Abya Yala: notas sobre uma experiência acadêmica-ativista avaliativa e participativa, de Fran Demétrio, vemos as relações estabelecidas entre o discurso médico e a “criação”, manutenção e (des)patologização dos corpos em transição.
Ramos e Monteiro conectam a vivência de homens e mulheres transexuais no Brasil e na Índia ao discorrer sobre a insubmissão dos corpos frente ao sistema patriarcal, e sobre a violência sofrida por esses corpos em trânsito em suas buscas pela adequação corporal à sua subjetividade. Aqui, nos é exposto também um panorama relativo à lida médica diante de indivíduos transexuais que desejam intervenções cirúrgicas em sua construção corporal.
Duarte e Ferreira comentam sobre a migração de travestis brasileiras para Paris, principalmente com o objetivo de trabalhar no mercado sexual. Também nos é apresentada a figura de Camille Cabral, ativista brasileira trabalhando em território francês em prol da saúde das prostitutas travestis e transexuais. O texto conta com um extenso trabalho de pesquisa relativo à trajetória dos projetos de saúde desenvolvidos por Cabral e associações que trabalham em parceria com esta, em um esforço para a visibilidade e manutenção da saúde dessa população, principalmente em relação ao vírus do HIV/AIDS.
Demétrio, por sua vez, traz a discussão desses corpos em trânsito para o âmbito da América Latina. Em seu texto a autora analisa a situação cultural e sociopolítica de pessoas trans em vários países latino-americanos, além de refletir sobre o papel da justiça, da medicina e da psicologia no tratamento dispensado às comunidades transexuais.
A corporalidade como instrumento da expressão da subjetividade e como fazer artístico é assaz visível nos textos Reflexões transversais sobre o corpo de Hija de Perra (1980-2014), de Thiago Henrique Ribeiro dos Santos; “Com a sobrancelha lá na puta que pariu”: a arte de ser drag em Belém do Pará – a NoiteSuja e as drags Themônias (2014-2018), de Ana Paulo Gomes Barbosa; “Não quero ouvir falar em outro transformista, o que não for Olga del Volga é vigarista”: o nonsense debochado de Patrício Bisso na década de 1980, de Robson Pereira da Silva; DZI Croquettes e os corpos em trânsito, de Natanael de Freitas Silva; e Identidades em trânsito: revisitações acerca da arte da montação, de Juliana Bentes Nascimento.
Em sua análise sobre a trajetória de Hija de Perra, Santos vale-se de conceitos como o de corpo falante, o de máscara e mascaramento, e o de rostilidade, para traçar um esboço sobre a construção corporal de Hija de Perra, em um estudo que mistura fragmentos de dados biográficos e ficcionais do que Santos nos apresenta como uma “poética abjeta e marginal”, um corpo monstruoso e indisciplinado. Colocando-se fora de uma lógica colonial binária, que admite apenas “homem” e “mulher” como construções sociais e sexuais cujas existências são autorizadas, Hija de Perra inventa outros modos de existir, surgindo como uma subversão do sistema, um indivíduo incompreensível pela mentalidade patriarcal hegemônica.
A fuga da normatividade é também explorada por Barbosa ao dissertar acerca das drags Themônias, um grupo que se diferencia das drags “convencionais” a partir, entre outros pontos, da criação de novos conceitos estéticos. É nesse contexto que Barbosa questiona o que é ser drag, além de comentar sobre o pensamento binário ainda existente em meio à comunidade LGBT+ que privilegia as drag queens aos drag kings. A autora também reflete a respeito dos elementos que caracterizam um gênero e quais os limites, se é que existem, entre sexo, gênero e sexualidade dentro de uma lógica heterossexual compulsória. Em sua análise, Barbosa discorre sobre indivíduos que, ao se montarem, são identificados com o gênero masculino, feminino ou nenhum dos dois.
Robson Pereira da Silva, por sua vez, investiga a performance artística de Patricio Bisso como a sexóloga russa Olga del Volga. Em seu texto, o autor explora a performatividade da linguagem da personagem de Bisso de forma a dar vazão a uma subjetividade de gênero que não seria, dado o momento histórico no qual o artista viveu, benquisto frente à sociedade. A mistura de dualidades na figura de Olga del Volga e de Histeria (outra personagem tratada no texto), como o belo, o feio, assim como a fuga aos padrões de beleza e o discurso enviesado por absurdos, unem-se na criação do nonsense utilizado por Bisso em sua arte. Silva defende que ambas as personagens apresentadas no capítulo seriam elas próprias afrontas aos padrões de beleza e comportamento impostos às mulheres.
No âmbito desses questionamentos acerca dos padrões decretados pela lógica cis-heteronormativa, Natanael de Freitas Silva explora a problematização da virilidade e das atribuições de gênero socialmente construídas ao comentar sobre os DZI Croquettes. O autor reflete sobre o período ditatorial brasileiro e como a homossexualidade foi associada a uma doença social, uma degenerescência e um grave pecado aos olhos de setores sociais conservadores. Nesse panorama, a negação de traços tidos como femininos era vista como uma necessidade, uma vez que o feminino era uma mácula na utopia cis-heteronormativa. Em seu texto, Silva comenta também sobre o corpo não mais como uma ferramenta de adequação, mas sim de aperfeiçoamento da performance artística em constante diálogo entre a corporalidade masculina e feminina, uma ambiguidade subversiva e perigosa à “moral e os bons costumes”.
Na discussão relativa à quebra desses parâmetros cis-heteronormativos, Nascimento contribui ao enviesar seus comentários em direção à montação. Ligada ao conceito de mascaramento, a autora trabalha a ideia de montar-se para uma ação em busca não apenas de um efeito estético, mas também de uma nova percepção corporal. Ao comentar sobre formas de montação, como drag queen, drag king, transformismo, cross-dressing e drag queer, incluindo também as drags Themônias, Nascimento monta um panorama sobre esse processo identitário e artístico, em constante diálogo com a performatividade de gênero.
Em alguns capítulos o corpo em trânsito é observado a partir das vivências da infância. Em Vidas dissonantes em memórias de infância: as artes de existência como resistência ao desaparecimento social, de Raquel Gonçalves Salgado e Bruno do Prado Alexandre; e Traíd@s pela verdade: análise cinematográfica sobre a infância trans nas obras francesas Ma vie em rose (1997) e Tomboy (2011), de Márcio Alessandro Neman do Nascimento, Eloize Marianny Bonfim da Silva, Jefferson Adriã Reis e Jéssica Matos Cardoso, nos é exposto um panorama sobre a vivência e construção da identidade sexual e de gênero de crianças em meio a um ambiente adultocêntrico e LGBTfóbico.
Salgado e Alexandre exploram as bagagens memorialísticas de infância de travestis durante suas passagens por instituições escolares. Um fato que torna-se bastante evidente nas narrativas apresentadas é o despreparo da escola para lidar com experiências de gênero dissonantes dentro do sistema de heteronormatividade compulsória. São vivências rechaçadas e desprezadas, mas também rebeldes frente às convenções de gênero e sexualidade.
Já Nascimento, Silva, Reis e Cardoso tecem uma reflexão a respeito das experiências de gênero e sexualidade na infância a partir de obras cinematográficas. Assim como no texto de Salgado e Alexandre, notamos nesse capítulo a violência direcionada à criança que de alguma maneira desvia do comportamento convencionado segundo as normas da sociedade machista. Ambos os textos trabalham em consonância, proporcionando-nos relevantes contribuições ao entendimento da vivência do indivíduo transexual na infância, um importante período de construção da individualidade.
A carga memorialística também é perscrutada por Fábio Henrique Lopes e Paulo Vitor Guedes de Souza no capítulo Suzy Parker e Yeda Brown. Amizade, modos de existência e invenções de si. Nele, por meio de entrevistas, somos apresentados à cena cultural do Rio de Janeiro da década de 1960, na qual travestis inseriam-se no entretenimento noturno da cidade e experimentavam intervenções estéticas corporais a partir de modelos de feminilidade branca e cisgênera. Nesse período notamos a formação de redes de solidariedade para com as artistas travestis que inseriam-se nesse meio.
Lopes e Souza discutem o abandono da ideia do comportamento viril como algo necessário e o autorreconhecimento dessas artistas como mulheres, numa emancipação do padrão cis-heteronormativo – um rompimento com padrões sociais de gênero artificialmente construídos e já então falidos.
A representação das incongruências corporais na mídia também é discutida por Jéfferson Balbino em Representações da transgeneridade na teledramaturgia brasileira, texto no qual o autor preza por explorar, no cenário televisivo do Brasil, a forma como personagens transexuais foram levadas à grande massa consumidora de telenovelas.
Como comenta Balbino, configurando-se enquanto veículo de grande influência cultural e política, a mídia televisiva tem capacidade de provocar reflexões em larga escala e revisões de aspectos culturais. É a partir desse pensamento que o autor analisa a figura de transexuais inseridas em três novelas, a saber: Tieta (1989), As filhas da mãe (2001) e A lua me disse (2005). Balbino pondera sobre questões de subversão de gênero, comicidade voltada ao tratamento dessas personagens e confusões comuns no tratamento dos conceitos de sexualidade e gênero.
Acerca da (in)visibilidade de subjetividades e corporalidades trans, os capítulos Da invisibilidade visível: o caso de Edmundo de Oliveira (Belo Horizonte, 1952-1981), de Luiz Morando; Travestis e transexuais brasileiras: ativismos e estratégias de resistências nos processos históricos de pessoas e coletivos organizados, de Adriana Sales, Herbert de Proença Lopes e Wiliam Siqueira Peres; e A invisibilidade das vivências não binárias das sexualidades e gêneros e a reivindicação do direito de aparecer: itinerários de uma pesquisa/viagem no cistema binário na educação, de José Augusto Gerônimo Ferreira e Leonardo Lemos de Souza, tecem reflexões sobre a forma como as manifestações de gênero e sexualidade, desviantes da norma cis-heterossexual hegemônica, são lançadas na marginalidade em uma tentativa de apagamento dessas vivências. Ao lançar foco sobre a experiência de vida de Edmundo de Oliveira, Morando traça um panorama do modo como a mentalidade patriarcal obriga Oliveira a jogar com a visibilidade e a invisibilidade de sua identidade, de modo a tentar encaixar-se na sociedade de sua época.
Da mesma maneira, Sales, Proença e Peres pintam um retrato das invisibilidades e violências que atingem as comunidades de travestis e transexuais, ao mesmo tempo em que essas coletividades resistem ao apagamento de suas histórias. O texto aponta para o fato de que, ao transitarem seus corpos, esses indivíduos tornam-se um desafio ao poder machista que deseja apagar suas histórias, negando o processo de desumanização desses corpos.
Já Ferreira e Souza lançam sua atenção para a academia ao discutirem a produção de conhecimento sobre transexualidades dentro da universidade, muitas vezes realizada através de um olhar cis-heteronormativo. A visão da academia explorada pelos autores é a de um ambiente no qual o progresso e o retrocesso de ideias comumente coexistem e acabam produzindo saberes construídos sob pontos de vista hegemônicos.
Em Ode à engenharia textual transvestigênere: uma leitura de Liberdade ainda que profana, de Ruddy Pinho, Cláudia Maria Ceneviva Nigro e Luiz Henrique Moreira Soares dissertam sobre a representação de transgeneridades e travestilidades dentro do discurso literário. A partir da escrita em tom memorialístico de Ruddy Pinho, vislumbramos o modo como a autora torna-se ela própria um sujeito de sua escrita ao desconstruir ideais de gênero, sexualidade e identidade única, reafirmando sua existência enquanto um corpo transgressor. A maneira como a escritora é retratada denuncia a instabilidade da identidade masculina e feminina dentro de um contexto sociocultural que caminha, ainda que vagarosamente, para uma configuração plural.
Por fim, em A busca pelo corpo perfeito: uma rápida autoetnografia e análise interseccional da intersexualidade, Carolina Iara de Oliveira discorre acerca das violências sofridas pelo corpo e pela subjetividade de pessoas intersexuais. No texto de Oliveira, os discursos social e médico são ponderados a partir da vivência do indivíduo, na qual misturam-se violências geradas por preconceitos não apenas relacionados à sua materialidade genital, mas também à sua sexualidade, raça e classe social. Oliveira traça assim um quadro bastante claro acerca da maneira como a interseccionalidade atua ativamente na tentativa de adequar os corpos aos padrões cis-heteronormativos.
A recolha de materiais dos mais diversos tipos e nos mais diversos meios, como documentos oficiais, novelas, vídeos de internet, livros e entrevistas, torna a coletânea uma prolífica fonte de informações e fornece uma relevante base para reflexões sobre a subjetividade e a corporalidade dentro da comunidade LGBT+, principalmente no concernente a travestis e transexuais. Os relatos que servem de base para as análises desenvolvidas nos capítulos são em algumas ocasiões apresentados pelas palavras do próprio indivíduo a vivenciar tais situações, permitindo um mergulho na subjetividade das/os entrevistadas/os e o surgimento de um sentimento de empatia por aqueles cujas experiências estão sendo tratadas.
Na obra Corpos em trânsito: existências, subjetividades e representatividades somos confrontados com corporalidades que não afirmam sua existência a partir de uma forma única de ser. Esses corpos posicionam-se enquanto elementos integrados política, social e culturalmente, ainda que empurrados à margem, em uma sociedade de base patriarcal hegemônica, na qual a valoração dos corpos dá-se através de um olhar cis-heteronormativo. Os modos artísticos de construção do corpo e de expressão do eu interior através das estruturas corporais abrem um horizonte no qual não encontramos apenas a violência comumente dispensada à comunidade LGBT+, mas também uma forma de arte e de enfrentamento do sistema limitante de binaridades homem/mulher.
Transitar, na obra, é mais do que apenas expressar uma individualidade e uma subjetividade latentes, é também transgredir as rígidas normas sociais, políticas e religiosas que vêm regulando o comportamento humano há milênios, em busca de uma expressividade sem restrições. Formada por textos de leitura acessível, diversas vezes utilizando vocabulário próximo ao comumente usado por membros das comunidades LGBT+, Corpos em trânsito: existências, subjetividades e representatividades configura-se como uma oportunidade de conhecimento e aprendizado, além de uma valiosa contribuição aos estudos corporais, aos estudos sobre gênero e sexualidade, bem como aos estudos LGBT+.
Notas
2. Utilizamos a sigla LGBT+ pelo fato de “LGBT” ser de uso mais corrente do que outras abreviações, como LGBTQI, por exemplo, e por considerar que o sinal de adição (+) indica a abrangência de todas as individualidades representadas por essa comunidade, como queer, intersexuais, assexuais etc. Dessa maneira a nomenclatura fica menos extensa.
Marco Aurelio Barsanelli deAlmeida1 – Possui graduação em Licenciatura em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2010). Desenvolveu estudo acerca do processo de adaptação fílmica de obras do escritor Neil Gaiman. Concluiu em 2015 o programa de graduação em Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Italiano da Unesp Câmpus de São José do Rio Preto. Concluiu também em 2015 o curso de Mestrado, cujo foco de estudos foi a adaptação cinematográfica da figura do herói do romance Stardust (1999). E-mail: [email protected]
GOMES, Aguinaldo Rodrigues; LION, Antonio Ricardo Calori de (org.). Corpos em trânsito: existências, subjetividades e representatividades. Salvador: Editora Devires, 2020. Resenha de: ALMEIDA, Marco Aurelio Barsanelli de. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 12, n. 23, p. 197-203, jan./jun., 2020.
O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História | Durval Muniz de Albuquerque Júnior
ALBUQUERQUE Jr, Durval Muniz de. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019. 276 p. Resenha de: SOUZA, Vitória Diniz de. A História como tecido e o historiador como tecelão das temporalidades. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.508-514, jan./jun., 2020.
A historiografia está em constante transformação, por isso, certas tendências foram sendo esquecidas com o tempo e outras surgiram para formular novas maneiras de produzir história. O livro do historiador Durval Albuquerque Júnior, O Tecelão dos Tempos, nos convida a refletir sobre a escrita da história e a inventar novos usos e sentidos para o passado. Essa sua obra pode ser encarada como um manifesto para os historiadores/as repensarem a sua prática e a abandonarem certos convencionalismos que marcam a tradição historiográfica.
O “Prefácio” é escrito por Temístocles Cezar, que define o livro como uma “constelação simultaneamente erudita e polêmica, ferina e generosa, que pode ser lida de trás para frente, de frente para trás, com os pés descalços no presente, com olhos no passado ou como projeto de uma história futura” (CEZAR, 2019, p. 12). Sendo essa uma boa descrição de como esses textos se entrelaçam e convidam seus leitores a mergulharem em polêmicas discussões sobre a história e o seu estatuto hoje. De fato, a escolha do estilo ensaístico na escrita desse livro é ousada, principalmente, pela liberdade que esse gênero possibilita para quem escreve. Estilo narrativo que foi preterido pela historiografia por muito tempo, em especial, no Brasil. Nesse caso, o ensaio é uma maneira interessante para se iniciar discussões, aprofundá-las, mas sem as amarras conclusivas que certos textos exigem, como os artigos.
Essa obra está dividida em três partes, a escrita da história, usos do passado e o ensino de história, que estão organizadas de maneira sistemática, a partir das temáticas discutidas nos ensaios, articulando-se em uma diversidade de discussões que se interligam em diferentes momentos. Causando uma sensação de fazerem parte de uma mesma narrativa, com início, meio e fim, mesmo que não tenham sido escritas em ordem cronológica, ou que não sejam lidas na ordem apresentada. Por outro lado, pela sua heterogeneidade, cada capítulo inicia uma discussão independente das outras e rica em si mesma. Na primeira parte, “A escrita da história”, inicia a discussão sobre o trabalho do historiador e o estatuto da história enquanto disciplina, problematizando sobre o lugar do arquivo e sobre a prática historiadora – da análise documental ao seu processo de escrita. Enquanto isso, em “Usos do passado”, propõe reflexões sobre passado, memória, patrimônio, comemorações, traumas e esquecimentos. Dessa maneira, possui um olhar criativo sobre esses conceitos tão caros a história, como também, conceitualiza-os, explicitando seus significados e usos, e propondo uma (re)apropriação deles. Na terceira parte do livro, “O ensino de história”, centraliza as discussões acerca da disciplina histórica e o ensino da história na Educação Básica. Demonstrando que além de um erudito e pesquisador, ele também é professor, defendendo a necessidade de um ensino de história que se reinvente dada a situação atual da educação escolar.
Dando início, no capítulo que dá nome ao livro, “O tecelão dos tempos: o historiador como artesão das temporalidades”, defende as razões para que o trabalho do profissional da história seja considerado como de um artesão, pois […]a história nasce como este trabalho artesanal, paciente, meticuloso, diuturno, solitário, infindável que se faz sobre os restos, sobre os rastros, sobre os monumentos que nos legaram os homens que nos antecederam que, como esfinges, pedem deciframento, solicitam compreensão e sentido (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 30).
As metáforas enriquecem o texto de maneira que o leitor pode compreender a atividade do historiador a partir da comparação com outros ofícios. Mas também, oferece ao profissional uma reflexão sobre a sua prática, principalmente, sobre a sua escrita que, muitas vezes, se vê enrijecida por um texto acadêmico sem vivacidade. Em certo momento, o autor compara o trabalho do historiador com o de um cozinheiro do tempo “aquele que traz para nossos lábios a possibilidade de experimentarmos, mesmo que diferencialmente, os sabores, saberes e odores de outras gentes, de outros lugares, de outras formas de vida social e cultural” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 32).
Em seguida, no capítulo “O passado, como falo?: o corpo sensível como um ausente na escrita da história”, ele faz uma defesa da colocação do corpo, do sensível, das dores, dos sofrimentos, dos afetos, dos sentimentos como lugares para a história. A partir dessa perspectiva, ele aponta para a necessidade de se discutir novas maneiras de expressar as sensibilidades na narrativa histórica, criando novas estratégias que possam expressar na própria pele do texto essa presença, ignorada e mutilada das narrativas acadêmicas. Um corpo que é erótico, que sente afetos, raiva, desejo, rompendo, dessa maneira, com o pudor que cerca a historiografia.
As sensibilidades é um dos temas mais recorrentes ao longo dos capítulos, sendo que em “A poética do arquivo: as múltiplas camadas semiológicas e temporais implicadas na prática da pesquisa histórica”, Durval Albuquerque Júnior critica os historiadores e sua técnica de análise, afirmando que na busca pela informação, o pesquisador pode até se emocionar, pode até ser profundamente afetado pelo contato com a materialidade, mas pouco o leva em conta na hora da sua análise. Essa repressão à dimensão artística da pesquisa histórica leva a dificuldade que os profissionais da história têm de perceber, de lidar, de incorporar, no momento da interpretação, os signos emitidos pela própria escrita do documento. Em suma, a natureza da linguagem é ignorada, seus efeitos e dimensões são apenas transformados em dados. Para o autor o “trabalho do historiador é semiológico, ou seja, constitui-se na decifração, leitura e atribuição de sentido para os signos que são emitidos por sua documentação” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 64). Sendo assim, é preciso enxergar no documento as camadas do tempo, suas marcas, sua historicidade, sua materialidade, significados e sentidos que perpassem não apenas o racional, mas também, o emocional, o artístico.
A questão da poética na escrita da história se destaca no capítulo “Raros e rotos, restos, rastros e rostos: os arquivos e documentos como condição de possibilidade do discurso historiográfico”, no qual Durval Albuquerque Júnior une dois campos diferentes que causam polêmicas entre os historiadores, a ficção e a escrita da história. Inspirado em uma pesquisa do biógrafo Guilherme de Castilho sobre o poeta Antônio Nobre, ele cria um conto fictício no qual personifica os documentos como personagens da história. Instigando o leitor a estar curioso sobre o destino das cartas e dos postais que esse poeta enviou para o também escritor Alberto de Oliveira. O mais interessante é como consegue articular questões teóricas e metodológicas da pesquisa histórica em uma narrativa ficcional, provocando o leitor e sensibilizando-o a imaginar as fontes e sua trajetória. Assim, a subversão do gênero que ele propõe ao construir um texto de história por meio da ficção é uma das inovações mais interessantes desse livro.
A discussão sobre história e ficção é polêmica, tendo sido abordada por uma vasta produção historiográfica. Nesse contexto, diferentes perspectivas acerca do estatuto da história enquanto uma “verdade” entram em conflito. Como é o caso emblemático do historiador Carlo Ginzburg com a historiografia considerada “pós-moderna”. No capítulo “O caçador de bruxas: Carlo Ginzburg e a análise historiográfica como inquisição e suspeição do outro”, Durval Albuquerque Júnior critica o posicionamento de Carlo Ginzburg em relação as suas discordâncias no meio acadêmico. Visto que, Ginzburg é considerado um dos maiores “inimigos” da historiografia “pós-moderna”, entrando em conflito com nomes como os de Michel Foucault e Hayden White. Sendo que, o historiador italiano chegava a transmitir, em certos momentos, xingamentos e ofensas contra aqueles de quem discordava. Durval Albuquerque Júnior critica o seu posicionamento e manifesta as razões pelas quais Carlo Ginzburg utiliza de um procedimento retórico estratégico do discurso inquisitorial e judiciário: a submissão da variedade de formas de pensar a um só conceito, em um só esquema explicativo, que simplifica, caricaturiza e estereotipa aquelas que são consideradas diferentes. Procedimento que o próprio Ginzburg criticou em seus trabalhos, como em Andarilhos do Bem (1988), O Queijo e os Vermes (1987), entre outros. É preciso reconhecer que a dita “historiografia pós-moderna” não se qualifica enquanto uma corrente de pensamento homogênea e coerente, na verdade, ela se apresenta mais como uma diversidade de perspectivas, métodos e teorias divergentes entre si que se aproximam menos pela uniformidade que pelo rompimento com a tradição moderna que marca a história. Para Durval Albuquerque Júnior, Ginzburg utilizava essa estratégia para reduzir em inimigo todos aqueles de quem discordava.
A seguir, as reflexões acerca do passado e da memória e de seus usos no presente ganham forma na segunda parte do livro. Como é o caso do oitavo capítulo, “As sombras brancas: trauma, esquecimento e usos do passado”, no qual o autor faz referência a literatura luso-africana e algumas reflexões proporcionadas pelas obras dos autores José Saramago, Eduardo Agualusa e José Gil em relação a memória, identidade e esquecimento. Com efeito, Durval Albuquerque Júnior discute sobre a questão do trauma na história portuguesa, que apesar de todo o processo de ser uma cidade histórica que constantemente exibe os símbolos e marcas do passado, ao mesmo tempo, ignora ou esquece dos traumas vivenciados, seja a experiência salazariana, como também, o processo de colonização exploratória nos países africanos, asiáticos e americano, como é o caso do Brasil. Para o autor, é função dos historiadores expor o sangue derramado e o “cheiro de carne calcinada” e clamar por justiça. Sendo assim, a história deve ser o trabalho com o trauma para que esse deixe de alimentar a paralisia e o branco psíquico e histórico, em referência a cegueira branca do livro Ensaio sobre a Cegueira (1995), de José Saramago.
Uma discussão semelhante se segue no nono capítulo, “A necessária presença do outro, mas qual outro?: reflexões acerca das relações entre história, memória e comemoração”, no qual Durval Albuquerque Júnior elabora acerca de como as comemorações e datas históricas são encaradas pela historiografia hoje, sobre as quais há um consenso de que precisam ser problematizadas, sendo as versões oficiais alvo de críticas que se transformaram em uma densa produção historiográfica. Ele conclui sobre a importância de “fazer da comemoração profanação e não culto, fazer da comemoração divertimento e não solenidade, fazer da comemoração momento de reinvenção do passado e não de cristalização e de estereotipização do que se passou” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019, p. 190). Seguindo essa perspectiva, no décimo capítulo, “Entregar (entregar-se ao) o passado de corpo e língua: reflexões em torno do ofício do historiador”, ele traz também para o debate a questão da “verdade” e do negacionismo histórico que tem sido uma ferramenta recorrente dos grupos de extrema direita no Brasil para desqualificar o conhecimento produzido pela história. Dessa maneira, recomenda maneiras para combatê-lo, como, por exemplo, através do uso da imaginação, da linguagem e da narrativa para emocionar, sensibilizar sobre os sofrimentos, corpos e tragédias ocorridas no passado, como é o caso do Holocausto e da Escravidão. Para o autor, esse é o meio mais eficaz para que as pessoas consigam ser afetadas pelo conhecimento histórico e possam aprender com ele.
Na terceira parte do livro, o foco da discussão foi o ensino de história. Assim, no capítulo “Regimes de historicidade: como se alimentar de narrativas temporais através do ensino de história”, o historiador paraibano estabeleceu um paralelo em termos de comparação entre regimes de historicidade e regimes alimentares. Levantando questionamentos sobre a qualidade do que os alunos estão sendo alimentados nas aulas de história e apontando para a necessidade de aulas mais atrativas, lúdicas, saborosas, sem, no entanto, perder a qualidade, a crítica e a historicidade. Nesse sentido, defende que os professores devem contar histórias que sejam realmente interessantes e que afetem, de fato, os alunos. Sendo responsabilidade dos docentes, ensiná-los a terem uma relação saudável com o tempo, com a diferença e com a alteridade. Nessa proposta de um ensino mais criativo, no décimo segundo capítulo, “Por um ensino que deforme: o futuro da prática docente no campo da história”, o autor provoca o leitor/professor a desconstruir sua visão de escola e da atividade docente, proporcionando uma prática que realmente revolucione. Ele discute sobre o estatuto da escola atualmente e sua “crise” enquanto instituição formadora. Um ensino que deforme é aquele que “investe na desconstrução do próprio ensino escolarizado, rotinizado, massificado, disciplinado, sem criatividade, monótono” (ALBUQUERQUE, 2019, p. 240).
No último capítulo, “De lagarta a borboleta: possíveis contribuições do pensamento de Michel Foucault para a pesquisa no campo do ensino da história”, tece críticas acerca do uso da obra de Michel Foucault na área da educação que se centralizam apenas na escola como instituição disciplinar e que não exploram outros olhares sobre a suas obras. Dessa maneira, ele lista uma série de recomendações para os pesquisadores na área de ensino de história para explorarem a obra de Michel Foucault de outra maneira, uma pesquisa que não repita o que já foi dito, mas que seja inventiva, ousada, evitando assim, certo dogmatismo.
Durval Albuquerque Júnior é um crítico da historiografia e tem uma extensa carreira. Em O Tecelão dos Tempos, ele reúne quatorze ensaios escritos ao longo dos anos, o que explica a variedade de discussões. Esse é um livro instigante que considero a melhor produção desse historiador até o momento. Ele possui uma escrita fluída, clara e objetiva, sendo uma preocupação recorrente a explicitação sobre o significado de conceitos e ideias discutidas, para assim evitar mal-entendidos. Esse livro deveria ser lido acompanhado de outra obra desse autor, História: a arte de inventar o passado, publicada em 2007, no qual ele faz outras duras críticas a produção histórica. Obra polêmica que causou desconforto por parte dos pares acadêmicos, questão tocada por ele na introdução.
Uma das marcas da sua escrita é a presença de inúmeros referenciais teóricos, citados e retomados em diversos momentos do texto. Pela clareza do texto, é uma obra tanto para os mais experientes em teoria da história, como também para os iniciantes. Pelo fato de serem ensaios, as discussões não se encerram nos capítulos, sendo interessante para o leitor procurar as obras citadas ao longo do texto e aprofundar esses assuntos individualmente. Assim, esse exercício contribui para a melhor compreensão dos assuntos abordados e para a visão de outras perspectivas.
De fato, o historiador é como um tecelão, que tece as tramas do tempo, compondo um tecido que, nesse caso, é a narrativa histórica. Sendo também, inclusive, cozinheiro, responsável por produzir sabores, delícias e dissabores no tempo. Portanto, fica a recomendação dessa obra tão rica de discussões pertinentes aos amantes da história e que também se dedicam a produzi-la. Durval Albuquerque Júnior além de historiador, é um poeta, que apesar de não escrever poesias, escreve uma história poética, sensível, afetiva, que emociona e nos faz relembrar dos prazeres de se produzir história.
Referências
ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da História. Bauru: Edusc, 2007.
ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz de. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019.
CEZAR, Temístocles. Prefácio. In: ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da História. São Paulo: Intermeios, 2019, p. 09-12.
GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
GINZBURG, Carlo. Os Andarilhos do Bem: feitiçarias e cultos agrários nos séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Vitória Diniz de Souza – Graduação em História pela UEPB, Guarabira-PB, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação UFRN, Natal-RN. Bolsista de Mestrado do CNPq. E-mail: [email protected].
[IF]
Da Antropologia e Sociologia do corpo aos Estudos Corporais. Análise e quadro interpretativo / Albuquerque: revista de história / 2020
Estudios sociales, cuerpos y corporeidades
El cuerpo como lo que percibe, lo que toca o lo que ve, es fácil que a su vez sea lo no visto, lo rara vez tocado aunque a menudo trabajado, y como tal lo que se le ha escurrido hace tiempo a la percepción, lo no sentido. Esto llega incluso a lo normativo. La salud y el bienestar pueden definirse como el cumplimiento de la disposición de que el cuerpo no tiene que hacerse notar. Hans Blumenberg (2011)
En los últimos 30 años, y como resultado de un trabajo entrecruzado y permeable entre diferentes disciplinas (entre las cuales podemos mencionar la antropología, la comunicación, la historia, la sociología, el arte, la psicología o la educación), se ha desarrollado un amplio y novedoso campo interdisciplinario que podemos denominar con el término de habla inglesa: Body Studies (Estudios Corporales). Desde los trabajos iniciales de algunos autores que arrancaron con esta forma de investigar y de arropar el cuerpo como objeto de estudio (Marcel Mauss con su texto Techniques du corps; Michel Foucault y una amplia red de textos que han tejido escrituras corpóreas; Pierrre Bourdieu y su trabajo iniciático Remarques provisoires sur la perception sociale du corps) se creó un marco interpretativo sin la pretensión de generar un campo de estudio específico. A través de una segunda generación de investigadores dedicados todavía de forma más amplia y específica al estudio del cuerpo (Bryan Turner o David le Breton, ambos con infinidad de trabajos centrados en el cuerpo como objeto central de sus investigaciones), se han desarrollado diferentes contribuciones que, de forma casi definitiva, han permitido la posibilidad de transitar por caminos alternativos a la hermenéutica del cuerpo como algo biológico, fisiológico o biomecánico.
Es así como podemos aventurarnos a afirmar que los Body Studies nacieron, sin saberlo o sin ser plenamente conscientes de ello, como complemento o alternativa a la perspectiva anatómica y biológica del cuerpo humano. El cuerpo era (y en su esencia sigue funcionando de esta forma) asimilado a los órganos, a lo fisiológico, a lo biológico, pero muy pocas veces a su dimensión cultural o vivencial-experiencial. Desde hace más de 50 años el filósofo alemán Edmund Husserl hizo una distinción que se convirtió en algo fundamental para entender esta cuestión, y que consistió en diferenciar el concepto Leib (cuerpo vivido) de Körper (cuerpo físico).
Desde aquellos autores iniciales se ha tratado de arrojar luz sobre ciertas preguntas centrales sobre las formas de vivir la condición de humanidad. Diferentes escenarios y ubicaciones han desempeñado un papel relevante, pero de manera especial en los últimos 10 años han surgido grupos de investigación, proyectos, tesis, artículos, libros y congresos que ubican a países como México, Brasil, Colombia o Argentina como ejes globales de producción de conocimiento. El dossier que presentamos de la revista Albuquerque busca ofrecer a los lectores trabajos actuales centrados en la perspectiva de los Estudios Corporales con una amplia visión de temas y disciplinas interesados en ofrecer otras miradas sobre el cuerpo. Investigadores y académicos proponen trabajos que nos permiten seguir pensando en el ser humano y sus formas de interacción y circulación por el mundo desde su dimensión simbólica-corporal. Como hemos avanzado, se trata de un campo de intersección, de un espacio en el cual se puede discutir su ejercicio en forma de proyectos de investigación (artículos), resultados de proyectos, ensayos o artículos de revisión en los que se incorporan problemas que abordan la perspectiva de los estudios corporales desde diferentes dimensiones, inclinaciones teóricas o metodologías.
El dossier arranca con un artítulo titulado “O corpo na historia: reflexões sobre a historiografía do corpo, do gênero e das sexualidades”, que propone una profunda revisión de los estudios corporales desde la perspectiva historiográfica. El trabajo recorre distintos momentos, perspectivas, temas y metodologías que en el contexto de una disciplina como la historia han tomado forma en el cuerpo como objeto de estudio. Su propuesta consiste en analizar estos interrogantes con el telón de fondo del género y la sexualidad, verdaderos territorios de impacto social y personal del asunto corporal.
Un segundo trabajo, titulado “A morte no filme ‘Ventos de agosto’: os usos sociais do corpo”, apuesta por mostrar los estudios corporales aplicados al campo de las artes visuales. A partir de la película Ventos de agosto se despliega un conjunto de visiones sobre el cuerpo que lo trasladan hacia la muerte. ¿Qué es un cuerpo en estado final? ¿Cómo se traza una línea que separa la vida de la muerte, el cuerpo del cadáver? El trabajo apuesta por pensar y problematizar de forma dialógica la muerte como uno de los temas centrales de los Estudios Corporales. El tercer trabajo del dossier se presenta alrededor de los cuerpos que no son dóciles. Titulado “Corpos (não tão) dóceis: o rock e a juventude”, el texto transita por elementos no estándares de esta tipología de investigaciones. Se trata de pensar, o mejor dicho de repensar, los cuerpos jóvenes, productores de resistencias somáticas frente a una sociedad ultranormalizada; el rock es el hilo conductor que permite este análisis.
El cuarto trabajo lleva por título “As fronteiras de um corpo imaginário: o gênero e a identidade em ‘O menino que brincava de ser’” y propone estudiar esta obra de Georgina Martins (2000) desde la perspectiva de los estudios corporales. Ello se traduce en un recorrido analítico por las geografias del texto que confrontan las identidades, los géneros, los cuerpos y los imaginarios simbólicos que las envuelven.
Un quinto trabajo propone la recuperación de un término cada vez más en desuso frente a lo que podemos denominar “terminologías queer”. Con el título “A viacrucis do corpo travesti em ‘A Inevítavel Historia de Letícia Diniz’ (2006)”, nos adentramos en la mirada hacia la práctica del travestismo y su vinculación con la vida misma, con el dolor y el sufrimiento de las miradas y de los actos ajenos.
El sexto artículo con el título “‘Com sedas matei e com ferros morri’: o corpo em disputa (classificação, abjeção e violência no Brasil)” propone comprender la disputa de los cuerpos desarrollados a través de su clasificación, basada en la abyección y que tiene en consecuencia, la violencia dirigida a una gran parte de la población LGBT+ en Brasil.
Lo artículo “Concepciones del cuerpo en contextos multi e interculturales” habla de la importancia que reporta la multiculturalidad y la interculturalidad en el análisis de la diversidad cultural, la inclusión social, las identidades colectivas, para visibilizarlos en el cuerpo como auténtico artífice material y simbólico intercultural; el lugar de la intersección de flujos, tensiones y contradicciones del proceso intercultural, siempre precario.
El dossier cierra con un trabajo dedicado a la educación y a los estudios corporales: con el título “Los cuerpos en los procesos de formación inicial en Educación Física ¿Cómo se observan y comprenden?”, el artículo ofrece un análisis de cómo se forman, deforman o performan los cuerpos en uno de los grandes dispositivos sociales: la escuela.
Este conjunto de artículos sirve para abordar desde ángulos distintos y complementarios un marco de trabajo amplio que permite repensar un campo disciplinar todavía en proceso de construcción, y que necesita de aportes transdisciplinares que no se cierren en fronteras académicas y que fluyan por los distintos temas que forman el campo de los estudios corporales para insistir en su vigor.
Referências
BLUMENBERG, Hans. Descripción del ser humano. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2011.
Jordi Planella Ribera (Universitat Oberta de Catalunya, España)
Héctor Rolando Chaparro (Universidad de los Llanos, Colombia)
Organizadores
RIBERA, Jordi Planella; CHAPARRO, Héctor Rolando. Apresentação. Albuquerque: revista de história, Mato Grosso do Sul, v.12, n.23, 2020. Acessar publicação original [DR]
Pós-abolição no sul do Brasil: associativismo e trajetórias negras | J. M. Mendonça, L. Teixeira e B. G. Mamigonian
Beatriz Gallotti Mamigonian. Foto: LEHMT |

Convencionou-se adotar o racismo como contexto imperante, engessando as ações dos indivíduos, na qual a experiência do pós-abolição de São Paulo é imposta para as mais diversas regiões do país. Mas o livro, magistralmente, inverte a lógica. Todos os artigos se concentram nas ações desses indivíduos, no sul do país, e a partir delas que o contexto é (re)construído. São eles os balizadores das experiências limites, que ultrapassam fronteiras estruturalmente e artificialmente construídas pela historiografia, das décadas de 70 e 80. Portanto, a mudança teórica para a microanálise é o grande trunfo do livro.
Dentre os mais diversos temas de pesquisas existentes nos pós-abolição – dentre os quais destaco: saúde, migrações, expressão cultural, identidades, gênero, quilombolas, atuação política, entre outros – o livro foi certeiro em escolher dois: associativismos e trajetórias. Em primeiro lugar, encontra-se a importância de se demonstrar como a população negra não adentrou o pós-abolição de forma desorganizada, muito pelo contrário, as associações demonstraram a reunião em torno de projetos coletivos e racialmente orientados, constituindo grupos de apoio mútuo no combate ao racismo. Essa experiência compartilhada orientou e viabilizou projetos que colocavam na praça e na opinião pública a discussão sobre o processo de racialização que a sociedade passava, durante a Primeira República. A segunda grande contribuição do livro versa sobre as trajetórias. Apesar de a maior parte dos autores não realizarem uma boa discussão diferenciando trajetórias de biografias, as experiências individuais, coletivas, e, principalmente, familiares trazem uma ótima reflexão sobre o papel dessa parcela da população na construção da sociedade, do pós-abolição. A mudança de ótica da macroestrutura imobilizadora de ações individuais para a microanálise mostrou como eles usaram as incoerências dos sistemas normativos para ultrapassar as barreiras do racismo imperante para construir um novo contexto e impor também os seus projetos e desejos.
O primeiro artigo da coleção apresenta o estado da arte da discussão bibliográfica sobre os associativismos negros no período pós-abolição. Petrônio Domingues, em seu artigo, tenta atingir todas as múltiplas experiências de associativismos negros, no pós-abolição.
Verdade seja dita, os limites de páginas impostos ao autor não tiram o brilho e o trabalho empenhado para tentar acompanhar uma produção bibliográfica em ampla expansão. Petrônio elenca as associações voluntárias, tais como: agremiações beneficentes, clubes sociais, centros cívicos, sociedades carnavalescas, ligas desportivas que no seu entender são catalisadoras de laços de solidariedade e união em prol de um fim coletivo. Somado a isto também levanta a bibliografia referente as trajetórias de suas lideranças, formas de resistência, lutas, acomodações, as estratégias, as ações coletivas e o papel das mulheres. Lembra o autor que a maior parte dessas associações investiu fortemente na formação educacional de seus membros e parentes, principalmente através de cursos alfabetizantes e montando bibliotecas. Por fim, para além das atividades objetivas, muitas dessas associações foram responsáveis em oferecer uma gama importante de atividades recreativas, tais como: bailes, festas, competições, concurso de fantasias, desfiles, entre outros.
Na esteira da discussão sobre a importância dos clubes negros, uma das mais importantes contribuições do livro vem do artigo de Fernanda Oliveira. Fruto de sua Tese de Doutorado, intitulada As lutas políticas nos clubes negros: culturas negras, cidadania e racialização na fronteira Brasil-Uruguai no pós-abolição (1870-1960), o artigo condensa as principais conclusões. De longe, a mais importante foi a demonstração das trocas transnacionais de informações entre membros de clubes negros do Brasil e do Uruguai. Com isso demonstra belamente que os limites nacionais não foram impeditivos aos sujeitos de compartilharem experiências cotidianas de discriminação.
Nos capítulos seguintes conseguimos ter uma visão ampla sobre a quantidade e importância das associações negras. Racke e Luana Teixeira apresentam as agremiações em Florianópolis: o Centro Cívico e Recreativo José Arthur Boiteux (1915-1920), as Escolas de Samba “Os Protegidos da Princesa” e a “Embaixada Copa Lord”. Assim como no Paraná, Merylin Ricieli dos Santos pesquisa a existência do “Clube Treze de Maio” de Ponta Grossa, a partir de entrevistas. Em todos os trabalhos a tônica se mantêm quase a mesma, a de reforçar a existência de associações com uma identidade étnico-racial constituída e organizada politicamente com objetivos específicos.
Chegando a parte 2 do livro temos mais uma importante contribuição aos estudos do pós-abolição: as trajetórias. Nos capítulos que seguem fica claramente distinto tanto os aportes teóricos quanto a metodologia em diferenciar trajetórias individuais e coletivas.
Sobre a segunda, vale a pena reforçar nesses estudos o quanto o fortalecimento das famílias negras foi importantíssima estratégia para a manutenção da vida e consequente para a mobilidade social de seus integrantes. Logo, separaremos as pesquisas nos dois blocos: indivíduos e famílias.
São variadas e importantes trajetórias individuais externadas pelos pesquisadores. Zubaran, por exemplo, ressaltou as vidas de médicos negros, a saber: Alcides Feijó das Chagas Carvalho – graduado em 1916, defendia o “saneamento moral” obtido por meio da educação que levantaria a “moral” da comunidade negra; Arnaldo Dutra, diretor dos jornais O Imparcial, entre 1916-1918, e da Gazeta do Povo, entre 1920-1922, ambos de Porto Alegre. Assim, como o autor José Bento da Rosa que nos apresenta a belíssima trajetória de Firmino Alfredo Rosa e Manoel Ferreira de Miranda. São trabalhos aparentemente ainda em fase de execução e ao seu final com certeza serão uma ótima contribuição à historiografia.
Ao analisar as ações dos indivíduos é possível perceber as estratégias construídas ao longo de sua vida, sendo a busca pela educação uma importante engrenagem para a mobilidade social. Naomi Santos nos mostra a experiência de duas pessoas que passaram pela escravidão: Barnabé Ferreira Bello e João Baptista Gomes de Sá. O primeiro, escravizado, nasceu no ano de 1845, em Curitiba, e fora sapateiro. De acordo com a autora com o letramento e o fim do Império foi possível encontrá-lo no alistamento eleitoral de 1889. Já João matriculou-se aos 50 anos na escola noturna, sendo livre e empregado público. Essas histórias tinham por objetivo mostrar a busca por educação no processo de construção de liberdade e de lutas por cidadania, no pós-abolição. Apesar de belíssima contribuição desses trabalhos, de colocar à luz da história essas trajetórias de negros importantes, não há nesses artigos uma discussão que diferencie biografia de trajetórias, e muito menos fazem uma reflexão que diferencie “trajetórias negras” das demais.
Para além das trajetórias individuais, o livro se debruça sobre a importância das trajetórias coletivas, para ser mais preciso às famílias negras. Perussatto analisa a Família Calisto, grupo fundador do Jornal O Exemplo. Utilizando uma gama de fontes – tais como: alistamentos eleitorais, anúncios e notas diversas publicadas no jornal A Federação; habilitações e registros de casamento religioso e civil; registros de batismos e de óbitos; testamentos e inventários post-mortem; relatórios e almanaques – brilhantemente consegue traçar toda a genealogia e, principalmente, a atuação familiar na arena pública.
Calisto construiu uma ampla rede de sociabilidades entre homens de cor que lhe conferiu mobilidade e respeitabilidade, e sua atuação nos ajuda a compreender melhor o papel e a importância das famílias negras na mobilidade social, no período pós-abolição. É na trajetória familiar de Maria Teresa Joaquina que temos uma maravilhosa discussão sobre a importância das famílias negras no pós-abolição do Brasil Meridional.
Através de uma miríade de fontes, Rodrigo Weimer dá sentido e importância a trajetória da Rainha Jinga ao enfatizar o seu papel na congada e na atuação política para o reconhecimento da Comunidade Quilombola a que pertence. E sua maior contribuição é a do fortalecimento das pesquisas sobre famílias negras através de dois prismas: o primeiro se refere a percepção de que os sujeitos das famílias foram capazes de colocar suas marcas na história com autonomia superando a vitimização que normalmente lhes são imputados; e, por conseguinte; afirma ser as famílias negras a melhor unidade de observação, e não as trajetórias individuais, uma vez que as estratégias de vida não eram pensadas de forma individual, mas sim vividas e pensadas coletivamente.
Na continuidade de observar as ações coletivas e familiares de negros do pós-abolição, a História Oral se mostrou como um dos principais caminhos. Joseli Mendonça e Pamela Fabris reconstruíram as experiências das famílias Brito e Freitas, a partir da entrevista de Nei Luiz de Freitas. Descendente de escravizados, o seu depoimento abriu as portas para a realização de mais entrevistas com os seus familiares e permitiu a reconstrução de uma rede imbricada vivenciada por Vicente e Olympia. Vicente Moreira de Freitas acumulou recursos durante o período da escravidão, exercia a profissão de pedreiro, tinha instrução e obteve cargos que conferiam status e dignidade na Sociedade Protetora dos Operários –, fundada em 1883. Apesar da preocupação dos autores ser a análise das memórias e das identidades dos entrevistados, a pesquisa tem por principal contribuição a demonstração de que famílias negras, no pós-abolição, buscavam por diferentes redes de sociabilidades numa clara estratégia para diminuir as incertezas em relação ao futuro.
O último artigo dessa coletânea nos agracia com uma profunda pesquisa de microanálise em uma história de família. Henrique Espada Lima coloca em prática a redução de escala de análise de forma primorosa, buscando, ações, estratégias, incertezas e valores da família de Maria do Rosário. De acordo com a documentação, a família apostou, em primeiro lugar, na aproximação por alianças e construção de redes de solidariedade com pessoas brancas. As alianças com mulheres brancas frequentemente viúvas ou solteiras, de acordo com o autor, era conectada com “a própria vulnerabilidade a que se expunham essas mulheres – de outro modo, privilegiadas – que tentavam proteger-se de algum modo das incertezas da velhice solitária”. Mesmo que diante da possibilidade de se construir alianças, Henrique não percebe, pelo menos nesse texto, que essas relações eram construídas de modo a manter a população ex-escravizada em situação subalterna.
Em seguida, outra estratégia tomada pela família é a procura por ocupar diversos ofícios e isso permitiu o alistamento ao voto e o pertencimento à Guarda Nacional. Esses eram elementos que distinguiam homens pardos da maior parte dos seus pares, isto é, dando acesso ao exercício da cidadania. E, por último, uma das principais estratégias de mobilidade social foi a busca incessante pela educação. A trajetória da família, e principalmente de Olga Brasil, bisneta de Maria do Rosário, é marcada desde o início pelo investimento na educação formal, combinado com a participação em atividades ligadas à igreja católica. Contudo, a maior contribuição, e mais polêmica, do artigo é a de analisar uma família “parda” da escravidão ao pós-abolição. De início Henrique retoma uma discussão sobre o “silenciamento da cor” na documentação como estratégia para diminuir o horizonte de vulnerabilidade imposta aos ligados, mesmo que minimamente, à escravidão. Para o autor, à medida que a família se ascendia socialmente, a família de libertos “pardos” conseguiu se desfazer da associação com o passado escravista. E aponta, mesmo que sem aprofundamento, que o branqueamento pode ter sido um sucesso.
Verdade é que a documentação analisada não permite observar como a população ao entorno observava a família, assim como não é possível acompanhar os impedimentos de acesso a burocracias do estado ou mesmo a postos de poder. Apostar na estratégia (in)consciente de “branqueamento” da população negra, que perpassou pela escravidão e guardou em seu corpo as marcas desse passado, é muito arriscado na atual realidade da produção historiográfica a qual aposta na racialização como marco definidor dos lugares de poder e decisão, mesmo sem precisar falar de cor.
Essa é uma obra que ocupará um espaço importante na historiografia, não somente regional, do pós-abolição, mesmo que tenha altos e baixos, com artigos de historiadores ainda em formação. O livro contribui com importantes marcos, como as associações, as trajetórias individuais e familiares para a história nacional. E, desse modo, convido a todos a ler essa obra que incentivara novas pesquisas pelo Brasil todo.
Carlos Eduardo Coutinho da Costa – Professor Adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, docente do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de História da mesma instituição.
MENDONÇA, J. M. N; TEIXEIRA, L.; MAMIGONIAN, B. G. (Org.). Pós-abolição no sul do Brasil: associativismo e trajetórias negras. 1. ed. Salvador: Sagga, 2020. 293p. Resenha de: Carlos Eduardo Coutinho da. O pós-abolição no Brasil meridional. Revista Ágora. Vitória, v.31, n.2, 2020. Acessar publicação original [IF].
El continente vacío. La conquista del Nuevo Mundo y la conciencia moderna – SUBIRATS (A-EN)
SUBIRATS, Eduardo. El continente vacío. La conquista del Nuevo Mundo y la conciencia moderna. Guadalajara: Editora da Universidad de Guadalajara, 2019. Resenha de SUBIRATS, Eduardo. An intellectual journey through the Americas. Notes on El Continente Vacío. Alea, Rio de Janeiro, v.22 n.1, jan./apr. 2020.
Quiero contarles la historia sumaria de El continente vacío aprovechando su edición este año de 2019 por la Universidad de Guadalajara, México. Tratándose de un libro altamente polémico de análisis filosófico de la “conquista” española de América presentar esta cuarta edición no es un evento cualquiera. La primera, publicada en Madrid en 1993, fue destruida por la propia editorial que la publicó después de que capital ligado a la Iglesia católica española la adquiriese, destituyendo a su director Mario Muchnik. La segunda edición fue publicada, unos meses más tarde, por la editorial mexicana Siglo XXI. Su director rechazó una reedición por motivos ideológicos. La tercera edición aumentada fue publicada por la Universidad del Valle en Cali, Colombia, en 2011.
Pero también deseo aprovechar esta ocasión para explicarles lo que me indujo a escribir este libro en 1988. También deseo contarles mis andanzas por las Américas que siguieron a la primera presentación de este ensayo de interpretación del colonialismo europeo en un Madrid que celebraba el V Centenario de un Descubrimiento de América para ocultarse el continuo proceso de destrucción y decadencia de los pueblos y las civilizaciones del continente americano y de la propia metrópoli que este llamado “descubrimiento” ha traído consigo.
Yo decidí estudiar y escribir sobre el proceso de colonización de América en uno de los muchos viajes a México que entonces realizaba como joven conferenciante, profesor de estética y autor de complicados ensayos filosóficos. Llevaba tiempo vagando y morando entre New York y Cusco, Buenos Aires y Manaos, São Paulo y La Habana. A lo largo de estos viajes me iba distanciando de mis años de aprendizaje en Barcelona, París y Berlín. Yo iba ampliando el horizonte de mi conciencia. Y lo que era más importante: iba reconociendo progresivamente los límites intelectuales y las riendas mentales de una arrogante, pero decadente, conciencia europea. Y un bello día, en el Zócalo de la ciudad de México, me dije: tienes que hacer algo con esos años de aventuras y experiencias en las Américas.
Decidí comenzar por el origen y el principio del nombre y la realidad histórica de estas Américas. Es decir, decidí empezar por el largo proceso de su descubrimiento, conquista, destrucción, sometimiento y conversión, que los estructuralistas franceses habían escamoteado bajo el anodino título de una “invención de América”. El continente vacío nació de una voluntad de analizar la colonización americana a partir de sus fundamentos teológicos y teológico-políticos.
Les contaré un par de anécdotas chuscas que ponen de manifiesto el ambiente que me asediaba en el Madrid del Centenario. Un bello día, en una fiesta madrileña que ofrecía el editor de la primera edición de este libro, Mario Muchnik, la entonces ministra de educación del gobierno socialista español me espetó con una inconfundible insolencia: “¡Usted ha escrito un libro terrible, Sr. Subirats!” Meses más tarde el editor fue defenestrado y destituido. Y una de sus consecuencias fue que mi libro se liquidó por “no vender”, de acuerdo con el veredicto de los nuevos propietarios de la editorial Anaya vinculados a corporaciones nacional-católicas. Todo ese proceso estaba empañado, además, por un resentimiento antisemítico.
Este mismo año tuvo lugar la solemne presentación de la edición mexicana en la Universidad Autónoma de México bajo la presidencia de dos destacados intelectuales mexicanos: Margo Glantz y Roger Bartra. Les mencionaré uno de los temas que se debatieron en esta ocasión. Margo subrayó el punto de partida implícito en el Continente vacío: las destruidas tradiciones espirituales islámicas y hebreas de la Península ibérica. Sólo esta perspectiva histórica permite comprender el proceso colonial americano, que el intelectual judío Bartolomé Casaus o de Las Casas denominó “destruycion de las Indias”, desde sus raíces constituyentes: su principio de guerra santa cristiana y su ferocidad genocida. En otras palabras, reconstruí la eliminación sistemática de dioses, templos, ciudades y vidas, de Tenochtitlán a Cusco, a partir de las cruzadas contra las memorias, las lenguas y los pueblos hebreos e islámicos de la península ibérica.
Les contaré todavía otra anécdota que personalmente me parece curiosa. Apenas comenzando mi nueva vida estadounidense en la Universidad de Princeton, en 1994, entregué un ejemplar de El continente vacío a Princeton University Press con el objeto de su edición inglesa. Lo leyeron atentamente e hicieron elogios de su scholarship, pero dijeron que no podían publicarlo porque citaba a demasiados autores latinoamericanos, de Garcilaso y Las Casas a Bonfil Batalla, que sólo conocían aquellos lectores de habla castellana ya familiarizados con la edición mexicana del Continente vacío. Además, me señalaron explícitamente en una carta que mi punto de vista era eurocéntrico, porque partía de la lógica de las cruzadas y de la teología política del Imperio Romano y Cristiano.
No tengo que subrayarles mi opinión sobre semejante veredicto. Pero añadiré que la ignorancia y la falsificación del proceso colonial de Ibero-América sigue siendo amparado, si más no por simple omisión, limitación y pereza intelectuales, por el eje militar del Atlántico Norte en las más significativas instituciones académicas y editoriales de Berlín, Princeton o Madrid: hoy lo mismo que en el siglo dieciséis.
Con eso creo que ya puedo dar por explicado de qué trata este libro. Es la reconstrucción de la teología política de la colonización que recorre las cartas de San Pablo y los tratados de Las Casas; que recorre la destrucción sistemática de lenguas, memorias y espiritualidades a lo largo del continente americano; y que recorre la esclavitud y el genocidio de millones de seres humanos como una de sus últimas consecuencias. Pero tengo que añadir un breve comentario a esta definición minimalista del proyecto que subyace a este ensayo.
En El continente vacío seguí al pie de la letra el mantra que pronuncio el Inca Garcilaso en sus Comentarios reales: América, antes destruida que conocida y reconocida por el Occidente cristiano. Por consiguiente, decidí reconstruir la teología de la destrucción y definir la hermenéutica de restauración de las memorias y el esclarecimiento de la noche oscura de las sucesivas cruzadas de las Américas. Lo que quiere decir que es tan importante la primera parte de El continente vacío, en la que analizo desde una perspectiva netamente negativa la teología de la sujeción y subjetivación coloniales, como su segunda parte, que es afirmativa. En esta segunda parte pongo de manifiesto un vínculo ocultado entre el Inca Garcilaso y el filósofo sefardí Leone Ebreo, y señalo la alternativa hermenéutica y el nuevo humanismo que se desprende de este encuentro espiritual desde una perspectiva rigurosamente filosófica y precisamente actual; una perspectiva explícitamente crítica con la lógica del suicidio instaurado en los poderes corporativos globales.
Pero les iba a contar la historia del viaje filosófico por las Américas que siguió a la realización de este libro, y me he quedado en México. El siguiente paso, después de México, me llevó a los Estados Unidos. Y en el departamento de Literaturas Romances de Princeton University me encontré con la memoria viva de dos profesores exiliados de la dictadura española de 1939: Américo Castro y Vicente Lloréns. El título del libro que resume esta nueva aventura intelectual es Memoria y exilio, que, en su segunda edición aumentada y revisada, modifique por el de La recuperación de la memoria. En realidad, la colección de ensayos que reúnen estos libros tratan de ser ambas cosas: define la memoria exiliada como una constante del nacionalcatolicismo español hasta el día de hoy; asimismo expone una estrategia de recuperación de estas memorias impunemente negadas y clausuradas desde el siglo de la Inquisición hasta la era de Internet.
Un libro es la continuación del otro. La reconstrucción de la teología colonial en El continente vacío se abre, en Memoria y exilio, a la crítica del absolutismo monárquico, de la arrogancia nacional-católica y de los excesos doctrinarios en la historiografía moderna de la Península Ibérica e Iberoamérica. Y el análisis de la destrucción colonial de las altas civilizaciones americanas desemboca, como su última consecuencia, en una crítica de las culturas de América Latina perenemente sometidas al atraso moral, económico y político, y a la continuidad sin fisuras de las dependencias coloniales y neocoloniales. El mundo hispánico no ha tenido humanistas (los que lo fueron eran, en su mayoría, conversos, como Luis de León o los hermanos Valdés, y fueron encarcelados y exiliados, cuando no torturados y asesinados por la Inquisición). Este pequeño mundo hispánico tampoco ha tenido un pensamiento esclarecedor (los llamados “ilustrados” nunca cuestionaron el sistema autoritario que recorría la tradición escolástica ni la autoridad de la Inquisición en el Siecle des lumières); no ha conocido el liberalismo moderno (fue asesinado o exiliado con la restauración Borbónica a comienzos del siglo diecinueve); y ha cerrado sus puertas a la construcción de un pensamiento crítico en las situaciones cruciales del siglo veinte. Esos son los problemas que debatí en Memoria y exilio.
Pero quiero regresar al relato de mis viajes panamericanos. Y cerraré esta brevísima relación con un tercera y última estación. La titulé Paraíso. Esta colección de ensayos posee múltiples ediciones con títulos ligeramente diferentes, desde una optimista A penúltima visão do Paraíso, publicado en São Paulo en 2001, hasta la más sobria visión en su edición electrónica bajo el título escueto de Paraíso, en el Fondo de Cultura Económica, de 2013.
Paraíso es un cuaderno de viaje intelectual. Y, por consiguiente, es un libro más versátil que versado. Más bien me parece una rapsodia de los motivos y las motivaciones que encontraba en mi camino, guiado por la mano de andanzas y aventuras fortuitas. Y es, con todas sus torpezas, un libro de encuentros con arquitectos como Oscar Niemeyer o Lina Bo Bardi, con artistas y poetas populares, con manifiestos de la música, la pintura, la poesía y la literatura americana como los de Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Villa Lobos y Mário de Andrade. Y un libro que me abrió las puertas a los estudios posteriores sobre momentos cruciales de la cultura latinoamericana moderna como el Muralismo mexicano o Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos.
Permítanme concluir con unas palabras sobre el concepto de esclarecimiento. Su importancia en la historia moderna no puede subrayarse lo suficiente. Sin esclarecimiento no habría existido la Independencia de los Estados Unidos ni la Revolución francesa. Sin esclarecimiento tampoco hubiera tenido lugar la independencia de las naciones iberoamericanas, con todas las ambigüedades que esta translatio imperii de la escolástica y la contrarreforma españolas al esclarecimiento de Francia, los Países Bajos, Inglaterra o Alemania ha llevado consigo. Sin esclarecimiento no existirían joyas arquitectónicas y artísticas como la ciudad de San Petersburgo. Sin esclarecimiento no tendríamos una Novena Sinfonía de Beethoven. Tampoco podríamos contar con la crítica del capitalismo de Marx y la crítica del cristianismo de Nietzsche. En fin, sin esclarecimiento seriamos capaces de citar la máxima por excelencia del psicoanálisis de Freud y Jung: “Donde era Ello debe devenir Yo”, o más exactamente, donde reinaba lo inconsciente debe venir el proceso luminoso de la individuación autoconsciente. Esclarecimiento es también la finalidad suprema de la meditación en sus formas védicas, tántricas, budistas y taoístas. Y sin esclarecimiento no tendríamos el canto prometeico a un desarrollo humano en el medio de una tierra fecunda que Diego Rivera plasmó en los murales de la ex-iglesia católica de Chapingo.
A lo largo de los últimos años he organizado una serie de eventos con otros intelectuales de las Américas en torno a la idea de “esclarecimiento en una edad de destrucción”. Hemos tratado de redefinir el concepto filosófico, educativo y político de esclarecimiento desde una serie de perspectivas diferenciadas, tanto filosóficas como pragmáticas, en Sofía, Ouro Preto, Bogotá y Lima, y en New York y Santiago de Chile. Y hemos hecho público este último proyecto a lo largo de una serie de ensayos y artículos. Finalmente, también cristalizamos estas discusiones en un libro colectivo: Enlightenment in an Age of Destruction (“Esclarecimiento en una edad de destrucción”)
Pero antes de definir el significante esclarecimiento o enlightenment tengo que explicar el concepto de destrucción. Hoy vivimos amenazados bajo una gama amplia de fenómenos industriales que tienen a esta destrucción o autodestrucción como denominador común: la carrera armamentista del complejo tecnológico-industrial-militar, el envenenamiento químico de ecosistemas y el calentamiento global, y no en último lugar, los desplazamientos y el encierro en campos de concentración de decenas de millones de humanos. Paralelamente nos confrontamos con una serie de fenómenos de fragmentación política, segregación social y violencia. Y nos enfrentamos con sistemas electrónicos de manipulación y control corporativos totales sobre la vida individual de centenares de millones.
En cuanto al concepto de esclarecimiento podemos definirlo, negativamente, por lo que no es. En primer lugar, esclarecimiento no significa “ilustración”, una palabra castellana que define el lustre y el brillo de la ciudad letrada hispánica como epítome del eterno anti-esclarecimiento nacional-católico español. En segundo lugar, esclarecimiento no significa información; ni tampoco la robotización de esta información por los softwares académicos. Su fundamento es la experiencia individual de conocimiento y las posibilidades de un diálogo público sobre nuestra experiencia en el mundo. Este diálogo social esclarecedor parte de una premisa: el desarrollo de nuestras capacidades intelectuales y, por consiguiente, de los sistemas, discursos y estrategias educativas.
Nuestros sistemas educativos, en México, en Brasil o en la Península ibérica se encuentran en un estado ruinoso perfectamente administrado a través de sus salarios miserables, sus deplorables medios técnicos, la escasez de becas, y unas alternativas laborales y sociales mediocres. En los Estados Unidos las humanidades se desmoronan ostensiblemente bajo el dogmatismo antihumanista, antiestético y antifilosófico de las corporaciones académicas. Por encima de todo ello el intelectual independiente capaz de criticar, esclarecer y movilizar a una masa electrónicamente embrutecida brilla por su más obscena ausencia. Las tiranías y gobiernos corruptos dan por sentado que no es necesario investigar, ni pensar, ni esclarecer, puesto que ya tenemos smartphones.
La reivindicación del esclarecimiento y la renovación de su proyecto intelectual, referido específicamente a América Latina en la constelación del colapso completo de sus organizaciones de resistencia anticolonial, es el hilo de oro que recorre mi último ensayo Crisis y crítica. Con este proyecto, que significa revertir el proceso de regresión política y decadencia cultural impuesto por nuevas formas totalitarias de gobierno en el mundo entero, deseo poner punto final a esta presentación. A semejante tarea nos debemos todos nosotros.
Eduardo Subirats. Autor de El continente vacío, Mito y Literatura, Paraíso, La existencia sitiada, entre otras decenas de libros y ensayos. Ha vivido en España, México, Brasil y en los Estados Unidos, donde fue profesor de la Universidad de Princeton. Trabaja actualmente en la New York University. E-mail: [email protected].
[IF]
Peuples exposés, peuples figurants – DIDI-HUBERMAN (A-EN)
DIDI-HUBERMAN, Georges. Peuples exposés, peuples figurants. Paris: Les Éditions de Minuit, 2012. Resenha de: EDUARDO, Jorge. Alea, Rio de Janeiro, v.22 n.1, jan./apr., 2020.
Um dos percursos possíveis para entendermos a presença de Aby Warburg nas operações críticas de Georges Didi-Huberman é seu estudo intitulado L’image survivante. Histoire de l’art et temps de fantômes selon Aby Warburg,1 de 2002. Podemos marcar a importância desse estudo para a exposição Atlas, ¿cómo llevar el mundo a cuestas?, montada inicialmente no Museu Reina Sofía, em Madrid, entre 26 de novembro de 2010 e 28 de março de 2011. Nessa exposição, o Atlas Mnemosyne, de Warburg, é um lugar, mais precisamente uma “mesa de orientação”,*1 onde a relação topográfica entre “tableau” (quadro) e “table” (mesa) marca a diferença entre aquilo que já está previamente fixo, designado pelo quadro, e uma possibilidade heurística de um trabalho em via de fazer-se, apontada pela mesa.
Mesmo sendo um topos importante para o pensamento de Georges Didi-Huberman ao longo de outros livros, a orientação de Warburg ficou ainda mais precisa na exposição Histoires de fantômes pour grandes personnes, exibida no Le Fresnoy entre 5 de outubro e 30 de dezembro de 2012. Nessa exposição, Georges Didi-Huberman faz um recorte do Atlas Mnemosyne, especificamente a prancha 42. O movimento do filósofo e historiador da arte francês atinge uma precisão, seguramente. Dessa precisão, observam-se ainda dois aspectos em ambas as exposições: como expor as fontes, que é também como pôr a história em cena, e ainda como apresentar o mecanismo museológico da montagem. Isso fica mais evidente no ensaio fotográfico de Arno Gisinger intitulado Atlas, suite e disposto na instalação Mnémosyne 42, concebida por Didi-Huberman, que faz parte de Histoires de fantômes pour grandes personnes. Sobre os dois primeiros aspectos, o texto de apresentação introduz uma discussão em torno das “fontes” e da “história”:
Mnémosyne 42 é uma prancha de atlas desmesurada (mais ou menos mil metros quadrados) e animada. Ela está “posta” sobre o chão da grande proa do Fresnoy e pode ser observada do corredor como o mar pode ser observado da popa de um navio. Seu tema é idêntico, mas os exemplos escolhidos foram o caminho que vai dos exemplos clássicos caros a Warburg até o cinema moderno (Eisenstein ou Dreyer, Pasolini ou Glauber Rocha) e contemporâneo (Paradjanov ou Jean-Luc Godard, Harun Farocki ou Zhao Liang), incluindo também alguns documentos tirados da atualidade política mais recente.*2
A medida é a desmesura. Nesses termos, ao abordar a escala do espaço expositivo, Didi-Huberman exibe um tema que lhe é caro e que se oferece como um fio condutor entre as imagens por ele expostas em Mnénosyne 42: a questão do excesso, do pathos, do sofrimento. Mas cada um desses momentos traz consigo suas nuances, que serão discutidas ao longo da leitura de Peuples exposés, peuples figurants, quarto volume da série intitulada O olho da história (L’œil de l’histoire). Essa série a qual pertence Peuples exposés, peuples figurants também compreende os livros Quand les images prennent position (2009), Remontages du temps subi (2010) e Atlas ou le gai savoir inquiet (2011).
Em Peuples exposés, peuples figurants, de 2012, Georges Didi-Huberman toma como démarche o valor de exposição dos povos. Uma vez colocada a questão da utilização de palavras isoladas como “homem” e “povo”, surge uma reflexão com a referência a Hannah Arendt: trata-se de os homens, os povos. Além de uma história já manifestada nas mudanças econômicas, nas exigências sociais e nas maquinações políticas, existe uma história secreta nas próprias disposições interiores de um povo, como no caso do povo alemão evocado por Siegfried Kracauer, em De Caligari a Hitler.*3
Existe, no entanto, uma dinâmica que envolve o desaparecimento dos povos e sua manifestação sob as formas de vida expostas no cinema, seja por Eisenstein, seja por Charles Chaplin, historicamente discutidas como apostas estéticas distintas. Na leitura de Georges Didi-Huberman, os povos ganham as telas não apenas para ser um motivo nos filmes de ambos os cineastas citados, mas porque eles escolheram a autoexposição como o gesto revolucionário das manifestações ao longo do século XIX. (Ibidem: 30-31.) Isso nos leva a dizer que esse foi um lugar “conquistado”. Dessas manifestações, o autor escolhe um ponto crucial: trata-se das fotografias de Philippe Bazin, cujo conjunto de retratos possui um movimento elíptico da humanidade entre velhos e recém-nascidos. Se todo um aspecto do ciclo vital e biológico fica exposto, o fotógrafo, que é médico de formação e cuja prática profissional o conduziu a trabalhar o paradoxo da distância e da proximidade na fotografia, chama esse movimento de “animalidade”. Georges Didi-Huberman, ao tomar os retratos feitos por Bazin, toma essa palavra em meio ao conjunto de imagens para afirmar que existe um gesto que permanece em potência: “o que Bazin chama de ‘animalidade’ talvez seja esta humanidade concentrada na espécie do minimum vital no qual cada intensidade se bate contra a amorfia, cada gesto com sua própria impossibilidade de realização”. (Ibidem: 46.) Esse movimento acontece de forma sutil, quer dizer, é dos povos expostos que o filósofo e historiador da arte passa para os rostos, isto é, para os retratos feitos por Bazin, que ele chama ainda de “uma comunidade de rostos”.*4
Em uma espécie de arqueologia do popular, Peuples exposés, peuples figurants pode ser lido como uma investigação sobre o que é a espécie humana sob suas manifestações de comunidade, de pobreza contraposta mesmo às dimensões cívicas de um retrato de grupo ou do culto à personalidade do retrato, na qual é preciso recorrer a poemas, a gravuras que fazem dos povos formas de expressão que são, enfim, uma política de sua própria exposição. Nesse sentido, as mudanças entre diversos retratos de grupos “ameaçadores” exibem um encadeamento que vai da paranoia medieval das bruxas e feiticeiras, passando pelos contaminados pela peste até chegar atualmente a esses crimes escondidos ou anônimos na própria multidão, chamados de “terrorismo”.*5 Se isso de fato acontece com os grupos, acontece também com a exposição dos povos no que também já foi chamado de “arte degenerada”, ante os próprios totalitarismos da raça. Evidentemente, a cultura possui seus equívocos, como já escreveu Georges Bataille. No entanto, isso faz da tarefa de expor os povos algo ainda mais delicado; trata-se, ainda, de uma busca incessante de uma comunidade. Expor os povos é uma busca interminável da comunidade em que a partilha é um dom, isto é, uma dádiva, no sentido dado por Marcel Mauss até que uma partilha dos olhares e das vozes passa por uma alteração notada por Didi-Huberman como uma alteração do sentido e do aspecto que se desencadeia em uma desidentificação. Assim, a partir de Jean-Luc Nancy, Georges Didi-Huberman argumenta que “o dom do outro é, por essa razão, que faz com que a comunidade não se instaure por uma soma de ‘eus’, mas por uma partilha do ‘nós'”.*6
Em Peuples exposés, peuples figurants, existe a exposição de um mecanismo sutil que é como o espaço da imagem, antes predominado pelo culto da personalidade e pelo retrato cívico de grupo, passa a ser tomado pela presença dos povos com as revoluções e, mais precisamente, com a pobreza urbana, como a da Inglaterra do século XVII, nas pinturas e gravuras de Marcellus de Laroon. Mas será, enfim, Goya aquele que melhor expressará essa pobreza. Seus desenhos, gravuras e pinturas estão voltados para uma catalogação de gestos feita pelo pintor: desde o modo como as crianças brincam com os cães, passando pelos enterros, festas de casamento, pelos párias nos hospitais, pelos jogos de cartas, pelos risos até chegar aos fuzilamentos de pobres, enfim, esse “espaço de clamor” também é “sua grande cólera libertária”. (Ibidem: 120.) Em meio a essa passagem, tal estado de “desgraça” visto nas imagens de Goya, por exemplo, pode ser visto como uma “deformação patológica” naturalizada mais tarde, no fim do século XIX, por Jean Martin Charcot e Paul Richer, época inclusive em que a histeria surge como o marco de uma enfermidade, libertando o mundo de toda uma imagerie de possessões e de bruxarias.2
Na primeira metade do século XX, a exposição dos povos teria ainda toda uma topografia cara a Eugène Atget, próxima de uma erotização dos trajetos urbanos, como o faz André Breton com Nadja, (Ibidem: 130.) e com esse efeito o “documentário” se aproxima do “estilo”, que, ao contrário de propostas exclusivamente formais, ambos não se separam. Assim, é nesta lógica que as fotografias dos abatedouros do Parque da Villette feitas por Eli Lotar estão muito próximas não apenas do artigo “Abattoir“, de Georges Bataille, para a revista Documents, em 1929, como também podem ser vistas como a própria encarnação da imagem da carniça evocada nos versos de Charles Baudelaire.
Se Didi-Huberman se valeu de formas de sofrimento ou, para sermos mais coerentes com o vocabulário do filósofo, das “fórmulas de pathos” (Pathosformeln), de Aby Warburg, para a composição de sua prancha desmesurada no Le Fresnoy, em Peuples exposés, peuples figurants, após as fotografias de Bazin, é o trabalho de Pier Paolo Pasolini que ganha relevo. Prosseguindo com sua leitura do cineasta feita em Survivances des lucioles (2009),3 a parte “Poèmes des peuples” (“Poemas dos povos”) retoma a figuração de La sortie des usines Lumière, de 1895, em que desde as origens do cinema os atores estão na própria condição de povo, mais precisamente como os trabalhadores da fábrica onde os próprios patrões, os irmãos Lumière, se encarregam de pô-los em cena. Sobre esse filme, o cineasta alemão Harun Farocki (cuja obra é analisada no segundo volume de L’œil de l’histoire, Remontages du temps subi) desenvolveu um filme-ensaio intitulado Arbeiter verlassen die Fabrik, de 1995, expondo politicamente todo o mecanismo emocional dos trabalhadores ao final de um dia de expediente.
Afinal, o que são os figurantes? E ainda de modo mais conciso: quem são os figurantes? Sobre esse estudo que marca a passagem dos povos em cena à sua simples figuração, isto é, o movimento de fundo, lemos que “o cinema não expõe os povos, ao que parece, senão pelo estatuto ambíguo de ‘figurantes’. Figurantes: palavra banal, palavra para ‘homens sem qualidade’ de uma cena, de uma indústria, de uma gestão do espetáculo dos ‘recursos humanos'”.*7 São eles, os figurantes, que constituem um movimento de fundo para a ênfase nos protagonistas, os heróis que seriam os atores da história. Os figurantes situam-se como uma massa humana informe, em movimento, emprestando seus rostos, seus gestos, enfim, seus corpos. O desafio, ao perguntar quem são os figurantes, é se aproximar daqueles que não são efetivamente os atores, observar seus gestos e ouvir suas palavras. O desafio posto no livro é uma repentina mudança de foco, onde um olhar estrangeiro como o do espectador pode discordar do movimento das lentas da câmera para ganhar autonomia no quadro, na cena, sendo esse um primeiro passo para aproximar-se dos não atores. Sendo assim, as formas sociais de exposição dos povos mudam assim como a estética dessa apresentação: se antes a “documentação” confrontava-se com o “estilo”, é com Pasolini que a exposição dos povos desafia todo o projeto de relegá-los ao pano de fundo.
De fato, a partir da leitura de Peuples exposés, peuples figurants, Pasolini possui um movimento dialético, pois ele expõe os povos ao mesmo tempo em que se expõe aos povos, onde o desejo e o perigo estão misturados, fato que realmente interferiu na sua vida: “expor os povos supõe expor-se à alteridade, quer dizer, uma afronta de si mesmo – enquanto se é poeta ou cineasta – em um ‘gueto’ no qual não se será protegido de modo algum”.*8 Assim, é no viés de uma exposição de si mesmo aos “povos” que se baseia toda a experiência na obra de Pasolini, que pode ser resumida em uma “beleza da resistência”, da sobrevida e da sobrevivência.*9 Pasolini assumia o risco do criador não apenas no plano experimental, mas no fato que ele se incluía na exposição dos povos, sendo ainda um cineasta que resistia dentro de fora da linguagem, afrontando o real, digamos, com um cinema de poesia, valendo-se no nível de catalogação dos gestos de Goya, com clamor e glória libertária. Não à toa ele tenha sintetizado esse risco no título de um artigo que diz que “fazer cinema é escrever sobre um papel que queima”. Isso seria ainda um outro modo de expor o que Gilles Deleuze escreveu em “Imanência, uma vida…”: “minha ferida existia antes de mim” ou próximo ainda do que Maurice Blanchot, a partir de Kafka, fala da “terceira pessoa”, o “ele” que destitui o sujeito.*10 Assim, o ato de expor os povos é também o risco de se expor ao perigo, gesto que está, inclusive, no étimo da palavra “experiência” e que está no limite do que Bataille escreveu em A experiência interior: “é preciso viver a experiência, ela não é facilmente acessível, e mesmo, considerada de fora pela inteligência, seria preciso ver aí uma soma de operações distintas, algumas intelectuais, outras estéticas, outras enfim morais, e todo o problema a retomar”.*11
Essa forma distinta de exposição dos povos encontra uma força de expressão, além de Pasolini, em filmes e obras de Chantal Aakerman, Béla Tarr, Glauber Rocha e ainda Wang Bing, a quem Georges Didi-Huberman dedica o epílogo do livro ao filme L’homme sans nom (O homem sem nome). E, nessa dinâmica entre o aparecer e o desaparecer, a exposição dos povos segue de forma incessante, praticamente dialética: “assim segue a exposição incessante dos povos, entre a ameaça de desaparição e a necessidade vital de aparecer, apesar de tudo”.*12
*1 (DIDI-HUBERMAN, Georges. Atlas, ¿cómo llevar el mundo a cuestas? Madrid: Reina Sofía, 2010: 187. [ Links ])
*2 (Impresso da exposição Histoires de fantômes pour grandes personnes, concebida por Georges Didi-Huberman e Arno Gisinger para o Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains – de 5 outubro a 30 de dezembro de 2012 –, Tourcoing, França.)
*3 (DIDI-HUBERMAN, Georges. Peuples exposés, peuples figurants. Paris: Les Éditions de Minuit, 2012: 26. [ Links ])
*4 (Ibidem: 51.)
*5 (Ibidem: 67.)
*6 (Ibidem: 102.)
*7 (Ibidem: 149.)
*8 (Ibidem: 198.)
*9 (Ibidem: 211.)
*10 (Ibidem: 211.)
*11 (BATAILLE, Georges. A experiência interior. Trad. Celso Libânio, Magali Montagné, Antonio Ceschin. São Paulo: Ática, 1992: 16. [ Links ])
*12 (DIDI-HUBERMAN, Georges. Peuples exposés, peuples figurants, op. cit.: 231.
1 Editado recentemente em português, História da arte e tempo de fantasmas segundo Aby Warburg. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.
2 Quanto a esse aspecto, ver Invention de l’hystérie, de Georges Didi-Huberman, reeditado em 2012 pela Macula.
3 A edição brasileira Sobrevivência dos vagalumes (trad. de Vera Casa Nova e Márcia Arbex) foi publicada em 2011 pela Editora da UFMG.
Eduardo Jorge é mestre em Teoria Literária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e doutorando em Literatura Comparada pela UFMG e pela École Normale Supérieure – ENS.
[IF]
A liberdade é uma luta constante | Angela Davis
Talvez não seja absurda a máxima “me diga o que tu lês e eu te direi o que tu és”. Afinal, nossos gostos não são naturais. São históricos e, portanto, revelam as afinidades teóricas, posições políticas e éticas de nós mesmos e da cultura que nos enlaça. Deste modo, o ato de escolher um livro para leitura reflete as estruturas hierárquicas do poder e do saber.
Logo, escutar a fala de Angela Davis – digo escutar porque o seu texto transpõe as letras e ecoa como uma voz forte que grita a sensibilidade, por meio de seu ativismo político e suas reflexões intelectuais que, aliás, caminham lado a lado, é ganhar fôlego e coragem para falar de coisas que o projeto neoliberal tenta calar para não desestabilizar as relações de desigualdade que ele faz manter rígida.
Davis não fala do racismo contra a mulher negra. Sua frase “quando as mulheres negras se movem, toda a estrutura política e social se movimenta na sociedade” mostra como a violência contra a mulher está diretamente articulada a violência do Estado, ao sistema prisional, ao sexismo e ao capitalismo. Neste sentido, ela desromantiza o feminismo negro e lança a real: para acabar com a percepção de que a mulher negra só serve para ser subalterna ou fazer sexo barato ou forçado, não basta lutar pelo lugar de fala individual. Ter jornalista negra na bancada de um jornal não é suficiente para aplacar o racismo. É preciso refletir, no coletivo, os discursos do presente e ver como eles mantém, sob novos arranjos, o passado escravista, como no complexo industrial-prisional, nos serviços de assistência à saúde, à educação e à assistência social, todas empresas que captam lucros obscenos graças ao encarceramento e a alienação da população. É, pois, na correlação entre as categorias de gênero, raça e classe que somos alertados a pensar e mudar nossa experiência.
Deste modo, as reflexões de Davis nos lançam para a interseccionalidade, um conceito de estrutura intelectual e política que tensiona o dinamismo da violência presente no enodamento entre patriarcado, supremacia branca, Estado, mercado, imperialismo e capitalismo. A luta pela liberdade não é limitada, ela se estende a todas as condições de vida desafortunada do mundo. Para tanto, ela convoca a pensarmos em estratégias e táticas que sejam acessíveis a uma amplitude de pessoas, incluindo aquelas cujo nível de despolitização banaliza injustiças. Para ela, a luta deve ser globalizada, exercida pelo coletivo. Só assim poderemos enfrentar a militarização da sociedade, sempre com beleza e estímulo. Ela realça essas condições para a luta.
Contra o insidioso individualismo capitalista, que é perigoso e inclusive modela e enfraquece as formas de lutas, Davis enfatiza que os movimentos coletivos devem ter maior importância que as falas sobre indivíduos tomados isoladamente. Outrossim, a história não deve ser percebida como gerida por personalidades heroicas, mas por pessoas comuns, que em espírito de comunidade, exercem seu protagonismo. Logo, não se pode reduzir o enfrentamento do racismo a pessoa de Nelson Mandela ou Martin Luther King. Eles foram figuras importantes, claro, mas suas realizações, como eles mesmos reconheciam, aconteceram no âmbito coletivo.
Do mesmo modo, não se pode reduzir a luta contra o racismo a questão da representatividade individual. O ingresso de pessoas negras em quadros de reconhecimento socioeconômico – ter tido um ministro negro como presidente do STF, por exemplo – não aplaca os efeitos do racismo na vida da maioria da população negra. Aliás, é assim que o capitalismo opera seu politicamente correto: individualizando-o, ou seja, concentrando o discurso contra o racismo em exemplos isolados para mantê-lo aceso em suas engrenagens. Assim, os discursos pela representatividade devem se referir a luta pela liberdade negra, o que inclui a acessibilidade aos direitos legais, é verdade, mas, sobretudo, a possibilidade de subsistência concreta, através de moradia, saúde, educação, emprego, segurança, enfim, ao desmonte estrutural do funcionamento social baseado, dentre outros, na violência policial, no aprisionamento racista e na exploração capitalista.
Se tomarmos o complexo industrial-prisional, no Brasil e no mundo, veremos que sua lucratividade é diretamente proporcional a manutenção da engrenagem escravista que ele incita. A tendência a reduzir os problemas de segurança pública à construção de presídios de encobre a tática neoliberal de se desviar dos problemas sociais subjacentes – concentração de renda, qualidade da educação, gratuidade do serviço de saúde, tolerância a diversidade sexual e religiosa, etc., que, em última instância, são transformados em mercadorias extremamente lucrativas quando deveriam ser direitos fundamentais, ofertados gratuitamente a todos, sem exceção.
Dentro desta perspectiva, todo fenômeno que cerceia a vida humana deve ser tomado como uma questão social que os atos de luta por justiça devem incluir em suas pautas. É de extrema relevância uma contextualização ampliada e globalizada para compreender os fenômenos que restringem os direitos civis. Demarcar os elos que articulam as múltiplas formas do aparato segregatício, nos diferentes períodos históricos, é imprescindível. Demarcar a presença do passado no presente, para se tecer um futuro comum, é crucial. Caso contrário, como iremos compreender o fato do negro ser sempre invadido pelo medo quando do encontro com policiais por ser considerado um elemento suspeito? Obviamente, atualmente não vivenciamos os abusos escancarados do tronco de açoite de negros ou da Ku Klus Klan. Não obstante, as atrocidades policial, militar e estatal funcionam sob a mesmo modelo e funcionalidade daqueles. Basta tomarmos o número de adolescentes negros, moradores de comunidades brasileiras, mortos pela polícia.
Portanto, a criminalização do racismo nas leis não significa a abolição do racismo, que persiste de modo ostensivo, transpondo o poder judiciário. As instituições sociais tornam o racismo profundamente arraigado, escamoteado e presente no entrecruzamento dos discursos da economia, da política, da ciência, da religião, da mídia, da estética, da família, das forças armadas, da saúde, da educação e do trabalho.
Por isso, não se pode analisar a questão a partir de casos individuais. Processar alguém que cometeu um ato racista, embora seja importante, não mortifica as raízes do racismo que estão no aparato. Igualmente, ter uma mulher negra no comando de uma penitenciária não oferece garantia nenhuma. As tecnologias e o regime do poder permanecem intactos. Deste modo se o “quem matou Marielle Franco?” reivindica unicamente a criminalização e o encarceramento das pessoas envolvidas, ele estará reproduzindo o trabalho do Estado, porque quando focamos no indivíduo culpado, engajamo-nos involuntariamente na mesma lógica que reproduz a violência que supomos contestar.
Daí os esforços em agregar novas perspectivas nas reflexões dos ativistas, seguindo a linha da interseccionalidade dos movimentos e do desenvolvimento de manobras de lutas que produzam identificações entre os membros que as elaboram e, por isso mesmo, a elas se engajam. Se esse tipo de abordagem não for feita, fica até difícil assimilar a questão do abolicionismo prisional, que envolve questões ideológicas e psíquicas mais profundas que simplesmente o fechamento das instituições. Sobre isso, vale citar a representação do policial e do bandido nos desenhos infantis em que o primeiro é bom porque prende o segundo, que é mau e por isso é levado para a prisão. Ou seja, há um encadeamento implícito entre os significantes mau e prisão, que precocemente é introjetado no imaginário social, impedindo uma análise crítica sobre as condições de possibilidade da maldade, que não são inatas, são sociais. Aliás, as prisões existem para bloquear este tipo de enfoque. A mesma violência que justifica sua construção é aquela da qual ela se alimenta para exercer seu funcionamento.
Destarte, é preciso incentivar pensamentos que desmontem a idéia segundo a qual a prisão é um lugar destinado a punição de quem comete crimes. É necessário ampliar as avaliações. Para tanto, algumas interrogações são bem vindas: por que há mais negros que brancos encarcerados? Por que os escolarizados são minoria nas prisões quando comparados aos analfabetos? Parece que o holofote deveria incidir primeiro sobre os temas racismo, educação, saúde, moradia. Temos de falar do papel político, econômico e ideológico da prisão. É por aí que chegaremos na associação dela ao sistema punitivo, não o oposto. É um esquema lucrativo. Como Foucault anunciou, as prisões existem para não funcionar, para depositar pessoas que representam grandes feridas sociais. É este seu projeto. Segurança, lei e ordem são retóricas que viabilizam o aumento da população carcerária e, por efeito, consolam o eleitorado burguês, promovem a corrupção e a concentração de renda e amalgamam a incompetência e a recusa estatal aos problemas que merecem atenção.
É preciso repetir a todo instante para não esquecer: a abolição da escravatura não aboliu a instituição escravidão, que continua no modus operandi das sociedades democráticas. Lembremos da precarização do trabalho tão bem representada pelotas aplicativos de entrega.
Outro ponto importante salientado por Davis é a necessidade de não inferiorizarmos as pessoas em relação as quais defendemos os direitos. Afinal, a luta por justiça social somente será efetiva se for feita em parceria e igualdade entre aqueles que são injustiçados e aqueles que têm consciência da injustiça. A libertação das mulheres não é uma luta das mulheres, assim como o racismo não é uma luta dos negros. Pensar em termos identitários despontencializa o ato. Não podemos reduzir o feminismo e o racismo aos corpos, ao gênero, a individualidades. A luta não pertence a ninguém em si. Ela é de todos. É global e objetiva a globalidade. Todos os movimentos – população LGBTQ +, feminista, antirracista, dos doentes mentais, prisioneiros, pessoas em situação de rua, etc. devem ser coesos e agir em massa, em solidariedade transacional, pois os objetos de suas causas estão interligados e incorporam em sua estrutura reminiscências históricas de relações de poder.
A mudança deve ser sistêmica. Não podemos medir os níveis de transformação em curso se tomando como critério analítico ações individuais. O indiciamento do policial que matou o adolescente João Pedro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em maio deste ano, durante uma operação contra o tráfico de drogas, não dá conta, isoladamente, de romper a barbárie instalada pela violência policial. É preciso repensar o papel da polícia, a forma pela qual ela é encorajada a usar a violência como primeiro recurso de trabalho e de como ela repete a tendência de criminalizar a cor da pele, já reinante na época da escravidão. É curioso escutar nas narrativas de pessoas negras o quanto a cor da pele se coloca como um elemento determinante em suas relações sociais. Uma mulher negra é barrada na piscina de um clube por ser confundida com uma babá. Um homem negro na parada de ônibus é olhado com terror por pessoas brancas por poder ser um assaltante. Enfim, a ideologia entre negritude, sexualização e criminalização é controlada por um aparato que transcende a pessoas e cargos. Eleger um presidente negro não corta a raiz do racismo. Os EUA nos mostra isso. Ter Obama eleito e reeleito, com seu progressismo, não impediu o assassinato do adolescente Michel Brown, em Ferguson, em 2014, tampouco o sufocamento de George Floyd, durante oito minutos, por um policial branco, em maio deste ano. Nenhuma mudança ocorre somente porque um chefe de Estado a quer. Nenhum direito é dado. Todo direito é tomado, através de lutas da massa.
Destarte, devemos inferir que as lutas antirracista, das questões de gênero, contra a homofobia, contra as políticas repressivas anti-imigração, contra os indígenas, os mulçumanos, devem ser tomadas como um emblema da luta pela liberdade. Certamente, a liberdade de muitas pessoas é cerceada. O fato de ter uma modelo negra e trans na passarela da São Paulo Fashion Week não transforma necessariamente a condição de vida da maioria das mulheres negras e trans. Indica, apenas, a ascensão de alguns, bem poucos, indivíduos.As conexões entre os acontecimentos e experiências devem ser continuamente estimuladas para que não esqueçamos de que nada acontece isoladamente. “A injustiça em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça de todo o mundo” (DAVIS, 2018, p. 66), diz Davis, citando Martin Luther King.
O neoliberalismo incita o individualismo, fazendo as pessoas pensarem apenas nelas mesmas. Isso aparece até em seu discurso politicamente correto, afinal, o capitalismo é político e sabe usar isso a seu favor, como por exemplo, na tentativa de concentrar na pessoa de Mandela toda a luta antirracista, desconsiderando o processo vivido por um conjunto de companheiros e companheiras. Até nas supostas campanhas publicitárias feitas com pessoas negras, gordas, idosas ou com deficiência o que chama a atenção é o protagonismo para o consumo, para a vida de si mesmo.
Não podemos contaminar as lutas reivindicatórias com tal idéia, pois é no coletivo que elas se dão, apesar de todos os desafios. Afinal, “o otimismo é uma necessidade absoluta, mesmo que seja apenas um otimismo da vontade e um pessimismo da razão” (DAVIS, 2018, p. 56).
Um traço do discurso de Davis é o reconhecimento do sujeito coletivo da história. Para ela, há uma tendência em concentrar os grandes feitos históricos em individualidades masculinas e investidas de poder. Tendência esta perigosa porque enfraquece o movimento. Ora, o número de ruas em nosso país que homenageia os grandes nomes da história é altíssimo. Igualmente o é o número da população carcerária, que passa dos 773.000. Mas, também, vela o papel fundamental, nos movimentos pela liberdade das pessoas comuns, das mulheres, domésticas, trabalhadores rurais, dentre outros. Vale salientar que os regimes de segregação e autoritarismo não são destituídos pela ação de um líder e sim pelo protagonismo de pessoas que, tendo um posicionamento crítico na relação com a realidade, não se calam e vão a luta. Com efeito, o conceito de liberdade só pode ser forjado por quem dela se encontra privado. O lugar de fala deve ser dado a estas pessoas. É preciso desconstruir o mito, reforçado no imaginário social, de que existiu, existe e existirá um salvador, um messias. É claro que há pessoas na história que devem ser aplaudidas por sua perspicácia em perceberem e autorizarem atos que viabilizem a luta mediante a garantia dos direitos civis – Mandela, Lincoln, Obama, Lula, etc. Entretanto, restringir a questão da liberdade a isso é enfraquecê-la em sua amplitude. Não é suficiente o reconhecimento legal da união homossexual quando um filho de um casal homoafetivo é estigmatizado na escola.
Por isso mesmo destacar a elaboração de pautas sistêmicas, tal qual a erigida pelo Partido das Panteras Negras, em 1966, nos EUA, cujo eco ainda se faz potente em nosso século graças à amplitude de suas reivindicações. Como sugere Davis, o partido, ao reconhecer que a escravidão não seria eliminada com sua mera abolição, esforçou-se pela luta da liberdade, entendendo que nesta está incluída o fim da exploração do capitalismo aos oprimidos, a aquisição de moradias adequadas a vida humana, uma educação crítica e não alienante, saúde gratuita, o fim da violência policial, o fim das guerras, controle da tecnologia pelo coletivo, dentre outros. Talvez não seja absurdo apostar que a consciência e a amplitude do movimento tenha sido determinante para que Davis entrasse na lista das dez pessoas criminosas mais procuradas pelo FBI, sem nunca ter feito nada. Aliás, fez. Ela se insurgiu com força e determinação. E, é verdade, as faces do neoliberalismo sabem intimidar – e usa meios legais para isso – aqueles que o enfrentam, desencorajando o restante das pessoas a não se envolverem em protestos sociais. É nesta perspectiva que o assassinato de Marielle Franco precisa ser situado.
Davis nos lembra que, embora Bush tenha declarado o combate ao terror nos EUA, após o 11 de setembro de 2001, o termo terrorista já era amplamente designado aos ativistas da luta antirracista na década de 1960, no país, pelos discursos de ordem e lei do presidente Nixon. Assim, o fenômeno terrorismo parece funcionar como uma estratégia sólida para justificar truculências. Talvez caiba aqui citar que é de terrorista que o presidente Bolsonaro nomeia aqueles que lutam pela liberdade no país. Ora, o que foi a fantasmagoria em torno da operação Lava-jato e seu discurso jurídico de anticorrupção senão uma manobra institucionalizada de poder que abriu espaço para o avanço do fascismo no Brasil, com toda uma engrenagem de fake news, apoio midiático e empresarial e conivência da burguesia?
Reconhecer, pois, as continuidades entre as diferentes formas de violação da vida são imprescindíveis para se construir lutas globais para a ampliação da “linha do nós”, sem exceção de classe, gênero, raça ou etnia. E, ainda, para que o acesso ao conhecimento, ao bem estar biopsicossocial e ao trabalho não sejam determinadas pelas obscenidades do lucro capitalista.
Davis ressalta que os constantes casos de violência devem ser sempre mencionados pelos movimentos. Tal evoca luta, perseverança e coragem na construção de um futuro comum. Para ela, nomes como Michel Brown e Assata Shakur devem ser citados não apenas para prenderem os responsáveis por sua morte, mas para anunciar a verdade sobre a violência no mundo. Ou seja, para mostrar que estamos vacinados contra soluções manifestas e enganosas, que deixam intactas toda uma estrutura latente. Os movimentos contra o racismo suscitados pela morte de George Floyd, nos EUA, que se estenderam a vários lugares do mundo, guardam sua potência aí. A maneira como ele foi morto obedece a lógica da violência de que o acusam. O ato, feito por um policial branco e de todo modo institucionalizado pelo Estado, tem um único objetivo: provocar medo na população oprimida. Fazer as pessoas desistirem de denunciar a macro estrutura de poder, ramificada nos diferentes setores da sociedade, que se mantém erguida graças a opressão das diferenças.
Como entender o investimento maciço de dinheiro na construção de presídios e o corte de verbas destinadas às escolas, que se mantém sob condições miseráveis, quando se sabe que o problema da violência urbana é um problema social que não pode ser reduzido ao nível da individualidade de um suposto criminoso? Mas, o complexo prisional é mais lucrativo que a construção de escolas. Fato.
Assim, Davis insiste que o epicentro das teorias e práticas do século XXI devem ser a interseção e a globalidade. Se tomarmos a questão do feminismo, veremos que seu discurso é de certo modo aceito pela sociedade em geral e até reforçado pelo capitalismo porque, no fim das contas, ele se destina as mulheres brancas de classe média e alta que devem ser livres para ter “o seu estilo” que podem adquirir nas lojas e magazines, que vendem todos os estilos. Em contrapartida, mulheres negras, da classe trabalhadora, que inclusive trabalham com serviços domésticos para que as mulheres abastadas sejam livres, permanecem à margem, excluídas da própria categoria “mulher”. Então, de que mulher falamos? De que humanos falam os direitos humanos? Questionamentos como estes são essenciais para se desconstruir a universalização de categorias como as de “mulher”, “humano”, “negro”, que reforçam o discurso meritocrático. No fim das contas, é preciso ter consciência que o caráter revolucionário e radical das lutas não está simplesmente no esforço em incluir os indivíduos, sejam eles mulheres, negros ou trans, em categorias ideologicamente formatadas. Trata-se, essencialmente, de uma contestação à própria categoria, que precisa ser repensada para deixar de produzir normatividades, ou seja, referenciais cristalizados sobre quem pode ou não pode ser mulher, por exemplo. O trabalho empreendido pelos movimentos precisa ser feito na intersecção entre raça, classe, sexualidade e gênero, deslocando-se de uma abordagem centrada em experiências individuais e detendo-se em questões mais amplas como os sistemas de produção neoliberal, o complexo industrial prisional, o encarceramento psiquiátrico, a indústria farmacêutica, etc. Apesar desses problemas serem abordados de modo marginal e independente, a potência que os mantém ativos está justamente no elo que os liga. Vale salientar que, mesmo tendo sua identidade de gênero legalmente instituída, a mulheres trans negras e em vulnerabilidade social ainda são enclausuradas, em penitenciárias masculinas, vítimas da violência e discriminação dentro e fora das instituições.
Davis aponta a necessidade de reavaliarmos, a nível individual e coletivo, as ideologias produzidas em torno do conceito de normal. Ora, é difícil legitimar a luta pelo abolicionismo prisional se há uma percepção da massa de que as prisões são normais. Destarte, é impossível lutar pela inclusão social da loucura se esta é definida como uma doença mental essencialmente orgânica pela hegemonia psiquiátrica. Igualmente, é impossível lutar pela diversidade sexual quando há uma insistência na naturalização e binarização do conceito de gênero. Aliás, a própria ideia de normalidade é produto de condições sociais, políticas e ideológicas que são criadas para justificar legalmente e cientificamente discursos e práticas abusivas.
Assim, os movimentos pela liberdade envolvem muito mais que reivindicações de inclusão identitária. Eles envolvem a consciência em relação às estruturas de poder capitalista, ao colonialismo, ao racismo, ao fascismo e a multiplicidade de experiências que não devem ser objetos de uma categorização. Tais movimentos não nos mostram apenas a existência de uma série de conexões entre discursos e práticas de instituições diversas que tendemos a analisar isoladamente. Eles nos convocam a esboçar modelos epistemológicos, teóricos, metodológicos, éticos e de organização coletiva que nos levem além de classificações maniqueístas, moralizantes e reducionistas, incitando-nos a adentrar no universo produtivo dos antagonismos. Enfim, os movimentos nos encorajam a uma reflexão que nos permite separar coisas que concepções ideológicas insistem em permanecer unidas e, consequentemente, separar coisas que a ideologia persiste em naturalizar. Não se pode defender o abolicionismo prisional sem considerar o antirracismo. Da mesma forma, a abolição das prisões deve abarcar a crítica a ideologia de gênero.
Pensar o feminismo em um contexto abolicionista, antirracista e vice-versa, quer dizer, interseccionalizá-los, significa aplicar a máxima de que o pessoal é político, ou seja, o individual é social. Afinal, como não vermos uma continuidade entre a violência institucionalizada das prisões e a violência doméstica e sexual contra a mulher? Não podemos reduzir o machismo a questões individuais, a um repertório psicológico anormal. Precisamos compreender que modelamos nossa intimidade, nossos sentimentos e afetos, segundo estruturas políticas de poder. Neste sentido, acabamos por fazer o trabalho do Estado em nossa vida privada, reproduzindo uma estrutura racista e repressora. O aumento do feminicídio no governo antidemocrático de Bolsonaro informa-nos isso. Ora, um governo que se constrói em torno do ódio e tortura incita os mesmos atos na vida doméstica. A violência racista e sexual, contra a mulher são práticas não apenas toleradas ou negligenciadas. Ela é encorajada.
Os movimentos pela liberdade, portanto, não tratam apenas da garantia dos direitos civis. Eles visam a mudança e ao remodelamento da estrutura. Ser livre não significa simplesmente a garantia de direitos formais que permitam o acesso e participação do indivíduo na sociedade, que continuaria a funcionar sob uma engrenagem ultrajante. Ser livre é não ter que se submeter a um sistema de produção capitalista que, utilizando um vocabulário coaching, extorque o tempo de vida da maioria das pessoas, enfraquecendo os vínculos sociais, sindicais e trabalhistas, incutindo-lhes a ideal do consumo como determinante de uma vida feliz. Aliás, a luta implica repensar radicalmente nossa vida íntima, a construção daquilo que somos, pois o capitalismo já faz isso e, por isso, tendemos a reduzir nosso projeto de existência a posse de mercadorias que poderemos adquirir com trabalho e esforço, reproduzindo, assim, uma lógica escravista, em que o abusador e o abusado é o próprio indivíduo.
Por fim, Davis adverte que a luta é global, ampla, articulada, interseccionlizada, solidária, coletiva. É constante.
Kelly Moreira de Albuquerque – Possui graduação em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (2009), mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (2012) e doutorado em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (2016). Atualmente é doutora III do Centro Universitário Fanor Wyden. E-mail: [email protected]
DAVIS, Angela. A liberdade é uma luta constante. São Paulo: Boitempo, 2018. Resenha de: ALBUQUERQUE, Kelly Moreira de. Uma luta constante. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 12, n. 23, p. 204-211, jan./jun., 2020.
Dossiê: Imprensa, partidos e eleições no Oitocentos / Ágora / 2020
Ágora da imprensa: a experiência do oitocentos em revista
A década de 2020 iniciou-se com o impensável, até inícios do século XXI, questionamento da imprensa. Pode-se dizer que tudo se começou com a revolução tecnológica que tirou da imprensa jornalística a primazia da informação, disputada agora por blogs, plataformas, transmissão on-line, entre outras inovações. Em princípio, a novidade foi festejada em todo o mundo, dando ensejo a movimentos populares conhecidos como a primavera árabe e as agitações no Brasil de 2013.
Após dez anos de canais informais de notícias, emergiu o grande fantasma intitulado Fake News. Nomeado por Donald Trump, justamente o líder mais retrógrado com potencial global, reconheceram-se os danos à política que a máquina do Fake News pode proporcionar. A discussão tornou-se acalorada e colocou em novo patamar as antigas empresas jornalísticas com seus protocolos de ética a serem cumpridos sob pena de sofrerem sanções judiciais. Não se esqueceu, porém, a crítica sobre os interesses corporativos que, muitas vezes, dominam as empresas oficiais de imprensa. Não se desconsidera o poder de divulgação de notícias omitidas pela grande imprensa pelos canais informais. No entanto, enfrenta-se atualmente o desafio de produzir com a nova tecnologia informações confiáveis, éticas e fidedignas.
A imprensa merece toda atenção dos estudiosos, dado o lugar que ocupa no mundo contemporâneo. E este periódico não podia se omitir diante do assunto. Como ensina Marc Bloch, a história não é ciência retroativa, mas é sempre o passado lido com preocupações do presente. Daí a decisão de organizar um dossiê que remetesse ao século XIX, quando a imprensa era declaradamente partidária e claramente abrigava grupos de interesse. A solução do século XX em tornar a imprensa um empreendimento capitalista, como bem definiu Habermas, alterou completamente os procedimentos jornalísticos. Não nos propomos a avaliar as mudanças, mas apenas apontar as diferenças.
Nesse sentido, o dossiê temático elaborado para esta edição, intitulado Imprensa, partidos e eleições no Oitocentos, teve como proposta apresentar a dinâmica política do século XIX a partir de diferentes abordagens, evidenciando, por exemplo, a atuação de grupos políticos, as transformações na cultura política, o uso da imprensa como veículo de ideias, assim como o funcionamento do sistema representativo. O dossiê reúne textos de pesquisadores que se dedicam a analisar a política do Oitocentos por meio de investigações que vão além do viés institucional, apontando para novas reflexões teóricas que buscam as múltiplas dimensões circunscritas no campo político e da imprensa deste período.
É importante afirmar que dentre os elementos que se destacam no conjunto de textos apresentados, percebe-se a pluralidade de fontes utilizadas e suas distintas análises metodológicas para a compreensão do contexto oitocentista. Além disso, os estudos inseridos neste dossiê dedicados ao contexto político do Brasil oitocentista evidenciam desde as discussões e agitações políticas da Corte, até aquelas ocorridas em províncias e municípios.
No artigo de abertura deste dossiê, Marcela Ternavasio nos apresenta o estudo denominado Pluralidad ciudadana y unidad del cuerpo político: desafíos y dilemas de la soberanía popular en el Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX. Utilizando a imprensa da época, a autora discute os elementos que permearam a composição da dinâmica política do Rio da Prata na primeira metade do Oitocentos. A reflexão proposta tem o objetivo de recriar os ambientes de discussão política no Oitocentos e os debates acerca da representação eleitoral, a divisão de poderes e a busca por cidadania.
Com a escala de análise agora centrada no Brasil oitocentista, o artigo de Arthur Ferreira Reis, intitulado A imprensa pernambucana no processo de independência (1821- 1824), busca identificar a circulação de ideias políticas ligadas ao processo de independência por meio de jornais produzidos em Pernambuco. Já com o intuito de compreender as reformulações em torno das esferas municipais e provinciais, além do novo arranjo monárquico-constitucional, o artigo Entre a autoridade do monarca e o lugar do poder local: rupturas e continuidades na Assembleia Constituinte de 1823, escrito por Glauber Miranda Florindo, destaca as rupturas e continuidades na Assembleia Constituinte de 1823.
Momento de conturbações políticas e discussões de diferentes projetos de nação, o período regencial também se tornou objeto de análise de alguns textos contidos neste dossiê. O artigo de Kátia Santana, Ajuntamentos e política na Corte regencial (1831– 1833), destaca a análise dos registros de ocorrência da Secretaria de Polícia da Corte e os Instrumentos de Justiça, enfatizando a atuação das autoridades contra as reuniões que eram enquadradas como ajuntamentos ilícitos naquele contexto.
Já no artigo Na “Cadeira da Verdade”: a ação política dos padres por meio dos púlpitos em Minas Gerais regência, Júlia Lopes Viana Lazzarini demonstra a dinâmica política mineira na década de 1830. A autora lança mão da imprensa local para analisar a participação de padres e párocos na política provincial, indicando a participação destes em grupos políticos, além da propagação de seus discursos e a atuação dos padres no cenário eleitoral.
O artigo escrito por Pedro Vilarinho Castelo Branco, denominado Imprensa e Política no Piauí na primeira metade do período monárquico, transita entre o período regencial e o início do Segundo Reinado. O autor elabora sua análise a partir das particularidades envolvidas na criação da imprensa no Piauí, destacando as dificuldades da difusão de discussões oposicionistas diante do domínio político do Barão de Parnaíba. A imprensa oitocentista permanece no diálogo proposto por este dossiê por meio do artigo A mão pesada da morte acaba de arrebatar mais uma vida preciosa”: sensibilidades nos anúncios de falecimento no jornal “O Piauhy” entre 1869 e 1873, escrito por Mariana Antão de Carvalho Rosa. Nesta análise, as relações políticas e sociais do Piauí da segunda metade do XIX são colocadas em discussão por meio dos anúncios de falecimento e das sensibilidades envolvidas neste processo, tendo os jornais como fonte de pesquisa.
Rodrigo Marzano Munari, no artigo Eleições em São Paulo do século XIX: uma pletora de leis, votantes e votos em disputa, aborda o contexto das eleições em São Paulo na segunda metade do Oitocentos. O autor assinala os principais aspectos políticos que envolviam a dinâmica eleitoral, além de elaborar sua análise acerca do voto e dos votantes, destacando-os como participantes ativos do processo político do período.
O fim do século XIX e a difusão das ideias republicanas são reflexões também levantadas em estudos do presente dossiê, sobretudo, por meio do cenário político das províncias e da atuação da imprensa. O artigo As vozes do progresso: os liberais positivistas na imprensa capixaba oitocentista, escrito por Karulliny Siqueira, analisa a relação entre a imprensa e o projeto político dos liberais positivistas visualizado na província do Espírito Santo no início da década de 1880. Por meio dos jornais políticos, um novo vocabulário foi inserido na dinâmica política provincial, destacando a ideia de progresso e, posteriormente, abrindo espaço para a a discussão acerca do republicanismo e da crítica ao Império.
A Moção Plebiscitária de São Borja e o jornal A Federação: uma análise a partir da hipótese de agendamento (1888), é o último artigo que completa esta coletânea. Escrito por Taciane Neres Moro, este estudo analisa a imprensa republicana Rio-Grandense, evidenciando o contexto de consolidação do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, bem como sua ramificação no município de São Borja. Por meio do estudo de jornais, a autora indica a circulação do plebiscito acerca da possibilidade do III reinado no Brasil, demonstrando a adesão e a influência desta publicação no sul do país durante os momentos finais do Império.
Junho de 2020
Ou a Era do Fake News
Adriana Pereira Campos – Doutora em História (UFRJ). Professora do Departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo e dos Programas de Pós-Graduação em História e em Direito da mesma instituição. Coordenadora do Laboratório de História, Poder e Linguagens (UFES). Bolsista produtividade do CNPq. Editora Chefe da Revista Ágora desde janeiro de 2020. E-mail: [email protected].
Karul l Iny Sil Verol Siqueira – Doutora em História (UFES). Professora do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo e pesquisadora do Laboratório de História, Poder e Linguagens da mesma instituição. Organizadora do presente dossiê “Imprensa, partidos e eleições no Oitocentos”. E-mail: [email protected]
kátia Sausen da Motta – Doutora em História (UFES). Pesquisadora do Laboratório de História, Poder e Linguagens (UFES). Atua no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo como bolsista do Programa de Fixação de Doutores da Capes/Fapes, desenvolvendo pesquisa de pós-doutorado. Vice-editora chefe da Revista Ágora desde janeiro de 2020. E-mail: [email protected]
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]
Pós-abolição: sociabilidades, relações de trabalho e estratégias de mobilidade social / Ágora / 2020
O interesse dos historiadores (as) brasileiros (as) pelo pós-abolição tem crescido de forma significativa nas últimas décadas, o que trouxe à luz aspectos importantes da participação dos próprios escravizados e de seus descendentes no processo de emancipação, bem como sua atuação individual e coletiva após o 13 de maio nas mais diversas regiões do país. No Espírito Santo, berço da Revista Ágora, os estudos sobre o pós-abolição têm ganhado fôlego recentemente na esteira da renovação historiográfica sobre a escravidão observada nas duas últimas décadas. O acesso a documentos inéditos pelos pesquisadores como registros civis, eclesiásticos e outros, possibilitaram a escrita de teses e dissertações na área e o diálogo com a produção nacional. Tais trabalhos foram, em sua maioria, realizados por historiadores que compõem o Laboratório de História, Poder e Linguagens, da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenado pela Dra. Adriana Pereira Campos. Algumas dessas pesquisas estão reunidas no dossiê Pós-abolição: sociabilidades, relações de trabalho e estratégias de mobilidade social que temos a honra de apresentar.
O atual número da Revista Ágora conta com nove artigos e uma resenha, sendo cinco trabalhos baseados em pesquisas desenvolvidas em vários locais do Espírito Santo, abarcando desde a capital até áreas do interior. Os anos finais da escravidão na antiga província e os embates do período posterior à abolição são abordados nessas pesquisas que dialogam com a historiografia produzida nacionalmente.
Dentre os artigos que contemplam o Espírito Santo, está o de Michel Dal Col Costa, que busca uma conexão entre um dos eventos relacionados à resistência dos escravizados mais conhecidos localmente, a Insurreição do Queimado (1849), e um conjunto de festas e folguedos populares cuja origem remonta ao período da escravidão e segue vivo como importante componente da cultura da região central do estado.
Rafaela Lago, por sua vez, analisou as relações sociais dos libertos no imediato pós abolição (1889-1910) na cidade de Vitória, utilizando-se de registros de nascimento, de batismos e jornais locais. A pesquisadora identificou tanto a permanência quanto a chegada de egressos do cativeiro na região. Ao invés de indivíduos apáticos e desprovidos de aptidão para o trabalho livre, o leitor se depara no artigo com pessoas que no dia a dia e durante suas atividades enfrentavam dura realidade e que muitas vezes foram marginalizados e excluídos da cidadania civil.
Outro estudo sobre a região de Vitória foi realizado por Juliana Almeida. Trata-se de uma análise das relações socioculturais entre a capoeira e o candomblé. A pesquisadora observou movimentos distintos, ou seja, certo distanciamento da capoeira Contemporânea capixaba com os elementos do Candomblé e aproximações deste com o grupo de capoeira Angola, que reafirmou tradições inventadas e reforçou a identidade africana com esse estilo de capoeira.
O trabalho de Laryssa Machado desloca o nosso olhar para o sul do Espírito Santo, onde procura identificar e analisar as famílias construídas pelos escravizados em Itapemirim nas últimas décadas antes da abolição (1872-1888). Além de discutir a importância da família para os próprios escravizados e para o sistema escravista, a historiadora aborda a persistência do tráfico de almas após a Lei Eusébio de Queirós naquela região, ajudando-nos a compreender o valor da escravidão para aquela sociedade.
Ainda no sul da província, temos o artigo de Geisa Ribeiro sobre os dois principais jornais publicados em Cachoeiro de Itapemirim, o mais importante município cafeeiro do Espírito Santo nas últimas décadas do século XIX, sobre o “glorioso ato de 13 de maio de 1888”. Por meio da análise de conteúdo, a autora investiga como o jornal conservador e o jornal de tendência republicana se posicionaram diante da abolição e, principalmente, como suas narrativas foram construídas entre o efêmero momento de comemoração e a proclamação da República.
É importante reconhecer que o destaque às pesquisas locais, que consideramos fundamentais para ajudar a compreender o país em sua diversidade, não diminui a necessidade do diálogo com pesquisadores de outras regiões, o que contribui para dimensionar a presença dos pesquisadores e pesquisadoras da Bahia, São Paulo e Minas Gerais que colaboraram com este dossiê.
Com o objetivo de abordar a perspectiva dos descendentes de escravizados sobre as experiências de seus ancestrais na época da escravidão e após a abolição formal, Carolina Pereira aplicou a metodologia da História Oral em seu trabalho sobre as famílias quilombolas do Piemonte da Chapada Diamantina, Bahia. Por meio das entrevistas realizadas com netos e bisnetos de escravizados, a autora pode acessar uma memória sobre a escravidão silenciada e, assim, perceber interpretações valiosas sobre diversos aspectos da vida dos escravizados e seus descendentes durante e após o 13 de maio.
Lucas Ribeiro trouxe informações sobre a primeira associação civil negra do Brasil, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, na cidade de Salvador. O pesquisador identificou a associação enquanto um espaço importante de negociação entre lideranças de cor e políticos baianos durante a segunda metade do século XIX. Investigou como trabalhadores negociaram e disputaram um projeto político para os homens de cor, com a intenção de alcançar direitos básicos enquanto cidadãos, como educação, dignidade, assistência mútua, participação política e pertencimento racial.
Jucimar dos Santos, Fabiano de Silva e Silvado Santos discutiram em artigo a atuação de professoras e professores na “instrução popular” entre o final do século XIX e início do século XX, na Bahia. Os pesquisadores identificaram a atuação dos docentes em diferentes espaços para além da sala de aula, como na redação de jornais, em Conferências Pedagógicas, na Assembleia legislativa da Bahia, em associações sociais e na escola para formação de professores, a Escola Normal da Bahia.
Mateus Castilho utilizou Ações de Tutelas e manuscritos processados na esfera do Juízo de Órfãos para compreender a esfera do trabalho na sociedade de Pindamonhangaba (Vale do Paraíba Paulista), no período do pós-abolição. Os dados revelaram famílias negras sendo separadas e fugas empenhadas por menores tutelados na companhia de seus tutores.
Ao todo, portanto, apresentamos nove artigos e uma resenha da obra organizada por Joseli Mendonça, Luana Teixeira e Beatriz Mamigonian, “Pós-Abolição no Sul do Brasil: associativismo e trajetórias negras”, contribuição especial do professor Carlos Eduardo Coutinho da Costa (UFRRJ).
À título de encerramento desta breve introdução que não pretende tomar muito tempo do leitor e da leitora, gostaríamos de dizer que nosso objetivo com este dossiê é oferecer uma oportunidade de reflexão sobre a temática do pós-abolição que, embora tenha recebido atenção crescente nos últimos anos, mantém-se um campo fértil para novas pesquisas.
Boa leitura!
Geisa Lourenço Ribeiro – Professora do Instituto Federal do Espírito Santo (campus Viana). Doutoranda do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo sob orientação da professora Dr.ª Adriana Pereira Campos. Pesquisadora do Laboratório de História, Poder e Linguagens da Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: [email protected]
Rafaela Domingos Lago – Doutora em História (UFES). Professora da Faculdade Novo Milênio. Pesquisadora do Laboratório de História, Poder e Linguagens da Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: [email protected]
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]
Revoluções no Atlântico: Brasil e Portugal na década de 20 do Oitocentos / Ágora / 2020
Revoluções no Atlântico: Brasil e Portugal na década de 20 do Oitocentos / Ágora / 2020
Apresentação não disponível no original.
[DR]
História oral e História pública: escutas sensíveis em tempos desafiadores [1] / Canoa do Tempo / 2020
Qual é a potência dos trabalhos que se comprometem com a história oral e a história pública? Por que, nos últimos anos, ambas têm se tornado tão presentes nas pesquisas historiográficas? Como afirmou Linda Shopes [2], esses campos ou práticas nem sempre se apresentaram de forma convergente e não devem ser entendidas como sinônimos. No entanto, quando parceiras, tornam-se práticas reflexivas, ou reflexões com consequências práticas, em que ao historiador é colocado o desafio de contribuir para a construção de uma ciência em meio a um processo dialógico e inclusivo com o público, aqui entendido como mais do que massa ou audiência. Esse público é compreendido como a sociedade plural, conflituosa e dinâmica que antecede a Universidade e a ultrapassa, cobrando dela a sua reinvenção no trabalho com o conhecimento, o que significa abrir-se a demandas de grupos que tiveram suas histórias, memórias e identidades invisibilizadas.
Vivemos, no decorrer dos séculos XX e XXI, ditaduras, discriminações sociais e catástrofes que tiveram efeitos sociais devastadores e colocaram os historiadores em posição de atenção ao seu próprio tempo, de forma a colaborar na criação de comunidades de contadores/testemunhos e de ouvintes; sujeitos diversos que exigiram e continuam a exigir o direito à memória a fim de cobrar reparações, pertencimentos e reconhecimentos. A história oral, como abertura à escuta ética, e a história pública, como atitude aberta a negociações na produção, na divulgação e no acesso ao conhecimento, tornaram-se emergentes em tempos de confronto por narrativas e usos do passado, com finalidades múltiplas e interesses políticos que colidem entre si, ora para conservar leituras e privilégios, ou para romper com processos de silenciamento estabelecidos por visões lineares e vazias de experiências. Leia Mais
Complexo madeira: região, fronteiras e diversidades / Canoa do Tempo / 2020
Nas últimas décadas, a concepção de História Regional passou a se constituir como importante campo de estudos ao valorizar espaços sócio-históricos considerados periferias dos centros de tomadas de decisões políticas. Ao privilegiar noções como região, território, fronteira, etnicidade, dentre outras, ela tem possibilitado a valorização de espaços até então invisibilizados por análises historiográficas generalizantes. Os desdobramentos destas últimas têm sido, em muitos casos, a construção de representações esvaziadas de especificidades sócio-históricas, as quais negligenciam as características de determinados espaços regionais marginalizados pelas estruturas das organizações sociais hierarquizantes e pelas tendências geopolíticas hegemônicas e homogeneizadoras.
Considerando as reflexões apresentadas pelo editorial da Revista de História Regional (RHR), periódico do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a noção de “região” pode ser concebida como “uma produção de diferentes grupos, classes e culturas que a constroem mediante determinadas vivências e representações. [Assim,] uma região é tanto um espaço físico, ambiental e material quanto um espaço imaginário, simbólico e ideológico. E uma dimensão é inseparável da outra”.1 Para Claude Raffestin, o “espaço” se constitui como um campo de possibilidades para a conformação do “território” e “falar de território é fazer uma referência implícita a noção de limite que, mesmo não sendo traçado, como em geral ocorre, exprime a relação que um grupo mantém com uma porção do espaço”. Assim, “a territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a multidimensionalidade [sociedade-espaço-tempo] do ‘vivido’ territorial pelos membros de uma coletividade, pelas sociedades em geral”.2
Nesse sentido, o presente dossiê se propôs a reunir trabalhos que se debruçassem sobre as especificidades presentes na região denominada por Alfredo Wagner Berno de Almeida, em 2009, de “A última grande fronteira amazônica”. Para este autor, é preciso pôr em evidência os antagonismos sociais existentes na região amazônica, sendo importante que apresentemos elementos comparativos entre as diferentes realidades vivenciadas por indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais e outros grupos sociais denominados formalmente pelos órgãos fundiários como assentados e agricultores familiares, além dos residentes em perímetro urbano. Isto porque de acordo com Almeida, o discurso da “vocação mineral, agropecuária e energética”, voltado para a materialização de projetos desenvolvimentistas gestados na Amazônia em forma de construção de grandes obras de infraestrutura como hidrelétricas, rodovias, ferrovias, portos fluviais, dentre outros cresce a cada dia, sendo que a região denominada de “O Complexo Madeira” não está dissociada desse fenômeno.
Assim, a tese de Almeida é de que a ação das agências multilaterais, os interesses neoliberais dos agronegócios e aqueles referidos ao que se denomina usualmente de globalização “não teriam derrubado a capacidade e o poder de intervenção do Estado na região amazônica, ao contrário, se associaram a ele numa poderosa coalisão de interesses”, concorrendo para o aumento da concentração fundiária e o crescimento dos conflitos agrários nas fronteiras amazônicas.3 Por outro lado, o respeito e a preservação da relação entre natureza e cultura, no que concerne ao modo como as populações tradicionais lidam com o meio ambiente, está pautada no artigo 216 da Constituição brasileira de 1988, o qual prescreve que é responsabilidade do Poder Público e da comunidade zelar pela preservação do patrimônio material e imaterial relacionado às referências identitárias e às memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.4
Dessa forma, consideramos que as representações sobre esta parte da Amazônia compreendem diferentes espaços e perspectivas que informam particulares relações sócio-históricas desenvolvidas ao longo das relações de contato entre diferentes sujeitos e coletivos. Além disso, o espaço relacionado ao Complexo Madeira, inclui regiões fronteiriças entre os atuais estados do Amazonas, Rondônia e Acre, assim como áreas relacionadas ao Vale do Guaporé até a fronteira com a Bolívia, partindo de uma perspectiva que privilegia a História Regional e evidencia diferentes relações estabelecidas nesta parte da Amazônia brasileira. Assim, as propostas que compõem esse dossiê privilegiam características sócio-históricas específicas e particularizadas. Cada uma delas a seu modo apontam caminhos e rascunham interpretações que nos permitem evidenciar vestígios do cotidiano social nessa parte da Amazônia.
Seguindo essa linha, o texto escrito pelo professor do Departamento Acadêmico de História da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Dante Ribeiro da Fonseca, intitulado Santo Antonio do Rio Madeira: as ambiguidades de uma povoação amazonense do Mato Grosso e a Madeira-Mamoré, evidencia o processo de surgimento e a dinâmica das transformações ocorridas na povoação de Santo Antonio do Rio Madeira, assim como as mutações ocorridas desde o início da construção da ferrovia Madeira-Mamoré em sua relação com o colapso da economia da borracha no Vale Amazônico, num processo que mescla referências dos séculos XIX e XX. Dentre suas importantes contribuições está a evidenciação dos processos históricos que informam o modo como a povoação de Santo Antonio, que surgiu como uma localidade do Mato Grosso ocupada pelo Amazonas, hoje resiste como um bairro da capital do território do Guaporé, Porto Velho, RO.
Outro trabalho que evidencia processos que informam uma espécie de geografia humanística é aquele desenvolvido por Aleandro Gonçalves Leite e intitulado Sentidos colonizados: a Zona Sul de Porto Velho na redemocratização nacional. Nesta proposta, o autor analisa, através da imprensa periódica, o processo de formação discursiva da ideia de uma periferia da capital de Rondônia e apresenta elementos para refletirmos sobre o modo como os sentidos produzidos discursivamente pela imprensa dos anos 1980, no contexto de reabertura política no Brasil, influenciaram os processos de expansão urbana de Porto Velho, RO.
Partindo das concepções de patrimônio, memória e representações, apresentamos três trabalhos que nos permitem compreender o modo como a relação entre as culturais materiais e imateriais vêm se constituindo nessa região. O primeiro deles, produzido pelo professor Alexandre Pacheco e intitulado O patrimônio histórico da EFMM: entre a “política do precário” e o impacto da natureza (Porto Velho, 2007- 2017), traz como proposta a análise estética e histórica do complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), em Porto Velho, a partir dos resultados de sua revitalização/restauração, a partir de 2007, e os impactos decorrentes da chamada “Grande Enchente do Rio Madeira”, ocorrida em 2014. A ideia do autor é evidenciar como a inadequação das políticas patrimoniais de preservação da cultura material e os impactos dos fenômenos naturais têm concorrido para um processo de invisibilização da EFMM nos últimos anos.
Já o trabalho desenvolvido por Marcelo Leal Lima, intitulado A instalação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em O mar e a Selva, de Henry Tomlison e Mad Maria, de Márcio Souza, apresenta o projeto cartográfico “Complexo Madeira”, considerando a EFMM através das cartografias literárias de Tomlinson e Márcio Souza.
A proposta do autor é enveredar pela literatura de modo a evidenciar o processo de construção dessa ferrovia em plena Amazônia e indicar possibilidades do uso da literatura como elemento indicador de novos olhares socio-históricos e político-culturais na região.
Em seguida, a pesquisadora Carmem Rodrigues, no texto intitulado Um experto em Amazônia? O Visconde de Balsemão e a representação da Amazônia portuguesa no mapa “Colombia Prima or South America”, faz uma análise sobre os agentes colonizadores que auxiliaram o geógrafo inglês William Faden a produzir seu grande mapa da América do Sul intitulado Colombia Prima or South America, publicado em 1807. A proposta da autora é verificar quem foram os oficiais portugueses que auxiliaram nesta produção e, através da análise de suas trajetórias, verificar de que modo eles contribuíram para a criação de representações cartográficas sobre a região amazônica.
O terceiro conjunto de artigos traz uma mescla de discussões referentes às fronteiras, colonizações, projetos desenvolvimentistas e seus derivados impactos socioambientais. Cada um deles, a seu próprio modo, problematiza as mudanças micro e macro relacionais ao Complexo Madeira em múltiplas escalas. O trabalho escrito por Antônio Cláudio Barbosa Rabello, intitulado Agentes e agências na construção da política mineral brasileira e da fronteira amazônica (1930-1960), traz elementos para refletirmos sobre a noção de “volatividade da fronteira amazônica”, entendendo-a como produto de relações sociais em permanentes disputas na condução das políticas de Estado.
O trabalho ainda evidencia que os argumentos utilizados pelos agentes da mineração são fundamentados na ideia de que há primazia das atividades de mineração em detrimento dos processos de industrialização entendendo a primeira como principal alternativa à independência econômica do Brasil ao mesmo tempo em que produzem diferentes interpretações sobre a Amazônia e seu papel enquanto fronteira de recursos minerais.
Em seguida, o professor Rogério Sávio Link, no texto intitulado A “Ferrovia de Labre” e a consolidação da última fronteira, problematiza o projeto colonizador de Antonio Rodrigues Pereira Labre para o Complexo do Madeira e para a última fronteira brasileira entre Brasil e Bolívia. Nele, o autor apresenta elementos que contribuem com as reflexões relacionadas à História Regional do Complexo Madeira e com a evidenciação de processos de colonização e demarcação daquilo que também denomina como a última fronteira brasileira.
Já o trabalho redigido por Paula de Souza Rosa e Jéssyka Sâmia Ladislau Pereira Costa, intitulado O célebre Telesforo Salvatierra, o herói da terrível tragédia de Carapanatuba: conflitos pela posse de seringais e o mundo do trabalho no rio Madeira (1870-1887), analisa a trajetória do negociante e seringalista boliviano Manoel Telesforo Salvatierra no contexto de expansão conflituosa da fronteira extrativista desenvolvida na região. Ao refletir sobre os mundos do trabalho a partir de meados do século XIX, as autoras se propõem a reconstruir redes de relações familiares, econômicas e sociais estabelecidas por Manoel Telesforo na Bolívia e ao longo do Rio Madeira.
O trabalho que encerra esta apresentação é fruto uma excelente pesquisa desenvolvida junto aos pescadores do Rio Madeira, na região de Porto Velho. Intitulado Pescarias tradicionais da Cachoeira do Teotônio submersas pelas Usinas em Rondônia, os autores trazem à tona as transformações ocorridas na atividade de pesca de pequena escala, uma atividade de profunda importância histórica e que garantia segurança alimentar e renda para as comunidades desenvolvidas ao longo do Rio Madeira antes da construção das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Outra importância do trabalho está na evidenciação de que antes da construção das usinas, as atividades pesqueiras da região da Cachoeira de Teotônio se destacavam pela pescaria altamente adaptada à captura e produtividade. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é descrever as mudanças socioambientais e históricas ocorridas nas atividades de pesca após a construção das usinas e nos indicar de que modo a alteração da condição da pesca pela modificação antropogênica do ambiente, aliado ao deslocamento de comunidades inteiras de suas regiões de atividades de sobrevivência tradicionais, altera as relações sócio-históricas entre sujeitos e coletivos e suas paisagens ao longo de gerações de pescadores.
Dessa forma, o dossiê reflete as diferentes tentativas de seus colaboradores e idealizadores para evidenciar um caleidoscópio de possibilidades de análise sobre uma região complexa e historicamente resultante de constantes transformações sóciohistóricas e geopolíticas. Não nos admiramos, nesse sentido, de que os trabalhos distribuídos ao longo desta publicação possam suscitar possibilidades de pesquisas futuras que privilegiem aquilo que se tem denominado a última grande fronteira amazônica. Com este dossiê, esperamos contemplar diferentes pesquisadores que se debruçam sobre essa região particular, denominada de “O Complexo Madeira”.
Notas
1As publicações feitas pela Revista de História Regional desde 1996 e demais informações sobre o periódico podem ser acessadas através do endereço: https://revistas2.uepg.br//index.php/rhr/index; Acesso em: 21 jan. 2021.
2 RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder – Terceira parte: capítulo I – O que é o Território. Tradução: Maria Cecília França. São Paulo: Editora Ática, 1993, p. 153.
3 DE ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno. A última grande fronteira amazônica: anotações de preâmbulo. In. DE ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno (Org.). Conflitos sociais no” Complexo Madeira”. Manaus: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia/UEA Edições, 2009, p. 22. Disponível em: http://novacartografiasocial.com.br/download/conflitos-sociais-no-complexo-madeira/; Acesso em: 21 jan. 2021.
4 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm; Acesso em: 21 jan. 2021.
Fernando Roque Fernandes Porto Velho – Inverno amazônico, 2021.
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]
Resenhando | UNIFAL | 2020
A Revista Resenhando (2020-) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL/MG) surgiu em decorrência da produção de resenhas advindas de um projeto anterior – Resenhando – , idealizado e promovido pelo grupo PET – Conexões de Saberes – Letras da instituição.
Tem como foco publicações de resenhas, originais e inéditas, escritas, majoritariamente, pelo público da graduação e da pós-graduação, não havendo restrições em relação às áreas do saber com as quais a língua(gem), nas suas mais variadas instâncias, possa dialogar.
No geral, apresentam-se produções escritas do gênero Resenha em temáticas que envolvem: Teoria e Crítica Literária; Literaturas; Linguística; Tradução; Estudos de Tradução; Ensino de Línguas e Literatura; História e Estudos de Gênero.
Objetiva-se, nesse contexto, ampliar a visibilidade dos estudos nos campos das Letras ou de áreas correlatas, promovendo uma difusão de saberes que, posteriormente, possa servir como referência a futuras pesquisas, dentre outras contribuições.
Para tanto, não há discriminação quanto à data de publicação das obras resenhadas, desde que estejam relacionadas ao escopo da revista.
Serão aceitas resenhas que estejam dentro da linha editorial e das regras e normas para publicação desta revista, que receberá, pela editoria, publicações de resenhas em fluxo contínuo.
A Revista Resenhando publica dois volumes a cada ano, podendo, eventualmente, publicar dossiês ou números especiais adicionais.
ISSN 2675-7036
Acessar resenhas
Acessar dossiês [A revista não publica dossiês]
Acessar sumários
Acessar arquivos
Concebendo a liberdade / Camillia Cowling
O livro de Camillia Cowling publicado nos Estados Unidos, em 2013, e recentemente traduzido para o português já se constitui uma leitura obrigatória para historiadoras, historiadores e demais pessoas interessadas em conhecer aspectos da luta de pessoas escravizadas na Diáspora. Em Concebendo a liberdade a autora apresentou uma pesquisa comparativa entre Havana (Cuba) e Rio de Janeiro (Brasil) na qual “mulheres de cor” apareciam na linha de frente da luta por liberdade legal para elas próprias e suas crianças nas décadas de 1870 e 1880.
Ao prefaciar a obra Sidney Chalhoub foi muito feliz ao lembrar a acolhida que o livro de Rebeca Scott a Emancipação Escrava em Cuba teve no Brasil, ainda na década de 1980, evidenciando o interesse do público brasileiro em saber mais sobre este processo em Cuba, colônia Espanhola que assim como o Brasil e Porto Rico foi um dos últimos redutos da escravidão nas Américas.
Mais de três décadas desde a tradução do livro de Scott, a pesquisa de Cowling chegou ao Brasil em um momento que embora já possamos contar com vários estudos de referência para o conhecimento a respeito da escravidão e da liberdade muitos lacunas ainda estão por serem preenchidas, a exemplo, das especificidades da experiência das mulheres – escravizadas, libertas e “livres cor”.
Felizmente, o alerta das feministas negras, especialmente a partir da década de 1980 de que as mulheres negras tinham um jeito específico de estar no mundo ganhou novo impulso nos últimos anos, notadamente, devido ao processo que resultou na Primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras, ocorrida no Brasil, em 2015, cujos desdobramentos já podem ser percebidos na sociedade brasileira e tem inspirado pesquisadoras e pesquisadores no desafio de reconstituir esse passado.
Inserida no campo da história social e utilizando uma escala de tempo pequena para descortinar a agência feminina negra, Cowling esteve atenta também para questões mais amplas do período investigado como às conexões atlânticas entre Cuba e Brasil no contexto da “segunda escravidão”. Isso permite que a leitora e o leitor possam notar que embora tivessem optado por um processo de abolição gradual da escravidão ambos vivenciaram processos paralelos e distintos um do outro.
A obra foi dividida em três partes e subdividido em 8 capítulos. Neste texto destaco alguns aspectos, dentre vários outros, que chamaram minha atenção de maneira especial. Primeiramente, saliento que Cowling conseguiu remontar o itinerário de duas libertas tornado visíveis as marcas deixadas por elas tanto em Havana como no Rio de Janeiro, de modo que personagens tradicionalmente invisibilizadas pela documentação e, até mesmo, pela historiografia tiveram seu ponto de vista descortinado nas páginas de seu livro.
Os fragmentos da experiência de Romana Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes remontados pela autora é a demonstração de um esforço investigativo de fôlego e bem sucedido. As questões levantadas e o exercício de imaginação histórica da pesquisadora tornaram possíveis que a partir do ponto de vista dessas mulheres possamos saber como pensavam várias outras de seu tempo e compreender os sentidos de suas escolhas, bem como daquelas feitas por seus familiares, escrivães, curadores e integrantes do movimento abolicionista.
A liberta Romana que comprara a própria liberdade um ano antes de migrar para Havana, em 1883, encaminhou uma petição dirigida ao governo-geral de Cuba reivindicando a liberdade de suas 4 crianças, María Fabiana, Agustina, Luis e María de las Nieves que estavam em poder de seu ex-senhor, Manuel Oliva. Quase um ano depois, foi a vez da liberta Josepha dar início a uma ação de liberdade na cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de retirar sua filha, Maria, ingênua, com apenas 10 anos, do domínio de seus ex-senhores José Gonçalves de Pinho e sua esposa, Maria Amélia da Silva Pinho.
Assim como outras tantas pessoas, Romana e Josepha eram migrantes que a despeito das dificuldades das cidades, usaram a seu favor as possibilidades que as mesmas ofereciam na busca pela liberdade, além disso, como ressaltou a autora as chances de uma pessoa escravizada conseguir a liberdade morando nas áreas urbanas eram maiores do que aquelas que moravam nas áreas rurais.
De acordo com Cowling as duas libertas se apegaram as brechas da lei e fizeram omesmo tipo de alegação para contestar a legitimidade do domínio senhorial. EnquantoRomana declarou que sua filha era vítima de negligência e abuso sexual, Josepha alegou que suas crianças não estavam recebendo educação. Foi com base nessas denúncias que os senhores foram acusados de maus tratos, o que implicava na perda do domínio sobre as mencionadas crianças, conforme a legislação de Cuba e do Brasil respectivamente determinava.
No livro de Cowling, a leitora e o leitor interessado no tema pode verificar que as perguntas feitas a documentos como petições, ações judiciais, correspondências, jornais, obras literárias, imagens e legislação explicitam que as mulheres escravizadas, libertas e “livres de cor” sempre estiveram no centro da luta por liberdade legal. Isso porque as noções de gênero foram determinantes para o modo como elas vivenciaram a escravidão e consequentemente influenciaram em suas escolhas na luta pela conquista da manumissão. Além disso, especialmente nas décadas de 1870 e 1880, elas que sempre estiveram na linha de frente das disputas judiciais foram colocadas ainda mais no centro do processo da abolição gradual da escravidão.
As Romanas e as Josephas foram muitas nas duas cidades portuárias investigadas pela autora e com o objetivo de conseguir a própria liberdade e de suas crianças, elas se apegaram a argumentos legais tomando como base a legislação, como a Lei Moret de 1870 e a Lei do Patronato de 1880, em Cuba; e a Lei do Ventre Livre de 1871, no Brasil, mas também se apegaram a argumentos extralegais baseados em valores culturais como o“sagrado” direito a maternidade, apelando para piedade e a caridade das autoridadespara os quais levaram suas demandas de liberdade para serem julgadas.
Para Cowling, sobretudo, a retórica da maternidade era tão forte que era utilizada tanto por mulheres ao reivindicarem a liberdade de suas filhas e filhos como nos casos em que eram os filhos que buscavam libertar suas mães, e mesmo, nos casos em que os pais apareceram junto com as mães tentando libertar suas crianças, a opção era por colocar a maternidade no centro.
Não poderia deixar de trazer para este texto aquele que a meu ver é um dos pontos mais fortes da obra. Trata-se da opção da autora de enfrentar o tema da violência sexual contra “mulheres de cor”, aspecto da vida de muitas dessas personagens, ainda pouco explorado pela historiografia brasileira, seja devido ao sub-registro dessa violência na documentação disponível que era escrita em sua maioria por homens da elite e autoridades muitos dos quais também proprietários de cativas, seja devido à própria tradição de priorizar outros aspectos da experiência das pessoas.
Para a autora a tradição de violar o corpo de “mulheres de cor” era naturalizada entre os senhores e os homens da lei tanto que os primeiros não viam qualquer impedimento à prática de estuprá-las. Por isso mesmo, a falta de proteção extrapolava a condição de cativas e nem mesmo a liberdade legal era garantia de proteção ou reparação contra aqueles que as forçassem a ter relações sexuais com eles ou com outros (muitas escravizadas eram forçadas a prostituição por suas proprietárias e proprietários).
No entanto, se por um lado, ao se depararem com denúncias de violência sexual as autoridades geralmente posicionavam-se a favor dos agressores, inclusive responsabilizando as próprias “mulheres de cor”, prática que tinha a ver com a imagem que esses homens de maneira geral faziam desse grupo social considerado por eles como lascívias e corruptoras das famílias da elite. Por outro, ao procurar à justiça para denunciar a violência sexual elas explicitavam sua própria compreensão sobre si mesmas. Ao fazer isso Romana e várias outras estavam dizendo que acreditavam ter conquistado para si e para suas filhas o direito de poder dizer não para um homem com quem não quisessem fazer sexo.
Cheguei ao epílogo da obra convencida por Cowling de que embora Romana e Josepha tenham vivido em lugares diferentes e nem se quer se conhecessem, caso tivessem tido a oportunidade de se encontrar naqueles anos cruciais de suas vidas, elas teriam muito que conversar. Inevitavelmente suspeito ainda que várias mulheres negras do século XXI que tiverem acesso as minúcias do itinerário das personagens trazidas no trabalho terão a sensação de que também poderiam participar da conversa.
Por fim, acredito que as questões levantadas ao longo da obra sob vários aspectos servirão de inspiração para historiadoras e historiadores empenhados na reconstituição tanto quanto possível da vida de mulheres escravizadas, libertas e “livres de cor”, bem como de seus familiares e das pessoas com as quais elas se aliaram na construção de outros tantos processos coletivos de luta por liberdade legal.
Karine Teixeira Damasceno – Pós-Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura (PUC-Rio), Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
COWLING, Camillia. Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e a abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro. Tradução: Patrícia Ramos Geremias e Clemente Penna. Campinas: UNICAMP, 2018. 440p.. Resenha de: DAMASCENO Karine Teixeira. “Mulheres de cor” no centro da luta por liberdade legal em Havana e no Rio de Janeiro. Canoa do Tempo, Manaus, v.11, n.2, p.294-297, out./dez., 2019. Acessar publicação original.
Com o Mar por Meio. Uma Amizade em Cartas – AMADO; SARAMAGO (A-EN)
AMADO, Jorge; SARAMAGO, José. Com o Mar por Meio. Uma Amizade em Cartas. Seleção, organização e notas de Paloma Jorge Amado, Bete Capinan e Ricardo Viel, São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Resenha de NOGUEIRA, Carlos. Correspondence Jorge Amado / José Saramago: the supreme delicacy that is friendship. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec., 2019.
O título deste livro, que os organizadores foram buscar em uma das cartas que José Saramago enviou a Jorge Amado, indica, com precisão e expressividade, as circunstâncias que desencadeiam a correspondência trocada pelos dois escritores entre 1992 e 1998: quer a imensa distância física que os separava, quer as inúmeras solicitações que, muitas vezes, não permitiram que eles se encontrassem. O subtítulo, também muito sugestivo, resume bem a grande motivação destas mensagens: a amizade entre Amado e Saramago, que nasceu quando “os dois já iam maduros nos anos e na carreira literária”, como se lê na contracapa, na qual se reproduz uma fotografia dos dois, sentados lado a lado. Nesta amizade participaram igualmente, e para ela muito contribuíram, as companheiras de cada um deles: Zélia Gattai e Pilar del Río.
Em forma de carta, bilhete, cartão ou fax, esta correspondência traduza profunda admiração que Jorge Amado e José Saramago sentiam um pelo outro enquanto pessoas e escritores. A vivacidade do estilo confere a estes textos tão pessoais uma noção de conjunto que se soma ao quadro completo da vida humana inscrito em obras que pertencem, de pleno direito, à melhor literatura universal, tanto no aspeto doméstico e individual como no coletivo e heroico.
Em diversas ocasiões, Pilar del Río disse acreditar que a divulgação destas cartas favorece a aproximação dos leitores à obra de dois escritores cuja maneira de ser, estar e pensar se vê, em larga medida, nestes textos breves ou muito breves, que não foram escritos com intenções de publicação. São documentos preciosos para o conhecimento da intimidade e da cumplicidade que unia Jorge Amado e Saramago, que o mesmo é dizer: textos valiosos para a compreensão da biografia e da personalidade de ambos. Esta correspondência revela-nos o quotidiano de dois homens – comprometidos com a escrita e a vida, as sociedades portuguesa, espanhola, brasileira e o mundo – que haveriam de se encontrar em Paris, Roma, Madrid, Lisboa, Brasília e na Bahia. É mais correto dizer que este comprometimento com a vida é extensível aos dois membros dos dois casais, uma vez que Zélia Gattai e Pilar del Río são sempre destinatárias explícitas e agentes do que se conta e anuncia, nomeadas quase sempre no vocativo inicial, que inclui o adjetivo “queridos” (ou “querida”, como em “Querida Zélia, querido Jorge”), ora a qualificar os amigos sem os nomear (“Queridos amigos”), ora a nomeá-los (“Queridos Pilar e José”), ora num misto destas duas formas, como em “Zélia, Jorge, queridos amigos”.
Poder-se-á pensar que os livros de cartas, especialmente aqueles que reúnem textos curtos ou muito curtos, têm uma vida e um interesse limitados. Não é assim, nesta coletânea, como não o é sempre que estão envolvidas obras (e vidas) cuja grandeza admite pouca ou nenhuma discussão. As palavras de Jorge Amado e José Saramago bastariam para garantir a importância deste livro, que está enriquecido com fotografias e textos que, relacionados com as cartas ou diretamente com Jorge Amado (como a propósito da morte deste escritor), Saramago escreveu e, na sua grande maioria, publicou nos Cadernos de Lanzarote. Os organizadores decidiram ainda incluir uma carta de Pilar, dirigida ao casal amigo, que sintetiza bem o tema que, ao lado dos temas da amizade e da saudade, mais é discutido na correspondência entre os dois amigos: os prêmios literários, sobretudo o Nobel da Literatura.
A autoria das cartas, dizia, seria suficiente para distinguir este livro de outros do mesmo gênero que vão sendo publicados um pouco por todo o mundo. Convém, todavia, fundamentar bem esta nossa afirmação. Com o Mar Por Meio testemunha uma amizade que surge quando os dois escritores tinham já uma idade avançada e um considerável reconhecimento literário e social. Não é uma fatalidade, mas sabemos como entre os escritores (maiores e menores) são frequentes as desavenças, as invejas e os ódios mais ou menos confessados. Entre Jorge Amado e Saramago não há o menor indício de rivalidade, nem o mais tênue ressentimento pelo sucesso do outro. Muito pelo contrário, cada um defende veementemente a qualidade da escrita do amigo e a justiça da atribuição de mais prêmios ao outro e à língua portuguesa. Os dois lamentam também o que consideram as injustiças e as provocações que várias academias e certos júris têm cometido em relação a cada um deles. É neste contexto que Saramago declara: “Finalmente o Camões para quem tão esplendidamente tem servido a língua dele! Será preciso dizer que nesta casa se sentiu como coisa nossa esse prémio? Que pessoalmente me sinto orgulhoso do comportamento dos portugueses que passaram pelos júris, e em especial os de agora? Sirva isto de compensação para as decepções e as amarguras que outros causaram a Jorge” (p. 85).
Numa das cartas mais longas e ricas de Com o Mar por Meio, a que acima já aludi, Pilar del Río ajuda-nos a enquadrar e a compreender as ideias e as atitudes de Jorge Amado e de José Saramago relativamente aos prêmios literários em geral e ao Prêmio Camões e ao Nobel, em particular, por cuja “concessão” a um autor de língua portuguesa os dois muito lutaram. A autora, numa linguagem não menos exata e apelativa do que a dos dois escritores, elogia a obra e a personalidade de Jorge Amado, ao mesmo tempo que retira aos prêmios literários a autoridade e a gravidade que, regra geral, lhes atribui: “Lo que has hecho con el portugués y por el portugués, la luminosidad que has añadido a esa lengua y al hermoso acto de novelar, merece todoelreconocimiento. No digo el Nobel, porque cuando se habla de Literatura (así con mayúscula), me parece una ordinariez citar un premio, aunque sea el premio de los premios” (sublinhado no original; p. 58). A apreensão que os prêmios literários merecem a Pilar del Río é inversamente proporcional à sua confiança na literatura de Jorge Amado, cuja leitura nos dá a satisfação e o poder “de ser más hondos y más universales. En definitiva, de ser más humanos por ser más inteligentes” (p. 58). Com perspicácia e ironia fina, a autora, confiante no bom senso dos “senõres de Estocolmo” (p. 58), inverte os termos da equação: “Por supuesto, si además, te dan el Nobel, como parece tan probable, mejor que mejor. No te añadirá ni un ápice de honra o de gloria, que de eso estás servido con tu obra, pero honrarás al premio” (p. 58).
Não numa carta, mas num texto do seu diário, publicado nos Cadernos de Lanzarote, é dentro desta linha de pensamento e com sentimentos que parecem ser muito semelhantes aos de Pilar del Río que o escritor português comenta os prêmios literários em cujos júris participa ou que espera ganhar ou ver Jorge Amado ganhar. Com a expressividade, a clareza e a contundência que sempre incutiu às suas palavras, Saramago afirma, a propósito da atribuição do Prêmio Camões a Rachel de Queiroz: “Não discutimos os méritos da premiada, o que não entendemos é como e porquê o júri ignora ostensivamente (quase apeteceria dizer: provocadoramente) a obra de Jorge Amado. Esse prémio nasceu mal e vai vivendo pior. E os ódios são velhos e não cansam” (p. 24). Sobre o Nobel, no mesmo tom direto, Saramago comenta as informações segundo as quais o prémio de 1994 seria para António Lobo Antunes. Com ironia, o escritor português argumenta: “Já sabemos que em Estocolmo tudo pode acontecer, como o demonstra a história do prémio desde que o ganhou Sully Prudhomme estando vivos Tolstói e Zola” (p. 51). Aquilo que José Saramago escreve a seguir, dentro de regras de boa educação e honestidade intelectual, não poderia ser mais frontal: “Quanto a mim, de Lobo Antunes, só posso dizer isto: é verdade que não o aprecio como escritor, mas o pior de tudo é não poder respeitá-lo como pessoa” (p. 51). A concluir este texto, Saramago confessa, com autoironia, o desejo de se deixar de preocupar com o Nobel, que é, como ele diria numa carta escrita quatro dias depois daquele texto do diário, “uma invenção diabólica” (p. 53). “Como não há mal que um bem não traga, ficarei eu, se se confirmar o vaticínio do jornalista, com o alívio de não ter de pensar mais no Nobel até ao fim da vida” (p. 51).
A incomodidade e os conflitos interiores trazidos aos dois escritores pela obrigatoriedade de conviverem com o tema dos prêmios literários e de quererem conquistá-los para si tiveram como reverso, felizmente, a alegria de se sentirem reconhecidos e de poderem dirigir palavras de apreço um ao outro (Jorge Amado com o Prémio Camões, Saramago com o Nobel). Deste sentimento é sintomática a atitude inesperada e improvável de Jorge Amado, que, apesar de muito doente, ao ouvir da boca de Zélia Gattai que Saramago fora distinguido com o Nobel, “pulou do cadeirão, chamou Paloma, pediu que se sentasse no computador que ele iria ditar de imediato, uma nota para a imprensa” (p. 113), telefonou ao irmão, festejou (o possível) com a mulher e a filha, “Foi dormir contente” (p. 113). Contudo, “No dia seguinte, não quis mais abrir os olhos” (p. 113).
A questão dos prêmios literários, cuja discussão neste livro é preciosa para o conhecimento da personalidade e da vida de dois dos mais importantes escritores de língua portuguesa, justifica, por si só, a leitura atenta desta correspondência. Mas ao tema polêmico e complexo dos prêmios acresce o tom e o estilo das cartas. Nelas, a linguagem direta, a concisão e a secura das frases não são incompatíveis nem com a sinceridade dos sentimentos e das emoções nem com a profundidade do tratamento dos temas e assuntos (fala-se também da participação dos dois em júris e academias, de questões políticas e sociais, de saúde, etc.). Essa naturalidade e essa força veem-se em formulações, muito próprias tanto de Jorge Amado como de Saramago, que lembram máximas e pensamentos burilados pela tradição, como: “Espero que, ao menos, o trabalho me ocupe esses dias de velhice – velhice não é coisa que preste” (Jorge Amado p. 89); “[…] desejamos que haja mais ocasiões para estarmos juntos e partilhar do manjar supremo que é a amizade” (José Saramago, p. 107).
Para os leitores destas cartas, fica claro que Jorge Amado e José Saramago sempre pensaram a literatura e as literaturas em língua portuguesa não como existências isoladas, mas como forças centrais no jogo das energias e das construções tanto individuais como históricas, culturais e políticas.
Referências
AMADO, Jorge; SARAMAGO, José. Com o Mar por Meio. Uma Amizade em Cartas. Seleção, organização e notas de Paloma Jorge Amado, Bete Capinan e Ricardo Viel. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. [ Links ]
GOULART, Rosa Maria. O Trabalho da Prosa: Narrativa, Ensaio, Epistolografia. Coimbra: Angelus Novus, 1997. [ Links ]
LEMOS, Ester. “Epistolografia (em Portugal)”. In: COELHO, Jacinto do Prado (dir.). Dicionário de Literatura. 4a. ed. Porto: Mário Figueirinhas Editor, 1997, p. 295-298. [ Links ]
ROCHA, Andrée. A Epistolografia em Portugal. Coimbra: Livraria Almedina, 1965. [ Links ]
*Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), no âmbito do Centro de Estudos em Letras (referência UID/LIN/00707/2019) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal.
Carlos Nogueira. É co-titular da Cátedra José Saramago da Universidade de Vigo (Galiza, Espanha). Doutorou-se em Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2008), onde também fez um mestrado em Estudos Portugueses e Brasileiros (1999) e se licenciou em Línguas e Literaturas Modernas (1994). Realizou um pós-doutoramento em Literatura Portuguesa na Universidade Nova de Lisboa (2014). O seu trabalho de investigação mais recente tem-se centrado sobretudo nas relações entre a Literatura, a Filosofia e o Direito. E-mail: [email protected]
[IF]
A vida invisível de Eurídice Gusmão – BATALHA (A-EN)
BATALHA, Martha. A vida invisível de Eurídice Gusmão. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Resenha de BERNED, Zilá. O extremo contemporâneo na literatura brasileira. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec., 2019.
L´extrême contemporain,
c´est mettre tous les siècles ensemble.
(Michel Chaillou apud Dominique Viart, 2008, p. 20)
Dominique Viart, em livro de 2008, estabelece distinções no âmbito das literaturas contemporâneas, afirmando que existem três tipos de literatura: as de consentimento (consentantes), ou seja, aquelas que não contestam a sociedade e que se constituem como a “arte da aprovação”, em que os escritores escrevem para o grande público, tornando-se muitas vezes bestsellers; as conciliatórias (concertantes), que fazem coro aos clichês e que se resumem a reconduzir a doxa, harmonizando as opiniões gerais; e, por fim, as literaturas desconcertantes (déconcertantes), que seriam aquelas que deslocam as expectativas da maioria dos leitores, deixando de reproduzir as velhas receitas literárias e passando a exercer uma atividade crítica que se desvia de significações pré-concebidas, levando os leitores a reavaliarem seus conceitos e sua consciência de estar no mundo. Essas literaturas desconcertantes, que incomodam pela crueza como desvendam e denunciam preconceitos ou visões estratificadas da sociedade, é que caracterizam o “extremo contemporâneo”.
Na mesma direção, em livro recente de 2018, o polêmico Johan Faeber, introduz o conceito de “après-littérature” ou literatura do “depois” (evitando o já desgastado conceito de pós-literatura ou pós-moderno), que seria a que se propõe a escrever “a contra-história de nosso tempo”. Afirma também que é esse tipo de romance que dará uma sobrevida à literatura, representando a sua revivescência. No momento em que se pensa que tudo já foi escrito e que, portanto, pode-se antever a morte da literatura, surgem os escritos do extremo contemporâneo. Para defini-lo o autor vale-se de uma expressão de Giorgio Agamben que afirma que “ser contemporâneo significa voltar a um presente onde nunca estivemos”, isto é, a um presente do qual não participamos e sobre o qual não interferimos. Um presente revisitado.
Torna-se oportuno introduzir a questão de um fenômeno que está acontecendo na cena literária brasileira dos últimos dez anos, talvez vinte anos: o surgimento de uma escritura feminina “desconcertante”, manifestando uma urgência de escrever para denunciar a invisibilidade e a inaudibilidade de toda uma geração de mulheres que a precedeu e que não teve voz nem vez na cena pública brasileira.
Trata-se de autoras jovens, quase todas escrevendo entre os 35 e os 50 anos, a maioria detentoras de diplomas universitários e teses de mestrado e/ou doutorado, e que vêm revolucionando a cena literária em nosso país. Entre elas, Carola Saavedra, Aline Bei, Eliane Brum, Conceição Evaristo, Martha Batalha, Tatiana Salem Levy, Adriana Lisboa, Paloma Vidal, Ana Maria Gonçalves, Leticia Wierzchowski, Cíntia Moscovich, Maria da Graça Rodrigues, entre tantas outras. É interessante consultar a antologia organizada por Luiz Ruffato: 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (Record, 2004). O organizador da antologia sentiu também a necessidade de abordar o advento de uma nouvelle vague literária no feminino cujas obras, escapando ao “prêt-à-penser” cultural, ou seja, recusando-se a repetir velhas e desgastadas fórmulas romanescas, desconcertam os leitores ao desnudar histórias de vida que permitem a suas narradoras/protagonistas, através da recuperação da memória de suas antepassadas (mães e/ou avós) e de sua ressignificação no presente, entender em que medida sentem-se (ou não) herdeiras desse passado.
Importa, em especial, falar do livro de Martha Batalha (nascida em 1973), A vida invisível de Eurídice Gusmão (São Paulo: Companhia das Letras, 2016), que desvenda a invisibilidade da protagonista – Eurídice Gusmão -, a quem nomeia no título, para convocá-la à existência apontando suas tentativas de se emancipar, todas elas frustradas pelo marido. O livro transforma-se em um verdadeiro inventário de ausências na vida de Eurídice Gusmão, típica dona de casa do Rio de Janeiro, dos anos 1940, quando a mulher da classe média que trabalhasse fora do lar representava o fracasso do marido em sustentar a família.
Inventário das coisas ausentes é o título de um livro de Carola Saavedra (Cia. das Letras, 2014), remetendo igualmente às ausências, às faltas na vida das mulheres no Brasil e à necessidade de inventariá-las, uma vez que só após o inventário se reparte a herança, e que só depois de recebido o legado é possível transmiti-lo. As memórias só se constituem plenamente pela transmissão. A transmissão, no dizer de Paul Ricoeur, é geradora de sentido. Por isso nunca se viu tantas mulheres escrevendo romances verdadeiramente “desconcertantes” no Brasil: eles são necessários para realizar o inventário das ausências e transmiti-las através da escritura, gerando sentido e restaurando memórias feridas.
Patrick Chamoiseau escreveu um livro intitulado La matière de l´Absence (SEUIL, 2016), no qual reconhece que as literaturas das Américas vem sendo construídas com “a matéria da ausência”, ou seja sobre camadas de esquecimento e denegação de elementos culturais indígenas e africanos cuja transmissão não foi efetivada porque houve rejeição dessa herança pelos herdeiros ou porque tais tradições não foram consideradas quando da construção das identidades nacionais. Podemos pensar em algo semelhante diante do silenciamento imposto às mulheres às quais não se concediam o direito à alfabetização e, posteriormente, à frequentação de universidades.
Pois foi esse silêncio, essa ausência que tornou as mulheres e os papéis que desempenhavam invisíveis. Martha Batalha aponta em seu livro as diferentes tentativas de sua heroína de sair da invisibilidade, inicialmente organizando um livro de receitas, depois das bem-sucedidas experimentações que realizava em sua cozinha. O que poderia ter sido um bestseller pelo talento de Eurídice Gusmão foi jogado no lixo pelo marido que não podia admitir tamanha audácia por parte da esposa, que – segundo ele – deveria se contentar com a repercussão familiar das receitas. A nova tentativa de desenvolver seus dotes artísticos através da costura foi igualmente castrada pelo todo poderoso marido, pois o que haveriam de pensar os vizinhos diante do fato de a esposa “costurar para fora”. Assim vai se desperdiçando a vida da personagem até os filhos não precisarem mais de sua dedicação: é quando percebe que na estante da sala de sua casa havia livros e que livros poderiam ser lidos, passando a devorar os livros da estante assim como os da biblioteca pública. O passo seguinte foi a compra da máquina de escrever, a mudança da casa velha para o novo bairro que estava surgindo à beira-mar: para Ipanema. “Mudar-se para Ipanema no início dos anos 60 não era apenas transferir a mobília alguns quilômetros adiante. Era atravessar os portões do tempo, para viver num lugar que fazia o resto do Rio se parecer com o passado” (2016, p. 169). Os tec, tec, tec da máquina foram ouvidos com mais insistência do que na antiga casa da Tijuca, embora ninguém se preocupasse com o que teria para escrever uma dona de casa. Embora os jornais não tenham aceitado seus textos nem ninguém na casa manifestasse o mínimo interesse por eles, foi através primeiro da leitura e depois da escritura que Eurídice Gusmão se viu face a face com a invisibilidade que lhe foi imposta pelo marido.
Embora o livro traga as marcas de um feminismo incipiente em que o homem (marido) é o inimigo, ele aporta frescor ao feminismo atual pelo fato da emancipação não passar por grupos, mas pela afirmação de si mesma, através do florescer de preocupações intelectuais e pelo ato de criação literária.
A personagem se liberta pela escritura, e a autora constrói um romance com base em uma personagem feminina subjugada que lentamente sai de sua invisibilidade e sobretudo de sua inaudibilidade, sem cair em narrativas piegas, ou na criação de uma escritura à l´eau de rose, como dizem os franceses. Ambas escrevem para se conhecerem através da escritura, compondo obras que desconcertam pela crueza das descrições e por chegarem, como afirma Viart: là où on ne les attend pas. Elles échappent aux significations preconçues, au prêt-à-penser culturel. (2008. p. 13)1
Nessa medida, Martha Batalha desenvolve uma escrita crítica e ao mesmo tempo cheia de humor e de leveza, rompendo cordões de isolamento, deslocando ideias e recriando fórmulas narrativas inéditas. De modo semelhante, autoras de sua mesma geração, como as citadas acima, cada uma escolhendo um objeto do deslocamento, vêm criando o que Luiz Ruffato chama de “Nova literatura brasileira”: Aline Bei aborda, em O peso do pássaro morto (2018), a ainda impronunciável questão do estupro; Eliane Brum, em Uma duas (2018), traz à baila as relações deterioradas entre mãe e filha e temas como a automutilação; Conceição Evaristo, em Olhos d´água (2015), descreve a infância de crianças negras em uma favela e a busca por saber a cor dos olhos da mãe; e Carola Saavedra, em Com armas sonolentas (2018), enfrenta o duríssimo tema da maternidade indesejada e dos desencontros de separações entre mães e filhos, tudo embalado pelo canto “sonolento” de Soror Juana Inés de la Cruz. Enfim, soberbas lições trazidas por esses romances desconcertantes, por vezes penosos para o leitor, mas que certamente não sai o mesmo depois de acabada a leitura. Trata-se de uma literatura que renuncia a trilhar caminhos conhecidos e a reproduzir o que Dominique Viart chama de “o depósito cultural dos séculos e das civilizações” (2008, p. 20).
O belíssimo inventário de perdas realizado por Martha Batalha em A vida invisível de Eurídice Gusmão passou ao cinema tendo sido recentemente apresentado no Festival de Cannes, onde foi premiado na mostra Un certain regard. O melodrama de Karim Aïmouz contou, em seu elenco, com Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier e com a participação de Fernanda Montenegro. O filme será lançado em setembro no Brasil.
Até lá, ler o livro é uma prazerosa e “desconcertante” urgência. O leitor/a estará trilhando os caminhos do extremo contemporâneo ou, no dizer de Johan Faeber, entrando em contato com uma literatura que surge quando se pensa que tudo já foi escrito e que nada mais de novo haveria para ser contado, correspondendo ao que o autor chama de “après littératures”, ou seja, aquelas que representam uma revivescência do fato literário.
Referências
BATALHA, Martha. A vida invisível de Eurídice Gusmão. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. [ Links ]
FAEBER, Johan. Après la littérature: écrire le contemporain. Paris: PUF, 2018. [ Links ]
RUFFATO, Luiz. 25 mullheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. Rio de Janeiro: Record, 2004. [ Links ]
VIART, Dominique; VERCIER, Bruno. La littérature française au présent. 2a. ed. Paris: Bordas, 2008. [ Links ]
Notas
1Lá onde não as esperamos. Elas escapam às significações pré-concebidas, ao pronto-para-pensar cultural.
Zilá Bernd é professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente professora permanente do PPG-Memória Social e Bens Culturais do UNILASALLE/Brasil. É bolsista de pesquisa 1B CNPq. Foi uma das primeiras presidentes da ABECAN (Associação Brasileira de Estudos Canadenses) e presidente do ICCS-CIEC (International Council for Canadian Studies). Foi a fundadora e primeira editora da Revista Interfaces Brasil-Canadá. É Officier des Palmes Académiques e Officier de l´Ordre National du Québec. É autora de dezenas de artigos publicados em revistas do Brasil, do Canadá e da França, e de vários livros – sendo o último A persistência da memória; romances da anterioridade e seus modos de transmissão intergeracional. Porto Alegre: Besouro Box, 2018. O mesmo teve versão em língua francesa: La persistance de la mémoire: romans de l´antériorité et leurs modes de transmission intergénérationnelle. Paris : Société des écrivains, 2018. E-mail: [email protected]
[IF]
El abandono. Abismo amoroso y crisis social en la literatura argentina reciente – ARIZA (A-EN)
ARIZA, Julio. El abandono. Abismo amoroso y crisis social en la literatura argentina reciente. Rosario: Beatriz Viterbo, 2018. Resenha de MUSITANO, Julia. Cuando el amor termina, la ficción comienza. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec. 2019.
La revista Anfibia publicó a principios de este año un número en papel sobre el amor: relatos de escritores y críticos literarios argentinos sobre amor. En todos sus colores y formas, cada página derrocha ternura, felicidad y tristeza como despliegues del mismo tema. El tema del amor: encuentro y reencuentro infinito, desencuentros inapelables, cuerpos hastiados, incertidumbre desafiante, pasión y frialdad, virtualidad y realidad. Me alegró mucho ver un número entero dedicado al tema, y más me alegró cuando la editorial Beatriz Viterbo me acercó un libro publicado este mismo año para reseñar: El abandono de Julio Ariza. Embarcada en el tren de los encuentros amorosos, me escapé por el vagón trasero del desengaño, de la crisis, de la vulnerabilidad del abandono.
Podríamos decir que el amor es el gran tema de la novela, en principio, y después agregar que de la literatura en general. Podríamos también preguntarnos si la literatura argentina se ha dedicado a escribir sobre amor, ¿cuáles son los textos canónicos que lo sondean, que, al menos, lo miran de refilón? Y responder que los contamos con los dedos de una mano. ¿Macedonio Fernández, Leopoldo Marechal, Manuel Puig? A pesar de eso, Ariza pudo armar una serie literaria con un solo casillero del calendario amoroso: el del abandonado.
Escribir de o sobre el amor pone en escena la experiencia amorosa, pero la diferencia reside en que uno cuenta como clase y el otro se despliega en una serie. Esa es la gran propuesta de Ariza: entrar a la literatura de una serie de escritores actuales de la literatura argentina (Daniel Link, Alan Pauls, Gabriela Massuh, Juan José Becerra, Mariano Siskind, Daniel Guebel y María Fasce) una vez que la escena amorosa ha llegado a su fin, pero la estela que deja consta de varias figuras y de unas cuantas sensaciones. Por eso, además de interesarle a Ariza la figura del abandonado, le importan sus despliegues y contagios, como el ser que emigra (el que se va porque quiere), el que es arrojado fuera del sistema (el que se va porque lo echan), el que intenta construir un nuevo modo de mirar el futuro (cómo sobrevivir a una catástrofe), y el abandono como ética artística (cómo seguir escribiendo). Para esto, Ariza se apoya en un aparato teórico (Agamben, Blanchot, Barthes, Badiou, Benjamin y Bergson) que construye con precisión, rigurosidad y claridad, y que le sirve para sostener hipótesis contundentes.
La serie se arma porque se trata de novelas sobre el amor, porque todos los protagonistas fueron expulsados de la escena amorosa, porque todos son varones abandonados y porque son novelas escritas después de la gran crisis que azotó a la Argentina en 2001. Amor, crisis y abandono es la fórmula que se despliega para armar serie, para entablar lazos entre una generación de escritores que quizás se unen también por otros motivos. Aquí se muestra el momento exacto del desmoronamiento: ha sucedido una catástrofe y veamos qué hacer con los restos. El crack up lo llama Fitzgerald, el mal de tiempo le dice Alan Pauls en el prólogo a las obras de Fitzgerald. Hay alguien que no da más, que se desmorona, incapaz de pensar y hacer, exhausto, inerte, insensible, como congelado por una especie de estupor que lo invade todo. Gilles Deleuze se pregunta ¿qué pasó? ¿cómo llegué hasta acá? ¿quién me trajo? Esta es la escena que uno presencia cuando Ariza lee el abandono en esta serie de novelas. El abandono como catástrofe social y personal, como estructura frágil y vulnerable, como sacrificio, como escape y apuesta política, como debacle temporal y como ruina.
Dos son las figuras que entran en juego en una relación asimétrica: el abandonante que toma la decisión de irse, decisión inapelable e irreversible, y el abandonado que queda inmovilizado (Ariza lo define desde la etimología de la palabra amurar) en un espacio tiempo de ansiedad. Ha sucedido un evento catastrófico que viene de afuera, que sorprende, que irrumpe en el contexto amoroso para desestabilizar. Ese evento dura en el tiempo, un tiempo congelado que parece no pasar, pero que hay que dejarlo pasar. “Es imposible volver al pasado, es imposible salir del pasado.” ¿Cómo sobrevivir al abismo temporal del silencio que provoca el estallido? “No hay escapatoria del amor.”
Los abandonados literarios se colocan en el umbral de la vida, entre el presente y el futuro, se quedan quietos pero desesperados. No hay proporción que pueda medir la desazón. Hay que soportar, y para hacerlo, Ariza entiende que hay que inventar. En el mal de tiempo, hay una ansiedad de relato que intenta llenar el vacío. “El abandonado recrea constantemente las historias de un pasado que sólo a él le pertenecen.” La incertidumbre temporal deviene ansia de creación, le otorga espacio a la ficción. Si el tiempo no se mueve, que se mueva el relato. Las ficciones con las que Ariza arma una topología amorosa articulan lo íntimo y lo social a través de ciertos principios éticos que ponen en juego un modo de definir lo literario. En algunas, el abismo amoroso toma el calibre del terror a la página en blanco, la renuncia al amor es la renuncia a poder/seguir escribiendo. En otras, el abandono se escenifica en final apocalíptico en el que se representa el fin de lo conocido hasta hoy. En otras, el vivir sin amor se equipara al vivir sin estado, al desamparo y la intemperie como experiencias de un afuera total; o recurren al exilio, al irse para volverse imperceptible en una metamorfosis disolutoria. También algunos personajes ingresan al juego de conectarse con la propia vulnerabilidad hasta fragilizarse como ejercicio consciente de autoanálisis en el marco de las escrituras del yo.
El abandono cambia de forma, pero sus vestigios mantienen la potencia ética de semejante figura. Me interesa la lucidez de Ariza para definirla a través de una selección impecable de novelas. Me interesa mucho más que en el análisis específico de cada texto en particular, la literatura renueva su fuerza para seguir diciendo. Quiero decir que Ariza sale airoso del riesgo inminente de toda lectura de corpus en la que los textos quedan reducidos al problema tratado o a una red de similitudes. En este libro, la fórmula amor, crisis y abandono se sostiene teóricamente y es la literatura la que la hace subsistir. El foco está en la figura doliente, pero los textos continúan hablando por sí solos, constituyendo problemas propios y resaltando las más íntimas ambigüedades.
Referências
ARIZA, Julio. El abandono. Abismo amoroso y crisis social en la literatura argentina reciente, Rosario: Beatriz Viterbo, 2018. [ Links ]
DELEUZE, Gilles. “Porcelana y volcán”. In: La lógica del sentido. Buenos Aires: Paidós, 1989, p. 162-169. [ Links ]
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix, “Tres novelas cortas o qué ha pasado”. In: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-textos, 2006, p. 197-211. [ Links ]
FITZGERALD, Scott. El crack up. Trad. Marcelo Cohen. Buenos Aires: Crackup, 2011. [ Links ]
PAULS, Alan. El mal de tiempo. In: FITZGERALD, Scott. El crack up. Trad. Marcelo Cohen. Buenos Aires: Crackup , 2011, p. 9-22. [ Links ]
Julia Musitano. Doctora en Letras por la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), profesora auxiliar de Análisis y Crítica II en la Universidad Nacional de Rosario y directora de la Revista Badebec. Publicó Ruinas de la memoria. Autoficción y melancolía en la narrativa de Fernando Vallejo, Un arte vulnerable. La biografía como forma junto a Nora Avaro y a Judith Podlubne, y ensayos en diversas revistas especializadas. E-mail: [email protected]
[IF]
Montaigne – JOUANNA (A-EN)
JOUANNA, Arlette. Montaigne. Paris: Gallimard, 2017. Resenha de FAVERI, Claudia Borges de. Os fios que moviam Michel de Montaigne. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.3, sept./dec., 2019.
Nos últimos dias de 2018, uma notícia atraiu os olhares do mundo intelectual e jornalístico do mundo todo. Tudo indicava que, finalmente, após quase 500 anos, os restos mortais de Michel de Montaigne teriam sido descobertos no subsolo do Museu da Aquitânia, em Bordeaux, oeste da França. As investigações continuam e ainda não se tem certeza se o que se pôde ver – um caixão em madeira, ossos humanos e uma placa em bronze dourado com o nome de Michel de Montaigne -, através de dois pequenos orifícios feitos nas grossas paredes do subsolo, tem de fato alguma relação com o filósofo e escritor renascentista. Tudo leva a crer que, desde sua morte em 1592, os restos mortais de Montaigne tenham errado de sepultura em sepultura até chegar, não se sabe ainda quando, a este museu em Bordeaux. Bordeaux, que Montaigne administrou entre 1581 e 1585 por dois mandatos consecutivos, e que, graças à sua capacidade de negociação e moderação, foi por ele mantida a salvo das pertubações e desordens das guerras de religião que devastavam então a França.
Por que tanto barulho a respeito dos restos mortais de um filósofo e escritor que, sem que se negue sua importância, viveu há mais de quatro séculos? A resposta talvez seja simples, embora pareça impertinente: é porque é Montaigne. Resposta que aqui parodia enviesadamente a famosa fórmula do próprio, em seu famoso ensaio 27 do livro I, ‘Da Amizade’, ao tentar explicar sua ligação com Etienne de La Boétie: “[…] porque era ele, porque era eu”1. Montaigne, cuja obra maior, quase única, na verdade – Os Ensaios (1580-1582) -, vem sendo traduzida e reeditada mundo afora há quatro séculos. Montaigne, que parece obstinar-se em se manter atual. Suas primeiras traduções no Brasil datam do início do século XX, mas na Inglaterra, por exemplo, a primeira tradução é de 1603, realizada por John Florio (1553-1625), escritor, lexicógrafo e professor inglês, poucos anos após a edição original em francês.
Montaigne influenciou todos os grandes nomes depois dele, de Shakespeare a Nietzsche, de Bacon a Pascal, e suscita, ainda hoje, importantes pesquisas sobretudo nas áreas da Filosofia e da Educação. No que concerne ao Brasil, Sérgio Cardoso (2017, p. 19) ressalta que nosso país está certamente entre aqueles que mais produziram trabalhos acadêmicos sobre o autor renascentista na área da Filosofia nos últimos vinte anos. De Machado a Oswald de Andrade, passando por Ciro dos Anjos, a influência de Montaigne em nossas letras é também inegável.
Essa vitalidade do autor de Os Ensaios revela-se não só pelas constantes reedições e retraduções de sua obra maior, mas curiosamente também pelo crescente número de biografias a seu respeito, das mais variadas faturas, que têm vindo à luz nos últimos anos. Algumas dessas, surpreendentemente, tornaram-se campeãs de venda, como é o caso de duas delas, a saber: Como Viver, de Sarah Bakewell, e Uma temporada com Montaigne, de Antoine Compagnon. Ambas já lançadas no Brasil, respectivamente, pela Objetiva, em 2012, com tradução de Clóvis Marques, e pela WMF Martins Fontes, em 2015, com tradução de Rosemary Abílio.
Restringindo-nos tão somente ao gênero biografia e ao período compreendido entre 2000 e 2019, no Brasil, além dessas duas citadas acima, temos ainda o Montaigne de Peter Burke, lançado pela Editora Loyola em 2006, com tradução de Jaimir Conte, e, finalmente, em 2016, o Montaigne do filósofo marroquino radicado na França Ali Benmakhlouf, com tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira, pela Estação Liberdade. Se abrirmos ainda mais o leque, considerando estudos de cunho filosófico, o leitor brasileiro pode ter acesso a uma fortuna crítica razoável sobre o filósofo renascentista2.
Mas, voltando às biografias, a mais recente delas, ainda sem tradução ao português, que também tem por título Montaigne, veio à luz em fins de 2017, publicada pela Gallimard na coleção NRF Biographies. São 460 páginas nas quais a autora Arlette Jouanna, professora emérita da Universidade Paul Valéry de Montpellier e especialista em história social e política do século XVI francês, tenta trazer a seu leitor um retrato acurado do cultuado autor dos Ensaios. Mas o que traz de novo mais uma biografia de Montaigne em um universo em que as biografias existentes já conquistaram inúmeros leitores em todo o mundo? A própria autora não deixa de citar ao menos seis outras que lhe precedem, sublinhando a vocação e utilidade de cada uma delas. O fato é que, paradoxalmente, a vida de Montaigne é muito pouco conhecida, muito do que se sabe dele é por sua própria pena, mormente em seus Ensaios.
Para Jouanna, compreender e conhecer Montaigne exige ultrapassar o mito, e enraizá-lo, na medida do possível, em seu tempo. Destarte, ela não se contenta em repetir ou pouco acrescentar à imensa literatura já existente sobre o filósofo renascentista. Com seu olhar de especialista em século XVI, o que ela nos oferece é uma visão bem particular, do ponto de vista historiográfico, ao mesmo tempo em que se revela uma leitora apaixonada dos Ensaios, sem que por isso deixe de ser consequente.
A Introdução fornece-nos o plano do livro, que se desenrola ao longo de doze capítulos e revela as inúmeras facetas de Montaigne. A autora faz questão de nos lembrar (p. 17) o que o próprio Montaigne escreve em ‘Da Vaidade’, Ensaio 9 do Livro III: “eu voltaria de bom grado do outro mundo para desmentir quem me pintasse diferente do que sou, mesmo que fosse para me louvar”3. Parece levar a sério tal aviso ao enfatizar que são raras as fontes dos arquivos históricos acessíveis ao pesquisador. É com grande prudência, portanto, que avança hipóteses, atendo-se em grande medida ao estritamente factual. Nesse sentido, é preciso renunciar, afirma, a um conhecimento exaustivo do que viveu Montaigne. Suas fontes, tanto as manuscritas quanto as já publicadas, são cuidadosamente repertoriadas ao fim do livro (p. 421), assim como as obras de e sobre Montaigne que utilizou em sua pesquisa.
Ainda na Introdução, Jouanna escolhe começar sua narrativa em 1571, ano em que Montaigne completa 38 anos, data emblemática de sua famosa retirada das coisas mundanas. Segundo a autora, o momento fundador do Montaigne que passará à posteridade. E é por esse momento, a entrada no processo de escrita dos Ensaios, que o relato de Jouanna entra na vida de seu autor, momento que ela descreve assim (JOUANNA, 2017, p. 13):
Trata-se aqui, com efeito, de uma ruptura com relação aos ideais mundanos comuns, de uma reviravolta que o faz verdadeiramente nascer para si mesmo. Tudo o que aconteceu antes foi tão somente a lenta liberação do condicionamento familiar e social imposto por seu meio, de pessoas importantes socialmente e que haviam ascendido à nobreza há pouco tempo, e depois a progressiva liberação das servidões de uma carreira que ele não havia escolhido.4
Em seguida, o primeiro capítulo que a autora escolheu chamar de (p. 21) “Um lento nascimento de si mesmo”, aborda os 38 primeiros anos de Montaigne, de 1533 a 1571, antes que começasse a aventura de escrita de seus ensaios. Aqui são apresentados aspectos e fatos da vida de Montaigne relacionados ao condicionamento social e familiar, tais como o enobrecimento da família, o apego ao título e à terra – sendo, no século XVI, esta última a garantia do primeiro -, a infância, as relações familiares e os anos de formação.
Os capítulos se sucedem seguindo uma organização temático-cronológica que apresenta as várias faces de Montaigne, dentre as quais a de jurista, ou funcionário do parlamento, a de pensador inquieto, cujo encontro com La Boétie e com os canibais do Brasil alimenta uma reflexão surpreendentemente moderna sobre as éticas da diferença e as liberdades civis, e a de senhor de terras, vinhas e campos, às voltas com as vicissitudes próprias a um nobre do século XVI. Mas ele é também um ator político importante no contexto de uma França devastada pelas guerras de religião (1562-1598) que opõem católicos a protestantes.
O leitor de Jouanna encontra também o Montaigne viajante, autor de um diário de viagem pela Alemanha, Suíça e Itália (ainda sem tradução ao português), e o prefeito de Bordeaux duas vezes eleito (1581-1585), que consegue manter a cidade a salvo da guerra, mas não da peste que vitima, de junho a dezembro de 1585, algo em torno de quatorze mil pessoas. Montaigne é também o estudioso, o escritor, que dedica a segunda metade de sua vida, a partir de 1571, a ler e escrever e, por fim, em 1580, a publicar seus Ensaios. Conhecendo a notoriedade em vida como escritor e pensador, ele é um autor dedicado que vai corrigir e alterar os três volumes de sua obra (pouco mais de 1000 páginas) até sua morte em 1593. Por fim, a imagem que talvez seja a mais conhecida do renascentista: o pensador retirado em sua torre-biblioteca circular, cercado de livros da Antiguidade e de máximas em latim que ele mandou pintar nas vigas do teto.
Como historiadora, especialista do período renascentista, é um homem do Renascimento que Jouanna descreve; as passagens nas quais a autora mais destaca – capítulos VI, VIII, IX e X – são justamente aquelas relacionadas a seu campo de especialidade. Assim, o leitor pode compreender Montaigne, e também sua obra, a partir da explicitação de aspectos como os laços de fidelidade que uniam necessariamente os membros da classe nobre, laços esses complexificados pelas guerras de religião. É também possível apreciar a posição delicada de Montaigne como católico moderado em um contexto de radicalizações. E ainda seu amor à liberdade, muito embora apegado à nobreza há pouco tempo conquistada por seus ancestrais. São aspectos que, sob o pano de fundo renascentista que Jouanna tão bem conhece, contribuem para uma melhor compreensão da obra como expressão de um pensamento político dividido entre humanismo, dever de fidelidade e descrença na razoabilidade dos homens. É um olhar novo, assim, que a historiadora propicia ao leitor dos Ensaios.
É preciso dizer, no entanto, que o leitor que busque um maior aprofundamento dos aspectos propriamente literários e filosóficos da vida de Montaigne, e suas relações com os grandes nomes do humanismo, corre o risco de se decepcionar, pois tais pontos não estão no centro das preocupações de Jouanna. Ocupa-a preferencialmente aspectos historiográficos, sobretudo no que concerne à gênese do Estado moderno. As várias faces de Montaigne que nos apresenta Jouanna dialogam, portanto, muito mais com a historiografia do que com a literatura ou a filosofia. E isso pode ser visto como um defeito, ou uma lacuna, por aqueles que busquem o Montaigne escritor, imbuído de cultura da Antiguidade, leitor disciplinado e interlocutor dos grandes nomes da época.
Montaigne, segundo Jouanna, não se deixa reduzir a definições simplistas. Seu pensamento sempre mutante, variegado, multifacetado, presta-se a múltiplas abordagens e análises. Ela sublinha ademais a influência que ele exerce ainda em nossos dias. Para a historiadora, não só como especialista, mas também como leitora apaixonada dos Ensaios, a explicação para essa inusitada permanência reside no que une o autor renascentista ao homem contemporâneo. Como nós, ele viveu em tempos difíceis, de futuro incerto, marcados pelo enfraquecimento das crenças, a perda de referências, a contestação das estruturas políticas e a violência dos radicalismos. Montaigne nos acena, segundo a autora, com uma possibilidade de sobreviver a todas as incertezas com dignidade interior, fazendo prevalecer a ironia, e mesmo o riso, sobre a angústia. Seus Ensaios são o palco onde evolui um homem que tenta ver claro em si e em seu entorno, com lucidez e ironia desconcertantes.
Referências
CARDOSO, Sérgio. Montaigne filósofo. Cult, n. 221, São Paulo, p. 18-19, 2017. [ Links ]
JOUANNA, Arlette. Montaigne. Paris: Gallimard, 2017. [ Links ]
MONTAIGNE, Michel de. Essais I. Paris: Pernon Éditions, 2008 [ Links ]
1 “Si on insiste pour me faire dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne peut s’exprimer qu’en répondant: parce que c’était lui, parce que c’était moi” (MONTAIGNE, 2008, p. 276). Todas as traduções ao português constantes desta resenha são de minha autoria.
2 Tais informações encontram-se esparsas. Para remediar tal situação, estamos preparando uma bibliografia comentada dos estudos de Montaigne no Brasil, a ser publicada em breve.
3 “Je reviendrais volontiers de l’autre monde pour démentir celui qui me formerait autre que je n’étais, fût-ce pour m’honorer” (MONTAIGNE, 2004, apudJOUANNA, 2017, p. 17).
4 “Il s’agit bien là, en effet, d’une rupture avec les idéaux mondains ordinaires, d’un retournement qui le fait naître véritablement à lui-même. Tout ce qui s’est passé auparavant n’aura été que la lente libération du conditionnement familial et social imposé par son milieu de notables tout juste agrégés à la noblesse, puis le progressif arrachement aux servitudes d’une carrière de magistrat qu’il n’a pas choisie” (JOUANNA, 2017, p. 13).
Claudia Borges de Faveri. Professora titular do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua na área de língua e literaturas de expressão francesa e tradução literária. É doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade de Nice-Sophia Antipolis, França. Em 2018-2019, realizou seu segundo pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisa dedicada à recepção, permanência e tradução da obra de Michel de Montaigne no Brasil. E-mail: [email protected]
Acessar publicação original
[IF]
Entre a revolução dos costumes e a ditadura militar: as cores e as dores de um país em convulsão | Adriana Stemy
Da mesma forma que Caetano Veloso, em “Alegria, Alegria” passa a impressão de andar na rua registrando os acontecimentos de sua época como os “crimes de guerra”, as “cardinales bonitas” e as “caras de presidente”, Adrianna Setemy busca analisar os aspectos históricos que possam ter criado o cenário efervescente da década de 1960 no que diz respeito às mudanças de comportamento e a forma como as revistas se defrontaram com o problema da censura, em uma clara necessidade de compreender o tempo presente. Ao andar na rua, ler os jornais e conversar com pessoas, a autora reconhece que o Brasil se vê ameaçado novamente pela censura às artes e à liberdade de expressão. Os ataques ao Museu de Arte Moderna (MAM) por terem permitido a interação de uma criança com a performance de um homem nu e os projetos de lei apoiados no Programa Escola Sem Partido que buscam impor um fim à liberdade de cátedra com motivos de evitar uma “doutrinação ideológica” por parte dos professores sugere uma volta à censura, desta vez não pelas mãos de um regime militar, mas sim um estado que se pressupõe democrático.
A obra Entre a revolução dos costumes e a ditadura militar: as cores e as dores de um país em convulsão parte da análise de como as revistas Manchete (Rio de Janeiro, 1952-2000) e Realidade (São Paulo, 1966-1976), de grande circulação durante os anos iniciais da ditadura militar, construíram uma revolução nos costumes da época, bem como a forma com que discutiram temas sobre comportamento e relacionamento que eram até então tabus morais. Seu recorte é o período entre 1964, início do regime militar brasileiro, e 1968, ano de promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) que representou o fim das liberdades individuais no país.
O livro, publicado em 2019 pela Editora Letra e Voz, contém três capítulos: o primeiro capítulo traz um panorama sobre a indústria editorial no Brasil na década de 1960, enquanto o segundo capítulo busca explicar a trajetória de ambas revistas e o terceiro passa a analisar sua produção.
Com pós-graduação – Pós-doutorado (2015), doutorado (2013) e mestrado (2008) – em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduada pela Universidade de Brasília (2005), a carreira acadêmica de Adrianna Cristina Lopes Setemy se pautou no estudo de temas relativos à censura e propaganda do Estado brasileiro no século XX, passando por temas como Direitos Humanos, memória social e violência política. O livro analisado faz parte de uma pesquisa maior desenvolvida durante o mestrado em que a autora visa compreender a censura nos periódicos entre 1964 e 1985, durante o regime militar.
A principal tese do livro é a de que mesmo o período ditatorial tendo sido um momento crítico da história política do Brasil, os anos 1960 foram responsáveis por uma revolução nos costumes. As revistas são mais do que veículos de comunicação ou reprodutores do pensamento de determinados grupos, mas revelam transformações sociais, bem como se colocam como agentes sociais das transformações. Setemy busca dar fim à ideia de que a sociedade foi vítima do Estado opressor e construir uma interpretação relacional entre Estado e sociedade, em que predomina, em certos momentos, mecanismos de negociação.
As revistas Manchete e Realidade revelaram-se rico material para compreender as representações, discussões e disputas dessa década de efervescência, tanto no que tange ao momento cultural quanto à indústria editorial. Ambas as revistas, salvo características particulares, se dedicaram à abordagem de temas comportamentais e de interesse geral que, muitas vezes, desagradaram o regime militar. A revista semanal Manchete, da Editora Bloch, entrou no mercado e se destacou por seu aspecto visual e pela preocupação com a produção e diagramação de imagens, voltada para um público de classe média urbana. Já a revista mensal Realidade, da Editora Abril, tinha como alvo um público de classe média urbana mais intelectualizado, preocupado com a profundidade com que os assuntos eram tratados. O sucesso de ambas as revistas, principalmente da revista Realidade, foi grande, mas durou pouco tempo, característica que a autora analisa frente a problemas internos referentes aos conselhos editoriais de cada empresa, mas também devido as rápidas mudanças no mercado editorial que buscava atender um público cada vez mais diversificado e que, portanto, escolheu por difundir um número maior de revistas especializadas em detrimento das de interesses gerais.
Ao analisar o conteúdo das revistas, Setemy divide sua análise em três eixos temáticos: a nova realidade feminina, as transformações da juventude e o conflito de gerações e os problemas educacionais. Os eixos temáticos apresentam o questionamento dos papéis sociais tradicionais e um abrandamento do formalismo que envolvia tanto a vida pública quando a vida privada no que diz respeito à sexualidade, ao papel dos gêneros, a relação entre pais e filhos etc. A organização social da década de 1960 se mostrava mais fluida, privilegiando o indivíduo no espaço público e dissolvendo funções tradicionais pautadas em velhas normas e instituições que antes limitavam a atuação na sociedade.
Para Setemy, a análise das revistas Manchete e Realidade permitiu demonstrar que a sociedade, ao longo da segunda metade do século XX, foi adotando formas reguladoras mais brandas e que permitiam uma maior liberdade individual que, entretanto, não significou o fim dos princípios morais. Além disso, é possível perceber que os problemas antes restritos a esfera particular da sociedade se tornou assunto das páginas das revistas e vendidos comercialmente. Ainda que as revistas tratassem de temas que antes eram tabus e relegados ao mundo das relações privadas, contribuíram para a manutenção da estrutura vigente com matérias conservadoras que, algumas vezes, apontavam qualidades do regime militar como a manutenção da ordem e a necessidade de regras rígidas para a manutenção da segurança nacional.
A pesquisa de Setemy consegue demonstrar a dialética presente na relação entre produção e consumo que resultou no desenvolvimento de uma cultura de massa no Brasil. Se por um lado, o regime incentivou o desenvolvimento da indústria editorial, seu aparato repressivo, apresentado pelo Ato Institucional nº 5, interferiu no diálogo entre cultura e sociedade. A dialética também se apresenta no estudo das matérias publicadas pelas revistas Manchete e Realidade no que se refere à mudança de costume e liberdades individuais, pois mesmo que as regras morais não se apresentassem com tanta rigidez e a discussão acerca de assuntos privados estivesse presente nas matérias, as estruturas de longa duração se mantinham presentes na sociedade, prova disso é o fato de que as matérias nem sempre aprovavam as novidades, principalmente na questão da sexualidade e das drogas.
A autora escolhe terminar sua análise com o decreto do Ato Institucional nº 5 porque acredita que o fim das liberdades individuais colocou um fim na liberdade de imprensa, abrindo margem para uma possibilidade de análise pós-AI-5 de como essas revistas, em especial a Manchete que se mantém ativa até os anos 2000, lidaram com a forte censura e se não conseguiram manter sua essência revolucionária de forma sutil, além da possibilidade de análise das revistas de grande circulação em relação com as de menor alcance no que tange a apresentação e discussão de temas tabus.
Setemy, ao olhar para o passado em um momento de ebulição cultural e censura política, permite questionar o presente. Embora não vivamos em um regime ditatorial, as estruturas morais que se apresentavam na década de 1960 continuam se manifestando no século XXI e buscando vias democráticas de censura. A autora cita a contundente crítica ao Museu de Arte Moderna e a posterior censura da exposição “História da Sexualidade” no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), mas podemos listar tantas outras ações governamentais que indicam a censura por parte do Estado, como a decisão judicial de remover do catálogo da plataforma de streaming Netflix o filme A primeira tentação de Cristo, especial de natal do grupo de humor Porta dos Fundos em que Jesus é retratado como homossexual. Tal ação demonstra que, não muito diferente da época ditatorial, a sociedade brasileira em pleno século XXI, apesar de parecer liberal, ainda mantém velhos tabus. Embora a democracia esteja consolidada, a censura permanece como um instrumento do conservadorismo e tem buscado, cada vez mais, atacar a educação e a cultura, como a ação de retirada dos pôsteres de filmes nacionais dos prédios da Ancine, a diminuição de verbas federais para a cultura e os projetos do Escola Sem Partido que têm se disseminado entre as regiões brasileiras. Essas ações sutis demonstram que o Estado está disposto a retaliar qualquer conduta que seja considerada oposta aos ideais conservadores do governo.
Marcela dos Santos Alves – Mestranda em História na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Câmpus de Assis. E-mail: [email protected]
SETEMY, Adriana. Entre a revolução dos costumes e a ditadura militar: as cores e as dores de um país em convulsão. São Paulo: Letra e Voz, 2019. Resenha de: ALVES, Marcela dos Santos. A revolução dos costumes em tempos de censura: a Ditadura Militar e os periódicos Manchete e Realidade. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 11, n. 22, p. 252-255, jul./dez., 2019.
História e Teoria Queer | Miguel Rodrigues de Sousa Neto e Aguinaldo Rodrigues Gomes
O Livro História e teoria queer, organizado pelos historiadores Miguel Rodrigues de Sousa Neto e Aguinaldo Rodrigues Gomes e publicado pela editora Devires em 2017, de 391 páginas, é uma obra que reúne, adotando critérios bem simplificados e simplificadores, textos de duas naturezas. Na primeira parte, denominada Teoria queer e historiografia: contribuições e debates, é apresentado em termos gerais um panorama da produção historiográfica referente às temáticas dos sujeitos inseridos nas complexas identidades tlbqg+, tais como corpo, gênero, heteronormatividade, normalização, e ainda suas articulações com questões raciais em processos de interpelação. Na segunda parte, de nome As potencialidades dos estudos queer: corpo, performances e representações, são trazidos alguns estudos mais específicos referentes a alguma dessas individualidades ou grupos.
A primeira parte da obra começa com o texto de Miguel Rodrigues de Souza Neto, Rotas desviantes no oco do mundo: desejo e performatividade no Brasil contemporâneo. O autor inicia a reflexão lembrando a vinda ao Brasil, em novembro de 2017, da filósofa estadunidense Judith Butler para participar de um seminário organizado pelo Sesc Pompeia, intitulado “Os fins da democracia”, e toda a comoção social causada, naquela ocasião. Vale lembrar que ela é acusada de ser uma das fundadoras do que se convencionou denominar, no Brasil e em outras partes do mundo, de “Ideologia de gênero”. Aí está uma das marcas que o leitor encontrará em boa parte dos escritos na obra: a relação entre a discussão teórica e algumas questões contemporâneas que eclodem socialmente. Ao longo do texto o autor nos apresenta um histórico do desenvolvimento dos estudos relacionados à sexualidade e ao gênero, a partir de disciplinas e lugares específicos, em áreas como a antropologia e a sociologia, até serem encampados pelos estudos históricos. Também nos é apresentado um certo histórico da produção dos discursos a respeito dos sujeitos desviados daquilo que é denominado de heteronormatividade, que parte de uma aproximação simplificadora entre sexo biológico e performatividade de gênero, e que, portanto, tende a normalizar os sujeitos de maneira binária. Tais discursos seguem certo percurso: começam a ser produzidos sobre os sujeitos, sobretudo por parte do universo religioso e jurista, e com uma percepção pejorativa, e em algum momento passa a ser produzida também por esses sujeitos, na medida em que são inseridos no discurso por meio de estudos que lhes conferem protagonismo.
O segundo texto, Normatizar para normalizar: uma análise queer dos regimes de normalidade na historiografia contemporânea da homossexualidade, Bruno Brulon afirma que “a teoria queer propõe a desconstrução dos regimes de identidade na medida em que estes criam a marginalização dos sujeitos e seu consequente silenciamento”. Nesse sentido sua reflexão faz caminho parecido à anterior, na medida em que apresenta o que denomina regime jurídico-religioso, um regime médico, um regime psicológico e um regime epistemológico como sistemas explicativos que, hegemonicamente, marginalizaram e silenciaram. Daí a necessidade, segundo o próprio Bruno, de historicizar o queer, e de queerizar a história, na medida em que isso permita oferecer espaço e fornecer voz a sujeitos até então totalmente subalternizados.
Na sequência, em Cisgeneridade e historiografia: um debate necessário, Fábio Henrique Lopes segue a mesma linha de reflexão, valendo-se de autores como Michel Foucault e Judith Butler. Ele inicia apresentando um elemento interessante, que é o próprio domínio do gênero masculino da delimitação do que deve ser estudado ao longo da consolidação da disciplina histórica. A partir daí, mostra a relevância dos estudos feministas para a ocupação de espaço por mulheres no campo das ciências humanas, passando pela denominada História das Mulheres. Por último, a incorporação da abordagem de gênero pela própria história. O autor lembra ainda como foi fundamental a diferenciação entre identidade de gênero e orientação sexual na possibilidade de ampliação de atribuição de sentidos e nomeações de histórias, experiências, comportamentos, corporalidades, identidades e subjetividades.
Na sequência, como o texto Com o sangue de quem foram feitos os meus olhos? Uma reflexão feminista sobre corpos negros e tecnologias da visualidade, Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro reuniu as reflexões sobre teoria feminista e prática política às quais já dava andamento para a escrita a um evento impactante: o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Pedro Gomes. Novamente a obra conecta teoria e realidade social. Mas a estratégia central da autora no trabalho do texto é a utilização de fontes iconográficas, lançando mão de fotografias de amas- de leite com crianças brancas no colo, no Brasil do século XIX, e contrastando com a imagem da vereadora Marielle, com o slogan “Marielle presente”. As relações dos lugares reservados aos corpos ao longo do tempo, a presença ou não do racismo e as suas configurações, tudo isso recebe abordagem a partir de tais documentos e, evidentemente, de aparato teórico.
Em Outras histórias de Clio: escrita da história e homossexualidades no Brasil, Elias Ferreira Veras e Joana Maria Pedro refletem sobre a invisibilidade das figuras homossexuais na historiografia brasileira. Voltam a frisar como até a década de 1970, no Brasil, os registros sobre experiências homossexuais foram produzidos predominantemente pelos campos médico e policial, sendo raras as ocasiões nas quais o próprio sujeito produzia algum discurso sobre si. Lembram, a partir daí, a relevância da História das Mulheres, dos estudos de gênero, da figura de Foucault, como marcos para algumas alterações nesse sentido e, por fim, apresentam algumas produções no Brasil que resultam dessa mudança de perspectiva.
Fechando a primeira parte com Estudos queer na historiografia brasileira (2008-2016), Benedito Inácio Ribeiro Júnior realiza um inventário sobre tais estudos na historiografia recente e aponta a história como a área das ciências humanas que mais tempo demorou para inserir tais reflexões entre suas preocupações. Ele denomina a história, de maneira sarcástica, de “Tia velha”. A partir daí aponta para a relevância da interdisciplinaridade para que avanços ocorressem no sentido de abarcar outros sujeitos na historiografia, e por fim apresenta os ganhos por parte da própria disciplina histórica com a inclusão de certas temáticas.
A segunda parte do livro tem abordagens que visam romper com certa tendência contemporânea de identificação entre sexo e gênero, tendendo, portanto, a normalizar as subjetividades de maneira binária. Em Corpos migrantes: a presença da primeira geração de travestis brasileiras em paris, Marina Duarte procura analisar, como ela própria afirma, corpos que atravessam duas fronteiras fortemente estabelecidas: a do estado-nação e das relações de gênero. Para tanto a autora retorna à cidade de Paris antes da chegada das travestis, e procura compreendê-las também antes da ida a Paris. Quando as estuda lá, analisa inclusive como trafegam pelos espaços e, portanto, como elas o influenciam e são por ele influenciadas.
Na sequência, em Experiências trans: amizades, corpos e outros trânsitos, Rafael França Gonçalves dos Santos analisa, a partir de Michel Foucault, como a categoria da amizade poderia auxiliar na compreensão das sociabilidades homossexuais, sobretudo na formação de suas subjetividades e identidades ao longo da existência, já que a própria intervenção do corpo realizada por alguns deles necessita de identificação, apoio, laços estabelecidos. O autor insere na reflexão o conceito de rede, caro às formas de sociabilidade contemporâneas, assim como a questão da migração.
Em As “genis” representadas nas páginas do Lampião da Esquina, Débora de Souza Bueno Mosqueira realiza um estudo da importância das páginas desse periódico que circulou entre 1978 e 1981 para a construção de espaços de circulação de temas relativos à homossexualidade, integração dos gays em movimentos que defendessem seus direitos e denúncias relativas às violências cometidas contra homossexuais. A autora lembra, inclusive, de como mulheres foram incluídas na equipe do jornal a partir da pressão dos próprios leitores, em um processo dinâmico, e de como a mulher negra, brasileira e da periferia encontrou espaço em algumas de suas páginas.
Em Corpo anacrônico (sucedido por uma alegoria queer para as musas), Antonio de Lion lembra, parafraseando Carlos Alberto Vesentini, a dificuldade de um historiador ou historiadora para falar das lutas de agentes de um tempo que não é o seu. A partir daí, por meio de uma avaliação de como os estudos foram se desenvolvendo a partir, sobretudo, da interdisciplinaridade, desemboca na afirmação de que a contribuição dos estudos queer consiste justamente na capacidade que eles têm de promover uma ampliação dos olhares aos corpos que importam, para que, em algum momento, se possa compreender que todos os corpos importam.
Na sequência Kauan Amora Nunes, em O que Queer tem a ver com as calças: uma análise histórica do conflito entre críticas marxista e queer, nos apresenta uma relação, em geral no mínimo intranquila, entre estudos marxistas de um lado, que em geral entenderam que questões referentes a etnia ou gênero seriam menores se comparadas à questão da luta de classes, e a bibliografia queer do outro, que evidentemente critica a percepção marxista por lhe reduzir o nível de importância. O autor lembra, no caso brasileiro, da controversa relação entre o próprio PT, com orientações iniciais do marxismo, e a questão da homossexualidade.
Em “Vai malandra…seu corpo é instrumento [contra] violento”: Figurações da marginalidade no filme “A Rainha Diaba” (1973), Robson Pereira da Silva busca compreender em que medida a arte da década de 1970 pôde responder, com figurações de corpos marginais, às lesões efetuadas pelo Estado autoritário configurado na ditadura militar no Brasil, que vigorou entre 1964 e 1985. A partir disso o autor trabalha com possibilidade de ler, nas obras de arte, uma possível contraviolência praticada por uma diversidade de figuras da classe artística nacional.
Fechando a obra Aguinaldo Rodrigues Gomes e Peterson José de Oliveira, em Erosão das masculinidades e dos discursos marginais no app Grindr, buscam compreender a configuração das identidades e subjetividades de sujeitos que interagem nas redes sociais. A chamada heteronormatividade dominante se aplica, evidentemente, nos espaços virtuais, e a análise dos autores se realiza na busca de compreender até que ponto, em um aplicativo mais específico para um público homossexual, os sujeitos conseguem romper com tais parâmetros de visão de si e dos outros e até que ponto permanecem enredados na teia de representações hegemônicas.
A obra, a meu ver, pela multiplicidade de referenciais teóricos e de abordagens metodológicas sobre uma diversidade de temas pertinentes, é objeto valioso para aqueles que se dedicam a objetos teóricos que estejam nas fronteiras do que é tratado no livro, assim como para aqueles que, no mínimo, queiram ampliar sua compreensão sobre a complexa formação das subjetividades nas sociedades contemporâneas.
Cássio Rodrigues da Silveira – Possui graduação em Filosofia, mestrado em História e doutorado em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente leciona Filosofia no Instituto Irmã Teresa Valsé Pantellini, da Rede Salesiana de Escolas.
SOUSA NETO, Miguel Rodrigues de Sousa; GOMES, Aguinaldo Rodrigues (Org.). História e Teoria Queer. Salvador: Devires, 2018. Resenha de: SILVEIRA, Cássio Rodrigues da. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 11, n. 22, p. 256-259, jul./dez., 2019.
Cultura, politecnia e imagem – ALBUQUERQUE et al (TES)
ALBURQUERQUE, Gregorio G. de; VELASQUES, Muza C. C; BATISTELLA, Renata Reis C. Cultura, politecnia e imagem. Rio de Janeiro: EPSJV, 2017. 318 pp. Resenha de: GOMES, Luiz Augusto de Oliveira. A materialidade da cultura: uma nova forma de ler o mundo. Revista Trabalho, Educação e Saúde, v.17, n.2, Rio de Janeiro, 2019.
O livro Cultura, politecnia e imagem,organizado por Gregorio Galvão de Albuquerque, Muza Clara Chaves Velasques e Renata Reis C. Batistella, publicado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fundação Oswaldo Cruz, apresenta um panorama ampliado do conceito de cultura a partir de três eixos de análise que se complementam: (1) Cultura, educação, trabalho e saúde; (2) Cultura, educação e imagem; e, (3) Cultura e cinema. Os 20 autores que assinam os 15 artigos do livro apresentam importantes contribuições para compreender a materialidade da cultura nos tempos atuais.
No eixo “Cultura, educação, trabalho e saúde”, ao debater cultura, os autores se fundamentam especialmente no materialismo histórico dialético para refletir sobre o conceito ampliado do termo. É interessante observar a defesa de uma concepção de cultura imbricada dialeticamente com todas as instâncias dos processos de produção da vida social, refutando a tradição idealista que busca na cultura algo puro e apartado do “reino dos conflitos e contradições” (p. 25). Além da crítica ao idealismo, é crucial destacar as reflexões acerca das obras de Eduard Palmer Thompson e Raymond Willians, pensadores da chamada nova esquerda britânica, para desconstruir a leitura de um marxismo dogmático e fundado no reducionismo econômico, que hierarquiza base/superestrutura e plasma a cultura no plano da ‘superestrutura’, desvinculada das relações sociais de produção (infraestrutura). Quanto às relações dialéticas entre estrutura e superestrutura, assim como Thompson (1979, p. 315) podemos dizer que “o que há são duas coisas que constituem as duas faces de uma mesma moeda”. Ao ter em conta os nexos entre economia e cultura, podemos perceber que a “dimensão cultural das sociedades são espaços dinâmicos permeados por conflitos de interesses” (p. 88), espaços onde estão presentes tanto o consenso quanto disputas por uma nova hegemonia. Essa constatação vai ao encontro das palavras de Thompson (1981, p. 190) de que “toda luta de classes é ao mesmo tempo uma luta acerca de valores”, valores esses que constituem a cultura, cuja base material deve ser investigada e considerada na análise do movimento do real.
É um desafio compreender o conceito de cultura não apenas como campo de consenso. Como nos informa o eixo “Cultura, educação, trabalho e saúde”, a cultura pode ser entendida como resultado das ações dos homens e mulheres sobre o mundo. Em última instância, “ela se torna o próprio ambiente do ser humano no qual ele é formado, apropriando-se de valores, crenças, objetos, conhecimentos” (p. 99).
A obra de Clifford Geertz, trabalhada em um dos artigos do livro, também contribui para o debate sobre cultura, principalmente por abordar os modos de vida e discursos dos grupos vulneráveis ou excluídos. A noção de comportamento humano de Geertz é uma ótima ponte para aproximar a antropologia da discussão a respeito da compreensão do processo saúde-doença. A autora do artigo afirma que a contribuição de Geertz e a sua antropologia “é muito favorável para a inclusão do ponto de vista dos pacientes e usuários dos serviços na análise das questões de saúde, principalmente no atual contexto, no qual o discurso médico é dominante” (p. 114).
No segundo eixo, intitulado “Cultura, educação e imagem”, os autores tratam da construção de conhecimento por meio das imagens. Esse eixo, em especial, nos favorece a compreensão das imagens como mediação em espaços formativos, sejam eles institucional (como a escola) ou qualquer outro espaço de educação dos sujeitos coletivos. Para isso, os autores buscam principalmente nas experiências em sala de aula mostrar como, por intermédio da cultura (em especial, da imagem), é possível outra leitura do mundo.
Com isso, concordamos com Kosik (1976) quando entende que compreender a vida para além da sociedade fetichizada − que toma a coisas no seu isolamento, adota a essência pelo fenômeno, a mediação pelo imediatismo−, é um exercício de apreensão da totalidade do cotidiano. Por isso, tendo em conta a pseudoconcreticidade com que o mundo se apresenta, os autores indicam que na sociedade capitalista, onde “o urbano passa a ser uma sucessão de imagens e sensações produzidas e reproduzidas pelos indivíduos que criam uma condição fragmentada da vida moderna” (p. 88), crianças, jovens e adultos buscam nas imagens divulgadas nas mídias (televisão e redes sociais) a construção de si mesmos e do mundo.
Na lógica do capital, a imagem exerce um papel importante na manutenção da hegemonia, impondo valores e transferindo os desejos da burguesia para a classe trabalhadora. Como constata um dos artigos, a “dissolução da forma burguesa mantém-se no contínuo da passividade dos sujeitos sociais, arraigando assim uma violência subjetiva terrorista, como reconhecer e alterar este mundo […] a colonização estética dos sentidos é perversa” (p. 160).
Sabemos que a educação é apropriada pelo capitalismo como formadora de consenso: “forma-mercadoria e forma estatal como princípio de organização da vida social, impregnando a subjetividade humana de práticas autorrepressivas no que diz respeito aos seus impulsos de felicidade e liberdade” (p. 170). A leitura do eixo “Cultura, educação e imagem” reforça que o “viés questionador, transformador e revolucionário da reflexão e da produção cultural podem possibilitar uma nova forma de ler do mundo” (p. 143). Os artigos nos ajudam a compreender que a imagem é uma potente ferramenta, constituindo-se como mediação tanto revolucionária quanto para manter o status quoda classe econômica e culturalmente dominante.
Por fim, no último eixo, “Cultura e cinema”, os autores nos convidam a conhecer a discussão acerca da cultura e da imagem com base em consistentes formulações teóricas que envolvem a produção do cinema e os seus nexos com as práticas escolares. Neste eixo, podemos destacar que é de grande importância a crítica direcionada às produções acadêmicas que corroboram para que a “análise de filmes seja percebida ainda como uma forma acessória de se atingir uma compreensão sobre a realidade social” (p. 231), ou seja, esse tipo de análise trata a produção do cinema como uma mera fonte de registro e que para compor uma análise da sociedade necessitam de outros tipos de fontes.
Em seus quatro artigos, o eixo “Cultura e cinema” procura demonstrar como a produção fílmica é uma fonte histórica de grande relevância para analisar a sociedade a partir de uma “concepção estético-política” (p. 232). Busca na interpretação do filme “Terra em Transe”, do diretor Glauber Rocha, elementos importantes para a leitura dos acontecimentos do golpe empresarial-militar de 1964 e as variadas interpretações do seu sentido nos dias atuais. O filme é “uma síntese devastadora do processo de luta de classes no Brasil e na América Latina dos anos 1960 como núcleo duro permeando todas as relações sociais reais, demole todos os discursos de legitimação dos projetos colonizadores” (p. 254). A produção em questão nos ajuda a compreender a potência do cinema na captação do real e de como a organização formal e estética em imagem e som nos auxilia na percepção das disputas de classe ocorridas no período.
A concepção de romper com um olhar naturalizado sobre a sociedade de classes é um dos intuitos das produções fílmicas alternativas, em especial na conturbada América Latina do século XX. Assim, o Nuevo Cine Latinoamericanomarcou o cinema latino-americano, buscando em produções militantes, conscientizar trabalhadores e trabalhadoras a sair das suas ‘zonas de conforto’. Essa concepção de cinema buscou possibilitar, como nos indica um dos artigos, “uma nova leitura do mundo, e uma nova forma de pensar a nossa realidade, características fundamentais para a transformação social” (p. 287).
Assim como os longas-metragens, os documentários também contribuem para narrar os conflitos de classe. Como sinaliza uma das autoras, o documentário tem o poder de relacionar a antropologia, a arte visual e a produção cinematográfica para contar uma história. Com isso, os documentários sustentam o “mito de origem de falarem a verdade” (p. 258). Todavia, o eixo nos leva a refletir: Qual verdade? Verdade para quem? O livro nos convida a encarar o documentário como um gênero de grande importância para a pesquisa social.
O rico debate teórico com base na materialidade da cultura alicerçada nas pesquisas dos autores, seja em sala de aula ou na análise de imagens e filmes, ajuda-nos a entender a profundidade do conceito de cultura e a sua potência como agente da transformação social. O livro nos elucida quanto à necessidade de que a classe trabalhadora se aproprie e interprete sua própria cultura, descolonizando-se da hegemonia cultural da burguesia, para assim buscar a sua emancipação plena.
O livro Cultura, politecnia e imagemé um prato cheio para quem busca superar a concepção idealista de cultura, compreendendo-a na sua totalidade, em diversos espaços-tempos históricos, tendo em conta as relações dialéticas entre economia, cultura e outras determinações sociais, e em especial as experiências coletivas da classe trabalhadora. Nos três eixos temáticos, o conjunto de autores desenvolve formulações teóricas com evidências empíricas de que a cultura e os processos educativos que a elegem como objeto de estudo e de compreensão da realidade podem fermentar os germes de projetos de transformação social.
Referências
KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. [ Links ]
THOMPSON, Edward P. Tradición, revuelta y cons- ciência de classe. Barcelona: Crítica, 1979. [ Links ]
THOMPSON, Edward P. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. [ Links ]
Luiz Augusto de Oliveira Gomes – Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação, Niterói, RJ, Brasil. E-mail: [email protected]
(P)
Grecorromana. Revista Chilena de Estudios Clásicos | UAB | 2019
Grecorromana. Revista Chilena de Estudios Clásicos (Viña del Mar, 2019-) es una publicación afiliada al Departamento de Humanidades de la Universidad Andrés Bello, Chile. De periodicidad anual, su propósito es el estudio del mundo antiguo grecorromano, así como su proyección en la Tardoantigüedad y su recepción en períodos posteriores (Recepción Clásica). Como publicación académica, su objetivo es establecer un espacio de análisis crítico y reflexivo sobre la Antigüedad Clásica y promover el diálogo entre las disciplinas que componen los estudios clásicos (historia, filosofía, filologías, arqueología, arte, etc.).
Periodicidade anual.
Acesso livre.
ISSN 0719 9902
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
A Terceira margem do Gran Caribe / Revista Brasileira do Caribe / 2019
Este número da Revista Brasileira do Caribe é composto por três seções. O dossiê “A terceira margem do Gran Caribe” reúne estudos sobre as relações entre o Caribe, Sul da Europa e África. A partir de diferentes referentes disciplinares e temáticos, os textos reunidos focalizam as conexões, os trânsitos e as experiências comuns entre sujeitos e processos desses três espaços. Eles revelam que a densidade e a continuidade histórica destas relações torna possível falar de um terceiro espaço, o do movimento de ida e retorno, de compartilhamento e mútua influência, nomeado aqui de terceira margem. A segunda sessão, artigos livres, reúne artigos diversos sobre a literatura e sociedade caribenhas. Finaliza o número, a seção resenha.
Abre o dossiê “A terceira margem do Gran Caribe” o artigo Infante y Martí pensadores decoloniales de Fernando Limeres Novoa. Neste texto, tendo como ponto inicial os elos entre o Caribe a Andaluzia, são descritos e analisados as coincidências entre o pensamento de Martí e Blas Infante, pensadores revolucionários do período de transição entre o século XIX e XX. Ígor Rodríguez-Iglesias, em Procesos de la ideología lingüística del andaluz en el Caribe cubano a través de la etnografía sociolingüística crítica tece considerações sobre experiências de preconceito linguístico com o falar andaluz vivenciadas por ele durante etnografia realizada em Cuba. Esse artigos, assim, estão situados dentro das relações entre Caribe o Sul da Europa, esse espaço que Garcia de Léon ( ) chama de caribe afroandaluz.
As relações entre o Caribe a África são problematizados por Hélio Márcio Nunes Lacerda no artigo A ficção do Caribe: Tituba e a invenção do mundo colonial. O autor pergunta-se sobre o lugar das reescritas literárias de eventos e personagens históricos realizadas pela literatura caribenha contemporânea e a relação desse processo pelas disputas en torno da memória de eventos como a escravidão e a resistência.
O último artigo, Pata negra: conversaciones sobre negritud, cultura e Historia de Andalucía. Entrevista con Jesús Cosano é um diálogo entre esse autor e Javier García Fernández em que são tratados da relação entre África e Andaluzia, a partir do ativismo cultural e musical de Cosano e da presença africana no sul da Europa.
A seção artigos livres é composta, em primeiro lugar pelo artigo Periodización y praxis para el estudio de la crítica literaria en las principales publicaciones periódicas y culturales de Santiago de Cuba (1825-1895) de Ivan Gabriel Grajales Melian e Yessy Villavicencio Simón. Os autores procuram, a partir de pesquisa em publicações culturais, estabelecer as bases para a periodização e prática do estudo da crítica literária em Santiago de Cuba no século XIX. Em seguida, Luiza Helena Oliveira da Silva e José Antonio Romero Corzo em Estética do atroz, memória e acontecimento no romance Díptico da fronteira: uma caracterização semiótica do trauma dos deslocados pela violência política colombiana estudam o testemunho do trauma a partir do romance Díptico da fronteira, que narra a história de violência política que faz da fronteira colombiana-venezuelana espaço de trânsito e fuga constante. Por outro lado, Olivia Macedo Miranda de Medeiros em Roberto Fernández Retamar em cartas: (des)encantos da Revolução analisa o lugar ambíguo de Fernandez Retamar no processo de endurecimento das relações entre Estado e produtores culturais em Cuba da década de 1970. Completam a sessão, o artigo Atravessamentos de raça, gênero e nacionalidade: a diáspora estudantil de mulheres haitianas no Brasil de Camila Rodrigues Francisco. Neste artigo, são problematizados as dinâmicas de gênero, raça e nacionalidade como contexto importantes para a compreensão da trajetória da diáspora de estudantes haitianas no Brasil.
Por fim, a seção Resenha publica O que Tata escreveu: resenha do livro Conversas que tive comigo de Nelson Mandela de Josiel Santos. O autor descreve as cartas e trechos de diários de Mandela, indicando articulações entre seus pensamentos e o que chamamos de decolonialidade.
Boa leitura.
Os organizadores
Os organizadores. Editorial. Revista Brasileira do Caribe. São Luís, v. 20, n. 38, jan./jun., 2019. Acessar publicação original [DR]
Paisagem e memória entre Celtas e Germanos / Brathair / 2019
Paisagem e Natureza são temas que se tornaram largamente difundidos nas pesquisas em História, Arqueologia, Letras e Arte, sobretudo nos últimos vinte anos. Deixando de ser entendida apenas como um mero cenário ou “pano de fundo” para a existência humana, a paisagem passou ser entendida como construto cultural e arena central da vida social. Hoje, entendemos que paisagem é mais do que a “Natureza” ou “o mundo lá fora” em oposição à cultura e ao nosso ambiente construído. Sabemos que a paisagem é produto da interação entre seres humanos e ambientes, ou seja, é construída pela prática e experiência de comunidades e indivíduos (cf. Ingold 1993, 1996, 1998). Os atuais estudos da paisagem estão aliados ao que costumamos designar como “nova virada espacial” (cf. Bodenhamer 2010), que trazem a reflexão sobre o espaço para o centro de análise, visando compreender os processos não apenas de construção, mas igualmente de alteração da paisagem pelas formas de sociabilidade, práticas cotidianas e pela historicidade da vivência local e regional. São pesquisas que buscam, portanto, entender as articulações entre paisagens imaginadas (suas concepções, imagens e representações) e paisagens vividas (sua morfologia, ambiente construído e formas de monumentalização). É na interação dessas experiências do espaço e da paisagem que temos os usos diferenciados e processos de apropriação, que tanto nos têm interessado.
Nesse dossiê da revista Brathair, trazemos ao público brasileiro algumas dessas discussões atuais sobre os temas de paisagem e natureza aplicadas ao estudo das sociedades celtas e germânicas a partir da cultura material, dos registros históricos, assim como dos mitos e lendas dessas sociedades. Para elas, a relação entre os indivíduos e ambiente destaca-se não só como um modo de vida, uma preocupação e compreensão com a terra e o meio-ambiente em si, como largamente têm mostrado os pesquisadores de correntes ambientalistas, mas também, e sobretudo, na produção e alteração de paisagens mentais e materiais.
Aqui, esses debates estão organizados a partir de três eixos temáticos, a saber: 1) Paisagens e visões literárias; 2) Território, Etnogênese e Mitos de Origem; e 3) Construindo paisagens materiais.
No primeiro eixo, abrimos essa edição com o texto do saudoso docente da Universidade Federal Fluminense (UFF), Ciro Flammarion Cardoso† (1942-2013), que traz uma brilhante contribuição para a percepção da relação entre paisagem e religião. Nesse artigo, o autor analisa aspectos da religião nórdica na Islândia através de livros de assentamentos (Landnamabók) em suas diferentes versões e em algumas sagas, incluindo aquela que se refere a Olaf Tryggvason (contida no Heimskringla de Snorri Sturluson), abordando a relação da paisagem com as divindades locais. Fruto de sua conferência de encerramento no V Simpósio Nacional e IV Internacional de Estudos Celtas e Germânicos, ocorrido no ano de 2012, essa foi uma de suas últimas participações em eventos e agradecemos à sua família a gentileza de nos permitir a publicação desse trabalho.
Também avançando nas reflexões sobre religião e paisagem, Elva Johston, professora do University College de Dublin (UCD), analisa as relações entre paisagem, História e Literatura na obra Navigatio Sancti Brendanni Abbatis (A Viagem de São Brandão). A narrativa é um conto de viagem, abordando um percurso imaginário de uma personagem real, São Brandão, abade de Clonfert no século VI, que, de acordo com a narrativa mítica do século X teria chegado até o Paraíso Terrestre. O santo neste relato vai e volta ao mesmo ponto de partida. A autora analisa a relação da narrativa com diversos tipos de paisagem – reais, monásticas, liminares, entre outras, além de vincular esta viagem com o conceito de peregrinatio.
Seguindo em linha semelhante, mas atentando para paisagens imaginadas, Adriana Zierer, professora da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), analisa os espaços míticos cristãos, relacionados ao Inferno e Paraíso e à paisagem numa obra composta por um monge irlandês chamado Marcus, intitulada Visio Tnugdali, bem como a sua circulação no período medieval. A obra destaca a passagem de um cavaleiro pecador, após a sua morte aparente, inicialmente por lugares infernais, onde sofre por seus pecados e depois por espaços paradisíacos, com o objetivo de levar ao arrependimento e à salvação. Destaca ainda o papel dos monges nas construções de paisagens imaginárias acerca do Além Medieval e a figura de heróis irlandeses míticos, como Fergus e Connal, diabolizados no relato, guardando a imensa mandíbula de um monstro (Boca do Inferno).
Já do ponto de vista da Geografia Humanista Cultural aplicada à literatura contemporânea, Márcia Manir Feitosa, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), analisa sob o romance Um deus passeando pela brisa da tarde (1994), de Mário Carvalho. Este, considerado uma obra-prima do autor, transporta o leitor da Contemporaneidade para paisagens da Antiguidade Clássica, na Antiga Lusitânia do século II a.C. A narrativa discute os conflitos do protagonista Lúcio com o declínio dos valores da Roma Antiga e a ascensão da cultura cristã. Aqui, a autora analisa a paisagem aliada às concepções do personagem-narrador sob a ótica dos estudos literários.
No segundo eixo, Território, Etnogênese e Mitos de Origem, Vinícius C. D. Araujo, da Universidade Federal de Montes Claros (UNIMONTES), discute o mito de origem (origo gente) dos saxônios no livro 1 da Res gestae Saxonicae escrita pelo monge Widukind de Corvey (967- 74), buscando estabelecer as origens nobres deste grupo e o seu papel na ocupação das terras com o objetivo de legitimar inicialmente os saxônios, bem como, suas conexões com a dinastia Otônida e a legitimação da da monarquia imperial germânica em períodos subsequentes.
Já Elton Medeiros, docente do Centro Universitário Sumaré (SP), analisa a origem dos saxões na obra Historia Ecclesiastica da Gentis Anglorum, de Beda. Esta obra produzida no século VIII foi retomada por Alfredo, o Grande, em fins do século IX, o qual, na sua luta por afirmação contra os escandinavos e fortalecimento do território de Wessex, buscou inspiração espiritual em mitos de origem. Inspirado nas obras de Beda e em outras, defendia que os saxões eram descendentes dos hebreus e os reis do passado germânico estavam associados a uma linhagem sagrada.
Em contraste, João Lupi, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), traz uma abordagem do ponto de vista da Ciência da Religião para o estudo da mística e do misticismo na Renânia medieval. Para o autor, o idealismo germânico não apenas se fundamenta em embates contra a hierarquia eclesiástica, mas também em uma nova concepção da Divindade.
No último eixo, abordando a construção de paisagens a partir da cultura material, Maria Isabel D’Agostino Fleming e Silvana Trombetta, ambas vinculadas ao Laboratório de Arqueologia Romano-Provincial (LARP) do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da Universidade de São Paulo (USP) vêm pensar o caso da Península Ibérica. Enquanto, Fleming (fundadora do LARP) faz um balanço do debate peninsular e de suas implicações para a construção do “céltico”, Trombetta empreende uma análise dos enterramentos entre celtas e celtiberos, analisando a inscrição da memória na paisagem a partir das práticas funerárias.
Para além do dossiê, essa edição conta ainda com dois artigos livres, da autoria de Maria Izabel Oliveira (UFMA) sobre o pensamento do jesuíta Antônio Vieira sobre a escravidão no Brasil e de Carlos Silva (Faculdade de Letras da Universidade do Porto), acerca do substrato celta nas línguas hispânicas. Para auxiliar os pesquisadores iniciantes e experientes a edição conta com duas traduções de documentos textuais, Tiago Quintana, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apresenta a tradução de A Vingança de Amlet, registrada por escrito no século XIII, mas fruto da tradição oral dos povos nórdicos, provável ancestral de Hamlet, de Shakespeare, enquanto Cristiano Couto, doutor em História pela UFRGS, apresenta uma parte da tradução de uma importante obra da tradição mitológica irlandesa Táin Bó Cuailnge.
Por fim, essa edição é concluída com a resenha de Elisângela Morais (PPGHIS / UFMA / CAPES) sobre o livro Viagens e Espaços Imaginários na Idade Média, organizado pela docente Vânia Fróes e outros pesquisadores, que de certa forma está associado ao tema “paisagem” na medida em que os viajantes se deslocavam por novos espaços construindo novas memórias e paisagens reais e imaginárias.
Referências
BODENHAMER, D.J. The Potential of Spatial Humanities. In: BODENHAMER, D.J.; CORRIGAN, J.; HARRIS, T.M. (eds.) The Spatial Humanities: GIS and the Future of Humanities Scholarship. Bloomington / Indianápolis: Indiana University Press, 2010, pp. 14-30.
INGOLD, T. The temporality of the landscape. World Archaeology, 25, 1993, pp. 152–74.
INGOLD, T. Culture, nature, environment: steps to an ecology of life. In: CARTLEDGE, B. (Ed.). Mind, Brain and the Environment. The Linacre Lectures 1995-6. Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 158–80.
Adriene Baron Tacla – Docente IH / UFF / NEREIDA. E-mail: [email protected]
Adriana Zierer – Docente PPGHIST-UEMA Docente PPGHIS-UFMA. E-mail: [email protected]
TACLA, Adriene Baron; ZIERER, Adriana. Editorial. Brathair, São Luís, v.19, n.1, 2019. Acessar publicação original [DR]
Gênero na idade média / Brathair / 2019
A categoria Gênero, instrumento teórico que busca visibilizar, explicar e entender as diferenças atribuídas aos corpos sexuados, já tem uma história bastante concreta e profícua em meio às ciências humanas. Pelo menos desde a década de 1960, estudiosas e estudiosos das sociedades vêm lançando luz sobre os fenômenos de dominação, exclusão, marginalização, sobretudo, do que se considera como feminino. Embora, historicamente, o olhar sobre gênero tenha se iniciado a partir do viés do feminino e do feminismo, é quase consenso atualmente que essa categoria epistemológica não se limita apenas a esse âmbito da existência. Gênero, a partir da perspectiva scottiana, é uma forma primária de organização das relações de poder que se alicerça nas diferenças biológicas.
Entre os medievalistas, a categoria Gênero tem tido reverberação, no mais das vezes, positiva, no sentido de ter conquistado espaço de legitimidade nas pesquisas voltadas para as sociedades medievais. Ainda que os próprios medievais não se percebessem a partir dessa categoria, sua aplicação ao estudo da santidade, das rainhas, da literatura, das diferenças sociais, propiciam um conhecimento cada vez mais profundo e matizado da complexa cultura medieval.
Como é próprio do conhecimento cientificamente construído, bem como – necessário que se diga no contexto em que vivemos -, muito salutar, as percepções sobre Gênero não são unívocas. Isso fica patente neste dossiê da revista Brathair, que reúne artigos que adotam perspectivas variadas acerca tanto do que se pode entender por gênero, quanto em seus objetos de reflexão. Essa variedade demonstra a vasta riqueza que a categoria permite, e a indiscutível marca que os Estudos de Gênero vêm deixando na academia brasileira.
O primeiro artigo, As mulheres na Vita Sancti Aemiliani e na Legenda Beati Petri Gundisalvi: um estudo de comparação diacrônica, das professoras Andréia Cristina Lopes Frazão da Silva (PEM-UFRJ) e Leila Rodrigues da Silva (PEM-UFRJ), busca perscrutar o papel das personagens femininas em duas hagiografias medievais ibéricas, separadas em seu contexto de produção por cinco séculos. Ao lançar mão das propostas de Paul Veyne a respeito da análise histórica diacrônica, as autoras conferem sólida base para a reflexão, que se fortalece ainda pelo cuidadoso elencar de elementos a serem analisados, bem como por considerar os contextos específicos de composição das narrativas.
Carolina Gual da Silva (FAPESP-Unicamp) contribui com o artigo Experiência feminina e relações de poder nos romans do século XII. Aqui a pesquisadora se dedica a expor e discutir uma historiografia representativa do que tem sido, nas últimas décadas, as reflexões dedicadas aos estudos de gênero e à História das Mulheres, particularmente no que diz respeito às relações de poder. Percebendo, a partir desse levantamento, problemas sobretudo metodológicos nas obras analisadas, debruça-se então sobre alguns romans do século XII, de autoria de Chrétien de Troyes, Thomas e Béroul, na intenção de lançar um novo olhar sobre documentação literária que possibilite um alargamento de visão sobre os agires e pensares das mulheres medievais.
A Querelle des femmes e a política sexual na Idade Média, escrito pela professora Cláudia Costa Brochado (UnB), como já aponta o título, debate a relação entre a Querelle des femmes e a política sexual na Idade Média, apresentando as principais teorias sobre esta e sua vinculação à Revolução Aristotélica. A autora evidencia as mudanças, ao longo do período medieval, das percepções a respeito da condição (subalterna) das mulheres e faz uso do conceito de genealogia para dar conta da forma como se constrói, naquelas sociedades, as identidades sexuais que informam a política sexual medieval.
O dossiê conta também com a contribuição de Danielle Oliveira Mércuri (UNIFESP), no artigo Da arte de fazer-se virtuosa: regimentos de princesas (Castela, século XV). Tem como objetivo analisar as indicações de governo dirigidas à Rainha Isabel, pelos clérigos Martín de Córdoba, Íñigo de Mendoza e Hernando de Talavera. Nos textos pesquisados, a autora explicita as percepções próprias daquela sociedade quanto às mulheres, em específico as mulheres da nobreza. Em alguns casos, nos textos voltados à rainha Isabel, apontam-se as dubiedades do papel feminino em posição de poder.
As imagens e as leis: diálogos entre discursos normativos e iconográficos medievais no Decretum de Graciano, da lavra de Guilherme Antunes Júnior (PPGHCUFRJ), parte do conceito de gênero para analisar duas miniaturas contidas no Decretum de Graciano, reunião de textos normativos compilados no século XI. O autor entende que o Decretum pauta a chamada “Querela das investiduras” e suas implicações nas hierarquias eclesiais, mas dá margem, igualmente, para que outros aspectos sejam percebidos. E é o que faz, ao relacionar o código jurídico às relações de gênero nas disputas e discursos de poder.
Margarida Garcez Ventura (Universidade de Lisboa / Academia Portuguesa de História), autora do artigo Breves notas sobre Dona Beatriz da Silva e Isabel, a Católica: duas mulheres em Projectos De Santidade e de reforma da Igreja na Hispânia Quatrocentista (1424-1492), partindo da ideia de que a transcendência divina é historicamente construída, discute o percurso de vida de Beatriz da Silva, fundadora da Ordem da Imaculada Conceição. De Portugal à corte castelhana e a Toledo, Ventura demonstra como a espiritualidade da religiosa se institucionaliza no encontro com os projetos reformistas de Isabel, a Católica.
O artigo Mulher não devia ter regimento: rainhas regentes, rainhas depostas (Portugal, séc. XIV-XV), da professora Miriam Coser (UNIRIO), se dedica a investigar o discurso sobre a fraqueza feminina veiculado pelas crônicas da Casa de Avis. O foco de suas considerações são duas rainhas regentes, ambas depostas, Leonor Teles e Leonor de Aragão. A autora defende, valendo-se do conceito de queenship, que o exercício de poder das rainhas constituía uma espécie de ofício, praticado legitimamente e caracterizado por atribuições que não eram tão só protocolares.
Narrativas mitológicas e o papel da mulher na constituição da nobreza portuguesa através do Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, de Neila Matias de Souza (IFMA), situa a tradição literária da crença em mulheres-serpente, para daí analisar a personagem Dama do Pé de Cabra, iniciadora da linhagem dos Haros. A autora investiga os significados sociais e políticos da narrativa que apresenta a Dama, percebendo seu papel de propiciadora de legitimidade e abundância para aquela família nobre.
Renato Rodrigues da Silva (UNIFESP), em Mulheres e poder na aristocracia da Nortúmbria Anglossaxã: ausência ou invisibilidade?, compara textos escritos e achados arqueológicos para averiguar se a ausência de personagens femininas nos textos de época reflete uma pouca participação das mulheres no poder aristocrático, ou se esta escassez é indício de uma invisibilização da participação feminina. Para tanto, o autor se fundamenta em abalizada discussão historiográfica para, então, partir para dois estudos de caso.
O último artigo do dossiê, Apontamentos sobre virilidade e inteligibilidade de gêneros na proposta de identidade cristã de Agostinho de Hipona na Primeira Idade Média, de Wendell dos Reis Veloso (CEDERJ), promove uma reflexão teórica fundamentada nas ideias, principalmente, de Judith Butler, aplicada a alguns tratados agostinianos. Dá a ver, em suas ponderações, algo que geralmente fica invisível na historiografia: as possibilidades outras de relação com as realidades, neste caso, as realidades sexuais, em especial os valores a elas atribuídos.
A edição conta ainda com dois artigos de tema livre. Ricardo Boone Wotckoski (UNIFRAN / Claretiano) discute no texto O além e a visão de mundo medieval: o inferno da Visão de Thurkill, o percurso ao inferno do camponês Thurkill, em um relato visionário composto no século XIII. Seguindo a perspectiva teórica de Bakthin, o inferno é analisado pelo articulista como um ambiente carnavalizado, uma encenação popular, na qual as categorias desfavorecidas da sociedade se regozijam com o sofrimento dos ricos, graças à possibilidade de inversão nesse espaço. Nesta concepção bakthiniana, o riso é uma resposta à dor e ao sofrimento no ambiente infernal, bem como, os papéis sociais se invertem.
O professor André de Sena (UFPE) desenvolve o tema da melancolia em A melancolia erótica no auto camoniano El-rei Seleuco. O articulista analisa este sentimento com base principalmente nas teorias do estudioso francês Jacques Ferrand, autor de Traité de l’essence et guérison de l’amour, ou De la mélancolie érotique (1610). Segundo de Sena, o príncipe melancólico em virtude do amor é um dos traços do teatro barroco e renascentista. O artigo analisa elementos da melancolia amorosa e compara o sentimento do rei Seleuco no auto camoniano com a figura de Hamlet, o qual utilizaria a melancolia “fingida” como forma de vingança.
Fechando o dossiê Gênero e a edição 2019.2 da Brathair, temos a resenha elaborada por Juliana Salgado Raffaeli (CEDERJ), O medievo ocidental a partir de conceitos como gênero, santidade e memória em diferentes abordagens teóricas e metodológicas, sobre a rica coletânea, dirigida por Andréia Frazão da Silva Construções de Gênero, Santidade e Memória no Ocidente Medieval (2018). Como deixa claro Raffaeli, evocando a variedade de temas e problemas propostos pelos autores da obra, os estudos de gênero parecem ter deixado o lugar secundário, complementar, que por anos marcaram o campo, e passam, na atualidade, a ser vistos como mais uma possibilidade de compreensão das realidades passadas e presentes.
Carolina Coelho Fortes – (PPGH / UFF). Docente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense [email protected]
FORTES, Carolina Coelho. Editorial. Brathair, São Luís, v.19, n.2, 2019. Acessar publicação original [DR]
A particularidade na estética de Lukács (T), Instituto Lukács | Deribaldo Santos
“A particularidade na Estética de Lukács” de Deribaldo Santos, publicado pelo Instituto Lukács (IL), com primeira edição no ano 2017, trazendo os principais conceitos da obra de maturidade de György Lukács, elaborada de forma mais bem-acabada em a Estética 1. O autor se propõe a sistematizar as categorias lukacsiana contida na obra do filósofo, deixando-as mais acessíveis para o entendimento e direcionando-as para o público interessado no pensamento Lukács e para quem se interesse e estude estética. O estudioso da particularidade em Lukács tem publicado pela editora do IL “Estética em Lukács – A criação de um mundo para chamar de seu”, além deste, outros livros de cunho literário e na área de educação.
Em seu livro, Santos se propõe a expor os conceitos estéticos de Lukács de forma didática para seus leitores, preocupação coerente para um intelectual que tem sua formação em pedagogia e educação. Com essa preocupação do autor, temos em tela uma estrutura fluida e bem amarrada, dividida em três capítulos, tendo cada um em média quatro subcapítulos, que demonstram de forma sistemática transições entre categorias. Sendo assim, o primeiro capítulo tem o objetivo de mostrar como as categorias trabalho, cotidiano e arte tem suas materialidades efetivas na vida comum e como são formas de objetivação humana; articular o distanciamento e aproximações ente a arte e a ciência; por fim, qual é a gênese do desligamento dos reflexos estéticos na realidade. No segundo capítulo, o autor articula a centralidade da categoria da particularidade para a estética marxista, passando por uma demonstração teórico-metodológica desta, apontando para a importância de J.W. Goethe para a formulação da categoria em questão e o esclarecimento de sua peculiaridade. No terceiro e derradeiro capítulo, o autor trata da concepção de forma-conteúdo e essência-aparência, pontos cruciais para a compreensão da dialética da particularidade estética. O estudioso da particularidade em pouco mais de cem páginas coloca em tela sua proposta: demonstrar o movimento dialético interno das categorias lukacsiana, atreladas à realidade concreta.
Para Ranieri Carli, o conceito de particularidade para Lukács é elemento “imposto ao estético pela própria realidade objetiva” que “ocorre do fundamento terreno da arte: a criação de uma imagem aproximativa que traduza em destinos humanos concretos as forças sociais de época e lugar determinados” (CARLI, 2012, p. 117). Segundo esse outro estudioso, o filosofo húngaro defende que a partir da centralidade do particular a universalidade ganha caráter concreto, deixando de ser abstrato, tal qual o singular passa a ter um sentido, deixando de ser avulso. Assim, em sua Estética 1 “a situação do particular vem confirmar a não imediaticidade do reflexo estético” (CARLI, 2012, p. 117). O húngaro, para Carli, propõe-se à formulação de uma teoria estética marxista voltada para o caráter organizativo da particularidade na obra de arte, tendo como ponto de partida uma visão histórica e crítica do pensamento filosófico alemão, desde Kant, passando por Schelling, Hegel e Goethe, chegando a Marx e Engels.
Lukács até o fim de sua vida se dedicou a entender a obra de arte em relação à ciência, como essas duas formas de representação do mundo se relacionam entre si e expressam de formas diferentes a mesma realidade efetiva. Esse esforço é elaborado através das lentes teórico-metodológica marxistas. O que Santos nos mostra em seu livro é a importância da categoria de particularidade para a produção e entendimento das obras arte, assim como a importância dessa categoria para o método cientifico. O autor faz uma análise interna das obras de Lukács — Introdução a uma Estética Marxista e Estética 1 — em que se propõe mostrar a relação entre o Particular, o Singular e o Universal, levando em consideração as várias categorias que são essenciais para o movimento do particular ao universal nas obras artísticas e na ciência.
A categoria de particularidade para Santos é o que permite analisarmos a realidade concreta na sua mais complexa determinações, pois essa categoria é o ponto principal para o movimento dialético tanto da obra de arte como da ciência. Lukács, em uma das obras analisadas por esse estudioso, coloca da seguinte forma “para entender a diferença decisiva entre reflexo científico e reflexo estético, tivemos de sublinhar que o particular, que figurava no primeiro como ‘campo’ de mediação, deve se tornar no segundo o ponto central organizador” (LUKÁCS, 1978, p. 173), com isso fica claro a diferença da categoria de particular na metodologia de uma obra artística e essa categoria em relação à analise cientifica.
A categoria de reflexo estético é colocada no livro de Santos como fruto da realidade unitária, assim, a entrada para a representação da realidade a partir desse reflexo é o próprio cotidiano, onde ocorrem as objetivações superiores. Sendo na cotidianidade que ocorrem as contradições do mundo prosaico e nesta instância encontramos as características fundamentais da vinculação entre teoria e prática. O estudioso da particularidade nos mostra que Lukács coloca o cotidiano como preponderante sobre o pensamento científico e que desse solo partem as formulações de questões que serão resolvidas cientificamente. O autor nos mostra que, na visão do filósofo húngaro, a ciência e a arte entram na divisão social capitalista do trabalho, formando os vários campos das artes e da ciência modernas, e que nessa formação histórica da divisão social do trabalho isso é o que determina a divisão entre o pensar e o fazer, ou seja, somente com a consolidação da modernidade como um período histórico que detém maior complexidade de determinações há também a separação plena entre teoria e práxis.
Seguindo Lukács, Santos coloca que a existência do objeto a ser analisado cientificamente é independente da consciência do sujeito. Assim, partindo de um ponto de vista materialista dialético, que atribui cientificidade à historiografia, esta, por sua vez, tomaria a própria história como um processo real e efetivo, independente da consciência do historiador. Desse modo, a função da História como ciência seria o esforço de desantropomorfizar o objeto que está sendo pesquisado, tal como qualquer ciência modernamente estabelecida. A desantropomorfização, em termos gerais, é a retirada de características atribuídas humanamente ao objeto e que partem de um senso comum cristalizado. Com isso, o reflexo científico tem a função de representar a realidade tal como ela é em suas várias determinações inerentes, com realidade independente em relação ao conhecimento.
Em contraponto, o reflexo estético é a antropomorfização da realidade, isto é, tem a função de atribuir a ela maior gama de características humanas, deixando sua representação mais enriquecida, fazendo o movimento de articulação entre a inerência da obra de arte e a externalidade da realidade concreta. Toda a forma de reflexo — no caso, estético e cientifico —, são determinados, como demonstra o estudioso, partindo de Lukács, por um hic et nunc (aqui e agora) que já é histórico em sua gênese. O autor nos mostra que “cada reflexo, artístico ou cientifico, está carregado de ponderações materiais e temáticas impressas pelo espaço temporal de sua consumação” (SANTOS, 2017, p. 25). Com isso, demonstrando que há na interpretação de Lukács uma defesa da imanência do objeto, o qual é uma exigência insolúvel ao conhecimento científico.
Como imanência do objeto, o autor categoriza tudo aquilo que é indissociável do objeto investigado pelo cientista. Assim, à ciência, com o seu método, caberia se aproximar da realidade imanente a esse objeto, isto é, a ciência — em seu movimento interno — só é capaz de se aproximar da realidade e isso é uma forma necessária para que haja um processo de atualização constante dela mesma, determinado pelo objeto, sendo este independente da consciência do sujeito; no processo em questão, também se proporciona rastros a serem seguidos posteriormente, e esses rastros se estendem ad infinitum.
A Estética, relacionada à ciência do belo, enquanto efetividade sensorial [2] , ou seja, relativa aos cinco sentidos humanos, também tem a funcionalidade de analisar a sensação humana dentro dos vários âmbitos particulares da realidade cotidiana, o filósofo alemão G. W. F. Hegel coloca o termo estética em relação ao âmbito da arte dizendo
O nome estética decerto não é propriamente de todo adequado para este objeto, pois “estética” designa mais precisamente a ciência do sentido, da sensação [Empfinden]. Com este significado, enquanto uma nova ciência ou, ainda, enquanto algo que deveria ser uma nova disciplina filosófica, teve seu nascimento na escola de Wolff, na época em que na Alemanha as obras de arte eram consideradas em vistas das sensações que deveriam provocar, como por exemplo as sensações de agrado, de admiração, de temor, de compaixão e assim por diante (HEGEL, 2015, p. 27).
Santos irá diferenciar a arte da religião, para o autor a primeira tem como imanente o humano, assim, os seres humanos em sua atividade seriam o núcleo para a produção artística. No caso da segunda, a religião, o investigador demonstra que na concepção de Lukács ela também depende do homem para existir, porém a sua diferença com a arte e com a ciência está na sua orientação ao transcendental, ou seja, ela está para além do hic et nunc (aqui e agora). Podemos fazer a mesma relação com a ciência, que, assim como a arte tem como núcleo a atividade humana, e diferente da religião, não tem orientação ao transcendental. Desse modo a arte e a ciência tem como núcleo o mesmo objeto, o homem, e por esse mesmo núcleo ambas são desenvolvidas. Nessa concepção essas três formas de representação do mundo, arte, ciência e religião, para o filósofo húngaro dependem do sujeito para existir, ou seja, depende da pratica humana na sua forma mais aberta possível, essas representações estão totalmente atreladas, para Santos e Lukács, com a divisão social capitalista do trabalho.
A divisão social capitalista do trabalho é uma relação social que irá determinar as duas principais formas de reflexo do mundo, a arte e a ciência. Santos afirma que para Lukács essa divisão social historicamente determinada cria na representação do mundo um estreitamento. O autor defende que para Lukács os sentidos humanos, apesar de serem in natura, são desenvolvidos historicamente para atender necessidades socialmente constituídas, mas, com a divisão social do trabalho haveria um estreitamento da visão de mundo, o que direcionaria o foco para pontos isolados; isso se intensifica na sociedade moderna.
A partir da observação do fenômeno de estreitamento dos sentidos humanos, o estudioso constata que Lukács concebe o homem em duas formas: o “homem-inteiro” e o “homem-inteiramente”. O primeiro nada mais é que o homem que está vinculado diretamente ao seu cotidiano e que está inserido nele de forma inteira, pois esse sujeito é parte determinante e determinada pelas relações sociais. O segundo é o homem que tem acesso a um mundo qualitativamente distinto do próprio cotidiano, isto é, o homem que entra em contato com a obra de arte que expressa a universalidade mediante uma particularidade, esta última só pode ser humana e o contato com essa dimensão da experiência é o que proporciona ao homem não ser mais “inteiro”, mas sim estar no mundo “inteiramente”, pois ele teve acesso a uma particularidade que atinge universalidade e o coloca em contato com a natureza humana propriamente dita. Um exemplo desse processo seria a empatia, ou seja, reconhecer o sentimento do outro e se reconhecer neste.
Santos, partindo de Lukács, mostra-nos que há uma relação oposta entre as categorias de singular e universal, essa forma de interação só pode ser sanada pela categoria do particular, que faz o papel de mediação e proporciona a interação entre as duas primeiras categorias. Assim, o particular é colocado também como uma categoria que atinge o universal, dirá Lukács em Introdução a Estética Marxista: “o processo pelo qual as categorias se resolvem e se transformam uma na outra sofre alterações: tanto a singularidades quanto a universalidade aparecem sempre superadas na particularidade” (LUKÁCS, 1978, p. 161).
O estudioso atesta que em Lukács todo o fenômeno originário é igual à particularidade, que é o seu ponto de mediação entre o singular e o universal. Do mesmo modo o autor colocará que para os marxistas a prioridade se encontra na realidade objetiva, em que está o movimento real, o que é fundamental à dialética materialista, e nota ainda que já no âmbito da estética a particularidade é um ponto em movimento, como dirá Lukács
A descoberta de Goethe, sobre o papel da categoria de particularidade na estética, não tem aparentemente muita importância: o movimento no qual o artista reflete a realidade objetiva culmina, fixa-se, recebe forma no particular, e não como no conhecimento cientifico, de acordo com suas finalidades concretas — no universal ou no singular. O conhecimento ligado à pratica cotidiana se fixa em qual quer ponto, a depender de suas tarefas concretas e práticas. O conhecimento cientifico ou a criação artística (bem como a recepção estética da realidade, como na experiência do belo natural) se diferenciam no curso do longo desenvolvimento da humanidade, tanto nos limites extremos como nas fases intermediarias. (LUKÁCS, 1978, p. 161)
Essa concepção de relação entre particular e universal, tem forma unitária no tema da relação entre forma e conteúdo. Para Lukács “no interior da comunidade de conteúdo e forma, são também comuns[…], as categorias de singularidade, particularidade e universalidade” (LUKÁCS, 1978, p. 161). Santos, tomando esse posicionamento de Lukács, divide em sua exposição a forma na ciência, que tem a obrigação de se afastar de um senso comum, da forma na estética, que tem sempre de estar atrelada a um conteúdo. Assim, o autor defende que o “processo técnico é fundado tendo como base o conhecimento imanente das leis naturais que independem da consciência humana” (SANTOS, 2017, p. 71), dessa forma na ciência o desenvolvimento da técnica ganha uma afirmação, sua objetividade procura aproximar-se da realidade concreta, isso é pensado pelo filósofo como reflexo da realidade. O reflexo artístico em seu desenvolvimento tem a funcionalidade de representar os distintos particulares dos seres humanos e tem como proposta capturar a essência dos novos fenômenos que se efetivam nessa realidade objetiva e sua forma tem que, de alguma maneira, evocar a experiência cotidiana, assim, o típico irá representar a verdade da forma. No reflexo cientifico o conteúdo precisa se fixar e se aprofundar na imediaticidade sensível das formas fenomênicas. A ciência em A particularidade na estética de Lukács é o aprofundamento da dialética entre necessidade e contingencia. A categoria do particular, defendida nesse livro, tem a capacidade de abraçar o mundo na sua inteireza, interna e externa.
Uma das maneiras da ciência burguesa refletir a realidade, segundo Lukács e o autor que se propõe a estudá-lo, é excluindo a importância da particularidade no método cientifico e isolando o singular de sua relação com o universal, assim, essa ciência vigente exclui o centro móvel que ordena a relação entre singular e universal. Um exemplo disso é a visão historiográfica predominante na contemporaneidade, que retira a centralidade da luta de classes do processo histórico e obscurece o proletariado como particularidade da sociedade moderna, particularidade esta que é de fundamental importância para o entendimento do processo sob o qual se ergue essa formação social, pois é por sua submissão que se garante a conservação do sistema de divisão social do trabalho já consolidado, que é o sistema capitalista.
Deribaldo dirá que “o reflexo artístico, ao criar suas refigurações da realidade, transforma o ser em si objetivo em um ser para nós de um mundo representado unicamente na individualidade da obra de arte” (SANTOS, 2017, p. 101). Desse modo o autor nos coloca que para Lukács, o par forma e conteúdo, opera no campo estético para uma distinção entre consciência e autoconsciência. O autor colocará que somente na esfera da estética a autoconsciência ganha um valor substantivo e que se expressa em dois sentidos, o primeiro é como um valor pessoal do objeto representado e depois como valor pessoal do modo de representação dessa realidade. Essas qualidades, em seu livro, são colocadas como o que despertam a autoconsciência, ela é aberta com uma retomada dos caminhos da humanidade percorridos, que aparecem por meio da rememoração, ou seja, pela “memoria”. Dirá:
Como memoria, ou seja, como “recordação” do caminho que a humanidade, as pessoas e as situações percorreram ou irão percorrer; das virtudes e vícios do mundo interno e externo dos homens que, por sua vez, dá o ponto de partida para o desdobramento dinâmico, para o seio da contraditoriedade dialética, no qual o gênero humano levantou-se ao que hoje é e ao que poderá vir a ser (SANTOS, 2017, p. 102).
A autoconsciência da humanidade encontra na arte um modo adequado e evoluído dignamente, essa autoconsciência para o autor é “o correto reflexo do real, que existe independentemente da consciência individual, a imersão do sujeito na realidade, é o pressuposto imprescindível e fundamental de toda autoconsciência da humanidade” (SANTOS, 2017, p. 104).
Deribaldo Santos abordar sinteticamente a importância da categoria da particularidade para Lukács, partindo da análise interna do livro Estética 1. Isso é feito com uma exposição bastante didática do debate teórico-metodológico, o que ilustra bem a diferença entre a elaboração artística e a análise científica da realidade. Assim, o autor demonstra que as categorias abordadas no âmbito da filosofia lukacsiana, tais como: o reflexo; cotidiano; divisão social do trabalho; o objeto como independente da consciência do sujeito; antropomorfização e desantropomorfização; hic et nunc (aqui e agora); imanência; diferenciação entre a arte e a religião; homem-inteiro e homem-inteiramente; forma e conteúdo; em suas relações umas com as outras, são de grande importância para a apreciação da especificidade da categoria de particularidade como mediadora na análise científica, promovendo, nessa esfera, a articulação entre singular e universal, e na esfera da arte servindo como força organizadora interna das obras individuais. Por fim, o estudioso traz a possibilidade de entendimento da articulação entre as três categorias de singular, particular e universal para a história da filosofia da estética.
Nota
2. Ver mais em: GREUEL, Marcelo da Veiga. Da “Teoria do Belo” à “Estética dos Sentidos” – Reflexões sobre Platão e Friedrich Schiller. In Anuário de Literatura 2, 1994. pp. 147-155.
Referências
CARLI, Ranieri. 4. O Particular como Categoria central da Estética. In CARLI, Ranieri. A estética de György Lukács e o Triunfo do Realismo na literatura. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2012.
GREUEL, Marcelo da Veiga. Da “Teoria do Belo” à “Estética dos Sentidos” – Reflexões sobre Platão e Friedrich Schiller. In Anuário de Literatura 2, 1994. pp. 147-155.
HEGEL, G. W. F. I. Delimitações da Estética e Refutação de Algumas Objeções contra a Filosofia da Arte. In HEGEL, G. W. F. Curso de Estética I. Tradução de Marco Aurélio Werle. 2º ed. rev. 1. Reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.
LUKÁCS, Georg. V – O Particular como categoria central do Estético In. Introdução a Estética Marxista. Tradução de Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder 2º edição. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 1978.
MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel – Introdução. In Critica da filosofia do direito de Hegel. Tradução de Rubens Enderle e Leonardo de Deus. 3º edição. São Paulo: Boitempo, 2013.
SANTOS, Deribaldo. A particularidade na Estética de Lukács. 1º Edição. São Paulo: Instituto Lukács, 2017.
Edson Roberto de Oliveira Silva – Mestrando na Pós-Graduação em História da UNESP de Assis – SP. Atualmente é bolsista CAPES. E-mail: [email protected]
SANTOS, Deribaldo. A particularidade na estética de Lukács. São Paulo: Instituto Lukács, 2017. Resenha de: SILVA, Edson Roberto de Oliveira. A particularidade como eixo central na estética de Lukács. Albuquerque – Revista de História. Campo Grande, v. 11, n. 21, p. 184-190, jan./jun., 2019.
Indicionário do contemporâneo – CÁMARA et al (A-EN)
CÁMARA, Mário; KLINGER, Diana; PEDROSA, Celia; WOLFF, Jorge. Indicionário do contemporâneo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018. Resenha de MANZONI, Filipe. Some possible journeys for reading the Indicionário do contemporâneo. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.1, jan./apr., 2019.
É conhecido o diagnóstico, lançado por Flora Sussekind em 2013, de uma emergência de “formas corais” na produção literária brasileira, textos marcados pela “constituição de uma espécie de câmara de ecos na qual ressoa o rumor (à primeira vista inclassificável, simultâneo) de uma multiplicidade de vozes” (SUSSEKIND, 2010). Flora nos diz ainda que nessas formas seria característica uma interrogação simultânea “tanto da hora histórica quanto do mesmo campo da literatura” (idem). Se nos for permitido o pressuposto de que a relação entre literatura e crítica não é de precedência mas de mútua contaminação, não é de impressionar que é contemporânea à emergência das “formas corais” a gestação de uma verdadeira “forma coral” da crítica, isto é, o trabalho de escrita do Indicionário do contemporâneo.
O projeto, bem como o processo de sua escrita, são deslindados na apresentação, “Um indicionário de nós”, assinado pelos quatro organizadores do volume, Celia Pedrosa, Diana Klinger, Jorge Wolff e Mario Cámara: trata-se de uma coletânea de ensaios escritos e reescritos ao longo de quatro anos por múltiplos pesquisadores e críticos da América do Sul. O marco inicial desse encontro, um simpósio proposto para o X JALLA – Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana intitulado“Políticas literárias do contemporâneo”, parece ter sinalizado para essa zona de ressonância entre conceitos recorrentes e pontos comuns de inquietação que foram, conforme nos conta ainda a apresentação, gestados durante oito meses pelos catorze pesquisadores que assinam, coletivamente, o livro. Desse processo de mapeamento de afinidades, seis verbetes “que incidem de modo decisivo sobre o pensamento das artes e literaturas atuais” se estabilizaram como núcleos conceituais e deram corpo à versão final do volume: “Arquivo”, “Comunidade”, “Endereçamento”, “O contemporâneo”, “Pós-autonomia” e “Práticas inespecíficas”.
Dois pontos no Indicionário parecem falar a partir de umaindistinção entre as proposições teórico-críticas e a própria metodologia e construção da obra. Em primeiro lugar, desde seu título, encontramos a marca de uma profunda ambivalência: se o texto de apresentação evidencia a ambivalência do prefixo “in-” – que supõe “insubordinação, insatisfação, inquietação, independência” (CÁMARA; KLINGER; PEDROSA; WOLFF, p. 7) mas joga também com o significante “índice ao postular uma leitura-escritura indicial das linguagens e dos conceitos em cena” (idem) -, o volume como um todo parece levar essa ambivalência alguns passos além. De fato, a sobreposição de um “in-dicionário” a um “indício-nário”, ela mesma baseada na homonímia de dois radicais latinos “in-”, um de negação outro de direcionamento, poderia ser tomada como uma marca comum de todos os ensaios. Encontramos, a cada verbete, uma espécie genealogia aberta do conceito abordado, genealogia que esbarra sempre em sua própria incompletude e impossibilidade de fechamento – em um “indicionarizável”, portanto -, mas que nos leva a uma mobilização, isto é, a direcionamentos possíveis – ou indícios – que sobrevivem enquanto potência ou possibilidade.
O segundo ponto que caberia destacar é o quanto todos os tópicos propostos parecem falar não apenas dentro de seu próprio ensaio, mas também através da própria estrutura do livro. Desnecessário sublinhar, por exemplo, o quanto a discussão a respeito da “Comunidade” – em seu percurso que vai da retomada etimológica e filosófica de Roberto Espósito até a proposição de um ator político proposto enquanto “multidão”, via Antonio Negri, Michael Hardt e Paolo Virno, passando ainda, entre outros pontos relevantes, pela ontologia do “com” de Jean-Luc Nancy e pela comunidade que vem de Giorgio Agamben – está na base da própria proposição do “escrever com” que marca o Indicionário. A alternância de grupos fez com que os estilos pessoais de cada pesquisador não sejam mais do que vestígios suspeitos, não autorizados por nenhuma delimitação autoral: todos os textos (exceções feitas à apresentação, assinada pelos organizadores, e ao posfácio, assinado por Raúl Antelo) são potencialmente de todos os pesquisadores, isto é, de Antonio Andrade, Antonio Carlos Santos, Ariadne Costa, Celia Pedrosa, Diana Klinger, Florencia Garramuño, Jorge Wolff, Luciana di Leone, Mario Cámara, Paloma Vidal, Rafael Gutiérrez, Raúl Antelo, Reinaldo Marques e Wander Melo Miranda.
No que toca ainda aos itinerários propostos dentro de cada ensaio, novamente a metodologia parece dizer tanto quanto a proposição teórica a respeito de um modo específico de lidar com o “Arquivo”, tema que abre o Indicionário. Parece interessar, mais do que a figura do “leitor autoritário, organizador que procure dar um sentido fixo ao conjunto” (ibidem, p. 24), uma espécie subversiva de “leitor nômade”, que circula pelos textos “estabelecendo novas redes, abrindo os sentidos” (ibidem). Caberia observar que nesses trajetos alguns caminhos são mais recorrentes, dando uma impressão algo monadológica, na medida em que no interior de cada verbete parecem habitar os demais conceitos, em uma espécie de rede de associações potenciais.
É assim, por exemplo, no ensaio sobre o “Endereçamento”, em que, a partir de uma leitura da importância dos pronomes pessoais a partir da produção de Ana Cristina Cesar, encontramos uma ameaça ao estatuto autônomo da literatura (que ressoaria no verbete “pós-autonomia”), bem como a proposição do endereçamento como “problema epistemológico e ético de como ter acesso à alteridade, sem se fechar numa forma autorreferencial” (idem p. 107), o que nos levaria também ao tópico da comunidade, via Jacques Rancière e Nicolas Bourriaud.
Os percursos possíveis no Indicionário interessam, portanto, tanto quanto possam ser remontados, repensados, e reorganizados por esse “leitor nômade”, figura que abre ainda o ensaio sobre o “Contemporâneo”, a partir de uma desestabilização moderna do espaço institucional da arte, tópico que nos levará a uma leitura de diversas instalações artísticas, tomadas enquanto práticas inespecíficas (nome também do último ensaio do volume, no qual a proposição de um “campo estendido” de Rosalind Krauss se desdobra em ferramenta para a análise de diversas obras contemporâneas que ameaçam a estabilidade de um campo literário). É a partir desse tensionamento do campo literário e da representação do presente histórico que chegamos a uma potência de anacronismo em figuras como Nietzsche, Didi-Huberman ou Agamben, autores que farão do “contemporâneo” um arquivo aberto do histórico, uma zona de constante formulação, impasse e reformulação do histórico.
Caberia ainda ressaltar que, se o tom da proposta do Indicionáio parece, em diversos momentos, trazer uma noção panorâmica ou enciclopédica, em especial pela amplitude das implicações de alguns dos verbetes escolhidos, isso não se dá mediante o sacrifício da riqueza de detalhes. De fato, se nos voltarmos para as notas – somando-se as de todos os fragmentos, quase trezentas -. estas deslumbram pela riqueza de caminhos que se abrem em uma espécie de microscopia dos “indícios” que se permitem ler a partir das catorze bibliotecas que coabitam (e assinam) a obra.
Também parece resistir à planificação sob um argumento “panorâmico” a atenção dada ao que poderíamos chamar de uma das questões centrais, ou, ao menos, a mais recorrente dentro do Indicionário: os desdobramentos e reavaliações da noção de pós-autonomia. O ensaio específico, “Pós-autonomia”, faz um levantamento minucioso das diferentes acepções do polêmico conceito proposto por Josefina Ludmer em 2006, desdobrando suas múltiplas implicações em diferentes contextos que vão desde a literatura contemporânea sul americana, sua recepção crítica, as artes plásticas no presente, mas também a própria estabilização e pacificação de um conceito de “modernidade”. Encontramos ainda, juntamente com esse desdobramento das implicações críticas da questão, um levantamento de algumas das respostas polêmicas ao conceito que, em última instância, atenta contra a própria possibilidade de circunscrição de um campo que identifique um “literário” em oposição a um “não literário”, percurso que nos conduzirá por uma dupla reação: uma postura de retomada elegíaca de uma institucionalidade perdida ou ameaçada, a partir de teóricos como Antoine Compagnon ou Tzvetan Todorov; em contraposição a uma dinamização da ameaça a essa estabilidade institucional, em figuras como Jacques Rancière ou Bruno Latour.
É no centro dessa polêmica que se insere ainda o posfácio do livro, único ensaio assinado por um único autor, Raúl Antelo. O ensaio, originalmente uma conferência intitulada “Autonomia, pós-autonomia, an-autonomia” apresentada no segundo encontro do grupo de pesquisa, em 2013, aparece aqui como “Espaçotempo”, e traz um segundo mapeamento da proposição de Ludmer da pós-autonomia (após uma raiz comum ao verbete “pós-autonomia” via Kant – Adorno), detendo-se na relevância do questionamento da autonomia nas teorias da esquerda italiana da década de 70 (discussão da qual Ludmer seria herdeira). Finalmente, após uma retomada da questão do espaçotempo e da quarta dimensão, percurso que vai desde Ouspensky até as clássicas investigações benjaminianas sobre o cinema e a aura na década de 30, chegamos a uma ressonância entre Ludmer e Benjamin, ponte especialmente contemporânea, já que sobrepõe duas polêmicas longes da pacificação. A partir do temor de alguns possíveis desdobramentos políticos nefastos da aceitação da pós-autonomia (que ressoam o temor benjaminiano da apropriação fascista da potência revolucionária do cinema), Raúl Antelo propõe, em um tom cuidadoso, uma renovação do “crédito ao conceito de autonomia, mesmo que em plano reconfigurado, digamos, an-autonômico” (ibidem, p. 252). Cabe ressaltar o quanto esse final, ou mais especificamente, esse prefixo de negação “an-”. Parece ressoar ainda o “in-” que dá título ao volume, em especial porque ao mesmo tempo que aponta para o estatuto aporético da questão – ou seja “in-dicionário” -, se abre enquanto espaço de apostas – ou seja, para os “indícios”.
Cabe, finalmente, nos permitirmos uma última palavra sobre um ponto que não pode ser deixado de lado quando nos referimos a essa empreitada crítica de tantos pesquisadores. E o que nos interessa ressaltar é precisamente o quanto essa ambivalência que vem desde o título do volume nunca se furta a manter aberto o contemporâneo como um espaço de apostas mais do que do esgotamento. Encontramos, por exemplo, no ensaio sobre “o contemporâneo” uma contraposição ao escuro catastrófico que se resguarda ainda à possibilidade de uma aposta nas sobrevivências, isto é, um pouco de Didi-Huberman contrabalanceando o peso de Giorgio Agamben. Encontramos, ainda, em toda a discussão sobre o “endereçamento”, uma via de escape do fechamento do moderno em um modelo autorreferencial e intransitivo (ou novamente autonomista) a partir de uma abertura ao outro, a uma investidura ainda possível em um pensamento da comunidade, um pensamento que se funda no impróprio, na impropriedade radical, o que, novamente, parece espelhar, mais que teoricamente, metodologicamente o dispositivo crítico do Indicionário.
Referências
CÁMARA, Mário; KLINGER, Diana; PEDROSA, Celia; WOLFF, Jorge (Org.). Indicionário do contemporâneo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018. [ Links ]
GARRAMUÑO, Florencia. Frutos estranhos: sobre a inespecificidade na estética contemporânea. Trad. Carlos Nougué. Rio de Janeiro: Rocco, 2014. [ Links ]
LUDMER, Josefina. “Literaturas pós-autonomas”. In: Sopro Panfleto Político cultural. Trad. Flávia Cera. Desterro: Cultura e Barbárie, 2010, p. 1-4. Disponível em: <Disponível em: http://culturaebarbarie.org/sopro/n20.pdf >. Acesso em: 16 jul 2018. [ Links ]
SUSSEKIND, Flora. Objetos verbais não identificados. O Globo, v. 21, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em <Disponível em https://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/objetos-verbais-nao-identificados-um-ensaio-de-flora-sussekind-510390.html > Acesso em 15 de março de 2019. [ Links ]
Recebido: 27 de Abril de 2019; Aceito: 31 de Agosto de 2019
Filipe Manzoni. É Doutor em literatura pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente realiza pesquisa de pós-doutoramento sobre poesia contemporânea brasileira na Universidade Federal Fluminense e leciona literatura brasileira na Universaidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected]
[IF]
Cuidado com os poetas ! Literatura e periferia na cidade de São Paulo – TENNINA (A-EN)
TENNINA, L. Cuidado com os poetas ! Literatura e periferia na cidade de São Paulo. Tradução de Ary Pimentel. Porto Alegre: Zouk, 2018. 315p. ¡Cuidado con los poetas! Literatura y periferia en la ciudad de São Paulo. Rosario: Beatriz Viterbo, 2017, 363 p.. Resenha de: PIMENTEL, Ary. Por uma ressignificação da poesia e do lugar do poeta. Alea, Rio de Janeiro, v.21 n.1, jan./apr. 2019.
Certa vez um rapper de São Paulo reescreveu um clássico da MPB, deslocando o lugar de enunciação do discurso para as periferias de São Paulo. E, então, a letra de “Cálice” ganhou uns versos assim:
Os saraus tiveram que invadir os botecos
Pois biblioteca não era lugar de poesia
Biblioteca tinha que ter silêncio,
E uma gente que se acha assim muito sabida
Na letra do rap “Subirusdoistiozin” (segunda faixa do CD Nó na orelha), Criolo, o mesmo autor que antropofagizou e atualizou a poesia de protesto do cantautor Chico Buarque, voltaria a falar de uma cena cultural que, quase imperceptivelmente para os diferentes âmbitos do mundo letrado, começava a tomar conta de certos territórios da cidade:
As criança daqui ‘tão de HK
Leva no sarau, salva essa alma aí
Poucos, muito poucos, na verdade, umas poucas pesquisadoras atentaram para essa produção “fora do retrato” que despontava nas margens do cânone e nas margens da cidade. A um pequeno grupo no qual se destacam Érica Peçanha, Regina Dalcastagnè, Ingrid Hopke e Rafaella Fernandez – as quais por diferentes motivos haviam se aproximado da cena que gestava uma nova literatura nas periferias de São Paulo nos primeiros anos do século XXI -, veio a se somar o nome da argentina Lucía Tennina. Em Cuidado com os poetas! Literatura e periferia na cidade de São Paulo, a professora de Literatura Brasileira na Universidade de Buenos Aires traz para o leitor a possibilidade de um mergulho profundo na produção literária brasileira do presente e o faz com um olhar no qual se reúnem o perto e o longe, no intenso processo de construção de uma terceira dimensão que poderíamos chamar de “entre-lugar” da crítica. E dizer isso não é dizer pouco, se lembramos de Pierre Bourdieu que, em Homo academicus, já assinalava que os dois grandes problemas do discurso científico são o excesso de distância e o excesso de proximidade. Conforme Bourdieu, existe um certo repertório que não se pode acessar (ou saber) a menos que o sujeito consiga fazer parte do universo abordado. Mas é justamente a condição de “fazer parte de…” que implica uma inescapável proximidade onde reside tudo aquilo que não se pode ou não se quer saber. É isso. A escrita exige proximidade. Mas também distância. De fato, um lugar que reúna as duas condições anteriores.
Resultado de uma longa experiência de imersão na periferia e de profundas reflexões teóricas que se desenvolveram ao longo de anos e de várias publicações sobre o tema, este livro de Lucía Tennina traz os rigorosos estudos comparatistas de quem começou a estruturar seu discurso de dentro do próprio circuito de saraus que se organizam nos botecos das quebradas paulistanas depois de 2001.
Entremos aos poucos nesse mundo-tecido-tessitura tão rico, para desfrutar mais da caminhada. A melhor abordagem do objeto encontrada por Lucía Tennina é aquela construída a partir do dispositivo da distância e da proximidade: o olhar estrangeiro, o olhar de quem se aproxima aos poucos, rondando poetas e poemas, para provar, a partir do contato cotidiano com o ambiente dos saraus, diferentes tentativas de intervenção no debate crítico da literatura marginal da periferia. Inevitável é lembrar de um poema que aparece em 21 gramas, terceiro livro de Marcio Vidal Marinho (2016), um dos frequentadores assíduos do Sarau da Cooperifa. O poema “Álvaro de Campos foi à Cooperifa” bem poderia vertebrar o primeiro capítulo de Cuidado com os poetas! Nesse momento do livro, a pesquisadora argentina aprecia o cenário e nos conduz pela cena poética da periferia, destacando os aspectos que marcaram a formação do circuito de saraus nas quebradas paulistanas. E o faz com os mesmos olhos dessa figuração poética de Álvaro de Campos, olhos (aparentemente) desarmados e (profundamente) apaixonados de quem vem de longe, de quem não está, mas que, ao mesmo tempo, é claro que está em seu ambiente quando penetra nesse Sarau da Cooperativa Cultural da Periferia (Cooperifa), um movimento cultural que em outubro de 2018 completou 17 anos de atividades poéticas no bar do Zé Batidão, situado no bairro de Piraporinha, Zona Sul de São Paulo:
Chegou cedo e viu o bar vazio […]
Relutara em vir
Quando soube que era na periferia. […]
19h30
Algumas pessoas começam a chegar […]
O local é um bar típico de favela
Pela fama achou que seria mais bonito,
Pinturas desgastadas, mesas grudadas.
As paredes que vão de encontro à rua
Não existem, são grades, como se fosse uma jaula.
Próximo ao balcão, uma estante de livros
Que se amontoam sem nenhuma ordem. […]
Quando dá por si, não há mais lugares vazios,
O bar está inteiramente ocupado.
Pessoas de todos os tipos […]
Uma pessoa vai ao microfone
Agradece a presença de todos
E relata que todos são bem vindos. […]
Chama um grito de ordem
Todos o acompanham:
Povo lindo, povo inteligente, é tudo nosso,
Uh, Cooperifa! Uh, Cooperifa! Uh, Cooperifa! (MARINHO, 2016, p. 70-72)
No cenário dominante de uma literatura que tem cor, gênero, CEP e um capital cultural longamente acumulado nos âmbitos da cidade letrada, Lucía Tennina lança seu olhar para sujeitos que, oriundos do mundo do trabalho e moradores da periferia, passam semanalmente por esse e por inúmeros outros microfones dos novos saraus organizados nos bares das periferias: Akins Kintê, Alisson da Paz, Binho Padial, Dugueto Shabazz, Fernando Ferrari, Fuzzil, Luan Luando, Marco Pezão, Michel Yakini, Jairo Periafricania, Renan Inquérito, Rodrigo Ciríaco, Serginho Poeta, Sérgio Vaz, Seu Lourival, Zinho Trindade e tantos outros. Trata-se de uma verdadeira tribo que, dispersa pela cidade, povoa o circuito literário marginal da periferia, trazendo novos posicionamentos de sujeitos através da literatura e propiciando um olhar rico sobre os deslocamentos e negociações desse objeto radicalmente plural estudado nos dois primeiros capítulos do livro: os saraus de poesia da periferia de São Paulo.
A crítica acertou na descrição do fenômeno periférico, destacando uma produção que traduz a potência dos novos atores do campo cultural, mas não exime a cena de conflitos e contradições. Apesar da grande quantidade de trabalhos sobre a cultura das periferias, poucos foram os textos que apontaram os problemas derivados do machismo e da misoginia nesse cenário das quebradas, e menos ainda os que se interessaram em reconstruir a presença e o lugar das mulheres nessa nova dimensão do campo literário. Diante disso, cabe enfatizar a importância do terceiro capítulo do livro intitulado “As poetas da periferia: imaginários, coletivos, produções e encenações”. Nessas páginas, Lucía Tennina focaliza o fenômeno da chegada das mulheres aos bares da periferia e, discutindo as estratégias e os modos de produção das “minas”, proporciona uma nova compreensão do lugar diferenciado da mulher no processo de empoderamento dos sujeitos nesse grande quilombo cultural das quebradas paulistanas.
Podemos mesmo dizer que outro mérito de Lucía Tennina é produzir um segundo deslocamento dentro de um tema que já é inovador, trazendo para o centro dos estudos da literatura marginal da periferia a experiência do subalterno dos subalternos. A proposta lança luz sobre a situação específica das poetas num mundo literário que emergia nas periferias e já prenunciava, nesse mal-estar identificado por Tennina, o surgimento de um novo circuito poético que se distanciaria dos saraus de poesia, assumindo características próprias e potencializando as performances e dicções das poetas. O protagonismo feminino foi construído, portanto, em uma outra cena, diferente da anterior, porque, no espaço dos saraus, seu papel era o de “musas” e não o de poetas, ficando o silenciamento oculto sob o disfarce da admiração de sua beleza, o que era também uma forma de apagamento da diferença.
Essa questão transcendia a cena na medida em que implicava valores e imaginários há muito reproduzidos pelos que tentaram, por séculos, disciplinar e se apropriar do corpo feminino. Nesse sentido, o livro amplia seu alcance descritivo-histórico, o que torna mais complexa a mirada para o mundo dos saraus da periferia, tendo em vista que esse olhar permite repensar as lutas das mulheres em diferentes contextos sociais ou culturais nos quais elas foram o Outro do Outro, conforme assinala Lucía Tennina, antecipando-se a um dos subtítulos de O que é lugar de fala?, de Djamila Ribeiro. Nessa medida, a leitura nos envolve no debate sobre a história da representação e da autorrepresentação das mulheres em geral e das mulheres negras e de origem nordestina em particular. Não restam dúvidas quanto ao papel que nessas disputas tiveram nomes como Elizandra Souza e Dinha (Maria Nilda de Carvalho Mota), com publicações marcantes como Águas da cabaça (Edição do Autor, 2012) e De passagem mas não a passeio (Global, 2008). Se o surgimento dos três números especiais da revista Caros Amigos e a organização do Sarau da Cooperifa foram determinantes para que pudesse emergir um novo sujeito nas margens da literatura, as vozes de Elizandra e Dinha seriam precursoras de uma nova geração que se expressaria a partir do seu lugar de fala, elemento central para a emergência de outra cena ainda muito incipiente no final da primeira década do século XXI, a dos campeonatos de poesia falada ou Poetry Slam.
No quarto e último capítulo, o livro aborda uma série de questões não trabalhadas anteriormente, passando, quase que em um livro à parte, a abordar os casos específicos de Ferréz e Alessandro Buzo, narradores que conseguiram ser lidos e reconhecidos fora das fronteiras do território. Uma das questões centrais que Cuidado com os poetas! enfrenta nesse capítulo é a de quais seriam as negociações necessárias aos subalternizados para construir um lugar no campo literário e como, a partir de uma nova rede de relações, se dá o ativamento de certas estratégias a fim de dominar uma posição de autor. Esse capítulo procura respostas para estas perguntas. Para além das diferenças entre os dois nomes, sobressaem as operações agenciadas por cada um deles para construir o que Tennina chama de “lugar de autor”. Para isso, a autora guia o leitor através de um percurso pela vida de Ferréz e Buzo no qual ficam aparentes as respectivas estratégias de construção da figura do escritor. Transcendendo aquilo que Feréz sinaliza na introdução da edição Tusquets de Capão pecado, onde propõe as páginas de seu primeiro romance como uma vestimenta de palavras que lhe dá um lugar de autor, os dois mobilizam diferentes recursos, operações e procedimentos para conquistar um lugar no campo cultural, indo da criação de um nome artístico (Ferréz) à manutenção de um blog no qual se registram as leituras que vão gradativamente formando a imagem pública do escritor (Buzo).
Narradores como Ferréz ou Buzo, poetas como os da Cooperifa ou os que integram os demais saraus de poesia das quebradas paulistanas transformam de dentro as instituições que definem a consagração e o pertencimento ao campo literário, lutando para trazer o protagonismo para a periferia. Esses escritores já não estão falando só entre eles. Trata-se da formação de redes complexas, às quais são incorporados os grupos mais jovens formados por sujeitos oriundos de outros lugares da cultura. O que está em jogo é o que a gente entende como arte, como literatura ou como poesia.
Assim, os conceitos estéticos são reestruturados sob nova forma e a partir de novas regras, constituindo uma esfera formada para além das normas e capitais convencionais. O livro de Tennina aporta um novo lugar de mirada para a poesia. E, a partir desse olhar que conduz o nosso, conseguimos nos dar conta do brotar de uma nova produção e de uma cena cultural centrada no papel da “poesia” e na figura do “poeta”, as quais contribuem de modo muito particular para a ressignificação desses vocábulos.
Sergio Vaz, criador da Cooperifa, insiste em que “a periferia é um país”. O que faz Lucía Tennina é uma bela, profunda e necessária cartografia da literatura desse novo país.
Assim, essa jovem professora argentina oferece uma contribuição fundamental para a crítica literária brasileira. Ler a obra de Lucía Tennina é poder viver intensamente a cena pulsante da literatura marginal da periferia. Nesse sentido, não seria excessivo afirmar que ela consegue escrever o livro que pretendia, uma obra potente que nos impacta e transforma o olhar que nós brasileiros lançamos para as culturas das nossas periferias.
Esperamos a publicação de mais textos como esse, que lança uma nova luz sobre o desenvolvimento de nossa primavera periférica.
Referências
MARINHO, M.V. 21 gramas. Rio de Janeiro: Ibis Libris, 2016. [ Links ]
Ary Pimentel. Professor de Literaturas Hispano-Americanas no Departamento de Letras Neolatinas da Faculdade de Letras (UFRJ). Mestre (1995) e Doutor (2001) em Literatura Comparada pela UFRJ e realizou estágios de Pós-doutorado no PACC (Programa Avançado de Cultura Contemporânea) – UFRJ, em 2016, e na Universidad de Buenos Aires, em 2017. E-mail: [email protected]
[IF]
Visões e discursos sobre o “estar doente”: os papéis sociais estabelecidos pelas instituições de saúde, no século XX e início do XXI / Albuquerque: Revista de História / 2019
A alteridade como patologia: os discursos médicos e seus usos políticos
O dossiê Visões e discursos sobre o “estar doente”: os papéis sociais estabelecidos pelas instituições de saúde, no século XX e início do XXI chega aos leitores, num momento em que vivemos uma pandemia que já causou milhares de mortes e que tem agravado, não só uma crise econômica mundial, mas também, a desigualdade social em diversos países, inclusive no Brasil. O isolamento social, medida preventiva adotada, traz consigo uma série de questões sobre a desigualdade social que, há muito, vem sendo silenciadas e negligenciadas. Ações simples, que são verbalizadas e repetidas (quase) como palavras de ordem nos diversos veículos de comunicação e redes sociais, #LaveAsMãos e #FiqueEmCasa, revelam que aspectos básicos, como a moradia e o acesso à rede de saneamento básico, ainda são um privilégio a que muitos não têm acesso. Em que pese a relevância das discussões que podem surgir desse evento e seus desdobramentos, é importante salientar sua importância para compreender melhor a sociedade em que vivemos e os debates aqui propostos.
Ao investigar histórica e historiograficamente as relações de poder que perpassam o adoecer e o curar, não se pode deixar de pensar qual é o papel social da Medicina, seja no início do século passado ou deste, com suas transformações e permanências. De outra parte, cabe também a pergunta: como o Estado lidou (e tem lidado) com as diversas demandas da área da saúde pública? Embora a comunidade médica tenha feito parte de um projeto civilizador para o Brasil – tornando patológicos comportamentos socialmente “indesejáveis” – baseado em mecanismos de normatização e disciplinarização dos indivíduos, nem sempre houve as condições necessárias para combater e debelar as epidemias. Quanto às instituições responsáveis por implementar as medidas profiláticas, o improviso foi, muitas vezes, o único recurso disponível para lidar com o despreparo das equipes auxiliares, a escassez de recursos, mas também com os “alienados”, os doentes e os mais pobres. O que não quer dizer, que a população não protestasse contra as medidas implementadas, muitas vezes, de forma impositiva e violenta, como no caso (emblemático) da Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1904.
Nota-se, então, como o discurso médico e das instituições sanitárias e de saúde foi empregado em diversas ocasiões (e epidemias), pelo Estado, para justificar o controle sobre os indivíduos. Roberto Machado, ao publicar A Danação da Norma, constrói uma trajetória das políticas de saúde no Brasil e pontua que é no século XIX que o saber médico investiu sobre as cidades e as dinâmicas sociais ali presentes. O século XX representa, por sua vez, o momento em que o saber médico institucionalizado, com o aval do Estado, passa a alcançar diversos espaços sociais, dialogando com discursos provenientes de outras áreas do conhecimento, tais como a Educação, a Engenharia, a Arquitetura, o campo do Direito, por exemplo. Com isso, os discursos sobre o estar doente ganharam sentidos políticos que auxiliaram na elaboração e execução desses projetos. Também ajudaram a transformar o saber médico e consolidar sua relevância em diversos grupos sociais.
Nas primeiras décadas do século XX, por exemplo, o Estado autoritário brasileiro, alicerçado em uma política coronelística, utilizou a medicina para estabelecer uma divisão social entre os que, teoricamente, conseguiam compreender as políticas de saúde e os que não teriam condições para isso. Os elementos que sustentaram esse discurso médico-político, que culminou em projetos sanitaristas violentos, foram baseados na Antropologia Criminal de Cesare Lombroso, que auxiliou na consolidação dos discursos racistas durante a primeira metade do século. Com base em suas teorias, foi possível judicializar uma série de grupos que, não por acaso, eram formados por negros e mestiços, justificando assim, um projeto de branqueamento da população (muito mais mestiça e negra do que com traços europeus) que estava em curso desde o final do século XIX. Houve, também, uma brutal medicalização dos indivíduos fora dos padrões de normalidade pretendidos, bem como dos espaços frequentados por eles.
Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, as relações entre as ciências e o discurso político se estreitam, ganhando uma nova dimensão com a Marcha para o Oeste. O projeto político de “civilizar” o sertão teve como intuito a mudança cultural de diversos indivíduos, legitimado por discursos excludentes por parte do Estado. No entanto, havia outras ações previstas dentro dessa agenda política. É neste contexto que se inserem as discussões apresentadas por Diego Moraes, no artigo O discurso eugenista como instrumento político na transição das Repúblicas: a institucionalização do “Perigo Amarelo” no âmbito da Constituinte de 1934. O autor discute como, naquele momento, houve não somente a medicalização da diferença, mas também o uso do discurso médico e científico como argumento jurídico para desqualificar imigrantes asiáticos. Alcir Lenharo, em A Sacralização da Política, reforça a existência dessa mentalidade ao afirmar que medicina, engenharia e educação foram as bases do processo político varguista. Ao longo de quinze anos de um governo autoritário, foi possível trazer à luz projetos de sanitarização que funcionaram muito mais como controle do que benefício para as populações.
Nos anos 50, tendo em vista o segundo governo de Getúlio Vargas e seu projeto de modernidade para o país, houve a continuidade do discurso baseado na necessidade de uma pátria saudável para alcançar o progresso tão desejado. Para tanto, era preciso unir a nação por meio de uma sociedade com saúde, disciplinada ou medicalizada. Parte desse debate está presente no artigo O desenvolvimento das Instituições Psiquiátricas no Rio Grande do Sul até 1950 – O que sabemos pelas pesquisas historiográficas, no qual Lisiane Ribas Cruz situa o estado da arte sobre o tema naquele período. Trata-se de uma contribuição relevante, uma vez que articula esse projeto nacional e seus mecanismos, ao contexto regional.
Na década de 1960, durante o regime militar, surgiram novas discussões sobre o papel dos profissionais de saúde, sinalizando algumas mudanças. No entanto, a invisibilidade social que algumas doenças provocavam, como no caso da tuberculose ou da lepra (cujo nome fora mudado para hanseníase, na década de 1960, por causa do estigma ligado a ela) e, mais recentemente, da AIDS, indicam algumas permanências. Um exemplo disso são as discussões em torno do isolamento de soropositivos, nos anos 80; os inúmeros hospitais psiquiátricos que recolheram milhares de pessoas, mesmo que em graus menos severos, escondendo-os da sociedade. Neste grupo, também se enquadram as relações entre crime, violência e loucura, em uma sociedade violenta e que precisa lidar com sujeitos duplamente marginalizados: são infratores e loucos. Essas reflexões estão presentes no artigo Condenados da Margem: Luta Antimanicomial e o Louco Infrator em Goiás, de Éder Mendes de Paula.
Em Os povos alto-xinguanos e o modelo assistencial em saúde operacionalizado em contextos de intermedicalidade: encontros de saberes, negociações e conflitos, Reginaldo Silva de Araújo apresenta novos elementos, ampliando essa discussão, do ponto de vista temático. Ao mesmo tempo, atualiza sua temporalidade: os anos 2000. Do ponto de vista metodológico, o artigo evidencia as aproximações entre as ciências humanas e o fazer historiográfico, de modo a contribuir para o enriquecimento das reflexões propostas neste dossiê. Além das questões ligadas à posse de terras, que tem resultado em conflitos violentos e genocidas, as comunidades indígenas sofrem com a falta de médicos, recursos físicos e de equipamentos para assistência médica. Principalmente, com a falta de preparo das equipes para lidar com as especificidades culturais dessas comunidades.
Mais recentemente, também tem sido discutida a eficácia do isolamento compulsório para usuários de drogas ilícitas, mas também de pessoas cujos comportamentos são socialmente “indesejáveis” e que, por isso, também são considerados patológicos. Assim, ainda hoje, buscase homogeneizar (por meio de um mecanismo que é perpassado pelo discurso médico, jurídico, geopolítico, entre outros), uma população que é, por princípio, constituída por comunidades tão diversas em suas características, sociabilidades, sistema de crenças e práticas. Em tempos de pandemia, de divulgação em massa de informações falsas e da reiterada desvalorização do conhecimento científico, inclusive das recomendações da Organização Mundial de Saúde, corre-se o risco de pensar que a história se repete, o que, sabemos, é uma armadilha. No entanto, cabe a nós observar como esse mecanismo discursivo se manifesta hoje, e qual seu papel dentro do projeto político neste início de século. Boa leitura!
Referências
LENHARO, Alcir. Sacralização da Política. Campinas: Papirus, 1986.
MACHADO, Roberto. A Danação da Norma. Medicina Social e Constituição da Psiquiatria no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1978.
Carla Lisboa Porto (Centro Universitário Sagrado Coração)
Éder Mendes de Paula (Universidade Federal de Jataí)
Organizadores
PORTO, Carla Lisboa; PAULA, Éder Mendes de. Apresentação. Albuquerque: revista de história, Mato Grosso do Sul, v.11, n.22, 2019. Acessar publicação original [DR]
Experiências Estéticas Contemporâneas / Albuquerque: Revista de História / 2019
Experiências Estéticas Contemporâneas / Albuquerque: Revista de História / 2019
A revelação da experiência estética não precisa de uma formulação utópica, porque as obras de arte alcançadas não prometem a satisfação de um requisito absoluto de significado, mas nosso enriquecimento cognitivo em um sentido amplo. Trata-se de experimentar esteticamente o presente precário de nossa liberdade finita, não seu futuro ilusório. Quem quer liberdade também deve querer as decepções da experiência. Portanto, o conhecimento estético não substitui o pensamento conceitual fracassado. As virtualidades da experiência estética são as de uma crítica à experiência curta, omitida, escassa, reprimida.
– Daniel Innerarity
O dossiê Experiências Estéticas Contemporâneas tem como propositura debater acerca das dimensões estéticas entre o século XIX e o século XX, especialmente a partir das expressões produzidas pelas linguagens artísticas (literatura, cinema e música) e suas respectivas performances.
Consideramos a estética como uma modalidade cognitiva legítima capaz de acessar a realidade a partir de verbos criativos como o sentir, querer e pensar, o que caracterizaria o processo compreensivo da realidade proposto por Dilthey em Vida Y Poesia (1945). A estética, como remonta Susan Buck-Morss (2012, p. 157), em sua etimologia carrega consigo a dimensão corpórea, sinestésica – trata-se da percepção pela via sensorial – não restrita somente a arte, beleza e verdade, como os modernos quiseram, mas na captação da realidade em sua natureza material e corpórea, enquanto uma forma de cognição da vida.
Assim, nesse dossiê, nós organizadores, quisemos angariar textos que trouxessem à tona o potencial político de captação compreensiva da experiência social e política da cultura, a partir de aspectos caros a estética como profundidade, aparência, forma, conteúdo e, sobretudo, as mediações elaboradas pelos efeitos teóricos e práticos da relação entre arte, cultura e sociedade. Especialmente em um contexto em que a arte e a cultura tem sido alvo de ataques políticos e a estética é apropriada pela política, o que tem proporcionado, para setores conservadores, um efeito de satisfação artística no campo político e, por conseguinte, fazendo com que a arte busque empreender a politização de suas performances para enfrentar esses efeitos autoritários.
Esse “cogito” foi bem localizado por Walter Benjamin, no século XX, acerca dessas inserções da estética entre as práticas políticas do fascismo e os anseios do comunismo diante da obra de arte e sua reprodutibilidade técnica. Talvez, a esperança de Benjamin, em tal constatação, estivesse na relação ética entre arte e política, o que configura uma tarefa árdua para a estética na contemporaneidade que, segundo Buck-Morss, consiste em
desfazer a alienação do sensório corporal, restaurar a força instintiva dos sentidos corporais humanos em prol da autopreservação da humanidade, e fazê-lo não evitando as novas tecnologias, mas perpassando-as. (BUCK-MORSS, 2012, p. 156).
Dessa feita, o nosso desejo se faz quase apologético acerca da estética, no sentido de que devemos pensar esteticamente e, sobretudo, investigar as produções culturais enquanto calcadas e atravessadas pela realidade, não como “elucubrações supralunares”. No que se refere a dimensão estética da arte, concordamos com os pressupostos de Jauss e a estética da recepção, apontados por Daniel Innerarity, em que a “estética acentua de maneira particular a historicidade e o caráter público da arte, ao situar em sua centralidade o sujeito que percebe e o contexto em que elas são recebidas” (INNERARITY, 2002, p. 09). Interessa-nos aqui os processos históricos de significação, de atribuição de sentido e, como a estética trata do ordenamento cognitivo das possibilidades de estranhamento das formas de perceber a vida, bem como “daquelas que já foram vivas em alguma vez, ordenando-as de novo” (LUCKÁCS apud MACHADO, 2004, p. 12). Trata-se de pensar a forma (a vida dotada de sentido ético e estético), enquanto “absoluto em relação à caótica vida cotidiana” (MACHADO, 2004, p. 19).
As experiências estéticas são um campo aberto de experimentações de liberdade e fracassos capazes de, historicamente, renovarem e produzirem diversos sentidos às nossas formas de perceber a realidade em suas múltiplas interfaces. Nesse sentido, como aponta Daniel Innerarity, na introdução de Pequena apologia de la experiência estética, de Jauss:
A obra de arte alcançada oferece, aqui e agora, possibilidades de um encontro libertador com a própria experiência. Essa experiência reflexiva transgride as convenções da ação cotidiana, mas não para negar, em princípio, seu escopo e suas limitações, mas medir-se de forma modificável com as possibilidades e limites dessa prática. (INNERARITY, 2002, p. 24)
Diante desse propósito de pensar as experiências estéticas enquanto possibilidades abertas de atribuição e transformação de sentido ao longo do tempo, o presente dossiê é formado por seis artigos de pesquisadores que, de alguma maneira, lidam com objetos estéticos em sua dimensão histórica. O primeiro bloco se destina a experimentar análises acerca da relação entre estética e literatura, lidando com proposições estéticas em obras de Paul Celan, Charles Baudelaire, Francisco Candido Xavier e Nelson Rodrigues. O segundo bloco se incumbe de investigar as relações estéticas entre a crítica, história e cinema. O terceiro bloco se encarrega de pensar a estética musical.
Em A Neve das Palavras, texto que abre o dossiê e seu respectivo primeiro bloco, Maria João Cantinho trata da vida do poeta, romeno radicado na França, Paul Celan e, por conseguinte, analisa como os protocolos e referenciais de leitura dele desenvolveram uma “simultaneidade” estética entre política e literatura que, de certa forma, reverberaram em sua poesia. Para Celan, o poema, em sua dimensão estética encarnada na linguagem, é a forma em que as possibilidades “são um caminho: encaminham-se para um destino para um lugar aberto, para um tu intocável” (CELAN, 1996, p. 34). Nessa esteira da poesia, Marcos Antonio de Menezes, em Dandy: Uma criação das Metrópoles novecentistas, se acerca de compreender como se constrói a figura do Dândi, como aquele que desnuda e experimenta a vida parisiense em seus ápices de modernidade, no século XIX, sob as letras da escrita de Charles Baudelaire.
Ainda sobre os aspectos da literatura, mas sob a égide dos processos de recepção e circulação, Ana Lorym Soares, em Circulação E Recepção Da Literatura Psicografada A Partir Da Coleção A Vida No Mundo Espiritual (1944-1968), De Chico Xavier, mapeia e interpreta dentro de uma comunidade específica de leitores qual o percurso de significação que os romances psicografados por Chico Xavier e editados pela Federação Espírita Brasileira (FEB), na coleção A vida no mundo espiritual (1944-1968), percorreram historicamente. Isso, a partir das nuances do romance, história e ficção diante de determinado público leitor.
Em O Verdadeiro Casamento Rodriguiano: Apontamentos Sobre Amor E Desejo No Romance O Casamento (1966) De Nelson Rodrigues, Lays da Cruz Capelozi empreende notas analíticas sobre o único romance escrito por Rodrigues, a fim de abordar temas como amor e desejo, a partir da inferência da moral religiosa cristã quanto ao funcionamento do matrimônio. O livro analisado pela autora foi lançado em 1966, e figurava para Nelson Rodrigues como uma defesa ao casamento, mas para os censores tratou-se de uma crítica à família burguesa. Assim, percebe-se que os processos de significações que extrapolam o desejo do autor ao longo do tempo.
O segundo bloco se restringe ao artigo O Clássico E O Moderno: Eisenstein E Orson Welles Na Pena De Paulo Emílio Sales Gomes, de Rafael Morato Zanatto, que trata como as categorias de clássico e moderno são empreendidas pelo crítico e historiador Paulo Emílio Sales Gomes acerca do fenômeno cinematográfico, especialmente a partir de sua profícua atenção às produções estéticas do cineasta russo Serguei Eisenstein e do estadunidense Orson Welles. Nesse ensejo, Zanatto aponta que Paulo Emílio forjou um método próprio, capaz de condensar no âmbito da crítica e da história um procedimento que concilia o estudo da linguagem, do estilo e da expressão social das produções cinematográficas.
O último bloco conta com o texto que encerra o dossiê, Drogas, Festivais E Rock Na Imprensa Brasileira E Portuguesa – 1970 / 1975, de Paulo Gustavo da Encarnação. O autor articula música, eventos musicais – os festivais – e as drogas para compreender como esses elementos se tornaram um fenômeno de escala mundial e, conseguintemente, atraíram a atenção das imprensas brasileira e portuguesa. Dessa maneira, analisa como os veículos de imprensa abordaram, em suas respectivas páginas, a relação entre drogas, festivais e rock no período compreendido entre 1970 a 1975. Não obstante, apresenta a dimensão social, cultural e política dos festivais roqueiros em tempos de ditaduras, tanto em terras brasileiras quanto portuguesas.
Com a publicação do dossiê Experiências Estéticas Contemporâneas, a albuquerque: revista de história cumpre, mais uma vez, a sua proposta de divulgar os trabalhos de pesquisadores nacionais e estrangeiros, estabelecendo com os mesmos um diálogo de caráter interdisciplinar que configura o propósito do Programa de Pós-graduação em Estudos Culturais da UFMS / CPAq que, inclusive, propõe em suas linhas de pesquisa reflexões sobre a estética acerca dos marcadores da diferença, identidade, etc.
Aquidauana, dezembro de 2019
Referências
BUCK-MORSS, Susan. Estética e anestética: uma reconsideração de A obra de arte de Walter Benjamin. In: BENJAMIN, Walter; SCHÖTTKER, Detlev; BUCK-MORSS, Susan. Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
CELAN, Paul. Arte poética: O Meridiano e outros textos. Lisboa: Cotovia, 1996.
DILTHEY, Wilhelm. Vida y poesia. México: Fundo de Cultura Econômica, 1945.
INNERARITY, Daniel. Introdución. In: JAUSS, Hans Robert. Pequeña apología de la experiencia estética. Barcelona: Ediciones Paidós, 2002.
MACHADO, Carlos Eduardo Jordão. As formas e a vida: Estética e ética no jovem Luckács (1910- 1918). São Paulo: Editora UNESP, 2004.
Marcos Antonio de Menezes (UFJ)
Rafael Morato Zanatto (Doutor pela Unesp-Assis)
Robson Pereira da Silva (Doutorando em História pelo PPGHI / UFU)
Organizadores
MENEZES, Marcos Antonio de; ZANATTO, Rafael Morato; SILVA, Robson Pereira da. Apresentação. Albuquerque: revista de história, Mato Grosso do Sul, v.11, n.21, 2019. Acessar publicação original [DR]
Guide to Byzantine Historical Writing | L. Neville
Leonora Neville2 (2004; 2012; 2016) é uma bizantinista norte-americana já conhecida por trabalhos anteriores dedicados à sociedade provincial bizantina e a dois historiadores do período intermediário: a princesa Ana Comnena (1083-1153) e seu esposo, o kaisar Nicéforo Briênio (1062-1137). Sendo um nome cada vez mais presente no campo, Neville vem realizando empreendimentos notáveis. O recente Guide to Byzantine Historical Writing é um deles e oferece uma importante contribuição por servir como um guia prático de referência à historiografia bizantina e a tudo de essencial relacionado a ela. O ponto forte da obra, preparada por Neville com o auxílio dos estudantes de pós-graduação David Harrisville, Irina Tamarkina e Charlotte Whatley, é seu grande apanhado bibliográfico multilíngue.
Segundo Neville, seu guia “[…] visa tornar as riquezas das histórias medievais escritas em grego facilmente acessíveis a todos que possam estar interessados” (NEVILLE, 2018, p. 1, tradução nossa). Embora a autora seja modesta ao dizer que seu livro “[…] não contém nenhuma informação que um bizantinista diligente não pudesse rastrear com o tempo […]” (NEVILLE, 2018, p. 1, tradução nossa), o mérito desse seu trabalho reside justamente em seu potencial de servir como um guia prático e acessível a essas fontes, especialmente quando consideramos que o Império Bizantino não costuma ser a primeira escolha daqueles que adentram as pesquisas sobre o período medieval, seja pelas especificidades necessárias para seu estudo, que são distintas daquelas para o Ocidente latino, seja por questões de outra natureza. A obra de Neville pode assim fomentar o interesse de públicos acadêmicos não tradicionais, como o brasileiro, onde esses estudos ainda são bastante escassos e periféricos, facilitando a busca por fontes primárias e proporcionando uma base bibliográfica como ponto de partida.
Embora não há de se negar que seu público seja os bizantinistas, aqueles que se faz questão de dizer, um gesto de boas-vindas aos classicistas, aos medievalistas e aos estudantes de modo geral. Com certeza, além de facilitar a pesquisa daqueles que já atuam no campo e dos que estão começando, esse livro tem o potencial de sanar a curiosidade de classicistas interessados pela produção historiográfica em língua grega após a Antiguidade e de ajudar os demais medievalistas, especialmente aqueles com pesquisas voltadas para os contatos interculturais no mediterrâneo medieval, onde é impossível ignorar a presença bizantina. debruçam sobre as fontes primárias dessa civilização, o livro também é, como Neville
O guia de fontes de Neville abarca exclusivamente textos historiográficos escritos entre 600 e 1490 d.C. Esse recorte singular pula o período inicial da periodização tradicional, uma vez que a autora prefere não disputar o chamado de Early Byzantium com o consagrado Late Antiquity, e estende a produção historiográfica bizantina para além da queda formal do império em 1453. Neville justifica que outras obras de natureza similar já abarcaram o período inicial ao lidarem com fontes tardo-antigas e que a queda de Constantinopla é somente um dos eventos que gradualmente alteraram o horizonte intelectual e cultural daquele mundo. O ponto realmente positivo desse recorte foi ter considerado autores que escreveram naquele mundo pós-bizantino, uma vez que eles testemunharam o crepúsculo final do Império Romano e a ascensão do poder otomano, um processo que a longo prazo causou profundas transformações na região. Por ironia do destino, considera-se que a historiografia medieval em língua grega acaba com o ateniense Laônico Calcondilas (c. 1430-1470), que escreveu dentro dos moldes daquele considerado o primeiro historiador grego, Heródoto de Halicarnasso (c. 484-c. 425 a.C.).
O capítulo introdutório apresenta algumas questões essenciais, como o debate em torno das terminologias história e crônica, a natureza do ofício do historiador em Bizâncio, a questão da imitação dos clássicos e da inovação, o sistema de datação presente nas fontes, a terminologia classicizante empregada pelos autores, a língua grega medieval e seus registros e as problemáticas transliterações empregadas pelos bizantinistas. Além disso, a autora trata sobre as principais publicações e séries de fontes e explica o que ela quer dizer por manuscrito, texto e edição ao longo do livro. Por fim, é oferecida uma pequena, mas importante bibliografia para aprofundamento, seguida por uma geral e mais abrangente.
Além da parte dedicada aos agradecimentos, da introdução e dos apêndices finais, o guia conta ao todo com cinquenta e dois capítulos que levam os nomes dos historiadores ou das obras cujos autores desconhecemos, de Teofilato Simocata (séc. VII) ao já mencionado Laônico Calcondilas (séc. XV). Os capítulos recebem geralmente as seguintes entradas: uma breve biografia do autor com alguma descrição de seus trabalhos historiográficos, uma menção aos manuscritos que chegaram até nós (ou a indicação de uma publicação que adentre isso), uma lista de edições modernas disponíveis, uma breve história de sua publicação, uma lista de estudos fundamentais para se ter como ponto de partida, uma lista das traduções realizadas até o momento e, por fim, uma lista bibliográfica mais vasta com temas relacionados ao autor e sua obra. Após esses capítulos, seguem-se dois apêndices: um gráfico indicando o período de tempo coberto pelas produções e outro indicando o período de vida dos autores.
Neville afirma tomar uma abordagem mais cética (embora isso não pareça diferente de dizer neutra) em relação às reconstruções das fontes e da vida dos autores. Ela demarca, assim, a primeira diferença de seu trabalho em relação ao de Warren Treadgold (2007; 2013), autor de duas obras sobre os historiadores bizantinos do período inicial e intermediário (a terceira, sobre o período tardio, está por vir) e mais recheada de suposições e hipóteses. Em nossa opinião, embora seja compreensível os motivos que podem ter levado a autora a seguir por esse caminho, uma vez que tomar parte em debates é adentrar em possíveis flutuações acadêmicas que podem prejudicar a obra como um guia de referência, datando-a a médio prazo, esse acaba sendo um ponto um tanto obscuro do livro, primeiro pela autora não mencionar essas diferentes interpretações (ela poderia tê-lo feito sem que as endossasse), privando seu leitor de algo fundamental; segundo por não ser um critério muito compreensível (ao menos da forma como colocada) para as posições que ela toma ao longo dos capítulos do livro.
Neville também demarca a diferença essencial de seu livro para os de Treadgold a partir do que está sendo enfocado: enquanto seu trabalho está preocupado com o texto, o de seu colega norte-americano está preocupado com os autores. Para a autora, como na maioria dos casos as informações que sabemos sobre os autores vem de seus próprios textos, deveríamos focar nossa análise no texto, dando pouca ênfase à biografia como determinante para entender a obra. Para Neville, abordar o texto ao invés dos indivíduos está na ordem do dia, como propuseram nas últimas décadas os teóricos pós-modernos da linguistic turn. Embora ela possa ter razão, os exemplos dados para justificar isso são no mínimo problemáticos.
A discussão se devemos confiar em Jorge, o monge e pecador (séc. IX) é pouco relevante; Neville acha que por ter se chamado pecador, uma notória prática monástica de humildade, coisa não enfatizada pela autora, esse autor estava provavelmente mentindo com o propósito de justificar o conteúdo moralizante de sua obra, pois, nesse contexto, chamar-se humilde seria um ato de orgulho. Assim, para Neville, esse não poderia ser um dado biográfico para se ter como ponto de partida, fazendo mais sentido adentrar diretamente no estudo do texto pelo texto. Ela continua com outro exemplo: ao dizer que escreveu em reclusão, João Zonaras (séc. XII) poderia estar se utilizando de um truque retórico para aparentar que escreveu sua obra longe de forças que poderiam influenciá-lo em sua escrita. Neville considera que os historiadores perderam tempo tentando encaixar esse dado em sua biografia e questiona se Zonaras estava recluso da mesma forma que Jorge era pecador. Nesse exemplo, ela aparenta estar sendo puramente especulativa e nada justifica o porquê não considerar realmente a hipótese da reclusão. Além disso, o exemplo de Jorge não é exatamente comparável ao de Zonaras se considerarmos o costume monástico. O problema aqui talvez não seja sua perspectiva teórica, mas uma má seleção de exemplos para sustentá-la.
Embora esse não seja o foco de seu guia, podemos contextualizar a produção intelectual de Neville entre autores que estão resgatando a ideia de uma romanidade bizantina, acabando assim com a separação imposta por historiadores no passado entre Roma e Bizâncio.3 Isso fica evidente quando a autora afirma que “A história bizantina é a história do Império Romano na Idade Média” (NEVILLE, 2018, p. 5, tradução nossa). Como tem sido apontado, a imposição dessa separação tem raízes muito antigas no universo intelectual e cultural ocidental, regressando a finais do século VIII e às disputas políticas e identitárias entre bizantinos e ocidentais, posteriormente reforçada pela especialização acadêmica e a invenção de termos técnicos e delimitações artificiais como Império Bizantino e Bizâncio.4 Neville se coloca nessa discussão ao apontar a necessidade de levarmos a sério a autoidentificação dos bizantinos enquanto romanos, coisa que os estudiosos a todo momento ignoraram, preferindo desenvolver explicações sobre quem eles de fato eram por trás do que diziam. “Em nenhum outro campo os historiadores rotineiramente tratam os sujeitos de sua investigação como tendo uma compreensão incorreta de quem eles eram” (NEVILLE, 2018, p. 5, tradução nossa).
Os comentários oferecidos por Neville sobre essa questão não são um aspecto superficial de seu trabalho, mas funcionam estrategicamente, pela natureza de seu livro, como um manifesto aos pesquisadores e àqueles adentrando o campo dos Estudos Bizantinos para que não ignorem esse duradouro problema. Neville alavanca algumas questões que ela acredita que precisam ser superadas para que enxerguemos definitivamente isso, como a importância exagerada dada à ascensão do cristianismo como o divisor de águas central na história da humanidade, o que teria feito com que os estudiosos entendessem que o Império Romano havia deixado de ser o verdadeiro existia na mente de seus habitantes, e os resíduos das narrativas da Renascença e do Iluminismo, que propunham uma total ruptura entre a Antiguidade e uma Idade das Trevas. Como afirma a autora, “Resistir aos efeitos posteriores desses paradigmas permite que os estudiosos levem a sério a compreensão e a autoapresentação dos cidadãos do Império Romano medieval (NEVILLE, 2018, p. 6, tradução nossa). Império Romano quando se tornou cristão, criando uma ruptura ilusória que não
Acreditamos que o bizantinista e o estudante diligentes pecarão gravemente se não tiverem esse guia ao lado de outras obras de referência já consagradas. Ademais, tendo em mente a escassez de pesquisas sobre essa civilização romana oriental, helefóna e cristã ortodoxa no Brasil, algo que se reflete também na inexistência de traduções, desde as mais básicas a trabalhos importantes publicadas nos últimos anos, consideramos que esse trabalho pode oferecer uma aproximação às fontes historiográficas bizantinas e a um grande apanhado de referências que trarão aos pesquisadores mais confiança para darem o primeiro passo na preparação de seus projetos, ajudando, portanto, a superar parte do que poderia ser uma dificuldade inicial.
Notas
2. Leonora Neville é atualmente John W. and Jeanne M. Rowe Professor of Byzantine History e Vilas Distin-guished Achievement Professor na University of Wincosin-Madison, nos Estados Unidos.
3. Cf., por exemplo, KALDELLIS, 2007, 2019 (o principal revisionista quanto a essa questão); PAGE, 2008; STOURAITIS, 2014; 2017. Diversos autores tem partido dessa perspectiva, incluindo NEVILLE, 2012. As implicâncias de se assumir uma identidade romana para os “bizantinos” e as dimensões da mesma ainda é uma questão em debate, envolven-do não somente perspectivas teóricas, mas interpretações distintas.
4. Para uma boa exposição quanto a esse problema, cf. KALDELLIS, 2019, p. 3-37.
Referências
Obra completa
KALDELLIS, A. Hellenism in Byzantium: The Transformations of Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
______. Romanland: Ethnicity and Empire in Byzantium. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019.
TREADGOLD, W. The Early Byzantine Historians. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
______. The Middle Byzantine Historians. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
NEVILLE, L. Authority in Byzantine Provincial Society, 950–1100. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
______. Anna Komnene: The Life and Work of a Medieval Historian. Oxford: Oxford University Press, 2016.
______. Guide to Byzantine Historical Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
______. Heroes and Romans in Twelfth-Century Byzantium: The Material for History of Nikephoros Bryennios. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
PAGE, G. Being Byzantine: Greek Identity Before the Ottomans. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Artigos
STOURAITIS, I. Roman identity in Byzantium: a critical approach. Byzantinische Zeitschrift, [s.l.], v. 107, n. 1, p. 175-220, 2014.
______. Reinventing Roman Ethnicity in High and Late Medieval Byzantium. Medieval Worlds, Vienna, v. 5, p. 70-94, 2017.
Guilherme Welte Bernardo –
Mestrando em História no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de São Paulo (PPGH/Unifesp), onde realiza pesquisa intitulada “Entre a integração e a barbarização: romanos e ocidentais na historiogra-fia bizantina dos séculos XI e XII” sob orientação do Prof. Dr. Fabiano Fernandes. Pesquisador vinculado ao Núcleo de Estudos Bizantinos e Conexões Mediterrânicas (NEB) e ao Laboratório de Estudos Medievais (Leme/Unifesp). E-mail para contato: [email protected].
NEVILLE, L. Guide to Byzantine Historical Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. Resenha de: BERNARDO, Guilherme Welte. A escrita da História numa outra Idade Média: Descobrindo a Historiografia Bizantina (600-1490). Revista Ágora. Vitória, n.30, p.210-215, 2019. Acessar publicação original [IF].
Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos | Adriana P. Campos, Kátia S. da Motta, Geisa L. Ribeiro e Karulliny S. Siqueira
Organizado por Adriana Pereira Campos, Geisa Lourenço Ribeiro, Karulliny Silverol Siqueira e Kátia Sausen da Motta, a obra “Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos”1 traz consigo um relevante debate acerca da multiplicidade de relações existentes no Brasil oitocentista. A contribuição de dez autores para a realização do livro, objetivou diversificar a história política do Império, por meio da inclusão de províncias e atores políticos variados. Assim, trazendo novo sentido ao contexto imperial. O livro é resultado de debates entre pesquisadores que participaram do III Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO), ocorrido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2018.
Ao nos debruçarmos sobre a obra, percebemos a multiplicidade de relações políticas contidas no Brasil Império que formavam um todo na trajetória contextual.
Retirar a lupa somente dos denominados “grandes acontecimentos” e dos principais atores políticos comumente ressaltados na historiografia é também traçar uma história política diversa em estrutura e significados. Neste sentido, a obra analisada percorre entre províncias distintas e personagens políticos ressignificados, promovendo assim, diversas participações para os acontecimentos do período, para além da Corte ou dos “grandes homens”.
Em primeiro momento, a obra contempla a temática “Biografias e trajetórias políticas” expressando a história de personagens políticos do Império que transcendem a historiografia tradicional. Vale ressaltar, a necessidade de colocar em evidência novos personagens políticos, enriquecendo o debate historiográfico com a criação de novos esquemas a serem analisados. Assim, Cecília Siqueira Cordeiro traz a análise do personagem político Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, propondo um novo olhar sob as decisões políticas do liberal que é comumente recordado pela historiografia como o defensor do Brasil na causa da Independência. Rememorando, através da análise de um opúsculo, que num primeiro momento Antônio Carlos defendeu a união de Brasil e Portugal no contexto da emancipação, evidenciando uma mudança de comportamento da figura em momento posterior. Deste modo, a autora não encontra um desarranjo na trajetória política do personagem, todavia, um indivíduo alinhado a cultura política da sua época. Ademais, Cecília Cordeiro traça a trajetória historiográfica da figura deste Andrada, e a timidez de sua relevância diante de seus irmãos José Bonifácio e Martim Francisco.
A autora Adriana Pereira Campos, conduz em sua pesquisa a trajetória política de Marcelino Duarte, um padre, redator e natural da Província do Espírito Santo que foi uma das vozes exaltadas que entoaram na Corte. A análise da historiadora revela a carreira de um padre exaltado cujo pensamento político se distinguia da cultura política de sua província natal. Assim, o estudo de Campos contribui para o debate acerca do pluralismo de opiniões que circulavam nas províncias do Império e a relação que esses indivíduos possuíam com o Rio de Janeiro.
Na segunda parte da obra, intitulada “Disputas políticas e partidárias”, contemplam-se as efervescências política na Corte e nas províncias. Logo, Rafael Cupello Peixoto, debruçado sob o tema da construção da identidade nacional brasileira, investiga a Carta de Barbacena, representada no passado como símbolo da nacionalidade brasileira, ou seu valor profético acerca do resultado da conjuntura política do Primeiro Reinado.
Indicando aspectos do jogo político no entorno da Corte Palaciana de Pedro I, a análise da fonte indicou ao autor duas tendências da direita conservadora dentro dos áulicos: os tradicionalistas e os conservadores. Ademais, Peixoto expõe cada vertente e o jogo político da época.
Ampliando a escala para o Maranhão, Roni César de Araújo dedica-se ao estudo da construção da identidade brasileira naquela província, compreende, através da análise de periódicos, que o “novo espírito”2 do Brasil chegou naquela localidade em momento posterior à Corte. Neste sentido, Araújo expõe que o antilusitanismo alcançou a imprensa da província em 1825, sendo precedido pela fidelidade ao governo português. Além disso, explica as relações de conveniências expressas na região.
A terceira parte da obra abarca o “Sistema representativo e práticas políticas”, destacando a dinâmica das eleições no Império, pondo em relevância a pluralidade existente no período, no momento em que destaca a realidade do processo eleitoral em algumas províncias. Assim, Rodrigo Marzano Munari salienta a participação popular no sistema representativo em São Paulo. O autor questiona a visão de passividade da população menos abastada da sociedade imperial. Estes indivíduos, em sua perspectiva, se configuravam como atores políticos envolvidos por vontades próprias, interferindo e agindo no processo eleitoral. Ademais, Munari chama atenção para um outro olhar que a sociedade possuía acerca do sistema representativo, pois, além do voto, participavam do processo por meio de petições, queixas ou até mesmo se armando contra a vontade dos poderosos.
Ana Paula Freitas traz em sua investigação o papel da província de Minas Gerais na estruturação do Estado Nacional, considerando a importância da participação dos deputados mineiros na Reforma Eleitoral de 1855. Deste modo, a autora destaca a importância do parlamento brasileiro no sistema representativo, ressaltando a trajetória do tema até sua aprovação. Assim, analisando os resultados da reforma no ano posterior a sua aprovação, Freitas conclui que a Lei de Círculos resultou na pluralidade do parlamento e ampliou a sua representatividade.
Trazendo o debate acerca da representação no Império brasileiro, Kátia Sausen da Motta expõe de que maneira se configurava o período pré-eleitoral e as relações entre votantes e aspirantes aos cargos políticos na Província do Espírito Santo. Revelando aspectos eleitorais da época e a particularização da localidade, a autora demonstra o empenho dos candidatos e suas estratégias para garantir a vitória no pleito. Neste sentido, salienta a utilização de chapinhas nos jornais da província com o intuito de divulgar as candidaturas.
Aproximando a escala para o Nordeste, Williams Andrade de Souza constrói a sua análise através da eleição de vereadores na Câmara Municipal de Recife na primeira metade do século XIX. O autor expõe o perfil dos candidatos e votantes, suas filiações e a representatividade emanada no município. Assim, Souza apresenta o processo eleitoral para além da manutenção das elites, manifestando as peculiaridades e os desvios do processo, propondo uma complexidade de compreensão ao tema, revelando a participação de cidadãos comuns de forma ativa no movimento. Além disso, evidencia o processo da ampliação de votantes no período e a heterogeneidade presente nos pretendentes aos cargos.
A quarta parte da coletânea se intitula “Linguagens e ideias políticas”, abordando especificamente os momentos finais do Império, debatendo a linguagem da propaganda republicana na Província do Espírito Santo e as discussões acerca da escravidão na localidade, por meio da imprensa local. Deste modo, Karulliny Silverol Siqueira traça a trajetória do republicanismo no século XIX, explicando seus diversos significados, sua heterogeneidade em práticas e de recursos linguísticos. Dessa maneira, a autora traz a especificidade da província do Espírito Santo, onde o radicalismo dificilmente aflorava, trazendo o significado do republicanismo primeiramente ao municipalismo, onde os redatores de Cachoeiro de Itapemirim reclamavam a centralidade dos monarquistas na capital da localidade.
Por fim, Geisa Lourenço Ribeiro esboça a linguagem da abolição no periódico O Constitucional, pertencente ao Partido Conservador na província. A autora propõe a revisão da retórica do jornal, pois, embora o discurso de benevolência ao fim da escravidão, a trajetória linguística do O Constitucional revelaria o contrário, expondo um abolicionismo de última hora, por conveniência. Assim, o estudo da fonte indicou uma trajetória escravista no idioma da folha, e que no fim buscou trazer para o Partido Conservador o advento da emancipação. Ademais, expõe a especificidade do abolicionismo na província do Espírito Santo, permeada por uma linguagem imbuída de moderação.
Ao analisarmos a peculiaridade da pesquisa de cada autor, não encontramos uma unidade de relações no Império, entretanto, a multiplicidade de significados políticos no território brasileiro. Esse tipo de historiografia concorda com o aspecto de Max Weber na qual a análise consiste em uma História no sentido variável, onde o indivíduo possui a direção das relações sociais no momento em que configura sua relação com o outro (DIAS; MAESTRO FILHO; MORAES; 2003). Assim, consideramos o estudo das particularidades como o estudo da criticidade sobre as macroestruturas, onde as individualidades, ao se afastarem da realidade como um todo, promoverão, uma compreensão das redes existentes para a formação dessa totalidade.
Neste sentido, consideramos obra de extrema relevância para o debate da cultura política do Império brasileiro. A análise das distintas províncias e os diversos personagens políticos promovem um entendimento dos conflitos existentes para a formação da realidade do território. Essa diversidade de conexões não confunde ou empobrece a História do Brasil Império, todavia promove uma amplitude no debate enriquecendo-o e instigando a possibilidade cada vez mais abrangente de estudo.
referências CAMPOS, Adriana Pereira; MOTTA, Kátia Sausen da; RIBEIRO, Geisa Lourenço; SIQUEIRA, Karulliny Silverol (Org.). Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos. Vitória: Editora Milfontes, 2019.
DIAS, Devanir Vieira; MAESTRO FILHO, Antônio Del; MORAES, Lúcio Flávio R. O paradigma weberiano da ação social: um ensaio sobre a compreensão do sentido, a criação de tipos ideais e suas aplicações na Teoria Organizacional. Revista de Administração Contemporânea. v.7 n.2, p. 57-71, Abr/Jun. 2003.
LUSTOSA, Isabel. O debate sobre os direitos do cidadão na imprensa da Independência.
In.: RIBEIRO, Gladys Sabina; FERREIRA, Tânia Maria Tavares Bessone (Org.).
Linguagens e práticas da cidadania no século XIX. São Paulo: Alameda, 2010.
Notas 1 O livro é resultado de debates entre pesquisadores que analisam o século XIX, cujo objetivo é transitar entre as esferas locais e o nacional. É também o desfecho das discussões ocorridas em outubro de 2018 durante o III Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos (SEO), ocorrido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
2 O autor elucida que o termo destacado foi estudado por Isabel Lustosa, quando esta tratava do tema na imprensa fluminense, cujo significado expressava às “expectativas sobre a nova Ordem”. Cf. LUSTOSA, 2010.
Drlely Neves Coutinho – Graduada em História pela Faculdade Saberes. Aluna Especial de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail:[email protected].
CAMPOS, Adriana Pereira; MOTTA, Kátia Sausen da; RIBEIRO, Geisa Lourenço; SIQUEIRA, Karulliny Silverol (Org.). Entre as províncias e a nação: os diversos significados da política no Brasil do oitocentos. Vitória: Editora Milfontes, 2019. Resenha de: COUTINHO, Drlely Neves. As províncias formam um Império: a pluralidade das relações políticas no Brasil oitocentistas. Revista Ágora. Vitória, v.31, n.1, 2019. Acessar publicação original [IF].
Ingesta | USP | 2019
A Revista Ingesta (São Paulo, 2019-) é uma publicação eletrônica de periodicidade semestral, editada por alunos de pós-graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, membros do Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e Alimentação (LEHDA), fundado em 2016 na mesma instituição.
Nosso objetivo é publicar artigos, resenhas e dossiês temáticos (em português, inglês ou espanhol) produzidos por pós-graduandos e pesquisadores pós-graduados, que possam contribuir com o desenvolvimento dos estudos históricos sobre alimentação e drogas, em seus amplos aspectos.
Textos relacionados ao campo da História serão privilegiados, mas aqueles que abordarem a temática e estiverem relacionados a disciplinas afins, como a Antropologia, a Sociologia, a Arqueologia, entre outras, também serão considerados para avaliação do Conselho Editorial e do Conselho Científico da revista.
Velha direita e nova direita: Brasil e mundo / Ágora / 2019
O dossiê da presente edição da Revista Ágora intitula-se “Velha direita e nova direita: Brasil e mundo”, e tem por objetivo tratar das múltiplas temáticas em torno dos movimentos sociais, dos intelectuais, dos partidos políticos e demais organizações congêneres, que, no curso da história, estiveram apoiados no estoque de ideias, percepções da realidade, justificativas, bem como em diferentes visões de mundo localizadas à direita do espectro político. O Dossiê procurou contemplar o acolhimento de artigos que tenham como foco as diferentes crises da democracia representativa e as instabilidades sociais que acabam levando ao recrudescimento da crítica e ao aprofundamento das desconfianças sobre o sistema democrático, ceticismo este que é significativamente incrementado quando a política, produzindo impactos sobre a economia, abre espaços para propostas de cunho conservador e/ou autoritário, que redundam na ascensão de personalidades e/ou governos de corte populistas, que, através de propaganda financiada por suspeitos interesses econômicos, acaba por angariar importantes apoios nas classes médias e populares insatisfeitas e receosas com os rumos da sociedade em que vivem.
Considerando esse amplo espectro de possibilidades, o dossiê reuniu nove artigos, organizados em ordem cronológica, que procura problematizar tais possibilidades. No primeiro, Ruth Cavalcante analisa pensamento e obra de José de la Riva-Agüero, grande intelectual peruano, que viveu na passagem do século XIX para o século XX. Analisa como esse intelectual pensou a questão da inclusão dos indígenas à nacionalidade, ao mesmo tempo em que primou pela manutenção da ordem social hieráquica naquele país. O artigo conclui que Riva-Agüero teve como intento resgatar os valores da tradicionalidade hispânica, vista como uma cultura “superior”, ao passo que alimentou uma série de preconceitos e estereótipos em relação aos povos indígenas.
No segundo artigo, Diego Stanger analisa a formação e trajetória da Ação Integralista Brasileira (AIB) no estado do Espírito Santo. Nele, o autor desvela a estrutura organizacional que possibilitou o desenvolvimento do partido em solo capixaba, discorre sobre seus principais líderes, bem como expõe as principais características do movimento Integralista com a intenção de compreender motivações que levaram indivíduos dos mais diversos segmentos sociais a se vincularem à organização no Brasil e no estado.
Em seguida, no terceiro artigo, Camila Pinheiro Rizo aborda quatro visões acerca da modernização institucional brasileira. Procura problematizar acerca de pensadores de diferentes linhagens ideológicas e de que maneira procuraram tratar, em seus pensamentos, da natureza das instituições políticas nacionais, e que ao mesmo tempo procuraram apontar caminhos para a superação do atraso brasileiro. No artigo são apresentadas duas perspectivas, uma autoritária, representada por Oliveira Viana e Azevedo Amaral; e outra democrática, defendida por Sérgio Buarque de Holanda e Nestor Duarte. Ao final, a autora conclui que, mesmo com duas concepções distintas, os autores relacionam a persistência do privado acima do interesse público como o grande empecilho à modernização institucional.
O quarto texto do dossiê é de autoria de Ueber José de Oliveira e Maria Alayde Alcântara Salim, que se debruçam sobre uma marca do ensino de história encontrado no presente, mais precisamente um material paradidático escolar produzido e distribuído pelo Ministério da Educação e Cultura no ano de 1972. A partir dessa fonte, analisam o ensino de história e de educação Moral e Cívica, que esteve vigente até o ano de 1993, mas que na atual onda conservadora vivenciada no Brasil, tem sido novamente proposta por diferentes atores, incluindo o atual presidente da República, que, como é de conhecimento, lidera um governo de extrema-direita. A conclusão é a de que, apesar da renovação em relação às concepções e as práticas que marcam o ensino de história, observamos algumas permanências e mesmo retrocessos na realidade vivenciada na prática desse ensino na educação básica.
No quinto artigo, o autor Geraldo Homero do Couto Neto trata da chamada “Nova Direita” e o amplo uso dos meios de comunicação de massa para propagandear e alavancar sua visão de mundo, focando, no presente trabalho, na utilização da ferramenta You Tube. Se concentra na utilização dessa mídia e a importância que ela assume para a negação da Ditadura militar brasileira, entre os anos de 2013 e 2018, na esfera pública. Segundo o autor, o estudo possibilita refletir acerca do papel que o historiador deve tomar frente a essas novas mídias, tendo em vista o seu grande poder de alcance de público.
O sexto artigo, escrito pelo Prof. Jair Miranda Paiva, também traz um tema atual e da maior importância: o programa Escola Viva. Nele, procura tratar do referido programa como um movimento de reafirmação do conservadorismo em educação. Procura analisar, também, referido movimento como uma nova roupagem da reação às lutas progressistas e conquistas políticas das últimas décadas, e conclui que urge uma crítica necessária a suas teses, bem como a suas articulações a outros âmbitos do conservadorismo.
No sétimo artigo do dossiê, Amarildo Lemos procura refletir acerca de alguns conceitos recorrentes no atual debate político brasileiro, especialmente a partir das chamas Jornadas de Junho de 2013, momento de grande efervescência política no país, marcado também pela ascensão de setores da direita e extrema-direita. Ademais, o trabalho procura refletir acerca de determinados pressupostos filosóficos subjacentes à corrente liberal-conservadora, que, desde as “jornadas de junho de 2013”, se apresenta como a corrente doutrinária mais adequada a eliminar a corrupção e dar mais eficiência aos serviços públicos no Brasil, em detrimento da classe política e do Estado, vistos como corrupta por excelência.
Por fim, devemos destacar que o conjunto de textos reunidos neste dossiê não tem a intenção de propor conclusões definitivas acerca dos problemas contemporâneos quanto ao soerguimento das direitas em suas novas e diferentes configurações. Ao contrário disso, a finalidade é, modestamente, abrir novos flancos de pesquisas, e provocar novas abordagens.
Ueber José de Oliveira
Leandro do Carmo Quintão
Os Organizadores
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]
Auctoritas e potestas no Ocidente Tardo Antigo e Medieval / Ágora / 2019
O presente dossiê pretende homenagear a prof. Dra. Ana Paula Tavares Magalhães Taconni, da USP que tem sido uma referência nos estudos medievais no Brasil (v. texto homenagem redigido pelo Dr. Ruy de Oliveira Andrade (UNESP) e uma espécie de mentora e esteio de nosso modesto grupo de pesquisa, o LETAMIS).
Deixemos ao querido Ruy, a missão agradável de homenagear a ‘Aninha’, como a chamamos, e passemos ao conteúdo do dossiê. Encontram-se nele artigos que começam no período final do Império Romano e se estendem pelo medievo todo. Os primeiros artigos se localizam na Antiguidade Tardia e, de certa forma, no final do Império Romano e no período das invasões germânicas.
José Mário Gonçalves, egresso do Letamis/PPGHIS, inicia esta série com um trabalho sobre o bispo Agostinho de Hipona e seu epistolário, que mostra como eram ‘cordiais’ as relações entre católicos e donatistas, apesar da retórica dos sermões, mostrando uma faceta diferente de um conflito diante de uma convivência. Usa o cotidiano como referência e apresenta uma face mais amena da disputa religiosa.
Geraldo Rosolen Junior nos traz uma interessante polêmica que analisa visões de dois clérigos sobre os invasores vândalos, que acabaram por tornar-se um adjetivo pejorativo, quando sabemos que godo se tornou símbolo de nobreza na península Ibérica. Ambos os povos saquearam Roma (godos em 410; vândalos em 455), mas o segundo é um termo pejorativo e o primeiro é de nobreza. A percepção dos dois conflita muito quando os autores percebem os invasores vândalos de forma muito estigmatizada.
Kelly Cristina da Costa Bezerra de Menezes Mamedes nos oferece uma análise das urdiduras da corte de Justiniano, um imperador oriental (reinou entre 527-565) que articulou uma reconquista do império ocidental, conseguindo certo sucesso. A questão destacada são as relações de corte, as políticas dentro do palácio imperial e não as guerras travadas. Os mecanismos de resistência do monarca diante dos riscos de golpe.
Diego Carvalho estabelece uma conexão entre as concepções de Agostinho de Hipona e sua influência nos conceitos de atividade política na Cidade de Deus sob um foco filosófico e político, através do olhar de teóricos como Hannah Arendt, Koselleck, Weber e outros. Numa ampla e bem articulada reflexão, lança questões e análises que enriquecem o tema. A influência do bispo de Hipona no medievo é de longa duração.
Passemos ao recorte cronológico que a historiografia já define como período medieval.
Abre o grupo nosso recém doutorando Jordano Viçose, que nos traz a questão da auctoritas episcopal do arcebispo de Compostela Diego Gelmirez, que deve articular sua presença de governante efetivo e exercer a justiça num contexto de conflitos urbanos e contestação de sua potestas por elementos urbanos diversos. Gelmirez é um dos responsáveis pelo brilho que Compostela adquire no medievo.
Segue o nosso egresso, hoje prof. Doutor Luciano Vianna (Universidade Federal de Pernambuco) que nos oferece um trabalho sobre história escandinava. Recortamos um trecho de seu resumo. Eis: “A Saga dos Ynglingos (c. 1225), de Snorri Sturluson (c. 1179-1241), apresenta a linhagem dos Ynglingos abordando aspectos originários, mitológicos, literários e históricos sobre os antigos povos escandinavos. O objetivo deste artigo é analisar a relação entre a recuperação da memória da linhagem ynglinga e a proposta educacional política”.
O terceiro deste grupo é um trabalho de Sara Bittencourt, que analisa o medo do feminino em construção no século XV. Aparentemente se trata de um momento, perto da era moderna, mas é o contexto que virá a gestar o ‘manual de caça às bruxas’ ou Malleus maleficarum que é um marco da misoginia e o prenúncio das queimas de ‘bruxas’ na Alemanha, Inglaterra e nas colônias norte americanas. Um tema que está no nosso cotidiano e sempre gera interesse.
O quarto artigo focado no medievo, é de Edilson Alves de Menezes Junior, que enfoca através de uma análise socioeconômica o processo dialético dos conflitos sociais do sistema feudal na França, no âmbito do período de 1180-1226. Trata-se de uma análise das relações, ora tensas, ora harmônicas, entre nobreza, clero e camponeses, numa sociedade estratificada e estruturada em três estamentos. O crescimento urbano e comercial ainda não afetou as relações sociais entre os estamentos e o feudalismo está entre o auge e o início lento de uma crise, mais visível no período da guerra dos cem anos.
A questão das relações entre a auctoritas e a potestas nas universidades medievais é o tema do artigo de Cícera Leyllyany F. L. F. Müller. Enfocando a escolástica e seus pensadores principais, a autora discorre sobre como os conflitos entre imperador e papa se introduzem nos espaços universitários, que acabam sendo palcos de polêmicas de cunho teológico-político.
O penúltimo artigo do período medieval é de autoria de uma dupla. Regilene Amaral compõe com Sergio Feldman uma análise da polêmica cristã judaica em dois focos: Feldman faz um ‘longo’ trajeto de quase mil anos, olhando as origens remotas dos debates e dos conflitos teológicos entre as duas religiões. Já Regilene Amaral foca em sua pesquisa de mestrado, olhando só e apenas para o século XIII, os Debates de Paris e, especialmente, Barcelona.
Fechando o dossiê temos um artigo da homenageada, que não sabia antes da publicação do dossiê que ela nos daria sua preciosa colaboração e receberia a homenagem. Um texto ensaístico ousado, denso e bem embasado que faz múltiplas comparações entre o império medieval e as noções de identidade política e cultural que antecedem e consolidam o império germânico gestado por Bismarck (1871). A historiografia e o nacionalismo alemães do século XIX, buscando suas ‘raízes’ no Sacro Império Romano Germânico. Um tema que tem muita transcendência e supera os limites do medievo, trazendo reflexões para nossa realidade.
Desfrutem do dossiê.
Sergio Alberto Feldman
Ludmila Noeme Santos Portela
Roni Tomazelli
Editores do dossiê e da edição da Revista Ágora
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]
Filosofia e Ensino | CEFET-RJ | 2019
Estudos de Filosofia e Ensino (Rio de Janeiro, 2020) tem como escopo principal a divulgação de produções científico-filosóficas realizadas por estudantes de cursos de bacharelados e licenciaturas em Filosofia, professores e pesquisadores de Filosofia dos vários âmbitos de Ensino, que se lançam ao desafio de pensar o Filosofar, seu ensino e seu aprendizado.
A Revista propõe-se à divugação de produções intelectuais filosóficas que abordem questões filosóficas acerca de seu ensino e de sua aprendizagem em diversas perspectivas teórico-práticas.
Periodicidade semestral.
Público alvo: professores, estudantes e pesquisadores da área de filosofia, prioritariamente comprometidos com a pesquisa, o ensino e o aprendizado de Filosofia.
Filiação/vinculação: A Revista Estudos de Filosofia e Ensino possui vínculo com o Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino, pertencente à Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ.
ISSN: ?
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Fronteiras, trabalho e etnicidade / Canoa do Tempo / 2019
A revista Canoa do Tempo traz a público o dossiê Fronteiras, Trabalho e Etnicidade, com artigos que denotam a complexidade da discussão sobre a ideia de fronteira. Para além do entendimento sumário da categoria, usualmente articulada como linha divisória, há o indicativo do peso dos mundos do trabalho no estabelecimento de suas problemáticas. A Amazônia aparece como espacialidade privilegiada para a articulação de estudos desta natureza, ambientados entre o imaginário da opulência e as agruras de formas coercitivas da lida cotidiana. Ao longo do tempo, a floresta foi atravessada por diversos tipos de deslocamentos de fronteiras, cujos desdobramentos socioeconômicos e demográficos deixaram marcas indeléveis no tecido social de suas cidades, aldeias e rios.
Não por acaso, a floresta por tempos pensada no terreno do fantástico perdeu força discursiva sob a sombra do colonialismo interno, quase sempre jungido a interesses capitalistas internacionais. O ethos das mulheres guerreiras que (re)batizou o vale ao gosto do imaginário europeu, teve seus sentidos transformados com as sucessivas devassas e esquadrinhamentos do espaço em busca de riquezas. As fronteiras do paraíso terreal tiveram de ser redimensionadas, restando apenas o invólucro da mensagem edênica, que traduziu a Amazônia como terreno inabitado, disponível e à margem da História.
O artigo que abre a dossiê, assinado por Maria Clara Carneiro Sampaio, aponta referências sobre interesses estrangeiros na reciclagem das referidas imagens paradisíacas voltadas ao território amazônico nos oitocentos. A autora analisa os escritos do militar norteamericano Matthew Fontaine Maury, que redigiu um folheto largamente publicado em periódicos, pregando a viabilidade do deslocamento dos empreendimentos escravistas do Sul dos Estados Unidos em direção ao Brasil. Nesse contexto, a floresta era enxergada como fronteira para o avanço e sobrevivência da escravidão nas Américas, área que supostamente possuía clima e natureza “adequadas” para a população negra oriunda das grandes lavouras algodoeiras que marcavam as paisagens sulistas de Maury nos idos dos anos 1850. O projeto reabilitava a visão paradisíaca colonial, classificando a Amazônia como área prenhe de possibilidades, rica, mas mal aproveitada economicamente. O éden intocado ganhava novas camadas de sentido, visto como paraíso do trabalho compulsório e da escravidão.
O cerne da relação entre ideários edênicos, deslocamento de fronteiras e escravidão, continua no texto de Jéssyka Samya Ladislau Pereira Costa, que apresenta notas de pesquisa sobre a presença negra e indígena nos mundos do trabalho dos rios Purus e Madeira entre 1850 e 1889. O artigo aponta reflexões sobre a historicidade dos Altos Rios à época da sedimentação da Província do Amazonas, marcada por suas paisagens ameríndias, natureza opulenta e diversas zonas de contato. O cruzamento entre populações indígenas e negras é problematizado pela autora, que discute o alcance da sociedade escravocrata e as agencias das populações que enfrentavam interesses senhoriais na floresta. Os rios Purus e Madeira aparecem como recortes espaciais principais, destacados como importantes cursos fluviais na interiorização dos interesses econômicos da província, à época capitaneados pelo extrativismo da borracha.
O tema da escravidão também aparece no artigo de Paulo Roberto Staudt Moreira, que articula reflexões sobre os significados da liberdade e da escravidão na fronteira meridional do Império brasileiro no século XIX. Através de fontes judiciárias, o autor põe em causa a polissemia do conceito de fronteira, incluindo os limites e aproximações entre experiências da liberdade e do cativeiro. O recorte espacial do texto de Moreira enfatiza a Vila de Canguçu, localizada na província de São Pedro do Rio Grande do Sul nas proximidades de nações platinas circunvizinhas. O autor conduz os leitores em terreno atravessado por conflitos que marcaram a época Imperial no Sul do Brasil, área estratégica e de significativa importância econômica conectada aos fluxos da pecuária e agricultura.
Dando continuidade ao debate sobre as polissemias da categoria fronteira, apresentar-se-á o artigo de Fernando Roque Fernandes, que discute territorialidades coloniais do “delta amazônico” no século XVII. O autor problematiza a circulação de agentes coloniais na região da foz do Amazonas, evidenciando o papel desses personagens na conformação de fronteiras e disputas que caracterizaram territorialidades seiscentistas. Conectado ao contexto em tela, Fernandes dispõe aos leitores e leitoras um interessante panorama conceitual sobre as ideias de lugar, espaço e território, considerando suas complexas implicações étnicas e identitárias. O artigo destaca ainda a densidade geopolítica da época, ligada ao estabelecimento do Estado do Maranhão e as movimentações do aparato colonial para o controle do território amazônico.
A tônica dos deslocamentos associada com questões transfronteiriças aparece também no artigo assinado por Eduardo Gomes da Silva Filho e Júlia Maria Corrêa, que destacam outras facetas do debate, explorando a densidade de fluxos migratórios contemporâneos. Os autores colocam em causa a mobilidade humana e os mundos do trabalho entremeados entre as cidades de Bonfim, no estado de Roraima, e Lethem, na República Cooperativista da Guiana. Com base em dados e outras fontes obtidas em trabalho de campo, Silva Filho e Corrêa discorrem sobre questões relacionadas as atividades laborais, redes de comércio e serviços que vem conectando as duas cidades. A discussão sobre o panorama relacional entre Lethem e Bonfim pode servir de janela comparativa para outras realidades urbanas e transfronteiriças na Amazônia.
Após as reflexões sobre Brasil e Guiana, o dossiê encaminhará a debate para outras rugosidades da ideia de fronteira. Será apresentado um interessante artigo sobre um relato de viagem de autoria de George Kennan, que publicou em 1870 a obra Tent life in Siberia. Fechando a presente edição da Canoa do Tempo, convidamos à leitura do texto de Nykollas Gabryel Oroczko Nunes, que aborda a expedição telegráfica narrada por Kennan, ocorrida no nordeste da Rússia e carregada com os usuais recursos narrativos ligados à valorização de ideários da masculinidade, aventura e do enfrentamento da natureza selvagem. O artigo destaca as tensões discursivas da obra, estabelecidas entre desafios de alteridade, visualizados nos intercursos das ideias de civilização e barbárie numa área considerada distante e inóspita.
A diversidade de abordagens e aparatos teóricos aqui propostos demonstram a as possibilidades dos temas que abalizam o dossiê. Em tempos monocromáticos, refletir sobre a complexidade do conceito de fronteira vai na contramão de pensamentos que simplificam a realidade. Com isso, objetivamos fomentar ainda mais discussões que levem em conta o caráter movediço e múltiplo das experiências humanas no espaço e no tempo.
Boa leitura!
Antônio Alexandre Isidio Cardoso – Professor Doutor (UFMA).
Eurípedes Antônio Funes – Professor Doutor (UFC).
Acessar publicação original dessa apresentação
[DR]
História de mulheres negras no pós-abolição / Canoa do Tempo / 2019
O dossiê que ora abrimos apresenta diálogos e reflexões sobre gênero e sentidos históricos atribuídos a/por mulheres negras no campo do pós-abolição como um problema histórico, evidentemente seguindo os passos trilhados anteriormente no texto homônimo de autoria de Ana Lugão Rios e Hebe Mattos (2004)1. Se naquele momento os balanços e perspectivas incidiam especialmente nas experiências de homens escravizados e seus descendentes, hoje as pesquisas têm se debruçado por vezes até exclusivamente sobre a compreensão das experiências de mulheres negras, enquanto sujeitas que viveram as emancipações e as décadas imediatas à abolição, mas também aquelas que se depararam com os significados de ser negra em décadas posteriores e no tempo presente, pois, ao que os estudos indicam, o pós-abolição ainda alcança nossos dias. Não obstante, chamamos atenção para dois outros pontos. A pluralidade dos espaços geográficos das pesquisas aqui apresentadas, nos permitindo melhor acessar conhecimentos sobre a Amazônia e a região norte de uma forma geral, sem deixar de lado novas pesquisas sobre espaços que já figuravam no cenário, como a região sudeste. Entendemos que essa pluralidade vem para mostrar as potências das discussões, ainda mais quando ampliamos o mapa e nos permitimos também fazer imersões além fronteiras, em um movimento de ida e vinda, como tão bem nos aponta a entrevista do dossiê com a historiadora Juliana Barreto Farias.
Como o dossiê evidencia, as pesquisas que trazem em seu centro gênero e feminino negro dialogam ainda com as noções que extrapolam a raça, incluindo as intersecções de classe e geração, principalmente. Assim, fazem imersões que nos permitem acompanhar experiências, projetos, trajetórias e atuações em áreas já bem conhecidas das historiadoras e historiadores do campo, como o associativismo e a educação. Mas também naquelas cujas investidas de pesquisas sistemáticas são mais recentes, como sobre esportes, artistas e poetas.
Neste sentido, em seu artigo, Júlio Claudio da Silva percorre o caminho trilhado pela atriz Léa Garcia, desde o ingresso no Teatro Experimental do Negro até sua estreia no cinema brasileiro. Seu objetivo é compreender por meio de entrevistas e matérias publicadas em periódicos, como a carreira dessa atriz – marcada pelos estereótipos raciais e de gênero atribuídos pela crítica especializada à mulher negra – pode fornecer uma abordagem inovadora para observarmos as estratégias de resistências e alianças protagonizadas por Léa Garcia, e não apenas pelas lideranças masculinas do movimento negro, na luta contra o racismo, bem como na abertura e ampliação para espaços e temáticas negras nos palcos e nas telas do cinema brasileiro.
Já o artigo de Luara dos Santos Silva analisa a história de vida da professora e escritora negra, de classe média, Coema Hemetério, discutindo seus limites e “possibilidades de fala” na tentativa de driblar as hierarquizações raciais e de gênero no espaço público, impostas por crenças pretensamente científicas, que destacavam a inferioridade de negros e mulheres, no alvorecer do século XX.
Abordando ainda a temática da educação, Jucimar Cerqueira dos Santos e Mayara Priscilla de Jesus dos Santos analisam o alcance de inúmeras medidas e iniciativas femininas de criação de escolas noturnas para mulheres na Bahia, como alternativas para o enfrentamento dos preconceitos machistas e racistas da época, destacando a trajetória de Maria Odília, “a primeira mulher negra a se formar na FAMEB (Faculdade de Medicina da Bahia) em 1909”.
Cláudia Maria de Farias discorre sobre ao processo de inserção, permanência e ampliação da participação das mulheres negras no campo esportivo brasileiro, nas décadas de 1940 e 1950. A análise dos relatos orais das atletas olímpicas negras Melânia Luz e Deise Jurdelina de Castro revelam as intersecções do gênero, classe, raça/etnia e geração e o protagonismo de mulheres negras no pós-abolição.
O cotejo dos estatutos de clubes, periódicos, processos crimes, possibilitou a Juliana da Conceição Pereira analisar o comportamento moral e as regras de conduta adotadas nos bailes dos clubes dançantes cariocas entre as décadas de 1880 e 1920. As fontes pesquisadas revelam como as variáveis de raça, classe e gênero foram selecionadas pelos articulistas em seus artigos para justificar os crimes perpetrados contra as frequentadoras dos bailes.
Geilza da Silva Santos enfrenta o desafio de tentar localizar o lugar da mulher negra no pós-abolição. Para desenvolver tal tarefa debruçou-se sobre as transformações pelas quais passou a história das mulheres, suas contribuições e o legado do feminismo negro. Uma análise sobre as mulheres negras da comunidade quilombola Senhor do Bonfim, no munícipio de Areia, Estado da Paraíba, foi tecida a partir dos censos do munícipio, do relatório antropológico produzido pelo INCRA, bem como das memórias de duas moradoras do lugar no tempo presente.
João Marinho da Rocha apresenta uma vigorosa história das emergências das identidades étnicas e do movimento social quilombola do Rio Andirá, Estado do Amazonas. Seu trabalho reúne relatos orais das mulheres quilombolas, diretamente envolvidas no processo de luta pelo reconhecimento de direitos e lança luz sobre a presença negra e suas lutas no pós-abolição da Amazônia.
Encerrando este número da revista, Marina Vieira de Carvalho nos brinda com uma abordagem envolvente e bastante inovadora. Ao analisar o imaginário pornô-erótico sobre a mulher negra no pós-abolição carioca, a autora compara os discursos e conflitos produzidos sobre o corpo feminino nas narrativas ficcionais normativas e colonizadas do periódico Rio Nu (1898-1916) e naquelas criadas pela poesia erótica transgressora de Gilka Machado, mulher afrodescendente e pobre. Assim, a autora reconstrói um aspecto pouco explorado na história do pós-abolição, evidenciando o “novo feminino” da escrita de Gilka, que dá voz sobretudo às mulheres das camadas populares, recusando o aprisionamento e a “natureza maldita do corpo feminino negro”.
Em tempos tão difíceis, de inúmeros retrocessos e perdas de direitos duramente conquistados, as pesquisas aqui apresentadas sobre a história das mulheres negras demonstram a vivacidade e os avanços da escrita da história do pós-abolição, além de apontar outras tantas possibilidades abertas pela Lei 10.639, de 2003 que, voltada à educação antirracista, instituiu a obrigatoriedade do ensino da História da África e da cultura Afro-brasileira, reconhecendo a importância das lutas dos africanos e africanas, bem como de seus descentes, na formação da sociedade brasileira.
Nota
1 RIOS, Ana Maria; MATTOS, Hebe Maria. “O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas”. TOPOI, v. 5, n. 8, jan.-jun. 2004, pp. 170-198
Cláudia Maria de Farias
Fernanda Oliveira da Silva
Júlio Cláudio da Silva
As organizadoras e o organizador
Acessar publicação original dessa apresentação
[DR]
Brasil – China / Boletim do Tempo Presente / 2019
As relações entre Brasil e China vem se desenvolvendo a passos largos na última década. Com o intuito de divulgar a língua e a cultura chinesa, o governo chinês desenvolver parcerias com universidades ao redor do mundo para a criação de Institutos Confúcio.
Em Recife, a Universidade de Pernambuco desenvolveu uma próspera parceria ao longo de mais de 6 anos com o Instituto Confúcio e com a CUFE (Universidade Central de Finanças e Economia), tendo um Seminário Internacional que conta com a participação de diversos pesquisadores dos dois países.
Nesta edição especial, são publicados parte dos artigos apresentados no evento, dando destaque aos da área de economia e de tecnologia.
Ademir Macedo Nascimento
Autoavaliação institucional / Boletim do Tempo Presente / 2019
A autoavaliação institucional é um pre-requisito básico para a melhoria contínua das instituições de ensino superior.
Neste sentido, as faculdades e universidades de Pernambuco, desenvolvem a 7 anos um fórum para troca de experiências e de divulgação de boas práticas.
Nesta edição, são publicados os melhores artigos apresentados neste evento [VII Fórum das CPAs de Pernambuco], além de outros artigos do II Seminário Internacional Sino-Brasileiro.
Prof. Dr. Ademir Macedo Nascimento
China / Boletim do Tempo Presente / 2019
A aproximação entre a Universidade de Pernambuco e a CUFE (Universidade Central de Finaças e Economia da China) vem trazendo grandes resultados para o meio acadêmico, em especial na área de Administração.
Tal aproximação só foi possível devido ao trabalho do Instituto Confúcio da UPE, que atua em Pernambuco há mais de 6 anos e já permitiu que diversos alunos dos cursos de línguas e cultura pudessem conhecer a China.
Essa rica oportunidade culminou na realização de dois Seminários Internacionais com pesquisadores brasileiros e chineses apresentando suas pesquisas e realizando um intercâmbio de conhecimento. Para ambos os lados, essa é uma parceria proveitosa, pois permite que se conheça mais sobre o mercado de cada região e como parcerias econômicas vem sendo desenvolvidas pelos dois países.
Nesta edição apresentamos artigos sobre a China focados nos diversos aspectos que as pesquisas vem focando recentemente.
Ademir Macedo Nascimento
HAWÒ | UFG | 2019
Hawò (2019-) é uma revista científica, publicada na versão eletrônica pelo Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Tem como objetivo fomentar e divulgar a produção científica realizadas por pesquisadores de instituições reconhecidas, nacional e internacionalmente, que venham contribuir para a geração, preservação e difusão de novos conhecimentos nas áreas relacionadas à Antropologia Social e Cultural, Antropologia Biológica, Arqueologia, Etnolingúistica, Museologia, Arte e Cultura Popular, Patrimônio Cultural, Educação e Etno-História, em seu caráter interdisciplinar.
A revista Hawò, desde sua criação, adotou a modalidade anual de publicação contínua. Essa modalidade permite a publicação dos artigos conforme sua aprovação, agilizando assim o processo de comunicação e divulgação das pesquisas. Não há fascículos ou periodicidade definidas.
A revista Hawò oferece acesso online e aberto a todo o seu conteúdo, o que significa que todos os artigos estão disponíveis na internet para todos os usuários após sua publicação, sendo os autores responsáveis pelo conteúdo de seus artigos. Segue o princípio de disponibilizar gratuitamente as informações científicas ao público, de forma a contribuir com maior democratização ao conhecimento.
Acesso livre
Periodicidade contínua
ISSN 2675-4142
Acessar resenha
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Une autre science est possible! Manifeste pour un ralentissement des sciences – STENGERS (BMPEG-CH)
STENGERS, Isabelle. Une autre science est possible! Manifeste pour un ralentissement des sciences. JAMES, William. Apresentação de Thierry Drumm., Paris: Les Empêcheurs de Penser en Rond/La Découverte, 2013. 215p. Resenha de: SARTORI, Lecy. Outra ciência? Conhecimento, experimentos coletivos e avaliações. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém, vol.13, n.3, set./dez. 2018.
“Une autre science est possible! Manifeste pour un ralentissement des sciences” (Uma outra ciência é possível! Manifesto por uma desaceleração das ciências) é o último livro da filósofa da ciência Isabelle Stengers, professora da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. Filósofa, graduada em química e pesquisadora da história da ciência, Stengers é uma importante intelectual que reflete sobre a relação entre política, ciência e economia capitalista, e também discute sobre uma antropologia implicada em questionar os saberes, as disciplinas e as instituições.
Stengers participou do colóquio intitulado “Os mil nomes de Gaia: do Antropoceno à idade da terra”, ocorrido em 2014 no Rio de Janeiro, evento que, de forma geral, discutiu os temas da catástrofe ambiental e da mudança climática global. A catástrofe ecológica global é analisada por meio do conceito de Gaia. Para Stengers (2014), Gaia não é apenas outra forma de nominar a Terra como um recurso a ser explorado de forma sustentável, mas sim um “[…] novo campo científico […]” ou “[…] um complexo conjunto de modelos e dados interconectados […]” (Stengers, 2014, p. 2, tradução nossa), produzindo novos sentidos e respostas ao capitalismo globalizado. Seu último livro publicado em português tem como título “No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que se aproxima” (Stengers, 2015). Suas análises fazem-nos pensar em possibilidades criativas de ações de resistência política e de lutas anticapitalistas.
No livro ora resenhado, Stengers (2013, p. 8, tradução nossa) explora uma possibilidade de “[…] reconciliação do público com sua ciência […]”, no sentido de produzir saberes a partir das preocupações, das hesitações, das consequências e das opiniões sobre determinada ideia ou solução científica.
Aqui, “[…] produzir saberes […]” aproxima-se, como aponta Stengers (2013, p. 9, tradução nossa), daquilo que Latour (2004, p. 235) denominou de “[…] matter of fact […]” ou “[…] matter of concern […]”, para criticar a objetividade científica, ou do que Guattari (1987, p. 8) chamou de “[…] matière à préoccupation […]”. Stengers (2013) propõe não apenas produzir um campo de comunicação, mas discussões acerca das respostas dos cientistas para situações que nos dizem respeito, como os problemas sociais e econômicos (por exemplo, o desemprego, a poluição, o esgotamento dos recursos naturais, o efeito estufa, o câncer, as patentes de medicamentos). O livro apresenta a importância da elaboração de uma inteligência pública das ciências, por meio da noção de compreensão, que seria o mesmo que produzir em conjunto (com diferentes atores, cidadãos, especialistas e pesquisadores) ações que impliquem soluções sem ignorar as preocupações econômicas e sociais. A ideia principal é possibilitar o encontro entre uma multiplicidade de pessoas e os conhecimentos capazes de criar de forma inteligente propostas para grandes problemas. A partir dessa ideia, Stengers (2013, p. 83, tradução nossa) propõe a “[…] desaceleração das ciências […]” ou slow science (que apresenta a mesma lógica de iniciativas como slow food, slow city, slow economy). Ela fala, dessa forma, de uma ciência produzida de maneira lenta e em conjunto com outras pessoas e saberes, que ativam conhecimentos experimentais e criativos na formulação de novos modos de existência e de resistência, opondo-se à captura de regimes de subjetividade capitalista.
Este livro é composto por cinco capítulos e pela tradução de um texto do filósofo americano, médico e psicólogo William James (1948-1910). A tradução é antecedida por uma apresentação feita pelo pesquisador Thierry Drumm. A capa do livro exibe ilustração de Milo Winter, publicada no livro de Verne (2011), “20 mil léguas submarinas”. A publicação foi organizada pela editora Les Empêcheurs de Penser em Rond – La Découverte. O livro agrega artigos de Isabelle Stengers anteriormente publicados, uma conferência e um artigo inédito. Pode-se afirmar que esta obra apresenta reflexões e discussões muito mais amplas do que a ideia apontada no título, trazendo à tona temas como as avaliações de produções acadêmicas, a elaboração de uma ciência coletiva e experimental, assim como discussões sobre objetivos e funções dos experts.
Em seu manifesto, Stengers (2013) expõe o corporativismo referente ao financiamento acadêmico, bem como as contradições que sujeitam as pesquisas e as produções científicas. No primeiro capítulo, “Pour une intelligence publique des sciences” (Por uma inteligência pública das ciências), Stengers (2013) questiona a autoridade das ciências, por meio de discussões coletivas e da participação dos cidadãos na exposição dos problemas sociais. Essa forma coletiva de refletir sobres os problemas e de elaborar soluções foi denominada pela autora de “[…] inteligência pública das ciências […]” (Stengers, 2013, p. 10, tradução nossa). Desse modo, a autora resiste às “[…] pretensões dos saberes científicos […]” (Stengers, 2013, p. 15), participando da produção do que Haraway (1995, p. 18) denominou de “[…] saberes localizados”.
Nesse sentido, Stengers (2013) propõe a construção de um espaço de discussão com entusiastas que não fazem parte da academia para compor uma produção em conjunto. Isso, no entanto, não significa a popularização da ciência, a qual é entendida como a divulgação das produções científicas para um público amplo. O objetivo dessa popularização é conscientizar os cidadãos sobre direitos, deveres e responsabilidades sociais. Os cidadãos são educados a fim de que produzam reflexões e informações para os pesquisadores desenvolverem as análises científicas. Diferentemente dessa ideia, Stengers (2013) propõe a formação de grupos que sejam capazes de produzir conhecimento (ou uma ciência experimental) e desenvolver formas de ação junto aos elementos dos contextos sociais em que os próprios atores estão inseridos.
No subtítulo do livro, Stengers (2013) destaca a ideia de desaceleração da ciência ou de uma ciência lenta, feita no tempo necessário para a elaboração de suas questões, e não sujeita ao mercado do capital e aos indicadores de produção. A autora mostra como a ciência que está sujeita às necessidades do capital é elaborada de forma rápida, não refletindo sobre suas consequências futuras. Como exemplo, ela dispõe no segundo capítulo, intitulado “Avoir l’étoffe du chercheur” (Competências do pesquisador), as consequências das descobertas científicas como o uso de organismos geneticamente modificados (OGM). Segundo a autora, as descobertas científicas foram produzidas visando os interesses econômicos, ao invés de terem sido analisadas as suas consequências, buscando-se evitar a destruição do planeta. Para ela, as soluções deveriam ser produzidas de forma criativa, sem serem subestimados as dificuldades e os saberes locais. Nesse sentido, as lutas políticas não acionam a ideia de representação, mas devem produzir “[…] caixas de ressonância […]” (Stengers, 2015, p. 148) que explicitem as experiências, fazendo com que as pessoas reflitam sobre formas de ação e as produzam.
Uma interessante contribuição do livro é a discussão sobre a lógica econômica capitalista. Em seus efeitos, esta lógica diminui o tempo necessário para produzir questões e para analisar as consequências de determinadas ações científicas. Nesse contexto, as regras de financiamento à pesquisa direcionam a produção científica e diminuem a autonomia do pesquisador, o qual fica sujeito aos temas interessantes ao poder econômico e à indústria que investem em suas análises. Stengers (2013) explicita a regulação da produção científica por meio da “[…] fórmula de excelência […]” (Stengers, 2013, p. 52, tradução nossa), que dirige o comportamento para o “[…] conformismo, oportunismo e flexibilidade […]” (Stengers, 2013, p. 52, tradução nossa), exigências da nova forma de gestão do conhecimento.
No terceiro capítulo, “Sciences et valeurs: comment ralentir” (Ciências e valores: como desacelerar), Stengers (2013) apresenta uma análise da forma como o conhecimento científico é atualmente avaliado, procurando-se uniformizá-lo, sem se considerar a pluralidade e a qualidade da produção. Neste cenário, o que importa é o número de publicação, e não a qualidade do que está sendo produzido como conhecimento. Para exemplificar, ela expõe a produção científica do filósofo Gilles Deleuze, o qual, segundo o formato atual de exigência de publicação, seria um pesquisador com pouco êxito ou baixo desempenho em avaliações1 científicas. Conforme Stengers (2013), devemos questionar esse formato de produção rápida de conhecimento e formular ferramentas para resistir aos critérios de avaliação das universidades.
Outra contribuição do livro é a tradução de um texto de William James, apresentado por Thierry Drumm. O artigo de William James, “Le poulpe du doctorat” (ou The Ph.D. Octopus), foi publicado, pela primeira vez, em 1903, na revista Harvard Monthly. No texto, o filósofo apresenta, de forma jocosa, uma crítica à política acadêmica e à regra que torna o doutorado obrigatório para os professores universitários. A universidade, por sua vez, é comparada a uma máquina de produção de títulos. A contribuição do texto está na descrição crítica do modo de funcionamento da produção acadêmica de sua época. James mostra-se contrário ao status e ao prestígio daqueles que possuem um diploma, como o de doutorado. O título de doutor, segundo o autor, incentiva o esnobismo acadêmico e a publicidade individual. Acionar o título como uma ferramenta resulta no conformismo e na institucionalização de uma lógica quantitativa. Para James (1903), o objetivo da universidade é instruir as pessoas, e não valorizar um título concedido ao pesquisador que se dedica por um tempo a um determinado assunto.
Infelizmente, não existe uma versão em português do texto de William James. Recentemente, a editora da Universidade de São Paulo (Edusp) publicou um livro organizado pela historiadora Maria Helena P. T. Machado com as cartas que William James escreveu ao participar de uma expedição ao Brasil, em 1865-1866 (Machado, 2010). Ele apresenta o jovem William James questionando a ciência da época e a produção criacionista de seu professor e chefe da Expedição Thayer, Louis Agassiz. William James, mais simpático à teoria da evolução de Charles Darwin, criticou a posição política (com interesses americanos na exploração da Amazônia) e ideológica de Louis Agassiz, que defendia o racismo e as teorias da degeneração. Os escritos de William James explicitam os interesses políticos e o financiamento da coleta de dados prevista na Expedição Thayer, bem como a sua perspectiva de análise. Como William James, Isabelle Stengers analisa a produção científica, a política de financiamento à pesquisa e as formas de avaliação da sua época.
No penúltimo capítulo, “Plaidoyer pour une Science ‘Slow’” (A defesa de uma ciência “lenta”), Stengers (2013, p. 83, tradução nossa) destaca a fabricação de uma “[…] economia do conhecimento […]” que produza vínculos de cooperação crítica e de produção coletiva. Trata-se de modificar o foco das avaliações para destacar o conteúdo das produções de conhecimentos, e não o número de artigos publicados ou patentes adquiridas. A slow science, antes de ser uma exigência de mais tempo e de autonomia para a formulação de questões importantes, procura estabelecer outras articulações, além dos vínculos firmados com o mercado e com o Estado.
O livro de Stengers (2013) é instigante ao analisar a forma como a produção científica atual é insustentável. A autora aponta o modo como os pesquisadores acreditam que as soluções dos problemas serão elaboradas de forma racional ou científica, ao mesmo tempo em que ignoram a opinião, as preocupações e os saberes daqueles que são afetados pelos problemas sociais. Ao afirmar que “[…] uma outra ciência é possível […]”, Stengers (2013, p. 6, tradução nossa) explicita no último capítulo, “Cosmopolitique: civiliser les pratique modernes” (Cosmopolítica: civilizar as práticas modernas), que não é uma questão relacionada à qualidade da informação que está em jogo, mas sim a necessidade de os pesquisadores serem capazes de produzir ciências a partir de uma inteligência coletiva, que conecte diferentes modos de elaboração de saberes e reative outras formas de resolver os problemas e de resistir às demandas impostas pelo mercado à produção científica.
Notas
1Algumas referências sobre o modo como as avaliações (ou ‘cultura de auditoria’) limitam as produções de saberes e as ações criativas são Strathern (2000), Shore (2009), Power (1994) e Giri (2000).
Referências
GIRI, Ananta. Audited accountability and the imperative of responsibility: beyond the primacy of the political. In: STRATHERN, Marilyn (Ed.). Audit cultures: anthropological studies in accountability, ethics and the academy. London: Taylor & Francis, 2000. p. 173-195. [ Links ]
GUATTARI, Félix. Les schizoanalyses. Chimères, Bedou, Paris, n. 1, p. 1-21, 1987. [ Links ]
HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, Campinas, n. 5, p. 7-41, quad. 1995. [ Links ]
JAMES, William. The Ph.D. Octopus. Harvard Monthly, Cambridge, v. 36, n. 1, p. 1-9, 1903. [ Links ]
LATOUR, Bruno. Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern. Critical Inquiry, Chicago, v. 30, n. 2, p. 225-248, Winter 2004. [ Links ]
MACHADO, Maria Helena P. Toledo (Org.). O Brasil no olhar de William James: cartas, diários e desenhos, 1865-1866. São Paulo: Edusp, 2010. [ Links ]
POWER, Michael. The audit explosion. London: Demos, 1994. [ Links ]
SHORE, Cris. Cultura de auditoria e governança iliberal: universidades e a política da responsabilização. Mediações, Londrina, v. 14, n. 1, p. 24-53, jan.-jun. 2009. DOI: http://dx.doi.org/10.5433/2176-6665.2009v14n1p24. [ Links ]
STENGERS, Isabelle. No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que se aproxima. Tradução Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Cosac Naify, 2015. (Coleção Exit). [ Links ]
STENGERS, Isabelle. Gaia, the urgency to think (and feel). In: COLÓQUIO INTERNACIONAL OS MIL NOMES DE GAIA DO ANTROPOCENO À IDADE DA TERRA, 2014, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos… Rio de Janeiro: Departamento de Filosofia/PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, 2014. Disponível em: <https://osmilnomesdegaia.files.wordpress.com/2014/11/isabelle-stengers.pdf>. Acesso em: 1 ago. 2018 [ Links ]
STRATHERN, Marilyn. New accountabilities: anthropological studies in audit, ethics and the academy. In: STRATHERN, Marilyn (Ed.). Audit cultures: anthropological studies in accountability, ethics and the academy. London: Taylor & Francis, 2000. p. 1-6. [ Links ]
VERNE, Jules. 20 mil léguas submarinas. Tradução e notas de André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. [ Links ]
Lecy Sartori – Universidade Federal de São Paulo. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
L’automobile, la nostalgia e l’infinito. Su Fernando Pessoa – TABUCCHI (A-EN)
TABUCCHI, Antonio. L’automobile, la nostalgia e l’infinito. Su Fernando Pessoa. Traduzione di BETTINI, Clelia; PARLATO,Valentina, Palermo: Editora da Sellerio, 2015. Resenha de GUERINI, Andrea. A poética pessoana segundo Antonio Tabucchi. Alea, Rio de Janeiro, v.20 n.3, sept./dec., 2018.
L’automobile, la nostalgia e l’infinito. Su Fernando Pessoa é um livro que agrupa quatro ensaios sobre o autor português, preparados por Antonio Tabucchi como aulas para serem ministradas em francês, na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, em 1994, acrescido de um Prólogo, e uma parte final intitulada “Pessoa e os seus heterônimos”, que é uma breve apresentação dos heterônimos para indicar ao leitor “quem é quem” no interior da poética do poeta português (TABUCCHI, 2015, p. 103).
Conforme descrito por Tabucchi, essas aulas foram preparadas levando em conta e privilegiando, de um lado, aspectos da poética de Fernando Pessoa e a sua adesão às vanguardas do início do século XX (futurismo, cubismo, simultaneísmo de Delaunay) e de outro, a relação com o “Tempo, la Nostalgia, la ‘riappropriazione’ del Passato attraverso la scrittura (Proust, Bergson)” (TABUCCHI, 2015, p. 10).
Vale lembrar que Fernando Pessoa foi o autor português com o qual Tabucchi estabeleceu uma relação “che va al di là della semplice fedeltà del lettore”, um tipo de “relação ativa”, que é “proprio dei traduttori e dei critici” (TABUCCHI, 2015, p. 9). Portanto, esse intenso e estreito vínculo se deu pelas traduções que Tabucchi realizou para o italiano, sozinho ou em parceria com Maria José de Lancastre, das obras de Pessoa e pelos diversos ensaios que escreveu ao longo da sua vida sobre a personalidade e a poética do autor português.
Logo, não causa estranheza que este livro resgate essas aulas em um único volume, conservando o tom oral (como desejado pelo próprio autor) e a leveza de enfoque sobre temas profundos e complexos da poética pessoana.
Na primeira aula-ensaio, “La nostalgia del possibile e la finzione della verità su Pessoa”, Tabucchi trata da universalidade de Pessoa, que segundo ele reside apenas “nei contenuti della sua opera, nell’insieme delle categorie che costellano i suoi testi […], ma anche nel modo scelto per trasmettere questo messaggio, nella forma in cui è organizzato: in ciò che lui stesso ha definito eteronimia” (TABUCCHI, 2015, p. 19). A partir disso, o autor italiano busca elementos para explicar o que viria a ser a heteronímia pessoana. Para tanto, vale-se de um “grande fantasma”, o “Outro”, responsável por alimentar as obsessões dos maiores escritores europeus (TABUCCHI, 2015, p. 19), mas também da própria voz de Fernando Pessoa, a partir de “confissões” que aparecem, por exemplo, na célebre carta de 13 de janeiro de 1935, em resposta à entrevista do crítico Adolfo Casais Monteiro, nos seus diários, ou ainda nos seus poemas, como o célebre “Autopsicografia”.
O “Outro”, ou os heterônimos, não são, como destaca Tabucchi, “semplice alter-ego; […] sono altri-da-sé, personalità indipendenti e autonome che vivono al di fuori del loro autore” (TABUCCHI, 2015, p. 25). E aqui reside a potência da invenção pessoana, pois como mostra Tabucchi, Pessoa cria personagens, mas não são personagens normais que devem viver uma história, mas personagens que devem fingir aquela história: “sono creature creatrici, sono poeti: sono creature di finzione che a loro volta generano la finzione della letteratura” (TABUCCHI, 2015, p. 29). Ainda nessa aula-ensaio, Tabucchi analisa a presença da saudade nos três maiores heterônimos, pois, conforme destaca o autor, “Se la nostalgia del presente è una caratteristica di tutti gli eteronimi, ognuno di loro vive, naturalmente, anche la sua nostalgia specifica e individuale” (TABUCCHI, 2015, p. 31).
Na segunda aula-ensaio, “Gli oggetti di Álvaro de Campos”, Tabucchi apresenta uma lista de objetos caros a Fernando Pessoa para colocar em discussão o metafísico Álvaro de Campos e a ‘fisicidade’ banal dos simples objetos. Inicia a discussão com o monóculo, termina com a cadeira, passando pelo automóvel, o cigarro, a pasta, a Enciclopédia Britânica, os mapas, o espelho e outros. Todos são elementos/símbolos que serviram para caracterizar e vestir os personagens da “commedia umana” criados pelo escritor português (TABUCCHI, 2015, p. 46). São objetos de natureza estética, revestidos de uma forte densidade semântica, pois altamente significativos no contexto da escrita de Pessoa.
No terceiro ensaio-aula, “L’Infinito disforico di Bernardo Soares”, Tabucchi aborda o semi-heterônimo de Fernando Pessoa, autor do Livro do desassossego. Tabucchi elucida o fato de Bernardo Soares se atormentar com coisas aparentemente ‘insignificantes’, mas que são profundas. Tabucchi lembra que, ao longo desse livro de Pessoa, Bernardo Soares se pergunta: “chi sono io?” Para responder a essa pergunta, Bernardo Soares escreve um diário e, como destaca Tabucchi, “Un diario è sempre uno specchio, e quindi ogni giorno Bernardo Soares si guarda nello specchio del suo diario” (TABUCCHI, 2015, p. 69), em grande parte escrito à noite, nascido sobretudo da insônia (TABUCCHI, 2015, p. 72) de seu autor, o que o leva à disforia, porque para Tabucchi o Livro do desassossego “racconta le sue (di Bernardo Soares) depressioni quotidiane e notturne” (TABUCCHI, 2015, p. 72). Nessa aula-ensaio, Tabucchi procura, sem ser exaustivo, explicar a razão de Fernando Pessoa ser um disfórico, e a palavra-chave para compreender esse estado de ânimo é saudade, que se associa ao desassossego (TABUCCHI, 2015, p. 75).
No quarto ensaio-aula, “Pessoa, i simbolisti e Leopardi”, Tabucchi confronta Pessoa com Leopardi, não apenas para “stabilire parallelismi […], ma soprattutto per investigare la natura del dialogo che un lettore onnivoro come Pessoa ha potuto intrattenere con Leopardi” (TABUCCHI, 2015, p. 78). Para falar dessa relação, Tabucchi percorre a fortuna crítica de Leopardi em Portugal entre os séculos XIX e XX, mas também na Espanha. Ele sugere que Fernando Pessoa chegou a Leopardi pelo viés negativo de Antero de Quental e António Feijó; pelo viés simbolista-decadente, cujos autores foram seduzidos pelo binômio leopardiano amor-morte; e também pelo viés trágico do escritor espanhol Miguel de Unamuno. Além disso, Tabucchi destaca que os três temas que mais interessaram Pessoa a propósito de Leopardi foram: “1) la riflessione sul mondo fisico, o il conflitto tra natura e ragione; 2) il senso dell’infinito; 3) il concetto di tedio” (TABUCCHI, 2015, p. 82). A partir dessa constatação, Tabucchi esmiúça alguns aspectos da obra de Pessoa que se ligam aos três elementos da poética leopardiana citados acima e que culminam no “Canto a Leopardi”, poesia que Fernando Pessoa parece ter escrito em “homenagem” a Leopardi, na qual, de acordo com Tabucchi, é possível extrair uma espécie de epistolografia virtual, que teria agradado muito a Borges, já que Pessoa, nesse poema, “si rivolge al suo corrispondente in maniera interrogativa […] come qualcuno che aspetta una risposta” (TABUCCHI, 2015, p. 100). E Borges poderia ter se encarregado, segundo Tabucchi, de dar as respostas que Pessoa esperava […] Borges e, quem sabe, algum outro escritor.
Ficaremos à espera dessa resposta, assim como o leitor de língua portuguesa ficará à espera de poder ler essas aulas-ensaios em tradução, já que Tabucchi, de maneira simples, mas ao mesmo tempo sofisticada, descreve aspectos da poética de Pessoa com cumplicidade e serenidade, características próprias de quem conseguiu manter uma “relação ativa” e profunda com um dos maiores escritores europeus do século XX.
Andrea Guerini – Doutora em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Pós-doutora pela Università degli Studi di Padova (Itália) e Universidade de Coimbra (Portugal). Atualmente, é professora Titular do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras e da Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e editora-chefe das revistas Cadernos de Tradução, Appunti Leopardiani e da ANPOLL. Atua na área de Letras, com ênfase nos Estudos da Tradução, Estudos Literários e Estudos Italianos. É bolsista de Produtividade em Pesquisa, do CNPq. E-mail: [email protected].
[IF]
Antologia del Pensamiento Crítico Caribeño Contemporáneo (West Indies, Antillas Francesas y Antillas Holandesas) | Félix Valdés Garcia
O Caribe se constitui num imenso mosaico multidimensional (cultural, político, intelectual) marcado por uma ampla diversidade de dominações, colonizações, influências, resistências e reelaborações, que estão explicitadas em suas diversas denominações. Desta forma, uma parte da região, o Caribe hispânico é chamado de ‘El Caribe’, nas ilhas anglófonas é denominado de ‘West Indies ou The Caribbean’, na zona francesa é apontado como ‘Les Antilles’ ou ‘La Caraíbes’ e na área holandesa é designado como ‘Dansk Vestindien’.
Estas diferentes denominações demonstram o caráter uno e diverso da região, combinados dialeticamente, que explicitam, de uma ou outra forma, toda sua diversidade e potencialidade.
Desta forma, apesar de partilharmos com o Caribe uma história comum, que antecede a colonização européia, e dos laços históricos, econômicos e culturais desenvolvidos há séculos tal região e, principalmente, o pensamento crítico caribenho seguem ignorados ou apontados (ainda) pelo exotismo, já que a centralidade intelectual dos países do norte, principalmente em sua vertente anglo-saxã, continua condicionando nosso olhar e nossa reflexão sobre uma região tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante.
Sendo assim, pode-se afirmar que, apesar de alguns avanços, a maior parte da produção intelectual caribenha, e de seu pensamento crítico, segue desconhecida, com raras exceções, e a elaboração, as temáticas e concepções desenvolvidas por intelectuais caribenhos ainda se constitui num vasto campo a ser explorado e divulgado.
Neste sentido, esta obra se constitui num trabalho fundamental, e muito instigante, para o (re) conhecimento do pensamento crítico caribenho e seus laços com a realidade brasileira, principalmente das populações originárias e dos afrodescendentes, e a construção de alternativas para uma sociedade mais justa e equitativa.
A obra é parte integrante da série ‘Países’ da coleção de Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño, publicada pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO)2, na qual já foram divulgadas a produção crítica contemporânea de Uruguai, Panamá, El Salvador, Nicarágua, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, México, República Dominicana, Peru, Paraguai e Venezuela, sendo que, em breve, novos volumes sobre outros países devem ser lançados.
A coleção é composta por cinco séries: Trayectorias, Países, Pensamientos Silenciados, Miradas Lejanas e CLACSO/SIGLO XXI (publicação conjunta), cujos textos podem ser considerados essenciais para conhecer e compreender o pensamento social latino-americano e caribenho, clássico e contemporâneo.
Desde o seu surgimento, CLACSO se tornou um espaço de reflexão autônoma das questões latino-americanas, de desenvolvimento do pensamento social e crítico e do compromisso com a superação da pobreza e desigualdade, através da construção de um caminho alternativo próprio. Neste sentido, as coleções produzidas realçam a importância desta para a construção e difusão do pensamento latino-americano3, procurando incentivar a produção própria, a compreensão autônoma e a construção de um caminho latino-americano para o desenvolvimento das ciências e, principalmente, das sociedades latino-americanas.
Este trabalho foi organizado pelo professor cubano Félix Valdés Garcia, membro da Cátedra sobre o Caribe da Universidade de Havana, da Associação de Estudos do Caribe (AEC) e do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO).
Esta obra, como a região retratada, é marcada pela diversidade de temáticas e perspectivas e se insere na dinâmica da coleção, procurando retratar uma ampla gama de autores e abordagens que possuem como fio condutor um pensamento crítico, alicerçado nas condições e desafios que a região enfrenta desde a colonização, apresentando tanto autores clássicos do pensamento caribenho como Frantz Fannon, Aimé Césaire, Eric Willians, Cyril Lionel Robert James, Edward Kamau Brathwaite e Maurice Bishop, como autores contemporâneos como Sir William Arthur Lewis, Kari Polanyi Levitt y Lloyd A. Best, Sylvia Wynter, Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau e Raphaël Confiant.
Desta forma, o livro adquire uma coerência e uma relativa unidade, mesmo na diversidade, pois os autores apresentados conseguem demonstrar a profunda relação entre suas análises e a dinâmica social, política e econômica de seus países e região, produzindo um pensamento que procura contribuir para a transformação social, em suas diversas formas e movimentos, superando os colonialismos, em todas as suas manifestações e atualizações.
Além disto, o trabalho está marcado por uma abordagem multidisciplinar e pelo diálogo frutífero de um conjunto de correntes, relacionadas ao pensamento crítico, no qual se destacam três tradições. Primeiro, o pensamento marxista, utilizado de forma criativa e distanciado de dogmatismo e esquematismo, associado ao marxismo ocidental e, principalmente, ao impulso renovador e originário intentado pela Revolução Cubana e pelas releituras marxistas desenvolvidas na África e na América Latina ao longo das últimas décadas. Além dele, se destaca o pensamento negro, originário da diáspora africana, e sua releitura da colonização e da escravidão, bem como da condição dos negros no mundo contemporâneo, procurando resgatar suas raízes, originalidade e relevância para a superação da condição subalterna e subdesenvolvida.
Por fim, emergem os trabalhos que, mantendo um diálogo com as perspectivas anteriores, incorporam as contribuições do pensamento decolonial, anti-colonial ou póscolonial, procurando descontruir a modernidade eurocêntrica, suas lógicas e determinações, resgatando os diversos elementos (culturais, políticos, sociais, econômicos, religiosos, …) associados a negritude, as populações originárias e as mulheres, dentre outras, que nos permitem repensar a condição colonial e, principalmente, a dependência e o desenvolvimento (econômico e social) da região.
Neste sentido, podemos apontar que a obra pode ser analisada a partir de cinco eixos fundamentais, que se entrecruzam e se desdobram em inúmeras reflexões.
O primeiro eixo, que perpassa toda a obra, está associado a temática do colonialismo, tanto em sua dimensão temporal como nos efeitos políticos, econômicos e culturais, ao promover um quadro de dominação econômica, política e cultural, associado a colonialidade do saber e do poder nesta região e em toda a América Latina. Neste sentido, se destacam as análises, que podem ser consideradas clássicas, de Frantz Fanon (“Los condenados de la tierra”- fragmentos) e de Aimé Césaire (“Discurso sobre el colonialismo”) e o trabalho, mais recente, de Sylvia Winter (“1492: Una nueva visión del mundo”), embora os demais textos do livro possam ser considerados um desdobramento deste eixo primordial e continuem, a seu modo, discutindo tal temática.
O segundo eixo é caracterizado pelo debate sobre a dependência e a condição periférica dos estados caribenhos, além dos desafios para a criação de uma dinâmica efetiva de desenvolvimento econômico e social. Neste sentido, são apresentados os trabalhos de Eric Willians (“Capitalismo y esclavitud” y “El futuro del Caribe”), Kari Polanyi Levitt y Lloyd A.
Best (“Un enfoque histórico e institucional del desarrollo económico caribeño” y “Bosquejo de una teoría general de la economía del Caribe” e Sir William Arthur Lewis (“La agonía de las ocho”- Teoría para el desarrollo económico y social del Caribe), dentre outros.
O terceiro eixo, presente em boa parte dos trabalhos, é relacionado a questão da negritude e da condição ‘criolla’, discutidas em múltiplas dimensões, em que se destacam os elementos culturais e políticos. No primeiro caso, estão presentes trabalhos que revisam o tema da escravidão, em sua implicação social e cultural, analisam a emergência da noção de negritude, em sua relação com o pan-africanismo, e, mais recentemente, da noção de ‘creolidad’, destacando-se os trabalhos de Edward Kamau Brathwaite (“La criollización en las Antillas de lengua inglesa”), de George Lamming (“Los placeres del exilio”) e de Jean Bernabé, Patrick chamoiseau y Raphaël confiant (“Elogio de la creolidad”- fragmentos).
No plano político e social, destacam-se trabalhos que discutem a emergência do movimento negro e de uma consciência e mobilização social regional como os trabalhos de Édouard Glissant (“El discurso antillano”), de Walter Rodney (“El Black Power. Su relevancia en el Caribe”) ou de Brian Meeks (Radical Caribbean: From Black Power to Abu Baker/ Caribe radical. Del Black Power a Abu Bakr), dentre outros.
O quarto eixo relaciona-se ao impacto das Revoluções, passadas e presentes, na constituição e desenvolvimento de um pensamento revolucionário e libertário, que incorpora as tradições culturais, africanas e ameríndias presentes na região, e procura desenvolver um projeto político-cultural que combine justiça social e valorização destas tradições subalternizadas ao longo da história caribenha. Neste sentido, diversos trabalhos promovem um contato e um diálogo com o impulso libertário da Revolução Cubana e dos processos de descolonização e independência na África, a partir dos anos 60, dos quais podemos destacar os textos de Cyril Lionel Robert James (“De Toussaint L’Ouverture a Fidel Castro”, extraído de ‘Os jacobinos negros’), de Maurice Bishop (“¡Siempre adelante! Contra el imperialismo y hacia la independencia nacional legítima y el poder del pueblo”) e de Lloyd A. Best (“Pensamiento independiente y libertad caribeña”), dentre outros.
O último eixo se relaciona a temáticas emergentes, dentre as quais se destacam as questões culturais e de gênero, que procuram, a partir da condição caribenha, redefinir o papel e a organização destas sociedades e, no segundo caso, revisar a condição subalterna das mulheres no mundo ocidental e contribuir para a superação desta condição e do empoderamento feminino. Neste sentido, se destacam os trabalhos de Elsa Goveia (“Estudio de la historiografía de las Antillas inglesas hasta finales del siglo XIX”), de Terry Agerkop (“Las culturas tradicionales y la identidad cultural en Surinam”) e, principalmente, de Alissa Trotz (“Género, generación y memorias: tener presente un Caribe futuro”).
Além dos aspectos já mencionados, outros elementos emergem da leitura desta obra. Como demonstram os textos, os diversos autores conseguem captar, com acerto, a dicotomia entre a unidade e a diversidade que caracterizam o Caribe, principalmente, ao destacar suas diversas tradições, mas que convergem para uma história e destinos comuns, além de revelar a dinâmica política e social das pequenas nações. Além disto, demonstram que tais autores procuram associar compromisso e sensibilidade social com rigor intelectual, tornando-se relevantes para o desenvolvimento de um pensamento próprio, caribenho e latino-americano, fundamentado tanto na realidade particular de cada ilha como nos desafios comuns que marcam a região e, de certa forma, toda a América Latina.
Neste sentido, também pode ser destacado que os textos são marcados pela convergência frutífera entre uma abordagem multidisciplinar, com destaque para história, economia, as ciências sociais e os estudos culturais e a utilização de múltiplos enfoques metodológicos e culturais, enriquecendo e ampliando o escopo analítico. Finalmente, vale mencionar que a obra contribui para o desenvolvimento de estudos comparados, produzindo um panorama (político, cultural, social e econômico) que consegue combinar o global e o regional, o regional e o local e uma análise multidimensional da conjuntura para compreender as sociedades caribenhas, seu passado e presente, com suas heranças estruturais e desafios atuais.
Entretanto, como toda coletânea, resultado de opções do organizador e dos limites da publicação, embora possua inúmeros méritos e tratar-se de um trabalho muito importante, possui limitações relacionadas, principalmente, a ausência de alguns pensadores e de algumas temáticas, como a análise das instituições e da dinâmica contemporânea da Integração Regional caribenha, as relações recentes com a herança e o continente africano, o agravamento de problemas sociais e ambientais, a emergência de novas formas de organização cultural e política e o papel das novas gerações na construção de um pensamento crítico caribenho, dentre outras.
Apesar disto, é possível apontar que a obra, assim como toda a coleção de CLACSO, ao apresentar as trajetórias fundamentais do pensamento latino-americano contemporâneo, é fundamental para o conhecimento da América Latina e do Caribe, em sua unidade e diversidade, dos problemas recorrentes e seculares que afetam a região (desigualdade, dominação, submissão, silenciamentos,…) e das possibilidades de construção de alternativas, alicerçadas na construção de direitos efetivos, de respeito as culturas e povos originários, de desenvolvimento económico e social, de democracia participativa e inclusiva e justiça social.
Neste sentido, conforme aponta o organizador Félix Valdés Garcia: Así, más allá de la obra de Jamaica, Trinidad y Tobago, Martinica o Barbados, los textos reunidos expresan el cuestionamiento de una totalidad mayor, dada con mayor frecuencia en las lenguas de Próspero que en creole, papiamento o sranang tongo, pero tan agudo como la plaga roja que Caliban pronunciara a Próspero. Ella expresa la unidad de lo diverso, de lo individual y lo universal de una experiencia, de islas que se repiten una y otra vez, sin ser iguales ni siquiera consigo mismas, más allá de la proximidad física, la fragilidad, la continuidad fáctica que la historia puso a merced de antojos imperiales y de experimentos sociales y culturales más impensados de la civilización occidental. Sirva la presente selección para rebasar las divisiones, el desconocimiento de pueblos que comparten una misma suerte, semejantes herencias y un mismo sol insular y de Nuestra América (GARCIA, 2017, p. 34).
À todos, boa leitura!!!
Notas
2. O Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO) é uma instituição não-governamental, criada em 1967 e associada a UNESCO, que reúne cerca de 394 centros de pesquisa, programas de pós-graduação ou instituições em ciências humanas e sociais de 26 países da América Latina. Além deste, também são filiadas diversas instituições de EUA, Europa, África e Ásia que se dedicam ao estudo de temas latino-americanos. Para conhecer a entidade pode-se acessar: http://www.clacso.org.ar 3 O Brasil possui, até o momento, cerca de 51 instituições, programas de pós-graduação ou centros de pesquisa filiados.
Marcos Antonio da Silva – Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil.
VALDÉS GARCIA, Félix (org.). “Antologia del Pensamiento Crítico Caribeño Contemporáneo (West Indies, Antillas Francesas y Antillas Holandesas)”. Buenos Aires: CLACSO, 2017. Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170707025855/AntologiaDePensamientoCriticoCaribeno.pdf. Resenha de: SILVA, Marcos Antonio da. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.19, n.37, p.149-153, jul./dez., 2018. Acessar publicação original. [IF].
Formação colonial e decolonialismo: Polifonia de vozes no Caribe / Revista Brasileira do Caribe / 2018
Neste último número de 2018, a Revista Brasileira do Caribe (RBC) oferece aos leitores um dossiê temático intitulado “Formação colonial e decolonialismo: polifonia de vozes no Caribe” composto por um total de oito artigos e uma resenha.
O dossiê se abre com o artigo “Entre a espada e a cruz: Bartolomeu de Las Casas em defesa do modo pacífico de evangelização dos indígenas na América Espanhola” de Maria Izabel Barboza de Morais Oliveira que, pelo método denominado contextualismo linguístico do historiador Skinner, analisa a defesa da evangelização pacífica defendida pelo frade dominicano espanhol Bartolomeu de Las Casas. E para maior compreensão a autora o compara com o pensamento de seu contemporâneo o frade franciscano Motolinía.
Em seguida, Javier García Fernández, em “O prelúdio à conquista do Caribe e da América: a formação da Andaluzia moderna como paradigma do sistema mundo moderno colonial. Olhares descoloniais a partir do sul da Europa”, trabalha historicamente a conquista espanhola do Al Andalus e a formação da Andaluzia moderna. O autor defende que “a desapropriação das terras das populações andaluzas, as expulsões forçadas, a racialização dos mouros e a subordinação da Andaluzia às estruturas políticas de Castela seriam o prelúdio mais importante para o desenvolvimento do que viria a ser chamado de sistema mundo moderno colonial”.
O artigo “La praxis afroensayística de Manuel Zapata Olivella”, de Rodrigo Vasconcelos Machado, analisa a obra ensaística do colombiano Zapata Olivella com base nos postulados teóricos de Frantz Fanon e também os compara com outras produções ensaísticas iberoamericanas.
Os três artigos seguintes tratam do Haiti contemporâneo. O primeiro deles se intitula “Da queda do duvalierismo à transição inacabada: A crise haitiana dos anos 1980”, de Everaldo de Oliveira Andrade. Esse artigo trata da conjuntura geral de desestabilização econômica vivida pela América Latina na década de 1980 e, em particular, no Haiti. O autor questiona baseado em conceitos como “estado frágil” ou “estado falido” para caracterizar as instituições políticas do Haiti, confrontando-os “a hipóteses explicativas relacionadas aos processos de mobilização política popular que construíam novos caminhos e possibilidades de institucionalização da vida política nacional, mas também com as diferentes ações e interesses externos que agiram para preservar o regime pós-ditatorial e, portanto, impedir uma via alternativa e nacional de construção democrática”.
Já no segundo artigo intitulado “Relações históricas entre Brasil e o Caribe: o caso dos imigrantes haitianos”, de Katia Cilene do Couto, as relações históricas entre a Amazônia e o Caribe são discutidas, tendo como ponto de análise o fluxo imigratório dos haitianos para a região amazônica, iniciado em 2010 após a ocorrência de um terremoto que dizimou mais de duzentas mil pessoas. A autora analisa diversos aspectos das trajetórias migratórias que unem o Caribe e a grande Amazônia, que são pouco recorrentes na historiografia.
No último artigo sobre o Haiti intitulado “Mulheres haitianas no espaço público de 1930 a 1950: o olhar sobre as primeiras ações feministas da Liga feminina da ação social”, André Yves Pierre propõe estudar o núcleo de mulheres da classe alta e intelectual que organizou a Liga Feminina de Ação Social (LFAS) e o protagonismo das mulheres na luta para mudar as imagens estereotipadas sobre a mulher e refundar a base sociojurídica.
Em “Alzar la voz, perder el miedo: Universitarias entre la desigualdad y el acoso sexual” os autores María Leticia Briseño Maas e Iván Israel Juárez López tratam um tema pouco explorado que é o assédio sexual nos espaços universitários da América Latina e do Caribe. O artigo trata da violência de gênero naturalizada em nossas sociedades e no interior dos espaços universitários. Os autores utilizam um estudo realizado em uma universidade do sudeste mexicano para revelar que o assédio sexual se manifesta nos espaços universitários públicos, inseridos em contextos de violência, mas também de uma acentuada desigualdade social, na qual as mulheres, em condições de pobreza, ocupam o último elo de uma cadeia ampla de exclusões e injustiças.
O último artigo, de Allysson Fernandes Garcia, intitula-se “Pa’ que tú no sabe lo que es ser guapo. A procura do ‘homem novo’ no rap cubano”. O artigo em questão interpreta as narrativas ficcionais de masculinidade presentes na música rap na cultura musical cubana.
Segundo o autor, “essas narrativas possibilitam uma aproximação do imaginário da geração jovem que chegava à maioridade durante o “período especial”. Tais narrativas possibilitam identificar aproximações e distanciamentos dos valores morais, atributos e qualidades masculinas expressadas na música rap com aqueles anunciados e defendidos por Che Guevara ao cunhar a ideia de “homem novo”.
A resenha intitulada “O Caliban Afro e Indígena e o Pensamento Decolonial: o Caribe na “Antologia del Pensamiento Crítico Caribeño Contemporáneo (West Indies, Antillas Francesas y Antillas Holandesas)”, de Marcos Antônio da Silva, por fim, fecha o dossiê.
Agradecemos a todos aqueles que viabilizaram o lançamento deste novo número da Revista Brasileira do Caribe, especialmente, a Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão, a Editora e Gráfica da Universidade Federal do Maranhão e a todos os pareceristas que participaram com o seu trabalho e generosidade na avaliação dos artigos recebidos. Convidamos a todos os leitores a percorrer as páginas desta nova edição da Revista Brasileira do Caribe que nos apresenta diversos pontos de vista da produção historiográfica sobre o Caribe.
Isabel Ibarra Cabrera – Editora da Revista Brasileira do Caribe.
CABRERA, Isabel Ibarra. Formação colonial e decolonialismo: Polifonia de vozes no Caribe. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.19, n.37, p.4-6, jul./dez., 2018. Acessar publicação original. [IF].
Africanidades Transatlânticas | Revista do Arquivo Público do Estado do Espirito Santo | 2018
Africanidades Transatlânticas Cultura, história e memórias afro-brasileiras a partir do Espírito Santo
O presente número da Revista do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo é uma edição especial que tem por objetivo lançar o projeto de pesquisa “Africanidades Transatlânticas: cultura, história e memórias afro-brasileiras a partir do Espírito Santo”, a ser desenvolvido entre agosto de 2018 e dezembro de 2019. Este é um projeto institucional envolvendo parcerias entre a Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o própro Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) e a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Ele está sob a minha coordenação e tem como principal equipe o antropólogo Sandro José da Silva e o historiador Flávio Gomes. Leia Mais
Teoria da História e História da Historiografia na América Latina e no Caribe / História da Historiografia / 2018
La constitución de la historia como disciplina en América Latina y el Caribe durante los siglos XIX y XX coincidió con el proceso de emergencia y consolidación de los Estados nacionales a los que proveyó de relatos e interpretaciones sobre sus orígenes, su evolución, sus rasgos particulares y su identidad. De ese modo, las narrativas históricas tomaron a la nación como principal escala de análisis y, mucho más importante aún, como sujeto protagónico de los procesos históricos.
Hasta mediados del siglo XX, y aunque con importantes diferencias regionales, la historiografía de los países latinoamericanos se desarrolló en buena medida por fuera de los sistemas universitarios. Los historiadores eran en general políticos, funcionarios, escritores, médicos o abogados, que podían estar ligados o no a instituciones como las academias de historia, los institutos históricos o las sociedades de estudios históricos. Después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de la década de 1960, las universidades comenzaron a concentrar la producción de conocimiento histórico. Tributaria de una tradición local de ensayismo crítico, y enriquecida por el contacto con la historia social marxista y annaliste -contacto que en parte se debió al exilio provocado por las dictaduras militares-, la historiografía latinoamericana fue entonces objeto de una notable renovación teórico-metodológica que promovió la incorporación de nuevos temas, problemas y abordajes. En ese sentido se destaca la consideración de América Latina y el Caribe como un espacio con una historia común que era pensada con categorías como dependencia, desarrollo, modernización o formación económico-social. Sin embargo, y a diferencia de lo sucedido con otras disciplinas como la filosofía, la sociología o la economía, esta caracterización no fue una condición suficiente para que la historiografía produjera interpretaciones y narraciones de conjunto capaces de trascender la suma de casos nacionales. Leia Mais
O Meças – CARVALHO (A-EN)
CARVALHO, J. Rentes de. O Meças. Lisboa: Quetzal, 2016. Resenha de NOGUEIRA, Carlos. O Meças, by Rentes de Carvalho: polyphonic novel about Portugal. Alea, Rio de Janeiro, v.20 n.2, may./aug., 2018.
Em 2013, numa entrevista concedida ao JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias, referindo-se ao romance que acabava de publicar, J. Rentes de Carvalho (1930) afirmava: “Creio, aliás, que não voltarei tão cedo ao género, pois é difícil manter a sequência e evitar que os personagens não baralhem o enredo”. O novo romance de J. Rentes de Carvalho não vem necessariamente contradizer aquelas palavras, uma vez que passaram já três anos desde a saída de Mentiras & Diamantes (2013). Mas não nos parece arriscado dizer que a maioria dos leitores do autor de Ernestina terá recebido com grande surpresa a notícia da publicação de O Meças, o oitavo romance de um escritor que também tem sobressaído na crônica, no conto e no diário.
Rentes de Carvalho é um escritor moderno desde o seu primeiro romance, Montedor (1968), reeditado em finais de 2014. Este livro expõe o mundo interior de uma personagem, em discurso de primeira pessoa, mas não descuida a realidade exterior: o contrabando, a emigração, a política obscura e corrupta, a desvergonha e a impunidade dos poderosos, a influência do clero, as desigualdades econômicas e sociais, o atraso sociocultural.
Montedor é um romance psicológico, mas é também um romance de formação de matriz autobiográfica e de ação, e não menos um romance realista que vai buscar os temas e motivos ao quotidiano mais comum e nos revela uma sociedade em conflito. Assistimos a um número significativo de peripécias dramáticas e ao drama interior do protagonista desde o momento em que ele reprova nos exames que lhe dariam acesso a um “diploma” e a um bom emprego, testemunhamos os momentos principais da sua vida, desde a ida para a tropa, ao regresso a casa e ao casamento por obrigação; e somos levados a estabelecer uma comparação com a vida de quem escreveu o livro. J. Rentes de Carvalho deixou Portugal, viveu em cidades como o Rio de Janeiro, Nova Iorque e Paris, e estabeleceu-se na Holanda em 1956, onde teve condições para desenvolver uma carreira como escritor de méritos rapidamente reconhecidos no país que o recebeu. O protagonista de Montedor ficou em Portugal, e aí, fechado dentro de si, perdeu toda a liberdade e dignidade. Um romance, como se vê, e por razões óbvias, tão atual na década de sessenta como hoje.
O Meças, como Montedor, é um romance sobre Portugal. Esta fórmula, que tem sido usada para definir a ficção de J. Rentes de Carvalho, apesar de não ser inexata, é muito incompleta. Montedor articula a representação da intimidade mais profunda de uma personagem com a representação dos problemas de Portugal, e estabelece uma relação entre o tempo interior do protagonista e o tempo cronológico do país salazarista. A um tempo histórico e a um quotidiano em que existem figuras que dir-se-ia terem séculos, a um tempo que passa sem que se alterem as questões que em Portugal parecem ser irremediáveis (o patriarcado, as diferenças e a hostilidade entre ricos e pobres, o atraso sociocultural e econômico, o imobilismo, a corrupção), corresponde o tempo interior vivido pelo narrador-personagem, que é um perdedor atormentado até ao paroxismo. Com diferenças de perspetiva, de intensidade e de técnica narrativa, esta leitura aplica-se a outros romances do autor, em particular a O Rebate (1971) e A Amante Holandesa (2000, Holanda, 2003, Portugal). Mas o que traz originalidade a estes conteúdos é a omnipresença da memória e das emoções que afligem o sujeito e se sobrepõem à sua vontade. O Meças, organizado em quatro partes, ou em cinco, se considerarmos as “Anotações” finais, está em consonância com a sensibilidade, o pensamento e escrita de J. Rentes de Carvalho, que tem procurado compreender a origem, o significado, os mecanismos e as expressões, quer da sua memória e das suas emoções, quer da memória e das emoções portuguesas (e não só).
No primeiro capítulo, o narrador de terceira pessoa apresenta-nos António Roque, conhecido como o Meças, e é através do seu discurso inquiridor que assistimos à tragédia permanente deste homem violento e angustiado pela presença inexorável de um passado que se faz presente e futuro devido a uma complexa e incontrolável relação de causa e efeito entre perdas humilhantes e comportamentos, sentimentos e emoções induzidos por essas perdas e humilhações. No segundo capítulo, agora em discurso de primeira pessoa assumido pelo meio-irmão de Meças (que não sabe que aquele é seu meio-irmão, filho, como ele, do “Senhor Engenheiro”), a memória, enquanto presença interior hipersensível, é também constante. No terceiro capítulo, regressa o narrador de terceira pessoa, que mais uma vez representa o interior mortificado de Meças, e no quarto volta o meio-irmão da personagem que dá título ao romance. O meio-irmão de Meças, que se fixou em Newcastle, vem a Portugal com a intenção de revelar a Meças o que os une, mas, afinal, decide não o fazer. Educado, civilizado, preso às origens e ao mesmo tempo distante ou distanciado delas, ele é também, por circunstâncias diversas (o caráter violento do pai, ter-se visto a “crescer sozinho”, como ele próprio diz, saber-se nascido num país corrupto e atrasado), assaltado pela memória involuntária (Bergson) e dolorosa.
O Meças, que recebeu o prémio de Melhor Livro de Ficção, relativo a 2016, da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), como toda a obra ficcional deste autor, representa as emoções e as memórias repentinas e avassaladoras de personagens portuguesas, e indaga e explora a sua raiz, os seus sentidos e as suas implicações. O meio opressivo e opressor português está na origem das emoções e das memórias dos dois meios-irmãos deste livro, um culto e bem-educado, o outro precisamente o oposto. O Meças é uma representação de grande parte da sociedade portuguesa de meados do século XX até aos nossos dias, ou da sociedade portuguesa de qualquer tempo e de qualquer lugar. As personagens do romance não encontraram soluções para o seu desassossego, mas podem ajudar-nos a ver Portugal mais em profundidade, a compreender as inquietações, as memórias e as respostas da chamada, num sentido muito amplo, portugalidade.
Nem simplesmente realista à maneira de Eça de Queirós, nem exclusivamente subordinado aos procedimentos da narrativa anglo-saxônica (em cuja feição realista, que vem já do século XVIII, entram a sobriedade estilística e a valorização da interioridade das personagens), nem incondicionalmente subordinado às técnicas do noveau roman francês (que, por exemplo, num tempo de crise humanista, elimina ou reduz ao mínimo a intriga, e marca a impossibilidade de construir uma personagem bem delineada), O Meças encerra um conhecimento vasto da literatura portuguesa e internacional, e impõe-se como um livro singular que participa na modernidade da ficção portuguesa, tal como Montedor participou na década de sessenta na renovação literária portuguesa.
Não existe contradição entre a clareza e a exatidão e o registo predominantemente emotivo. O equilíbrio e a disciplina clássica da linguagem de O Meças estão perfeitamente de acordo com o estilo que reconhecemos a J. Rentes de Carvalho. A musicalidade intrínseca à escrita deste autor impede-a de incorrer em monotonia e automatismo, e em O Meças essa harmonia resulta numa expressão em que despojamento e inquietude se combinam e alternam. A sequência mais comum deste romance inclui orações ou expressões próprias do escritor clássico que o autor de Ernestina é, e momentos, consideravelmente extensos, em que a emotividade da personagem domina, representada pelo discurso indireto livre e/ou pelo monólogo interior. Esta sobriedade e esta emotividade acolhem, não raramente, um discurso autoirônico, como dissemos, mas também irônico, cômico e satírico cujo alvo é a sociedade em geral, das classes economicamente mais favorecidas às mais baixas, e da unidade da família à ética sexual e às estruturas e comportamentos religiosos. Mais do que de humor deve falar-se de comédia trágica, de desconstrução, através de uma paródia relativamente discreta, dos preconceitos e das verdades da sociedade portuguesa de meados do século XX: «Alguns até parece que nascem doutores, e ele, vinte e tal anos na Alemanha, nem sequer a língua foi capaz de aprender, só palavras soltas, os colegas às gargalhadas, obrigando-o a repetir tudo, dizendo que ninguém o entendia e a chamar-lhe “turco”» (p. 107).
O Meças combina a representação da intimidade mais recôndita de duas personagens com a representação discreta mas perceptível dos problemas de Portugal, e estabelece uma relação entre o tempo interior dos protagonistas e o tempo cronológico do país em que eles vivem ou viveram. Prevalece o conhecimento do mundo íntimo das personagens, ora em discurso de terceira pessoa, ora de primeira pessoa, mas não se perde a noção da realidade exterior (a emigração, a política obscura e corrupta ou a influência do clero, por exemplo), que, aliás, determina a desintegração das personalidades que, no caso da personagem Meças, vemos em desequilíbrio psicológico desde o início do romance. A um tempo histórico e a um quotidiano em que se inscrevem figuras que parecem ter séculos, indiferentes ao tempo do calendário, a um tempo que passa sem que mudem as questões que em Portugal parecem ser insolúveis (as diferenças entre ricos e pobres, e o atraso sociocultural e econômico, essencialmente), correspondem os tempos interiores vividos pelos narradores-personagens, que nos surgem como uma consciência e um corpo angustiados até ao paroxismo. Todo o romance é um prolongamento do primeiro parágrafo:
Alguém terá de lhe emprestar as palavras, porque as desconhece, mas se lhas tivessem ensinado seria incapaz de dizê-las, estonteado pelo remoinho, a vida a desfilar em ondas de desespero, ocasiões falhadas, sempre ele o que perde, a sofrer envergonhado, o que baixa os olhos e até si próprio tem de fugir. (p. 9)
Rentes de Carvalho – Esta resenha faz parte dos trabalhos da Cátedra Internacional José Saramago (Universidade de Vigo), projeto POEPOLIT (FFI2016-77584-P, Ministério de Economia e Competitividade da Espanha) e do Programa Estratégico UID/ELT/00500/2013 da FCT (Portugal).
[IF]
Bantu | Ibirité, v.1, n.1, 2018 / Número especial, 2018. (S)
Bantu. Ibirité, Número Especial, 2018.
Artigos
- Trajetória Formativa dos Professores da EJA no contexto da rede estadual de educação de Ibirité | Ana Paula Ferreira Pedrosoe Letticia Paula de Araújo Velloso
- Perfil Anatômico e Histomínico da folha de DaturastramoniumL. (SOLANACEAE): espécie usada na medicina popular como antiespasmódica, sedativa, antiasmática, dilatadora de pupilas e alucinógena | Reisila Simone Migliorini Mendese Sarah Luiza Almeida Carvalho
- Anísio Teixeira traveller | Antonio Carlos Figueiredo Costa, Raquel Nugas e Viviane Silva de Oliveira Fernandes Pinheiro
- Educação Social: Lazer, valores e formação humana | Walesson Gomes da Silva e Carlos Roberto Silva de Araújo
- Medicalização da aprendizagem: notas sobre a produção farmacológica da normalização do comportamento infanto-juvenil | Radamés Andrade Vieira, Gabriella Cristina Rosa, Quézia de Souza Campos e Tamires Cardoso do Nascimento
- Contribuições do Laboratório de Ensino de Matemática e suas ferramentas associado à prática docente no aprendizado dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental | Janaína da Conceição Martins Silva, Maria Cristina Gonçalves dos Santos e Gabriela Ribeiro de Azevedo
- O uso do livro didático de História nos anos iniciais do ensino fundamental: por uma formação crítica e autônoma | Patrícia Karla Soares Santos Dorotéio e Raiany Aparecida Costa
- Aspectos da Escatologia Cristã em O Hobbit, DE J.R.R. TOLKIEN | Delzi Alves Laranjeira, Israel Henrique dos Santos e Israel Rodrigues Pereira
- Produção de mudas como estratégia para recuperação de áreas degradadas e nascentes sob vegetação de cerrado | Reisila Simone Migliorini Mendes, Patrícia Ferraz de Oliveira e Karine Paula dos Santos
Bantu. Ibirité, v.1, n.2, dez. 2018.
Artigos
- A diferença na subjetividade de um poeta | Margareth Maria Mendes Carvalho
- A importância da Formação Continuada e a valorização do saberdocente | Janaina da Conceição Martins Silva
- Considerações sobre a figura do autor | Delzi Alves Laranjeira
- Perfil e trajetória social dos estudantes das licenciaturas: uma proposta de pesquisa | Shirley de Lima Ferreira Arantes
- Karl Marx, Friedrich Engels e a gênese do materialismo histórico | Antonio Carlos Figueiredo Costa54AExperiência Estética do Teatro–uma vivência no Curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais | Marilene Oliveira Almeida
Bantu. Ibirité, v.1, n.1, 2018.
Sumário indisponível.
Fontes Documentais | IFS | 2018
A Revista Fontes Documentais (Aracaju, 2018-) é uma publicação científica com periodicidade quadrimestral e de fluxo contínuo, organizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em História das Bibliotecas de Ensino Superior – GEPHIBES, vínculado ao Instituto Federal de Sergipe – IFS, com o objetivo de atuar como um veículo difusor e fomentador da produção acadêmica. Destina-se à divulgação de trabalhos gerados a partir de pesquisas originais, relatos de experiência, estudos bibliográficos, pesquisas em andamento, resumos expandidos e entrevistas desenvolvidas tanto no estado de Sergipe quanto em outras regiões brasileiras e/ou em outros países. As áreas de abrangência são:
- Ciência da Informação
- Biblioteconomia
- Documentação
- Arquivologia
- Museologia
- História da Educação
- Áreas afins relacionadas com cultura, memória e representação
Periodicidade quadrimestral
Acesso livre
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Bantu | UEMG | 2018-2018
Bantu – Revista de de Educação, História e Patrimônio Cultural (Ibirité, 2018-2018) surgiu a partir de uma antiga aspiração de docentes e discentes da Unidade Acadêmica UEMG de Ibirité (MG).
Seu nome procura referenciar a pluralidade cultural humana, reverenciando também com isso a formação social brasileira.
O periódico publica trabalhos inéditos que contemplem temas que interdisciplinares ou não, gravitem pela Educação, História e Patrimônio Cultural.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 2595-9506.
Acessar resenhas [Não publicou resenhas no ano 2018]
Índios cristãos / Almir D. Carvalho Júnior
Há muito que tardava, mas, finalmente, foi publicado, em meados do ano passado, o livro “Índios cristãos: poder, magia e religião na Amazônia colonial”, da autoria do professor Amir Diniz de Carvalho Júnior. De fato, a tese de doutoramento da qual a obra é resultado já havia sido defendida no ano de 2005, na Universidade de Campinas (UNICAMP)1. De certo modo, esta demora surpreende, se levarmos em conta a grande relevância que a pesquisa tem para a Historiografia Indígena e do Indigenismo no Brasil e, de forma mais específica, na Amazônia. Resta a esperar que o formato de livro contribua a tornar o estudo ainda mais conhecido no meio acadêmico!
O autor, professor lotado na Faculdade de História e credenciado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em Manaus, começa a apresentação de seu livro com a observação de que “toda criação é solitária”. Pode-se questionar esta afirmação, visto que Almir Diniz de Carvalho Júnior construiu seu estudo, à toda evidência, enquanto pesquisador bem conectado e inserido em uma rede com outros pesquisadores e pesquisadoras que, como ele, trabalharam e trabalham o protagonismo de indígenas na época colonial. Nesta rede, composta, em grande parte, de historiadores e antropólogos, seu orientador de tese, o já falecido John Manuel Monteiro – à memória do qual o livro é dedicado – ocupa um lugar central, além de Maria Regina Celestino de Almeida, que fez o prefácio, Marta Amoroso, Manuela Carneiro da Cunha, João Pacheco de Oliveira Filho, Ronaldo Vainfas, entre outros e outras. Todos eles e elas são prógonos conhecidos da Nova História Indígena e marcaram, como se percebe ao longo da leitura, as reflexões de Almir Diniz de Carvalho Júnior.
Como já indica o título da obra, os “índios cristãos” estão no cerne da pesquisa do autor. Não se trata, como ele deixa claro logo no início (pp. 21-29), de uma categoria supostamente compacta e genérica de subalternos, atrelados ao projeto de cunho colonial salvacionista. Ao contrário, ele se propõe a analisar sujeitos históricos que, apesar das relações e classificações assimétricas nas quais foram enquadrados, participaram da construção do universo colonial, dentro do qual conseguiram formar e ocupar espaços próprios. A partir desses espaços os índios engendraram, por meio de complexas mediações e negociações, práticas culturais, referências sociossimbólicas e balizas identitárias novas. O autor realça, sobretudo, a dimensão sociossimbólica, como o apontam os termos “poder”, “magia” e “religião”, que, por sinal, constam no subtítulo. Neste sentido, Almir Diniz de Carvalho Júnior consegue conjugar, em termos metodológicos, uma análise criteriosa das múltiplas fontes – que vão de crônicas missionárias a processos inquisitoriais – com o recurso a relevantes investigações antropológicas acerca das cosmologias indígenas.
O livro consiste – como também a tese – em três partes que, por sua vez, estão subdivididas em com um número variável de capítulos. A primeira parte (pp. 39-108) aborda, em dois capítulos, as complexas relações entre os colonizadores portugueses e os povos indígenas no espaço amazônico. No primeiro capítulo, aprofunda-se o processo de implantação e consolidação do projeto colonial e, no segundo, a instalação da rede de missões sob as orientações do padre Antônio Vieira. Em ambos os contextos, os índios não são tratados como meros figurinos, mas agentes centrais. Assim, o autor dá destaque à revolta dos Tupinambá, ocorrida na Capitania do Maranhão, em 1617-1619, logo no início da colonização, como também à reação dos índios da aldeia de Maracanã, lugar estratégico onde se situaram as importantes salinas no litoral do Grão-Pará, à prisão do principal Lopo de Souza, em 1660- 1661. Ambos os eventos apontam os impactos diretos de lideranças indígenas no processo da aplicação das políticas colonizadora e evangelizadora. Embora não tenha sido o objetivo da pesquisa, mas faltou, talvez, abordar também, paralelamente a estes aspectos etnossociais, a questão do espaço em sua dimensão geoétnica e geopolítica. Assim, teria sido interessante trabalhar a Amazônia dos séculos XVII e XVIII enquanto “fronteira”, que, conforme uma definição fornecida por Hal Langfur, seria:
aquela área geográfica remota da sociedade já estabelecida [ou em vias de se estabelecer], mas central para os povos indígenas, onde uma consolidação ainda não foi assegurada e onde ainda paira uma dúvida sobre o desfecho dos encontros culturais multiétnicos2.
A segunda parte (pp. 111-257), mais extensa, pois composta de quatro capítulos, versa tanto sobre os métodos aplicados pelos padres para doutrinar os índios quanto sobre as estratégias usadas pelos últimos ao se reconstituírem como “grupos étnicos autônomos”, incorporando, neste processo, padrões culturais barroco-cristãos. Desta feita, o terceiro capítulo, retoma o tema da centralidade dos grupos Tupinambá no contexto da colonização e evangelização; por sinal, um tópico muito defendido pelo autor. Neste contexto, é oportuno apontar pesquisas mais recentes que tendem a frisar a complexa mobilidade de grupos indígenas de troncos etnolinguísticos não tupi no vale amazônica em torno da chegada dos portugueses. Assim, a tese do pesquisador Pablo Ibáñez Bonillo chama a atenção a “sistemas regionais multiétnicos”, em razão das presenças (no plural) de falantes de idiomas aruaque e caribe, principalmente, no estuário e no curso inferior do rio Amazonas, relativizando, de certa forma, a suposta predominância tupinambá3. O quarto capítulo aprofunda o projeto de “conversão”, levado a cabo, sobretudo, pelos jesuítas, conforme diretrizes exatas e, também, pragmáticas. Neste contexto, o autor lança mão de duas fontes fundamentais acerca da presença e atuação inaciana na Amazônia: a crônica do padre luxemburguês João Felipe Bettendorff, redigido na última década do século XVII, e os tratados do padre português João Daniel, escritos no terceiro quartel do século seguinte. É com base nesta documentação que Almir Diniz de Carvalho Júnior delineia, de forma nítida e envolvente, a peculiaridade das práticas de missionação na colônia setentrional da América portuguesa. A análise teria ficado mais completa com a inclusão da rica correspondência interna dos inacianos, arquivada no Archivum Romanum Societatis Iesu em Roma4. O fato de esta ter sido escrita, em grande parte, em latim dificulta, infelizmente, o acesso de muitos autores às informações nela contidas. Estas fontes são interessantes, pois, em geral, não reproduzem o estilo marcadamente edificante e moralizante das crônicas, tratando de questões polêmicas ou de dificuldades experimentadas com mais franqueza. O quinto capítulo, que constitui, por assim dizer, o miolo da obra, é diretamente dedicado aos “índios cristãos”. Estes são descritos e analisados como sujeitos inseridos no universo colonial do qual são partícipes – mas, salvaguardando seus interesses –, enquanto principais, pilotos e remeiros, artesãos de diferentes ofícios e, também, guerreiros. Atenta-se igualmente aos “meninos” e às “mulheres” indígenas, o que não é de se admirar, pois ambos os grupos recebem destaque nas crônicas pelo fato de seus integrantes terem sido percebidos pelos missionários como mais acessíveis aos objetivos e pretensões de seu projeto salvacionista. Este capítulo demonstra, de forma “plástica”, o que o autor entende por “índios cristãos”, conceito que, com já mencionamos, foi elucidado no início do livro. Neste contexto, merece menção que refere, por diversas vezes, ao termo de “índios coloniais”, formulado, há quarenta e cinco anos, por Karen Spalding em relação à colonização hispânica5. Embora não cite o nome desta historiadora, Almir Diniz de Carvalho Júnior segue, mesmo em outras circunstâncias e com base em outras experiências, a pista lançada por ela. Enfim, o sexto capítulo, que já constitui uma transição para a terceira parte, apresenta os mesmos “índios cristãos” enquanto praticantes de diversos rituais considerados heterodoxos, resultantes do contato entre suas tradições e cosmovisões xamânicas – ou, como detalha o autor, tupinambá – com os dogmas ensinados e as liturgias encenadas no âmbito das missões.
Finalmente, a terceira parte (pp. 261-320) enfoca, em dois capítulos, os índios cristãos e as “heresias” geradas por eles nas suas interações com o universo católico ibero-barroco, tanto em sua dimensão disciplinadora/institucional como inspiradora/vivencial. Neste sentido, o sétimo capítulo familiariza o leitor com a organização e o funcionamento do Tribunal da Inquisição de Lisboa, que atuava na Amazônia desde meados do século XVII mediante um sistema de captação de denúncias6. Para compreender esta instituição e seu agenciamento na colônia, o autor coloca uma tônica especial na elucidação tanto da concepção erudita quanto da mentalidade popular acerca da magia e feitiçaria na cultura portuguesa da época. Faltou, talvez, neste capítulo um maior aprofundamento da percepção desses fenômenos por parte das autoridades locais e dos moradores do Grão-Pará, visto que o universo de crenças e práticas heterodoxas trazido da Europa se reconfigurou, também por iniciativa dos próprios “brancos”, no contato com as religiosidades indígenas. Implicitamente, isso fica evidente no oitavo, e último, capítulo que aborda casos concretos, bem apresentados e analisados, que envolvem “feiticeiros” e, sobretudo, “feiticeiras” indígenas. Comparando a interpretação inquisitorial, tal como ela transparece nas fontes, com as lógicas próprias do universo simbólico xamânico, estabelecidas por pesquisas de cunho antropológico, Almir Diniz de Carvalho Júnior conclui que as heresias eram “formas autônomas de novas práticas culturais”, engendradas não tanto numa postura de resistência, mas, antes, para fornecer sentido ao mundo ao qual foram forçados a inserir-se. Como já antes, na apresentação dos diferentes grupos de índios cristãos, também neste último capítulo, o autor permite, mediante o aprofundamento de diversos casos e personagens de feiticeiros e feiticeiras, mergulhar no universo ameríndio colonial. Com efeito, o emprego de uma linguagem clara e envolvente parece dar vida às índias Sabina, Suzana e Ludovina que, mesmo taxadas como “feiticeiras” ou “bruxas”, circularam amplamente pela sociedade colonial de seu tempo. Neste contexto, convém lembrar que – e a farta documentação inquisitorial o demonstra – os desvios morais e doutrinais dos “brancos” estiveram muito mais na mira dos oficiais da Inquisição do que os dos índios, mamelucos, cafuzos ou negros, mesmo quando esses eram cristãos. Para aprofundar este aspecto, teria sido interessante dialogar com as pesquisas recentes do historiador Yllan de Mattos, cujos trabalhos, aliás, enfocam a atuação inquisitorial na Amazônia colonial7.
Dito tudo isso, fica óbvio o quanto o livro de Almir Diniz de Carvalho Júnior se destaca por dar visibilidade aos indígenas e suas múltiplas (re)ações dentro das conjunturas e conjecturas que marcaram o processo de colonização do Estado do Maranhão e Grão-Pará. Este processo, em muitos aspectos, diferiu das dinâmicas colônias aplicadas na colônia-irmã mais ao sul, o Estado do Brasil, sendo que a evidência da peculiaridade da colônia amazônica, com seu grande contingente de povos indígenas – seja nas missões, seja nos sertões – constitui outro aspecto significativo da obra a ser retido.
Quanto à agência e ao protagonismo dos índios, o autor, ao examiná-los sob um prisma multifacetário, supera a visão binômica que, durante muito tempo, viu o índio, em primeiro lugar, como indivíduo oprimido e vitimado. A (re)leitura criteriosa feita nas entrelinhas das fontes coloniais deixou evidente o quanto os documentos, embora redigidos com um olhar unilateral – pois sempre imbuído do ensejo do respectivo autor de comprovar o suposto sucesso do projeto da colonização ou missionação – falam necessariamente do índio e trazem, assim, à tona suas práticas culturais heterodoxas e suas negociações ambíguas. Em última análise, estas agências “imprevistas” forçaram os missionários a abrir mão de suas pretendias ortodoxias para, num patamar ortoprático, poder se comunicar, mesmo incompletamente, com seus catecúmenos e neófitos indígenas8.
Enfim, vale ressaltar que a pesquisa Almir Diniz de Carvalho Júnior é uma contribuição fundamental para a Historiografia acerca da Amazônia Colonial, que, nos últimos anos, conheceu um crescimento significativo, sobretudo devido à consolidação dos Programas de Pós-Graduação em História em diversas universidades da região. A leitura da obra é, assim, imprescindível não só para aqueles e aquelas que pesquisam, academicamente, as agências indígenas na fase colonial, mas também para todos e todas que procuram entender mais a fundo o devir das populações e culturas tradicionais da Amazônia que, de uma forma ou outra, descendem e/ou emanam dos sujeitos analisados por Almir Diniz de Carvalho Júnior.
Notas
1 O título da tese foi “Índios cristãos: a conversão dos gentios na Amazônia Portuguesa (1653-1769)”. O autor jádivulgou antes, o resultado de sua pesquisa de doutoramento sob forma de artigo científico: CARVALHOJÚNIOR, Almir Diniz de. Índios cristãos no cotidiano das colônias do Norte (séculos XVII e XVIII). Revista deHistória. São Paulo, 2013, vol. 168, fasc. 1, pp. 69-99.
2 LANGFUR, Hal. The Forbidden Lands: Colonial Identity, Frontier Violence, and the Persistence of Brazil’s Eastern Indians, 1750-1830. Stanford: Stanford University Press, 2006, p. 5. Tradução do inglês pelo autor da resenha.
3 BONILLO, Pablo Ibáñez. La conquista portuguesa del estuario amazónico: identidad, guerra, frontera. Tese de doutorado, História e Estudos Humanísticos: Europa, América, Arte e Línguas, Departamento de Geografia, História e Filosofia, Universidad Pablo de Olavide, Sevilha, 2015, pp. 120-147. Em co-tutela com a University of Saint Andrews, Reino Unido.
4 No Archivum Romanum Societatis Iesu, os documentos referentes à Missão e, a partir de 1727, Vice-Província do Maranhão encontram-se, principalmente, nos códices Bras. 3/II, 9 e 25-28.
5 SPALDING, Karen. The Colonial Indian: Past and Future Research Perspectives. Latin American Research Review. Pittsburgh, 1972, v. 7, n. 1, pp. 47-76.
6 Neste sentido, os “Cadernos do Promotor”, arquivados no Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), em Lisboa, e muito citado Almir Diniz de Carvalho Júnior, são importantes.
7 MATTOS, Yllan de. A última Inquisição: os meios de ação e o funcionamento do Santo Ofício no Grão-Pará pombalino, 1750-1774. Jundiaí: Paco Editorial, 2012; MATTOS, Yllan de & MUNIZ, Pollyanna Mendonça (Orgs.). Inquisição e justiça eclesiástica. Junidaí: Paco Editorial, 2013.
8 Quanto à alteração da ortodoxia em “ortoprática” no processo de missionação, ver GASBARRO, Nicola. Missões: a civilização cristã em ação. In: MONTERO, Paula (Org.). Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006, pp. 71-77.
Karl Heinz Arenz – Professor da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará (UFPA).
CARVALHO JÚNIOR, Almir Diniz de. Índios cristãos: Poder, magia e religião na Amazônia colonial. Coritiba: Editora CRV, 2017, 355p. Resenha de: ARENZ, Karl Heinz. Canoa do Tempo, Manaus, v.10, n.1, p.216-221, 2018. Acessar publicação original. [IF]
Estudos Célticos no Brasil / Brathair / 2018
Celtas? No Brasil? Essa é sempre a primeira pergunta que qualquer um dos colegas e alunos ouve quando menciona que tem se dedicado em nossas universidades ao que chamamos de Estudos Célticos. Primeiro, por uma questão de desconhecimento dos recursos disponíveis hoje para pesquisa. Depois, por uma visão um tanto restrita, que presume que aqui se faça tão somente história local ou mesmo que uma história da Europa se insira na antiga perspectiva de “História Geral” e em uma perspectiva antiquada dos estudos da antiguidade e do medievo que seriam dissociados dos debates teórico-conceituais no campo da História e nas grandes áreas de Humanidades e das Ciências Sociais. Entre nossos colegas no Brasil, ainda existe uma visão arraigada de que os estudos da antiguidade e do medievo sejam essencialmente eurocêntricos. Infelizmente, confundem região geográfica com perspectiva de abordagem. Desconhecem, ou preferem ignorar, que a história europeia (independentemente do período abordado) não segue mais uma perspectiva centrada no território europeu e que trabalhamos hoje com horizontes, geográficos e conceituais, muito mais amplos. Olvidam, sobretudo, que o conceito de Europa, como eles empregam, é uma construção da Época moderna e que várias foram as suas acepções (Cf. DUSSELL, 2000, pp. 41- 45). Essas mudanças de sentido são justamente parte das investigações dos últimos 30 anos tanto por colegas europeus quanto latino-americanos, que têm defendido pensar a antiguidade e o medievo em uma perspectiva global – de migrações, de circulação de pessoas, ideias e artefatos, de interações nas mais diferentes escalas e de criação de uma grande variabilidade cultural a partir desses contatos. Hoje, prevalece o paradigma da conectividade onde a noção de eurocentrismo não tem lugar e onde o desenho da Europa, bem como as noções de Oriente e Ocidente são desnaturalizadas.
No caso dos Estudos Célticos, essa perspectiva global é crucial pela própria forma do campo, que é multidisciplinar (abarcando Antropologia, Arqueologia, Artes, Filosofia, História, Sociologia, Letras e Teologia) e encerra uma larga temporalidade (desde a Pré-história até a Contemporaneidade). Ao contrário do que presume o senso comum, os Estudos Célticos não se resumem ao estudo das regiões da chamada “franja céltica” como imaginada pelos cronistas anglo-saxões, isto é, de Cornuália, Gales, Escócia e Irlanda. Em termos de geografia, tratamos de todas as regiões do território europeu onde temos vestígios de uso de línguas célticas ou achados arqueológicos de populações classificadas como celtas, ou regiões habitadas por populações que identificam-se etnicamente como tais, ou ainda de regiões para onde houve migrações dessas populações ou delas descendentes. Nesse sentido, os Estudos Célticos abrangem não somente as construções e migrações da pré-história e do medievo, mas também da época moderna e da contemporaneidade, de modo que migrações (forçadas ou não) para a Oceania e as Américas, por exemplo, são temas prestigiados na área.
Por esse ângulo, a existência de Estudos Célticos no Brasil não seria de se estranhar; afinal eles se vinculam à história das migrações para a região. Contudo, não podemos resumi-la a isso. Em verdade, a maior parte das pesquisas que têm sido feitas no país não se refere ao período moderno ou contemporâneo, como ressalta Eoin O’Neill em seu artigo neste número. Nem tampouco são desenvolvidos exclusivamente por pessoas que migraram para o Brasil de países onde línguas célticas são faladas ou de regiões que se consideram de alguma forma herdeiras de uma herança cultural ‘celta’. Pelo contrário, são trabalhos devotados à antiguidade e ao medievo, aos usos desse passado e à criação do imaginário sobre essas sociedades. São trabalhos que enveredam pelo campo de estudos de etnogênese, do imaginário, do agenciamento, do decolonial e dos grupos subalternos. Trata-se de um “olhar do sul”, como diriam nossos colegas de teoria da História, que traz histórias alternativas desse passado.
Nessas últimas duas décadas, desde a criação da Brathair em 2001, já contamos com uma série de publicações, teses, dissertações e monografias de final de curso dedicadas a temas de Estudos Célticos nas universidades brasileiras. Boa parte dessa produção tem sido nos campos de História e Arqueologia, mas também temos contado com o trabalho de colegas das áreas de letras, filosofia e ciência da religião. Muitos temos criado grupos de pesquisa (registrados no CNPq), que têm promovido debates e eventos temáticos, trazendo vários colegas de diferentes universidades europeias, e em alguns casos, como no curso de História da UFF (no campus do Gragoatá), também conseguimos incluir cursos específicos sobre pré-história europeia e Idade do Ferro na Europa Centro-Ocidental na grade curricular. Hoje, nossos alunos têm um maior intercâmbio com colegas de universidades estrangeiras, participando de eventos internacionais e fazendo estágios de pesquisa em universidades e instituições de pesquisa europeias. Essas quase duas décadas permitiram-nos a formação e qualificação de nossos quadros, mas a criação do campo em si no país, como dizemos em língua inglesa, é ainda work in progress. A maior parte desse desenvolvimento tem sido graças a ações individuais, muitas vezes isoladas, como bem destaca O’Neill em sua apreciação do campo. Em boa parte, ainda não contamos com o reconhecimento das instituições. Os financiamentos são pontuais e mais direcionados à formação de futuros quadros, mas novamente com pouco espaço para inclusão desses novos quadros em currículos que seguem padrões e divisões mais tradicionais.
Com efeito, é em virtude desse formato antiquado que muitos ainda pensam que não há lugar para Estudos Célticos no Brasil. Mas a pergunta que deveriam nos fazer não é se é possível trabalhar com Estudos Célticos no Brasil e sim o que temos a dizer e como estamos contribuindo para essa área no Brasil. Em outras palavras, como esse “olhar do sul” tem explicado essa história europeia e em que medida ele dialoga com as correntes interpretativas consolidadas na academia internacional. E mais: como explicamos o crescente interesse nessa área no Brasil? Afinal, a cada novo curso oferecido, a cada publicação completada vemos um maior interesse por parte de pessoas fora da academia. Certamente, esse interesse é guiado pela celtomania3 que se encontra largamente difundida no senso comum; e isso não é prerrogativa do Brasil. Movimentos religiosos neo-pagãos têm aumentado ao redor do mundo (a exemplo da Wicca, da Ordem Druídica e diversas formas de xamanismo contemporâneo), mas também é crescente o fascínio com as populações da Idade do Ferro na Europa centro-ocidental e com o imaginário medieval – principalmente aquele veicula nas literaturas vernáculas galesa e irlandesa. São fenômenos que têm alimentado a divulgação de estereótipos e de visões fantasiosas sobre esse passado, como observam aqui os ensaios de Lupi e de O’Neill. E boa parte das pesquisas feitas no Brasil têm buscado responder, ou melhor, combater, justamente essa sorte de visão.
Os artigos publicados neste dossiê sobre Estudos Célticos no Brasil comprovam como o campo cresceu nos últimos anos e evidenciam a diversidade de abordagens exploradas. A despeito dos desafios institucionais e financeiros enfrentados por pesquisadores das humanidades dentro e fora do Brasil, a cada ano mais pesquisadores brasileiros escolhem investigar as sociedades celtas ou de línguas celtas. As motivações são difíceis de avaliar. Nenhum mapeamento e identificação dos pesquisadores brasileiros dedicados aos estudos celtas nos fornecerão uma explicação para este interesse para além do fato de que felizmente os acadêmicos brasileiros são, como quaisquer outros acadêmicos, curiosos, interessados no passado da humanidade e interessados no Outro. Aos ouvidos dos estrangeiros, esta afirmação pode soar estranha após ter sido noticiado ao mundo o triste fato de que Museu Nacional do Brasil – o museu mais importante do país com artefatos de valor arqueológico, histórico, de história natural, e etnológico – sucumbiu às chamas em 02.09.2018. Contudo, isto é descaso de um grupo político que governa para seus próprios interesses, e não dos pesquisadores das ciências sociais e de humanidades que lutam diariamente para conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância e o direito de conhecer a história da humanidade.
Esse dossiê fornece uma pequena amostra da variedade de projetos de pesquisas desenvolvidos no Brasil que se encaixam no que são considerados Estudos Celtas. Estão nele incluídas temporalidades e localidades diversas: Idade do Ferro (Trombetta, Tacla e Peixoto), Províncias Romanas (Vital), Relações entre o mundo insular e o continente na Antiguidade Tardia (Santos e Belmaia)4, França Medieval (Sinval), Irlanda na Era Moderna (O’Neill) e Irlanda na Contemporaneidade (Abrantes).
Aqui, pode-se encontrar uma gama dos debates conceituais contemporâneos (Santos, Tacla, Abrantes, O’Neill, Pedreira, Lupi, Trombetta) em que nos são apresentadas múltiplas abordagens e diferentes métodos de pesquisa. Lupi faz um ensaio sobre o campo, a trajetória e proposta do Brathair. Inicialmente um grupo de pesquisa, hoje é mais um espaço de debates, tendo a publicação dessa revista e a organização de um evento bianual e itinerante como seus principais focos de atuação. Outros grupos de pesquisa têm contribuído para expansão das pesquisas no campo, como por exemplo, o LARP5 (Laboratório de Arqueologia Romana Provincial), do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, onde pesquisadores têm se dedicado ao estudo das províncias da Britânia, Gália e Hispânia, como é o caso de Silvana Trombetta, que contribui para o presente dossiê com a discussão acerca da etnogênese céltica e o aporte da arqueologia ibérica. Discutindo as novas interpretações do paradigma atlântico6, ela expõe os limites da pesquisa e da atual interpretação.
Outro grupo que tem trabalhado em Estudos Célticos é o NEREIDA7 (Núcleo de Estudos de Representações e Imagens da Antiguidade) da Universidade Federal Fluminense, que tem desenvolvido pesquisas em Pré-história europeia (principalmente Idade do Ferro) e romanização da Britânia, Gália e Hispânia, além de percepção e usos do passado na contemporaneidade. Neste dossiê, temos três contribuições de pesquisadores desse grupo. Do campo das Humanidades Digitais, Tacla propõe aqui a análise numismática a partir do uso de tecnologias 3D. Fazendo uso da técnica de Reflectance Transformation Imaging e apoiada na aplicação das teorias sobre agenciamento e biografia dos artefatos, ela demonstra como podemos trazer um novo olhar para o tradicional estudo das cunhagens da Idade do Ferro. O estudo dessas imagens monetárias tem muito a ganhar com as novas técnicas de visualização, que contribuem para a sua compreensão tanto quanto do artefato monetário em si. Do mesmo modo, dentro dos estudos de agenciamento dos artefatos, Érika Vital Pedreira propõe um novo tratamento do conceito de triplismo a partir da epigrafia. Conceito originalmente cunhado nas décadas de 1920 e 1930, o triplismo, quando entendido como um fenômeno uno, como ela aponta, é inadequado para definir a miríade de práticas cultuais e a complexidade dos títulos e epítetos dedicados às divindades femininas em epígrafes votivas nas províncias Hispania, Gália e Britânia entre os séculos II a.C. e III d.C. Ela defende, na verdade, que se fale de triplismos (no plural) a fim de abarcar a multiplicidade de práticas culturais evidenciadas a partir da cultura material nessas províncias. Igualmente vinculado às pesquisas do NEREIDA, o trabalho de Pedro Peixoto põe em questão a visão largamente difundida da configuração social das populações da Idade do Ferro. Com efeito, ele contesta uma visão profundamente arraigada nos Estudos Célticos – e no senso comum – acerca da atuação das mulheres nas comunidades da Idade do Ferro, bem como o androcentrismo predominante no discurso acadêmico acerca dessas sociedades.
Em contraste, Dominique Santos, também baseado nos estudos epigráficos, informa ao público brasileiro sobre seu trabalho com as ogham stones através do exemplo de uma importante ogham encontrada no País de Gales que apresenta inscrições na línguas romana e ogham. Sua pesquisa enfoca o período do desenvolvimento da escrita no mundo insular e as trocas culturais que se deram ao redor do mar da Irlanda durante a Antiguidade Tardia. Semelhantemente, o artigo de Nathany Belmaia aborda as relações entre o mundo insular o continente. Esta aborda as interações entre os monaquismos insulares e o romano e a disputa sobre a datação da Páscoa travada no século VII. Os trabalhos de Santos e Belmaia representam um grupo de jovens pesquisadores que trabalham no campo da Antiguidade Tardia e Alta Idade Média. Há um número considerável de pesquisadores que desenvolveram teses de mestrado e doutorado circunscritas nestes períodos históricos investigando sociedades e regiões ditas celtas, como a Irlanda e a Escócia primordialmente. Contudo, Santos é um dos poucos pesquisadores que trabalham com estas temáticas que até o momento foram bem sucedidos em assegurar a posição de professor em uma instituição de ensino superior no Brasil. Seu trabalho em Blumenau levou à criação do LABEAM (Laboratório Blumenauense de Estudos Antigos e Medievais) 8.
Um campo que frequentemente desperta o interesse de acadêmicos brasileiros é o estudo da literatura medieval francesa. Obviamente que esta vasta literatura abre caminhos para diferentes abordagens. Sinval Gonçalves, por exemplo, enfatiza como o Conto do Graal de Chrétien de Troyes nos informa sobre o processo de interiorização do conceito de culpa e pecado por leigos no século XII. Enquanto que Pedro Fonseca, na sessão de artigos livres, investiga como ideias misóginas foram difundidas nos séculos XI e XII. Ele analisa aspectos do trabalho de Marbodo de Rennes, evidenciando como este se utilizou tanto de construções literárias do paganismo clássico como dos padres da igreja. Fonseca argumenta que ainda que trabalhos como o de Marbodo tivessem primordialmente um objetivo literário, ou seja, representassem um “mero jogo de fórmulas retóricas para a demonstração de destrezas e de dotes literários” eles ilustram o que de fato eram pensamentos recorrentes na época.
Eoin O’Neill faz uma importante análise sociológica, histórica e política do conceito de celtas e de gaélicos, evidenciando como os primeiros foram incorretamente empregados e apropriados por diferentes grupos e como estes últimos estão sendo estudados (ou pouco estudados como afirma o autor) e apreciados. O ensaio de O’Neill também fornece uma visão geral muito lúcida do panorama acadêmico brasileiro. Ele identificou corretamente os desafios institucionais para o crescimento do campo de Estudos Celtas no Brasil.
O campo dos Estudos Célticos é extremamente instigante para esse processo de transformação da nossa academia, justamente por nos convocar a superar as tradicionais fronteiras de nossas disciplinas e, por exemplo, por romper, outrossim, com as tradicionais periodizações adotadas no Brasil. Precisamos confrontar sociedades da Idade do Ferro com os relatos e registros medievais, tal como com suas apropriações e idealizações na modernidade e na contemporaneidade. Ademais, até dentro desses recortes temporais clássicos, devemos observar a existência de diferentes cronologias e desdobramentos. Se tomarmos a Irlanda Gaélica como exemplo, temos um recorte que abrange desde o baixo medievo ao início da época moderna. São então fronteiras físicas, temporais e disciplinares que devemos avançar; o que decerto nos lançam novas questões.
Parte desses desafios está na análise dos conceitos do campo, a exemplo da “Celticidade”, aqui explorada por Elisa Abrantes. Ela evidencia que desde o século XIX o conceito de “Celta” tornou-se importante para a Irlanda contemporânea, e que a idéia de ser Celta contribui para a definição do sentimento de identidade irlandês. Contudo, ela demonstra que este é uma construção e, por conseguinte, deve ser questionado, ainda que seja uma construção sócio-histórica útil. Além do mais, ela conclui que a Irlanda do século XXI enfrenta desafios para reinventar o conceito de Irishness a fim de incluir a grande quantidade de imigrantes que a sociedade tem englobado.
O trabalho de Abrantes é um exemplo do que nós devíamos talvez rotular mais apropriadamente como “Estudos Irlandeses”, e está associado a duas importantes instituições que fomentam este campo no Brasil. Estas são a ABEI – Associação Brasileira de Estudos Irlandeses – e a Cátedra de Estudos Irlandeses W.B. Yeats da Universidade de São Paulo. Estas instituições representam hoje os principais centros de disseminação de Estudos Irlandeses no Brasil. A maioria dos pesquisadores associados a essas instituições trabalham com literaturas e línguas modernas (inglesa primordialmente); contudo, elas também integram os trabalhos de historiadores trabalhando com Antiguidade Tardia e História Medieval Irlandesa, como Dominique Santos e Elaine Pereira Farrell.
Fechando esse número da Brathair, temos a sessão de traduções, com o trabalho de Susani França e Rafael Afonso Gonçalves sobre o Livro do Estado do Grande Khan, enquanto nas resenhas temos a apresentação das obras de Barbara Rosenwein Generations of Feelings, sobre a construção de “comunidades emocionais” no medievo, e de Ricardo da Costa Impressões da Idade Média, que traz uma coletânea de artigos do autor. Ambas exploram abordagens interdisciplinares e de longa duração para o estudo do medievo. Enquanto Costa expõe diferentes olhares sobre o medievo, Rosenwein lança uma nova perspectiva para os estudos do imaginário e das mentalidades, explorando os sentidos e a percepção como cruciais para a apreensão dessas sociedades.
Por fim, diante da miríade de perspectivas, recortes, temporalidades e espacialidades que apresentamos neste dossiê, fica a questão do que entendemos como Estudos Célticos no Brasil. O que nos une? Como podemos expandir nossas fronteiras de pesquisa e atuação? Como contribuir para o seu florescimento e divulgação?
Como ponto de partida e como proposto acima, temos a discussão e definição de conceitos, cronologias e recortes. Para tanto, é fundamental que avancemos em problemáticas de pesquisa comuns às diferentes disciplinas e recortes temporais. Se observarmos a frequência e o tópico das apresentações no International Congress of Celtic Studies9 a cada quadriênio e das publicações e cursos do campo, veremos o predomínio de pesquisas sobre o medievo e da área de letras (seja em literaturas, seja em linguística). Como observaram Hale and Payton (2000: 1-2), os pesquisadores do campo ainda são reticentes em tratar de fenômenos contemporâneos, e, a nosso ver, ainda são poucos os modernistas que aderem a essa área. Entre os pesquisadores da Idade do Ferro é cada vez menor o número que tem se dedicado aos debates da área e menor ainda daqueles que frequentam os eventos e que aderem a publicações do campo, mormente em virtude do ceticismo céltico10. Entretanto, como uma das organizadoras deste dossiê defende (TACLA e JOHNSTON, 2018 – no prelo), precisamos ampliar a definição desse conceito e não restringi-lo a um único recorte temporal11, a fim de ampliar também as nossas fronteiras de pesquisa e o diálogo transdisciplinar. É preciso, pois, entender que o “celta é tão diverso quanto a sua própria história” (TACLA e JOHNSTON, 2018 – no prelo).
Notas
1 Professora Associada I da Universidade Federal Fluminense, doutora em arqueologia pela Universidade de Oxford, desenvolveu pós-doutorado recém doutor (2008-2009) e pós-doutorado sênior (2017-2018) no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Sua pesquisa atual em conjunto com Lynette Mitchell (Universidade de Exeter) conta com financiamento da British Academy – Newton Advanced Fellowship.
2 Doutora em História pela University College Dublin (UCD. Atualmente pesquisadora do Irish Research Council (IRC) e co-financiada pela Marie Skłodowska-Curie Actions. A primeira parte da pesquisa foi desenvolvida na Universiteit Utrecht e está sendo concluída da University College Dublin.
3 Sobre esse tema, recomendamos ver Décimo (1998), Rieckhoff (2001), Sims-Williams (1998).
4 Entendemos como mundo insular primordialmente as várias localidades em torno do Mar da Irlanda (atualmente: República da Irlanda, Ilha de Man, País de Gales, Inglaterra e Escócia) como definido por Santos em sua contribuição nesta edição. O uso do termo Insular world tem sido optado por alguns pesquisadores para evitar outros termos que carregam significados geopolíticos conflitantes. Um exemplo é a rede Converting the Isles (https: / / www.asnc.cam.ac.uk / conversion / about.html, acessado em 31 / 10 / 2018); entretanto, essa rede inclui também a Escandinávia.
5 http: / / www.larp.mae.usp.br
6 Sobre essa questão, ver Cunliffe (2010).
7 http: / / www.historia.uff.br / nereida / ; http: / / dgp.cnpq.br / dgp / espelhogrupo / 1860859683759986
9 A décima sexta edição deste congresso ocorrerá entre os dias 22 e 26 de Julho de 2019 na Bangor University: http: / / celticcongress.bangor.ac.uk
10 Esse debate é vastíssimo. Para começar a se familiarizar com ele, recomendamos ver Collis (1997, 2003), Karl (2004, 2010, 2016), Sims-Williams (1998). Para o debate acerca da etnicidade céltica na Irlanda medieval, ver Wooding (2009).
11 Ver também Wooding (2017).
Referências
COLLIS, John. Celtic Myths. Antiquity, 71, n. 271, 1997, pp. 195-201.
______. The Celts: Origins, Myths & Inventions. Stroud: Tempus Pub Ltd, 2003.
CUNLIFFE, Barry. Celticization from the West: The Contribution from Archaeology. In: ______; KOCH, John T. (Eds.) Celtic from the West: Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language, and Literature. Oxford: Oxbow Books, 2010, pp. 13-38.
DÉCIMO, Marc. La celtomanie au XIXe siècle. Bulletin de la Société de linguistique de Paris, XCIII (1), 1998, pp. 1-40.
DUSSELL, Enrique. Europa, Modernidade e Eurocentrismo. In: LANDER, Edgardo (org.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2000, pp. 41-54.
HALE, Amy; PAYTON, Philip. Introduction. In: HALE, Amy; PAYTON, Philip (Eds.). New Directions in Celtic Studies. Exeter: University of Exeter Press, 2000, pp. 1- 14.
KARL, Raimund. Celtoscepticism, A Convenient Excuse for Ignoring NonArchaeological Evidence? In: SAUER, Eberhard. (Ed.) Breaking Down the Boundaries: The Artificial Archaeology – Ancient History Divide. Londres / Nova York: Routledge, 2004, pp. 185-199.
______. The Celts from Everywhere and Nowhere: a Re-evaluation of the Origins of the Celts and the Emergence of Celtic Cultures. In: CUNLIFFE, Barry; KOCH, John T. (Eds.) Celtic from the West: Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language, and Literature. Oxford: Oxbow Books, 2010, pp. 39-64.
______. Interpreting Iron Age Societies. In: MÜLLER, Holger A. (Org.) Keltische Kontroversen II. Gutenberg: Computus, 2016.
RIECKHOFF, Sabine. Die Kelten in Deutschland – Kultur und Geschichte. Kelten heute. In: ______ ; BIEL, Jörg. (Hrgs.) Die Kelten in Deutschland. Stuttgart: Konrad Theiss, 2001, pp. 13-19.
SIMS-WILLIAMS, Patrick. Celtomania and Celtoscepticism. Cambrian Medieval Celtic Studies, 36, 1998, pp. 1-35.
TACLA, A.B.; JOHNSTON. E. Estudos Célticos: para onde vamos a partir de agora? Tempo, 24 (3), 2018, pp. 613-620. Disponível em: http: / / dx.doi.org / 10.1590 / tem1980-542x2018v240310 (no prelo).
WOODING, Jonathan. Reapproaching the Pagan Celtic Past: Anti-Nativism, Asterisk Reality and the Late-Antiquity Paradigm. Studia Celtica Fennica, 6, 2009, pp. 61- 74.
______. Tyrannies of Distance? Medieval Sources as Evidence for Indigenous Celtic and Romano-Celtic Religion. In: HAEUSSLER, Ralph; KING, Anthony (Eds.). Celtic Religions in the Roman Period: Personal, Local, and Global. Celtic: Aberystwyth, 2017, pp. 57-70.
Adriene Baron Tacla1 Docente IH / UFF / NEREIDA [email protected]
Elaine Pereira Farrell2 Pesquisadora do Irish Research Council / UCD / University of Utrecht [email protected]
TACLA, Adriene Baron; FARRELL, Elaine Pereira Editorial. Brathair, São Luís, v.18, n.1, 2018. Acessar publicação original [DR]
Centro e periferia: conceitos e reflexões sobre novas perspectivas de perceber o medievo / Brathair / 2018
Podemos utilizar conceitos tão atuais como “Centro” e “Periferia” para a Idade Média sem incorrermos em anacronismo? Acreditamos que sim! Dentre outras possibilidades, assinalamos abordagens que destaquem a relação de fronteira e dependência, típicos do fenômeno do capitalismo; a correlação entre os espaços da urbs e do ager ou reflexões que valorizem aspectos identitários, complementares, representativos, que nos levam a pensar a condição periférica de forma móvel, dinâmica e criativa.
Defendemos, pois, que contribuições conceituais, teóricas e metodológicas recentes têm permitido um redimensionamento da relevância do(s) centro(s) e da(s) periferia(s) na análise histórica. Para além de uma visão econômica, tais contribuições têm enriquecido estudos acerca da construção sociocultural de identidades e das representações sociais – tais como estabelecidos e outsiders –, em disputas conservadoras ou progressistas. Enfatizamos ainda suas interações no campo religioso, na arte, na arquitetura.
Ao atentar para a relação entre centro-periferia no medievo, a proposta deste dossiê é contestar a percepção dual presente nos primeiros estudos históricos dedicados à temática: trabalhando, deste modo, os aspectos relacionais e as construções decorrentes do antagonismo ou assimilação representados. Com isso, nos interessa colocar em perspectiva referências como cultura popular e erudita, poder das elites e resistências populares, hereges e ortodoxos, cristãos e pagãos, judeus e / ou muçulmanos, dentre outras. Vislumbrando como seus aspectos formativos e discursos relacionais fazem parte de um constructo social imaginário que, pela identificação, apontam para diversas elaborações e estratégias sociais.
Neste Dossiê temos a oportunidade em experimentar essas visões, quando percebemos no artigo do professor Bruno Oliveira (UFF), a identidade do centro romano, servindo como percepção e disputa de identidade na Britannia, no período da passagem da Antiguidade ao Feudalismo através da circulação de bens, ideias e pessoas. O autor discute que, longe de uma ideia de “crise” do Império Romano houve nesta região produção de riqueza e trocas comerciais, o que é provado pela presença de vestígios da cultura material na Britânia, como mosaicos e a ampliação das casas das elites romano-bretãs.
Já no texto do docente Paulo Duarte (UFRJ) observamos como ocorre o discurso de centralidade eclesiástica na formação da Ecclesia romana, e suas disputas contra episcopados mais estruturados, como o de Arlés entre a primeira metade do século V e meados do século VI. O autor utiliza conceitos propostos pelo sociólogo Pierre Bourdieu como suporte para a sua análise.
Ainda sobre a tensão relativa à construção da identidade da Igreja romana, atravessamos alguns séculos para conhecer seus conflitos com as ordens de cavalaria, através do artigo do professor Guilherme Queiroz Silva (UFPB), em uma disputa de discursos com base em textos escritos por Galberto de Bruges (†c. 1134) e Gisleberto de Mons (c. 1150-1224) que muito explicitam sobre a própria Idade Média.
Nossas imersões às fronteiras ilusórias do conceito nos levam a possibilidades muito mais distantes, como as do imaginário, construído sobre a ponte dos mortos e seu papel no Purgatório e Inferno através da viagem ao Além-túmulo na obra Visão de Túndalo, tecidas no texto da professora Solange Oliveira (UFF). Ou quem sabe ainda, podemos ir ainda mais distante, quando pensamos nas relações do cristianismo com a China na Idade Média Tardia (séculos XVI-XVII), através das considerações da professora Adriana de Carvalho (UNESA / UERJ), acerca dos objetivos dos jesuítas de “controle das almas” nessa região, unindo imaginário, territorialidade e relações de poder.
Esta edição da Brathair conta ainda com relevantes contribuições sobre os debates do medievo na atualidade, em especial nas suas dinâmicas culturais, que dialogam com a proposta do Dossiê e nos permitem refletir sobre tais conceitos na Idade Média. Neste sentido, o professor Sérgio Feldman (UFES) nos oferece visões importantes sobre corpo e desejo, tendo por base o pensamento dos bispos Agostinho de Hipona (354-430) e Isidoro de Sevilha (560-636), que influenciaram a legislação canônica nos séculos XI e XII. Já o professor Alex Oliveira (UNESA) analisa a estrutura monástica hispânica através de duas obras produzidas no reino visigodo no século VII, a saber, a Regula Monachorum e a Regula Isidori, escritas respectivamente por Frutuoso de Braga e Isidoro de Sevilha.
A professora Maria Nazareth Lobato (UFRJ) nos apresenta o ideal de rei na concepção do bispo João de Salisbury, com base em sua obra Policraticus (século XII), produzida na Inglaterra, voltada ao soberano Henrique II Plantageneta, discutindo o papel dos poderes espiritual e temporal de acordo com esse eclesiástico. Por fim, a professora Maria Eugênia Bertarelli (UFRRJ) nos oferece um debate sobre a cultura escrita e oralidade na Baixa Idade Média, tendo como objeto de análise o canto V da Divina Comédia, de Dante Alighieri.
A edição 2018.2 conta também com três resenhas. O docente Bruno Alvaro (UFS) analisa a publicação Cavalaria e Nobreza: entre a História e Literatura, livro autoral dos docentes Adriana Zierer e Álvaro Alfredo Bragança Júnior, que discute a cavalaria principalmente com base em fontes literárias da Península Ibérica e do mundo germânico. O professor João Lupi (UFSC) discorre sobre a importância do livro La Edad Media em capítulos, de Lídia Raquel Miranda, a qual busca oferecer um estudo introdutório sobre este período. Na terceira resenha da edição, a professora Rita Pereira (UESB) aborda a publicação A escrita da história de um lado a outro do Atlântico, coletânea organizada por Maria Eurídice Ribeiro e Susani França. O livro conta com a participação de docentes brasileiros e lusos, visando contribuir com a historiografia do medievo nos dois lados do Atlântico.
Esperamos através do dossiê Centro e Periferia: conceitos e reflexões sobre novas perspectivas de perceber o Medievo contribuir para as reflexões sobre os conceitos de centro e periferia e ensejar novos estudos sobre a temática proposta, visando enriquecer as abordagens sobre a chamada longa Idade Média, colaborando com visões críticas acerca deste período, tais como as proporcionadas pela revista Brathair nessa edição.
Rodrigo dos Santos Rainha – UNESA / PEM-UERJ. E-mail: [email protected]
Paulo Duarte da Silva – IH / PEM-UFRJ. E-mail: [email protected]
RAINHA, Rodrigo dos Santos; SILVA, Paulo Duarte da. Editorial. Brathair, São Luís, v.18, n.2, 2018. Acessar publicação original [DR]
Perspectivas e Diálogos | UNEB | 2018
Perspectivas e Diálogos: Revista de História Social e Práticas de Ensino (Caetité, 2018-) é um periódico semestral, online, associado ao grupo de pesquisa Núcleo de História Social e Práticas de Ensino (Nhipe/Cnpq) do Departamento de Ciências Humanas, campus VI, da Universidade do Estado da Bahia, localizado na cidade de Caetité, Bahia, e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade (PPGELS) do Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, da Universidade do Estado da Bahia.
A Revista tem por objetivo divulgar produções originais e inéditas de relevância científica na área de História com ênfase na História Social, na História da Educação e Pesquisa e Práticas de Ensino de História.
A Revista dialoga com a literatura, a filosofia, a antropologia, a sociologia, a arqueologia, as variadas linguagens imagéticas e sonoras (cinema, fotografia, iconografia, música) e com as tecnologias de informação e de comunicação na pesquisa e no ensino.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
Ensino de Geografia | UFPE | 2018
A Revista Ensino de Geografia (Recife, 2018-) é uma publicação científica do Laboratório de Ensino de Geografia e Profissionalização Docente (LEGEP) da Universidade Federal de Pernambuco, que publica artigos científicos, revisões bibliográficas, resenhas e notas referentes a área de ensino de Geografia e afins.
Periodicidade quadrimestral
Acesso livre
ISSN 2594-9616
Acessar resenhas [Não publicou resenhas até 2021]
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Das Amazônias | UFAC | 2018
Das Amazônias – Revista Discente do Curso de História da Universidade Federal do Acre (Rio Branco, 2018-) é vinculada a área de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Acre (CFCH/UFAC).
Tem por objetivo mobilizar e envolver pesquisadores, professores e estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de Ciências Humanas, Educação e Linguagens, bem como manter relações com as experiências de professores da educação básica e de movimentos sociais das florestas e cidades amazônico-andinas.
As contribuições, na forma de artigos, entrevistas, resumos e resenhas, poderão ser livres ou vinculadas a dossiês temáticos organizados por profissionais dos cursos de História da UFAC e outras instituições.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 2674-5968 (Eletrônico)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções / Albuquerque: Revista de História / 2018
É com satisfação que apresentamos ao público mais um número de Albuquerque: Revista de História. Em sua vigésima edição a revista trás onze artigos produzidos por professores e pesquisadores brasileiros e argentinos, que compõem o dossiê América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções, correspondente ao resultado, ainda que parcial, do projeto “Associados de Pós-Graduações Brasil-Argentina (CAFB-BA)”.
Desenvolvido entre os anos de 2014 e 2017, sob avaliação e financiamento, no Brasil, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e, no caso argentino, pela Secretaria de Políticas Universitárias (SPU), o projeto “Associados de Pós-Graduações Brasil-Argentina (CAFB-BA)”, coordenado na Argentina e no Brasil, respectivamente, pelos professores Sebastián Valverde e Marco Aurélio Machado de Oliveira, buscou interligar, por meio do intercâmbio de pesquisadores desses dois países, o Programa de Pós Graduação em nível de Mestrado em Estudos de Fronteiriços (PPGMEF) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Instituição de Ensino Superior (IES) na Região Centro-Oeste do Brasil, e da Escola de Pós-graduação de Antropologia e Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires (FFyL-UBA), Cidade Autônoma de Buenos Aires, República Argentina.
O aprofundamento da análise desse projeto aparece no artigo que abre o dossiê América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções, intitulado “Experiencias de intercambio entre Brasil y Argentina: contexto socioeconómico, cientificismo y abordajes críticos”, de autoria de Ivana Petz, pesquisadora ligada ao Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET / Universidad de Buenos Aires, à Facultad de Filosofía y Letras, ao Instituto de Ciencias Antropológicas e à Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil; María Cecilia Scaglia, professora do Instituto de Ciencias Antropológicas e integrante da Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil da Universidad de Buenos Aires; e Sebastián Valverde, pesquisador do Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET / Universidad de Buenos Aires e profesor do Instituto de Ciencias Antropológicas da Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Sociales.
Frisando as diferenças de perfil da Universidade de Buenos Aires (UBA), historicamente mais acadêmico, e do Mestrado em Estudos Frnteiriços (MEF), de caráter profissionalizante, o artigo faz referências às experiências desenvolvidas a partir de pesquisas articuladas com transferência e / ou extensão, como as ações concretizadas no Centro de Inovação e Desenvolvimento para Ação Comunitária (CIDAC) – na zona sul da Cidade de Buenos Aires – ou por meio dos “Projetos de Desenvolvimento Tecnológico e Social (PDTS)”, em contraponto com a análise dos pontos comuns e as diferenças como o MEF-UFMS atua com as instituições que trabalham com os imigrantes na região de fronteira do estado do Mato Grosso do Sul (MS).
O dossiê prossegue com o artigo “Aportes a los estudios de frontera a partir de la valorizacion inmobiliaria reciente el caso del norte grande argentino”, no qual o geógrafo Sergio Iván Braticevic, vinculado ao Instituto Patagónico en Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales da Universidade de Buenos Aires e pesquisador do CONICET-UNCo, apresenta os resultados de uma ampla pesquisa sobre o recente processo de alta dos preços da terra no norte argentino, impulsionado, de acordo com o autor, por fatores econômicos e institucionais, entre os quais destacam-se a expansão da fronteira agropecuária, as atividades turísticas e a especulação imobiliária.
A questão agrária na Argentina também é abordada pelas pesquisadoras do CONICET-UNCo Verónica Trpin e María Daniela Rodríguez, no artigo “Transformaciones territoriales y desigualdades en el norte de la Patagonia: extractivismo y conflictos en áreas agrarias y turísticas”. A partir de trabalho de campo realizado no norte da Patagônia, especificamente nos vales irrigados dos rios Negro e Neuquén e nas zonas de estepe e cordilheira da província de Neuquén, as autoras analisam as transformações territoriais em curso nas áreas agrárias e turísticas dessa região, observando que as dinâmicas dessas transformações se materializam na desapropriação de bens comuns como a terra e a água.
O bloco de três artigos seguintes articula o problema agrário face à questão indígena no Brasil e na Argentina.
No artigo intitulado “Capitalismo dependente empobrecimento indígena no Brasil rural”, o professor e pesquisador da Universidade de Brasília Cristhian Teófilo da Silva parte da premissa de que estudos sobre as formas de desigualdade e pobreza que afetam os povos indígenas contemporâneos devem estar fundamentados em uma perspectiva macro-histórica e micro-sociológica, a fim de que se possa construir uma definição de “pobreza indígena” sensível a sua diversidade e complexidade de manifestações. O autor apóia-se em contribuições etnográficas e denúncias de violação dos direitos humanos dos povos indígenas nas regiões da fronteira Sul do Brasil, bem como na conciliação dos debates sobre o capitalismo dependente e os processos socioeconômicos de integração dos povos indígenas a sistemas coloniais e capitalistas específicos, para demonstrar que tais processos não se desenrolaram de modo idêntico em cada lugar e tampouco de forma inalterada ao longo do tempo.
Em “Despojos de las poblaciones mapuches por parte del Estado Argentino. La frontera bonaerense y el caso de la comunidad mapuche Calfu Lafken de Carhué”, a pesquisadora Sofia Varisco investiga os processos de desapropriação territorial sofridos pelas comunidades indígenas mapuches através das diversas campanhas militares no norte da Patagônia, as quais produziram migrações forçadas e deslocamento de famílias para diferentes regiões do país. Focando sua análise na comunidade Mapuche Calfu Lafken da localidade turística de Carhué, situada no sudoeste da Província de Buenos Aires, a autora destaca de que forma o constante avanço do Estado sobre essa região, definida por alguns analistas argentinos como a “última fronteira bonaerense”, privou a população nativa de seus territórios, o que não só dificultou a comprovação da ocupação ancestral como, em muitos aspectos, tornou invisível a presença de indígenas na referida região.
A problemática da terra articulada à questão indígena na Argentina é retomada no artigo intitulado “Configuraciones espaciales a partir de la intervención estatal en territorios indigenas de Chaco” , no qual Malena Inés Castilla analisa o papel das políticas desenvolvidas pelos organismos governamentais na Província argentina do Chaco, as quais implementam e constroem fronteiras que determinam de forma prejudicial as comunidades étnicas locais. Para tanto, a autora concentra-se em explicar o contexto em que a expansão da fronteira agrária do Chaco foi consolidada durante a década de 1990, e como as ações posteriores das organizações governamentais impactaram as transformações socioeconômicas, territoriais e culturais naquela região.
Sasha Camila Cherñavsky, da Faculdade de Sociologia da Universidade de Buenos Aires, traz sua contribuição ao dossiê América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções com uma reflexão sobre a Educação Intercultural Bilíngue (EIB). Partindo do pressuposto de que a Educação Intercultural Bilíngue pode ser localizada no marco do paradigma epistemológico do “Sul” apoiado numa prática descolonizadora, no artigo “La Educación Intercultural Bilingue como aporte a un pensamiento heterárquico” a autora destaca a EIB como uma modalidade educativa, que parte de uma lógica oposta àquela aplicada pela matriz colonial moderna, de caráter cada vez mais discriminador e desigual. Enquanto modalidade educativa marginalizada pela educação tradicional, a Educação Intercultural Bilíngue tem sua gênese, como observa Sasha Cherñavsky a partir de pesquisa realizada com a comunidade Lma Iacia Qom radicada em San Pedro (Província de Missiones), nas demandas e ações levadas a cabo pelos próprios indígenas, com o objetivo de difundir sua cultura ancestral, de buscar o apoio às demandas territoriais, à luta contra a discriminação e à violação de outros direitos, em busca de uma sociedade inter e multicultural.
A questão urbana tem lugar, no presente dossiê, no artigo “Lugares de ciudadanía, experiencias de ciudadanización: investigaciones etnográficas en relación con el derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires”, escrito por Maria Florencia Girola e Maria Belén Garibotti, ambas pesquisadoras vinculadas ao CONICET e à Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Nesse artigo as autoras analisam diferentes experiências de “cidadanização” registradas em duas áreas urbano-habitacionais da cidade de Buenos Aires, que se distinguem, entre outros aspectos, por seus contextos históricos de origem e por suas tipologias de construção e modalidades de povoamento: o Conjunto Urbano Soldati, um mega-conjunto residencial localizado no bairro de Vila Soldati proveniente de um processo de produção estatal de habitação social, e o Assentamento La Carbonilla, situado no bairro portenho de La Paternal, resultante de um processo popular de produção social do habitat. Recorrendo a um trabalho de sistematização de fontes e a uma pesquisa de campo de caráter etnográfico, construida em torno de atividades de observação / participação e entrevistas com moradores dos dois espaços urbanos-habitacionais citados, Maria Florencia Girola e Maria Belén Garibotti se dispõem, através do estudo das práticas e experiências ‘nativas’, de materialidades e significados concretos envolvendo sujeitos localizados, a avançar na análise comparativa de processos de conformação de cidadanias, ligados à aquisição do direito à moradia.
Em “Los caminos de la institucionalización de la economía popular en contextos neoliberales: aportes en clave de procesos hegemônicos”, Guadalupe Hindi e Matias Larsen, ambos da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, discutem a problemática da economia popular na Argentina como um processo de institucionalização, que se insere em um processo hegemônico neoliberal. Para tanto os autores dividem o texto em dois momentos tratando, primeiramente, dos eventos que se referem ao processo de institucionalização da economia popular, em particular o que diz respeito à sanção e regulamentação da Lei de Emergência Social e dos debates gerados em torno dela para, a partir daí, revisar as formas pelas quais se dá a renovação de um determinado debate em termos da “autonomia” das demandas populares em sua conexão com o Estado. Em contraposição a isso, os autores procuram revisar os eventos posteriores à regulamentação da Lei, com o objetivo de propor marcos de entendimento que localizem no centro da análise menos o consenso do que os sentidos que estão implicados, tanto nas ações do Estado como dos sujeitos organizados.
Os dois artigos finais foram produzidos por professores e pesquisadores brasileiros vinculados a três instituições públicas de ensino superior de Mato Grosso do Sul (UFMS. UFGD e UEMS), todos eles direta ou indiretamente ligados ao Programa de Mestrado em Estudos Fronteiriços, sediado no campus de Corumbá da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Neles a questão da migração na América Latina e os impactos ambientais na fronteira brasileira estão no centro das discussões.
Em “América Latina racionalizada na nova Lei de Migração (Lei nº 13.455 / 17: discursos e legitimidade”, Marco Aurélio Machado de Oliveira, Fábio Machado da Silva e Davi Lopes Campos trazem algumas reflexões relacionadas à imigração na América Latina, nos aspectos envolvendo os discursos e a legitimidade. Partindo da premissa de que é possível pensar a questão migratória nesse espaço dentro de um relacionamento legítimo e discursivo, os autores procuram apresentar algumas discussões teóricas sobre como são desenvolvidos os diálogos discursivos entre os atingidos pela nova lei de migração (lei nº 13.445 / 17), conferindo ou não legitimidade aos atores envolvidos. Dessa forma objetivam analisar criticamente o aspecto prático no discurso dos operadores do direito referente à migração, propondo um debate de como o direito pode limitar ou ampliar a questão social, histórica e cultural da migração na atualidade.
O dossiê América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções é encerrado com o artigo intitulado “Os impactos ambientais da IIRSA-COSIPLAN no Arco Central da fronteira brasileira”, escrito por Camilo Pereira Carneiro, Felipe Pereira Matoso e Katucy Santos. Destacando que o processo de integração sul-americano, que teve início no final do século XX, possibilitou a emergência de iniciativas de aproximação entre os países do subcontinente, com destaque para o MERCOSUL, a UNASUL e a IIRSA-COSIPLAN, os autores propõem uma análise, a partir das Relações Internacionais, dos impactos socioambientais da IIRSA-COSIPLAN no Arco Central da fronteira brasileira. A análise dessa iniciativa em particular justifica-se, segundo os autores, em razão da mesma ter gerado um importante impacto, materializado de modo especial em zonas de fronteira, ainda que os projetos de infraestrutura implementados se caracterizem pela falta de participação das comunidades locais, e a inobservância dos aspectos socioambientais quando da execução das obras tenha efeitos negativos nas esferas ambiental, social, econômica e cultural.
Com a publicação do dossiê América Latina em Perspectiva: Política, Subjetividade e Fricções Albuquerque: Revista de História cumpre mais uma vez sua proposta de divulgar os trabalhos de pesquisadores nacionais e estrangeiros, estabelecendo com os mesmos um diálogo de caráter inter e transdiscipinar.
Aquidauana, verão de 2019.
Sebastián Valverde
Marco Aurélio Machado de Oliveira
Carlos Martins Junior
VALVERDE, Sebastián; OLIVEIRA, Marco Aurélio Machado de; MARTINS JUNIOR, Carlos. Apresentação. Albuquerque: revista de história, Mato Grosso do Sul, v.10, n.20, 2018. Acessar publicação original [DR]
Descubriendo el Antiguo Oriente. Pioneros y arqueólogos de Mesopotamia y Egipto a finales del S. XIX y principios del S. XX | Rocío da Riva e Jordi Vidal
A fines del siglo XIX y principios del XX, en el contexto de una intensa competencia imperialista –entre un pequeño número de Estados europeos (primero Gran Bretaña y Francia, posteriormente Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, España y los Países Bajos) y extraeuroepos (Estados Unidos y Japón)– por la apropiación de gran parte de África y de Asia, la subordinación de sus poblaciones y la constitución de un nuevo orden político y económico, tuvo lugar la progresiva institucionalización formal de los estudios antiguo-orientales dentro de los ámbitos académicos occidentales. En efecto, dicho proceso de constitución tuvo por acontecimientos inaugurales tanto la invasión napoleónica en Egipto en 1798 y de Siria-Palestina en 1799 como las primeras empresas de búsquedas y apropiación de materiales arqueológicos a cargo del cónsul francés Émile Botta y del funcionario inglés Austen Henry Layard en Mosul y Nimrud respectivamente (antiguas capitales asirias). Esas actividades llevaron a intensificar las expediciones y excavaciones de sitios antiguos en Egipto y Medio Oriente. Fue así que individuos procedentes de campos y actividades distintas (soldados, funcionarios, viajeros, mercaderes y eruditos) recorrieron diversos paisajes, mostraron un interés estratégico por las así denominadas “maneras” y “costumbres” de los países islámicos, aprendieron los idiomas de las sociedades que los habitaban, descifraron las lenguas y textos de los pueblos desaparecidos y acumularon innumerables objetos de su cultura material (cerámicas, vasijas, cilindro-sellos, tablillas, relieves, papiros, estelas, frontones, estatuillas y estatuas).
Durante el desenvolvimiento de estas distintas, el saqueo de tumbas y sitios para lucrar con su contenido existió por supuesto, al menos en Egipto, y convivió cómodamente con los intentos más “serios”, organizados y sistemáticos de el imperialismo y la dominación colonial posibilitaron el acceso no sólo a múltiples espacios antes desconocidos o apenas imaginados, sino además a nueva información (proporcionada tanto por los restos arqueológicos como por los informantes locales) a partir de la cual fue posible construir una imagen mucho más aproximada –y sustentada empíricamente– de las antiguas sociedades que poblaron la región. Coetáneo a los nuevos hallazgos y actividades, se produjo la progresiva fragmentación y especialización temática dentro del propio orientalismo antiguo, diferenciándose así ciertas subdisciplinas (Egiptología, Asiriología, Siriología, Anatolística y Estudios Bíblicos), como también dos tareas específicas en la labor investigativa: la del arqueólogo (encargado de organizar las excavaciones y recolectar los nuevos materiales) y la del filólogo (preocupado por desentrañar las lenguas antiguas y sus sistemas de escritura a partir de la traducción del material epigráfico). investigaciones arqueológicas. Aun así, es indudable que las prácticas inauguradas por
Considerando lo anteriormente expuesto, es innegable que esta descripción sintetiza una dinámica mucho más compleja y sinuosa de un campo de estudio que, luego de su afianzamiento, creció y expandió, ampliando horizontes y permitiendo avances investigativos significativos para la posteridad sobre las antiguas culturas y sociedades de Egipto, Mesopotamia, Anatolia y la franja sirio-palestina. El libro que el lector tienen entre sus manos, Descubriendo el Antiguo Oriente. Pioneros y arqueólogos de Mesopotamia y Egipto a finales del S. XIX y principios del S. XX, compilado por Rocío Da Riva y Jordi Vidal, reconocidos profesores españoles y especialistas en arqueología e historia antigua oriental, se ocupa justamente de las historias de algunos de los primeros estudiosos occidentales que trabajaron en la región y que con su multifacética labor contribuyeron al nacimiento de las historiografía y arqueología del Cercano Oriente Antiguo. El volumen compila las intervenciones de la mayoría de los expositores que participaron del workshop llevado a cabo en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona a finales de noviembre de 2013. Dicho evento académico reunió a destacados especialistas en la historia antigua de Egipto y Próximo Oriente y a otros investigadores más preocupados por temas de historiografía con la intención de debatir sobre la formación y evolución de los estudios antiguo-orientales, la definición de subdisciplinas, analizar el accionar de los primeros exploradores y las prácticas científicas de las etapas iniciales con la intención de encontrar afinidades temáticas y establecer futuros proyectos de investigación. El resultado final es una bien lograda compilación de once artículos que más allá de la forma que cada autor escogió para escribirlo y de los enfoques empleados en cada uno de ellos, coinciden en la intención de presentar datos nuevos, informaciones novedosas o revisiones críticas de teorías o ideas ya conocidas.
El libro abre con una acertada introducción sobre el concepto de historiografía y los actuales debates alrededor de esta especialidad a cargo de Jordi Cortadella. Para este autor, el historiador es un profesional que recopila hechos del pasado humano conforme a criterios que suponen una elección de valores y categorías, pero para hacerlo precisa de la intermediación de los testimonios que aquel debe interpretar. En consecuencia, la labor del historiador consiste en la escritura de una Historia no sólo desde su propia perspectiva, sino también a partir de la mirada de otros intérpretes que lo precedieron. Para Cortadella, entonces, la historia de la historiografía se ocupa de definir qué tipos de hechos son los que preocupan a un historiador determinado y cuál es la motivación específica de aquel historiador por estudiar tales hechos en un momento determinado. En otras palabras, se trata de un campo cuya principal premisa pasa por mostrar que cualquier problema histórico posee per se su propia historia. Seguidamente, en una segunda introducción general sobre la historiografía del Próximo Oriente, Jordi Vidal identifica los motivos del escaso interés que han suscitado los estudios de corte historiográfico en el campo del Orientalismo Antiguo así como también algunas tendencias generales que resultan evidentes en los materiales publicados hasta el momento sobre la temática, como por ejemplo la preponderancia de los estudios biográficos, los análisis de casos nacionales y el predominio anglosajón en este tipo de investigaciones. No obstante, el historiador catalán indica que esta última tendencia si bien no puede discutirse, debe ser matizada en la medida que prestigiosos investigadores de otros países –como Alemania, Francia e, incluso, España– han comenzado a incursionar en diversas cuestiones y dimensiones relativas al cultivo y desarrollo de los estudios antiguo-orientales en sus historiografías nacionales.
La sección del libro dedicada a Egipto y Norte de África se inicia con el artículo de Roser Marsal (Universitat Autónoma de Barcelona), el cual expone la historia de los primeros exploradores que recorrieron el Desierto Occidental egipcio a finales del siglo XIX. La historiadora plantea que, en los inicios de las investigaciones egiptológicas, el desierto del Sáhara no constituyó un objeto de interés debido a que las duras condiciones climáticas lo volvían un supuesto terreno inhóspito para el desarrollo de la vida humana. Sin embargo, conforme se iban acumulando nuevas evidencias arqueológicas con cada nueva exploración (como los sedimentos lacustres, algunos restos de cultura material y las pinturas rupestres halladas en Jebel Uweinat, Gilf Kebir, Wadi Sura o la Cueva de los Nadadores), el noreste africano comenzó a suscitar mayor interés entre los estudiosos, ampliando el espectro temporal de sus investigaciones y, consecuentemente, llevándolos a incursionar en las etapas neolíticas. La autora concluye mostrando que tales estudios no sólo gozan de buena salud en la actualidad, sino que también contribuyen a poner de relieve los aportes culturales africanos en la formación de la civilización egipcia. Por su parte, Josep Cervelló (Universitat Autónoma de Barcelona) reconstruye con su estudio las bases de una “historiografía de los orígenes de Egipto” a partir del aporte de Jacques De Morgan, William E. Petrie, James E. Quibell, Frederick W. Green y Émile Amélineau, deteniéndose en las excavaciones que emprendieron en el Alto Egipto a lo largo de la década 1893-1903. A partir de la minuciosa revisión de la labor de estos pioneros de la arqueología egiptológica, Cervelló expone que los materiales exhumados de los sitios de Hieracómpolis, Nagada y Abidos permitieron reconstruir las primeras dinastías faraónicas y sus cementerios, bosquejar un primer panorama histórico y producir una primera cronología de los orígenes prehistóricos de la cultura egipcia.
En su artículo, Juan Carlos Moreno García (CNRS, Université Paris-Sorbonne París IV) analiza la formación y consolidación, en la producción de los egiptólogos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, de la imagen de un Egipto antiguo como una civilización “excepcional”, diferente de las otras sociedades del mundo antiguo y transmisora de un importante legado de valores culturales. Se trata de un mito historiográfico que se revelaría sumamente tenaz dentro de los estudios orientales, con prolongaciones hasta nuestros días, cuyas raíces pueden escudriñarse –según el autor– en la crisis de la cultura occidental a finales del siglo XIX. Moreno García señala que el Egipto de los faraones se transformó en una suerte de “paraíso perdido” sobre el cual las distintas burguesías europeas proyectaron sus miedos sociales y ansiedades culturales, agravadas por el auge de los viajes a Oriente, por el desenvolvimiento de una arqueología que oscilaba entre la práctica científica, la aventura romántica y la caza de tesoros y, finalmente, por la creación de una particular versión de la Egiptología por parte de unos profesionales con formación bíblica y unos valores políticos precisos. El estudio de Francisco Gracia Alonso (Universitat de Barcelona) sigue el accionar de algunos de los más destacados representantes de la arqueología británica de la Segunda Guerra Mundial –como Mortimer Wheeler, Leonard Woolley, John Bryan Ward-Parkins y Geoffrey S. Kirk– que, en el marco de los combates entre las tropas del Eje y el Octavo Ejército Británico entre 1940 y 1943, participaron de las tareas de protección del patrimonio arqueológico de Egipto, Libia y Túnez puesto en peligro por las operaciones militares. El autor indica que el servicio que prestó este elenco de arqueólogos, helenistas e historiadores de la Antigüedad en las filas del Ejército Británico durante las campañas del Egeo y el norte de África implicó dos dimensiones: por un lado, la protección y salvamento de los yacimientos arqueológicos y, en segundo lugar, su utilización como arma propagandística de las destrucciones ocasionadas por la guerra.
La sección dedicada a Oriente Próximo se abre con el trabajo de Juan José Ibánez (CSIC) y Jesús Emilio González Urquijo (Universidad de Cantabria) alrededor de la figura del sacerdote cántabro González Echegaray, precursor en los estudios de la etapa neolítica del Cercano Oriente dentro del ámbito ibérico. Los autores examinan las excavaciones del yacimiento de El Khiam (Desierto de Judea, Palestina) que este pionero dirigió en 1962 y resaltan su contribución teórica a la comprensión de la transición hacia el Neolítico en el Levante Mediterráneo a través de la definición del denominado “periodo Khiamiense”. En el segundo trabajo de esta sección, Juan Muñiz y Valentín Álvarez (Misión Arqueológica Española de Jebel Mutawwaq) se ocupan de identificar las primeras referencias a los monumentos megalíticos en Transjordania que aparecían desperdigadas en las páginas de diversas obras, diarios de exploración o trabajo de campo etnográfico de viajeros y eruditos del siglo XIX que se desplazaban a Tierra Santa seducidos por los relatos románticos de peregrinaciones, innumerables ruinas de grandes civilizaciones abandonadas, tesoros ocultos, etc. Seguidamente, Jordi Vidal (Universitat Autónoma de Barcelona) considera la manera tradicional de relatar el hallazgo de la antigua ciudad de Ugarit (actual Ras Shamra). El investigador plantea que dicho relato “canónico” se encuentra atravesado por una perspectiva marcadamente eurocéntrica, manifiesta en la subvaloración u omisión tanto de las contribuciones locales al hallazgo del yacimiento como de la participación otomana en dicho acontecimiento, ocurrida mucho antes del arribo de los arqueólogos franceses al sitio.
En su artículo, María Eugenia Aubet (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona) examina el proceso de “redescubrimiento” arqueológico de la cultura fenicia y el papel que la monumental obra de Ernest Renan, Mission de Phénicie (1864-1874), tuvo respecto al respecto. La arqueóloga señala que este particular escrito motivó las primeras exploraciones en las regiones de Libia y Siria luego de la Primera Guerra Mundial con la intención de recuperar un importante cúmulo de artefactos hoy desaparecidos (como esculturas, monumentos funerarios y epígrafes procedentes de Biblos, Saïda y Oum el-Awamid, cerca de Tiro), pero de los que tenemos conocimiento en la actualidad debido a los excelentes grabados y planimetrías que pueblan las páginas del informe que compuso este polémico intelectual francés durante su célebre expedición a Fenicia en 1960 y 1961. A su turno, Rocío Da Riva (Universitat de Barcelona) incursiona en la vida y obra del arqueólogo alemán Robert Koldewey. Enmarcando su trabajo en un estudio del rol de la arqueología en el Imperio Alemán durante el siglo XIX, la investigadora madrileña reseña los diferentes trabajos que el renombrado Koldewey realizó en Babilonia y detalla con minuciosidad sus aportes empíricos e innovaciones metodológicas al campo de la asiriología –aún en formación– y a la arqueología de la arquitectura, así como la incidencia de su labor en la prensa española contemporánea.
Como cierre del libro, Carles Buenacasa (Universitat de Barcelona) nos lega un artículo en el que ensaya un conjunto de argumentos y reflexiones a propósito de los 200 años del “redescubrimiento” de la ciudad de Petra –capital del antiguo pueblo ismaelita (localizada a 80 km al sudeste del mar Muerto)– por el suizo Jean Louis Burckhardt, un profundo conocedor de la lengua árabe y de la religión islámica que, haciéndose pasar por un mercader árabe, viajó por el Oriente Próximo y Nubia. El pormenorizado examen del autor le permite identificar en el relato oficial de este episodio de la arqueología de principios del siglo XX –y su celebración bicentenaria– una suerte de memoria historiográfica del “hallazgo” pensada desde y para Occidente, orientada a remarcar la figura del explorador europeo como único responsable y, en paralelo, a invisibilizar la colaboración que algunos pobladores locales brindaron al explorador europeo, oficiando las veces de guías debido al detallado conocimiento que poseían del terreno. Como pone de manifiesto Buenacasa a lo largo del texto, se trata de una percepción historiográfica eurocéntrica que además desconoce, tanto en el pasado como en el presente, el hecho de que la antigua capital de los nabateos, esa ciudad de época clásica tan original y poco convencional nunca estuvo “extraviada” para los jordanos.
Al finalizar la lectura de los distintos artículos que integran la compilación, el lector habrá comprobado que ha accedido a diversos y singulares modos de configurar enfoques, metodologías e interpretaciones acerca del primer momento historiográfico de los estudios antiguo orientales que con gran éxito han logrado conjugar los compiladores en un solo volumen. No dudamos al aseverar que dicha característica es, quizás, una de las virtudes más significativas del libro. Sin embargo, no queremos dejar de destacar otras dos características sobresalientes. En primer lugar, la compilación muestra que las prácticas “científicas” que marcaron la génesis de los estudios históricos sobre las culturas antiguas del Próximo Oriente no pueden separarse de la situación geopolítica, los intereses económicos y los imaginarios culturales en un mundo integrado (y fragmentado) por el mercado capitalista y la expansión imperialista, en el cual diferentes agentes, motivaciones e intereses recuperan un lugar que la historiografía nacida en el mismo del siglo XIX invisibilizó con las biografías de los grandes precursores y la épica del progreso de la ciencia. Y en segundo lugar, se trata de una obra intrépida, en tanto deja al desnudo que mientras las sociedades antiguas del Cercano Oriente fueron “redescubiertas” y retratadas, desde un tamiz ontológico eurocéntrico, colonialista y racista impuesto por la dominación imperialista, como parte de un pasado exótico, maravilloso y monumental, a los pueblos que habitaban dichas regiones se les reservó el indulgente lugar de la degradación o inexistencia contemporánea.
En efecto, en una época en que las teorías racistas estaban al orden del día, los exploradores y colonizadores europeos no reconocieron a los diversos grupos étnicos con los que entraron en contacto como herederos de las prósperas civilizaciones de Oriente, considerando que se trataba de poblaciones “salvajes” y “bárbaras” sin historia, ajenas a dichas tradiciones culturales, incapaces de imitar en inteligencia y refinamiento a los creadores de antaño y, por tanto, de reconocer la riqueza de los grandes descubrimientos arqueológicos. Ello nos recuerda un dato bastante infeliz: que no sólo infinidad de objetos hicieron un viaje sin retorno a Europa a partir de la idea de que Occidente tenía la misión insoslayable de salvar esos tesoros de la supuesta ignorancia y vandalismo de los beduinos, sino que además esta misión de rescate pasó a justificar las innumerables usurpaciones, saqueos y robos cometidos, el despojo de tierras de los grupos locales, su sumisión, explotación y, en casos extremos, pero demasiado frecuentes, su exterminio; todos actos cometidos en nombre de la conservación de un patrimonio del cual las sociedades occidentales se sentían únicas y legítimas herederas. Se trata de un aspecto que, como latinoamericanos, haríamos mal en subestimar, pues ese mismo tipo de representación específica del pasado –de carácter más mítico y preconcebido antes que histórico y documentado–, que provee los parámetros ontológicos y epistemológicos para la comprensión del mundo desde una matriz occidentocéntrica, es la misma forma de percepción de la cultura histórica que, desde fines del siglo XIX, incidió precisamente en la invención de nuestras tradiciones historiográficas nacionales. Y, en tal dirección, la compilación se presenta como una necesaria y saludable invitación para que, desde nuestras periferias científicas, reflexionemos sobre los agentes, paradigmas y contextos locales que animaron el surgimiento y expansión de los equipos y/o centros de investigación dedicados al estudio de las culturas preclásicas del Cercano Oriente en Brasil, Argentina y otros países de América Latina.
Horacio Miguel Hernán Zapata – Docente-Investigador. Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus)/Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)/Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (ICSOH)-Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa), Argentina. Correo electrónico: [email protected].
DA RIVA, Rocío y VIDAL, Jordi (Eds.). Descubriendo el Antiguo Oriente. Pioneros y arqueólogos de Mesopotamia y Egipto a finales del S. XIX y principios del S. XX. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2015. 318 p. Resenha de: ZAPATA, Horacio Miguel Hernán. Egregios, práticas “científicas” y cultura material en la institucionalización de los estúdios de Antiguo Oriente a fines del siglo XIX y princípios del XX. Revista Ágora. Vitória, n.28, p.260-266, 2018. Acessar publicação original [IF].
Cem anos de solidão de Gabriel García Márquez / Revista Brasileira do Caribe / 2018
Neste primeiro número de 2018, a Revista Brasileira do Caribe (RBC) convidou ao professor Dernival Venâncio Ramos Junior que organizou em 2017 uma jornada intitulada “Cem anos de solidão de Gabriel García Márquez. Leituras 50 anos depois”, evento ocorrido no Campus de Araguaína da Universidade Federal do Tocantins, e que deu nome ao dossiê. A RBC, volume 18, No.36, de janeiro a junho de 2018 oferece aos leitores um dossiê temático composto por cinco artigos, além de três colaborações livres.
Em 2017, Cem anos de solidão de Gabriel García Márquez completou cinqüenta anos de publicação. Desde o seu lançamento em 1967, o livro foi lido e relido a partir de diversos pontos de vista, o histórico, o político, o sociológico, o cultural, o literário e o filosófico. Essa riqueza da fortuna crítica indica uma obra multifacetada e de difícil apreensão por um viés disciplinar. Por isso, convidaram-se pesquisadores de diversas áreas (História, Lingüística, Arquitetura, Filosofia, Geografia e Crítica literária) a participar da seguinte edição. As perguntas feitas, tanto no evento quanto no dossiê foram: Como as novas gerações de leitores e leitoras, críticos e críticas leram a obra Cem Anos de Solidão? O que ainda falta dizer sobre ela, que apenas as novas gerações podem dizer? O que as traduções da obra ajudam a dizer sobre ela e sobre a fortuna crítica? O que precisa ser dito sobre as linhas interpretativas clássicas sobre essa obra? Qual o lugar dessa obra na atual cultura caribenha, latino-americana e ocidental? Sabemos que essas perguntas são difíceis de responder, mas acreditamos que elas estarão sempre no horizonte das gerações e gerações de leitores dessa obra clássica da literatura colombiana e caribenha. Afinal, o clássico é o que se relê, que se relê, que se relê… O clássico sempre coloca respostas novas a velhas perguntas ou perguntas novas a consolidadas respostas.
Abre o dossiê o artigo “Cem anos de Solidão: resistências, invenção e decolonialidade” de Pláblio Marcos Martins Desidério e Ludmila Brandão que problematizam a obra de Gabriel Garcia Márquez a partir da decolonialidade. Afirmam que a obra Cem Anos de Solidão pertence a “zonas pelágias” e procuram problematizar a forma como a crítica e os leitores europeus classificaram o romance como “realismo mágico.” Também propõem mostrar como o autor colombiano escapa da hegemonia eurocêntrica, pois ele indica caminhos para fugir da abissalidade atribuída pela colonialidade.
Em seguida, Olivia Cormieiro e Euclides Antunes de Medeiros em “Caminhos entre imaginação e método historiográfico na obra Cem Anos de Solidão” trabalham na interface entre Literatura e História, propondo-se descrever as relações entre a dimensão metodológica da pesquisa histórica e a dimensão imaginativa das obras ficcionais. Questões como memória, escrita, invenção e sensibilidade, presentes nas obras literárias, se pode transformar em mecanismos úteis ao trabalho de pesquisa dos historiadores. Articulado à História, mas escrito por uma semioticista, o artigo “Das engrenagens da leitura e do tempo em Cem anos de solidão” de Luiza Helena da Silva aborda o romance a partir de dois aspectos: primeiro, privilegia o caráter propriamente textual e descreve a sua poética; depois, discorre sobre o episódio do massacre dos trabalhadores em greve problematizando a circularidade da narrativa e a história mesma, para iluminar os mecanismos que incidem sobre o binômio memória e esquecimento, tanto em textos ficcionais, quanto na história social da América Latina e Caribe. Nessa mesma linha temática, Marcio de Araújo Melo escreveu “Não esquecer.” O autor centra sua reflexão em um momento de Cem anos de Solidão, qual seja, a peste da insônia e seus desdobramentos como o esquecimento, problematizando-a a partir da etiquetação de objetos e animais com seus nomes, funções e sentimentos, numa tentativa de preservar seus usos práticos, nas leituras do passado através do baralho por Pilar Ternera e, por fim, através do “dicionário giratório”, a máquina que traria os conhecimentos elementares para os cidadãos de Macondo. Assim, o autor discute as formas da memória, das mais simples às mais complexas, destacando o esforço humano por não se deixar ser sugado e destruído pelo esquecimento.
Fecha o dossiê o texto “Macondo: o espaço de existência em Gabriel García Márquez” de Jean Carlo Rodrigues, o autor, propõe pensar a obra a partir da concepção de “vida virtual” de Susanne Langer e “terrae incognitae” de John Wright, tentando mostrar como o espaço imaginado, em obras literárias e poéticas é uma instigante forma para a compreensão da relação homem e espaço e por isso propõe, como hipótese geral, que o direito à arte, à subjetividade e à imaginação sejam resguardados dos ataques positivistas.
Os artigos, assim, a partir de diversos pontos de vista disciplinar e interdisciplinar produzem uma rica leitura da obra magistral de Gabriel García Marquez. Esperamos que o resultados desse esforço coletivo se desdobre em interesse das novas gerações e que essas, ao lê-lo, encontrem respostas as inquietações de seu tempo, mas sobretudo encontrem novas perguntas.
Os três artigos seguintes fazem parte da seção “Outros Artigos” da RBC. Em “Gestionando la identidad:el cabello como capital”, Kristell Villarreal Benítez enfatiza como o cabelo é usado por parte de um grupo de mulheres afrocolombianas, pertencentes ao Caribe colombiano e à cidade de Bogotá, como um capital racial que lhes permite desenhar estrategias para a gestão e negociação de sua identidade em seus contextos específicos. No artigo seguinte: “Bolero, samba-canção e sambolero: matrizes, nomadismo e hibridismo de gêneros musicais latino-americanos no Brasil, anos 1940 e 1950” de Raphael Fernandes Lopes Farias, o autor analisa o encontro do gênero musical caribenho do bolero com o samba-canção no Brasil, ocorrido a partir dos anos 1940 e com forte presença nas mídias sonoras até a década seguinte.
Para tanto, o autor levou em consideração o caminho percorrido pelo bolero e suas afinidades com o samba-canção e com o cenário brasileiro. O autor conclui de “que tanto o sambacanção quanto a Bossa Nova, encontraram no bolero protagonismos, antagonismos e práticas musicais que compõe a identidade da música brasileira”.
No último artigo que encerra este número da Revista Brasileira do Caribe, Danny Armando González Cueto apresenta “La representación visual y las versiones sobre el Carnaval de Barranquilla: de las tres culturas a la fiesta contemporânea”. O autor apresenta as maneiras como se olha para o Carnaval de Barranquilla, levando em consideração “que a diferencia de muitos outros carnavais no mundo, o seu componente cultural se deve em grande medida ao cruzamento de culturas”.
Agradecemos a todos os que viabilizaram o lançamento deste novo número da Revista Brasileira do Caribe, especialmente, à Pós-graduação em História da Universidade Federal do Maranhão, a Editora e gráfica da Universidade Federal do Maranhão e a todos os pareceristas que participaram com o seu trabalho e generosidade na avaliação dos artigos recebidos.
Agradecemos também à Superintendência de Comunicação (Sucom) da Universidade Federal do Tocantins pela disponibilização da arte do evento para usarmos como capa deste número da revista.
Convidamos a todos os leitores a percorrer as páginas desta nova edição da Revista Brasileira do Caribe que nos apresenta diversos pontos de vista da produção historiográfica sobre o Caribe.
Dernival Venâncio Ramos Júnior – Organizador do Dossiê temático e Editor Adjunto da RBC.
Isabel Ibarra Cabrera – Editora da Revista Brasileira do Caribe.
VENACIO, Dernival. Cem anos de solidão de Gabriel García Márquez. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.19, n.36, p.4-6, jan./jun., 2018. Acessar publicação original. [IF].
Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932) – GÁRATE (A-EN)
GÁRATE, Miriam. Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932). Rio de Janeiro: Papéis Selvagens, 2017. Resenha de: MORALES, Hernán. América Latina em alguns itinerários e cruzamentos. Alea, Rio de Janeiro, v.20 n.1, jan./apr. 2018.
Yo evito el testimonio real, porque me desagradan los confesionarios y esa objetividad eclesiástica del periodismo acusete. Pero tampoco podría negar mi origen y lo evoco en la escritura, travestido, multiplicado en un tornasol engañador. La verdad no me interesa: es paja estancada y filosófica. Como dice Serrat: la verdad no tiene remedio. (LEMEBEL In: SCHAFFER, 1998, p. 58)
(…) Deve ser coisa importante, pois ouvi a campainha tocar várias vezes, uma a caminho da porta e pelo menos três dentro do sonho. Vou regulando a vista, e começo a achar que conheço aquele rostro de um tempo distante e confuso. Ou senão cheguei dormindo ao olho mágico, e conheço aquele rosto quando ele ainda pertencia ao sonho. Tem a barba. Pode ser que eu já tenha visto aquele rosto sem barba, mas a barba é tão sólida e rigorosa que parece anterior ao rostro. (BUARQUE, 1991, p. 7)
Em um artigo publicado sob o título de La crónica, una mirada extrema2, que poderia servir como preâmbulo a esta resenha, Martín Caparrós reflete sobre esse gênero que complexifica não somente a literatura – mas as artes em geral – e em especial a literatura latino-americana, em função de tensões e desencontros da Modernidade. América é crônica, sustenta Caparrós, vinculando seu olhar a tensões assinaladas por Cornejo Polar, Rama, Pizarro e Santiago a propósito de um espaço de definição que alterna a adaptação entre o conhecido e o não-conhecido, evidenciando matrizes conflituosas. A crônica é um exercício recorrente de estranheza que marcou o processo identitário dos habitantes destas latitudes. Por isso as vozes que nela se manifestam “não mostram mas, antes, evocam, refletem, constroem, sugerem”, gerando um estado de crise. Trata-se de textualidades polimorfas que evidenciam as vantagens de recriar modos de contar e formas singulares de perceber o entorno, em um exercício que tem a intenção de “despertar” o leitor. São discursos nos quais o olhar se detém em um objeto configurado como busca, porque a escrita converte-se numa prática dos limites que transcende o foco jornalístico e consegue trazer para o primeiro plano o que normalmente fica oculto, o que não se vê à primeira vista e necessita ser nomeado. Parece tratar-se de uma reinvenção do espaço latino-americano que em alguns narradores contemporâneos (como Alma Gillermopietro, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Pedro Lemebel, Carlos Monsiváis, entre outros), torna-se uma obsessão, marcada pelo exercício político que supõe a confrontação entre o sujeito e seu entorno.
Por essa razão, não é estranho que Miriam Gárate recorra ao liminar expresso pela preposição “entre”, com o objetivo de estudar as relações fundadoras do cinematógrafo com a literatura e a imprensa na América Latina, propondo um olhar que se debruça sobre as crônicas que circularam no México, no Chile, no Brasil, no Peru e na Argentina, entre outros países, em finais do século XIX e princípios do XX. Ao longo de mais de 200 páginas, a autora oferece, por meio de uma ensaística impecável, sustentada com grande rigor crítico, uma abordagem das relações imbricadas no discurso de recepção do cinema, que privilegia o gênero crônica no período delimitado pelo título (1896-1932), evidenciando o interesse em revisar o impacto causado pelo novo espetáculo. A partir dessa perspectiva singular, Entre a letra e a tela conecta a literatura, a imprensa e o cinema revisitando o olhar perscrutador dos cronistas, reenviando ao endereçamento do olhar destacado por Caparrós enquanto característica fundamental da crônica por contraposição à notícia.
Através da “retórica do passeio” (RAMOS, 1989), o leitor é convidado a participar de um percurso que, na Introdução, demarca um posicionamento baseado no estudo minucioso da circulação dos modos de percepção do cinematógrafo, expressos em jornais e revistas das áreas geo-culturais recortadas. É um tipo de análise, segundo frisa Miriam Gárate, que toma distância a respeito da aproximação “literatura – cinema” com foco no problema da adaptação, tradicionalmente centrado no jogo entre “fidelidade/infidelidade”. Em vez disso, na viagem proposta, aborda-se um fenômeno que é simultaneamente jornalístico, estético e literário, cifrado pela crônica, esse gênero que, pode-se dizer, está na base do processo de formação cultural das nações americanas.
No primero capítulo, “Os escritores-cronistas vão ao cinematógrafo”, a forma de modelar os materiais se consolida através do substrato: retórica da viagem, por isso a referência a Ramos e o resgate de vozes centrais como as de Manuel González Prada (Peru), José Martí (Cuba), Manuel Gutierrez Nájera (México), Luis Urbina (México-Espanha), Coelho Neto (Brasil), Olavo Bilac (Brasil), Ruben Darío (Nicaragua), Amado Nervo (México), José Juan Tablada (México-EEUU), Enrique Gómez Carillo (Guatemala-França), João do Rio (Brasil), para mencionar somente alguns. Neles, Gárate observa a recriação de uma estilística que evidencia o deslocamento das crônicas do jornalístico para o literário, daí o entre-lugar, fato que também influi no nascimento de um novo profissional que se consolida ao mesmo tempo que os textos que recriam o impacto suscitado pelo cinematógrafo: o repórter. Destaca-se, nesse sentido, algo que já fora assinalado por outros estudiosos: “a cultura moderna foi ‘cinematográfica’ antes do cinema”; e talvez seja por esse motivo que o olhar dos cronistas pôde transitar rapidamente do assombro para a reflexão crítica.
Nas crônicas examinadas no primeiro capítulo, acompanhamos as primeiras viagens. “El cinematógrafo” (1896), de Urbina, e “Moléstia de época” (1906), de Olavo Bilac, descrevem a percepção do fenômeno cinematográfico por meio de construções discursivas que patenteiam o fascínio exercido, através de referências à “máquina milagrosa” ou ao “aparato prodigioso”, deslumbramento que se reitera na crônica do mexicano José Juan Tablada, “México sugestionado: el espectáculo de moda” (1906) e em “En el cine” (1913), de Ramón López Velarde. São essas considerações que desdobram, no segundo capítulo, as reflexões críticas sobre a linguagem cinematográfica, envolvendo relações com outros gêneros como o teatro e o romance.
Em “Os escritores-críticos se debruçam sobre o cinema”, segundo capítulo, Miriam Gárate enfatiza o interesse das primeiras críticas/crônicas pelo cinema narrativo e os diversos modos de lê-lo. Desponta, então, uma questão muito estudada – por isso a recuperação de vários teóricos do cinema, dentre os quais Béla Balázs -, de modo a desvelar como os filmes se constroem e as características da linguagem cinematográfica do período. Como afirma Gárate, “a linguagem cinematográfica transparente (Xavier, 1984) disputa com as outras artes a expressão de uma subjetividade inicialmente reservada [imaginariamente reservada] à palavra” (GÁRATE, 2017, p. 10). As relações com outras práticas artísticas como o teatro são evidencia disso. Em “Da ‘estética da ação’ à estética da subjetivação”, subtítulo de uma das seções do segundo capítulo, delineia-se um percurso que elucida as unidades imbricadas na linguagem em processo de construção e, simultaneamente, a individualização que afasta o cinema das outras artes: o primeiro plano, o enquadramento, a montagem. A autora contrapõe a visão preconceituosa de Urbina, para quem “o cinema jamais nutrirá a cultura nem aperfeiçoará o espírito como o faz o livro”, à perspectiva de Torres Bodet, para quem a câmera em A última gargalhada (1924) de Murnau é um “objeto pensante”, pois “sonha”, ou, nas palavras de Bálaz, dá forma a um “pensamento ótico”. O contraponto põe em cena o debate entre espetáculo/cultura e refrata as tensões descobertas nessa viagem.
O terceiro capítulo, “O retorno do pleito mimético”, recupera as discussões suscitadas a respeito das transformações nas práticas culturais e sociais produzidas pelo cinema. São relembrados aspectos negativos, percebidos pelos cronistas em relação à possível influência dos filmes que encenam crimes. Para alguns deles, “o efeito pernicioso do novo espetáculo reside na vivacidade das peripécias que mostram [ensinam] os meios e modos de delinquir” (GÁRATE, 2017, p. 99). Daí a proibição aos jovens de frequentar filmes que pudessem levá-los a copiar tais atos, defendida em numerosos escritos. As crônicas revelam em seus títulos essa crença arraigada. “Moralidad, criminología… Lo de siempre. La Razón contra el cinematógrafo” (1919). Repercutem, assim, frases dos próprios jornais, como: “Não acreditamos que a fita torne melhores ou piores os criminosos, mas sim acreditamos que lhes forneça lições e os prepare para o delito, dado que a exibição cinematográfica estimula e exalta a imaginação” (La Razón, 1919, apud GÁRATE, 2017, p. 100). Ao mesmo tempo, e com base no mesmo pressuposto mimético, o cinema se torna um meio de instrução através do qual se oferecem uma formação moral, uma escola do bom gosto e uma “educação pelo olhar”, como é possível ler na crônica de Horacio Quiroga, “El cine en la escuela: sus apologistas” (Caras y Caretas, 1920). Um fato que transforma algumas salas, como a Fémina, de Lima, em lugares destinados à instrução de garotas e senhoras, fenômeno referido em crônica recuperada por Ricardo Bedoya, estudioso do cinema peruano, citado por Gárate. Por outro lado, o cinema também se torna o espaço da sedução e das paixões, como atestam alguns escritos de Urbina (“El cine y el delito”, 1916), de Lima Barreto (“Amor, cinema e telefone”, 1920) ou de Francisco Zamora (“El cine y la moralidad”, 1919), todas amostragens dessa dúbia pulsão didática, que se evidencia ainda com mais clareza em “El cine y las costumbres” (1931), do argentino Roberto Arlt, ou nas menções aos “problemas entre os sexos” feitas pelo mexicano Carlos Nogueira Hope em “Vanidad de vanidades” (1919).
No capítulo “Os ‘latinos’ viajam a Hollywood”, a autora aborda a experiência de viagem à cidade cinematográfica por antonomásia como dado significativo que acompanha, entre os anos de 1920-1930, o desenvolvimento da cinematografia estadunidense. Para focar esse aspecto, são escolhidas as narrações “Una aventura de amor” (1918), publicada com o pseudônimo de Boy, “Miss Dorothy Phillips, mi esposa” (1919) de Horacio Quiroga, “Che Ferrati, inventor” (1923) de Carlos Nogueira Hope e “Hollywood: novela da vida real” (1932) de Olympio Guilherme. Sustenta Gárate:
são narrativas que se estruturam ao redor desse motivo [a viagem a Hollywood], assim como una série de outros tópicos comuns: o desvendamento das regras que vigoram nos grandes estúdios bem como de pormenores técnicos e truques de rodagem; o retrato de tipos que se consolidam por esses anos (a flapper, o latino sedutor, o rastaquera); a relação mimética das personagens com modelos propostos pelo cinema (aparência física, atitudes, sentimentos); o enredo amoroso (também ele estreitamente vinculado ao imaginário cinematográfico, o que resulta no entrelaçamento e no revezamento constantes dos registros da ‘vida’ e do ‘filme’); o vínculo afetivo espectador-estrela; o tema do doublê” (GÁRATE, 2017, p. 127).
Nos dois primeiros títulos (“Una aventura de amor” e “Miss Dorothy Phillips) , encena-se uma experiência que propicia o “cancelamento provisório da realidade imediata”, estabelecendo a viagem não apenas como deslocamento à capital hollywoodiana, mas como translação da vida diurna à da fantasia provocada pela escuridão da sala e pela construção da linguagem fílmica. Isso permite estabelecer uma analogia com o par vigília/sonho, desenvolvido pela autora com o auxílio das teorizações de Mauerhofer (1966), Jean-Louis Baudry (1970) e Christian Metz (1979).
As personagens que povoam esse conjunto de relatos cristalizam uma galeria de estereótipos que reenvia ao jogo instaurado entre ficcional e “real”. Nela, exibem-se os latinos que se lançaram à vida cinematográfica estadunidense: o pobre-diabo representado pelo argentino Guilhermo Grant, o mexicano Federico Granados no papel do latino fogoso, etc. Muitos deles são contemplados nesse quarto capítulo do livro, seguindo um percurso no qual a autora mostra como se configuram nas narrativas as operações que fazem parte da linguagem cinematográfica e implicam uma transferência de códigos para o texto escrito: o recurso gráfico à linha de pontos enquanto sucedâneo do corte/montagem invisível na narrativa de Quiroga, a fórmula fade in para intitular as palavras preliminares no romance de Guilherme, etc. Tais procedimentos são examinados ao longo de “Os latinos viajam a Hollywood” por meio de uma análise que evidencia a perspicácia com que Gárate consegue suturar ambas as linguagens.
Por fim, no quinto e último capítulo do livro, intitulado “Documentários de papel/Crônicas de celuloide”, a autora retoma a problemática demarcada inicialmente, com base na hipótese de que durante as últimas décadas do século XIX e princípios do XX, os escritores latino-americanos estabeleceram uma relação estreita e conflituosa com a imprensa tendo na crônica uma de suas manifestações mais significantes. Isso conduz Gárate a enfocar algumas realizações experimentais, entendidas como a cristalização vanguardista das relações exploradas ao longo de seu texto: as crônicas de Antônio de Alcântara Machado reunidas em Pathé-Baby (1926) e o filme de Alberto Cavalcanti, Rien que les heures (1926). A autora recupera, então, o eixo principal de seu percurso: a retórica do passeio, sustentando que a aparição do cinema propiciou uma triangulação entre imprensa, crônica e cinema, dando lugar ao nascimento de expressões híbridas tais como as Atualidades cinematográficas, as Cine-revistas e os Cine-jornais, por um lado, e a adoção de títulos como Kinetoscópio, Cinematógrafo, Vitascópio ou Cinema da vida em colunas cronísticas, por outro. Miriam Gárate também destaca o papel assumido pelo cinema clássico no século XX enquanto “máquina de contar histórias”, espécie de permutação ou troca de funções desempenhadas pela literatura do século XIX e pelo romance-folhetim. A exposição revela o interesse em desentranhar como se processa uma mudança radical nos textos da época, decorrente de deslocamentos nos âmbitos do jornalismo, da crônica, do romance e do cinema, sinalizando uma ruptura de categorias de gênero na qual primam as tensões. Por isso, compreende-se que Gárate se pergunte no final do volume, aludindo à imagem da “vendedora de jornais” estampada na capa do livro, e como um modo de ecoar sua reflexão, tentando descobrir o que está além da lente do olho mágico: “Rien que les heures: uma crônica de celuloide?”
Referências
BUARQUE, Chico. Estorvo. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 1991. [ Links ]
CAPARRÓS, Martín. La crónica: una mirada extrema. Diario La Nación, setembro de 2007. Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/943086-la-cronica-una-mirada-extrema>. [ Links ]
GÁRATE, Miriam. Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932). Rio de Janeiro: Papéis Selvagens, 2017. [ Links ]
RAMOS, Julio. Desencuentros de la modernidad en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 1989. [ Links ]
SCHAFFER, M. Pedro Lemebel. La yegua silenciada. Revista Hoy, n. 1072, fevereiro de 1998. Disponível em: <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0044778.pdf>. [ Links ]
Notas
1 Resenha de: GÁRATE, Miriam. Entre a letra e a tela. Literatura, imprensa e cinema na América Latina (1896-1932). Rio de Janeiro: Papéis Selvagens, 2017.
2 Em: <http://www.lanacion.com.ar/943086-la-cronica-una-mirada-extrema>.
Hernán Morales. Professor na Universidad Nacional de Mar del Plata. Seus temas de pesquisa são a música e a literatura hispano-americana e brasileira, com uma ampla participação em livros e revistas acadêmicas da área. E-mail: [email protected].
[IF]
Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español – SÁNCHEZ ZAPATERO; MARÍN ESCRIBÀ (A-EN)
SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier; MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex. Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español. Barcelona: Alrevés, 2017. Resenha de MARTÍNEZ, Nora Rodríguez. arrativa serial y ficción policiaca: notas sobre Continuará… sagas litera-rias en el género negro y policiaco español, de Javier Sánchez Zapatero y Àlex Martín Escribà. Alea, Rio de Janeiro, v.20 n.1, jan./apr. 2018.
Javier Sánchez Zapatero y Àlex Martín Escribà han publicado en la Editorial Alrevés una nueva obra, fundamental en el estudio del género policiaco en España: Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español. En ella se abordan las principales características de la narrativa serial, así como su influencia en la evolución de la ficción policiaca.
El libro está dividido en tres partes. En la primera, “Las sagas en la novela negra y policiaca universal”, se hace una breve, pero esencial, revisión de la historia del género a nivel internacional, a la luz serial, desde sus orígenes hasta la época actual. En la segunda, titulada “Las sagas en la novela negra y policiaca española”, se ofrece un panorama completo de los principales autores y personajes que han marcado el desarrollo del género en España. Y en la tercera y última parte del libro, “Tres paradigmas seriales”, se estudian tres casos paradigmáticos de autores y sus respectivas sagas policiacas que, aunque han asumido ciertos estereotipos, han introducido innovaciones notables en sus obras: Eugenio Fuentes, Alicia Giménez Bartlett y Lorenzo Silva. Cada estudio monográfico es acompañado de una útil y esclarecedora entrevista a los escritores.
Así pues, en la primera parte, “Las sagas en la novela negra y policiaca universal”, Sánchez Zapatero y Martín Escribà explican que el desarrollo de series novelescas con un protagonista fijo, cuya presencia facilita su identificación por el público, ha sido una de las características básicas de la novela policiaca desde su implantación como género en el siglo XIX. En este sentido, señalan que Auguste Dupin, el primigenio detective creado por Edgar Allan Poe, no solo protagonizó Los crímenes de la calle Morgue (1841), sino también El misterio de Marie Roget (1843) y La carta robada (1884). Utilizando un esquema narrativo muy similar, Arthur Conan Doyle creó en 1887 al legendario detective Sherlock Holmes y a su sempiterno acompañante Watson. Además de estos casos iniciales, destacan en la literatura policiaca fundacional las sagas de Joseph Rouletabille (Gaston Leorux), el Padre Brown (Gilbert K. Chesterton), el comisario Jules Maigret (Georges Simenon), Hercule Poirot y Miss Marple (Agatha Christie), Philo Vance (S. S. Van Dine) o Nero Wolf (Rex Stout); y también del agente de la Continental y de Sam Spade (Dashiell Hammett), Philip Marlowe (Raymond Chandler) y Lew Archer (Ross Macdonal), habitualmente considerados hitos iniciadores de la novela negra. De esta forma, como bien exponen los autores de esta obra, a pesar del cambio en las circunstancias de publicación y de las modificaciones en las características temáticas y formales del género, “la adecuación al modelo de continuidad y la importancia determinante de los protagonistas continúan siendo dos de las constantes de la literatura policiaca universal” (p. 29).
La segunda parte, “Las sagas en la novela negra y policiaca española”, se subdivide en: “Parodias e imitaciones (1900-1971)”, “Detectives y desencanto (1972-1993)” y “Eclosión y diversidad (1994-2016)”.
En primer lugar, Sánchez Zapatero y Martín Escribà demuestran como durante los tres primeros cuartos del siglo XX la importancia del género quedó reducida a su valor paródico e imitativo respecto a los modelos internacionales. Esta situación dio lugar a la identificación exclusiva de la literatura policiaca con la literatura popular, erróneamente asociada a la literatura de baja calidad, y al consiguiente desprecio del género, no sólo por la crítica, sino también por parte de los escritores que no querían ser relacionados con él. Así pues, por un lado, se editaron infinidad de traducciones, se escribieron cientos de obras imitativas (publicadas por colecciones populares especializadas) y se consolidó un grupo de público lector numeroso y, por otro, no se pudo desarrollar una tradición nacional que presentara características propias. De hecho, en esta época, la mayoría de los autores firmaba sus obras con pseudónimos, bien porque no deseaban ver sus nombres asociados a un género ínfimamente considerado, bien para tratar de evitar la censura, dadas las vinculaciones políticas de muchos escritores, o simplemente, porque, al ubicar las tramas en escenarios extranjeros, sus obras resultaban más creíbles si aparecían firmadas con nombres de resonancias exóticas. Es en este contexto que aparece la saga de Plinio, de la pluma de Francisco García Pavón, protagonizada por el jefe de la Policía Municipal de Tomelloso, Manuel González, alias Plinio, y su ayudante, el doctor Lotario, que fueron la primera pareja de investigadores autóctonos creados sin copiar directamente los modelos de otras literaturas.
En segundo lugar, los autores de esta obra explican que, tras la muerte del dictador, la libertad de expresión, el fin de la censura y la llegada de traducciones y de libros de exiliados hasta entonces prohibidos, unidos a la progresiva revitalización del género en la década de los 70, dieron lugar a la creación de una verdadera tradición de novela negra en español. Entre la gran nómina de escritores de este boom de la literatura policiaca, es imprescindible destacar a Vázquez Montalbán y a su detective Carvalho, cuya “saga se convirtió, en efecto, en una de las más adecuadas formas literarias para establecer la crónica de la evolución, de España después del franquismo y para entender el cambio de mentalidad generacional que se produjo en el país” (p. 61). Tampoco podemos olvidar a Juan Madrid, con el exboxeador Toni Romano y con Manuel el gitano Flores; a Francisco González Ledesma, con el inspector Ricardo Méndez; y a Andreu Martín, que también ha utilizado personajes fijos en muchas de sus obras, entre ellos Javier Lallana. Por último, entre la gran cantidad de títulos que supuso la eclosión del género durante la Transición también pueden encontrarse ejemplos de parodias y sagas humorísticas entre las que se destaca la protagonizada por Gay Flower, personaje creado por José García Martínez-Calín, que firmaba como PGarcía, así como la serie de Eduardo de Mendoza, con su detective loco e innominado, y la de Jorge Martínez Reverte, que creó al periodista Julio Gálvez, ambas protagonizadas por investigadores ocasionales, cuyas andanzas se presentan en tono humorístico.
En tercer lugar, aunque a principios de los 90 se da un nuevo parón en el desarrollo de la literatura policiaca en España. Sánchez Zapatero y Martín Escribà explican cómo el vacío de aquellos años fue progresivamente superado con la aparición de una segunda generación de autores y de sagas literarias que terminaron por consolidar las bases del género en nuestro país. Se inicia pues “un periodo de gran éxito, vigente hasta nuestros días, en el que la novela negra ha pasado a ser la novela moderna por excelencia” (p. 88). Así, dentro de la diversidad que caracteriza a la novela negra española de los últimos años es destacable el uso reiterativo del personaje policial que “vincula a casi todas estas sagas con la variante procedimental de la literatura negra y policiaca, caracterizada por su afán en mostrar, con todo lujo de detalles, los procedimientos oficiales […] y la cotidianidad del trabajo policial, tanto la que se refiere a la actividad burocrática […] como la de sus pesquisas” (p. 97). Sin embargo, frente a la relevancia adquirida por los personajes policiales, el detective, personaje investigador por excelencia, continúa representado en la actualidad del género negro español. Por otro lado, desde un punto de vista geográfico, pese a que Barcelona y Madrid, centros políticos y culturales del país, siguen siendo los escenarios más frecuentados en la novela negra y policiaca actual, se ha producido un proceso de “descentralización” de los escenarios policiacos ya que “las sagas del nuevo milenio aportan una visión mucho más globalizada en la que hay lugar para barrios periféricos y zonas habitualmente no utilizadas como escenario literario” (p. 107). Así pues, lejos de responder a un único patrón o de adscribirse a una única tendencia, la actualidad y el incremento de sagas de la narrativa negra y policiaca revelan una importante y destacable variedad que, en muchos casos, ha llevado a la hibridación. En este sentido, los autores de esta obra resaltan el papel fundacional de novelas como El nombre de la rosa (1980), que llevó a Umberto Eco a inaugurar “un nuevo género narrativo al que habitualmente se le ha denominado “intriga histórica” (p. 111), pero advierten que el carácter híbrido que presentan muchas de las narraciones vinculadas a lo policial redunda en el problema de que, aunque el género es un concepto en permanente evolución, “se corre el riesgo de que el género negro se convierta en un “macrogénero”, una especie de cajón de sastre en el que se aglutinen todas las narraciones que, de forma superflua, presenten características análogas al género (p. 116-117).
En la tercera y última parte de la obra, “Tres paradigmas seriales”, Sánchez Zapatero y Martín Escribà prestan atención a las obras de tres autores imprescindibles en el desarrollo del género en España y, especialmente, a las características que han hecho de sus series referentes del género policiaco en nuestro país.
La serie “Cupido” de Eugenio Fuentes (Cáceres, 1958) está integrada por siete novelas: El nacimiento de Cupido (1994), El interior del bosque (1999), La sangre de los ángeles (2001), Las manos del pianista (2003), Cuerpo a cuerpo (2007), Contrarreloj (2009) y Mistralia (2015). Llama la atención por su concepción del misterio y del dolor como señas de identidad del género, así como por la combinación entre el marco urbano, casi pueblerino de Breda, universo diegético ficcional, y los parajes naturales de sus alrededores, que hacen que el escenario habitual de la serie esté a medio camino entre lo urbano y lo rural, dicotomía ya presente en Tomelloso de García Pavón. Además, la figura del detective privado Ricardo Cupido, que basa su trabajo en su capacidad de reflexión y observación del comportamiento humano, tal y como ya hiciera el Maigret de Simenon, provoca, entre otras cosas, que sus novelas se adscriban a la variante psicológica-costumbrista del género. De esta manera, “más que saber la identidad del asesino o descubrir el modo en que actuó, lo que realmente importa […] es descubrir las razones que llevan a quitar la vida a alguien. Por encima del “quién” y del “como” siempre está, por tanto, el “por qué” (p. 135).
Alicia Giménez Bartlett (Albacete, 1951) con la serie “Delicado”, compuesta por nueve novelas: Ritos de muerte (1996), Día de perros (1997), Mensajeros en la oscuridad (1999), Muertos de papel (2000), Serpientes en el paraíso (2002), Un barco cargado de arroz (2004), Nido vacío (2007), El silencio de los claustros (2009) y Nadie quiere saber (2013), y un compendio de relatos, Crímenes que no olvidaré (2015), se adscribe a la variante de la novela procedimental, con la añadida originalidad de incluir un personaje femenino como protagonista, algo usual en la actualidad pero excepcional aún en la década que comenzó a escribir la autora. Otra de las innovaciones de la serie radica en que la inspectora de policía Petra Delicado y el subinspector Fermín Garzón, su compañero, son una pareja invertida en relación con los cánones tradicionales del género. También subvierte la autora los tópicos con respecto al espacio geográfico, inaugurando otra forma de enfocar la ciudad, al presentar una nueva visión del espacio menos detallada y minuciosa, que “supone una de las primeras ocasiones en que se rompe con los clásicos estereotipos espaciales barceloneses -las Ramblas, el Raval o el barrio Gótico, entre otros, que continúan apareciendo pero con mucha menor importancia que antaño- y ahonda en nuevos barrios y lugares” (p. 157). Por último, es destacable que esta saga tiene un interés humanista, más que una intención crónica y hace uso del humor y la ironía, tanto a través de la voz con la que la narradora homodiegética reconstruye el mundo, como en muchos de los diálogos que mantiene, fundamentalmente con Garzón, ya que la confrontación entre dos caracteres tan diferentes explota el contraste entre ambos de forma humorística.
Lorenzo Silva (Madrid, 1966), con la serie “Bevilacqua”, compuesta por ocho novelas: El lejano país de los estanques (1998), El alquimista impaciente (2000), La niebla y la doncella (2002), La reina sin espejo (2005), La estrategia del agua (2010), La marca del meridiano (2012), Los cuerpos extraños (2014) y Donde los escorpiones (2016), y la colección de relatos Nadie vale más que otro (2004), se ha convertido en un hito de la novela policiaca española contemporánea. Si hay algo que identifica a estas obras es la condición de agentes de la Guardia Civil de sus protagonistas: Rubén Bevilacqua, narrador homodiegético, y su compañera Virginia Chamorro, que van envejeciendo y cambiando a lo largo de las novelas. Así, por un lado, el autor da verosimilitud a su obra, adscribiéndola a la variante procedimental (aunque Silva ha acuñado el término “novela benemérita”), que hace que los protagonistas no tengan una zona geográfica de acción fija, sino que han de trasladarse por todo el territorio nacional y, por otro, presenta una imagen del Cuerpo renovada, ya libre de la negativa imagen que tenía durante el franquismo. Tampoco se puede obviar la segunda variante de la novela policiaca a la que se vincula esta serie, la denominada “psicológica costumbrista”, que tiene en las historias de Simenon, protagonizadas por el inspector Maigret, su principal referente en el ámbito de la literatura universal, y a Plinio de García Pavón en el ámbito nacional. Por último, cabría señalar que las novelas de la serie tienen una vocación de retrato histórico, por cuanto pueden ser interpretadas como una crónica crítica de la contemporaneidad española. Así se entiende que “leída en conjunto la serie puede ser interpretada, además de como una buena muestra de novelas policiacas, como una crónica de la España del siglo XXI vista a través del punto de vista de un peculiar guardia civil (p. 192).
En suma, Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español no es sólo una obra primordial para el estudio y el análisis del género policiaco y negro en España desde sus orígenes hasta la más inmediata actualidad, sino que es, también, por la gran cantidad de autores y obras sobre los que incide y aporta nuevas ideas, y los innumerables y valiosísimos ejemplos que evidencian todo lo expuesto, un libro apasionante a la vez que de indudable interés teórico-crítico. Tal y como ya afirmaba Georges Tyras en el prólogo, Javier Sánchez Zapatero y Àlex Martín Escribà “son autores ya de una verdadera saga crítica, de la que esperamos con ansiedad el episodio siguiente. Continuarán…” (p. 19).
Referências
CONGRESO DE NOVELA Y CINE NEGRO. Universidad de Salamanca. Disponible en: <http://www.congresonegro.com/>. [ Links ]
SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier; MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex. Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español. Barcelona: Alrevés, 2017. [ Links ]
TYRAS, Georges. Prólogo. In: SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier; MARTÍN ESCRIBÀ, Àlex. Continuará… Sagas literarias en el género negro y policiaco español. Barcelona: Alrevés , 2017. [ Links ]
Nora Rodríguez Martínez. Licenciada em Filologia Hispânica e Mestre em Ensino Secundário, Bacharelado, Formação Profissional e Ensino de Linguagem, pela Universidade de Sevilha. Atualmente está cursando o Doutorado no Programa de Estudos Filológicos da Universidade de Sevilha na linha da Teoria da Literatura e Literatura Comparada. Colaborador Honorário do Departamento de Língua Espanhola, Linguística e Teoria da Literatura da Universidade de Sevilha e membro do Grupo de Pesquisa Teoria Linguístico-Literária da mesma Universidade. Desenvolve pesquisas focadas no tema da narrativa policial contemporânea. E-mail: [email protected]
[IF]
History of Education in Latin America | UFRN | 2018
A revista History of Education in Latin America – HistELA (Natal, 2018-) é um periódico vinculado ao Grupo de Pesquisa História da Educação, Literatura e Gênero do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, exclusivamente eletrônico, de acesso aberto e publicação contínua de pesquisas com temas associados à história e à historiografia da educação.
A revista aceita manuscritos do tipo artigos, resenhas, entrevistas e documentos em português, francês, espanhol e inglês na área de história da educação e áreas correlatas.
[Periodicidade anual].
[Acesso livre].
ISSN 2596-0113
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
História e Educação: narrativas, práticas e sensibilidades / Ágora / 2018
Ao finalizar a organização do Dossiê “História e Educação: narrativas, práticas e sensibilidades”, vem-nos a certeza de que alcançamos os objetivos propostos, uma vez que congregamos textos que foram resultados de investigações realizadas no sentido de contribuir para os debates acerca das interfaces possíveis entre História e Educação, considerando tanto sua contribuição para a pesquisa quanto para a formação do historiador e do educador.
Dessa forma, oferecemos ao leitor um painel sobre as questões que podem, atualmente, sintetizar e orientar os estudos que se esforçam em relacionar História e Educação, considerando, especificamente, formas de narrativas, diversidade de práticas e as sensibilidades aí presentes.
Ora, a questão das sensibilidades na História, destacada por Lucien Febvre, não está limitada às fontes, mas diz respeito à própria compreensão da História e das durações. As formas de narrativas, nesse sentido, contribuem para as diferentes possibilidades de leitura das inscrições com as quais práticas do sensível marcam o tempo.
Assim, Leonardo Querino B. F. dos Santos, reflete, em seu texto A educação como problema médico: a pena de Belisário no debate sobre os males do Brasil (1912 – 1933), sobre as representações construídas por Belisário Pena sobre educação e saúde, priorizando fontes epistolares e a imprensa comum. Dessa forma, analisa como educação e saúde foram amalgamadas em uma representação de solução nacional, assim como discute sobre os debates que, naquele contexto específico, erigiram uma representação de “males brasileiros” a partir do paradigma médico. Conclui que, para Belisário, uma educação curativa e redentora só poderia ocorrer em três eixos unidos pelo referencial higienista: instrução, educação sanitária e cuidados com a saúde.
Por sua vez, Hadassa A. Costa estudou a arquitetura escolar em Campina Grande (PB) no início do século XX. No artigo intitulado A modernidade no corpo e no espaço: Práticas de Subjetivação, Higiene Moderna e Arquitetura Escolar, a autora analisa as influências das ideias de modernização no cotidiano escolar, especificamente a simbologia que a arquitetura moderna imprimia à escola. Nesse sentido, ao considerar a digestão do ambiente escolar como partícipe do aprendizado, analisa também os elementos que compuseram a construção da subjetividade daqueles alunos.
Entre o coletivo e o individual: memórias de um professor de História de escola pública é um, texto que reflete sobre o papel do educador considerando as urgências dos dias atuais. Assim, a autora Simone dos Santos Pereira analisa a narrativa de um professor de História sobre sua trajetória de vida e vivências na profissão docente entre o último quarto do século XX e a primeira década do século XXI. O olhar sensível sobre a fala desse professor permitiu à autora analisar diacronicamente as condições de sua permanência na docência considerando: sua paixão pela disciplina lecionada, seu engajamento político e seu reconhecimento como ser histórico, refletindo sobre seu papel social.
As práticas educativas efetivadas por docentes e discentes em uma determinada comunidade escolar é o tema do artigo de Janielly Souza dos Santos intitulado Não NEGO minha história: sou paraíba, sim senhor! Trata-se de um relato de experiência a partir da concepção de um ensino de História baseado no cotidiano dos alunos. História e Educação imbricam-se, assim, a partir da narrativa de práticas educativas fruto das sensibilidades produzidas pelos sujeitos que encenaram reflexões sobre história local e sobre suas próprias histórias.
Giuslane Francisca da Silva apresenta um trabalho sobre a atuação das chamadas Irmãs Azuis na educação escolar em Mato Grosso. Evangelizar, rezar e educar: a atuação da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Castres no campo educacional em Mato Grosso (1904-1971). Para tanto, analisa o percurso da instalação da Congregação no Brasil para além de seu intuito de fundar colégios. Focaliza, dessa forma, priorizando os arquivos da Congregação e textos produzidos também pelas freiras, as sociabilidades estabelecidas entre as Irmãse os que estavam sob seus encargos, construindo uma narrativa que dá visibilidade aos sujeitos envolvidos.
Agilidade, destreza e resistência adquiridas na infância: jogos e brincadeiras nas aulas de educação física da Paraíba (1920-1945)é um artigo de autoria de Alexandro dos Santos e Azemar dos Santos Soares Jr. Utilizando como fontes impressos que circularam na Paraíba durante a primeira metade do século XX, analisam, nesses veículos midiáticos, o valor educativo atribuído aos brinquedos, jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física como meio para a medicalização e disciplinarização do corpo dos alunos.
Este conjunto se oferece à leitura em momento oportuno, quando vemos educação e ensino de História ameaçados em suas práticas e sentidos, em nome de uma política puramente mercadológica que esvazia os sujeitos do processo educacional. Faz-se, hoje, urgente, uma reflexão histórica sobre práticas e sentidos da educação, visando a compreendermos o como e o porquê representações hegemônicas em um determinado contexto constituíram práticas educativas que ainda perduram e alimentam outras representações.
Juçara Luzia Leite
Iranilson Buriti de Oliveira
Organizadores.
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]
40 anos da Lei da Anistia: movimentos – narrativas – história / Ágora / 2018
O conceituado historiador francês Marc Bloch definiu, em um de seus principais livros, que o objeto da histórica “o homem no tempo”. Assim, para o historiador francês, o que deve mobilizar o historiador são as questões do presente, e, nesse sentido, a história passa a ser compreendida como um poderoso instrumento por meio do qual nós, homens da contemporaneidade, procuramos dirimir problemas que encontram-se contemporaneidade, incluindo aqueles que estão subscritos em um passado que não passa, parafraseando Reinhart Koselleck.
Considerando tal assertiva, o objeto sobre o qual os colaboradores do presente dossiê se debruçam é a Lei de Anistia, editada em 28 de agosto de 1979, e que tem sido tema de diversas pesquisas e reflexões de variados historiadores, sociólogos, juristas e cientistas políticos – que produziram uma literatura relativamente variada a respeito da temática em nível nacional. E próximo de completar 40 anos desde sua instauração, a referida Lei tem sido revisitada nas últimas décadas, e revista sob múltiplas temáticas que o assunto acaba por ensejar. Nos últimos anos, os debates sobre os legados da Lei da Anistia ganharam numerosas abordagens, interpretações e críticas, especialmente após a criação da Comissão Nacional da Verdade, com vistas a se apurar os crimes cometidos pelo Estado brasileiro no contexto do regime autoritário decorrente do Golpe de 1964.
E o presente dossiê encontra-se inserido exatamente nesse conjunto de preocupações e, dessa forma, procura cotejar diversas sub-temáticas, o que é feito com a generosa colaboração de vários estudiosos. Assim, diante da pluralidade de temáticas, o dossiê apresenta um conjunto de artigos que dialogam com inúmeras questões em torno dos legados da Lei da Anistia. Essa diversidade, em certa medida, reflete as diversas possibilidades de abordagens das questões ligadas a redemocratização e ao modelo de Justiça de Transição no Brasil.
Assim, o conjunto de textos que compõe esta edição aponta para diversas dimensões Da Lai da Anistia, o que nos remete a pensar, num espectro mais abrangente, acerca da própria democracia brasileira fundada e decorrente dela, e os dilemas em torno da própria da sua consolidação, em um momento em que seus marcos vêm sofrendo importante ameaças, diante da onda conservadora pela qual passa o país na atual conjuntura. Deste modo, buscamos, com o dossiê, além de fomentar o debate em um momento em que, mais uma vez, a temática que retorna para o centro atenções, aliar o exercício reflexivo para a compreensão dos mecanismos por meio dos quais se forjam a natureza e as características da Democracia Brasileira.
Pedro Ernesto Fagundes
Ueber José de Oliveira
Organizadores
Acessar publicação original desta apresentação
[DR]
Direitos Humanos dos Pacientes – ALBUQUERQUE (TES)
ALBUQUERQUE, Aline. Direitos Humanos dos Pacientes. Curitiba: Juruá Editora, 2016. 288p. Resenha de MALUF, Fabiano. Dignidade e respeito aos pacientes: o olhar dos Direitos Humanos. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.16, n.2, 2018.
Em tempos de judicialização da saúde, o livro Direitos humanos dos pacientes, de Aline Albuquerque, apresenta extenso arcabouço teórico dos direitos humanos e agrega importantes elementos à promoção e à defesa dos direitos dos pacientes. A obra tem como objetivo principal conjugar os conceitos dos direitos humanos ao âmbito dos cuidados em saúde dos pacientes tendo como base a normativa internacional sobre a temática.
O livro é dividido em três partes. A primeira, Aspectos gerais dos direitos humanos dos pacientes , é composta por dois capítulos. No primeiro capítulo, observa-se o cuidado em delimitar os conceitos de direitos humanos e de paciente. Parte da premissa de que os direitos humanos existem para concretizar a dignidade humana, de modo que todos os seres humanos, sem nenhuma distinção, possam desenvolver suas capacidades pessoais.
Aborda também o Sistema de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, sistemas aos quais se vincula o Estado brasileiro; e inclui o Sistema Europeu de Direitos Humanos por possuir este vasta jurisprudência no campo dos direitos humanos demarcando, dessa forma, as obrigações legais dos Estados contidas nesses três sistemas.
Define a tipologia obrigacional na qual os Estados têm as seguintes obrigações de direitos humanos: obrigações de respeitar, de proteger e de realizar – razão pela qual a falha em cumprir uma dessas obrigações acarreta séria violação dos direitos humanos.
Com relação à conceituação de ‘paciente’, deixa claro que o termo carrega dupla condição – de vulnerabilidade e de centralidade no processo terapêutico – e acolhe seu uso por ser utilizado pelos movimentos reivindicatórios dos direitos humanos; pela condição de vulnerabilidade expressada pelo termo e pela relação humana existente nos cuidados em saúde em detrimento aos termos ‘usuários’ e ‘consumidores’.
O segundo capítulo trata da teoria e dos princípios dos direitos humanos dos pacientes. Faz um resgate do panorama dos movimentos, organizações de pacientes e legislações acerca dos direitos dos pacientes, iniciando-se pelos Estados Unidos, passando pela Europa até chegar ao Brasil.
Destaca, ainda, a distinção entre o referencial dos Direitos Humanos dos Pacientes e as normas de direitos dos pacientes que, a despeito de se entrelaçarem, não são semelhantes. Os Direitos Humanos dos Pacientes derivam da dignidade humana inerente a todo ser humano, previstos em normas jurídicas de caráter vinculante, já as normas de direitos dos pacientes centram-se na perspectiva individualista do paciente sob bases consumeristas, dispostas em declarações, sem qualquer obrigatoriedade jurídica. Ressalta que o reconhecimento dos Direitos Humanos dos Profissionais de Saúde reverbera em benefício dos pacientes e contribui para disseminação de uma cultura de direitos humanos nos ambientes de cuidados em saúde.
Apresenta os pontos de convergência entre a Bioética e os Direitos Humanos dos Pacientes, porém reitera que ambos referenciais se expressam por meio de distintas linguagens e objetivos diferenciados, “a Bioética tem o escopo de refletir e prescrever moralmente, e o dos Direitos Humanos dos Pacientes, o de estabelecer obrigações juridicamente vinculantes aos atores governamentais com vistas à proteção dos pacientes” (p. 68). Evidencia os pontos de distanciamentos dos referenciais da Humanização da Atenção à Saúde notadamente em função da linguagem empregada, de cunho moral e motivacional, e do não reconhecimento do papel intransferível das autoridades estatais em prover condições dignas de cuidados em saúde para pacientes e de trabalho para os profissionais de saúde.
Nesse sentido, a obra traz à tona a discussão sobre a Abordagem Baseada nos Direitos Humanos aplicada à saúde ter como foco políticas e programas de saúde distantes da perspectiva do paciente. Assim, propõe uma inflexão no campo da bioética com o intuito de adotar uma perspectiva inclusiva, que recusa uma acepção atomista do indivíduo, ou seja, defende um conteúdo mínimo basilar do princípio da dignidade humana: “o de que cada ser humano possui um valor intrínseco que deve ser respeitado” (p. 77).
Albuquerque finaliza o capítulo abordando os princípios dos Direitos Humanos dos Pacientes: o Princípio do Cuidado Centrado no Paciente, notadamente o direito ao respeito pela vida privada e o direito à informação; o Princípio da Dignidade Humana que, apesar de polissêmico e complexo, assinala o papel fundamental para sua materialização na esfera dos cuidados em saúde dos pacientes; o Princípio da Autonomia Relacional, que enfatiza a interdependência do paciente com o meio relacional que o circunda, e o Princípio da Responsabilidade dos Pacientes, que corrobora que ao compartilhar informações e concorrer para a construção de seu plano terapêutico, o paciente reparte a responsabilidade pelo tratamento escolhido.
A segunda parte do livro, denominada “O conteúdo dos Direitos Humanos dos Pacientes”, compreende nove capítulos nos quais são tratados em profundidade os conteúdos de sete direitos humanos dos pacientes (do capítulo 3 ao 9): direito à vida; direito a não ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; direito à liberdade e segurança pessoal; direito ao respeito à vida privada; direito à informação; direito de não ser discriminado; e direito à saúde, todos detalhados posteriormente à apresentação da metodologia de levantamento e de desenvolvimento da jurisprudência internacional adotada (capítulos 1 e 2).
A abordagem dos direitos delimita-se a três aspectos: uma apresentação do assunto para melhor situar o leitor; as principais conexões entre o tema e o direito em análise e a exposição de casos ou relatórios sobre o tema. Busca-se extrair de cada direito humano outros, mais específicos, destinados a serem aplicados na esfera dos cuidados em saúde. O que se tem como maior contribuição do capítulo é a demonstração que “determinados direitos comumente atribuídos aos pacientes derivam de normas de direitos humanos e que a jurisprudência internacional em matéria de direitos humanos vem aplicando dispositivos de tal natureza com vistas a proteger o paciente” (p. 180).
A parte 3, intitulada “Aplicação dos direitos humanos dos pacientes”, defende a importância da figura do Agente do Paciente em seus diferentes contextos e condições específicas; ressalta a experiência normativa do Reino Unido, notadamente o sistema mais avançado em termos de direitos humanos dos pacientes e apresenta as normas brasileiras sobre os direitos dos pacientes sob a perspectiva dos direitos humanos, guardando especial atenção às legislações existentes em seis estados brasileiros.
Encerra o capítulo apresentando as justificativas para uma proposta de lei brasileira sobre os direitos dos pacientes sob a perspectiva dos direitos humanos, devido ao fato de não existirem políticas governamentais voltadas para a concretização de tais direitos e do vazio legislativo que concorre para a propagação de ações violadoras dos direitos humanos dos pacientes.
Nesse sentido, é oportuno ressaltar o Projeto de Lei nº 5559/16, em tramitação na Câmara dos Deputados, ao considerar que é dever do Estado zelar pela proteção das pessoas na condição de pacientes, adotar legislação condizente com sua situação específica de vulnerabilidade e que prevê os direitos dos pacientes com base nos documentos internacionais de direitos humanos e de bioética (SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA, 2017).
De modo geral, percebe-se que injustiças e tratamentos desumanos podem ocorrer mais frequentemente em localidades onde não se reconhecem os direitos humanos dos pacientes no discurso político e em legislações. Assim, é de fundamental importância a necessidade de se ter direitos que assegurem a oportunidade e a segurança de persegui-los e reivindicá-los.
De fácil leitura e compreensão, a obra convida os leitores a uma reflexão crítica ao lançar luz sobre a temática, incipiente no país, e contribuir para fortalecer, no Brasil, uma nova perspectiva, a da cultura dos direitos dos pacientes no âmbito dos cuidados em saúde. Desse modo, ser possuidor de direitos numa sociedade que assegura a vigência e a concretização dos direitos humanos dos pacientes é ao mesmo tempo uma fonte de proteção pessoal e uma fonte de respeito à dignidade humana.
Referências
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA. Carta de Recife. Moção de apoio ao Projeto de Lei nº 5559/16 – Estatuto dos Direitos do Paciente. XII Congresso Brasileiro de Bioética. VI Congresso de Bioética Clínica. Recife, 28 de setembro de 2017. Disponível em: < http://www.sbbioetica.org.br/uploads/repositorio/2017_11_01/CARTA-DE-RECIFE.pdf> . Acesso em: 16 de março de 2018. [ Links ]
Fabiano Maluf – Universidade de Brasília , Departamento de Saúde Coletiva , Brasília , Distrito Federal , Brasil. E-mail: [email protected] >
[MLPDB]
Kwanissa | UFMA | 2018
A Kwanissa – Revista de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros (São Luís, 2018-) é uma revista científica criada no seio do curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros e tem como foco: História e Cultura Africana e Afro-Diaspórica; – Relações étnico-raciais; Educação das relações étnico-raciais e lei 10.639/03; Políticas Públicas de promoção da igualdade racial; Epistemologias do Sul; Estudos da diáspora africana (cultura, ciência, etc.); Gênero, direito e políticas na diáspora africana.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
ISSN 2595-1033
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
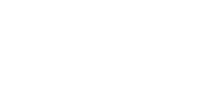





 Estela Okabayaski Fuzii, Angelita Marques Visalli,
Estela Okabayaski Fuzii, Angelita Marques Visalli, 
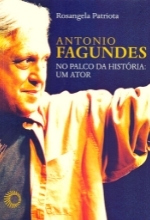 Antônio Fagundes
Antônio Fagundes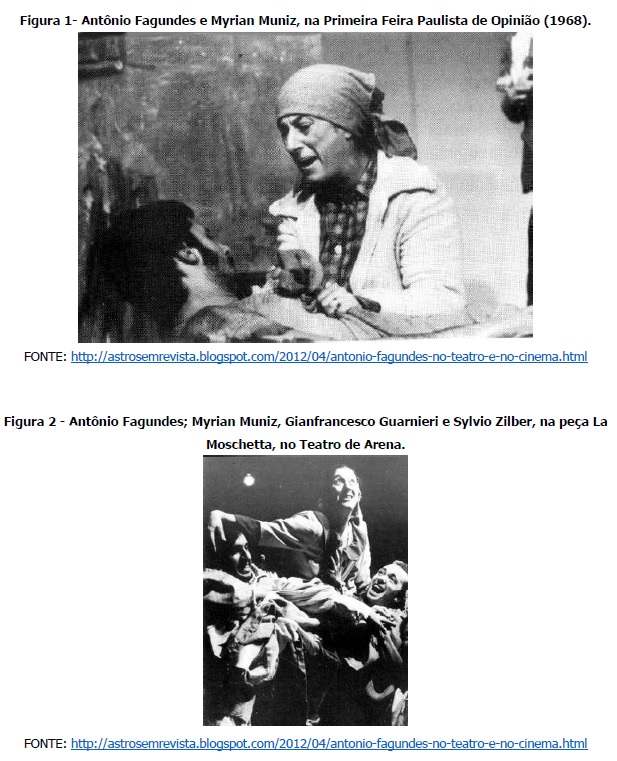
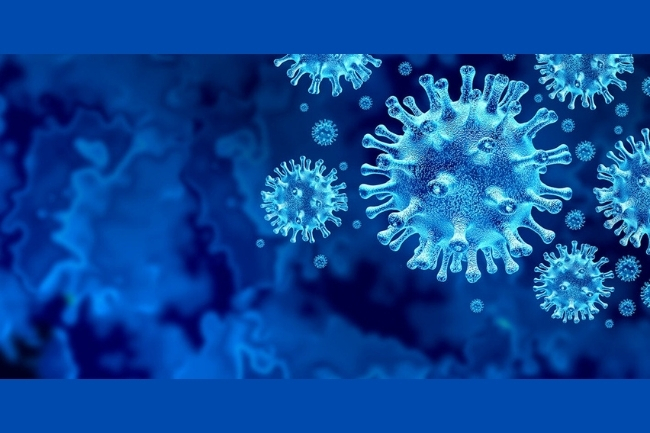

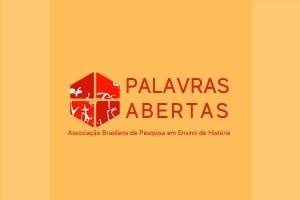

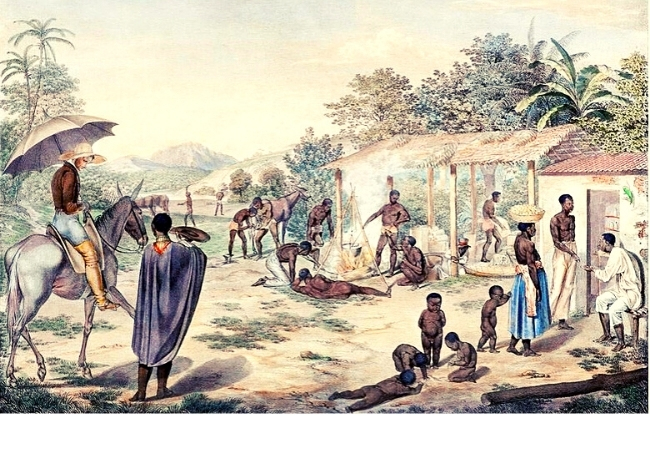


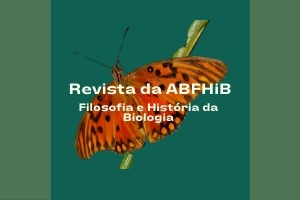




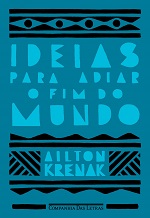 Ailton Krenak / Foto:
Ailton Krenak / Foto: