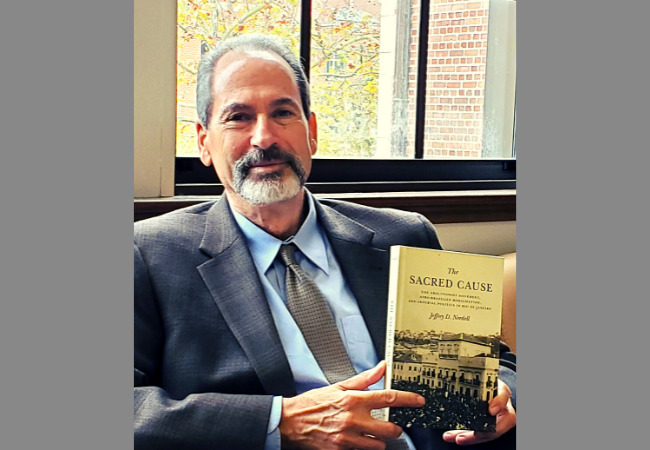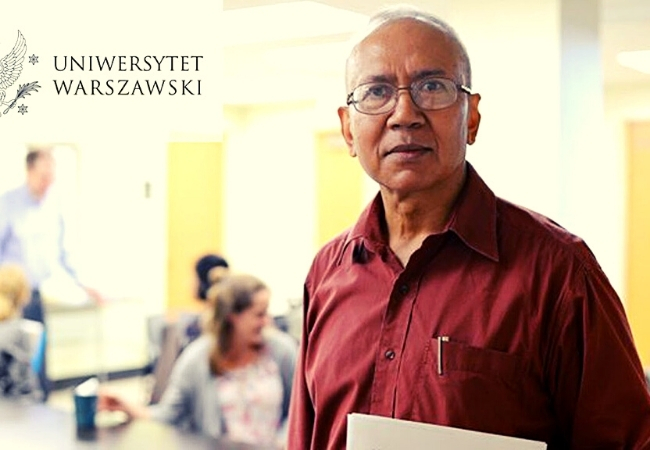Manuel Fernandes Tomás. Escritos políticos e discursos parlamentares (1820-1822) | José Luís Cardoso
1 “Ele foi talvez o primeiro que soube achar a época, e o termo preciso, em que o direito de insurreição contra a tirania, é não só uma virtude digna de aplauso dos presentes, da comemoração dos vindouros, e mesmo de apoteose, mas também o exercício de um direito político”.[1] Manuel Fernandes Tomás e o movimento revolucionário de 1820 estão indissoluvelmente ligados. Jurista consagrado, oriundo da Figueira da Foz, concluídos os estudos na Universidade de Coimbra, após o desempenho de diferentes cargos, em 1820 encontrava-se a exercer funções de desembargador no Porto há três anos. Foi um dos membros do Sinédrio, ministro do Interior e da Fazenda da Junta Provisional do Reino, deputado às Cortes Constituintes, reeleito em 1822, ano em pereceu. O seu papel em momentos-chave da implantação do regime vintista foi essencial, a ele se devem textos fundadores, responsabilidades decisivas como a organização das primeiras eleições dentro do quadro liberal, e intervenções parlamentares decisivas. Na memória democrática, ficou consagrado como uma figura impoluta, corajosa, um político competente e um grande orador. Columbano e Veloso Salgado atribuíram-lhe espaço destacado nas duas principais representações pictóricas do edifício da Assembleia da República. “A primeira revolução liberal portuguesa tem a sua personificação em Fernandes Tomás”, escreveu José Arriaga.[2]
2 Contudo, até recentemente não se dispunha de nenhuma ampla antologia dos seus textos, em contraste com outros políticos, como Almeida Garrett ou Passos Manuel, que em vida reuniram os seus discursos parlamentares em livro. As únicas obras dele impressas em vida foram duas notáveis contribuições para a história do direito do Antigo Regime, um estudo sobre a propriedade e um repertório legislativo. O seu precoce desaparecimento, no início da segunda legislatura do regime vintista, e o apagamento da memória do vintismo durante as longas décadas de cartismo e do Estado Novo explicam-no. A recolha dos textos da sua autoria organizada por José Luís Cardoso veio preencher o vazio existente, sendo o livro em boa hora editado no ano do bicentenário da revolução de 1820, seguindo-se a outro seu livro sobre a revolução, com excelente fundamentação e bem organizado, numa linguagem acessível e de grande qualidade gráfica.[3]
3 Manuel Fernandes Tomás e a revolução de 1820 constituem alicerces fundamentais da memória e da história do liberalismo português. Foi valorizada pela corrente republicana, como o comprova a monumental História da Revolução de 1820 de José Arriaga (1886-89), onde Manuel Fernandes Tomas ocupa um lugar destacado. Também Luís Augusto Rebelo da Silva o incluiu em Varões ilustres das três épocas constitucionais (1870). Com o advento do Estado Novo, esta época esteve marginalizada, excluída da história oficial ensinada nas escolas ou difundida publicamente, onde ainda não ocupa o lugar merecido. O século XIX e o primeiro quartel do século XX eram considerados em bloco como um período negro, sobre o qual incidiu um pesado silêncio oficial.
4 Alguns historiadores isolados da oposição democrática principiaram a debruçar-se sobre esta época a partir da década de 1940. Com o restabelecimento de um regime liberal em Portugal, democrático, principiou-se um estudo mais sistemático da história do liberalismo monárquico e republicano. Manuel Fernandes Tomás foi desde logo objeto de um estudo de José Manuel Tengarrinha, acompanhado da publicação de alguns dos mais importantes documentos produzidos por ele e de várias intervenções parlamentares sobre temas fundamentais como a liberdade de imprensa ou o âmbito do sufrágio. Alguns anos decorridos, José Luís Cardoso viria a dedicar-lhe uma biografia (1983), recentemente reeditada (Manuel Fernandes Tomás. Ensaio histórico-biográfico. Coimbra: Almedina, 2020). Deve-se a Cecília Honório a primeira tese de doutoramento que lhe foi dedicada, e que é a biografia política mais completa a seu respeito. Nela são analisadas pela primeira vez as principais intervenções parlamentares e os outros textos da sua autoria (Manuel Fernandes Tomás, 1771-1822. Lisboa: Assembleia da República, 2009).
5 A antologia de textos agora publicada por José Luís Cardoso é precedida de um longo estudo introdutório de cerca de 40 páginas. Nele se faz uma análise abrangente das questões abordadas por Manuel Fernandes Tomás e da sua contextualização, em introduções específicas relativas a cada um dos blocos de textos. Este trabalho analítico é entremeado de útil bibliografia da época acerca de questões similares, um instrumento de trabalho estimulante de futura abordagem comparativa aqui iniciada. De salientar uma contribuição para o estudo das influências ideológicas no meio político, mediante um quadro quantificando as citações de diferentes autores estrangeiros nos trabalhos parlamentares.
6 Os textos selecionados foram agrupados em cinco blocos. No primeiro reúnem-se os manifestos e proclamações, textos anónimos cuja atribuição a MFT é indubitável e que constituem textos emblemáticos do vintismo, a que se juntaram os discursos oficiais e ofícios. Estas páginas permitem-nos acompanhar o processo de implantação do novo regime desde os seus primeiros momentos. O discurso da sala do Risco do Arsenal conduz-nos ao universo das sociedades patrióticas, uma nova forma de sociabilidade característica desta época. Os principais políticos cruzavam-se nessas sociedades, foi o caso de José Xavier Mouzinho da Silveira e Manuel Fernandes Tomás, tendo o primeiro presidido e discursado no jantar comemorativo do 1º aniversário do 24 de Agosto, promovido pela Sociedade Constitucional,[4] e que agora ficamos a saber ter estado igualmente presente na cerimónia comemorativa do 1º aniversário do 15 de Setembro promovida por esta sociedade, na qual discursou Fernandes Tomás (Cardoso, op. cit., 35 e 98-100). Dois textos com estilos e metáforas muito diferentes, mas onde se expressa o mesmo repúdio por uma sociedade baseada nos privilégios e o elogio da liberdade, no caso de Mouzinho associada ao fim da escravatura e à “união em liberdade dos dois separados hemisférios”, uma questão fundamental para a definição do espaço nacional. Tal união viria a ser por ele referida já como periclitante no mesmo círculo, decorrido um ano, a dois meses da independência do Brasil. Em 1823 consideraria urgente dá-la por encerrada para delinear nova orientação do governo.
7 As intervenções parlamentares de M. F. Tomás a respeito da questão brasileira permitem acompanhar a evolução da sua atitude e situá-la na gestão deste problema pelos constituintes neste período de transição, em si já bem estudada.[5] Admitindo a inevitabilidade da independência a longo prazo, considerava que no imediato o novo regime de liberdade permitiria o desenvolvimento conjunto das duas regiões intercontinentais da coroa portuguesa, no interesse recíproco. A “Proclamação aos habitantes do Brasil”, datada de julho de 1821, expressa essa posição de forma convicta num texto dirigido à população, posição retomada no folheto “Lutero, o padre José Agostinho de Macedo e a Gazeta Universal” (1822), incluído na secção III (pp. 190-192). Face às resistências brasileiras, esta posição alterna com a admissão de mau grado da separação do Brasil, excluindo sempre qualquer intervenção militar.
8 O segundo bloco, intitulado “Ação governativa”, é constituído por um único documento, o famoso relatório sobre o estado e administração do reino, fruto da sua própria experiência como ministro do interior e a da fazenda na Junta Provisional, apresentado às Cortes logo no seu início. O terceiro e quarto blocos constituem as partes mais inesperadas para um leitor menos conhecedor desta época. Que um ministro e depois deputado prestigiado tenha publicado anonimamente as Cartas do Compadre de Belém e um pouco mais tarde um jornal juntamente com Ferreira de Moura, deputado com quem estava em alguma sintonia, testemunha de profunda osmose entre a ação política e as novas formas de comunicação impressa. Folhetos e jornais tornam-se, de 1820 em diante, o instrumento novo e inebriante do debate de ideias e de difusão de notícias. Mais de uma centena de jornais são editados no período vintista, com formato, dimensão e duração muito variáveis.
9 A iniciativa de lançar o jornal O Independente (publicado de novembro de 1821 a março de 1822) inseria-se neste movimento descrito de forma entusiástica no editorial do primeiro número: “a variedade de assuntos, a rapidez, com que são tratados; […] a facilidade de se obterem estes escritos e a brevidade com que se leem […]”. Desde os primórdios da imprensa periódica que a desinformação e a invocação errática da “opinião pública” não tardaram a aparecer, como se alerta logo no terceiro artigo, “Testemunhos falsos que se costumam levantar à opinião pública”. Esta iniciativa explica-se também pela ausência de partidos políticos nesta época. O jornal é um instrumento de difusão alargada dos debates parlamentares e uma forma de fortalecer as posições de ambos os deputados nesses debates, por isso se caracteriza por um número elevado de artigos de opinião. José Luís Cardoso agrupou-os em quatro secções temáticas: Cidadania Constitucional, Reformas institucionais, Economia e Finanças, e Segurança pública.
10 O quinto e último bloco de textos, o mais extenso, contém uma ampla seleção dos discursos parlamentares, ultrapassando as duas centenas de páginas. MFT teve intensa participação parlamentar, intervindo como orador em 281 sessões ao longo de 21 meses e 7 dias, em regra com mais de uma intervenção em cada sessão, como nos informa J. Luís Cardoso. O total de registos do seu nome como orador eleva-se a 580. Compreende-se que a obra de Cecília Honório, já mencionada, tenha sido incluída na Colecção Grandes Oradores, dirigida por Zília Osório de Castro. Naturalmente, as intervenções tiveram dimensão e significado muito variável. Para esta antologia foram selecionados 119 discursos, utilmente agregados em dez grupos, de que é impossível dar uma súmula aqui, sendo cada um deles objeto de análise cuidada no estudo introdutório.
11 Pode questionar-se a sua sequência, seria porventura mais lógico que os grupos das intervenções sobre princípios constitucionais, soberania e a divisão de poderes antecedessem o grupo sobre a justiça e a sua organização. Agregar os textos segundo o tema dominante, nem sempre o único, não foi fácil, como releva o autor. Poderia preferir-se que o debate sobre os jurados e a lei de imprensa fosse inserido no grupo acerca deste tema e não no da justiça, ou pelo menos fosse ali referido. Também pode lamentar-se que não se tenha indicado a que projeto-lei se refere cada intervenção ou grupo de intervenções, ou quem é o “preopinante” referido aqui e ali – e uma pequena nota sobre o significado desta palavra caída em desuso podia também ser útil. Sendo possível hoje a consulta on-line do Diário das Cortes, é certo que o leitor poderá fazer essa pesquisa, com maior facilidade do que anteriormente. Nada disto diminui o mérito do trabalho realizado, a seleção e organização temática dos principais discursos parlamentares constitui uma obra da maior utilidade e é porventura a contribuição mais valiosa desta antologia, no seu conjunto com grande interesse histórico.
12 As intervenções parlamentares de Fernandes Tomás foram com grande frequência decisivas, conhecê-las permite compreender o que esteve em jogo e a mentalidade da época, e a capacidade de MFT encontrar a mudança possível, adequada ao momento. Veemente na defesa da abolição da Inquisição, da censura prévia da imprensa ou a favor do sufrágio alargado, foi também conciliador em relação à liberdade religiosa e à reforma dos forais. A sua posição política tem sido assim classificada de gradualista, pontuada de escolhas radicais. A igualdade perante a justiça tornava inadiável a reforma da justiça e J. Luís Cardoso acentua justamente a relevância das reflexões e propostas sobre o sistema de justiça, cuja dimensão passara desapercebida até agora. Também Borges Carneiro, de cujas propostas discordava frequentemente, apontara a prioridade devida à reforma do código penal existente (Portugal Regenerado, 1820).
13 Esta obra ora publicada representa uma contribuição valiosa para o pensamento e a ação de um dos principais políticos do vintismo e abre o caminho à abordagem comparativa entre os diferentes políticos liberais numa base mais consistente, permitindo um conhecimento mais completo acerca desta época.
Notas
1. Ferreira Moura, DCC, 4/1/1823, p. 347, in Cecília Honório, Manuel Fernandes Tomás, 1771-1822. Lisboa: Assembleia da República/Texto, 2009, p. 26.
2. José Arriaga, História da Revolução Portugueza de 1820. Porto: Livraria Portuense, 1886-1889, t. III, p. 632, in Honório, op. cit., p. 15.
3. José Luís Cardoso, A Revolução Liberal de 1820. Lisboa: Clube do Colecionador dos Correios, 2019.
4. Ver M. H. Pereira et al. (eds), Obras de Mouzinho da Silveira. Lisboa: F. Calouste Gulbenkian, 1989, v. I, p. 53 n. 83 e v. II, pp. 1917-20.
5. Ver Valentim Alexandre, “Nacionalismo vintista e a questão brasileira”, in M. H. Pereira et al. (org), O liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX. Lisboa: Sá da Costa Editora, 1982, v. 1, pp. 287-307; Zília Osório de Castro, Portugal e Brasil. Lisboa: Assembleia da República, 2002.
Miriam Halpern Pereira – CIES, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. E-mail: [email protected]
CARDOSO, José Luís Cardoso (org). Manuel Fernandes Tomás. Escritos políticos e discursos parlamentares (1820-1822). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2020. 538p. Resenha de: PEREIRA, Miriam Halpern. Ler História. Lisboa, n.78, p.296-300. Acessar publicação original [IF]
Renaissance italienne et architecture au XIXe siècle. Interprétations et restitutions | Antonio Brucculeri e Sabine Frommel
Os múltiplos pontos de vista das vinte e duas contribuições (em francês, inglês e italiano) reunidas nessa obra coletiva referem-se, especificamente, à construção do conceito de Renascimento e à sua recepção no século 19, sobretudo na arquitetura, cobrindo também pesquisas relacionadas à história da arte, história do patrimônio, historiografia artística, história do colecionismo, história da edição e da fotografia, e história literária, acompanhadas de um caderno com 185 imagens em pb. Cruzando enfoques interdisciplinares os autores buscam renovar as perspectivas de análise consagradas na rica historiografia sobre a noção de Renascença e a problematizar situações, estudos de caso, enfoques monográficos, releituras de artistas e arquitetos, em torno do interesse pelo renascimento italiano ao longo do oitocentos em vários países. Leia Mais
Fortineras, mujeres en las fronteras. Ejércitos, guerras y género en el siglo XIX | María Cristina Ockier
El presente libro recupera los resultados obtenidos en la tesis de maestría en género de Ockier. La autora se ha dedicado a la historia del alto valle del Río Negro, particularmente al período correspondiente a la “Conquista del desierto”, y en este trabajo continuó en esa línea de estudio en clave de género. En las últimas décadas los estudios en perspectiva de género se han incrementado y en gran medida se debe al esfuerzo de los movimientos feministas. Empero, los trabajos previos que refieren a las fortineras, las mujeres de las que se ocupa Ockier, se han limitado a un carácter sobre todo descriptivo, que sin duda han contribuido en el rastreo y conocimiento de las mismas al momento de elaborar el estudio más reflexivo y analítico que aquí se reseña. Ockier no solo va a dar cuenta de las actividades que realizaban dichas mujeres en los campamentos, sino que además devela el entramado de jerarquías y poderes en las relaciones sociales que se construyeron en base al patriarcado. Y en relación a ello observó cómo las mujeres resultaron desplazadas de las tareas socialmente consideradas de mayor relevancia, entre ellas la actividad militar.
El libro se estructura en tres partes. En la primera, que consta de dos capítulos, la autora se pregunta: “¿Dónde radica la particularidad del quehacer militar? En los fortísimos significados y representaciones de género que lo atraviesan” (p. 5). De este modo, pretende desmentir la idea biologicista de que las mujeres son incapaces de ejercer violencia. Concepto que ha conllevado a representar a las mujeres guerreras – Juana de Arco, las amazonas, Boadicea, entre otras– como figuras excepcionales, personajes románticos, no naturales. La autora realizó un recorrido histórico e historiográfico sobre diversos estudios que han analizado el papel de las mujeres en la guerra en diferentes contextos. Primeramente, lo hizo a una escala internacional e incluyó no solo relatos de mujeres occidentales, sino también orientales, para luego acercarse a los estudios latinoamericanos que han recuperado las voces de las mujeres que intervinieron en diferentes batallas, entre ellas: las amazonas, las paceñas, las cochabambinas que participaron en las Guerras de Independencia, las matriarcas, andarilhas y vivandeiras del Brasil que estuvieron en la Guerra del Paraguay, y las adelitas de la Revolución Mexicana. Asimismo, menciona a mujeres individuales, como Machaca Güemes, Juana Moro, Javiera Carrera y muchas más… Todas fueron enmarcadas bajo dos estereotipos o representaciones: de víctima o de bravura. El androcentrismo ha conllevado a crear esas imágenes dado que no es “natural” que una mujer tome las armas o ejerza la violencia. Leia Mais
Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia | João José Reis
O livro Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia foi lançado em agosto de 2019 e preenche uma importante lacuna da historiografia a respeito das greves promovidas por escravos ou libertos. Como homens e mulheres escravizados viveram o cotidiano da escravidão urbana? O autor, João José Reis (UFBA), especialista em contar como os escravos se revoltavam, nos oferece uma riqueza de detalhes sobre a vida desses homens que resistiram a uma maior exploração dos seus corpos numa grande cidade escrava. O final da história está no título do livro e representa o nome dado a esses homens que ousaram contra a municipalidade soteropolitana: ganhadores, pois também venceram uma batalha que durou 10 dias e que paralisou a cidade de Salvador. Além deles, com esse livro ganharam todos os interessados em discutir a escravidão, o trabalho, a liberdade e a cidadania negra no oitocentos. Leia Mais
Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil | Yuko Miki
Yuko Miki | Foto: Fordham News |
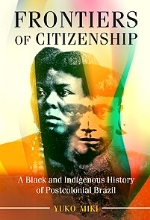
Frontiers of Citizenship, de Yuko Miki, já mereceria ser saudado por explorar essa primeira “fronteira”: a que separa a história de afro-brasileiros e de indígenas no Império do Brasil. Mais uma vez, o olhar estrangeiro nos ajuda a questionar os cânones da história nacional. Miki nascida em Tóquio, mas há muitos anos radicada nos Estados Unidos, onde é professora da Fordham University (NY), conta ao longo do livro o seu estranhamento em ver a história desses dois grupos tão apartada. Por outro lado, o livro – e especialmente seus comentários de contracapa – lhe atribuem muitas vezes uma originalidade que não é verdadeira. Muitos pontos – sobretudo em relação à história dos povos indígenas – podem ser pouco conhecidos do público estrangeiro, mas são absolutamente sabidos entre os historiadores brasileiros. A despeito disso, o esforço em buscar uma única interpretação, ou mesmo pontos de encontros, para a história de indígenas e afro-brasileiros escravizados é um ganho real.
Desde o início o livro chama a atenção por essa fusão que não está apenas na capa – uma bela arte de sobreposição de imagens de indígenas e afro-brasileiros – mas por se tratar de um volume da “Afro-Latin America” da Cambridge que tem como recorte espacial o vasto território conhecido na historiografia por ser aquele que foi alvo de D. João, em 1808, para se fazer guerra aos indígenas botocudos. Poucos territórios têm tão marcadamente um tema e uma cronologia: a guerra justa contra os botocudos e o período de 1808 a 1831, quando esta prática é extinta pelo Parlamento. Quase que exclusivamente tratado pela historiografia sobre os povos indígenas, é centro de discussão para as políticas indigenistas e as modalidades de trabalho imposta a estes povos. [4]
Miki implode esses parâmetros. Em primeiro lugar, avança a análise até o final do Império, permitindo revelar um quadro de mudanças muito mais complexo do que aquilo que se vê apenas até 1831, passando inclusive pelo Regulamento das Missões (1845) [5], o movimento abolicionista e a própria abolição. Ainda mais importante, Miki tenta enxergar essa região – que ela chama de “Fronteira Atlântica”, algo que problematizaremos adiante – como uma espécie de síntese, de um laboratório do Império. Afinal, foi ali que se abriu no começo do século XIX uma política generalizada de extermínio indígena. É verdade que isto jamais foi suprimido no Império português, mas especialmente depois de Pombal as políticas que tentavam transformar os indígenas em portugueses tornaram-se centro da estratégia do Império na disputa por territórios com Madri.
Ao mesmo tempo, o espaço colonial é o símbolo de uma mudança política com a vinda da Corte, Corte que não valorizava mais “zonas tampão” – papel que o território e os botocudos tinham ocupado até 1808 para impedir o desvio de pedras preciosas. Ao invés disso, o que se precisava era expandir-se “para dentro”, feliz expressão de Ilmar Mattos que fará ainda mais sentido já no Império do Brasil. [6] A expansão agrícola na “Fronteira Atlântica” é acompanhada de tentativas de implementação de novas alternativas de propriedade e trabalho. A mais famosa dessas iniciativas é a Colônia Leopoldina, incentivada pela própria Coroa através da vinda imigrantes e a distribuição de pequenas propriedades. A rápida transformação dessa experiência em apenas mais uma grande monocultura tocada com braços de escravizados afro-brasileiros, somada ao fato de ter se tornado um dos símbolos da resistência escravista, é extremamente destacado pela autora. Em alguma medida, o tom pessimista de toda a obra é sintetizado no “fracasso” da Colônia Leopoldina em manter-se com o trabalho livre.
Ainda que não dito explicitamente, Miki parece descrever um processo de mudança que nunca ocorre totalmente, como se o peso do passado fosse intransponível. A polissemia da palavra fronteira é habilmente explorada pela autora. A “Fronteira Atlântica” é a região que estuda. Os indígenas e afro-brasileiros estão fisicamente nesta fronteira, mas a sua cidadania também está em uma fronteira mais intangível, em uma área difícil de saber com clareza quem está dentro e quem está fora. Ainda que se valendo de análises já bastante conhecidas – sobretudo, de Sposito e Slemian [7] – Miki faz uma problematização dessa questão, lembrando que a constituição brasileira não era racializada. Ou seja, não era a cor da pele que determinava os direitos políticos. Por outro lado, condições jurídicas intrinsicamente ligadas à condição de homens e mulheres não brancos – como ser escravo ou considerado “selvagem” no caso dos indígenas – excluíam essas pessoas do “pacto político”. É apenas no final do livro – já discutindo o abolicionismo e o final do Império – que Miki deixa explícito que a negativa de direitos políticos para indígenas e negros era um projeto e não uma deficiência do sistema. Nesse ponto, há uma perfeita sintonia entre os projetos que analisa para indígenas e para os escravos após a abolição: em todos esses casos jamais se pensa em entregar terras e autonomia a esses povos. Ao contrário, a condição de subordinados, tutelados por fazendeiros ou religiosos é vendida como a única forma para impedir que ex-escravizados ou indígenas se entregassem ao ócio. Um discurso que se sustentou por décadas – e no caso dos indígenas, por séculos – e que ela registrou ecoar até mesmo entre os mais radicais abolicionistas da “Fronteira Atlântica”.
Se ao discutir a extensão da condição de cidadãos para indígenas e afro-brasileiros, Miki consegue uma análise mais integrada, o mesmo não acontece a respeito de outros aspectos. O exemplo mais evidente nesse sentido é o uso desses homens como mão de obra. Há, evidentemente, a demonstração de que em todo esse território havia o emprego significativo de indígenas e afro-brasileiros. No entanto, este são universos que estavam no mesmo território, mas que a narrativa organiza em sistemas produtivos bastante distintos. Ou seja, o enfoque para os indígenas está, de modo geral, nas missões e os escravizados afro-brasileiros nas fazendas. A pureza dessas separações tão estanques é difícil de acreditar em um território como esse. Bezerra Neto já mostrou que as fazendas monocultoras do Pará, por exemplo, sempre foram tidas como tocadas por mão de obra exclusivamente escravizada afro-brasileira, mas na verdade dividia os campos com indígenas. [8]
Antes que se diga que se trata das “excentricidades” do Cabo Norte, Marco Morel, em belíssimo e recente trabalho sobre os botocudos, justamente mostra como a sua mão de obra era frequentemente requisitada para os mais diferentes tipos de trabalho, ocupando frentes inclusive no entorno da Corte. Além do trabalho em obras públicas, Morel dá vários exemplos de como eram recorrentes as denúncias do emprego de indígenas em fazendas em toda essa região, muitas vezes desviados de instituições públicas sob a alegação de que era um método de civilização mais barato. [9] Para além disso, Miki passa ao largo da discussão mais interessante da historiografia recente: aquela que implode a visão dicotômica que separava todo o trabalho no Brasil do século XIX nas categorias de trabalho livre ou trabalho escravo. Em vez disso, há uma gigantesca zona cinzenta – não só no Brasil, mas em todo o mundo – em que homens livres são obrigados a trabalhar sob as mais diferentes formas de coerção, inclusive físicas. [10] Indígenas e afro-brasileiros eram especialmente alvo dessas ações que Miki totalmente ignora no livro.
Por fim, há ainda uma última consideração geral: a ideia de classificar esta região de ataque aos botocudos como “Fronteira Atlântica”. Miki insiste muito na ideia da fronteira, certamente influenciada pela tradição americana e critica o pouco uso desse termo na historiografia brasileira. No entanto, esta designação parece ter muitas fragilidades: no Império do Brasil, no processo de “expansão para dentro”, a fronteira é o recorrente e não a exceção. Nesse sentido, a região estudada por Miki parece estar longe de ser algo particularmente singular.
Mais especificamente sobre a distribuição dos capítulos é importante salientar que as suas divisões são temáticas, ainda que de modo geral a evolução dos capítulos também siga em alguma medida um avanço cronológico. Assim, o primeiro capítulo explora as “fronteiras da cidadania”, enquanto o segundo busca dar uma interpretação ao que ela chama de “política popular” (em tradução livre). Nos capítulos seguintes, outros temas giram em torno de tópicos como a mestiçagem, a violência, os “campos negros” e o abolicionismo. Os capítulos podem ser lidos separadamente, quase sem prejuízo do seu entendimento, o que por sua vez revela um problema de coesão da obra no seu conjunto. Também é peculiar a mistura de abordagens mais “estruturais” – como as discussões da cidadania a partir de documentos do centro político do Império – com narrativas totalmente focadas na “agência”. Especialmente nesse último ponto a obra encontra mais dificuldades. Há alguns insights maravilhosos, mas custa enxergar que alguns eventos possam ser usados para generalizações reiteradamente feitas.
Apesar das críticas, Frontiers of Citizenship é um livro que provoca muitas reflexões e incomoda ao buscar análises de ângulos inusuais. Isso por si só já basta para merecer a sua leitura.
Notas
3. Entre outras novas evidências, percebe-se o uso da mão de obra indígena mesmo em regiões irrigadas com escravizados afro-brasileiros, como São Paulo ou mesmo a região do Vale do Paraíba, pelo menos até um determinado período. Entre outros, veja LEMOS, Marcelo Sant’ana. O índio virou pó de Café? Resistência indígena frente à expansão cafeeira no Vale do Paraíba. Jundiaí: Paco Editorial, 2016; DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsório e escravidão indígena no Brasil imperial: reflexões a partir da província paulista. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 38, nº 79, 2018.
4. Para uma síntese, SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime português. Análise da política indigenista de D. João VI. Revista de História (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.
5. Trata-se da primeira lei para os povos indígenas como validade em todo o território do Império.
6. MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade política. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.
7. SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-45). São Paulo: Alameda, 2012; SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadãos? Os impasses na construção da cidadania nos primórdios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSÓ, István (org.). Independência: História e historiografia. São Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.
8. BEZERRA NETO, José Maia. Escravidão Negra no Grão Pará (séculos XVIII-XIX). Belém: Paka-tatu, 2012.
9. MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistência indígena. São Paulo: Hucitec, 2018.
10. Entre outros, MACHADO, André Roberto de A. O trabalho indígena no Brasil durante a primeira metade do século XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Ré, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). História e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.São Paulo: Publicações BBM / Alameda, 2020; Mamigonian, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017; LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma história global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013; STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991.
Referências
BEZERRA NETO, Jose Maia. Escravidao Negra no Grao Para (seculos XVIII-XIX). Belem: Paka-tatu, 2012.
DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsorio e escravidao indigena no Brasil imperial: reflexoes a partir da provincia paulista. Revista Brasileira de Historia. Sao Paulo, v. 38, nº 79, 2018.
LEMOS, Marcelo Sant’ana. O indio virou po de Cafe? Resistencia indigena frente a expansao cafeeira no Vale do Paraiba. Jundiai: Paco Editorial, 2016.
LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma historia global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013.
MACHADO, Andre Roberto de A. O trabalho indigena no Brasil durante a primeira metade do seculo XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Re, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). Historia e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.Sao Paulo: Publicacoes BBM / Alameda, 2020.
MAMIGONIAN, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construcao da unidade politica. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.
MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistencia indigena. Sao Paulo: Hucitec, 2018.
Resenha de MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018.
SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadaos? Os impasses na construcao da cidadania nos primordios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSO, Istvan (org.). Independencia: Historia e historiografia. Sao Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.
SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime portugues. Analise da politica indigenista de D. Joao VI. Revista de Historia (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.
SPOSITO, Fernanda. Nem cidadaos, nem brasileiros. Indigenas na formacao do Estado nacional brasileiro e conflitos na provincia de Sao Paulo (1822-45). Sao Paulo: Alameda, 2012.
STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991
André Roberto de A. Machado – Universidade Federal de São Paulo, Departamento de História. Guarulhos – São Paulo – Brasil. Professor do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. É graduado e doutor em História pela Universidade de São Paulo e realizou pós-doutorados no CEBRAP e nas universidades de Brown e Harvard. E-mail: andre. [email protected]
MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018. Resenha de: MACHADO, André Roberto de A. Construindo fronteiras dentro das fronteiras do Império do Brasil. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021.
The Sacred Cause: The Abolitionist Movement – Afro-Brazilian Mobilization and Imperial Politics in Rio de Janeiro | Jeffrey Needell
Jeffrey Needell | Foto: University of Florida |
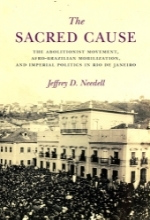
Jeffrey D. Needell , professor na Universidade da Flórida e também autor de A Tropical Belle Epoque (1987) e The Party of Order (2006), reorientou em The Sacred Cause sua já costumeira análise a partir das elites políticas, de modo a avaliar o Treze de Maio na perspectiva das inter-relações entre o movimento abolicionista, pelo baixo, e a vida parlamentar, pelo alto. Na complexidade multidimensional da escravidão, Needell autonomizou três variáveis e as aplicou a um espaço apenas, a Corte, porque julgada berço e cova do abolicionismo. O recorte temático e espacial atravessa o texto por inteiro e dá o tom dos porquês do Treze de Maio. À pergunta como foi possível a abolição quando o Estado era dominado por escravocratas? Needell responde: por obra de duas forças congraçadas – a saber, a solidariedade afro-brasileira e o movimento abolicionista – contra um reduto parlamentar, pelo resto, também pressionado pela Coroa.
Com o estilo ríspido que por vezes lhe é característico, Needell põe em xeque boa parte da historiografia que tratou do movimento abolicionista. Emília Viotti da Costa (1966), Robert Conrad (1972) e Robert Toplin (1972) não teriam logrado integrar o abolicionismo às urdiduras da alta política. Com os olhos voltados para os oprimidos e respaldados por interpretações materialistas, o que nem sempre foi o caso, não teriam compreendido, o que talvez não seja de todo justo, como o regime verdadeiramente funcionava. Seria esse o mesmo – e suposto – defeito de Angela Alonso (2015), malgrado o mérito de procurar entender o movimento abolicionista em escala nacional. A historiografia mais recente que se albergou na ideia de agência escrava, quer Needell, tampouco teria feito melhor, porque, calcada nos indivíduos, não teria assimilado o movimento em seu conjunto – mas foi essa a vocação dos agenciais?
Desejoso do inédito, Needell dividiu seu texto em sete capítulos, que, à exceção do quadro de socialização afro-brasileira composto no primeiro, seguem a ordem cronológica dos acontecimentos. O segundo traça o advento do movimento abolicionista, logo após a edição da Lei do Ventre Livre em 1871, até sua primeira derrota em 1881. Vislumbrando fases rápidas e movediças, Needell propõe no terceiro capítulo o soerguimento do movimento entre 1882 e 1883, particularmente em suas feições populares e suas solidariedades racialmente amplas. No quarto, discute o governo de Sousa Dantas, a posição agora mais contida, porque atenta à radicalização, de um monarca de claras tendências emancipacionistas e a saída paliativa da Lei dos Sexagenários, editada em 1885, com o retorno dos conservadores ao poder.
Daí em diante Needell presta-se à análise da resposta abolicionista à lei de 1885, procurando seu objeto – como nos outros capítulos – na imprensa, nos diários, nas memórias, nos relatórios oficiais e na troca de correspondências. Conclui o quinto capítulo com a implosão do bloco conservador e a decorrente intervenção abolicionista do Imperador, articulada de maneira a preservar o país de uma desestabilização final. Diferentemente dos Estados Unidos, onde a abolição ocorreu após severa guerra civil, Needell sugere uma saída relativamente pacífica para o trabalho livre no Brasil- implicitamente também por obra de um poder pessoal do monarca. Discutida a abolição propriamente dita no sexto capítulo, Needell argumenta no sétimo o resultante colapso da monarquia e, sobremaneira, o fracasso do movimento em lidar com a inserção do negro na sociedade de classes, malgrado ter sido transversalmente afro-brasileiro.
Porque permanentes no relato, são as três variáveis de Needell que interessam a esta resenha, e começaremos pela que talvez seja a mais polêmica: a solidariedade afro-brasileira na formação, na radicalização e nos estertores do movimento abolicionista.
Desde cedo, propõe Needell, escravos de diferentes nações encontraram meios para fazer suas próprias comunidades. Angolas, benguelas, cabindas, congos ou moçambiques importaram divisões étnicas que somente se desfizeram com o tempo, mas especialmente após o término do tráfico transatlântico em 1850. Socializados em irmandades religiosas e em confrarias políticas, os cativos moldaram progressivamente uma identidade afro-brasileira, em primeira instância, por oposição a outrem e, em segunda, pela partilha de experiências comuns – conceito que Needell, sem levá-lo até suas últimas consequências, parece tomar emprestado de E. P. Thompson. Transitando por uma Corte que não formou guetos, pelo menos para o autor, os escravos relacionavam-se com o operariado em constituição, também de origem negra. A troca teria amadurecido após a Lei Eusébio de Queirós (1850), não apenas em razão da diversificação da malha societária, mas sobretudo em consequência do aumento no preço do escravo. Sem recursos para diferenciar-se pela posse cativa, a classe popular encontrou-se tão desamparada quanto a igualmente afrodescendente classe média em suas expectativas de ascensão social, o que, sugere Needell, teria apenas redobrado a solidariedade racial.
Nesse enredo e à contracorrente do usualmente acreditado, o movimento abolicionista teria surgido afro-brasileiro desde o começo. A historiografia não teria suficientemente percebido – sequer Rebecca Bergstresser, cuja tese sobre a participação da classe média no movimento Needell apadrinha – um protocolo relacional do Império moldado para acobertar origens raciais, quando necessário. As plateias abolicionistas eram afro-brasileiras, argumenta o brasilianista norte-americano, e a inclemência das fontes quanto a isso apenas ratifica uma etiqueta que impunha mudez sobre a descendência negra de homens e mulheres de maior envergadura social – ou de potenciais lideranças abolicionistas, ainda que populares. É desses silêncios que emergem na análise de Needell novas figuras abolicionistas, pouco ou nada conhecidas do público especializado. Para além dos famigerados André Rebouças, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, tratados com rigor e à exaustão no texto, Vicente Ferreira de Souza e Miguel Antônio Dias teriam sido lideranças de proa, porque orgânicas – para retomar um conceito de Antonio Gramsci, ao qual Needell não recorre. Entre a novidade historiográfica e o embasamento material, o equilíbrio é por momentos imperfeito, visto que, especialmente no caso de Miguel Antônio Dias, as fontes parecem não ser satisfatórias o bastante para lhe dar o mérito que parece ter. O problema, no entanto, é pó de traque perto da imaginação que o bom historiador conduz entre as frestas dos documentos.
Mais quebradiço é o imediato pós-abolição de um autor que viu tanta solidariedade racial entre afro-brasileiros. Em parte, o movimento abolicionista teria fracassado em promover uma sociedade menos segregada após o Treze de Maio, porque, contrariamente à percepção corrente, o racismo não era vislumbrado pelos abolicionistas como barreira à mobilidade social ou como tema relevante em seu tempo. Se consentirmos com a interpretação, como pôde então a raça, na avaliação do próprio Needell, ser tão matricial na formação do movimento abolicionista? A incoerência, nos parece, poderia eventualmente ser melhor resolvida pela perspectiva de classes, que o autor realça e embaça, a depender do instante argumentativo. Por todas as evidências dadas no próprio texto, numa sociedade em que a imbricação das relações sociais nas econômicas, para recuperar um conceito de Karl Polanyi, expressava os pródromos da formação capitalista brasileira, raça e classe, assim como geração e gênero, combinaram-se nas hierarquias coletivas daquele tempo – muito largamente constituídas pela renda. Sintomaticamente, o negro que enriquecia embranquecia, o jovem que fazia fortuna amadurecia e a mulher que trabalhava empobrecia. Se afro-brasileiros como Rebouças, Vicente de Sousa e Patrocínio, na recomendação de Needell, agitaram-se contra a pobreza e a opressão, urbana e rural, no lugar de se apegarem ao racismo, foi porque os silêncios sobre a raça estavam encastelados na renda – que, antes de ser um critério, é um reflexo de um determinado lugar nas relações sociais que mercadorias produzidas e consumidas materialmente expõem.
Disso sucederia a necessidade de reposicionar as classes imperiais, melhor revisitando suas respectivas instâncias de integração e interação social. Caberia também avaliar seus espaços organizativos, como as entidades mutualistas que fundaram e as sociedades políticas que compuseram. Assim a identidade racial expressaria sobremodo uma condição material que serviu de fundamento para uma coligação abolicionista socialmente larga. Parece-nos, pois, que a solidariedade do movimento não foi racial, mas antes socioeconômica e, efêmera como se mostrou, autorizada apenas pela associação popularmente ressentida entre os que possuíam escravos e os que dirigiam a economia política do Império. Nesses termos, a proposta conceitual de identidade afro-brasileira, para o Oitocentos, guarda menos relevância do que a equivalente norte-americana, mais rigorosa para uma sociedade amplamente menos miscigenada e juridicamente, naquele então, mais obstrutiva.
Se o fracasso do movimento, após o Treze de Maio, não se deveu ao suposto não-tema racial, consideramos mais oportuna a hipótese de Needell que enxerga os tolhimentos ao reformismo do pós-abolição no advento de um regime de ambição política e composição social, malgrado os ajustes, semelhantes às do derrocado. Ocorre que, e assim passamos às variáveis parlamentar e real, Needell tendeu a omitir as forças que – também abolicionistas, não obstante agendas e intensidades diferentes – remodelaram o país. Atento à atividade parlamentar e aos impactos determinantes de movimento no desfecho da abolição, traçando paulatina e seguramente as pressões abolicionistas sobre o gabinete de Paranaguá, as alianças com o de Sousa Dantas e a radicalização posterior à Lei dos Sexagenários, Needell inclinou-se a ver nos debates legislativos a vida de todo o Império. Emascaradas em fontes oficiais que não as delatam por inteiro, as movimentações dos cafeicultores paulistas, o calor da caserna e as apostas financeiras dos principais bancos do Império empalideceram frente a um decisivo movimento abolicionista. Quiçá excesso historiográfico de nosso tempo, a análise das estruturas produtivas e financeiras, assim como as alianças esporádicas e arrivistas do grande capital com a tropa, costumam cheirar a naftalina. Ganham toda a atenção em consequência os movimentos subalternos, quando em última instância não são variáveis relativamente autônomas, mas exteriorizações das contradições políticas, sociais e econômicas que os constituem.
Um pouco pelas mesmas razões, a Coroa como variável emerge com suas volições independentes na obra de Needell. Já havia sido o caso em The Party of Order, quando o autor se amparou na retórica dos conservadores, nomeadamente dos ortodoxos, para sugerir que eles teriam hostilizado o Ventre Livre devido a sua suposta inconstitucionalidade. Seria a lei, nessa leitura, obra da ingerência imperial. Needell estendeu a proposta de um poder pessoal do Imperador à década de 1880, matizando-o com as agitações abolicionistas, porém ao fim sem tirar-lhe o brilho. Na raiz da fórmula estão talvez as principais inspirações do autor: em linhas superpostas de influência, Roderick J. Barman (1999), Sérgio Buarque de Holanda (1972), Heitor Lyra (1938) e Joaquim Nabuco (1897), cuja história do pai, não à toa uma biografia, se presta em boa medida à ideia da força pessoal do monarca. Teria tido tanta influência emancipacionista o Imperador, sem as contradições que caracterizam o mundo escravista posterior à Guerra de Secessão (1861-1865) ou, ainda, sem àquelas que remodelaram os eixos econômicos nacionais, produtivo e financeiro, subsequentes à Guerra do Paraguai (1864-1870)? Quais os termos do poder imperial, se Needell viu o monarca avançar e recuar, tanto em função do movimento abolicionista quanto em razão, num exame provavelmente mais próximo de Ilmar Rohloff de Mattos (1987), da constante representação latifundiária na Assembleia Geral do Império?
Seja como for, o caso é que certamente, para o endosso ou a crítica, será custoso de agora em diante produzir relato qualquer sobre a abolição sem recorrer ao último livro de Jeffrey D. Needell – e a todos os outros que lhe serviram de fundamento ou ponto de partida. É uma obra de méritos, que, também voltada para o público norte-americano ou simplesmente estrangeiro, deverá encontrar no Brasil boa tradução.
Referências
ALONSO, Angela. Flores, votos, balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). Sao Paulo: Companhia das Letras, 2015.
BARMAN, Roderick J. Imperador cidadao. Sao Paulo: Editora UNESP, 2012.
CASTILHO, Celso Thomas. Slave Emancipation and Transformations in Brazilian Political Citizenship. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016.
CONRAD, Robert. The Destruction of Brazilian Slavery, 1850-1888. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1972.
COSTA, Emilia Viotti da. Da senzala a colonia. Sao Paulo: Editora UNESP, 2012.
GOYENA SOARES, Rodrigo. “Estratificacao profissional, desigualdade economica e classes sociais na crise do Imperio. Notas preliminares sobre as classes imperiais”. Topoi, Rio de Janeiro, vol. 20, n. 41, pp. 446-489, 2019. http://dx.doi.org/10.1590/2237-101×02004108
GOYENA SOARES, Rodrigo. Racionalidade economica, transicao para o trabalho livre e economia politica da abolicao. A estrategia campineira (1870-1889). Historia (Sao Paulo), Sao Paulo, vol. 39, 2020. http://dx.doi.org/10.1590/1980-4369e2020032
HOLANDA, Sergio Buarque de (org.). Historia Geral da Civilizacao Brasileira. Tomo II: O Brasil monarquico. Vol. 5: Do Imperio a Republica. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992.
LYRA, Heitor. Dom Pedro II. Belo Horizonte: Editora Garnier – Itatiaia, 2020.
MARQUESE, Rafael e SALLES, Ricardo(orgs.). Escravidao e capitalismo historico no seculo XIX. Cuba, Brasil, Estados Unidos. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2016.
NABUCO, Joaquim. Um estadista do Imperio. Nabuco de Araujo: sua vida, suas opinioes, sua epoca. Paris, Rio de Janeiro: H. Garnier, Livreiro-Editor, 1898.
TOPLIN, Robert. The Abolition of Slavery in Brazil. New York: Atheneum, 1972.
YOUSSEF, Alain El. O Imperio do Brasil na segunda era da abolicao, 1861-1880. Tese (Doutorado em Historia Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2019
Rodrigo Goyena Soares – Universidade de São Paulo (USP). São Paulo – São Paulo – Brasil. Professor colaborador no Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP), onde também realiza estágio pós-doutoral com apoio da FAPESP (processo n. 2017/12748-0), instituição à qual o autor agradece. Doutor e mestre em História pela UNIRIO, formou-se em Ciências Políticas na Sciences Po Paris, onde igualmente obteve mestrado em Relações Internacionais. Pesquisa atualmente a Proclamação da República no âmbito do pós-doutorado na USP.
NEEDELL, Jeffrey D. The Sacred Cause: The Abolitionist Movement, Afro-Brazilian Mobilization, and Imperial Politics in Rio de Janeiro. Stanford: Stanford University Press, 2020. Resenha de: SOARES, Rodrigo Goyena. Um solidário treze de maio os afro-brasileiros e o término da escravidão. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]
Escrevendo a história do futuro: a leitura do passado no processo de independência do Brasil | Cristiane A. C. dos Santos
Cristiane Alves Camacho dos Santos | Foto: LabMundi-USP |
O livro de Cristiane Camacho dos Santos, adaptação de sua dissertação de mestrado (SANTOS, 2010), se propõe a identificar e analisar a utilização política de leituras sobre o passado da colonização portuguesa da América mobilizadas nos debates travados na imprensa luso-americana, entre 1821 e 1822. A autora argumenta que dentre os diversos sentidos atribuídos à colonização portuguesa da América, seu entendimento como empresa “exploradora” e “opressiva” balizou algumas das alternativas disponíveis aos agentes políticos durante o esfacelamento da unidade da monarquia portuguesa. E, em sendo assim, delineou os limites daquilo que era percebido como possível para alguns dos projetos políticos voltados ao futuro da América portuguesa, dentre os quais a ruptura política com Portugal e a independência do Brasil. Essa experiência do tempo, prossegue a autora, ocorreu concomitantemente à politização da identidade coletiva daqueles entendidos, gradualmente, como “brasileiros”. Em suma, trata-se da conversão do passado da colonização portuguesa da América em instrumento político de sustentação de projetos que inseriram a independência do Brasil no horizonte do possível, dando os contornos para a politização de uma nova identidade coletiva.
O livro é estruturado em três capítulos balizados por uma introdução e um epílogo. O primeiro capítulo versa sobre a experiência do tempo durante a crise do Antigo Regime em Portugal vivenciada por diferentes identidades políticas da América portuguesa. Nesse capítulo, ressalta a constituição da história luso-americana como uma parte específica e complementar da monarquia lusa, entre os séculos XVI e XVIII, a nova dignidade adquirida pelo território português da América com a transferência da Coroa em 1808 e sua correspondente inauguração de novas expectativas. No bojo dos acontecimentos ensejados pelo início da dissolução dos impérios ibéricos, constitui-se uma oposição semântica entre “colônia” e “nação” que encontrava respaldo concreto nas experiências engendradas a partir de 1808 e que delineavam a percepção de um “novo tempo” (SANTOS, 2017, 151-152). O capítulo dois debruça-se sobre as disputas semânticas acerca da presença portuguesa na América, cuja lógica de complementariedade, vigente no reformismo ilustrado, perde sua estabilidade na percepção contemporânea da valorização dos territórios americanos no início do século XIX. Neste capítulo analisa, a partir de cotejamento historiográfico, a importância da imprensa periódica na delimitação dos espaços públicos em 1821, seu potencial para investigações sobre identidades políticas em período de profunda transformação e, por fim, como a colonização portuguesa da América subsidiou a representação de certa unidade desses territórios, embora fosse cenário para disputas semânticas ambíguas. O terceiro e último capítulo, baseado em sólida análise documental, fornece respaldo à hipótese do uso político do passado durante o esfacelamento das condições de reciprocidade e compatibilidade entre Portugal e a América portuguesa, sobretudo a partir da conjuntura ensejada pelos decretos das Cortes de Lisboa de setembro de 1821. Aponta que o mês de dezembro daquele ano demarcou, nos periódicos analisados, a conversão do topos dos “trezentos anos de opressão” em leitura difundida do passado da colonização portuguesa da América como denúncia das arbitrariedades associadas à condição colonial (SANTOS, 2017, 199). Essa significação da experiência, exprimida nos jornais, tensionava identidades coletivas divididas entre “metropolitanos” e “colonos”, desdobradas, posteriormente, na oposição entre “portugueses” e “brasileiros”. Essa forma discursiva, portanto, sintetizava trezentos anos de história – sinal de encurtamento da experiência – sobre o denominador comum da “opressão” vinculada à condição colonial, cuja manutenção era, paulatinamente, associada aos interesses de portugueses peninsulares.
Em termos de método, Santos procede a uma análise de evocações do passado mobilizadas por diferentes impressos das províncias do Rio de Janeiro, Pará, Bahia e Pernambuco – com ênfase na primeira – que deram os contornos a diferentes características e aspectos dos usos políticos do passado pelos periodistas. A intenção da autora é inferir uma experiência do tempo a partir de elaborações e interpretações do passado que, exprimidas em jornais, integraram o debate político de múltiplos grupos e indivíduos da América portuguesa. Do ponto de vista teórico, Santos qualifica essas formulações sobre o passado como fontes capazes de indicar a tensão entre a experiência e a expectativa dos atores políticos, ou seja, permitem diagnosticar um certo passado e futuro presentes que desempenharam a função de guias parciais das atuações políticas. Além disso, concebe que a organização da tensão entre um conjunto de sentidos atribuídos a um passado e às perspectivas abertas de um futuro parcialmente novo contribuíram para a definição e politização de uma nova identidade coletiva, a “brasileira”, e a recomposição de outras preexistentes.
Por essas razões, Santos articula-se a diferentes campos historiográficos reunidos, principalmente, sob o escopo de uma teoria do tempo histórico e das identidades políticas coletivas. A principal teoria a subsidiar atualmente pesquisas sobre a experiência do tempo histórico é, direta ou indiretamente, tributária dos escritos do historiador alemão Reinhart Koselleck. De acordo com Koselleck, o tempo histórico é o produto da tensão, estabelecida na modernidade, entre experiência e expectativa, tensão que permite interpretar o entrelaçamento interno entre o passado e o futuro cuja dinâmica baliza as histórias vislumbradas pelos agentes sociais como sendo possíveis (KOSELLECK, 2006, 305-327). Em segundo lugar, outra tradição historiográfica à qual a autora se vincula refere-se à consolidada utilização de periódicos, ou jornais, como fontes históricas capazes de traduzir e produzir fenômenos políticos no passado (MOREL; BARROS, 2003, 11-50). Em terceiro lugar, Santos parte de premissas acerca da criação e transformação de diferentes identidades políticas elaboradas por autores como Tulio Halperín Donghi (DONGHI, 2015), José Carlos Chiaramonte (CHIARAMONTE, 1997), István Jancsó (JANCSÓ; PIMENTA, 2000) e João Paulo G. Pimenta (PIMENTA, 2015). Por fim, no relativo ao debate sobre as diferenças entre o Estado e a nação, adere às perspectivas adotadas por Anthony Smith (SMITH, 1997), em oposição à Eric J. Hobsbawm (HOBSBAWM, 1990), ao definir que o Estado não teria sido um demiurgo da nação, esta última seria o resultado da recombinação de elementos preexistentes – recordações históricas partilhadas, mitos de origem comuns, elementos culturais diversos, associação a um determinado território e etc. – que, em determinado momento histórico, teriam sido “outorgados” como sinais diferenciadores de uma nacionalidade (SANTOS, 2017, 210-213).
Essa arquitetura teórica e metodológica, informada por ampla historiografia, permitiu que os periódicos fossem considerados como vetores simbólicos das disputas políticas, portadores de discursos sobre o passado que, ao organizar seus significados, delimitaram o futuro possível da ação política, então conduzida por agentes cuja identidade coletiva era simultaneamente reposicionada mediante a sua experiência temporal. Esse complexo processo correspondia às dialéticas conflituosas da formação do Estado e da nação concomitantes à modificação do estatuto e da qualidade da História, doravante entendida como capaz de legitimar projetos políticos. Observando-se a sua trajetória de pesquisa, Santos associa-se diretamente ao ambiente intelectual ensejado pelo projeto coletivo denominado Formação do Estado e da nação, organizado no início dos anos 2000 e coordenado pelo Prof. Dr. István Jancsó, no Departamento de História da Universidade de São Paulo.
Embora o resultado atingido pela autora seja louvável, sobretudo em função de seu rigor teórico e analítico, algumas questões permaneceram irresolutas. A primeira delas refere-se a um aspecto cronológico relativo à dialética entre Estado e nação. De acordo com Santos, a independência do Brasil inaugurou o período de construção do Estado nacional, o qual, segundo afirma, prolongou-se de modo conflituoso até a década de 1850 (SANTOS, 2017, 208). Qual teria sido, então, o marco histórico a delimitar o fim do caráter “conflituoso” da relação entre o Estado e a nação? A importante demonstração de que a história colonial não foi o desenvolvimento natural da nação – ou de que a independência não foi seu resultado obrigatório -, mas sim parcialmente produto do manejo político do tempo, uma construção simbólica durante o acirramento das incompatibilidades de grupos da monarquia portuguesa, deixa em aberto a questão do corpo social. Noutros termos, os contornos iniciais da identidade política coletiva nacional “brasileira”, delineada nas trepidações políticas dos anos de 1821 e 1822, não buscou integrar a totalidade da população e, desse modo, aponta para uma das condições de compatibilidade entre a formação dos “brasileiros” e a manutenção reinventada da escravidão após a independência. Seria pertinente especificar os conjuntos sociais abarcados por esse uso político do tempo para, assim, diagnosticar os excluídos de uma identidade seletiva emergente que provavelmente condicionaria diversos conflitos entre o Estado e a nação. Por fim, observo que a ausência da incorporação da dissertação de mestrado de Rafael Fanni (FANNI, 2015), elaborada após a dissertação de Santos e antes de sua readaptação em livro – e que é abertamente tributária da interpretação de Cristiane Camacho dos Santos -, prejudicou a possibilidade de aprofundar o rigor e expandir a envergadura das constatações da autora.
Teórica e metodologicamente bem estruturado, o livro de Cristiane Camacho dos Santos representa uma contribuição historiográfica importante aos estudiosos da história social do tempo e da formação do Estado e da nação do Brasil. Um estudo acadêmico que, embora concentrado em cronologia curta, é capaz de demonstrar a espessura temporal subjacente aos discursos políticos veiculados em jornais durante o processo de independência do Brasil. Em suma, e utilizando o vocabulário de Koselleck, trata-se de uma boa demonstração acadêmica da interrelação entre a temporalização da política e politização do tempo devidamente mediadas por identidades políticas coletivas, cuja investigação é plenamente realizável através de periódicos contemporâneos.[1]
Nota
1. Esta resenha foi concebida durante os debates do núcleo de pesquisa “História do Tempo: teoria e metodologia”. <http://labmundi.fflch.usp.br/historia-do-tempo> Agradeço a Edú T. Levati pela correspondência das citações.
Referências
CHIARAMONTE, Jose Carlos. “La formacion de los Estados nacionales en Iberoamerica”. In: Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 3ª serie, 1º semestre de 1997.
DONGHI, Tulio Halperin. Revolucao e guerra: formacao de uma elite dirigente na Argentina criolla. Sao Paulo: Hucitec, 2015.
FANNI, Rafael. Temporalizacao dos discursos politicos no processo de Independencia do Brasil (1820-1822). 164 p. 2015. Dissertacao (Mestrado em Historia Social) – FFLCH, USP, Sao Paulo.
HOBSBAWM, Eric J. Nacoes e nacionalismos desde 1780. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 1990.
JANCSO, Istvan; PIMENTA, Joao Paulo G. “Pecas de um mosaico: ou apontamentos para o estudo da emergencia da identidade nacional brasileira”. In: Revista de Historia da Ideias. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, v. 21, 2000, p.389-440.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuicao a semântica dos tempos historicos. Rio de Janeiro: PUC-Rio, Contraponto, 2006.
MOREL, Marco; BARROS, Mariana Monteiro de. “O raiar da imprensa no horizonte do Brasil”. In: Palavra, imagem e poder: o surgimento da imprensa no Brasil do seculo XIX. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p.11-50.
PIMENTA, Joao Paulo G. A independencia do Brasil e a experiencia hispano-americana (1808-1822). Sao Paulo: Hucitec , 2015.
SANTOS, Cristiane Alves Camacho dos. Escrevendo a historia do futuro: a leitura do passado no processo de independencia do Brasil. Sao Paulo: Alameda, 2017.
SANTOS, Cristiane Alves Camacho dos. Escrevendo a historia do futuro: a leitura do passado no processo de independencia do Brasil. 186 p. 2010. Dissertacao (Mestrado em Historia Social) – FFLCH, USP, Sao Paulo.
SMITH, Anthony. A identidade nacional. Lisboa: Gradiva, 1997.
Thomáz Fortunato – Departamento de História da Universidade de São Paulo – São Paulo, SP, Brasil. Mestrando em História Social pela Universidade de São Paulo. Membro do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial e do grupo Temporalidad (Iberconceptos). Pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E-mail: [email protected]
SANTOS, Cristiane Alves Camacho dos. Escrevendo a história do futuro: a leitura do passado no processo de independência do Brasil. São Paulo: Alameda, 2017. Resenha de: FORTUNATO, Thomáz. A politização do tempo histórico na Independência do Brasil1. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]
Becoming Free – Becoming Black: Race Freedom and Law in Cuba – Virginia and Louisiana | Alejandro de la Fuente e Ariela J. Gross
Ariela J. Gross e Alejandro de la Fuente | Foto: Medium |
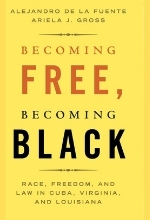
De partida, Gross e de la Fuente fazem de Frank Tannenbaum seu antagonista e, também, em menor grau, uma inspiração. Assim como em artigos publicados anteriormente, eles reforçam as críticas a Slave and Citizen, em especial às premissas teóricas, que atribuíram às normas escritas nas metrópoles um papel determinante dos rumos das sociedades coloniais. Igualmente contestada foi a projeção das diferenças raciais entre os Estados Unidos e a América Latina ao passado, como se decorressem de um devir inevitável, fundado pelos regimes jurídicos anglo-saxão e ibéricos. Por outro lado, tanto a historiografia revisionista (que preteriu o direito e a religião pela economia e a demografia) quanto os estudos recentes no campo da cultura legal, se limitaram a demolir o modelo de Tannenbaum, sem oferecer uma interpretação definitiva sobre as origens das diferenças raciais nas Américas. Assumindo o desafio, Gross e de la Fuente resumiram ainda na introdução seu postulado: não foi o direito da escravidão, mas o direito da liberdade o elemento crucial para a constituição dos regimes raciais no continente.[4]
Embora a maioria dos homens e mulheres escravizados jamais tenha rompido as correntes do cativeiro, a minoria que conquistou a alforria, constituindo comunidades negras livres, teria sido a chave para a construção da raça nas Américas. Gross e de la Fuente convidam o leitor a embarcar em uma longa jornada, que se inicia na travessia atlântica e na colonização de Cuba, Louisiana e Virgínia, perpassa as águas turbulentas da Era das revoluções, para enfim desembarcar nos regimes raciais do século XIX, cujos legados se estendem até hoje. Antecipando suas conclusões, os autores sustentam que as diferenças entre as três regiões não decorreram do reconhecimento da humanidade dos escravizados e tampouco da fluidez racial. O fator determinante teria sido o grau de sucesso das elites escravistas na imposição da relação entre branquitude e liberdade, e entre negritude e escravidão. O enunciado contém um dos principais manifestos políticos do livro, mas deixa uma questão em aberto-que será retomada adiante.
Os dois capítulos iniciais transitam pelas sociedades coloniais de Cuba, Virgínia e Louisiana, partindo do regime jurídico e da experiência espanhola das Américas. Embora as Siete Partidas reconhecessem a humanidade das pessoas escravizadas, o efeito prático do precedente social e legal dos ibéricos foi a definição prévia das distinções raciais por lei. A inversão do pressuposto de Tannenbaum é radical. A escravidão em Portugal e o princípio da limpeza de sangre na Espanha ofereceram aos ibéricos as pré-condições para o pioneirismo na criação de regimes legais racializados na América. Nesse ponto, os autores cederam em parte a Tannenbaum, identificando, na raiz romanista do direito ibérico, a alforria como instituição sólida. Mas incorporando as contribuições da historiografia recente, eles avançaram ao demonstrar como, em solo americano, foram os escravizados-no caso, os da ilha de Cuba-que fizeram da norma uma tradição e, por conseguinte, um direito.
Em paralelo, o colonialismo francês constituiu seu próprio regime no Caribe por meio das diferentes versões do Code Noir, que progressivamente restringiram tanto a alforria e os direitos das comunidades negras livres. À época da ocupação da Louisiana, a experiência e os precedentes normativos serviram à constituição do regime mais excludente do Império francês, mas que ainda assim não cerceou em absoluto a liberdade e o direito de negros livres, especialmente em Nova Orleans. A Virgínia, por sua vez não contou com precedentes legais ou experiências coloniais prévias. Sem incorporar os precedentes de Barbados e da Carolina do Sul, a colônia inglesa se converteu em uma espécie de laboratório, onde as diferenças raciais não estavam pré-determinadas jurídica ou socialmente. Invertendo mais uma vez as premissas de Tannenbaum, Gross e de la Fuente desvelam uma Virgínia relativamente aberta à prática da alforria e à formação de comunidades de negros livres no início do século XVII.
Privilegiando as fontes jurídicas, com destaque para as ações de liberdade, os autores esbanjam rigor metodológico sem comprometer a fluidez da narrativa de pessoas escravizadas que recorriam à justiça. Embora esse procedimento fosse comum nas três regiões no século XVII, ela se manteve constante em Cuba, enquanto rareou na Virgínia e na Louisiana no século XVIII, onde também aumentaram as restrições aos casamentos inter-raciais. De acordo com Gross e de la Fuente, essa progressiva distinção na trajetória das sociedades escravistas em questão não foi o resultado da pretensa benevolência ibérica, mas de razões econômicas, demográficas e de gênero. Eram principalmente as mulheres que conquistavam a alforria, predominantemente de forma onerosa, e consequentemente serviam à reprodução das comunidades negras livres. Os franceses precocemente haviam fechado o cerco às manumissões, embora incapazes de pôr fim à presença de negros livres em Nova Orleans. Enquanto isso, a Virgínia transitou gradualmente de uma sociedade desregulada para a mais restritiva das três, especialmente após a Rebelião de Bacon, em 1676.
Recuperando a interpretação de Edmund Morgan, segundo o qual as restrições visavam à solidariedade branca contra a aliança entre servos brancos, indígenas e negros, os autores acrescentam argumentos econômicos e políticos. A conversão da Virgínia em uma sociedade escravista começara antes mesmo da revolta, por conta do barateamento do preço de africanos em relação ao custo da servidão. Fortalecida, a elite virginiana conseguiu a um só tempo restringir as alforrias e solidificar a solidariedade branca na colônia, diferentemente de seus pares de Louisiana e de Cuba, que foram incapazes de abolir um precedente jurídico estabelecido. A consequência foi a formação de comunidades negras livres e miscigenadas de diferentes tamanhos nas três regiões, e não favorecidas pelas elites, mas maiores ou menores de acordo com sua capacidade de resistir aos esforços para evitá-las. No final do segundo capítulo, Gross e de la Fuente retomam sua hipótese, insistindo que as elites de Cuba, Virgínia e Louisiana tentaram igualar a raça negra à escravidão, pois enxergavam nos negros livres uma ameaça à ordem. As diferenças, contudo, não decorreram do precedente legal, mas das diferentes realidades sociais e demográficas que permitiram o maior sucesso na Virgínia e na Louisiana, e o menor em Cuba.[5]
Tema do terceiro capítulo, a Era das Revoluções consistiu no período de maior aproximação entre as três regiões, onde tanto as alforrias quanto as comunidades negras livres cresceram. Ao mesmo tempo, a escravidão avançou nos territórios, respondendo aos estímulos do mercado mundial. Em Cuba e na Louisiana, o paradoxo era apenas aparente, pois a alforria era uma tradição jurídica e socialmente vinculada ao cativeiro. Já na Virgínia a libertação de escravizados se associou ao ideário da independência. Enquanto as comunidades negras livres de Havana e de Nova Orleans eram fruto do Antigo Regime, a de Richmond respirava os ares da revolução. Consequentemente, as elites virginianas reagiram ao horizonte que se abria, seguidos por seus pares do Vale do Mississippi, recentemente integrados aos Estados Unidos e movidos pelos interesses açucareiros e algodoeiros. Entre 1806 e 1807, a promulgação do Black Code da Louisiana e de uma série de leis na Virgínia restringiram a alforria e os direitos dos negros livres, dando o tom de um regime racial que chegaria à maturidade em meados do século XIX, apartando em definitivo o modelo estadunidense do cubano.
O movimento esboçado nos Estados Unidos se agravou entre as décadas de 1830 e de 1860, das quais tratam os capítulos finais do livro. Neles, Gross e de la Fuente esboçam uma guinada metodológica, organizando-os a partir de eixos temáticos, em vez de compararem pormenorizadamente as ações de liberdade em cada um dos espaços. Nas páginas que seguem, os autores descrevem o recrudescimento das forças e discursos escravistas nos Estados Unidos, como reação ao avanço do abolicionismo e de revoltas como a de Nat Turner. A elite cubana enfrentou seus próprios inimigos, pressionada pela campanha da Inglaterra contra o tráfico de africanos e ameaçada frontalmente por um ciclo de resistência dos escravizados, que se estendeu da revolta de Aponte, em 1812, à de la Escalera, em 1844. As três elites compartilharam do temor de que se formassem alianças entre negros livres e escravizados, como ensaiado mais propriamente em Cuba. Por meio de leis restritivas à alforria, além de políticas de remoção das populações negras livres, para fora dos estados ou do país, as elites da Virgínia e da Louisiana deram passos largos no sentido da construção de um regime racial pleno, em que a negritude fosse sinônimo não apenas de degradação, mas do cativeiro. De acordo com os autores, houve esforços similares em Cuba, assim como ataques às comunidades negras livres, mas estes não foram sistêmicos ou capazes de cindir as mesmas linhas raciais dos Estados Unidos.
Na década de 1850, Cuba, Virgínia e Louisiana eram sociedades escravistas maduras, nas quais os negros eram tidos como social e legalmente inferiores. No entanto, o processo de destituição de direitos foi muito além nos Estados Unidos, dando forma a um regime racial particular, que destoava daqueles desenvolvidos na América Latina. Retomando o debate com Tannenbaum na conclusão do livro, Gross e de la Fuente, arrolaram as variáveis que incidiram sobre a diferenciação dos regimes nos três territórios. As tradições legais teriam tido o seu peso, embora não nos termos propostos em Slave and Citizen. Os ibéricos teriam sido pioneiros na criação de legislações raciais, mas o reconhecimento jurídico da alforria cindiu a brecha por onde mulheres e homens escravizados encontraram seus tortuosos caminhos para a liberdade. A agência dessas pessoas e a mobilização do direito “de baixo para cima”, portanto, teria cumprido um papel central, tão ou mais importante que o precedente normativo. Consequentemente, os negros livres de Cuba fizeram da tradição um direito e de suas comunidades uma realidade incontornável para a elite da ilha.
Nesse sentido, o fator determinante na formação dos diferentes regimes raciais, segundo os autores, foi o tamanho das comunidades negras livres, que pressionavam pelo reconhecimento de direitos e dificultavam o cerceamento das alforrias. Um segundo ponto levantado pelos autores foram os diferentes regimes políticos. A constituição de uma democracia liberal nos Estados Unidos entrelaçou os princípios da liberdade, da igualdade e da cidadania, tendo por contrapartida os esforços reacionários que negaram seu acesso à população negra. Enquanto a democracia branca se consolidava ao Norte, Cuba preservou sua condição colonial, assim como as hierarquias políticas locais. A liberdade de uma parcela minoritária de negros respondia antes a uma tradição do Antigo Regime do que à extensão da cidadania. Não havia necessidade de uma ideologia supremacista racial onde sequer vigia o pressuposto da igualdade.
Na conclusão, Gross e de la Fuente reforçam o postulado de abertura, segundo o qual as elites de Cuba, da Virgínia, da Louisiana buscaram constituir a dicotomia perfeita entre raça e escravidão. Frente à resistência das comunidades negras livres, nenhuma delas obteve o êxito pleno, mas as estadunidenses foram mais bem sucedidas. Não há dúvidas de que na Virgínia, na Louisiana e em grande parte do sul dos Estados Unidos, prevaleceram esforços nesse sentido. Mas a despeito de discursos e medidas legais apresentados pelos autores, não se depreende da narrativa e das fontes que a elite cubana tenha se dedicado à questão com o mesmo afinco. Em mais de uma passagem, Gross de la Fuente relativizam seu próprio enunciado, reconhecendo que as autoridades de Cuba preferiram não se contrapor à tradição legal e aos direitos de comunidades estabelecidas. Seguindo os passos dos próprios autores, é possível levar a questão além.
Se como dizem Gross e de la Fuente, os ibéricos foram pioneiros da constituição de regimes raciais legalizados, eles também foram os primeiros a conhecer os efeitos da alforria na escravidão negra nas Américas. A formação de comunidades negras livres não foi resultado de um projeto, mas das condições demográficas e da ação dos próprios escravizados. Por conseguinte, os ibéricos foram também os primeiros a usufruir desse arranjo social e racial que, na maior parte do tempo, contribuiu para a preservação do cativeiro. A proximidade entre negros livres e escravizados era um risco real, mas a experiência histórica revela que na maior parte das vezes, a aliança entre os livres de diferentes cores prevaleceu sobre a solidariedade racial, ainda mais em sociedades marcadas por um alto grau de miscigenação. O sucesso das elites estadunidenses em cindir as raças também conteve em si a chave de seu fracasso, reforçando a identidade e a solidariedade negra, que se voltaram contra a supremacia branca durante a Guerra Civil e tantas vezes após a abolição. Em contrapartida, o suposto fracasso da elite cubana, nos termos dos autores, conteve o segredo de seu sucesso. Afinal, o escravismo experimentado pelos ibéricos não foi apenas pioneiro nas Américas, mas o mais longevo, tendo perdurado em Cuba e no Brasil até o último quartel do século XIX. Não à toa, as elites desses países tantas vezes se valeram dos Estados Unidos como contraponto, para preservar suas próprias hierarquias sob o mito das “democracias raciais”.[6]
São os próprios autores que fornecem os dados e argumentos para esse breve contraponto. Em mais de uma passagem, eles descrevem a alforria como instituição escravista em Cuba, assim como reconhecem a hesitação das elites em cerceá-la. Ao enunciarem na introdução e na conclusão que as três elites escravistas compartilharam de um mesmo horizonte racial, Gross e de la Fuente miraram dois alvos. A crítica se voltou tanto às elites do passado, quanto aos discursos mais recentes que, na política e na historiografia, ainda se valem da escravidão e do racismo explícito nos Estados Unidos como um contraexemplo, a fim de sustentar a suposta benevolência do cativeiro e a pretensa harmonia das relações raciais na América Latina. A posição dos autores no debate público é mais do que bem-vinda, e contribui para a desmistificação do tema. De todo modo, o próprio livro revela como Cuba antecedeu e sucedeu o cativeiro na América do Norte, e como sua elite constituiu o seu próprio regime racial. Sem cindir a ilha entre o branco e o negro, ela preservou por mais tempo a escravidão valendo-se de um racismo velado, tão eficaz e talvez mais perverso que o estadunidense.
Nas derradeiras páginas do livro, Gross e de la Fuente alçam voo sobre os anos que se seguiram à abolição, contrastando os Black Codes e as Leis Jim Crow no Sul dos Estados Unidos com o relativo reconhecimento dos direitos dos negros em Cuba. Em seus termos, a transição da escravidão à cidadania resultou das lutas políticas dos negros de cada região. Nas entrelinhas, os historiadores convidam seus pares a desbravar o campo das relações raciais nas sociedades do pós-abolição, à luz de suas importantes contribuições. Trazendo mais uma vez Tannenbaum ao debate, Gross e de la Fuente concluem que o tecido de conexão entre o negro escravizado e o cidadão negro, no pós-abolição, não decorreu da relação entre “slave and citizen” mas de “black to black”. Como enunciado no título e na introdução, não teria sido o direito da escravidão, mas a mobilização do direito à liberdade pelos próprios sujeitos escravizados que selou o caminho para a construção, não só dos regimes, mas das identidades raciais. É possível questionar se o direito à liberdade existiria senão como contradição interna do direito da escravidão, em uma relação dialética. No entanto, foi por meio dessa inversão do prisma que Gross e de la Fuente miraram um velho debate sob um ângulo novo, trazendo à luz outros sujeitos e respostas.
Becoming Free, Becoming Black coroa os resultados de uma tradição historiográfica que trouxe à luz a complexidade da escravidão e das disputas sobre os sentidos da liberdade e da justiça nas Américas. Reivindicando os ganhos metodológicos e políticos da história “de baixo para cima”, e preservando no centro da narrativa os sujeitos escravizados e sua agência, Gross e de la Fuente deram um passo além. Instigados pelos debates postos no presente, ousaram revisitar os clássicos para oferecer respostas e questionamentos originais. Em tempos de crise das representações e de revisionismos históricos, Becoming Free, Becoming Black nos reabre uma janela ao passado, exibindo as raízes pérfidas de mazelas que ainda nos assolam. No entrepasso do caminhar de tantos homens e mulheres, os autores nos lembram das lutas pretéritas, e quiçá nos apontam possíveis caminhos para os embates que se anunciam no horizonte.
Notas
1. Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
2. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
3. Apenas para citar a principal referência dos autores, ver Rebecca J. Scott, Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005; e mais recentemente Scott, R., & Hébrard, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
4. Frank Tannenbaum, Slave and Citizen. Boston, 1992). Sobre as publicações anteriores de Gross e de la Fuente, ver De la Fuente, Alejandro, & Gross, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485. Gross, Ariela, & De la Fuente, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699. De la Fuente, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173. De la Fuente, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369.
5. Morgan, Edmund. American slavery, American freedom: The ordeal of colonial Virginia. New York: W.W. Norton &, 2003.
6. A título de exemplo, ver os discursos de representantes de Cuba e do Brasil sobre a questão dos negros livres, assim como suas divergências, em Berbel, Marcia., Marquese, Rafael, & Parron, Tamis. Escravidão e política: Brasil e Cuba, c. 1790-1850. São Paulo: Editora Hucitec: FAPESP, 2010. Sobre o racismo em Cuba no século XX, é o próprio Alejandro de la Fuente que sustenta a interpretação aqui esboçada. Ver Fuente, Alejandro de la. A Nation for All: Envisioning Cuba. The University of North Carolina Press, 2011.
Referências
DE LA FUENTE, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173.
DE LA FUENTE, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369
DE LA FUENTE, Alejandro, & GROSS, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485.
GROSS, Ariela, & DE LA FUENTE, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699.
SCOTT, Rebecca. Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005;
SCOTT, R., & HÉBRARD, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
TANNENBAUM, Frank. Slave and Citizen. Boston, 1992).
Marcelo Rosanova Ferraro – Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
DE LA FUENTE, Alejandro; GROSS, Ariela J. Becoming Free, Becoming Black: Race, Freedom, and Law in Cuba, Virginia and Louisiana. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Resenha de: FERRARO, Marcelo Rosanova. O direito à liberdade e a dialética das raças nas Américas. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]
Seeds of Empire: Cotton, Slavery, and the Transformation of the Texas Borderlands, 1800-1850 | Andrew Torget
Resenhista
Amie Campos – University of California. San Diego.
Referências desta Resenha
TORGET, Andrew J. Seeds of Empire: Cotton, Slavery, and the Transformation of the Texas Borderlands, 1800-1850. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2015. Resenha de: CAMPOS, Amie. Historia Agraria De América Latina, v.2, n.1, p. 201-204, abr.2021. Acesso apenas pelo link original [DR]
La solución del enigma botánico de las quinas. ¿Incompetencia o fraude? | Joaquín Fernández (R)
Cinchona calisaya. Ilustração do botânico alemão Hermann Adolf Köhler (séc XIX) e sua casca (à dir.) | Foto: QNI – SBQ |

Una consecuencia de tal profusión de trabajos ha sido una enorme cantidad de confusiones, malas interpretaciones, rectificaciones, entre otros. Por eso, puede ser difícil hilar la historia de las exploraciones, de las prácticas médicas, de actores, de cuestiones comerciales, y otros temas de la historia de esas plantas. Cuando nos aventuramos en el tema, tras leer algunos artículos y libros, creemos estar en conocimiento de los asuntos más importantes, pero pronto encontramos nuevas fuentes, primarias y secundarias, que refutan las interpretaciones y explicaciones previas. Un clásico en esa línea es el trabajo de Haggis (1941), que contribuyó con análisis decisivos para cuestionar definitivamente el mito de la Condesa de Chinchón, asociado con la planta. De ese modo, la historia de las quinas puede suscitar desesperados sentimientos de extravío entre los historiadores, casi tantos como los que enfrentan los taxónomos por el alto grado de hibridación de esas plantas. Leia Mais
Ser africano na cidade: identidade e memória em São Paulo no oitocentos | Enidelce Bertin
Ser africano na cidade: identidade e memória em São Paulo no oitocentos | Bertin, Enidelce | Topoi. Rio de Janeiro, v.22, n.46, jan. / jun. 2021.
O demônio familiar, de José de Alencar, no Teatro D. Maria II (Lisboa, 1860) | Silvia Cristina Martins de Souza
O demônio familiar, de José de Alencar, no Teatro D. Maria II (Lisboa, 1860) | Souza, Silvia Cristina Martins de | Topoi. Rio de Janeiro, v.22, n.46, jan. / jun. 2021.
La niñez desviada: La tutela estatal de niños pobres huérfanos y delincuentes. Buenos Aires 1890-1919 | Claudia Freidenraij
La niñez desviada: La tutela estatal de niños pobres, huérfanos y delincuentes. Buenos Aires 1890-1919 es una investigación minuciosa y profunda realizada por la historiadora argentina Claudia Freidenraij sobre una época en la que “las calles [de tierra] de Buenos Aires estaban salpicadas de niños” (p.13). Enmarcado en el periodo que va desde 1890 a 1919 este libro analiza los intersticios de las intervenciones públicas que recayeron en la capital argentina sobre los niños pobres, huérfanos, infractores, delincuentes pero especialmente de los sectores trabajadores, en un momento clave de transformaciones urbanas.
Aquí no sólo reconstruye y analiza el complejo articulado de politicas de castigo y represión de actividades y hábitos de los niños de las clases trabajadoras urbanas previo a lo que se consideraría una “justicia para menores,” sino también las formas en que se estereotiparon esas prácticas construyendo categorías jerarquizadoras y segregacionistas sobre estos sectores etarios y poblacionales. Bajo la etiqueta criminalizante y clasista de “minoridad”, las élites morales, constituidas en parte por una constelación de especialistas, colocaron sobre los niños de las clases trabajadoras un conjunto de etiquetas que no sólo inventarían categorías infantiles sino que asociarían prácticas de la infancia pobre con la desviación, la inmoralidad, el abandono y la delincuencia.
A partir de un enfoque que se nutre y forma parte de la historia social, de la historia del delito y la justicia, así como de la historia de las infancias, la autora consigue el relevamiento y análisis de un amplio corpus documental, fotografías, diarios y revistas, memorias de justicia, legislación, fuentes policiales, autobiografías, crónicas urbanas, cuentos, informes médico-legales. Con estas fuentes Freidenraij va desagregando cada uno de los adjetivos, cada una de las prácticas, para estudiarlos separadamente y mostrar cómo la construcción discursiva de la minoridad, el abandono o la delincuencia, vista en espejo, devuelve una imagen que permite ver las ideologías clasistas y los prejuicios de las “elites morales” hacia las infancias pobres urbanas.
La presencia de niños de los sectores populares en el espacio urbano, como muestra con detalle Freidenraj, causó alarma e incomodidad en quienes pretendían un ilusorio orden urbano. Para contener y minimizar las imágenes de niños efectuando todo tipo de labores o transgrediendo constantemente las múltiples normativas, se construyó, para usar las palabras de la autora, un archipiélago penal y asistencial de establecimientos, agencias estatales e instituciones particulares, cuyos engranajes operaron en conjunto, en un concierto de voces e intervenciones que oscilaron más en discordancia que en armonía, más hacia la represión que hacia el amparo.
El libro se concentra en niños mayoritariamente varones, porque hacia ellos se orientaron las políticas criminológicas del periodo de estudio y porque constituían el 82 por ciento de los aprehendidos (p. 108). A través de una lúcida escritura y análisis, la autora acompaña a esos centenares de niños en sus trayectos y circulaciones. Su intención es no dejarlos solos en algún momento. De tal forma, frente al histórico emplazamiento como “niños abandonados” que han sufrido, ella se decide por tomar una postura vinculante de cuidado, de atención, de conexión con sus situaciones y de búsqueda de entendimiento sobre cómo ha sido que han llegado a las puertas de las instituciones de control social. Así, advierte su vida en los conventillos, sus intermitencias escolares, los sigue a sus andanzas en calles, veredas y plazas, presencia sus juegos, escucha sus malas palabras y sus risas, los ve subirse colgados a los tranvías. En las líneas de este texto es posible escuchar la sonoridad que producían los niños en la calle. Pero el libro muestra, cómo al terminar el día no todos aquellos niños y muchachitos podían volver a sus casas o a sus andanzas. En tanto caía sobre ellos un amplio abanico de disposiciones de corte jurídico y se consideraban parte de un “problema social” que había que combatir, sus actividades estuvieron siempre al borde de ser delictivas, irregulares o “predelictivas” en tanto pertenecían a un sector social sobre el cual el Estado buscaba intervenir (p. 285). La institucionalización, por lo tanto, aparece siempre acechante al otro lado de la esquina; esto no hace que la autora los pierda de vista: los sigue a sus comparecencias ante la justicia, hasta los interiores de las instituciones, como si de un estudio etnográfico se tratara, escucha lo que los agentes del estado piensan sobre ellos, lo que escriben los jueces de menores, advierte el tratamiento que se les da a los cuerpos infantiles y luego articula todas estas observaciones en un estudio puntilloso de las estructuras de control y de construcción del “peligro infantil”.
El libro disecciona la anatomía de las prácticas de los agentes encargados o interesados en la “corrección” de esa infancia: jueces, intelectuales, defensores de menores, médicos, abogados. La policía aparece especialmente protagónica, preocupada por lo que considera una ocupación anárquica de la ciudad por los niños: no le gusta como juegan, cómo se relacionan, cómo se comportan (p.115), considera sus actividades siempre sospechosas, elabora catálogos de cada vez más crecientes normativas, porque los niños en el espacio público, si lo ocupan autónomamente, incomodan, en cualquier sitio, en Argentina, en México, en Brasil, en América Latina.
Los vaivenes que sufre la justicia para menores en los primeros años de su implementación en Buenos Aires son una respuesta, explica la autora, a la alarma social frente a las condiciones antihigiénicas y de hacinamiento que sufrían los niños en las cárceles con adultos delincuentes o detenidos. Consideraciones de orden moral e higiénico fueron las que impulsaron a las autoridades a construir instituciones de castigo infantil diferenciadas del mundo adulto, que en un inicio serían de corte religioso y luego laboral. El texto subraya cómo las violencias físicas contra los niños y adolescentes se implementaron también como terapéuticas correccionales por los encargados del orden carcelario. Pero, como la sociología, la antropología y la historia de la infancia ya han apuntado, los niños son actores sociales y siempre tienen respuestas imprevistas a los intentos de control que caen sobre ellos. Por eso, en este libro, aparecen también las resistencias infantiles a ese sistema lacerante de cuerpos y emociones. Aparecen entonces los niños como sujetos capaces de burlarse de las autoridades carcelarias, de ejercer su sexualidad dentro de los límites marcados por la prisión, por el encierro, por el género, organizando sociabilidades estructuradas a partir del lenguaje, de la risa, del juego.
El periodo que se trabaja en este libro se inscribe en un momento de despunte de la transnacionalización de las ideas de infancia. En 1916 se reúnen los “especialistas”, esas élites morales, especialmente de los saberes médico-pedagógicos, en la ciudad de Buenos Aires, en lo que sería el I Congreso Panamericano del Niño, para discutir las acciones necesarias para higienizar, moralizar y escolarizar a la población infantil del continente. Los discursos estigmatizantes, las políticas sancionadoras y la persecución de las prácticas de los hijos de las clases trabajadoras se posicionan como uno de los nodos en las iniciativas en favor de la infancia de los países de la región.
Por todo lo anterior, este libro, si bien se dedica al caso argentino, también puede leerse en clave latinoamericana para vislumbrar los puntos en común con experiencias acaecidas en otras latitudes: las sociabilidades infantiles en conventillos, vecindades o inquilinatos y sus porosas fronteras con la calle, fabricada como espacio peligroso, la construcción de la figura del incorregible, las colocaciones de los niños en hogares y talleres, la criminalización constante de las prácticas cotidianas, la construcción de un andamiaje de leyes y normas para el control de la infancia en sus tránsitos por los rumbos de la ciudad, o la laborterapia como método de regeneración de los llamados menores delincuentes. Los niños argentinos no son los niños indígenas del México del porfiriato y de la revolución, tampoco los que venden diarios en Bogotá al iniciar el siglo, o los niños negros que trabajan en las calles de Sao Paulo. Sin embargo, coinciden con ellos temporalmente y sufren políticas que han cruzado las fronteras nacionales en forma de ponencias en congresos, de publicaciones en revistas médicas o criminológicas, en editoriales y noticias en la prensa. Así, terminan siendo depositarios de formas hegemónicas de concebir a las infancias populares acusadas de peligrosas, inmorales y antihigiénicas, discursos que justifican la obligatoriedad de que el Estado controle sus prácticas.
Los seis capítulos de este libro recuperan largos años de avances en la historia de las infancias en América Latina y proponen caminos novedosos para interpretar la minoridad, la categoría etaria, la historia de la criminalidad y el delito, y su vínculo con la historia social de la infancia. Es un libro propositivo e inteligente que da cuenta de la madurez y la plenitud en la que se encuentra este campo historiográfico en Latinoamérica.
Susana Sosenski – Doctora en Historia, Investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ciudad de México – MÉXICO. investigadores/sosenski.html. E-mail: [email protected].
FREIDENRAIJ, Claudia. La niñez desviada: La tutela estatal de niños pobres, huérfanos y delincuentes. Buenos Aires 1890-1919. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2020, 302p. Resenha de: SOSENSKI, Susana. Un archipiélago estatal para las infancias populares argentinas (1890-1919). Revista Tempo e Argumento. Florianópolis, v.13, n.32, p.1-6, 2021. Acessar publicação original [IF].
A casaca do Arlequim | Heliana Angotti-Salgueiro
É uma honra e um prazer ter sido convidado para falar hoje por ocasião da publicação da edição brasileira do grande livro de Heliana Angotti-Salgueiro, A casaca do Arlequim. É difícil acreditar que já se passaram quase vinte e quatro anos desde que o livro de Heliana foi publicado na sua versão francesa (1). Vinte e quatro anos é o tempo de uma geração. É obviamente um desafio formidável para uma obra histórica, que tem necessariamente a marca das teorias, obras e debates da época em que foi escrita, reaparecer em um contexto completamente diferente. No longo prefácio que escreveu para a edição brasileira do seu livro, Heliana Angotti-Salgueiro recorda com maestria e profundidade o contexto em que o livro A casaca do Arlequim foi elaborado. Este contexto é antes de tudo o de uma instituição, a École des Hautes Études en Sciences Sociales, onde brilhantes e diversas personalidades – de Hubert Damisch a Louis Marin e de Marcel Roncayolo a Bernard Lepetit – se cruzavam. Leia Mais
History and collective memory in South Asia, 1200-2000 | Sumit Guha
Sumit Guha | Foto: UW |

I. CONTEMPORARY CHALLENGES TO SCHOLARLY HISTORICAL KNOWLEDGE
Although modern professional historians continue a long tradition of working in privileged cloisters, Guha argues that such experts have created only one of the cultural streams that carry historical knowledge across the generations of social life. The expertise of historical specialists has long been challenged or displaced by oral and popular histories that circulate informally in the public and private spheres of all human communities, creating alternative stories that have wide cultural influences and also affect the ideas of those who write history within even the best-supported institutional cloisters. Historical knowledge is thus inex- tricably connected to public life because it grows out of the collective identities and cultural memories that historical narratives both reflect and help to shape. The public interactions with cloistered historical knowledge, as Guha emphasizes with specific references to both India and the United States, have grown all the more visible in recent decades as diverse social groups have claimed their own historical knowledge and publicly derided the experts for writing false history. Professional historians are thus increasingly marginalized by the “knowledge” that emerges in the popular media or flows among the contemporary religious and political activists who wage transnational culture wars on websites and social media apps. Militant crowds in South Asia, Europe, and the US have been destroying monuments that represent discredited historical figures, but activists with radically diverging ideologies are also constructing new historical narra- tives that assert collective identities and political goals. These politically charged narratives have become part of wider cultural struggles to control historical memories, and they often challenge evidence-based historical accounts that were written in scholarly institutions. Guha wrote his book from a position within one of the cloistered institutions (the University of Texas) where professional experts have traditionally developed and evaluated valid historical knowledge. He therefore notes the context for his own historical project by explaining that recent public claims for the validity of nonexpert historical narratives “made me more keenly aware of how the academy exists only as part of a society” and how “public knowledge of the past” has long “been enfolded in political and economic systems” (x). Guha launches his narrative of South Asian historical knowledge with an explicit recognition that neither the political leaders nor social protest movements in our “post-truth” era are inclined to respect the carefully compiled, evidence- based research of professional historians (ix). Late twentieth-century academic historians such as Peter Novick described a declining faith in historical objectivity among scholars who worked in academic history departments, but the debates of that time were viewed mainly as internal philosophical arguments about the opposing epistemological perspectives of relativism and positivism.[1]
The cultural stakes of these arguments have now become part of a much broader political cul- ture because the cultural-political context has changed. Scientific experts have lost public influence as people outside of the traditional, knowledge-producing clois- ters have gained access to new media and communication networks. Professional historians, like other experts in both the natural sciences and the social sciences, now have to defend the value of evidence-based knowledge in a public sphere that often disdains the whole enterprise of careful documentary research. Guha’s account of collective memories and historical narratives in South Asia over the last eight centuries thus suggests that our (noncloistered) public culture may be returning to conceptions of historical knowledge that long shaped the use and abuse of history in earlier social eras. As Guha explains with persuasive examples, historical knowledge in premodern South Asia and Europe was viewed mainly as a tool to support the political claims of governing elites or to defend the sociocultural status of social groups whose identities were affirmed through semimythical narratives about past struggles and heroism. Human beings have always defined themselves, in part, by describing their historical antecedents, so historians inside and outside of institutional cloisters have provided the requisite collective memories in their written texts and oral histories. Yet Guha repeatedly notes the fragility of collective memories, which can quickly dissipate when social, political, and cultural regimes change or collapse. Most of the once-known information about past people and events has completely disappeared because the cloisters that produced or protected this knowledge were destroyed (for example, the religious communities that protected historical memories in ancient Egypt and Mesopotamia), or because later governing powers had no use for historical nar- ratives that had justified the power of previous rulers, or simply because nobody believed that the activities of common people needed to be recorded in historical narratives.
Guha thus provides humbling reminders that historical knowledge is for- ever changing or vanishing amid the constant public upheavals that transform and demolish the work of historians as well as the past achievements of every other sociocultural community. Guha’s reflections on the contingencies of now- vanished historical knowledge may remind readers of the melancholy themes in Percy Bysshe Shelley’s poem “Ozymandias” (1818), which famously described a traveler’s encounter with the ruins of an ancient king’s shattered statue on a lonely sandscape: “My name is OZYMANDIAS, King of Kings; Look on my works, ye Mighty, and despair!” No thing beside remains. Round the deca Of that Colossal Wreck, boundless and bare, The lone and level sands stretch far away.[2]
One of Guha’s themes in this book conveys a similar story about the fragility of historical knowledge and memories, which means that “the preservation of a frac- tion of the immense world of human experience in the historical record depends on choices and resources, or else it perishes irretrievably” (116). Every genera- tion, in short, must reconstruct historical memories to prevent their otherwise inevitable decay and disappearance in later human cultures.
II. EUROPE ON THE PROVINCIAL FRONTIER OF GLOBAL INTELLECTUAL HISTORY
The fragility of historical knowledge is one example of how Guha views the entanglement of collective memory, political power, and public struggles for social status. History and Collective Memory in South Asia focuses mainly on the development and loss of historical memory in India, but there are also descriptions of similar memory-producing practices in premodern Europe. These comparative perspectives contribute to a historical decentering of European cultural and political institutions that draws on Dipesh Chakrabarty’s influential proposals for “provincializing Europe.” 3 Guha challenges Western narratives that portray a unique European historiographical pathway from the classical Greek works of Herodotus and Thucydides to the nineteenth-century, evidence-based archival methods of Leopold von Ranke. The uniqueness of early European historical writing mostly disappears in Guha’s comparative framework as he shows how medieval European memories and identities were constructed through genealogical research and chronological summaries that South Asian historians also developed during these same centuries. In both of these premodern cultural spheres, most historical narratives focused on local events or people; and the useful knowledge came from genealogists and court heralds who confirmed the esteemed lineage of people who held privileged social status and political power (or wanted to claim new power for themselves). Religious writers in both Europe and South Asia also offered popular narra- tives to explain why particular churches and religious shrines should be visited and why they should be supported with generous gifts. European historical writ- ing thus evolved as an unexceptional local example of the historical research that was also developing widely across Persia and India during this same era. Placed within this wider framework, European genealogists were (like their Indian coun- terparts) “bearers of socially vital histories . . . who kept records and sent out pursuivants across their jurisdictions to record and verify” (35).
Guha thus provides carefully researched examples of how historians can “pro- vincialize Europe” when they move beyond traditional Western assumptions abou European exceptionalism. At the same time, however, he adds to the expanding work in “global intellectual history” by using two important methods for analyzing the history of ideas in different cultures and for tracing transnational intellectual exchanges.[4]
Guha first describes cross-cultural similarities in the labor of heralds and genealogists who served sociopolitical elites in England, France, and Spain, but he also shows how historical workers provided the same services for social elites in India. The social contexts differed, but historians served similar premodern public needs in both cultures. The genealogical arguments for social status, political power, and property ownership were developed with an assiduous attention to past generations and with often-needed adjustments to complex social histories; this careful work everywhere provided essential historical justifications for noble and royal claims to power. After summarizing similar cultural practices that developed independently within Europe and South Asia, Guha uses a second methodology of global intel- lectual history to analyze how ideas about historical knowledge later moved across cultural boundaries and influenced people on both sides of the colonizer/ colonized social hierarchy. The themes in Guha’s narrative thus shift from a description of cultural similarities to a description of cross-cultural exchanges and the mediation of cultural differences. During the nineteenth century, British colonial officials and educators arrived in India with new ideas about how his- torical knowledge should be based on documentary evidence, so the institutions they developed for cross-cultural instruction (including schools and universities) became sites for new cultural translations of materials they encountered in India. British educators developed a tripartite narrative that portrayed Indian history as an evolution from eras of Hindu and Muslim rule into the era of Britain’s Christian Imperial rule, which British officials portrayed as superior to the earlier Mughal Empire. Equally important, a new English-educated, South Asian intelli- gentsia gradually adopted some of the new European methods and ideas for their own anticolonial purposes. Ideas and research methods traveled across cultural boundaries, but they also changed as Indian historians used them to pursue goals that differed from the purposes and expectations of British officials. The Indian scholar Vishwanath Kashinath Rajwade (1864–1926), for example, worked in this hybrid sphere of cross-cultural exchanges during the colonial era, when he joined with other intellectuals in western India to develop a Marathi perspective on British imperialism. Rajwade believed that the “latest methods of source criticism would enable India to recapture its own history” (142), so his work made creative use of some European cultural practices that helped to advance the goals of an emerging Indian nationalism. According to Guha’s account of this hybrid cultural process, “Leopold von Ranke’s doctrines may have reached him [Rajwade] by indirect routes, but he was certain that their application would vindicate both Maratha and Indian nationalism. This was the atmosphere in which the early venture for a public and documented history was launched in the Marathi-speaking world” (143). These two methodological European exceptionalism. At the same time, however, he adds to the expanding work in “global intellectual history” by using two important methods for analyzing the history of ideas in different cultures and for tracing transnational intellectual exchanges.[5]
Guha first describes cross-cultural similarities in the labor of heralds and genealogists who served sociopolitical elites in England, France, and Spain, but he also shows how historical workers provided the same services for social elites in India. The social contexts differed, but historians served similar premodern public needs in both cultures. The genealogical arguments for social status, political power, and property ownership were developed with an assiduous attention to past generations and with often-needed adjustments to complex social histories; this careful work everywhere provided essential historical justifications for noble and royal claims to power. After summarizing similar cultural practices that developed independently within Europe and South Asia, Guha uses a second methodology of global intel- lectual history to analyze how ideas about historical knowledge later moved across cultural boundaries and influenced people on both sides of the colonizer/ colonized social hierarchy. The themes in Guha’s narrative thus shift from a description of cultural similarities to a description of cross-cultural exchanges and the mediation of cultural differences. During the nineteenth century, British colonial officials and educators arrived in India with new ideas about how his- torical knowledge should be based on documentary evidence, so the institutions they developed for cross-cultural instruction (including schools and universities) became sites for new cultural translations of materials they encountered in India. British educators developed a tripartite narrative that portrayed Indian history as an evolution from eras of Hindu and Muslim rule into the era of Britain’s Christian Imperial rule, which British officials portrayed as superior to the earlier Mughal Empire. Equally important, a new English-educated, South Asian intelli- gentsia gradually adopted some of the new European methods and ideas for their own anticolonial purposes. Ideas and research methods traveled across cultural boundaries, but they also changed as Indian historians used them to pursue goals that differed from the purposes and expectations of British officials. The Indian scholar Vishwanath Kashinath Rajwade (1864–1926), for example, worked in this hybrid sphere of cross-cultural exchanges during the colonial era, when he joined with other intellectuals in western India to develop a Marathi perspective on British imperialism. Rajwade believed that the “latest methods of source criticism would enable India to recapture its own history” (142), so his work made creative use of some European cultural practices that helped to advance the goals of an emerging Indian nationalism. According to Guha’s account of this hybrid cultural process, “Leopold von Ranke’s doctrines may have reached him [Rajwade] by indirect routes, but he was certain that their application would vindicate both Maratha and Indian nationalism. This was the atmosphere in which the early venture for a public and documented history was launched in the Marathi-speaking world” (143). These two methodological realms. Oral traditions shaped the identities of local communities, asserted the significance of local religious shrines, or justified the social positions of local elites who continued to challenge the centralizing power of imperial states. All of these narratives could coexist with the historical narratives of large empires because “outside the early temple-cities and imperial capitals, . . . local and folk traditions propagated mutually contradictory but noncompetitive narratives of the past” (27). There was never just one historical narrative, and the local folk nar- ratives sometimes became more powerful and widely accepted than the official narratives that historical experts produced in the cloistered institutions of imperial capitals. In every historical period, diverging narratives claimed to provide the best accounts of recent or remote historical events.
Guha introduces early Indian historical writing by focusing on Muslim histo- rians whose Persian monotheism asserted the existence of a “universal history” that transcended the fragmented local histories of earlier South Asian states (45). Muslim historians believed that a single God oversaw every human activity because all actions took place in a “universal time” (51). This temporal perspec- tive suggested that every great or small event contributed to an overarching historical process, yet the conflicts over political power inevitably occurred in specific places and local settings that required historical attention. Genealogists and court historians thus wrote historical accounts to show the ancient lineage of newly arrived Persian rulers in the era of the Delhi Sultanate (which spanned the thirteenth through the sixteenth centuries), and Persian-language narratives told official stories about heroic past achievements to justify the recent, regional expansion of Muslim power. Politicized historical narratives continued to appear during the later Mughal Empire, whose famous Emperor Akbar (r. 1556–1605) bolstered his centralizing aspirations by supporting new historical narratives (in Persian) and building new monuments that stressed the importance of imperial unity. Other strands of social memory nevertheless flourished outside of the official court-centered narratives that Mughal emperors promoted. Both before and during Akbar’s reign, Guha notes, “many forms of collective memory coex- isted, with the new Persian political and military histories as simply an additional branch of memory” (61). Local memories were often associated with local reli- gious shrines, and long after the Mughal conquests extended into eastern India there were still Bengali legends, lineage stories, and Hindu religious centers that defied or ignored the court-supported Mughal histories. These unofficial narra- tives sustained Bengali cultural memories, though local Buddhist memories were often lost in the competing Muslim and Hindu histories of the era.
As Mughal power declined in the late seventeenth century, the rising Marathi state in western India became a new center of historical knowledge and collective memory. Guha explains that the “Marathi-speaking gentry had long written or dictated narrative histories” for the region, but their expanding political aspirations soon generated new “macronarratives” that helped to justify the political claims and collective identity of the ambitious Marathi (Hindu) regime (107). Historical writing therefore celebrated the achievements of a Marathi elite that governed a mostly Hindu population and eventually displaced the Mughal empire in north- central India, but the Marathi historians ignored the historical achievements of their Hindu predecessors in southern India (the Vijayanagara Empire). The eighteenth-century Marathi elite thus used a narrowly defined collective memory to create an “enmeshing of history and identity [that] was unique in South Asia at the time” (109). Other social groups continued to shape collective historical memories, however, through narratives that circulated outside the Marathi literati. Workers and servants, for example, spoke in court cases that Guha cites to show how nonelite people could provide important historical information about family events and property holdings. Challenging Gayatri Spivak’s famous claim that the voices of subaltern people could never be heard or recovered, Guha refers to late seventeenth-century court testimonies in Maharashtra to argue that lower class women and men in western India “could speak and were sometimes unique sourc- es of evidence” (99).[6]
Craftsmen, barbers, and even gardeners offered their per- spectives on past events or conflicts. Most were illiterate, yet “ordinary villagers . . . passed on key elements of local history from generation to generation” (100). Both the elite Marathi writers and subaltern speakers narrated local history in texts and court testimonies that Guha describes as more factual than the histori- cal narratives that appeared in other parts of India. The west Indian Hindu literati nevertheless resembled historians throughout South Asia in supporting their own government’s political interests and in mostly ignoring the history of previous rulers. Like other elite writers, they also faced the challenge of unofficial historical narratives that conveyed the perspectives of other social groups, including the obscure subalterns who testified (historically) in legal proceedings and family disputes. The struggle to consolidate political power was always linked to cul- tural struggles over the control of stories about the past.
III. HISTORICAL KNOWLEDGE IN THE ERA OF IMPERIALISM AND POSTCOLONIAL TRANSITIONS
Historical writing in both the Marathi-speaking west and the Bengali-speaking east gradually changed after British colonial institutions became new centers of education and historical memory during the nineteenth century. Extending the cultural practices of their political predecessors, British imperialists introduced new historical narratives to increase their own prestige and stature. Guha shows that the power-enhancing uses of historical knowledge remained as prominent in the British colonial era as in the earlier periods of Indian history, but the British brought new European methods for source citations and historical writing. Their sources and narratives conveyed unexamined cultural assumptions about the superiority of Christian traditions, and they often portrayed British rule as a more enlightened imperial successor to the earlier Mughal Empire.
Although Guha explains how the British ascendancy decisively altered the political and cultural context for historical writing, he also argues that the Indian literati always found new ways to narrate their own history—in part by drawing on unofficial, popular histories that still circulated outside of British institutions.Indian writers increasingly accepted new standards of historical evidence, how- ever, which “tended to converge on demanding authentic contemporary sources” (118). The prestige of document-based historical narratives forced Indian histo- rians to recognize that “the power of Western narrative could not be denied, but chinks in it could be sought so as to turn it against the colonizer” (119). Counter- narratives thus challenged the official historical voice, which now spread a European, Christian message within and beyond the cloisters of British schools and universities. Guha gives particular attention to the hybrid historical work of western Indian writers such as the previously noted Vishwanath Kashinath Rajwade and the documentary specialist Ganesh Hari Khare (1901–1985), both of whom wrote texts that differed from the colonial historical narratives and used more factual evidence than could be found in the genealogical stories and “historical romance” of Bengali historians such as Bankim Chandra Chatterjee (1838–1894) (134). Despite Guha’s recognition of the cultural value in all kinds of historical narratives—popular oral histories, genealogies, religious stories, and even fictional works—he repeatedly affirms the superiority of historical research that uses verifiable documentary sources. Adhering to the modern research meth- ods of cloistered professional historians, Guha argues that the most reliable his- torical truths appeared in evidence-based narratives that explained what actually happened rather than what later generations wanted to believe could or should have happened.
The historical resistance to British colonialism did not end when South Asians established independent nations after 1947. As Guha notes in his discussion of postcolonial cultural transitions, historians in both Pakistan and India set to work on nation-building tasks that required coherent national histories and emphasized the kind of long-term continuities that nationalists typically find or invent in their own national cultures. The enduring influence of certain colonial-era British nar- ratives helped to shape new “ethno-nationalist” accounts of Hindu history that condemned Mughal rule and the oppressive power of Muslim outsiders (132). Colonial legacies also influenced some later postcolonial historians who sup- ported an “indigenist” rejection of the evidence-based historical knowledge that British historians had advocated in English-language universities (160). To be sure, British educators had often violated their academic standards for evidence- based historical writing as they promoted their own faith-based assertions about Christian miracles, the superiority of European cultures, and the flaws of Indian religious traditions. Guha notes with dismay, however, that the postcolonial rejection of imperial institutions and ideas evolved into a growing nationalist suspicion or rejection of carefully compiled, evidence-based historical narratives. Historians who searched for indigenous alternatives to British culture drifted away from rigorous research and celebrated ancient Vedic learning in mythic narratives that no longer cited historical evidence or documentary sources.
Guha’s concluding critique of postcolonial changes in South Asian cultures therefore returns to his introductory arguments as he condemns the dangers in “post-truth” societies that reject the foundational research of reliable historical knowledge. The cloisters of professional historical work, where evidence-based research methods established the criteria for accurate (though culturally inflected) knowledge, have been threatened or displaced by the political-cultural influence of a surging Hindu nationalism that resembles similar nationalist critiques of “fake history” and “false” academic work in the US. Political groups and their affiliated media systems in India and America have launched a similar “external assault on the community of professional historians” (x), thereby forcing historical experts to defend the truth of their knowledge in a transformed public sphere. Guha sees familiar historical patterns in these recent challenges to historical knowledge because carefully constructed historical narratives were often overwhelmed and rejected in the sociopolitical upheavals of past transitional eras. Each historical era is different, of course, but Guha suggests that cloistered historians may not recognize how the scapegoating of inconvenient or unpopular knowledge never disappears. “History departments in the few but comparatively well-funded Indian universities controlled by the central government,” Guha writes in a discussion of South Asian historians who lost influence after the 1970s, “were confident, indeed complacent, in their authority. . . . The narrow circle of specialists could still, in principle, resolve disputes by reference to sources and documents, as in the standard model. This gave its members an undue sense of their own grip on the past” (173).
This cultural moment has now passed, however, and the once-cloistered historians find themselves under attack from radical Hindu nationalists, Bollywood historical movies, and so-called identity histories that dismiss or misrepresent the complexities of historical evidence. This situation is by no means unprecedented, as Guha demonstrates in his careful analysis of how collective memories changed under the influence of different governing systems over the last eight centuries. Yet the recurring political struggle for control of historical knowledge seems to be gaining renewed force in a twenty-first-century context of far-reaching social media, website communications, and highly politicized group identities.
IV. HISTORICAL KNOWLEDGE AND THE PUBLIC SPHERE IN A “POST-TRUTH” WORLD
Guha’s careful examination of South Asian historical knowledge contributes valuable perspectives for wider discussions of how collective memories help to shape political cultures and the public sphere. He explains the significance of historical narratives and monuments that sustain collective identities, but he also stresses that popular memories and oral histories have always expanded or challenged the historical perspectives of cloistered experts and state-supported narratives. Guha therefore provides a broad overview to help his readers understand how contemporary critiques of evidence-based academic scholarship may resemble disruptions that have occurred whenever political regimes have been overthrown or new social-cultural-religious groups have come to power. Historical knowledge, as Guha demonstrates throughout his book, has always been fragile and vulnerable to public upheavals.
There are nevertheless limitations in Guha’s work that raise questions for further critical analysis. His insistence on the value of evidence-based research is relevant for historical studies in every society, even though the specific modern arguments for such research emerged in European universities and then gained global influence through other institutions that governments, imperial regimes, and private groups established in other places around the world. Guha notes this complex process of cross-cultural exchange, yet he does not discuss how technological transitions are creating new challenges for document-based historical research and also transforming how historians might study cross- cultural interactions. The new technological challenges began to emerge with the computer revolution of the 1990s, and they became even more pervasive as mobile telephones replaced printed texts and older computers for many twenty- first-century communications. Documents stored on obsolete floppy disks may already be almost as inaccessible as illegible stone tablets in an ancient cave. What happens to evidence-based historical memory when most communications take place in easily deleted telephone text messages or on social media apps that are constantly evolving with the technological innovations of companies that sell mobile telephones?
Guha concludes his book with a commendable insistence on the value of carefully researched historical work and a plea “that we continue to strive for an evidence-based mode of writing it” (178). The instant communications of social media meanwhile pose a double challenge to evidence-based historical writing because sources are disappearing almost instantly, and highly motivated political or religious groups are quickly spreading false historical narratives via internet technologies that previous cloistered historical experts never had to confront. Addressing the implications of these cultural changes would take History and Collective Memory beyond its chronological limits, but historians need to address such issues as they confront the growing public influence of false history, which Guha rightly condemns in his preface, introduction, and conclusion.
Contemporary technological challenges could be explored in future studies of new social media, but a different historical problem appears in Guha’s complaint that cloistered historians have helped to undermine their own evidence-based expertise by embracing postmodern critiques of objectivity. Ironically, as Guha points out in his preface, the influential Foucauldian argument that power cre- ates knowledge seems to have been embraced by powerful governing elites who generally reject the ideas and writing styles of postmodern theorists. One of the American architects of the Iraq invasion in 2003, for example, assured a journalist that American policymakers were powerful enough to define and thereby create political realities in a distant Middle Eastern society. “Postmodern thought,” Guha notes, “had thus been captured by its inveterate critics in the power elite” (ix). This concern about public actors who now adapt theoretical critiques of empirical knowledge to justify their own claims for reality-shaping narratives leads to one of Guha’s specific warnings about the current threats to historical knowledge. Although he provincializes European claims for unique historiographical traditions and methods, he also defends the Rankean belief in the documentary foundation of fact-based historical knowledge. Guha thus views the commitment to evidence-based knowledge as an essential cultural value that should never be dismissed as simply a Eurocentric ideology. Documentary evi- dence, as he correctly insists, provides valid criteria for historical truth in South Asia and in every other society that seeks to establish reliable knowledge about its own past. This commitment to evidence-based historical knowledge, however, leads Guha to an unexpected critique of historians who draw radical relativist implications from the argument that narrative choices shape the construction of all historical knowledge.
Guha’s work carefully examines the words and narrative structures that shape human uses of the past, yet he seems to pull back from his own analytical themes at the end of his book. “We have entered a post-truth world through many paths,” he notes: “One of those brought us here by arguing that all narratives were constructed, and consequently all are equally valid” (176). This is a puz- zling statement because Guha’s book actually shows why the second clause in this sentence is not correct. It is certainly true that all narratives are constructed, but Guha skillfully shows (and almost all historians would agree) that some nar- ratives are far more truthful than others because the best historical accounts are based on documentary evidence and other verifiable sources. Guha’s analysis of South Asian historians thus uses evidence-based criteria to explain why some constructed narratives are more valid than others. His concluding lament about a misguided academic acceptance of the postmodern emphasis on the shaping power of narratives seems to be refuted by the critical assessments of different textual constructions in his own impressive book.
My questions about the impact of changing technologies and the ongoing evaluation of truth claims in historical narratives suggest some of the key issues that Guha’s book encourages readers to continue exploring in our “post-truth” historical era. Although he develops an insightful account of the ways in which historical knowledge evolved in specific South Asian cultures, Guha also shows how this long-developing cultural history challenges traditional narratives about European exceptionalism, confirms the influence of cross-cultural exchanges, demonstrates the complex hybridity of colonial and postcolonial ideologies, and exemplifies the continual intersection of historical knowledge and public conflicts. Guha’s emphasis on the contingency of historical knowledge and the vulnerability of experts also reminds professional historians that sociopolitical forces affect the narratives they write as well as the economic resources that support their privileged positions. Historians thus remain vulnerable to the revo- lutionary upheavals they like to study from the safety of their cloistered positions.
Perhaps the current vulnerability of professional historians results partly from a gradual twentieth-century scholarly withdrawal from intellectual engagements with public life and public history. Given the pressing need for historical narra- tives in public life and in the cultural defense of collective identities, there will always be (nonexpert) groups who want to fill the public historical vacuum that exists when historians argue only among themselves. The historians’ long-term retreat to university cloisters has become increasingly problematic amid the recent populist upheavals around the world, but these unsettling events may now be forcing historians to become more aware of their connections to the public sphere. This awareness could grow in all national cultures as university-based historians struggle to maintain student enrollments and financial resources—and as activist groups constantly develop self-supporting historical narratives in the popular media that flourish outside academic cloisters.
Sumit Guha’s well-argued, well-researched account of collective memory in the longue durée of South Asian history thus helps historians understand the enduring connections between historical knowledge and the struggle for power in public cultures. Cloistered historical experts who find themselves increasingly besieged by twenty-first-century culture wars and polarizing political conflicts might turn to Guha’s narrative for transcultural perspectives on their current chal- lenges. They may also draw on his perceptive analysis of South Asian historical narratives to understand more clearly why they must engage with public cultures beyond their cloisters and defend the evidence-based historical knowledge that others will denounce, distort, or ignore.
Notes
- Guha refers to key themes in Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical Profession (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988).
- Percy Bysshe Shelley, “Ozymandias,” in The Complete Poetry of Percy Bysshe Shelley, vol. 3, ed. Donald H. Reiman, Neil Fraistat, and Nora Crook (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2012), 326. This reference reflects my own response to Guha’s themes; he does not mention Shelley or this poem in his book.
- Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton: Princeton University Press, 2000). Guha draws on Chakrabarty for his useful distinctions between “cloistered” and “public” history as well as his broader interest in displacing Europe from its “central, normative role in world history” (Guha 5).
- For a summary of notable research methods in this field, see Samuel Moyn and Andrew Sartori, “Approaches to Global Intellectual History,” in Global Intellectual History, ed. Samuel Moyn and Andrew Sartori (New York: Columbia University Press, 2014), 3-30.
- The key work for Guha is Maurice Halbwachs, On Collective Memory, ed. and transl. Lewis Coser (Chicago: University of Chicago Press, 1992).
- Guha challenges the influential argument that appears, among other places, in Gayatri C. Spivak, “Can the Subaltern Speak?” in Marxism and the Interpretation of Culture, ed. Cary Nelson and Lawrence Grossberg (Urbana: University of Illinois Press, 1998), 271-314.
Lloyd Kramer – University of North Carolina, Chapel Hill.
GUHA, Sumit. History and collective memory in South Asia, 1200-2000. Seattle: University of Washington Press, 2019. Pp. xiii, 240. Resenha de: KRAMER, Lloyd.The enduring public struggle to constructo, control, and challenge historical memories. History and Theory, v.60, n.1 p.150-162, mar. 2021. Acessar publicação original [IF].
A Campanha Abolicionista na Revista Ilustrada (1876-1888): Ângelo Agostini e a educação do povo | Mônica Vasconcelo
A obra é resultado da dissertação de mestrado defendida em 2017 no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá. No livro, Mônica Vasconcelo analisa as caricaturas de Ângelo Agostini (1843-1910) publicadas na Revista Illustrada (1876-1888), na província do Rio de Janeiro, com a temática da defesa do fim da escravidão. O objetivo dessa obra é compreender a totalidade social e histórica bem como as contradições presentes no discurso da escravidão. A ação política e educativa inerente ao próprio discurso e aos interesses da classe dominante sombreava a participação de Ângelo Agostini nos embates sobre a abolição do regime escravocrata.
Ângelo Agostini nasceu na província de Alessandria, na Itália, em 1843. Viveu sua infância e adolescência em Paris, onde aprendeu a arte do desenho litográfico. Em 1859, Agostini chega ao Brasil e, anos mais tarde, insere-se no debate político abolicionista. Fundou a Revista Illustrada em 1876 com o ideal de que o periódico servisse como uma publicação política, abolicionista e republicana, temas tratados de forma satírica e irônica. Leia Mais
Inky Fingers: The Making of Books in Early Modern Europe – Antony Grafton
Anthony Grafton / Foto: Princeton University /
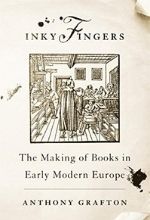
Le travail en Europe occidentale 1830-1939 / Marion Fontaine, François Jarrige e Nicolas Patin
Marion Fontaine /

Son architecture complexe de ce livre en fait aisément le recueil de trois ouvrages différents et complémentaires. Comme les directeurs l’expliquent en introduction, la première partie vise à mettre en place les principaux éléments « dessinant les trajectoires globales de l’évolution du travail des années 1830 aux années 1930 ». En une quarantaine de pages, François Jarrige dresse d’abord un tableau des « mondes du travail et de l’industrie dans l’Europe des années 1830 ». Alors que l’industrialisation se fait à des rythmes décalés, précoce en Grande-Bretagne, plus tardif en Europe du Sud, les contours du monde ouvrier restent flous en 1830 et les statistiques incertaines tant « domine le foisonnement des formes intermédiaires entre l’atelier artisanal et l’entreprise industrielle » (p.37). Le travail à domicile et les « nombreuses nébuleuses proto-industrielles » (p.43) jouent un rôle majeur dans le tissu productif des années 1830, y compris en Angleterre, et, si de nouveaux bâtiments industriels apparaissent, il s’agit surtout de lieux permettant « l’empilement de métiers regroupés sous un même toit, sans division profonde du travail ni mécanisation » (p.49). Le statut et la rémunération des ouvriers sont alors envisagés dans un monde du travail qui voit les corporations remises en cause sans disparaître partout immédiatement. Dans ce moment 1830, la question sociale tend de plus en plus à rencontrer « les enjeux politiques » (p.69), participant à « la prise de conscience des intérêts collectifs des travailleurs » (p.73).
Toujours sous la plume de François Jarrige, un deuxième chapitre s’intéresse à un long milieu du XIXe siècle, période d’accélération de l’industrialisation autant que de l’« irruption dans l’arène publique » (p.79) des travailleurs. Si on excepte l’Europe du Sud, 1848, que l’auteur qualifie de « révolution européenne du travail », s’apparente à l’épicentre de cette « politisation des mondes ouvriers » (p.83). La mécanisation et la concentration des activités de production s’affirment davantage à partir du milieu du siècle, à des rythmes variés selon les pays, l’Angleterre et la Belgique faisant figure d’« ateliers du monde » (p.89), quand l’Italie et l’Espagne sont à classer parmi les « pays « retardataires » et « archaïques » » (p.91). La période est caractérisée par l’ « émergence très lente de la grande industrie » (p.95), à l’origine d’un tissu ouvrier complexe, dont ne sauraient être exclus les femmes et les enfants, comme de paysages d’autant plus marqués par des pollutions atmosphériques majeures que l’utilisation du charbon y est souvent massive. Enfin, à la suite de Charles Tilly, l’auteur souligne que les années 1850 sont celles du « basculement d’un régime d’action ancien, essentiellement local et patronné, consistant en destructions et soulèvements populaires, vers un répertoire « moderne » de plus en plus national et autonome, composé de grèves, de réunions politiques et de meetings, encadré par des organisations et associations en cours d’institutionnalisation. » (p.101)
En s’intéressant aux années 1880 à 1914, Marion Fontaine dessine la perspective d’un « nouveau monde ouvrier » (p.109), que les mineurs et surtout les « métallos » symbolisent désormais davantage que les ouvrier.e.s du textile. La période voit « une véritable recomposition du système technique, autour de l’électricité et du moteur à explosion à base de pétrole » (p.112), qui étend considérablement l’industrialisation et modifie sensiblement l’organisation du travail. Désormais, et malgré le maintien de formes de production plus traditionnelles, le modèle de la grande usine se développe, surtout dans certains types d’industrie, et a, pour de nombreux ouvriers, « l’allure d’un carcan, voire d’un bagne » (p.118). Dès lors se met en place un nouveau prolétariat qui, derrière l’apparente homogénéisation que permettrait la concentration de l’usine moderne, n’est pas sans hiérarchie. C’est dans ce cadre que s’organise le mouvement ouvrier, dont le rôle croissant, dans un contexte de « relative dynamique de démocratisation » (p.135) poussent les gouvernements des différents États à prendre davantage en compte les conditions de vie des travailleurs.
La Première Guerre mondiale constitue « un tournant pour la main d’œuvre et les relations de travail » et « change le monde du travail en profondeur » (p.139). L’État tient une place essentielle dans les économies de guerre qui se mettent en place à partir de l’été 1914, autant dans le financement industriel que dans l’organisation de la production. Les États se montrent aussi, selon les cas et selon les périodes, tantôt « arbitres et négociateurs », tantôt « régulateurs » dans les relations de travail (p.147). Le conflit est aussi l’occasion d’un emploi massif des femmes dans l’industrie, mais « leur place demeure subordonnée » (p.149), comme l’est celle de la main d’œuvre coloniale utilisée par la France et le Royaume-Uni. Dans un contexte industriel de développement de « nouvelles formes d’organisation du travail », la recherche d’une production croissante s’appuie « sur la dérégulation et la contrainte » (p.160), ce qui n’est pas sans expliquer, en partie, le « retour des conflits » du travail en 1917.
Le dernier chapitre de cette première partie s’intéresse à l’entre-deux-guerres, « période frappée du sceau de l’ambiguïté, entre avancées sociales massives […] et répression du mouvement ouvrier » (p.165). Dans un climat révolutionnaire qui voit naître un État communiste, les années de sortie de guerre sont l’occasion de conquêtes sociales importantes, telle la journée de huit heures (sauf au Royaume-Uni). La « grande vague de rationalisation » (p.171) déferle alors sur le monde du travail, au risque de « l’aliénation des ouvriers face à la machine » (p.175). La crise de 1929 voit émerger un chômage de masse inédit, mais aussi de grands conflits sociaux. La question du monde du travail dans l’Italie fasciste et dans l’Allemagne nazie est évidemment posée.
Le sujet est ensuite envisagé sous des angles thématiques. Dans « les mécanismes de l’industrialisation européenne », François Jarrige revient sur l’expression « révolution industrielle » pour lui préférer « industrialisation », qui dit mieux « sa lenteur, son caractère inégal et progressif » (p.196). Marco Saraceno et François Vatin abordent « les savoirs du travail » et montrent le passage de la machinerie du début du XIXe siècle à la quête de « rationalisation psychologique, technique et économique ». Alain Chatriot pose rapidement la question du commandement et s’intéresse aux patrons et aux ingénieurs, avant que Thomas Le Roux n’envisage « les corps ouvriers », entre soumission d’une part, et reconnaissance des risques et des maladies professionnelles d’autre part. Michelle Zancarini-Fournel conclut sa stimulante partie consacrée au « genre au travail » par trois éclairages successifs, sur la proto-industrialisation, sur la Première Guerre mondiale et sur la question de la protection sociale et des organisations syndicales. « Les migrations de travail », présentées par Fabrice Bensimon, sont l’occasion de multiplier les échelles, de temps (des migrations saisonnières aux déracinements définitifs) comme d’espace (des bassins démographiques régionaux aux mouvements transnationaux, voire transcontinentaux). Marion Fontaine étudie les cultures ouvrières, tant celle des métiers et de l’usine, que celles qui voient le jour « hors-travail » et qui ne sont nullement « des entités isolées » (p.338). Dominique Pinsolle s’intéresse aux conflictualités ouvrières et propose une indispensable mise au point sur des militantismes multiples. Ceux-ci sont indissociables de la mobilisation politique du travail, abordée par Emmanuel Jousse, qui donne naissance aux partis ouvriers. Laure Machu précise le rôle de l’État comme protecteur et régulateur des rapports de travail, soumis finalement, avec la dépression des années 1930, à une forte déstabilisation. Enfin, du Champathieu des Misérables de Victor Hugo à Tonine Gaucher de La ville noire de George Sand, de La Forge d’Adolph von Menzel au Débardeur de Constantin Meunier, de La Belle équipe de Julien Duvivier au lambeth walk, Gilles Candar évoque la représentation du « travail et travailleurs en littérature et dans les arts ».
La troisième partie entend mettre à disposition des outils, qu’il s’agisse de cartes, d’une chronologie ou d’une série de monographies collectives. Les notices biographiques, pourtant fréquentes dans les manuels de cet éditeur, sont écartées, les auteurs invitant à juste titre à se référer au richissime Maitron. Ils leur préfèrent de courts portraits de groupes consacrés aux métiers, les couturières, les tisserands, les dockers ou les ouvriers du livre ou de la chaussure. Chaque métier s’inscrit dans des temporalités et des problématiques qui traversent l’ensemble du thème du travail. Les cinq pages consacrées aux mineurs permettent ainsi de comprendre comment les « gueules noires », deviennent des « icônes du prolétariat », alors que le travail au fond de la mine s’industrialise très lentement et que l’extraction du charbon « se fait longtemps par la seule force physique, le mineur arrachant avec son pic le charbon de la veine » (p.450).
Un recueil de documents, introduits et présentés par Florent Le Bot et Audrey Millet, constitue le deuxième volume de l’ensemble. L’ouvrage ne vise évidemment pas l’exhaustivité mais ambitionne « la variété de documents (de textes et d’iconographie […]), inscrits dans la pluralité des séquences chronologiques et des espaces considérés » (p.19). Si certains documents appartiennent à « la sphère des représentations » (p.20), d’autres, tels les témoignages et les enquêtes, permettent en revanche d’entrer davantage « dans le cœur de l’espace du travail, dans l’atelier, dans le domicile, dans l’usine même » (p.21).
Ce sont au total plus de cent-quatre-vingt documents ou ensembles de documents qui sont proposés, répartis en cinq parties : « paysages du travail », « travailler pour vivre, travailler à en mourir ? », « encadrer des main d’œuvre », « sociabilités, engagements et conflits » et « représentations du travail ». Chacune est divisée en chapitres qui répondent, pour certains, aux chapitres du premier volume. Ainsi, les six documents de « mobilités et immigrations » répondent au point sur « les migrations de travail » ou les dix-sept documents et ensembles documentaires sur « les corps ouvriers au risque du travail » permettent de nourrir la lecture du court chapitre sur le même sujet.
Chaque document ou ensemble documentaire est présenté de façon plus ou moins complète par un texte permettant de le replacer dans un contexte plus large et complété non seulement des indications précises de la source mais aussi d’une utile (et courte) orientation bibliographique permettant d’approfondir le sujet. Ainsi, en croisant le manuel et des documents, ce sont de véritables dossiers que peut se constituer la lectrice ou le lecteur.
Dans le premier volume, on regrettera néanmoins la pauvreté du cahier cartographique, dont plusieurs cartes reproduisent celles publiées dans le volume Industrialisation et sociétés. Europe occidentale 1880-1970, paru en 1998, faisant fi de l’apport des représentations territoriales dans le processus d’explication et de mémorisation d’un phénomène, comme d’une « histoire du travail [qui] s’est donc réinventée dans les dernières décennies » (p.28).
Malgré la grande variété du deuxième volume, il est dommage que les reproductions photographiques du document ne soient pas toujours d’une qualité permettant leur exploitation (par exemple, le complexe du Grand-Hornu, p.259, ou les grévistes des Aciéries de Sambre et Meuse, p. 534). On pourra également regretter que, lorsque le document et son introduction n’occupent que deux pages, ils ne soient pas systématiquement placés face à face, même si on comprendra les nécessités techniques qui poussent à les mettre dos à dos. Enfin, de très rares choix sont peu compréhensibles : la photographie de l’équipe de football du Havre Athletic Club (p.271) dit assez peu du travail ou de la place de ce sport dans les cultures ouvrières. D’autres documents auraient été à cet égard bien plus parlants et auraient éventuellement permis de sortir des exemples français, qui dominent légitimement dans ce recueil.
Ce ne sont évidemment là que des réserves minimes tant les deux ouvrages sont riches. Bien sûr très utiles aux candidat.e.s des concours d’enseignement devant travailler des questions pour lesquelles ces volumes sont spécialement conçus, ils le seront également aux professeur.e.s pour renouveler leurs connaissances et leurs approches d’un sujet malheureusement trop peu présent dans les programmes actuels du secondaire. De fait, ce « Travail » en deux volets en est un très beau !
François da Rocha Carneiro – Professeur d’histoire-géographie à Roubaix, Docteur en histoire contemporaine et chargé de cours à l’Université d’Artois, Vice-Président de l’APHG.
FONTAINE, Marion; JARRIGE, François; PATIN, Nicolas (dir.). Le travail en Europe occidentale 1830-1939. Paris: Atlande, 2020. LE BOT, Florent; MILLET, Audrey (dir.). Le travail en Europe occidentale 1830-1939 – documents. Paris: Atlande, 2020. Resenha de: CARNEIRO, François da Rocha. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 10 jan. 2021. Consultar publicação original
Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico 1450-1850 | Marcello Carmagnani
As conexões mundiais e o Atlântico: título sugestivo para um livro que se propõe a tratar de tema tão amplo. Como fazê-lo, contudo, é questão proeminente. O percurso escolhido nos é explicitado na introdução:
Será necessária uma profunda revisão dos instrumentos analíticos, elaborando os dados históricos até então utilizados apenas descritivamente, para traçar os modelos, os esquemas e as constantes do processo histórico. Fernand Braudel dizia que a história é a representante de todas as ciências sociais no passado: a ampliação da visão de história atlântica aqui proposta depende também da capacidade de elaborar conceitos analíticos que considerem os processos históricos em âmbito econômico, sociológico, político e cultural, sem os quais a história não pode ser nada além de uma mera coleção de conhecimentos [3].
Portanto, como ambicionado, a abordagem das esferas de existência histórica do mundo atlântico depende de uma elaboração conceitual e de uma revisão dos instrumentos analíticos que dê conta das constantes de seu processo formativo. O que, dentro da produção italiana sobre o tema, é de grande significado. Como em países europeus e americanos, os estudos atlânticos ganharam relevo nos últimos anos dentro dos cursos de graduação e pós-graduação. A publicação deste livro, por exemplo, vem cinco anos depois do ótimo Il Mondo Atlantico: una storia senza confini (secoli XV-XIX), de Federica Morelli. Porém, em muitos casos, o Atlântico acaba sendo fortemente concebido como um prolongamento temporal da ordem geopolítica norte-atlântica pós-1945, sendo representado pelos países membros da OTAN (deixando pouco ou nenhum espaço para o Leste Europeu e a Península Ibérica), e excluindo em grande medida o Atlântico Sul, concebendo o ocidente a partir de um interesse que projeta uma interpretação de escopo reduzido.
Portanto, a tarefa assumida requer não apenas amplo conhecimento bibliográfico e documental, como também uma perspectiva metodológica que seja totalizante, por adição ou por relação. Neste campo historiográfico, Bernard Bailyn afirmara que fazer uma história atlântica implica a agregação do conhecimento de histórias locais e suas extensões ultramarinas, bem como as relações desse agregado, operando no campo da descrição de suas dinâmicas e elementos fundamentais e processuais [4]. Apresentando estes aspectos, o presente livro, além de vir em boa hora, é também fruto de uma carreira construída a partir de pesquisas de fôlego sobre a Europa e as Américas. Nos últimos anos, os estudos de Marcello Carmagnani vão da relação intrínseca entre o consumo de produtos extra-europeus e as transformações materiais e imateriais em suas sociedades [5] à formação e plena inserção da América Latina nas sendas do mundo ocidental [6]. E neste livro, como bem descrito, o enquadramento atlântico dos processos históricos e suas relações são delineados plenamente.
Dividindo a obra em cinco capítulos, Carmagnani inicia explorando seus pontos de partida. Pontos que não necessariamente levaram desde o princípio à sua formação, mas que foram determinantes para a estruturação de suas dinâmicas. Neste quesito, as técnicas de navegação e o delineamento das primeiras ocupações atlânticas merecem destaque. Encontramo-nos diante de um processo definido pela experiência e apresentado do seguinte modo: a adoção de técnicas originárias de contatos anteriores, em especial com a Ásia, são, junto com as técnicas locais, adaptadas para a uma realidade que posteriormente se transforma a partir da experiência prática adquirida. No que se refere à busca e ocupação de pontos intermédios no oceano Atlântico, verdadeiras pontes oceânicas, seus papéis são salientados pelas potencialidades como locais de troca e abastecimento/restauração de embarcações, e como primeira experiência de povoamento no além-mar. Com a instalação de estruturas produtivas baseadas no uso do trabalho escravo africano que engendrariam posteriormente o comércio e produção das colônias europeias na América, é ressaltado o desenvolvimento de uma rede mercantil europeia em torno do comércio açucareiro. Juntando estes dois fatores ressaltados, o desafio representado pelo Atlântico vê um número reduzido de agentes envolvidos e possui como seus mecanismos de propulsão a busca de ouro africano e o início do tráfico negreiro em direção às ilhas produtoras de açúcar, que acenavam à conexão entre comércio, técnica e experiência que simbolizam um círculo vicioso.
No segundo capítulo, os efeitos da conquista e o processo de territorialização de espaços americanos são centrais. A catástrofe demográfica americana, o consequente repovoamento e a transposição integral do tráfico negreiro ao mundo atlântico são ressaltadas por duas razões. A primeira diz respeito ao nascimento da articulação entre a costa, o interior e a fronteira aberta, ligando o comércio, as estruturas produtivas e político-jurídicas instaladas na América, tendo a prata e o açúcar como eixos indissociáveis. A segunda é a formação de sociedades específicas, que apesar das divergências locais, eram marcadas por conflitos e violências que visavam a dominação e subordinação da mão de obra. Deste modo, o repovoamento e a instalação produtiva nas Américas representa o nascimento de conflitualidades que levam os poderes coloniais a criarem mecanismos de limitação de contestações e perda de controle sobre o tecido social e produtivos cujas estruturas ainda reverberam.
O terceiro e quarto capítulos devem ser abordados em conjunto, pois enquanto dedica o primeiro à consolidação deste mundo, no outro descreve minuciosamente as plantações, a “originalidade atlântica”. Taxativamente, Carmagnani nos diz que o período entre 1650-1850 é o da afirmação atlântica como principal ator das conexões mundiais. O que era delineado anteriormente passa à concretude: não mais momentos fundamentais e de processos socioeconômicos formativos, mas de ação e projeção dos agentes históricos dentro e a partir deste mundo. Assim ocorre a mudança nos padrões de consumo dentro da Europa, com a oferta maciça de produtos extra-europeus, como café, tabaco, cacau e açúcar. Igualmente, a renda e acumulação de capital dos países europeus norte-atlânticos neste período atingiu índices de crescimento inimagináveis, levando-o, em referência à Eric Williams, a afirmar que o fluxo de capitais ingleses derivantes do comércio mundial, gerado no mundo atlântico e posteriormente na Ásia, permitiu em boa medida os investimentos à Revolução Industrial. Na África, o vínculo entre os mercadores locais e a ampla rede atlântica impulsiona a monetização das regiões costeiras. No Daomé, o equilíbrio entre sociedade, mercados locais e a administração monárquica nos ajuda a compreender por que o comércio atlântico em determinadas localidades africanas podia coexistir com as vicissitudes locais sem criar um mercado único, mas sim uma forte vinculação. No caso da Senegâmbia, o poder local foi ainda mais fortalecido por meio do comércio negreiro.
Tema que merece maior atenção, pois Carmagnani afirma que a expansão do trato transatlântico de escravos é conectada com as mudanças ocorridas não apenas na Europa, mas também na África, e com as estruturas produtivas americanas. Com isso, em um período de queda na oferta europeia de mão de obra, concomitante com a expansão produtiva nas Américas, o comércio de escravos, responsável por uma catástrofe demográfica na África, adquire amplas proporções e desencadeia um fenômeno de grandes dimensões. Diversas redes de comércio se aderiam aos portos de trato que leva ao incremento na demanda africana de tecidos, tabaco, e cachaça, ligando as economias ao ponto de, em determinados períodos do século XVIII, 40% dos produtos ingleses desembarcados na África serem usado para este comércio, enquanto no mundo português foi a sua quase totalidade, inclusive mudando profundamente seu circuito atlântico responsável por 41,8% do escravos desembarcados na América, quando o controle passa de mercadores não mais estabelecidos na Europa, mas sim no Rio de Janeiro e Bahia. Concomitante a essas redes de comércio, o incremento da produção de açúcar após a entrada em cena dos impérios do noroeste europeu aumenta a concorrência produtiva, levando áreas até então açucareiras a diversificarem suas produções.
Por fim, no que se refere ao trabalho e à produção, à parte as importantes considerações sobre as técnicas que favorecem o incremento produtivo, como o sistema de irrigação adotado em meados do século XVIII em Saint-Domingue e investimentos em vias de comunicação e meios de produção que permitiram o aumento da produtividade na Baía de Chesapeake, há um aspecto contraditório originado por uma questão semântica. Em uma passagem, o autor nos diz que escravos africanos, uma vez nas plantações, tinham um duro período de adaptação ao trabalho e de ambientação, aliado às parcas condições materiais, em sociedades que se formavam a partir de pressupostos raciais, dando vida a um sistema produtivo dividido entre um horizonte hierárquico e outro orientado ao lucro. Essa organização do trabalho apresentava tensões latentes, devido ao ritmo e ao controle produtivo. A formação de quilombos e comunidades maroons são exemplos de que esta adaptação não ocorria de fato. A busca de regulamentações e de controle por parte das sociedades coloniais nos leva a pontuar um fator que, em um leitor desatento, pode induzir a um erro de compreensão.
No último capítulo, dedicado às revoluções, a abordagem se baseia principalmente na recente produção historiográfica, dividindo-a em fases ascendente e descendente: a primeira compreende o período entre 1763 e 1815, e a segunda, até 1848. Analisemos as linhas gerais. Sobre a Revolução Americana, Carmagnani reitera que, diferentemente do que afirmam outros autores no cotejo dos eventos revolucionários nos Estados Unidos e na França, sugerindo certo disciplinamento e moderação na história norte-americana, ocorreram sim conflitos civis de monta e também se intensificou o massacre indígena. Ao mesmo tempo, parte significativa dos escravos participou diretamente no conflito, fato que influenciou aspirações de liberdade alhures, formando parte do processo que desembocou na grande rebelião escrava de 1791 na colônia francesa de Saint-Domingue (atual Haiti).
Na Revolução Francesa, se ressaltam suas idas e vindas bem como a leitura da situação política norte-americana. As relações com Saint-Domingue e o papel dos representantes caribenhos na abolição da escravidão em 1794 são cruciais pois sua inserção dentro da política revolucionária demonstra que, diferentemente da Jamaica, a contestação alcançou outra dimensão: não houve apenas uma influência advinda do processo francês, mas esta foi uma experiência que contribuiu ativamente na liberdade dos escravos e na superação, com a declaração de independência de 1804, do restabelecimento escravista decidido pelo governo imperial.
O êxito haitiano, contudo, é em parte responsável pelo caráter mais contido de diversas revoluções liberais posteriores. A moderação se deveu aos temores da classe proprietária e às revoltas eclodidas nas áreas escravistas atlânticas, sem abrir mão, contudo, dos ideais de cidadania e de governo representativo, como se vê na América ibérica, onde as classes dirigentes eram favoráveis à ampliação das reformas que ampliassem a participação política da elite colonial. Como exemplo, a independência brasileira deu luz à uma constituição liberal que centrou mais na organização do Estado que nos direitos dos cidadãos, reiterando o máximo possível a dinâmica da organização social advinda da ordem colonial. Portanto, Carmagnani é cético em afirmar que dessas revoluções nasce a democracia moderna: a representação não dependia da vontade direta da maioria dos cidadãos, e o peso dos interesses das elites foi preservado.
À guisa de conclusão, a obra faz um apanhado bibliográfico geral suficiente e amplo, apresentando os leitores a produção dos últimos 40 anos e instigando um campo de pesquisa promissor em âmbito italiano – os minúsculos erros de digitação na bibliografia não impedem a compreensão da citação, como A Costruçao do Orden. Em Connessioni Mondiali, Marcello Carmagnani, estudioso de projeção internacional, dá um passo importante em direção à “atlantização” da historiografia europeia em geral e italiana em particular.
Notas
1. Università degli studi di Torino. Turim – Itália.
2. Mestrando em Scienze Storiche na Università degli studi di Torino, Torino (TO), Italia. E-mail para contato: [email protected].
3. CARMAGNANI, Marcello. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018, p.5.
4. BAILYN, Bernard. Atlantic History: concepts and contours. Cambridge: Harvard University Press, 2005, pp.60-61.
5. CARMAGNANI, Marcello. Le Isole del Lusso: prodotti esotici, nuovi consumi e cultura economica europea, 1650-1800. Torino: Utet, 2010.
6. CARMAGNANI, Marcello. L’Altro Occidente: l’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio. Torino: Einaudi, 2003.
Referências
BAILYN, Bernard. Atlantic History: concepts and contours. Cambridge: Harvard University Press, 2005.
CARMAGNANI, Marcello. L’Altro Occidente: l’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio. Torino: Einaudi, 2003.
_____. Le Isole del Lusso: prodotti esotici, nuovi consumi e cultura economica europea, 1650-1800. Torino: Utet, 2010.
_____. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018.
MORELLI, Federica. Il Mondo Atlantico: una storia senza confini (secoli XV- -XIX). Roma: Carocci, 2013.
João Gabriel Covolan Silva1;2 – Università degli studi di Torino. Turim – Itália. Mestrando em Scienze Storiche na Università degli studi di Torino, Torino (TO), Italia. E-mail para contato: [email protected]
CARMAGNANI, Marcello. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018. Resenha de: SILVA, João Gabriel Covolan. A afirmação do Atlântico na historiografia italiana. Almanack, Guarulhos, n.26, 2020. Acessar publicação original [DR]
Revoluções no Atlântico: Brasil e Portugal na década de 20 do Oitocentos | Revista Ágora | 2020
No ano do bicentenário da Revolução de 1820, organizamos junto à Revista Ágora o dossiê “Revoluções no Atlântico: Brasil e Portugal na década de 20 do Oitocentos”. O decênio de 1820 foi marcado por diversos movimentos revolucionários em Portugal e no Brasil. A Revolução do Porto inaugurou a agenda de sublevações no mundo português, configurando-se acontecimento que influenciaria nos rumos políticos nos dois lados do Atlântico.
Inspirada em princípios liberais, o movimento iniciado na cidade de Porto, em poucas semanas alcançaria Lisboa e não tardaria a ser notícia também no Brasil. Verdadeira guerra literária fora travada na imprensa no Brasil e em Portugal. Periódicos e folhetos difundiam nova pauta política, ressignificando conceitos e divulgando novo vocabulário constitucional. Leia Mais
A grande cidade. Um retrato de Paris no começo do Século XIX | Paul de Kock
Esta deliciosa crônica chamada “Os passeios das ruas” (“Les trottoirs”) – publicada abaixo na íntegra – é um documento histórico que demonstra a novidade dos passeios ou calçadas na cidade de Paris. Ela foi publicada em 1842 no livro La Grande Ville Nouveau. Tableau de Paris – comique, critique et philosphique (1) do esquecido escritor francês Paul de Kock (1793-1871), que era muito popular no século 19 (2). Como Sue, como Dumas, ele se alinha a autores que escreviam para o novo leitor que se formou em razão do crescimento da educação, procurando narrativas simples. Escritor prolífico, que publicava em folhetins, naquela obra ele observa e descreve o quotidiano pequeno burguês de Paris, cidade que já se transformava rapidamente durante a primeira metade do século 19. Leia Mais
La restauración en la Nueva Granada (1815- 1819) | Daniel Gutérrez
La llegada de Pablo Morillo, acontecimiento nombrado tradicionalmente como la Reconquista, cuenta con unas particularidades que permite ver, más que una acción de reconquista, las implicaciones que este término contiene: una experiencia de intento y fracaso por aplicar castigos y absoluciones con fines de restaurar el poder monárquico. Los levantamientos y dificultades que los Borbones habían vivido no son comparables con la revolución que estaba teniendo lugar en Hispanoamérica después de la abdicación de Bayona y el interregno, razón por la cual la realidad comprendida entre 1815 y 1819, a partir de la vuelta del rey, va más allá de una simple reconquista, habiendo no solo “justicia” y represalias por la deslealtad a la Corona, sino también acciones de perdón y reconciliación que deberían ser entendidas en el proceso de las restauraciones, iniciado en 1815. El fin de la temporalidad sugerida por el autor, que sí dista del sugerido para las restauraciones europeas, responde a que ese año, 1819, fue el año en que se derrotó defi nitivamente al régimen español en la Nueva Granada.
El anterior es el argumento central de La restauración en la Nueva Granada, texto escrito por Daniel Gutiérrez como resultado de su estancia en Francia. El libro invita a reinterpretar renovando la conceptualización y, con ello, a renovar también la perspectiva de la restauración, para así entender que el proceso que se dio en la Nueva Granada no fue simplemente una pugna entre pacificadores y revolucionarios. En otros términos, la invitación del texto es a ver en los hechos las formas de perdón y castigo, junto con las formas de representación que se desarrollaron en torno a ellas, para así dilucidar las resistencias a la restauración y las contradicciones en el accionar del gobierno de Fernando VII para restablecerse en la Nueva Granada. Alejarse de la perspectiva que castiga a unos, los pacificadores, y glorifica a otros, los revolucionarios, es uno de los logros de esta investigación. Leia Mais
Maria Graham: Uma inglesa na independência do Brasil | Denise Porto
Fazer uma resenha é um ato de amor. De crença, de prazer.
É ler um trabalho ou um livro e jogar seus sonhos para um monte de sentimentos, de imagens, boas e ruins.
É imaginar-se em um outro local.
E essa crença me acompanha no trabalho de Denise G. Porto quando nele descreve a inglesa que aqui viveu na cidade colonial, observando e sentindo as ruas com o cotidiano da cidade, conhecendo ricos e pobres, vivendo na floresta ou vivendo no palácio da Quinta da Boa Vista. Um prazer também quando tomamos conhecimento quanto aos documentos oficiais sobre a Guerra da independência no Nordeste, principalmente na Bahia e Maranhão. Leia Mais
La destrucción de una república Bogotá / Francisco Gutiérrez Sanín
Francisco Gutiérrez Sanín / Foto: Marcela Becerra/Julián Mojica /
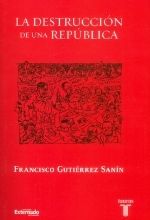
Para el profesor Gutiérrez, la Hegemonía del Partido Conservador iniciada en 1886, adquirió una mayor relevancia en 1910, y aunque gobernó con matices hasta 1930. en esta última etapa acudió a un tímido cogobierno. Por tanto, una latente pacificación del escenario político posibilitó unas cuotas mínimas, o según los liberales, un techo de votación a la oposición, para así mantener los poderes públicos bajo el partido azul, a cambio de aceptar la legitimidad del Gobierno y con ello, de las elecciones, el papel preponderante de la Iglesia, y la politización de las Fuerzas Armadas. Gutiérrez Sanín plantea una novedosa y fluida historia de los partidos políticos, no tanto desde el modelo cuantitativito norteamericano, tan de moda en las últimas décadas, sino que desde su perspectiva reinterpreta la propuesta de Maurice Duverger en la cual se analiza la ruptura del marco normativoestructural y la praxis cotidiana, así como la teoría de Schumpeter, donde claramente desentraña la democracia en cuanto una lucha por el poder entre líderes políticos, y no necesariamente una búsqueda del “bien común”. En conjunción, se crean estructuras de acción colectiva que una vez ligadas a lo consuetudinario, crean un modelo que permite, pero también aprisiona, el desarrollo del sistema democrático. El académico también presenta, de manera acertada, un debate historiográfico sobre las características comunes que llevarían a pensar en una convergencia tácita entre los dos partidos históricos en Colombia, esto es: su carácter multiclasista, oligárquico, y clientelar. Allí, Gutiérrez hábilmente argumenta la necesidad de tener en cuenta los mecanismos de tecnología política y espectro ideológico que los diferenciaba. Vistos desde sus bases, el Partido Conservador poseía un caudal electoral cuasi estático, angosto, que podría ser compartido, en su vertiente moderada, por el Partido Liberal. A su vez, este último, tenía un campo ideológico ancho, que englobaba desde la izquierda moderada, pasando por la socialdemocracia, hasta algunas posturas de derecha. Es decir, en la práctica, la mecánica electoral del liberalismo planteaba luchas faccionales amplias por su diversidad ideológica, que eran más fácilmente matizadas en el conservadurismo, aunque es de anotar que la vertiente laureanista de este último provocó verdaderas pugnas internas, por sus propuestas que invitaban a una postura antidemocrática.
En el desarrollo del libro, Gutiérrez analiza las fisuras de ambos modelos, pero hace hincapié en las consecuencias de las pugnas intra-partidistas del liberalismo como una de las claves para entender la destrucción de la república, además de la radicalización conservadora y la incapacidad de promover un candidato de consenso que continuara con el dominio del partido rojo.
Para entender la línea argumentativa, el autor analiza en un primer capítulo la Hegemonía conservadora, que, como señalamos anteriormente, presentó uma moderación en 1910, cuando la vertiente republicana domesticó la política, imprimiéndole mecanismos que brindaran una pacificación del país, necesaria después de la Guerra de los Mil Días. Esta pasaba por la modificación del régimen electoral y la incorporación del Partido Liberal al juego político, con garantías constitucionales, que fueron aceptadas por estos últimos. Sin embargo, la crisis económica de 1929, los eventos represivos como la masacre de las bananeras y las incapacidades para conseguir un candidato que no produjera escozores en alguno de los sectores del conservadurismo, abonó el terreno de la República Liberal, que llegó con la victoria de Enrique Olaya Herrera. Este contó además con la presencia de algunos conservadores, quienes veían en su nombre a una figura no necesariamente rival frente al Partido Conservador. El Partido Liberal, en cabeza de Alfonso López Pumarejo, comenzó a plantearse la candidatura de este último con la que en las elecciones de 1934 salió victorioso. López Pumarejo, un hombre reformista, despertó diversos enemigos al interior de su partido como también en las toldas conservadoras que veían en su política modernizadora y de ampliación de derechos sociales una amenaza frente a la autoridad que la Iglesia, el Partido y las Fuerzas Militares ejercían en sus bases electorales. Llegadas las elecciones de 1938, el liberalismo presentó el nombre de Eduardo Santos, candidato moderado, no continuista de la “Revolución en Marcha” de López y quien buscó una pacificación de los ánimos mediante tímidos acuerdos con los conservadores. A pesar del resquemor que despertaba López, tanto en las toldas opositoras como en las propias facciones liberales, y gracias a su cercanía con los movimientos de base obrera y sindical, retornó al poder, aunque sin mucho margen de maniobra, cosa que provocó su prematura salida del gobierno. Gutiérrez señala principalmente los siguientes ejes explicativos: primero, la recurrente abstención del Partido Conservador, que se complementaba con un alegato de falta de garantías electorales; segundo, la ampliación de derechos políticos, tales como el sufragio universal masculino, la expansión de libertades individuales a las mujeres, la incorporación de nuevos partidos sin mucha fuerza electoral y la legalización de los sindicatos; tercero, el fraude como un mecanismo vivo y practicado, por ejemplo en las elecciones de 1934; y cuarto, la incapacidad de un mandatario en ejercicio de darle continuidad a sus formulaciones en el periodo inmediatamente posterior.
Las elecciones y su efecto en los movimientos partidistas también son objeto de estudio del profesor Gutiérrez. Por ello, analiza la legitimidad del liberalismo, flanqueada gracias al desconocimiento de las elecciones, la negación del gobierno liberal, la incapacidad de utilizar los mecanismos de inclusión política planteados en 1910, y la nula aceptación del sistema electoral por parte del Partido Con servador. Seguidamente, utilizando el marco conceptual Duverger-Schumpeter, demuestra el idilio de llevar el campo de las normas a la realidad. La República Liberal, según analiza Gutiérrez, insertó algunas disposiciones para evitar el fraude como la cedulación, que resultaron siendo engorrosas e improductivas para un Estado como el colombiano. El fraude, no solo como la capacidad de manipular los números finales, sino como los mecanismos que impedían la llegada de los votantes a las urnas, así como la trashumancia electoral, empañaron los comicios tanto nacionales como regionales. Asimismo, la ampliación de las bases electorales ocasionó una transformación de la forma de hacer política. Gutiérrez muestra a través de algunas fuentes periodísticas y epistolares las correrías de los candidatos por las regiones del país, buscando llegar a las nuevas bases del partido, el uso de nuevos mecanismos tecnológicos, y la crítica que, desde sectores conservadores, acostumbrados a una política de notables, se emprendió contra los liberales.
Allí, Gutiérrez señala la necesidad de investigar con mayor detenimiento sobre el fraude en este periodo, hecho reconocido incluso por López Pumarejo.
Uno de los desarrollos analíticos más ricamente demostrados es el que plantea sobre los partidos y el clientelismo; explorando sistemáticamente este fenómeno como herramienta de engranaje de la burocracia estatal, lo somete a una profunda comprobación a partir de la correspondencia que fluía entre algunos actores de diferentes estratos en el país. Así, Gutiérrez plantea la capacidad limitada que la República Liberal tenía frente al control del pago de favores políticos, que, a pesar de no ser extraños en Colombia, ya que fueron heredados parcialmente de la Hegemonía conservadora, recobraron un poder especial en el contexto de la ampliación del universo de sufragantes. Gutiérrez argumenta que desde 1910 el Pacto de Pacificación garantizaba una cuota burocrática del partido opositor en el Gobierno.
Con la llegada de Olaya Herrera, parecía mantenerse así, dentro del eslogan de “concentración nacional”, que fue puesto en duda rápidamente después de la alianza con el conservador antioqueño Román Gómez, lo que desequilibró las cargas de los conservadores en el Congreso, fortaleciendo, aunque mínimamente, a los liberales. A partir de allí, los azules vieron la necesidad de modernizar un partido no acostumbrado en su historia próxima a ser oposición. Por el contrario, los liberales percibieron la incapacidad de dotar al Estado de una burocracia que cumpliera con dos parámetros mínimos: la defensa política del liberalismo y la capacidad tecnocrática de asumir la modernización deseada. Gutiérrez evidencia algunas cartas que mezclaban intereses personales difíciles de distinguir de las necesidades colectivas. Frente a ello, esgrime tres tipos de clientelismo: el primero, entre un círculo pequeño de amigos y conocidos, una especie de parentela que agrupaba a los sectores privilegiados. Un segundo clientelismo es descrito en el ámbito de los directorios, a partir de un mayor énfasis territorial, en su intento de ocupar la nómina del Estado regional y local, para mantener aceitado el aparato electoral. Y el tercer horizonte de clientelismo, denominado menesteroso, posiblemente cobijaba a un sector periférico de la población, es decir, permitía una especie de inclusión social que posibilitaba ganar adeptos a las bases liberales, lo cual se traduciría posteriormente en réditos electorales. Ahora, como esta máquina burocrática-clientelar requería una milimetría inalcanzable, produjo deterioros en la unidad del partido y aumentó las fracturas de las facciones. Además, sirvió de argumento estratégico del conservatismo laureanista para acusar a los liberales de clientelares y corruptos, bandera que valió para socavar la estructura de la República Liberal. Sin embargo, la descripción del clientelismo en el libro de Gutiérrez no plantea un orden sistemático de ese fenómeno ni señala a los actores que más se fortalecían llenando sus aparatos burocráticos; tampoco dice cuáles redes estaban mejor engrasadas, ni identifica el criterio del poder central fijado para destrabar la cantidad de solicitudes que llegaban, incluso, desde los rincones más recónditos del país. Asimismo, no contempla la estructura de las solicitudes, entendiéndolas como un capital social conseguido no solo desde la práctica política cotidiana, sino en razón del cúmulo de herencias parentales, económicas o sociales, en un país de élites.
La destrucción de una república invita a la reflexión de los métodos historiográficos, de tal manera que apostándole a las fuentes epistolares mantiene la riqueza de un tratamiento teórico, que en ocasiones pareciera esquivo a los trabajos de la disciplina de Clío. Este libro saca de los anaqueles las normas, para entenderlas bajo una especie de sociología partidista, que no desprende los azarosos caminos de la realidad que las confronta de los análisis históricos. Es claro en señalar la diferencia entre los modelos liberal y conservador, que ideológicamente competían en un país diferente. Es una historia que hace hincapié en la ruptura social que antecedió a La Violencia. Una convulsión que no se entiende sin las luchas faccionales, la pérdida de poder de algunos sectores, la incapacidad de construir modelos democráticos igualitarios y la fuerte presencia de tradiciones que no resistían el rompimiento del statu quo. Este no un libro más, sino un ejemplo más, de cómo ampliar las fronteras de la historia.
Juan David Restrepo-Zapata – Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Correo electrónico: [email protected].
GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco. La destrucción de una república Bogotá. Universidad Externado de Colombia-Taurus, 2017. 650p. Resenha de: RESTREPO-ZAPATA, Juan David. Memorias – Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe. Barranquilla, n.43, p.175-179, ene./abr., 2021. Acessar publicação original [IF]
Uma introdução à história da Historiografia brasileira 1870-1970 / Thiago Nicodemo, Pedro Santos e Mateus de Faria
Thiago Lima Nicodemo / Foto: Jornal da Unicamp /

Thiago Lima Nicodemo (Unicamp), Pedro Afonso Cristovão dos Santos (UNILA) e Mateus Henrique de Faria Pereira (UFOP), os autores, são jovens pesquisadores da área de Teoria e História da Historiografia. Tentaram se livrar da história da historiografia brasileira como inventário de homens e livros em ordem cronológica, mas enfrentaram dificuldades comuns entre os que, em grupo, querem conciliar pensamentos e práticas historiográficas díspares na exposição de um discurso sobre a matéria. Leia Mais
Paz en la República. Colombia, siglo xix | Carlos A. Camacho, Margarita O. Garrido e Daniel A. Guriérrez
Margarita Garrido | Foto: LaVozDeMacondo |

A pesar de que el libro es sobre la paz, tambien nos ensena sobre las guerras civiles, pues la fluidez entre paz y guerra hace necesario estudiarlas atendiendo a las dos caras de la moneda. Cada capitulo explica las causas de una guerra (excepto el de Malcolm Deas, que aborda dos, correspondientes a 1885 y 1895), la forma como se negocio y alcanzo la paz, asi como las limitaciones de esta ultima que generaron la detonacion de una nueva guerra posteriormente. Los autores y autoras hacen enfasis en la heterogeneidad de las guerras, explicando en detalle las situaciones particulares que conllevaron a cada una de ellas y sus variaciones de region en region. La de los Supremos (1839-1842), estudiada por Luis Ervin Prado, no fue una: fueron una serie de levantamientos provinciales que tuvieron en comun un llamado a la federalizacion. La de 1851, abordada por Margarita Garrido, fue motivada por la abolicion de la esclavitud, pero tambien por la intervencion del Estado en asuntos de la Iglesia y de las provincias, asuntos que amenazaban la nocion del mundo y del orden social de los rebeldes. Leia Mais
Ciencia, lengua y cultura nacional. La transferencia de la ciencia del lenguaje em Colombia, 1867-1911 | Andrés Jimenez Ángel
Andrés Jimenez Ángel | Foto: UR |

Adicionalmente, el punto de vista de la circulacion asumido por Jimenez Angel nos permite desmitificar la unidad de los saberes para verlos en sus formas multiples, relativas a marcos espaciotemporales diversos. Gracias a ello, podemos enfatizar los aspectos locales del proceso y tambien dar a Europa un lugar mas adecuado en la vida intelectual de otros centros de produccion de conocimiento. Leia Mais
Soberanías fronterizas. Estados y capital en la colonización de Patagonia (Argentina y Chile, 1830-1922) | Albert Harambour
Soberanías fronterizas | Detalhe de capa |
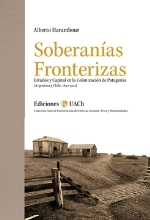
En contravia de esta nocion, Soberanías fronterizas. Estados y capital en la colonización de Patagonia (Argentina y Chile, 1830-1922) desplaza la atencion hacia los margenes del estado como epicentro que permite desentranar sus mitos fundacionales, logicas y efectos espaciotemporales. En un trabajo solido, sustentando en una variedad amplia de fuentes primarias, Alberto Harambour examina criticamente las dinamicas de expansion capitalista y construccion estatal en la Patagonia argentina y chilena durante el siglo xix y comienzos del xx. Leia Mais
Cultura y violencia: hacia una ética social del reconocimiento | Myriam Jimeno
Myriam Jimeno (terceira, da esquerda à direita) | Foto: Agência de Notícias UNAL |
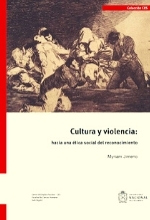
En lo metodológico, se destacan dos consideraciones, una inductiva y otra deductiva. Sobre la primera, Jimeno subraya que la compilación de artículos retoma la tradición antropológica de entender los fenómenos sociales a partir de la comprensión que sobre ellos tienen los propios actores sociales. Luego de tamizar estos relatos un investigador haría evidentes las regularidades detectadas. En la deductiva, se identifican algunos trabajos que han procurado relacionar el análisis sobre subjetividad y violencia con los macroprocesos políticos o históricos. En este mismo enfoque se ubican los artículos de la tercera parte, destacando entre ellos uno sobre el partido radical del siglo xix . Leia Mais
Castigar la disidencia. Juicios y condenas en la elite dirigente rioplatense/1806/1808-1820 | Irina Polastrelli
Una voz –para muchos inesperada– emerge nítida al comienzo y al final del libro: es la de Gervasio Antonio Posadas. No se trata del nombre más rutilante de la dirigencia política rioplatense del período revolucionario, pero sí de uno muy significativo. Integró el segundo Triunvirato y fue el primer Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata durante casi un año. Y es una figura clave para el libro porque, antes y después de ocupar estas funciones, Posadas fue juzgado y condenado a diferentes penas por la Junta en 1811 –absuelto al final del mismo año por el Primer Triunvirato– y por el directorio de Rondeau, después de lo cual pasó por más de una veintena de cárceles hasta ser indultado en 1821. Leia Mais
Morir en las grandes pestes. Las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX | Maximiliano Fiquepron
Morir en las grandes pestes de Maximiliano Fiquepron versa sobre las representaciones del cólera y la fiebre amarilla en la sociedad porteña en la segunda mitad del siglo XIX. El libro, que recibió el Primer Premio de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia a la mejor tesis de doctorado, 2017, presenta una historia de estas crisis epidémicas en tres dimensiones. La primera refiere a las representaciones colectivas sobre el miedo, la salud, la enfermedad y la muerte que circularon en ese momento. La segunda, a la forma específica en que el Estado nacional y la Municipalidad combatieron estos eventos. Y la tercera, a la relación existente entre estas crisis epidémicas y las prácticas fúnebres de la sociedad porteña del siglo XIX. Leia Mais
Ciudadanos/electores/representantes. Discursos de inclusión y exclusión políticas en Perú y Ecuador (1860-1870) | Marta Fernández Peña
Marta Fernández Peña nos propone un recorrido minucioso sobre la conformación de los sistemas políticos de Perú y Ecuador en la década de 1860 sobre el trasfondo del liberalismo en tanto cultura política. La obra -que deriva de su Tesis Doctoral distinguida por la Asociación de Historia Contemporánea- se integra con originalidad en la agenda investigativa iberoamericana sobre la ciudadanía y la representación así como, en particular, acerca del protagonismo de los ámbitos parlamentarios. En este sentido, la autora focaliza en perspectivas fecundas pero poco transitadas para estos dos países: la historia cultural de la política y las historias comparada y transnacional. Leia Mais
Exile and nation-state formation in Argentina and Chile/1810-1862 | Edward Blumenthal
El principal objetivo de Edward Blumenthal en su más reciente libro excede el análisis del impacto que tuvo el exilio en la formación de las repúblicas de Argentina y Chile, entre los años de 1810 y 1862. Pues pretende ubicar la problemática del exilio en un contexto más amplio de “transnacionalismo” antes de la propia existencia de las naciones hispanoamericanas. Con ese fin, utiliza un enfoque que sigue los lineamientos historiográficos de la obra Politics of Exile in Latin America de Mario Sznajder y Luis Roniger (2009). Blumenthal entiende al exilio como una válvula de escape que permitió evitar baños de sangre entre los principales contrincantes de las tramas políticas en tiempos de revolución y guerras civiles, cuando los estados-nación empezaban a consolidarse, o estaban en vías de hacerlo. Y si bien pretende extender su reflexión tanto sobre los proscriptos rioplatenses en tierras chilenas como sobre los trasandinos que buscaron refugio en suelo argentino, es evidente que se dedica con mayor detenimiento a los primeros, especialmente en las décadas de 1840/1850. Y ello porque el exilio de rioplatenses en tiempos del rosismo fue comparativamente mayor que el experimentado en otros países. Pero además, porque fue muy dilatado en el tiempo, y porque muchos de sus protagonistas tuvieron un rol gravitante en la política, en las instituciones y en la prensa de los países anfitriones (Uruguay, Chile y Bolivia principalmente), lo que no sucedió –al menos en esa escala- con otros exiliados latinoamericanos en sus respectivos destinos de expatriación. Leia Mais
Variaciones de la república. La política en la Argentina del siglo XIX | Hilda Sabato, Marcela Ternavasio
No dudo en calificar el libro que han coordinado Hilda y Marcela como un libro indispensable. Y lo hago por un doble motivo: es indispensable para sus colegas – a mi personalmente me ha abierto nuevos caminos para seguir pensando e investigando- y también es indispensable para todos aquellos que se internen en el fascinante territorio de la praxis republicana. Y añadiría –lo digo con un énfasis semejante al de las coordinadoras- un territorio durante aquel siglo en el que la Argentina se formó con temperamento republicano. Un siglo en fin -esta es una opinión discutible pero que comparto- de ascenso histórico. Leia Mais
Sermones patrióticos en el comienzo de la República de Colombia, 1819-1820 | Armando Martínez Garnica
Decisiva fue la influencia ejercida por el estamento eclesiástico en Colombia durante las guerras de Independencia. Así entonces, las ceremonias religiosas fueron un componente vital, dado el poder que inspiraba la Iglesia y la amplia ascendencia que tenían los curas en cada población1. Sobre este particular, se refirió el historiador Hermes Tovar Pinzón: “Para una sociedad en la cual el púlpito era el mejor y más eficaz método de comunicación y, la religión el mejor método de control social y espiritual, el Estado no vaciló en emplearla cuando fue necesario”2.
Los actos litúrgicos llevados a cabo durante estos años entrañaban un trasfondo político en el propósito por afianzar las adhesiones. Un ejemplo de ello eran las frecuentes misas de acción de gracias por los triunfos militares y las rogativas. Vale mencionar además la habitual bendición y ayuda divina ofrecida a través de los sermones, por medio de los cuales se pretendía infundir en los habitantes los principios rectores del sistema político imperante y llenarlos de razones sobre los nefastos desatinos e injusticias de los adversarios3. Para ello, los oradores solían retomar pasajes bíblicos como base para sus disertaciones políticas4. Leia Mais
Iglesia, religión e independencias en Hispanoamérica | Historia y Espacio | 2021
Las independencias de las excolonias europeas en América, sobre todo las que pertenecieron a España, es uno de los temas historiográficamente hablando, que más se han trabajado. Los primeros estudios sobre el momento de ruptura del orden colonial dieron pie a las que se han denominado historias nacionales, preocupadas ellas por construir un relato casi oficial sobre cómo nacieron las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Desde un principio, los variados relatos que se elaboraron sobre las independencias enfatizaron en diversos aspectos que consideraron relevantes, por ejemplo las ideas políticas que supuestamente influyeron en el constructo ideológico revolucionario; las campañas militares que condujeron a las derrotas de los ejércitos realistas en múltiples campos de batalla, lo que significó el enaltecimiento de los “héroes que nos dieron patria”, como reza una frase muy conocida en la región; el papel que desempeñaron potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, en el patrocinio del proceso emancipador; y el papel que tanto la Iglesia católica, como institución, como la religión, jugaron en la independencia como proceso histórico.
Sobre ese aspecto, el del papel que jugaron tanto la Iglesia católica como institución, y la religión católica, hay abundante bibliografía, proveniente de diversas corrientes de pensamiento y escuelas historiográficas. En esa bibliografía observamos que no hay posiciones dominantes o hegemónicas, por el contrario, con el paso del tiempo, son diversas las conclusiones y los resultados que se muestran sobre cómo incidieron la iglesia y la religión católicas en el proceso emancipador. De esta forma, si hablamos de la Iglesia como institución observamos que se dice, por ejemplo, que fue baluarte de la defensa de la monarquía en la crisis que padecía desde la invasión napoleónica a la Península Ibérica en 1808. Y en ese sentido la defendió cuando en sus colonias americanas se despertó el espíritu autonomista y después el independentista. Se afirma también que sectores de esa institución, sobre todo criollos y de baja importancia, apoyaron el gradual desprendimiento de las colonias americanas hasta desembocar en la Independencia llegando, incluso, a emplear mecanismos como catecismos y sermones para justificar lo que, sobre el papel, era una clara ruptura del orden natural. También se indica que, con el paso de los años, y sobre todo después de las derrotas realistas en tierras americanas, los eclesiásticos, incluso peninsulares, que aún permanecían en el continente americano decidieron, por bien de la iglesia y de la religión católicas alinearse no sólo con la Independencia sino también con el sistema republicano. A partir de ese momento, el de dar su aprobación a la Independencia, la iglesia ayudó a los gobiernos de las nacientes repúblicas a buscar que esa aprobación también fuera dada desde el centro del catolicismo, esto es Roma, lo que a la postre comenzó a pasar desde mediados de la década de 1830. La aceptación del Papa de la ruptura del orden colonial, y la formación de nuevas realidades, por ejemplo la republicana, condujeron a la reconfiguración de las relaciones con el pontificado por parte de las repúblicas hispanoamericanas y el imperio brasileño. De esta forma puede verse el ocaso del patronato real y el fracaso, por así llamarlo, del patronato republicano. Leia Mais
Roubos e Salteadores na Bahia no tempo da abolição (Recôncavo, década de 1880) | Eliseu Silva
O processo de abolição é uma das áreas de estudo com maior vitalidade nas últimas décadas, notadamente, por investir no diálogo com a historiografia internacional, por incorporar novos procedimentos de análise e por tratar das experiências de escravizados e ex-escravizados.
É a partir desse cenário que o historiador Eliseu Silva circunscreve sua pesquisa. O livro é resultado da dissertação defendida na UFBA em 2016 e, posteriormente publicada pela EDUFBA em 2019. A investigação tratou dos roubos, furtos e de gente identificada como fora da lei, temática bastante visitada nas Ciências Sociais. Com um trabalho da área de História, o autor procurou analisar as complexas dinâmicas sociais em torno dos furtos e dos roubos em um recorte espacial e temporal delimitado. A pesquisa está concentrada no termo de Cachoeira, no Recôncavo baiano, na década de 1880.
Eliseu Silva produziu um trabalho de qualidade pautado nas regras do campo da história acadêmica, acessando farta bibliografia para diferentes frentes de sua investigação, com destaque para o diálogo refinado travado com intelectuais latino- americanos sobre o banditismo. Essa historiografia contribuiu para Silva não reduzir os homens em conflito com a lei em agentes que invalidavam injustiças sociais. As leituras teóricas e conceituais se fizeram presentes, com predominância dos historiadores sociais que dão o tom do debate realizado ao longo da obra que procurou reconstituir redes sociais ao rés do chão. A historiografia baiana, rica e diversa, mobilizada pelo autor, permitiu refletir sobre os diferentes aspectos que marcaram a desigualdade e a exclusão experimentada por gente empobrecida, em parte, oriunda do universo do cativeiro.
O historiador cruzou uma diversidade de fontes como jornais, processos criminais, correspondências policiais, relatórios dos presidentes de província e atas do legislativo. Ao analisar esse variado conjunto documental, apresenta-se ao leitor ações e vínculos estabelecidos por gente considerada criminosa nos influxos do processo de dominação e desmonte das relações escravistas.
Maria Helena Machado (1987) lembra que roubos e furtos podiam ser interpretados como “suplementação da economia independente” e como subversão. O autor, seguindo essa interpretação, indicou ser a maior parte dos delitos arrolados enquadrados no crime contra a propriedade, envolvendo animais, dinheiro e objetos de pequeno valor oriundos de fazendas e casas de comércio. Os objetos surrupiados carregavam simbologias de prestígio e poder próprios do universo branco e senhorial. As ações dos ditos ladrões podem ser lidas, por vezes, como imbuídas do interesse de recompensar danos infligidos e desavenças pessoais. Sendo assim, os delitos não necessariamente ocorriam para conter a fome ou a carência material. De um lado, a pesquisa buscou não dicotomizar as identidades de criminoso e de trabalhador, por outro lado, o autor não quis romantizar as experiências desses indivíduos tomando-as como expressão absoluta da luta contra a opressão e as injustiças sociais. Muitos adentravam no mundo do crime premidos pelas péssimas condições de vida. Já outros, apesar da preferência pelos endinheirados, também roubavam gente pobre e, por isso, não podem ser considerados bandidos sociais segundo a concepção de Hobsbawm (2010). Dessa feita, Silva procurou apresentar as experiências desses homens sob uma perspectiva mais equilibrada, sem superestimar suas ações e, para isso, faz uso do conceito de roubo social. Segundo Eliseu Silva, roubo social consiste na possibilidade dos menos favorecidos economicamente adquirirem recursos materiais distantes de sua realidade. O autor, a partir das análises empíricas, observou como o banditismo à época estava associado ao processo de desmonte das relações escravistas. A repressão aos supostos furtos e roubos tinha também a intenção de criminalizar as iniciativas e os projetos de futuro que ganhavam espaço com as lutas pelo fim do cativeiro.
O livro está dividido em três capítulos bem estruturados que dialogam com diferentes fontes documentais, procedimentos metodológicos e com especialistas nas temáticas abordadas. No primeiro capítulo é caracterizado o Recôncavo baiano na década de 1880, assim como as questões que permearam esse período. Discutiu-se acerca da abolição do cativeiro, da regulamentação do trabalho livre e da implementação de normativas que auxiliaram na coerção e na interferência do cotidiano da população recém-liberta.
No segundo capítulo são narradas as desventuras sucedidas em meio a roubos e furtos ocorridos no termo de Cachoeira. Segundo o autor, algumas dessas ações podem ser interpretadas como respostas a práticas consideradas injustas. Entre os escravizados, parece ter sido difundido o entendimento do direito ao usufruto de bens e recursos pertencentes ao senhor ou ex-senhor, pois as riquezas obtidas eram resultado do suor do seu trabalho, como uma espécie de um acerto de contas. Esse é um ponto importante da análise, tendo em vista que, na década de 1880, estava em derrocada a ideia de que o direito de propriedade incluía a posse de uma pessoa por outra, resultando em conflitos acerca da propriedade do que era produzido nas fazendas. A legitimidade da posse de terras, segundo Mariana Dias Paes (2018), por exemplo, também estava em disputa nesse período e era marcada pelo contexto da escravidão. Os debates em torno do tema da emancipação gradual fizeram com que o registro de terras tivesse a matrícula de escravos como referência. Segundo a autora, a partir de 1880 a legitimação da posse de escravos ou de terras estava centrada nas provas de domínio e, para isso, foram criadas tanto categorias jurídicas como documentos que garantissem sucesso nos litígios judiciais envolvendo tais propriedades. Avançava nas últimas décadas do século XIX o reconhecimento da propriedade de coisas, ao mesmo tempo em que amainava a legitimidade do domínio de pessoas.
Ainda no segundo capítulo, conhecemos quem eram os indiciados nos crimes de arrombamento, furto de animais e roubo, como também se estabelece uma aproximação aos seus hábitos, motivações, redes de sociabilidades e as redes de comércio ilícito. A partir dos dados arrolados, ficamos sabendo que parte significativa dos envolvidos com a ladroagem era formada por indivíduos não-brancos, tendo entre eles cativos. A maior parte dos indiciados era gente livre, os quais gozavam de certa liberdade de locomoção, facilitando as incursões criminosas. Nota-se a presença marcante de homens jovens, solteiros e trabalhadores braçais do universo urbano e rural. Alguns desses indivíduos foram localizados pelo nome, etnia e ofício, como o israelita José Morgan, a crioula Thomazia Maria e o fogueteiro Procópio Barbosa.
Entre os objetos subtraídos destacam-se joias, dinheiro, tecidos, roupas, fumo e animais que eram levados para vender ou para consumir. Os espaços que ofereciam esses produtos em profusão eram as fazendas, lojas de secos e molhados, fábricas de tecido ou fumo, casas de joias, todos esses estabelecimentos pertencentes às elites econômicas e políticas do entorno de Cachoeira. O roubo das posses da elite proprietária era visto como uma afronta à honra e à autoridade dos mais abastados e, por isso, tais delitos eram duramente perseguidos. Já a recepção dos objetos, em grande parte, deu-se entre pequenos comerciantes e mulheres. Segundo o autor, os primeiros se convertiam em receptadores por objetivarem ganhos pelos preços mais baixos dos produtos comercializados e, as últimas, no imaginário da época seriam acusadas com maior facilidade, pois os ladrões não sofreriam represálias.
No terceiro capítulo, somos melhor apresentados aos protagonistas da investigação. Nesse ponto é destacada a trajetória do grupo de salteadores de Basílio Ganhador, suas ações e quais os mecanismos e sujeitos compunham o bando. As mulheres, por exemplo, eram personagens importantes na rede de ajuda e favores, pois apesar de não serem integrantes efetivas da malta, atuavam na troca de notas mais altas de dinheiro no comércio e vendendo produtos roubados. As façanhas do grupo circularam na imprensa e nas correspondências de autoridades policiais, juízes e presidentes de província. O autor relata ainda que, na “companhia” de Basílio Ganhador, eram aceitos cativos fugidos, o que aumentava a repulsa ao bando por parte da classe proprietária.
Os codinomes dos personagens chamam a atenção e mereceriam uma análise mais acurada. Em várias passagens são apresentadas o envolvimento em delitos de indivíduos com as alcunhas de “Pé de rodo”, “Boca de boi”, “José das Preás”, “Joaquim Belas cousas” e “Marinheiro”. A reflexão sobre os codinomes poderia reforçar a discussão realizada quanto às ocupações e habilidades dos sujeitos que recorriam à ladroagem, ora como forma de subsistência, ora como modo de vida. Tal consideração poderia corroborar o argumento inicial de não dicotomizar as experiências desses sujeitos entre os universos do trabalho e do crime.
O livro de Eliseu Silva é uma leitura importante para os pesquisadores com trabalhos voltados à história social da escravidão e do processo de abolição. A discussão realizada na obra tem o potencial de atrair também o público não acadêmico que tenha interesse na história dos grupos minorizados, nas estratégias para impor sua subalternização e nos chamados foras da lei do século XIX.
Referências
DIAS PAES, Mariana Armound. Escravos e terras entre posses e títulos: A construção social do direito de propriedade de propriedade no Brasil (1835-1889). Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. [ Links ]
HOBSBAWM, Eric. Bandidos. São Paulo: Paz e Terra, 2010. [ Links ]MACHADO, Maria Helena P. T. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas, 1830-1888. São Paulo: Brasiliense, 1987. [ Links ]
Maria Emilia Vasconcelos dos Santos – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de História, Rua Dom Manuel de Medeiros, s/n, 52171-900, Recife, PE, Brasil. [email protected].
SILVA, Eliseu. Roubos e Salteadores na Bahia no tempo da abolição (Recôncavo, década de 1880). Salvador: Editora da UFBA, 2019. 216p. Resenha de: SANTOS, Varia Historia. Belo Horizonte, v.37 n.73, Jan./Apr. 2021. Acessar publicação original [IF].
Política e sociedade no Brasil oitocentista: história e historiografia (II) / Clio – Revista de Pesquisa Histórica / 2021
Rancho na região da serra do Caraça, MG, Spix e Von Martius, 1817-1820 | Imagem: JLLO |
É com satisfação que publicamos a segunda parte do dossiê Política e sociedade no Brasil oitocentista: história e historiografia. Os artigos selecionados tratam das interfaces entre o poder, as culturas políticas e a sociedade, a partir de perspectivas teórico-metodológicas que focalizem as rupturas, as permanências, os antagonismos e as ambivalências historicamente tecidas nas múltiplas formas de relações sociais entre as elites e as camadas populares no Brasil durante o século XIX, nas mais diversas dimensões do poder e seus reflexos na sociedade e na economia. Atualizações e ressignificações do local e do regional diante das injunções produzidas pela dinâmica do global, assim com os processos e as tramas que singularizam as histórias do local e regional, em suas demissões social, econômica e de poder são também contempladas.
O primeiro artigo que abre o Dossiê, de Francivaldo Alves Nunes, intitulado na gigantesca floresta de metais: O Engenho Central São Pedro do Pindaré e os debates sobre a lavoura maranhense no século XIX, nos remete a implantação dos engenhos centrais como solução para o processo de modernização da atividade açucareira em fins do século XIX, tendo como palco a província do Maranhão. Em diálogo com a historiografia, o autor demonstra o quanto o otimismo presente na imprensa e nos relatórios dos presidentes de província em relação a essa inovação produtiva contrastava com as dificuldades e os obstáculos encontrados para sua realização, tais como a falta do concurso do capital externo para atender aos seus vultosos custos, o conflito de interesses entre produtores de cana e o Engenho central e a ausência de inovação na atividade agrícola.
Já o artigo Ofícios mecânicos e a câmara: regulamentação e controle na Vila Real de Sabará (1735-1829), de Ludmila Machado Pereira de Oliveira Torres, analisa a ação de reguladora exercida pela Câmara municipal de Sabará no território sub sua jurisdição e na ausência de corporações com essas funções em Minas Gerais, em fins do período colonial e início do Imperial. Nessa direção, a autora procede à verificação da eficiência deste poder público em regulamentar o trabalho mecânico por meio da realização de exames dos candidatos aos ofícios, proceder às eleições de juízes de ofício, tabelar preços e conceder licenças à categoria. Por outro lado, o texto ainda se detém no universo dos ofícios mecânicos na região, na maior ou menor presença de escravizados no seu meio e na relação desses trabalhadores com a instituição que os fiscalizava e regulava.
No texto de Jeffrey Aislan de Souza Silva, “Nunca pode, um sequer, ser preso pela ativa guarda”: a Guarda Cívica do Recife e as críticas ao policiamento urbano no século XIX (1876-1889), temos a abordagem de um aparato policial criado na capital de Pernambuco com a dupla função de combater a criminalidade e disciplinar a população. Nele é investigada a lei que criou essa força pública em seus diversos aspectos, como também a sua estrutura hierárquica, funções e os requisitos para o ingresso na corporação Além disso, o autor discute a eficácia e comportamento desse aparato de segurança, que mereceu uma avaliação nada lisonjeira dos seus contemporâneos na imprensa.
Com o título Gênero, raça e classe no Oitocentos: os casos da Assembleia do Bello Sexo e do Congresso Feminino, Laura Junqueira de Mello Reis pesquisa dois jornais na Corte, A Marmota na Corte e O Periódico dos Pobres, que possuíam seções especificamente dedicas às mulheres, e que tinham como seus principais colaboradores homens. Ao longo do artigo discutem-se os assuntos e as abordagens constantes nesses impressos do interesse de suas leitoras, como matrimônio, adultério, maternidade e emancipação feminina, entre outros. A perspectiva teórico-metodológica da autora busca realçar a questão de gênero sempre levando em conta a condição racial e de classe das mulheres a que os dois periódicos almejavam cativar e orientar, no caso as mulheres brancas, alfabetizadas e da elite.
O trabalho Arranjos eleitorais no processo de eleições em Minas Gerais na década de 1860, de Michel Saldanha, versa sobre importante temática política que cada vez mais vem merecendo a atenção da historiografia: as eleições. Embora as eleições sejam um assunto sempre referido nos trabalhos sobre a histórica política do Império, só recentemente vimos surgir inúmeras pesquisas que têm como seu objetivo particular o processo e a dinâmica eleitoral em diversos momentos e espaços do Brasil oitocentista. A autora se debruça sobre as eleições em Minas Gerais, na década de 1860, com um intuito de discutir as estratégias informais e formais utilizadas pelos candidatos e partidos para obtenção de sucesso nas urnas. Neste sentido, a difícil feitura da chapa de candidatos, a busca de aproximação dos dirigentes políticos com o seu eleitorado e a qualificação dos votantes estão entre as práticas eleitorais analisadas.
Educação e trabalho: a função “regeneradora” das escolas nas cadeias da Parahyba Norte é o título do artigo Suênya do Nascimento Costa. Nas suas páginas, são abordadas as práticas pedagógicas no Brasil do século XIX direcionadas à população carcerária, em sua maioria constituída de pessoas de origem humilde, no intuito não só de discipliná-las, mas também instruí-las sobre os valores dominantes que deveriam reabilitar os indivíduos criminosos para o convívio social, especialmente através do trabalho, em conformidade as ideias em voga no século XIX.
O artigo de Paulo de Oliveira Nascimento, intitulado Até onde mandam os delegados: limites e possibilidades do poder dos presidentes de província no Grão-Pará e Amazonas (1849 – 1856), versa sobre o executivo provincial cujos titulares, na qualidade de representantes do governo central, buscavam impor a orientação dos gabinetes às diversas partes do Império nem sempre com sucesso. No território do Amazonas o autor explora as dificuldades enfrentadas pelos presidentes para administrar um conflito antigo em particular, o que envolvia o religioso e diretor da Missão de Andiras e as autoridades locais pelo controle dos indígenas.
O estudo sobre a instância de poder provincial é também o assunto do artigo Instituições entre disputas de poder e a remoção dos párocos em Minas Gerais, de Júlia Lopes Viana lazzarine, que aborda a interferência dos presidentes de província no Padroado Régio, tida como supostamente prevista no Ato Adicional. Como aconteceu frequentemente por todo o país à época da Regência, a extrapolação das atribuições de poder na esfera províncias, prevista naquela lei descentralizadora, terminou por conflitar diversas instâncias político-administrativas. Em Minas Gerais não foi diferente. No caso discutido, ocorreu o embate, de um lado, entre o governo provincial e a Igreja; e de outro, entre a Assembleia Provincial e a Câmara dos deputados.
O artigo de Rafhaela Ferreira Gonçalves, Contornos políticos em torno dos processos cíveis de liberdade na zona da mata pernambucana: a denúncia de Florinda Maria e o caso dos pardos Antônio Gonçalves e Bellarmino José (1860-1870), discuti como base documental os processos cíveis, que constam na atualidade como fontes valiosas para a compreensão da luta dos escravizados pela liberdade. Por meio da análise de um deles, a autora consegue muito bem desvendar as estratégias encontradas pelos escravizados para se valerem do sistema normativo dominante a seu favor nos tribunais. A ação de liberdade escolhida pela autora para apreciação não poderia ser melhor. Trata-se do caso de uma liberta que engravidou de seu antigo senhor e depois viu seus filhos, nascidos do ventre livre, serem vendidos pelo pai como se fossem cativos.
Manoel Nunes Cavalcanti Junior, em A Revolta dos Matutos: entre o medo da escravização e a ameaça dos “republiqueiros” (Pernambuco-1838), investiga uma revolta da população livre e pobre do interior, na região da Zona da Mata e Agreste, que teve como estopim um decreto do governo interpretado pelos populares como uma medida visando escravizá-los. Na sua abordagem o autor investiga o levante em dupla perspectiva. Primeiro, no contexto do conflito intra-elite no período regencial , quando a boataria sobre o cativeiro da população foi atribuída pelas autoridades aos inimigos do governo, os chamados Exaltados, os quais procuraram aliciar para o seu lado os habitantes do interior tidos à época como “ignorantes” e de fácil sedução. Segundo, procurando compreender a revolta a partir das motivações próprias da gente livre e pobre do campo, que era a que mais penava com o recrutamento militar e tinha razões de sobra para desconfiar de tudo que vinha das elites e do Estado.
O trabalho O julgamento do patacho Nova Granada: embates diplomáticos entre Brasil e Inglaterra no auge do tráfico atlântico de escravizados nos anos de 1840, de Aline Emanuelle De Biase Albuquerque, nos remete à questão da repressão ao comércio negreiro e dos envolvidos nesse negócio ilícito, arriscado e lucrativo. Por meio de um processo crime que durou anos e que não condenou ninguém, a autora desvenda o conluio entre o governo brasileiro e os traficantes, os desacordos entre as autoridades britânicas e brasileiras no caso, assim como quem eram os integrantes dessa atividade mercantil proibida desde 1831. Na sua apreciação, aspectos interessantes da logística e da organização do tráfico são também revelados, como o tipo de equipamento encontrado nas naus que seguiam para África ou de lá retornavam, e que era considerado prova da atividade negreira, independe da presença de cativos na embarcação.
A imprensa no período de emancipação do Brasil de Portugal, no momento de definição dos rumos da nação que se pretendia construir, consta como temática do artigo O Reverbero Constitucional Fluminense e as interpretações do tempo no contexto da Independência (1821-1822), de João Carlos Escosteguy Filho. Nesse sentido, o autor expõe e problematiza a compreensão do tempo e da trajetória histórica do Brasil e das Américas presentes nas páginas da folha em tela, cujos propósitos eram o de influenciar o debate público e os rumos políticos do país.
Amanda Chiamenti Both, em seu trabalho Imediatos auxiliares da administração: o papel da secretaria de governo na administração da província do Rio Grande do Sul, estuda a secretaria de governo provincial, de grande importância para as presidências, mas ainda pouco explorada pela historiografia. Em meio à substituição frequente de presidentes, o artigo demonstra a relativa permanência dos indivíduos indicados para o posto de secretário da presidência no Rio Grande do Sul, além de explorar quem eram seus titulares, como se dava sua escolha e quais as suas atribuições. Suas conclusões apontam para a posição estratégica desse funcionário para o desejado entrosamento entre os presidentes e a sociedade local.
O texto de Ivan Soares dos Santos encerra o dossiê, intitulado Uma trama de fios discretos: alianças interprovinciais das sociedades públicas de Pernambuco (1831-1832). Ele retoma os estudos de duas importantes associações federais por um viés diferenciado daquele geralmente presente na historiografia sobre o período regencial. Neste sentido, o autor procura explorar e realçar as estratégias políticas construídas pelos liberais federalistas de Pernambuco para além das fronteiras da sua província, no intuito de fortalecê-los como grupo em luta pelo o poder.
Em vista dessas considerações, convidamos todos os interessados na produção histórica recente, inédita e de qualidade à leitura deste dossiê dedicado ao Brasil oitocentista.
Cristiano Luis Cristillino
Suzana Cavani Rosas
Maria Sarita Cristina Mota
CRISTILINO, Cristiano Luís; ROSAS, Suzana Cavani; MOTA, Maria Sarita Cristina. Apresentação. CLIO: Revista de Pesquisa Histórica. Recife, v.39, p.1-6, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF].
The Unfinished Revolution: Haiti/Black Sovereignty and Power in the Nineteenth-Century Atlantic World | Karen Salt || Maroon Nation: A History of Revolutionary Haiti | Johnhenry Gonzalez
Onde reside a soberania haitiana? A questão é sempre urgente durante cada virada da espiral da história política haitiana, com suas crises e a consequente insistência na busca de “soluções” que eternamente pioram o problema que pretendem resolver. O que é difícil – mas necessário quando se fala da urgência do momento – é também encontrar, de alguma forma, um caminho para guiar nossas ações por uma compreensão da história profunda do agora. No Haiti, como em toda parte, mas nem sempre com a mesma intensidade, a tirania das rotinas interpretativas e das categorias sem saída limitam o presente, frequentemente nos impedindo de ver o que está bem em nossa frente. Leia Mais
Friedrich Engels and the Dialectics of Nature | Kaan Kangal
En su libro Anti-Dühring, Engels argumentó que, con Hegel, la filosofía había llegado a su fin, y que, para la filosofía, que había sido expulsada de la naturaleza y de la historia por las ciencias naturales y sociales, “sólo queda el reino del pensamiento puro, en lo que aún queda en pie de él: la teoría de las leyes del mismo proceso de pensar, la lógica y la dialéctica”. Engels enumeró tres “leyes de la dialéctica” en Dialéctica de la naturaleza: (1) “La ley de la transformación de la cantidad en calidad y viceversa”, (2) “La ley de la interpenetración de los opuestos” y (3) “La ley de la negación de la negación” (Friedrich Engels, Dialéctica de la naturaleza, ed. Grijalbo, 1961, p. 41, citado en Kangal, p. 168). Esto puede parecer un poco intimidante, pero en realidad las ideas básicas de la dialéctica no son difíciles de comprender. Leia Mais
La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional | María Victoria Baratta
La guerra que enfrentó a la Triple Alianza formada por Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay constituye un problema que despierta cada vez mayor interés en el mundo de los historiadores. Tanto en los países que se enfrentaron en aquella contienda, como en otras partes del globo, asistimos desde la última década a una renovación de temas y enfoques ligados al conflicto. María Victoria Baratta se ha nutrido de ella y, a la vez, ha contribuido a generarla: su libro La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional es una apuesta valiente, sustentada en un análisis crítico y documentado que desarma mitos y teorías conspirativas profundamente arraigadas en la sociedad argentina.
El trabajo recupera los resultados de su tesis doctoral defendida en el año 2013, bajo la dirección de Fabio Wasserman. En aquella ocasión se preocupó por establecer la relación entre la guerra como fenómeno histórico y la construcción de la identidad argentina, a partir del discurso de las elites letradas. En la obra que aquí reseñamos amplía el análisis con la incorporación de las representaciones de la cultura popular. Para cumplir los objetivos de su investigación, se apoyó en un contundente corpus de fuentes: diarios y periódicos de los países implicados en la Guerra del Paraguay (para Argentina toma tanto la prensa porteña como del resto de las provincias) y de Europa; documentos oficiales, institucionales, correspondencia, folletos, testimonios y relatos; Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en Argentina; relatos de corresponsales de guerra, memorias y cantares populares. Leia Mais
Lições de resistência: artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro | Ligia Fonseca Ferreira
Desde o século XIX, Luiz Gama insiste em nos provocar com Lições de resistência. Gama foi escravizado, conquistou a alforria, foi reconhecido como intelectual conceituado já no seu tempo, enquanto se tornava um dos principais personagens do movimento abolicionista. As suas ideias e o seu empenho como jornalista e rábula na defesa da liberdade dos escravizados o transformaram numa referência incontornável da luta pela igualdade racial ainda nos dias de hoje. Em tempos de aprofundamento das desigualdades, Luiz Gama, negro, abolicionista e republicano continua a ser um farol para quem aspira por justiça e, por isso, mantém-se entre os autores brasileiros mais lidos, seja como literato ou como ativista engajado no campo do direito. Leia Mais
Escravidão urbana e abolicionismo no Grão-Pará/século XIX | José Maia Bezerra Neto, Luiz Carlos Laurindo Junior
Como salienta José Maia Bezerra Neto, um dos organizadores da coletânea, na sua contribuição inicial, “Do vazio africano à presença negra”, desconhece-se ainda hoje a importância da escravidão de origem africana na Amazônia. Essa ideia da Amazônia apenas indígena ou mestiça foi construída ao longo de mais de um século por uma historiografia brasileira que quis salientar a peculiaridade ou a situação periférica da região em relação ao resto do Brasil. A historiografia nacional sobre a Amazônia focou exclusivamente na atividade econômica do extrativismo, que usava a mão de obra indígena em oposição à agricultura escravista de plantation. Mesmo a historiografia paraense mais antiga quase não menciona a escravidão de origem africana (por exemplo, Arthur Vianna) ou apenas trata dela em estudos específicos, mas não lhe dando a devida importância em obras mais gerais (Arthur Cezar Ferreira Reis). As coisas começaram a mudar a partir dos trabalhos pioneiros de Napoleão Figueiredo, Anaíza Vergolino e sobretudo Vicente Salles, como destaca Bezerra Neto. Destarte, acaba surpreendendo o leitor tanto a antiguidade quanto o volume da produção historiográfica regional sobre escravidão africana no Pará, passada em revista nesse ensaio, que será de grande utilidade para qualquer estudioso do assunto, quer no Pará ou mesmo, de maneira geral, nas Américas. Apenas achei que poderia ter incluído autores estrangeiros, como a importante monografia sobre a cabanagem, de Mark Harris, Rebellion on the Amazon (2010), e o excelente estudo de Oscar De la Torre, The People of the River: Nature and Identity in Black Amazonia, 1835-1945 (2018). Leia Mais
A negação da liberdade: direito e escravização ilegal no Brasil oitocentista (1835-1874) | Gabriela Barreto de Sá
A relação entre os afrodescendentes e o direito na América Latina é bastante complexa: enraizado na violência da escravidão, o direito assumiu papel importante no desgaste do regime escravista; mesmo assim, ainda hoje ele contribui para perpetuar desigualdades sociais.1 Leia Mais
Los miedos sin patria. Temores revolucionarios en las independencias ibero-americanas | Manuel Chust e Claudia Rosas Lauro
Quienes hacen investigación histórica saben que ciertos asuntos del pasado, ese país extraño del que hablara David Lowenthal, resultan particularmente escurridizos desde el mismo momento en que se intenta identificarlos. Entre ellos están las emociones y los sentimientos colectivos, temas difusos, a veces inasibles, que con éxito dispar han sido analizados por diferentes vertientes de historia social, historia cultural, historia de las mentalidades, de la vida privada, de las religiones y del arte.
Ese interés no es nuevo en la historiografía atlántica. Durante las décadas de 1930- 1940, varias publicaciones de Georges Lefebvre, Marc Bloch y Lucien Febvre —a las que podríamos añadir, con sesgo más antropológico y sociológico, escritos de Norbert Elias y Marcel Mauss—, echaron los cimientos de lo que sería una vasta y plural producción posterior. Desde entonces el miedo, sobre todo en su estrecha asociación con procesos violentos e inciertos como las revoluciones, ha ganado terreno como objeto de estudios históricos. En el último medio siglo se ha ido configurando el campo de la emocionología y la comunidad emocional; Barbara Rosenwein, Peter Stearns o William Reddy, entre otros, se ocupan de las emociones en cuanto construcciones culturales interactuantes con el cambio social en universos tan diferentes entre sí como la Europa medieval y la Norteamérica de entreguerras. Leia Mais
Key Thinkers of the Radical Right | Mark Sedgwick
SEDWICK Mark. Foto: Rascunho.com /

Cada capítulo é escrito por um autor diferente e dedicado a um dos intelectuais, passando por autores clássicos, da chamada Nouvelle Droite, identitários, libertarianos (ou libertários), neoconservadores, paleoconservadores, contrajihadistas, neorreacionários e a denominada alt right.
É importante ressaltar que a obra não é uma apologia dos pensamentos desses formadores de opinião da direita radical, mas uma relevante ferramenta para compreender os argumentos, posicionamentos e táticas desse campo ideológico bastante plural, uma vez que é possível verificar no decorrer do livro uma variação muito grande de pensamento e uma forte discordância entre os autores, o que serve para demonstrar as nuances existentes dentro da direita radical, a qual poderia ser considerada, erroneamente, como monolítica.
O livro é dividido em três partes: Classic Thinkers, Modern Thinkers e Emergent Thinkers. O primeiro capítulo aborda quatro pensadores clássicos: Oswald Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt e Julius Evola. Todos, exceto Spengler, produziram durante o período em que o nazismo alemão e o fascismo italiano estavam no poder, mas apenas Schmitt foi um membro ativo do partido nazista, enquanto Evola teve aproximações com nazistas e fascistas.
A obra mais conhecida de Spengler [2] é “O declínio do Ocidente” cujo primeiro volume foi publicado logo após o final da Primeira Guerra Mundial. A filosofia histórica de Spengler era baseada em dois pontos: a existência de entidades sociais chamadas de “culturas” como os maiores atores da história, sendo que esta não possuiria objetivo ou sentido metafísico. O segundo ponto é que a evolução dessas culturas corresponderia aos estágios de um ser vivo, tendo uma infância, juventude, idade viril e velhice. A cultura ocidental teria adentrado seu último estágio com a ascensão de Napoleão e as ideias calcadas na tecnologia, expansão, imperialismo e sociedade de massas. Seu declínio se daria a partir do ano 2000. Esse pensamento é responsável por duas ideias importantes da direita radical: a visão apocalíptica de um declínio e o foco em culturas e civilizações em detrimento de nações ou Estados.
Jünger [3], por sua vez, possui como obra de destaque In Stahlgewittern (Tempestades de aço), uma memória de sua participação na Primeira Guerra Mundial e que apresentava um olhar sobre sua atuação na guerra, apresentada como heroica e masculina. Na sua visão, a guerra trazia os homens de volta a um estado natural, revelando os ritmos primordiais violentos da vida que ficavam abaixo do verniz da civilização. As suas ideias de virilidade e luta, bem como uma construção posterior de que a única forma de se proteger de demagogos e tiranos que manipulavam a tecnologia para atingir as massas seria se afastar para um “eu autônomo”, ou, como Jünger coloca, um Anarco, repercutem até hoje nos meios da direita radical.
O jurista alemão Carl Schmitt [4] talvez seja o mais conhecido fora dos círculos de direita, uma vez que foi considerado o jurista principal do nacional-socialismo. Sua maior contribuição para a direita radical é sua distinção entre amigo e inimigo, nós e eles, um pensamento binário ainda facilmente encontrado na retórica extremista. Schmitt também opôs dois conceitos, o “Estado de Normalidade” e o “Estado de Exceção” para argumentar que, em certos casos, seria necessário um governo ditatorial para representar uma comunidade política através de decretos, não da lei, como forma de estabilizar as relações legais. Obviamente esses argumentos possuíam um potencial antidemocrático e foram utilizados pelos nazistas.
O italiano Julius Evola [5] tem forte ligação com o tradicionalismo no sentido dado pelo francês René Guénon [6], apesar de possuírem pontos de discordância. Seu estudo do tradicionalismo é mais bem refletido em sua obra “Revolta contra o mundo moderno”. A tradição integral derivaria de um perenialismo no qual todas as visões metafísicas de mundo e as mais importantes religiões seriam teriam uma origem divina, imutável e inquestionável. O mundo moderno, caracterizado pela civilização ocidental, tecnologia e baseado no materialis materialismo, seria “vindo de baixo”, o exato contrário da tradição. O tradicionalismo poderia ser visto em suas últimas luzes no catolicismo medieval, entrando em declínio durante a Renascença e, especialmente, após a Revolução Francesa. O mundo estaria, portanto, em declínio, e uma recuperação só seria possível após o colapso do mundo moderno, ou seja, seria necessário “cavalgar o tigre” (Cavalcare la tigre, título de sua obra pós-guerra) até que ele desabe.
A segunda parte do livro, destinada aos pensadores modernos, inicia com dois autores franceses ligados à Nova Direita (Nouvelle Droite), Alain de Benoist e Guillaume Faye. De Benoist [7], autodeclarado pagão, assim como Evola, publicou 106 livros e mais de 2 mil artigos. Após a independência da Argélia, de Benoist decidiu deixar de lado o ativismo nas ruas, visto como inútil, e focar na metapolítica, retirando do comunista Antonio Gramsci a ideia de que a hegemonia ideológica é a condição da vitória política. Assim, se alguém quer que suas ideias modelem a sociedade, é necessário trabalhar no plano das ideias antes.
As bases principais nas obras escritas por de Benoist podem ser sumarizadas em três pontos: primeiramente, a crítica à primazia dos direitos individuais, que seriam uma consequência do humanismo do século XVIII e resumidos nas Revoluções Americana e Francesa. A segundo base é que o perigo central que o mundo estaria enfrentando poderia ser visto na hegemonia do capital e na busca de interesses próprios. Sua crítica ao capital não deve ser tomada em um sentido marxista, mas dentro da tradição anticapitalista nacionalista, uma vez que o risco do consumismo e do livre mercado seria o apagamento das identidades dos povos. Por fim, o terceiro ponto é sua oposição ao Estado-nação, favorecendo a ideia de uma Europa federalizada com o reconhecimento de comunidades baseadas na etnia, linguagem, religião ou gênero.
Faye [8], por sua vez, contribuiu para a direita radical com o que chamou de “arqueofuturismo”, a aceitação dos avanços científicos e tecnológicos combinada com uma sociedade que permaneceria tradicional. Após considerar os regimes árabes como aliados naturais da França e criticar o papel dos EUA, Faye se transformou em um defensor do nativismo, discursando contra a imigração e os muçulmanos e em defesa dos interesses étnicos europeus. Os imigrantes estariam colonizando a Europa através de altos índices de natalidade, impondo uma substituição étnica. Seguindo uma ideia pseudodarwinista, a luta pela sobrevivência se daria no plano das civilizações.
Os três autores seguintes explorados no livro são norte-americanos: Gottfried, Buchanan e Taylor. Os dois primeiros são conhecidos paleoconservadores, sendo que Gottfried [9] se destaca pela sua desconfiança em relação às elites globais que, segundo ele, suportariam um “Estado gerencial” contrário às bases tradicionais da sociedade, aproximando-se, portanto, do tradicionalismo.
Buchanan [10] assemelha-se a Gottfried na visão de que a sociedade norte-americana é baseada na sua história e na herança europeia branca, não em princípios universais abstratos. É possível verificar uma visão apocalíptica em seu pensamento, especialmente em sua obra principal, The Death of the West, segundo a qual os EUA e os países europeus estariam na linha de frente de um ataque. Os europeus (brancos) estariam enfrentando uma ameaça comparável à peste negra, uma vez que as taxas de natalidade teriam caído drasticamente. Um dos culpados por essa decadência seria o feminismo, que, somado a outras formas de ataques culturais à tradição ocidental, poderia ser ligado a pessoas com objetivos marxistas ou à Escola de Frankfurt, a qual Buchanan considera um suspeito principal. Sua combinação de um comunitarismo europeu branco, hostilidade às elites globais que não dariam importância às raízes locais e preocupação com a imigração mexicana nos EUA teve impacto nas eleições norte-americanas de 2016.
Jared Taylor [11], de seu lado, possui um foco quase exclusivo na questão racial. Apesar de acreditar em fatores culturais e históricos, Taylor enfatiza o papel da genética e das raças nos tipos de sociedades existentes. Uma das intenções de Taylor é fazer com que as pessoas brancas possam se expressar em relação a si mesmas e à questão racial sem ser demonizadas em relação a isso. Vendo como imprescindível para a nação uma homogeneidade cultural, racial e linguística, argumenta que a maior preocupação nos EUA deveria ser a limitação ou impedimento da imigração de não brancos.
O autor abordado na sequência é Alexander Duguin [12], conhecido ideólogo russo que mistura doutrinas diversas, passando pelo tradicionalismo, a nova direita francesa e o eurasianismo, pregando uma renovação do nacionalismo russo por meio das tradições europeias. Para isso, seu pensamento se apoia em dois conceitos-chave: a questão da Eurásia, através da qual Duguin acredita no papel central da Rússia como Estado e da Eurásia como civilização capaz de regenerar a nação russa. Em segundo lugar, o conceito de uma revolução conservadora. Ao contrário de prezar mudanças graduais, Duguin acredita em uma revolução conservadora para se opor ao liberalismo e avançar as pautas conservadoras. No seu livro The Fourth Political Theory, ele renuncia ao que chama de segunda e terceira teorias políticas (comunismo e nacionalismo/ fascismo) e considera o liberalismo uma ideologia totalitária em virtude de seu caráter normativo. A quarta teoria política viria para negar a modernidade como um todo. Duguin talvez tenha mais impacto fora da Rússia do que dentro, tendo inclusive participado de um debate online com Olavo de Carvalho em 2011.
A última autora abordada é Bat Ye’or [13], proeminente contrajihadista que descreve a existência de uma conspiração envolvendo a União Europeia e países de maioria muçulmana do norte da África e Oriente Médio que buscariam estabelecer o controle muçulmano da Europa, ou “Eurábia”. Seu trabalho inspirou o terrorista de extrema-direita Anders Breivik na Noruega e continua a ser debatido no campo da direita radical em relação a uma “islamização” da Europa.
A terceira e última parte do livro diz respeito aos pensadores emergentes, mais jovens que os tratados anteriormente e que propagam suas ideias principalmente através da internet. Dos cinco autores tratados, quatro são norte-americanos e um é sueco, o que revela que a direita radical europeia ainda está dominada por pensadores da geração anterior, especialmente ligados à nova direita francesa e Duguin.
Mencius Moldbug [14], apelido de Curtis Yarvin, é um ex-libertariano (ou libertário, como preferem se autodenominar no Brasil) que prega a necessidade de se livrar do “controle de pensamento” feito por uma elite progressista e rejeitar o “vírus” da democracia, fazendo uma fusão entre o libertarianismo radical e o autoritarismo no que denomina “neorreação”. O regresso a uma autoridade e hierarquia contra a democracia e o igualitarismo poderia salvar a sociedade do seu declínio. Sua utopia envolve liberdade máxima, exceto na política. A ordem econômica seria gerida por uma sociedade inteiramente privatizada, enquanto a ordem política teria o modelo de uma corporação, com o Estado privatizado encabeçado por um CEO-monarca eleito por grandes proprietários.
Apesar de suas ideias parecerem esdrúxulas, Moldbug possui contatos com o site Breitbart, Steve Bannon e o bilionário Peter Thiel, além de ter boa inserção nos meios jovens ligados à tecnologia, bem como na alt right.
Greg Johnson [15], por sua vez, também esteve próximo do libertarianismo e é editor-chefe do site Counter–Currents, que se propõe a criticar a liberdade liberal na América do Norte à luz do tradicionalismo e das ideias da nova direita europeia. Johnson é mais um pensador que foca seus esforços na questão da metapolítica, visando criar um movimento cultural e intelectual que seja capaz de promover mudanças políticas reais e, finalmente, o estabelecimento de um etno-Estado branco, uma vez que ele é defensor de uma etnopluralidade, segundo a qual todas as raças e etnias deveriam ter sua própria pátria. Johnson é o único entre os autores modernos e emergentes que expressamente revela simpatia pelo nazismo.
O terceiro pensador emergente tratado é o conhecido Richard Spencer [16], presidente do National Policy Institute, um think tank nacionalista branco fundado pelo multimilionário William Regnery II. Spencer se diz responsável pela criação do termo “alt right”. Tamir Bar-On, autor do capítulo sobre Spencer, sintetiza os contornos do seu pensamento:
Uso da internet como o principal veículo para provocar tanto conservadores quanto liberais com ideias e linguagem politicamente incorretas; rejeição do multiculturalismo liberal; desdém pelo capitalismo, já que ele tem a tendência de homogeneizar diversos povos e culturas; apoio a comunidades políticas unidas a identidades europeias brancas; o desafio a elites “heroicas”, brancas e europeias a criar uma revolução nas mentalidades e valores […] contra o multiculturalismo e a imigração; e o desejo de criar etno-Estados brancos homogêneos (“pátrias”) dos dois lados do Atlântico (2019, p. 225).
Como pode ser visto, a questão racial é central no discurso de Spencer, bem como o chamado à ação para uma direita revolucionária, antiliberal e anticapitalista que tenha como foco a metapolítica e as táticas da nova direita.
O capítulo 15 é dedicado a Jack Donovan e seu tribalismo masculino.[17] Donovan acredita que a igualdade é uma farsa, a violência é necessária e que a questão principal não é a raça, mas sim o gênero. Não somente homens brancos, mas todos os homens devem ser livres e fortes. Donovan é abertamente homossexual e prega o tribalismo masculino, uma ideologia de supremacia masculina formada ao redor da ligação entre guerreiros através de rituais de união. Na sua visão, a masculinidade é atacada atualmente por feministas, burocratas e homens ricos que buscam a passividade dos homens. Em 2013, Donovan passou a defender o que denominou de “anarcofascismo”, em que tribos de homens se unem em oposição à ordem institucional feminista, corrupta e antitribal. Donovan possui influência na chamada manosphere, uma subcultura da internet que acredita que as mulheres possuem poder em demasia, e na alt right, que adota sua posição misógina.
O último autor abordado é Daniel Friberg [18], sueco, para quem o método é mais importante do que a própria questão ideológica. Assim como outros autores citados, Friberg acredita que a mudança política só pode ser obtida através da educação, mídia e expressão criativa, ou seja, na metapolítica. Em virtude disso, Friberg tomou diversas inciativas para popularizar obras tradicionalistas, como a Arktos, maior editora de obras da direita radical e tradicionalistas, e o site Metapedia, uma alternativa à Wikipedia. Em 2015, publicou o livro The Real Right Returns, um manual de estratégias para ativistas da direita radical de como se conduzir politicamente e atacar o establishment liberal.
A obra editada por Sedgwick é de extrema importância na atualidade, permitindo compreender a pluralidade de pensamentos existentes dentro de uma direita radical que se torna cada vez mais proeminente em vários países do mundo, especialmente na América Latina, Estados Unidos e Europa.
Assim, o livro se mostra como uma importante ferramenta para todos os que buscam entender as linhas de pensamento da direita radical desde seus primórdios até a atualidade, sem, claro, esgotar todos os autores que impactam nesse meio. René Guénon e Frithjof Schuon, por exemplo, são escritores interessantes para o estudo da ala da direita brasileira encabeçada por Olavo de Carvalho, enquanto David Duke poderia ainda ser visto como uma influência para os supremacistas brancos norte-americanos.
A leitura de Key Thinkers of the Radical Right é bastante agradável; todos os capítulos contam com extensas referências e deixam em aberto um caminho para quem pretende se aprofundar em algum dos pensadores abordados. Certamente historiadores que pesquisam movimentos ligados à extrema radical tirarão bom proveito da obra, uma vez que são raros os livros que tratam de forma séria e criteriosa a respeito do tema.
Notas
3. Capítulo escrito por Elliot Y. Neaman.
4. Capítulo escrito por Reinhard Mehring.
5. Capítulo escrito por H. Thomas Hakl.
6. Os autores tradicionalistas possuem divergências entre si. Para melhor compreensão sugerimos o livro Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century, também de Mark Sedgwick.
7. Capítulo escrito por Jean-Yves Camus.
8. Capítulo escrito por Stéphane François.
16. Capítulo escrito por Tamir Bar-On.
17. Escrito por Matthew N. Lyons.
18. Capítulo escrito por Benjamin Teitelbaum.
Referências
SEDGWICK, M. (org). 2019. Key Thinkers of the Radical Right: Behind the New Threat to Liberal Democracy. New York, Oxford University Press, 325 p.
SEDGWICK, Mark. 2009. Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century. New York, Oxford University Press, 2009, 369 p.
Felipe Cittolin Abal – Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo. BR 285, Bairro São José. 99052-900 Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: [email protected]
SEDGWICK, Mark. Key Thinkers of the Radical Right: Behind the New Threat to Liberal Democracy. Resenha de: ABAL, Felipe Cittolin. Os pensadores da direita radical: de Oswald Spengler a Daniel Friberg. História Unisinos, Porto Alegre, v.25, n.1, p.168-171, jan./abr., 2021. Acessar publicação original
La confederación argentina y sus subalternos: integración estatal, política y derechos en el Buenos Aires posindependiente (1820-1860) | Ricardo Salvatore
Diecisiete años después, especie de secuela de Paisanos itinerantes: Orden estatal y experiencia subalterna en Buenos Aires durante la era de Rosas, 1 Ricardo Salvatore nos propone reflexionar sobre la formación del Estado-nación en Argentina y las respuestas y experiencias de grupos subalternos a dicho proceso de naturaleza conflictiva. Centralizando su análisis en la provincia de Buenos Aires durante la era de Juan Manuel de Rosas, ya no son sólo objeto de estudio los peones de estancia y pequeños campesinos independientes, sino que versa en otros grupos: afro-porteños, pueblos indígenas, mujeres, unitarios comunes y vecinos rurales rebeldes. Al incorporar otros actores intenta entender mejor los múltiples entramados de poder y cómo fue la interacción particular de cada uno de ellos con las autoridades y una política estatal caracterizada por la ambivalencia entre coerción y persuasión. Familiarizando al lector con el tema de análisis, empieza rescatando y resumiendo los principales aportes de Paisanos itinerantes… Recuperando sus voces, acciones y memorias a partir del análisis de las filiaciones elaboradas por las autoridades militares reclutadoras, reconstruye la experiencia colectiva de peones y campesinos que formaron parte del ejército y las milicias de la provincia de Buenos Aires.
Poniendo énfasis en la cuestión militar procede describiendo los intentos del Estado rosista por controlar y ordenar la campaña. Identifica las formas de coerción y estímulos aplicados por el Estado en las unidades militares como también las estrategias de resistencia y de negociación que desarrollaron los subalternos. Entre ellas, la deserción y sus consecuentes acciones para no ser capturados, es decir, forjar una nueva identidad social y poder asentarse en una localidad. Dimensiona qué incidencia tuvo el servicio militar no sólo en la experiencia vivida sino también en nociones de pertenencia territorial e idea de nación que pudieron construir los soldados en sus participaciones bélicas en y fuera de la provincia. Esto le permite discutir con la historiografía tradicional hasta qué punto las autonomías provinciales fueron las principales protagonistas para modelar los sentidos de pertenencia de la población. Con los avances logrados puede desarrollar su concepto de “patriotismo condicional” y las formas de federalismo practicadas. Leia Mais
¡Valencianos en guerra! 1808-1814. Unidades didácticas | Juan Ramón Moreno-Vera
El pasado 9 de junio de 2021 se inauguraba en el Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) la exposición ¡Valencianos en guerra! 1808-1814 dedicada a recuperar y divulgar los testimonios de memoria de la Guerra de la Independencia española en el territorio de la actual Comunidad Valenciana. Leia Mais
Une histoire sociale de l’industrie en France 1830-1930 / Pierre Judet
Audrey Milltet e Pierre Judet / Foto: Académie François Bourdon /

Pierre Judet est un spécialiste du monde ouvrier et de l’industrie, en particulier en France ; il a travaillé sur les systèmes productifs industriels locaux (notamment montagnards), objets qu’il mobilise de nombreuses fois comme exemples dans son ouvrage. Sa thèse, publiée dans la même collection en 2004, pourrait également s’avérer très utile aux étudiants des concours car riche en exemples locaux et au cœur des bornes chronologiques du programme (Horlogeries et horlogers du Faucigny (1849-1934). Les métamorphoses d’une identité sociale et politique, PUG, La pierre et l’écrit, 2004).
Même si cet ouvrage est avant tout centré sur la France, il reste très utile aux préparationnaires des concours qui pourront y trouver des connaissances, des chiffres, une vaste bibliographie bien organisée mais surtout des exemples pertinents et intéressants. Quant aux enseignants d’histoire-géographie, ils pourront le mobiliser aussi bien au collège et au lycée qu’en classes préparatoires ou à l’université, notamment grâce aux nombreuses statistiques et aux documents proposés. En quatrième, il offre ainsi une bonne lecture pour les collègues abordant le thème 2 du programme : « L’Europe et le monde au XIXe siècle » et notamment le premier chapitre : « l’Europe et la Révolution industrielle » puisque Pierre Judet revient largement sur l’historiographie autour de cette notion de « révolution industrielle ». Les collègues enseignant en classe de 1re professionnelle pourront aussi utiliser l’ouvrage dans le cadre du premier thème sur les « hommes et femmes au travail du début du XIXe au début du XXe siècle ». Ils trouveront des exemples détaillés et originaux intéressants pour les lycéens : le compagnonnage, le corps et la santé des ouvriers, les crises sanitaires notamment la crise du choléra de 1832… Ensuite, les collègues enseignant en première générale ou technologique pourraient se servir de l’ouvrage pour le chapitre sur l’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en France, l’ouvrage traitant de l’ensemble des problématiques au cœur du programme de première (transformation des modes de production, importance du monde rural, la question sociale…). Encore une fois, des études de documents intéressantes et originales pourraient être prises dans cet ouvrage : le tableau du nombre des indigents à Lille de 1825 à 1833 (p.130) et le texte qui suit extrait des mémoires de Martin Nadaud (p. 131) pourraient ainsi être étudiés par des élèves de première. Enfin, les collègues du supérieur y trouveront une synthèse mise à jour historiographiquement par un des spécialistes français de la question, ainsi qu’une riche bibliographie et des exemples pertinents à étudier avec leurs étudiants.
Classiquement, cet ouvrage suit une progression chronologique. Il est découpé en deux grandes périodes : des années 1830 aux années 1870, Pierre Judet traite « des classes dangereuses à la classe ouvrière » puis des années 1880 aux années 1930 « l’industrie et ses mains d’œuvre industrielles ». A l’intérieur de ces parties, les chapitres thématiques (et parfois chronologiques) permettent une vision d’ensemble de la question. Avant ces deux parties, une introduction revient sur le sujet, ses acteurs, son historiographie et les principales problématiques au cœur de la question.
Tout d’abord, la première partie est consacrée au passage des classes dangereuses à la classe ouvrière des années 1830 aux années 1930. Le premier chapitre revient sur la notion de « révolution industrielle », son historiographie et les avancées récentes sur la question, puis petit à petit sur la manière dont la France a vécu et a adapté cette révolution industrielle. Plus original, le deuxième chapitre part de l’épidémie de choléra de 1832 et est profondément un chapitre d’histoire sociale, il est l’un des chapitres les plus intéressants du livre aussi bien pour les préparationnaires que pour les enseignants qui peuvent en faire une étude de cas pour comprendre les enjeux sociaux de la révolution industrielle au début de la période. Le troisième chapitre, s’il semble très statistique, revient aussi sur le quotidien des ouvriers : leurs métiers, la pluriactivité, les lieux du travail. Enfin, le dernier chapitre de cette première partie revient sur le passage du paupérisme à la question sociale durant la période en insistant sur le rôle des acteurs : les ouvriers, les patrons, l’Etat. Cette première partie est riche en documents statistiques précieux pour les préparationnaires (notamment des statistiques comparatives avec le reste de l’Europe occidentale). Elle revient sur des points classiques mais mis à jour historiographiquement (par exemple sur les ouvrières, la place et la vie dans les usines…) mais aussi plus originaux : l’hygiénisme en France, la vision des élites de la pluriactivité, des exemples de systèmes productifs locaux au début du XIXe siècle, le compagnonnage.
La seconde partie est consacrée à l’industrie et à ses mains-d’œuvre des années 1880 aux années 1930 ; cette partie est largement plus chronologique. La partie commence par une réflexion très présente dans l’historiographie sur le « triomphe de l’usine ». En revenant classiquement sur cette question, l’auteur aborde des exemples intéressants, sur les banlieues industrielles avec Saint-Denis ou, de manière plus originale, sur la houille blanche dans les Alpes tout en présentant de nombreux acteurs du monde ouvrier (le vagabond…). Les réflexions portées sur l’immigration et les étrangers dans le monde ouvrier sont particulièrement intéressantes et entourées de documents statistiques précieux pour le préparationnaire. Le chapitre suivant s’interroge sur « l’affirmation de la classe ouvrière et la construction du champ social » en abordant des points classiques (les grèves, le syndicalisme, le tournant social de la Troisième République). Ce chapitre synthétique serait intéressant pour les collègues de première travaillant sur le thème 3 du programme sur la Troisième République avant 1914. Ensuite, le septième chapitre sur « la guerre et les mains-d’œuvre industrielles » est particulièrement pertinent, aussi bien pour les préparationnaires que les collègues de troisième ou de première (générale ou professionnelle). Cette synthèse sur la définition, le rôle et les caractéristiques de la main-d’œuvre durant la Grande Guerre est complète et permet, une nouvelle fois encore, des perspectives stimulantes avec les élèves. La fin du chapitre est consacrée à la Réforme et la protection sociale (notamment sur les grèves durant la guerre). L’avant-dernier chapitre sur les années 1920 « des mondes ouvriers en mutation » et le dernier chapitre sur « crises, espoir et déception » sont plus chronologiques et synthétiques, mais permettent une compréhension rapide des mondes ouvriers lors de ces deux décennies clés.
Pour conclure, cet ouvrage particulièrement fluide, bien écrit, organisé et problématisé, constitue un bon complément pour les préparationnaires de la question « le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930 », il permet de compléter les cours et les manuels avec des exemples classiques mais aussi originaux, tout en mettant à jour les données statistiques. Les préparationnaires regretteront, mais ce n’était pas l’objectif du livre, la concentration uniquement sur l’exemple français. Pour les enseignants, cet ouvrage est synthétique et bien mis à jour, s’il n’est pas révolutionnaire dans son contenu, il permet au professeur d’avoir accès à un grand nombre d’informations sur le sujet. Enfin, on peut féliciter la qualité matérielle de l’ouvrage qui rend la lecture encore plus fluide, mais qui explique son prix relativement élevé (39 euros).
Louis Andouche – Professeur d’histoire-géographie au Lycée Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny.
JUDET, Pierre. Une histoire sociale de l’industrie en France. Du Choléra à la Grande crise (Années 1830-1930). PUG, 2020.Resenha de: ANDOUCHE, Louis. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 18 déc. 2020. Consultar publicação original
The War of Words: The Language of British Elections / Luke Blaxill
Luke Blaxill / Foto: University of Birmingham /

The War of Words has been trailed in a series of journal articles and book chapters over the last decade, so some readers will already be familiar with the techniques involved, and a number of the more striking reinterpretations the book offers. But having everything presented together—and supported by an imposing array of statistical tables (36) and figures (44), a ‘technical glossary’, and 68 pages of methodological and statistical appendices—lends the research a powerful cumulative effect. As this suggests, the volume’s embrace of digital methods goes well beyond the searches for ‘hits’ on particular keywords, and the Google Ngrams, which are already part of the historian’s armoury. What does the book mean to do? Leia Mais
The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884–1935): Faith – Workers and Race before Liberation Theology | Ricardo Cubas Ramacciotti
O livro “The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884-1935): Faith, Workers, and Race before Liberation Theology”, deRicardo D. Cubas Ramacciotti, publicado em 2018, chegou em boa hora. Abrange uma temática importante para o campo dos estudos sobre a história do catolicismo na América Latina na virada do século XIX para o XX.
Destacamos, ainda, a alta relevância que os temas relacionados à relação entre religião e política têm tido nas últimas décadas. Não se trata mais tão somente de conflitos localizados, na Irlanda, na Palestina, nos Balcãs, como o noticiário internacional tornara rotineiros no último quartel do século XX. Para compreender e analisar a conjuntura política internacional, nacional ou regional tornou-se indispensável nos despirmos das fantasias iluministas. As interpretações iluministas consideraram os espectros da irracionalidade produzidos por séculos de predominância da dominação religiosa e da sacralização do poder como superados, dado o avanço do desencantamento do mundo.
À relevância da obra que apresentamos aos leitores de Almanack, junte-se a qualidade de sua edição, publicado na coleção Religion in the Americas Series da prestigiada editora Brill, criada em 1683 em Lieden, nos Países Baixos, e que tem sede também em Boston, nos EUA [3]. Em português tem por título: “A política da religião e a ascensão do catolicismo social no Peru (1884-1935): Fé, Operários e Raça antes da Teologia da Libertação”. Tendo realizado estudos de mestrado e doutorado na Universidade de Cambridge na Inglaterra, o historiador havia feito sua graduação em História na Universidade Católica do Peru. Atualmente, é professor associado na Universidad de los Andes, em Santiago do Chile.
Ricardo Cubas optou pela metodologia e pelas técnicas de pesquisa da história das ideias (selecionando e organizando conteúdos temáticos). Estamos diante de um livro potente, que cobre uma lacuna para os estudos da história do pensamento católico na América Latina. E, diga-se de passagem, “Latina”, porque constituía a América que rezava em latim, na percepção dos maçons das lojas de Londres e da Filadélfia, tão atuantes que foram nos processos de independência dos países ao Sul do rio Grande (do México até a Patagônia). A nosso ver, mais importante do que destacar as disputas entre Inglaterra e França pelo espólio dos impérios ibéricos no século XIX, convém atentar para o olhar colonial dos agentes dos novos impérios, que levou os franceses a proclamarem suas afinidades com a latinidade para justificar suas ambições imperialistas. Entretanto, as associações entre a catolicidade da América Latina e o “atraso” e outras desqualificações intelectuais e morais se apresentaram no palco destas disputas e estão a produzir efeitos políticos e ideológicos que ecoam até o tempo presente. [4]
O livro aborda a problemática da relação entre religião e política no contexto mais amplo do conflito entre o catolicismo e os movimentos de secularização da sociedade peruana. Analisa o processo de renovação do mundo católico, face às transformações socioeconômicas da expansão global do capitalismo industrial a partir da década de 1860. A temporalidade enfocada vai de o fim da Guerra do Pacífico (1879-1884) até os anos imediatamente posteriores a crise mundial de 1929 e a queda do regime de Augusto B. Leguía em 1930. Neste período, a formação histórica peruana iniciou um processo de reconstrução nacional caracterizada pela aplicação de novos modelos de crescimento econômico e desenvolvimento urbano.
Entretanto, os processos históricos transnacionais não implicaram tão somente questões referidas à expansão econômica e modernização urbano-industrial. Em toda esta temporalidade abrangida pelo livro em tela, ocorreram disputas entre a reação conservadora (do fundamentalismo católico ultramontano) e o processo de modernização e reforma do catolicismo. Durante o papado de Pio IX (entre 1846-1878) ocorreu uma forte reação conservadora que promoveu a devoção ao Sagrado Coração e estimulou a revivificação [5] da teologia tomista, atualizando o neotomismo das reformas religiosas do século XVI (também conhecido como segunda escolástica). No papado seguinte, Leão XIII promulgou a encíclica Aeterni Patris que, mais do que qualquer outro documento, forneceu uma carta para a atualização histórica do tomismo – o sistema teológico medieval baseado no pensamento de Tomás de Aquino (século XIII) que fora atualizado no século XVI; e que se tornou oficial e tido como sistema filosófico e teológico da Igreja Católica na virada para o século XX. Deveria ser normativo não apenas no treinamento de padres nos seminários da igreja, mas também na educação dos leigos nas universidades. Por outro lado, introduziu na igreja de Roma, através da encíclica Rerum Novarum (de 1891), a reflexão sobre a “questão social”, que convocou os católicos a pensarem e agirem diante do avanço do movimento operário organizado internacionalmente (Associação Internacional dos Trabalhadores, de 1864, e II Internacional Socialista, de 1889, marcada pela reorganização após a forte repressão política aos movimentos operários depois da Comuna de Paris, de 1871). Estavam dadas as condições históricas de avanço e consolidação das duas posições políticas que dividem o campo político do catolicismo romano desde o último quartel do século XIX: o integrismo e o solidarismo.
Temos no livro de Ricardo Cubas um enquadramento da circulação de ideias entre Europa e América Latina, que foi tratada em sua complexidade e abrangência, envolvendo tanto um processo de expansão da internacionalização do capitalismo, quanto uma retomada vigorosa do catolicismo e do tomismo [6], que constitui também um processo inscrito no plano internacional. Afinal, “católico” é sinônimo de “universal”.
O livro de Cubas Ramacciotti analisa como ocorreram mudanças no catolicismo em termos globais e como manifestaram-se no caso peruano, onde a secularização do poder implicou um processo de transição de um governo confessional que proibia a culto público de credos não católicos ao reconhecimento legal de diferentes religiões, especialmente a partir de 1915, e, posterior à separação entre igreja e Estado. Também implicou uma influência eclesiástica decrescente sobre a legislação peruana, especialmente sobre temas relacionados à educação pública e à concepção católica de direito natural, família e casamento. O capítulo dedicado a estas questões está muito bem construído.[7] Ocorreram, ainda, a eliminação de tribunais corporativos especiais para o clero e o deslocamento gradual da Igreja de funções que passaram para o controle estatal, como o registro civil, o bem-estar social e a saúde pública. Outra característica, que não é o foco principal de estudo neste livro, mas está bem colocado no livro, foi a transformação das relações econômicas entre igreja e Estado, incluindo uma expropriação antecipada de algumas propriedades eclesiásticas e uma redução gradual – embora não a eliminação – de certos privilégios fiscais e subsídios públicos à Igreja.
Do ponto de vista sociopolítico, a secularização foi caracterizada pela influência de novos atores: liberais, maçons e positivistas, que, por razões muito diferentes, desafiaram a hegemonia cultural e social do catolicismo no Peru. Por outro lado, os protestantes visavam alcançar maior tolerância religiosa para expandir seus projetos pastorais e educacionais. Marxistas e apristas questionaram as estruturas econômicas e sociais do país como um todo e defendiam uma revolução radical. O livro aborda, portanto, um universo de três tópicos interconectados: a resposta eclesiástica à secularização da política, a revitalização interna da Igreja no Peru e a ascensão do catolicismo social. Paradoxalmente, essa situação permitiu à Igreja promover várias iniciativas pastorais, sociais, educacionais e políticas que, por sua vez, foram fundamentais para preservar e expandir a presença católica na sociedade peruana.
A interpretação de Ricardo Cubas é de que a aplicação do pensamento social católico no Peru teve que ser adaptada à realidade específica do país e apresentou respostas distintas daquelas implementadas na Europa. O livro analisa, assim, uma tendência dentro do catolicismo peruano algumas décadas antes do surgimento da Teologia da Libertação, que foi moldada por diferentes paradigmas teológicos e políticos. Tal situação avançou com uma agenda reformista, mas anti-revolucionária, que abordava a nova política social, incluindo os trabalhadores urbanos e as populações indígenas. Essa agenda englobava uma defesa dos direitos individuais e corporativos de trabalhadores e dos índios contra seus detratores e exploradores. Demandava também mudanças legais e institucionais para proteger esses direitos; iniciativas de bem-estar; uma reavaliação de culturas e línguas nativas; e esforços para integrar as populações indígenas.
Na organização dos capítulos, o livro inicia com informações históricas sobre o regalismo no mundo hispano-americano, de fins do século XVIII, que deu suporte à monarquia católica. Situou o Absolutismo Ilustrado e suas reformas até a independência política, provocando uma crise eclesial que ficou sujeita às pressões da Santa Aliança e tudo que implicou de afirmação da reação conservadora, na América Latina, tanto quanto na Europa.
As Parte II e III do livro são as melhores que o autor nos apresenta, seja pela pesquisa que aparece em sua plenitude na narrativa histórica empreendia pelo autor, seja pelas novidades que aporta. Nelas o livro se desprende da formatação de pesquisa de tese de doutorado que deixava transparecer até então. Os subtítulos são sugestivos: A revivificação católica (The Catholic Revival) [8] e Catolicismo Social (Social Catholicism) [9]. Nesta parte III, não podemos deixar de ressaltar o tratamento dado à criação dos círculos operários [10], uma estratégia global da igreja romana. Paralelamente à formação intelectual do laicato através de uma política educacional, o catolicismo social voltou-se para o operariado dos centros urbanos latino-americanos (no Peru, e no Brasil). [11]
Entre os pontos altos do livro está a forma como Ricardo Cubas pontua numa cadência bem distribuídas as forças políticas divergentes no interior do catolicismo romano. Analisa, por exemplo, o renascimento da educação católica, e aqui estamos traduzindo literalmente a expressão utilizada no original do texto de tese: “The rebirth of Catholic Education”.[12] No Brasil, a historiografia tem usado outra terminologia para referir-se à reforma católica do final do século XIX: recristianização pelo novo esforço de evangelização e repovoamento das diferentes regiões que compõem o país. A nosso ver, esta outra conceituação é mais adequada, pois, de fato, os episódios analisados envolvem a evangelização promovida durante o período colonial e a estratégia de conversão abrangente através dos colégios dos jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas da Europa (que atingiu também as áreas colonizadas nas Américas), no século XVIII, e com o avanço do processo de secularização produzido pela radicalidade da revolução burguesa na França, mas não só, seria demasiado e historicamente impróprio denominar a reforma religiosa de modernização do catolicismo em fins do século XIX de “renascimento da Educação católica”. No Peru, como também no Brasil, ocorreu, desde então, uma pregação religiosa de que o Estado não é capaz de manter escolas públicas de qualidade [13]. De fato, a estratégia tão bem descrita por Ricardo Cubas, para o caso do Peru, mas que também ocorre em outras formações históricas da América Latina, foi o “repovoamento da Igreja”, com a vinda de educadores missionários para criação de colégios confessionais católicos, com motivações claras na direção de formação do laicato urbano, letrado e moderno.[14]
Para o caso do Peru, Ricardo Cubas destaca a força política da Educação católica, tendo em vista uma atuação política diante da separação entre igreja e Estado. Muitos colégios foram criados (tal como no Brasil), e ressalta a importância da Congregação dos Sagrados Corações (de Jesus e de Maria), que chegou no Peru em 188815, sendo muito prestigiada pela elite católica peruana. A Congregação havia sido criada em Paris, na Rue Picpus, em 1800.
Não por acaso, a efervescência política e excelência da produção intelectual peruana neste período é notável, pelas possibilidades de elaboração de uma reflexão marxista original e de peso teórico na pena de José Carlos Mariátegui (em seu livro, “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”, de 1924); tanto quanto a criação de condições históricas para a elaboração mais acabada da Teologia da Libertação de Gustavo Gutiérrez, monge dominicano de ascendência quéchua. Tanto o revolucionário, quanto o teólogo estudaram na mais antiga universidade das Américas, a Universidad Nacional de San Marcos. O livro mais conhecido de Gutiérrez, “A Teologia da Libertação: História, Política e Salvação”, de 1971, responde ao movimento mais amplo emergido no Segundo Pós-Guerra (décadas de 1950-60) que resultou na convocação das conferências episcopais latino-americanas16, cujos primeiros resultados influíram diretamente na inclusão da pauta de justiça social e opção preferencial pelos pobres.
Notas
3. CUBAS RAMACCIOTTI, Ricardo D. The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884–1935): Faith, Workers, and Race before Liberation Theology, Lieden/ Boston: Brill, 2018, 311 p.
4. NEDER, Gizlene; CERQUEIRA FILHO, Gisálio. Sobre o Conceito de América Latina: Uma Proposta para Repercutir nos Festejos do Bicentenário. Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales, v. XII, p. 1-7, 2010.
5. Empregamos aqui a expressão “revivificação” retirada do livro de Carl Schorske: SHCORSKE, Carl. A revivificação medieval e seu conteúdo moderno: Coleridge, Pugin e Disraeli, In Pensando com a História. Indagações na Passagens para o Modernismo, São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 88-107.
6. Temos referido a este movimento de revigoramento do tomismo que avança pelo século XX, como “terceira escolástica”. Nem tanto pela “revivificação” neotomista do medievalismo da reação conservadora e do conservadorismo romântico, mas, sobretudo, pela reforma religiosa de modernização e inclusão da “questão social” no pensamento católico, em sua incidência sobre o campo jurídico. NEDER, Gizlene. Duas Margens. Ideias Jurídicas e Sentimentos Políticos na Passagem à Modernidade no Brasil e em Portugal, Rio de Janeiro: Revan, 2011.
7. Parte I, capítulo 2: The Secularisation Process during the Aristocratic Republic (1884–1919), p. 49-68. O tema é importantíssimo. O debate sobre o casamento civil no Brasil arrastou-se por longos anos onde a confrontação entre o catolicismo ultramontano (que concebia o casamento como um sacramento, indissolúvel) e o catolicismo ilustrado (defensor da modernização do direito de família) criou impasse que resultou no uso dos dispositivos legais das Ordenações do Reino (livro IV, Ordenações Filipinas de 1603) por quase um século depois da independência do país de Portugal (1822) e 27 anos depois da república proclamada. NEDER, Gizlene; CERQUEIRA FILHO, Gisálio. Ideias Jurídicas e Autoridade na Família, Rio de Janeiro: Revan, 2007.
8. CUBAS RAMACCIOTTI, Ricardo D. The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884–1935): Faith, Workers, and Race before Liberation Theology, Parte II, p. 99-168.
9. Ibidem, Parte III, p. 169-200.
10. Ibidem, p. 184.
11. Os círculos operários no Brasil foram pesquisados e interpretados no trabalho pioneiro de Jessie Jane de Sousa Vieira. SOUSA, Jessie Jane Vieira de. Círculos Operários- a Igreja Católica e o mundo do trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: EdUFRJ, 2002.
12. Ibidem, p. 144-145.
13. Ibidem, p. 145.
14. GOMES, Francisco José. Le projet de néo-chrétienté dans le diocèse de Rio de Janeiro de 1869 à 1915. Tese de Doutorado. Toulouse: UTM, 1991. GOMES, Francisco José Silva. De súdito a cidadão: os católicos no Império e na República,.In: MARTINS, Ismênia de Lima; IOKOI, Zilda Márcia Grícoli e SÁ, Rodrigo Patto de. (Orgs.). História e Cidadania. São Paulo: Humanitas Publicações/FFLCH-USP, ANPUH, 1998. pp. 315-326.
15. No Brasil, a Congregação dos Sagrados Corações chegou em 1911.
16. Rio de Janeiro (1955), seguida da de Medellín, Colômbia (1968) e Puebla, no México (1979), as mais importantes.
Referências
CUBAS RAMACCIOTTI, Ricardo D. The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884-1935): Faith, Workers, and Race before Liberation Theology, Lieden/ Boston: Brill, 2018, 311 p.
GOMES, Francisco Jose Silva. De sudito a cidadao: os catolicos no Imperio e na Republica, In: MARTINS, Ismenia de Lima; IOKOI, Zilda Marcia Gricoli e SA, Rodrigo Patto de. (Orgs.). Historia e Cidadania. Sao Paulo: Humanitas Publicacoes/FFLCH-USP, ANPUH, 1998. pp. 315-326.
GOMES, Francisco Jose. Le projet de neo-chretiente dans le diocese de Rio de Janeiro de 1869 a 1915. Tese de Doutorado. Toulouse: UTM, 1991.
NEDER, Gizlene. Duas Margens. Ideias Juridicas e Sentimentos Politicos na Passagem a Modernidade no Brasil e em Portugal, Rio de Janeiro: Revan, 2011.
NEDER, Gizlene; CERQUEIRA FILHO FILHO, Gisalio. Ideias Juridicas e Autoridade na Familia, Rio de Janeiro: Revan, 2007.
NEDER, Gizlene; CERQUEIRA FILHO, Gisalio. Sobre o Conceito de America Latina: Uma Proposta para Repercutir nos Festejos do Bicentenário. Revista Pilquen. Seccion Ciencias Sociales, v. XII, p. 1-7, 2010.
SHCORSKE, Carl. A revivificacao medieval e seu conteudo moderno: Coleridge, Pugin e Disraeli, In Pensando com a Historia. Indagacoes na Passagens para o Modernismo, Sao Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 88-107.
SOUSA, Jessie Jane Vieira de. Circulos Operarios- a Igreja Catolica e o mundo do trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: EdUFRJ, 2002
Gizlene Neder1;2 – Universidade Federal Fluminense (UFF). Niterói – Rio de Janeiro – Brasil. Professora Titular de História da Universidade Federal Fluminense. Pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). E-mail: [email protected]
CUBAS RAMACCIOTTI, Ricardo D. The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884–1935): Faith, Workers, and Race before Liberation Theology. Lieden/ Boston: Brill, 2018. Resenha de: NEDER, Gizlene. Secularização e reforma católica no Peru na virada para o século XX. Almanack, Guarulhos, n.26, 2020. Acessar publicação original [DR]
El Trienio Liberal. Revolución e independencia (1820-1823)
O bicentenário do triênio liberal (1820-1823-2020-2023) espanhol ensejou comemorações e lançamentos menores do que o impacto dos eventos de duzentos anos atrás. Se ninguém mais afirma, como Menéndez Pelayo, que foi um tempo “patológico” na história espanhola [3], a atenção concedida ainda é pequena, principalmente se comparada aos conflitos atlânticos da década anterior.
A “Espanha de Fernando VII” voltou a ser estudada com afinco ao menos desde a célebre obra de Artola, [4] mas o triênio liberal ainda tinha como seu livro mais conhecido um opúsculo do começo da década de 80, a síntese de Alberto Gil Novales [5]. Desde então, houve uma renovação historiográfica gigantesca, principalmente na história política. Ganharam maior fôlego os estudos sobre territórios específicos, sobre a imprensa, novas sociabilidades e, principalmente, aqueles que “desnacionalizavam” os episódios [6].
Dentro dessa perspectiva “internacionalista”, o triênio liberal tem dois atrativos únicos. O primeiro é seu inegável impacto europeu, pois o levantamiento de Riego foi feito numa Europa que, no começo de 1820, era dominada pela Santa Aliança e pelas monarquias restauradas. Ao impulso espanhol, houve também revoluções importantes em Portugal e nos territórios italianos. O segundo é sua faceta atlântica. Se no começo da década de 20 se concretizaram as independências na América, também foi naqueles anos que mais uma vez se colocou em jogo a possibilidade de uma nação atlântica, experiência fundamental tanto para o mundo hispânico quanto para oportuguês [7]:
La revolución española de 1820 tuvo desde el inicio una repercusión que trascendía al espacio peninsular. En primer lugar, porque habiendo estallado en el seno de las tropas reunidas en Andalucía para combatir la insurrección de los territorios de ultramar, su triunfo supuso la paralización de la política de expediciones militares que pretendía devolver los territorios de América a la obediencia de la monarquía española. (…) Y, en segundo lugar, porque el triunfo del movimiento en España colocó en el primer plano de la actualidad el valor de la Constitución de 1812 como instrumento para transformar las monarquías en regímenes liberales. (p. 155)
É justamente no esforço de desnacionalizar o período que a nova obra de Pedro Rújula e Manuel Chust faz sua maior contribuição ao condensar em poucas páginas um apanhado das últimas contribuições historiográficas dos dois lados do Atlântico. A envergadura espacial da obra também resulta, em parte, das trajetórias individuais dos dois autores. Ao passo que Chust tem enveredado pelo tema americano, Rújula é especialista nas questões aragonesas entre o triênio liberal e as guerras carlistas [8].
O resultado é um livro único que atualiza o objetivo de Gil Novales nos anos 80, o de fazer uma obra de referência para os estudos do triênio liberal, agora juntando a questão americana, antes ausente. De fato, não apenas adiciona o tema das independências, mas o toma como um dos mais importantes para definir os rumos do Triênio.
Há um esforço de distanciamento dos antigos preconceitos acerca do Triênio, de ter sido um intervalo liberal de pouca profundidade, com baixa popularidade entre as classes populares e tomado pelo caos das facções. Para isso, enfatiza principalmente a experiência política que significou, extrapolando o caráter parlamentar e difundindo novas culturas políticas tanto entre os liberais – exaltados e moderados [9] – como entre os absolutistas:
el marco constitucional establecido por la revolución de 1820 permitió la aparición de una esfera pública donde los ciudadanos comenzaron a participar según sus posibilidades y sus intereses. El Gobierno moderado hubiera deseado que la política se hiciera en el seno de las instituciones, pero existían otros actores que habían experimentado la posibilidad de actuar en el terreno político y que no estaban dispuestos a renunciar a potenciales parcelas de poder. El debate fue muy intenso. (p. 46)
Como é negada a tese reacionária de que a Constituição de 12 e o primeiro liberalismo eram ideias importadas, exógenas à Espanha, resta aos autores pincelar respostas a questões inevitáveis para o triênio. Por que fracassou? Qual a relação entre os liberais e as independências na América?
A resposta que os autores oferecem para explicar o “fracasso liberal” passa pela atuação do rei Fernando VII e pela reação estrangeira. A tentativa liberal de reformar a monarquia, desde as propostas moderadas de instituir uma segunda câmara, tendo os exemplos ingleses e franceses como mote, até as mais revolucionárias, com as Sociedades Patrióticas e a diminuição do poder da nobreza e da Igreja, criava uma ameaça institucional permanente às monarquias mais absolutistas. Daí que foi justamente a Rússia a dar maior apoio a Fernando VII para abolir qualquer tipo de Constituição. Ao mesmo tempo, a invasão francesa de 1823 servia para reposicionar a monarquia bourbônica na balança internacional de poder, enfraquecida como estava após as derrotas napoleônicas.
É perceptível que a resposta de Chust e Rújula nega a própria ideia de “fracasso liberal”. O triênio acabou não por seus erros internos, mas por um verdadeiro golpe reacionário europeu. A inversão procedida pelos autores também é uma negação da historiografia que visava mais as questões socioeconômicas da época, muitas vezes crítica à ineficiência prática das medidas liberais. [10]
Quanto à questão americana, os autores também se alinham com a nova história política, principalmente na negação das nacionalidades pré-existentes [11]. Logo, não se poderia explicar as independências como luta da nação mexicana para se libertar da Espanha. Com a tomada do poder pelos liberais, os autores também negam que houvesse uma arbitrariedade por parte da Espanha em relação aos americanos, visto que a igualdade estava concedida pela Constituição, que transformava o Império num gigantesco Estado-Nação. Essa tese igualitária tem mais oponentes historiográficos, como Portillo Váldes.[12]
Recusando as explicações tradicionais, os autores mais uma vez se voltam às questões políticas, pensando principalmente o caso novohispano, o de maior repercussão ao longo do Triênio e também aquele sobre o qual Manuel Chust tem mais familiaridade.[13] Com base na análise do Plano de Iguala [14], a conclusão do livro é que um dos principais motivos para a independência foi o caráter revolucionário da Constituição de Cádis, que tirava poder da elite Criolla para distribuir a outros setores sociais, com destaque para o voto indígena. Sendo assim, a independência ganhava contornos moderados e até reacionários, em perspectiva já ensaiada também para o caso brasileiro:
Para la insurgencia fue mucho más difícil enfrentarse políticamente al liberalismo doceañista que al monarquismo absolutista, dado que ahora podían participar de los mismos presupuestos ideológicos, pero no políticos ni nacionales. Y además estaban los intereses particulares de las diversas fracciones del criollismo, cada vez más proclives a la independencia. No porque esta solo estaba ganando por las armas, sino porque su creciente moderantismo le podía asegurar un control social y político que el liberalismo doceañista podía poner en duda al ser más progresista en bastantes medidas políticas y sociales como, por ejemplo, dar voto a los indígenas universalmente (p. 112).
Livro de entrada nos estudos do período e de síntese de uma nova perspectiva política, El Trienio Liberal é uma defesa do período do liberalismo espanhol do início do século XIX. É notável a simpatia dos autores com os protagonistas estudados, como se escrever a história deles fosse também escrever a defesa de sua luta. Poucas épocas hispânicas foram vividas tão passionalmente quanto aqueles anos, daí que esse resgate histórico não deixa de ser um tributo àqueles sonhos e ilusões.
Notas
3MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino. Historia de los heterodoxos españoles. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003, p. 1362. Vide DURÁN LÓPEZ, Fernando. “Menéndez Pelayo contra Blanco White, o la heterodoxia como patología.” TEJA, Ramón; ACERBI, Silvia. (org.). “Historia de los heterodoxos Españoles”. Estudios. Santander: PubliCan, Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2012.
4. ARTOLA, Miguel. La España de Fernando VII. Madri: Espasa, 1999 [1968].
5. GIL NOVALES, Alberto. El trienio liberal. Madri: Siglo XXI, 1980.
6. ROCA VERNET, Jordi. Política, liberalisme i revolució. Barcelona, 1820-1823. 840 f. Tese (Doutorado em História Moderna e Contemporânea). Universitat autònoma de Barcelona, Barcelona, 2007; El argonauta español, nº 17, 2020. Exemplar dedicado a “El trienio liberal en la prensa contemporánea (1820-1823); RUIZ JIMÉNEZ, Marta. El liberalismo exaltado. La confederación de comuneros españoles durante el trienio liberal. Madri: Fundamentos, 2007. LA PARRA, Emílio. RAMÍREZ ALEDÓN, Germán (coord.) El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada. Valencia: Colección literaria, 2003.
7. BERBEL, Márcia Regina. “A constituição espanhola no mundo luso-americano (1820-1823). Revista de Indias, vol. LXVIII, nº 242, 2008.
8. HUST, Manuel. La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz. Valencia: Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia. Fundación Instituto Historia Social/ Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1999; Pedro Victor Rújula. Constitución o muerte: el Trienio Liberal y los levantamientos realistas en Aragón (1820-1823). Zaragoza: Edizións de l’Astral, 2000.
9. pesar dos nomes já consagrados, os estudos específicos sobre cada um desses “liberalismos”, inclusive para apontar seus muitos pontos de fricção internos, são bastante recentes. Vide MORANGE, Claude. En los Orígenes del moderantismo decimonónico. El Censor (1820-1822): promotores, doctrina e índice. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2019; e BUSTOS, Sophie. La nación no es patrimonio de nadie. El liberalismo exaltado en el Madrid del trienio liberal (1820-1823): Cortes, Gobierno y Opinión Pública. Tese (Doutorado em História). Universidad Autónoma de Madrid, Madri, 2017.
10. A crítica vinha desde os próprios liberais exilados, passando depois por Marx e sua famosa análise: “en la época de las Cortes, España se encontró dividida en dos partes. En la Isla de León, ideas sin acción; en el resto de España, acción sin ideas”. New York Daily Tribune, 27/10/1854. Disponível em MARX, Karl; ENGELES, Friederich. La Revolución española. Artículos y crónicas, 1854-1873. Madri: AKAL, 2017. A crítica foi atualizada para os termos mais técnicos da historiografia na influente visão de FONTANA, Josep. La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1823. Barcelona: Crítica, 1979.
11. As referências para o assunto, por vezes em vieses muito diferentes, são GUERRA, François-Xavier. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Cidade do México: Fondo de Cultura Económica e Fundación MAPFRE, 1992; e RODRÍGUEZ, Jaime. The independence of Spanish America. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
12. PORTILLO VÁLDES, José María. Crisis Atlántica – Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía. Madri: Marcial Pons Historia, 2006.
13. Embora Chust tenha organizado livros sobre a independência em toda a América, nos artigos costuma trabalhar mais com a do México, como emCHUST, Manuel; SERRANO, José Antonio. “El ocaso de la monarquía: conflictos, guerra y liberalismo en Nueva España. Veracruz, 1750-1820”. Ayer, nº 74, 2009.
14. Sobre o Plan de Iguala, em abordagem também bi-hemisférica, vide FRASQUET, Ivan. Las caras del águila. Del liberalismo gaditano a la república federal mexicana. Castellón: Universitat Jaume I – Instituto Mora – Universidad Autónoma de México – Universidad Veracruzana, 2008.
Referências
ARTOLA, Miguel. La Espana de Fernando VII. Madri: Espasa, 1999.
BERBEL, Marcia Regina. “A constituicao espanhola no mundo luso-americano (1820-1823). Revista de Indias, vol. LXVIII, nº 242, 2008.
BUSTOS, Sophie. La nacion no es patrimonio de nadie. El liberalismo exaltado en el Madrid del trienio liberal (1820-1823): Cortes, Gobierno y Opinion Publica. Tese (Doutorado em Historia). Universidad Autonoma de Madrid, Madri, 2017.
FONTANA, Josep. La crisis del Antiguo Regimen, 1808-1823. Barcelona: Critica, 1979.
GIL NOVALES, Alberto. El trienio liberal. Madri: Siglo XXI, 1980.
GUERRA, Francois-Xavier. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispanicas. Cidade do Mexico: Fondo de Cultura Economica e Fundacion MAPFRE, 1992;
LA PARRA, Emílio RAMIREZ, ALEDON, German(coord.) El primer liberalismo: Espana y Europa, una perspectiva comparada. Valencia: Coleccion literaria, 2003.
MORANGE, Claude. En los Origenes del moderantismo decimononico. El Censor (1820-1822): promotores, doctrina e indice. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2019.
PORTILLO VALDES, Jose Maria. Crisis Atlantica – Autonomia e independencia en la crisis de la monarquía. Madri: Marcial Pons Historia, 2006.
ROCA VERNET, Jordi. Política, liberalisme i revolucio. Barcelona, 1820-1823. 840 f. Tese (Doutorado em Historia Moderna e Contemporanea). Universitat autonoma de Barcelona, Barcelona, 2007.
RODRIGUEZ, Jaime. The independence of Spanish America. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
RUIZ JIMENEZ, Marta. El liberalismo exaltado. La confederacion de comuneros espanoles durante el trienio liberal. Madri: Fundamentos, 2007.
Lucas Soares Chnaiderman1;2 – Possui graduação em História – Universidade de São Paulo, mestrado em história pela mesma universidade (2015) e atualmente cursa o doutorado. Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
RÚJULA, Pedro; CHUST, Manuel. El Trienio Liberal. Revolución e independencia (1820-1823). Madri: Catarata, 2020. Resenha de: CHNAIDERMAN, Lucas Soares. Em defesa da experiência liberal. Almanack, Guarulhos, n.25, 2020. Acessar publicação original [DR]
Regalismo no Brasil colonial: a Coroa portuguesa e a Ordem do Carmo – Rio de Janeiro 1750-1808 | Leandro F. L. Silva
Superando a tradicional concentração de estudos nas atividades da Companhia de Jesus, as historiografias portuguesa e brasileira produziram nas últimas décadas uma quantidade significativa de trabalhos sobre a atuação de outras ordens religiosas na Época Moderna.[3] Apesar disso, no que tange ao impacto das medidas adotadas na segunda metade do século XVIII para reforçar a autoridade da Coroa face às corporações regulares, o caso paradigmático da expulsão dos jesuítas dos territórios lusitanos em 1759 continua a ser visto como evento quase exclusivo da prática regalista naquela esfera. Nesse quadro, o trabalho de Leandro Ferreira Lima da Silva oferece novas luzes para a compreensão mais ampla das medidas de controle da Coroa portuguesa sobre as ordens religiosas daquele período. Defendida originalmente em 2013 como Dissertação de Mestrado no Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo, a obra foi contemplada em 2016 com o prêmio História Social do referido Programa.
Duas características se destacam na investigação do autor: a abrangência da análise e o caráter minucioso da reconstituição de diferentes contextos que atravessam o período em exame. A consequência é o ambicioso plano da obra, desdobrando-se em quinze capítulos divididos em cinco partes, num total de 556 páginas. A matéria-prima para a análise proveio de diferentes acervos documentais. Devido à perda de grande parte da documentação da antiga Província Carmelitana Fluminense, o autor montou um repertório documental procurando recompor um quebra-cabeça cujas fontes estavam dispersas em arquivos tão distintos e distantes como o Arquivo Central da Província Carmelitana de Santo Elias, em Belo Horizonte; o Arquivo Nacional, o Arquivo Geral da Cidade e o Arquivo da Cúria Metropolitana, no Rio de Janeiro; e diferentes fundos documentais digitalizados do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. A impressão que fica é que o autor praticamente esgotou as fontes disponíveis no Brasil, restando por analisar apenas os arquivos europeus.
A historiografia também recebeu cobertura extensiva no livro. Dialogando com as obras de Evergton Sales Souza e José Pedro Paiva, para mencionar apenas alguns, Leandro Silva se mostra atualizado com relação à produção luso-brasileira sobre as questões da Igreja católica, da Ilustração, da Coroa e da colonização portuguesas no século XVIII. Com base na historiografia, Leandro Silva define o regalismo praticado nos domínios portugueses na segunda metade do século XVIII segundo uma dupla dimensão: a subordinação da Igreja e do clero aos poderes temporais da Coroa, “erradicando privilégios e imunidades”; e a manutenção do catolicismo como religião oficial do Estado, livrando-se, não obstante, das pressões da Santa Sé (p. 27). O tema da reforma regalista na Província do Carmo do Rio de Janeiro não é novo na historiografia. Inaugurado por Francisco Benedetti Filho, foi continuado por Sandra Rita Molina, cuja leitura o rigoroso escrutínio do autor deixou escapar.[4] As questões da administração dos bens da Província, da limitação do quantitativo de religiosos e do relaxamento moral dos carmelitas atravessam as três investigações sobre o tema. Mais recentemente, outro trabalho de Sandra Molina estendeu a análise dos referidos pontos até o final do período imperial, mostrando a continuidade da política regalista do Império do Brasil em relação às medidas adotadas anteriormente pela Coroa portuguesa.[5]
O diálogo com a historiografia internacional é relativamente pequeno na obra de Leandro Silva. Em que pese a lembrança do importante livro coletivo organizado por Ulrich Lehner e Michael Print, como também do já clássico estudo de Samuel Miller, o trabalho carece de referências mais amplas sobre o impacto de medidas de teor regalista que, adotadas por diferentes monarquias europeias na segunda metade do Setecentos, tiveram consequências diretas sobre as atividades das ordens religiosas em seus territórios.[6] Por fim, não existe a tentativa de efetuar um balanço historiográfico das mudanças estimuladas pelas reformas bourbônicas no campo da administração eclesiástica dos domínios hispano-americanos, cujo exame comparativo poderia constituir uma frutífera via de análise para o autor.Mesmo assim, o trabalho possui abrangência e profundidade incomuns para um projeto desenvolvido no âmbito do Mestrado. É o momento de se retomar essa dupla característica, aproximando-se agora do objeto. Trata-se de uma pesquisa que tem como objetivo assinalar os efeitos de diferentes medidas regalistas tomadas pela Coroa portuguesa com relação à Província do Carmo do Rio de Janeiro. Fundada em 1720, a Província do Carmo do Rio de Janeiro constituía desde 1595 uma vice-província que se encontrava até então dependente da Província de Portugal. A fundação fluminense abrangia os conventos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Angra dos Reis, de Santos, de São Paulo e de Mogi das Cruzes, bem como o hospício de Itu. Em informação remetida à Corte em 1763, o bispo do Rio de Janeiro denunciava que a própria fundação da Província ocorrera “com o dinheiro angariado através de negociações nas Minas e em outras regiões do Brasil”, com cujos recursos fr. Francisco da Purificação, o primeiro provincial, “soube merecer o agrado dos religiosos de Roma, onde tudo se compra” (p. 146, grifos do autor).
O recorte necessariamente monográfico da pesquisa não impede comparações com outros contextos. O autor traz à análise a recepção de medidas de teor análogo ocorridas nas províncias do Carmo da Bahia e na reformada de Pernambuco. Paralelamente, no que tange à capitania do Rio de Janeiro, o autor discute seu tema à luz de outros quadros, como as medidas de reforma empreendidas pela Coroa junto aos frades capuchos da Província Franciscana da Imaculada Conceição e o papel de carmelitas e franciscanos no mencionado território após o afastamento dos missionários jesuítas. A primeira parte da obra, abrangendo um único capítulo intitulado “A mentalidade regalista setecentista e o clero regular no Império Português”, anuncia o caráter amplo da abordagem do autor. Nessa parte, busca em textos basilares da Ilustração portuguesa, como o Testamento político de D. Luís da Cunha, um conjunto de argumentos que depois seriam postos em prática, ao longo dos reinados de D. José I e de D. Maria I, para o controle das corporações regulares. No discurso dos estrangeirados, a ênfase recai sobre o acúmulo de bens efetuado pelas ordens religiosas, quase sempre pela via de legados testamentários; o ingresso muito numeroso de noviços nas fundações conventuais; a ociosidade dos religiosos; as isenções relativas aos poderes seculares; e a falta de observância das regras. No processo da reforma dos frades carmelitas do Rio de Janeiro, tais pontos reapareceram com força nas ações das autoridades da Província.
A fina reconstituição dos contextos representa o que há de mais valioso no trabalho de Leandro Silva. A segunda parte, a maior da obra e que abrange seis capítulos, intitula-se “A Província de Nossa Senhora do Carmo do Rio de Janeiro e o ‘tímido’ regalismo pombalino (1750-1778)”. Na verdade, o material tratado no capítulo é mais amplo do que o indicado no recorte cronológico. O autor examina inicialmente a sublevação ocorrida no Convento do Carmo do Rio de Janeiro em 1743, quando lutas de facções davam o tom da administração da Província, dividindo ocupantes dos cargos em dois grupos opostos: os “filhos do Rio”, que abrangiam os religiosos naturais da referida capitania, e os “filhos de fora”, que, em sua maior parte, agrupavam os religiosos nascidos em Portugal e nas demais capitanias da Colônia (p. 106). Ao longo da segunda parte, o autor desenvolve um argumento muito convincente. Apesar da existência de sérios conflitos na Ordem, e da edição de numerosas medidas que, idealizadas por Sebastião José de Carvalho e Melo na década de 1760, destinavam-se a limitar a entrada de noviços e a diminuir o volume dos bens que ingressavam nas corporações regulares, ao longo do reinado de D. José I as diferentes autoridades coloniais não tomaram medidas rígidas de controle sobre os frades carmelitas do Rio de Janeiro. No contexto em pauta, os poderes coloniais sediados na capitania encontravam-se inteiramente envolvidos nas disputas de limites com a Espanha na região sul da Colônia, que foram apenas solucionados com o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777.
A terceira parte da obra abrange dois capítulos. Conforme o seu argumento principal, “se o consulado pombalino deu embasamento teórico às políticas regalistas e aos poderes dos bispos na Igreja nacional e frente à Santa Sé, no reinado mariano a Coroa aprofundou essas posições”. (p. 378). Seguindo, assim, as tendências da historiografia mais recente, o autor não identificou mudanças significativas na política regalista após a saída do Marquês de Pombal, em 1777. Além disso, as autoridades coloniais encontravam-se na ocasião já desembaraçadas dos problemas nas fronteiras do sul. Após a suspensão das eleições da Província em 1783, o vice-rei do Estado do Brasil apresentou à rainha D. Maria I um dossiê, “para fazer conceito do miserável estado em que se acha uma Corporação Religiosa que só serve de descrédito à Religião e de peso e mau exemplo ao Estado” (p. 259). No documento, que pautou os rumos da reforma que seria iniciada dois anos depois, acusa-se uma sucessiva quebra das regras religiosas e dos fundamentos da economia da Província: religiosos adquiriam em Roma ou em Lisboa privilégios honoríficos, afastando-se dos atos litúrgicos e do trabalho em comum; possuíam grande número de escravos pessoais para lhes servir, em contrariedade aos votos de pobreza; e tinham até concubinas, por vezes estabelecidas publicamente em residências próximas às sedes dos conventos, contrariando os votos de castidade. O vasto patrimônio imobiliário da Província, constituído por dezenas de moradias urbanas e fazendas, era mal administrado, chegando ao ponto de não produzir alimento suficiente para os próprios religiosos.
A quarta parte da obra estende-se por cinco capítulos. Após o envio da denúncia do vice-rei à Corte, D. José Joaquim Mascarenhas Castelo Branco, o bispo do Rio de Janeiro, foi nomedo como visitador e reformador da Província do Carmo. A atuação reformadora deste se direcionou principalmente a combater as irregularidades já apontadas pelo vice-rei. Suas ações visaram aprimorar o rendimento econômico das fazendas dos conventos, combater a concessão de distinções pessoais de caráter honorífico e regulamentar as atividades da comunidade, obrigando os frades à celebração dos atos litúrgicos e à assistência no refeitório coletivo. Além da intervenção direta de poderes externos à Ordem, a reforma na Província do Carmo do Rio de Janeiro se distinguiu por sua longa duração se comparada a iniciativas semelhantes introduzidas em outras ordens regulares. Após a resistência dos religiosos, e em aliança com poderes locais, como a Câmara do Rio de Janeiro, a reforma foi encerrada em 1800. A atuação do bispo promoveu um verdadeiro expurgo nos quadros da Província. Seu quadro de religiosos passou de 180 para 47 entre 1780 e 1799.Da perspectiva metodológica, a obra leva em conta que as inúmeras cartas produzidas pelos agentes administrativos envolvidos na reforma da Província Carmelita Fluminense – tais como o bispo do Rio de Janeiro, o vice-rei, os frades representantes da Província, o Senado da Câmara e o Conselho Ultramarino – podem ser vistas simultaneamente como instrumento de dominação da Coroa e como veículo “de negociação de súditos instalados nos mais longínquos pontos do ultramar” (p. 47). Recentemente, essa linha de estudos se revelou importante para um expressivo conjunto de historiadores, que sistematizou o funcionamento dos canais de comunicação política que uniam os diferentes poderes em funcionamento na monarquia portuguesa, nos dois lados do Atlântico.[7]
Introduzida na América Portuguesa em 1580 para cuidar da catequização do gentio e atender demandas espirituais dos colonos moradores na capitania de Pernambuco8, a Ordem do Carmo estabelecida no Rio de Janeiro não foi mais considerada capaz de realizar aquelas tarefas na segunda metade do século XVIII. Analisando os avanços e recuos das iniciativas de reforma, as relações estabelecidas entre os agentes seculares e eclesiásticos, bem como as bases teológicas e canônicas que fundamentaram a iniciativa da Coroa, a obra de Leandro Silva merece figurar ao lado de outras que constituem pontos de partida obrigatórios para o tema, como o clássico trabalho de Caio César Boschi, ou a recente coletânea organizada por Francisco Falcon e Cláudia Rodrigues.9
Notas
3. Com relação à América Portuguesa, a título ilustrativo: AMORIM, Maria Adelina. Os franciscanos no Grão-Pará e no Maranhão: missão e cultura na primeira metade de Seiscentos. Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa: Universidade Católica Portuguesa, 2005; SOUZA, Jorge Victor de Araújo. Para além do claustro: uma história social da inserção beneditina na América portuguesa, c. 1580 – c. 1690. Niterói: Eduff, 2014.
4. BENEDETTI FILHO, Francisco. A reforma da Província Carmelitana Fluminense (1785-1800). 1990. 190f. Dissertação (Mestrado em História), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990. MOLINA, Sandra Rita. (Des)obediência, barganha e confronto: a luta da Província Carmelita Fluminense pela sobrevivência (1780-1836). 1998. 338f. Dissertação (Mestrado em História), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1998.
5. MOLINA, Sandra Rita. A morte da tradição: a Ordem do Carmo e os escravos da Santa contra o Império do Brasil (1850-1889). Jundiaí: Paco Editorial, 2016. Esta obra foi resenhada por BARBI, Rafael José. Catolicismo, escravidão e a resistência ao Império: Um outro olhar. Almanack, n. 15, 2017, pp. 366-370.
6. LEHNER, Ulrich L.; PRINT, Michael (Dir.). A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe. Leiden: Brill, 2010; MILLER, Samuel J. Portugal and Rome (c. 1748-1830). An Aspect of the Catholic Enlightenment. Roma: Universitá Gregoriana Editrice, 1978; BEALES, Derek. Prosperity and Plun der. European Catholic Monasteries in the Age of Revolution, 1650-1815. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
7. FRAGOSO, João; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Um Reino e suas repúblicas no Atlântico: comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.
8. HONOR, André Cabral. Envio dos carmelitas à América portuguesa em 1580: a carta de Frei João Cayado como diretriz de atuação. Tempo, v. 20, 2014, p. 1-19.
9. BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder: irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: Ática, 1986; FALCON, Francisco; RODRIGUES, Cláudia (Orgs.). A “época pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: FGV: Faperj, 2015.
Referências
AMORIM, Maria Adelina. Os franciscanos no Grao-Para e no Maranhao: missao e cultura na primeira metade de Seiscentos. Lisboa: Centro de Estudos de Historia Religiosa: Universidade Catolica Portuguesa, 2005.
BARBI, Rafael Jose. Catolicismo, escravidao e a resistência ao Imperio: Um outro olhar. Almanack, n. 15, 2017, pp. 366-370.
BEALES, Derek. Prosperity and Plunder. European Catholic Monasteries in the Age of Revolution, 1650-1815. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
BENEDETTI FILHO, Francisco. A reforma da Provincia Carmelitana Fluminense (1785-1800). 1990. 190f. Dissertacao (Mestrado em Historia), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 1990.
BOSCHI, Caio Cesar. Os leigos e o poder: irmandades leigas e politica colonizadora em Minas Gerais. Sao Paulo: Atica, 1986.
FALCON, Francisco; RODRIGUES, Claudia (Orgs.). A “epoca pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: FGV: Faperj, 2015.
FRAGOSO, Joao; MONTEIRO, Nuno Goncalo. Um Reino e suas republicas no Atlântico: comunicacoes politicas entre Portugal, Brasil e Angola nos seculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2017.
HONOR, Andre Cabral. Envio dos carmelitas a America portuguesa em 1580: a carta de Frei Joao Cayado como diretriz de atuacao. Tempo, v. 20, 2014, p. 1-19.
LEHNER, Ulrich L.; PRINT, Michael (Dir.). A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe. Leiden: Brill, 2010.
MILLER, Samuel J. Portugal and Rome (c. 1748-1830). An Aspect of the Catholic Enlightenment. Roma: Universita Gregoriana Editrice, 1978.
MOLINA, Sandra Rita. A morte da tradicao: a Ordem do Carmo e os escravos da Santa contra o Imperio do Brasil (1850-1889). Jundiai: Paco Editorial, 2016.
MOLINA, Sandra Rita. (Des)obediência, barganha e confronto: a luta da Provincia Carmelita Fluminense pela sobrevivência (1780-1836). 1998. 338f. Dissertacao (Mestrado em Historia), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1998.
SOUZA, Jorge Victor de Araujo. Para alem do claustro: uma historia social da insercao beneditina na America portuguesa, c. 1580 – c. 1690. Niteroi: Eduff, 2014.
William de Souza Martins – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro – RJ – Brasil. Professor Associado da Área de História Moderna do Instituto de História da UFRJ, onde atualmente ocupa a função de vice-diretor. Membro permanente do Programa de Pós-graduação em História Social da UFRJ, atuando como editor associado da Topoi: Revista de História. Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (2001) com a tese Membros do corpo místico: ordens terceiras no Rio de Janeiro (c. 1700 – 1822), que foi publicada em 2009 pela Edusp. Participa dos grupos de pesquisa Ecclesia (UNIRIO), ART (Antigo Regime nos Trópícos – UFRJ) e Sacralidades (UFRJ).
SILVA, Leandro Ferreira Lima da. Regalismo no Brasil colonial: a Coroa portuguesa e a Ordem do Carmo, Rio de Janeiro, 1750-1808. São Paulo: Intermeios/USP; Brasília: CAPES, 2018. Resenha de: MARTINS, William de Souza. Monarquia portuguesa e política regalista: ordens religiosas no final do setecentos. Almanack, Guarulhos, n.25, 2020. Acessar publicação original [DR]
Histoire des élèves en France. Volume 1. Parcours scolaires, genre et inégalités (XVIe-XXe siècles) – CONDETTE; CASTAGNET LARS; Histoire des élèves en France. Volume 2. Ordres, désordres et engagements (XVIe-XXe siècles) – KROP; LEMBRÉ (APHG)
CONDETTE, Jean-François; CASTAGNET-LARS, Véronique (dir.). Histoire des élèves en France. Volume 1. Parcours scolaires, genre et inégalités (XVIe-XXe siècles). Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », 2020. 566p. KROP, Jérôme; LEMBRÉ, Stéphane (dir.). Histoire des élèves en France. Volume 2. Ordres, désordres et engagements (XVIe-XXe siècles). Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », 2020. 376p. Resenha de: BELLA, Sihem. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 28 août 2020. Disponível em: < https://www.aphg.fr/Histoire-des-eleves-A-propos-des-deux-volumes-diriges-par-J-F-Condette-V>Consultado em 11 jan. 2021.
Les deux volumes de l’Histoire des élèves en France, respectivement dirigés par Jean-François Condette, Véronique Castagnet-Lars pour le premier volume et Jérôme Krop et Stéphane Lembré pour le second volume, sont parus aux presses universitaires du Septentrion en juin 2020. Ils regroupent des contributions fondées sur des communications prononcées en 2016 lors de journées d’étude à l’université d’Artois. Ils posent des jalons essentiels en histoire de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse dans le contexte scolaire, et renouvellent l’historiographie des élèves aux périodes moderne et contemporaine en France.
Placer les élèves au centre : ainsi s’affirme d’emblée l’ambition des vingt-cinq contributeurs de l’Histoire des élèves en France. Jalonnées par de nombreuses études de cas s’inscrivant dans le temps long (du XVIe au XXe siècle), ces ouvrages constituent une somme riche pour envisager les élèves comme des acteurs à part entière du système éducatif français. Les deux volumes sont organisés thématiquement, privilégiant ainsi une perspective diachronique ; le premier volume porte sur les parcours scolaires, le genre et les inégalités, alors que le second volume s’intéresse davantage aux questions d’ordres, de désordres et d’engagements. Une bibliographie détaillée et organisée thématiquement est adjointe aux volumes, constituant un excellent support pour explorer l’historiographie des élèves. La construction rigoureuse de l’ouvrage et la clarté des introductions et des conclusions rendent la lecture aisée et les liens entre les contributions limpides. L’ensemble du territoire national français est a priori concerné, avec par exemple des études portant sur les petites écoles de Lyon aux XVIIe et XVIIIe siècles (Aurélie Perret, volume 1, p. 35), les lycées parisiens au tournant des XIXe et XXe siècles (Stéphanie Dauphin, volume 1, p. 409) aussi bien que sur les écoles primaires rurales du Nord et du Pas-de-Calais au XIXe siècle (Séverine Parayre, volume 2, p. 149). L’accent est cependant mis sur le milieu urbain et sur la France métropolitaine, sans propos spécifique sur les élèves de l’empire colonial ou de l’outre-mer. Les contributions sont de mêmes moins nombreuses sur l’Ancien Régime et la Révolution française que sur le XIXe et le XXe siècle.
Les contributions du premier volume sont principalement consacrées à la description des déterminismes sociaux, économiques, culturels ou encore géographiques dont les élèves ont été les objets. La liberté de choix des élèves et de leur famille est également envisagée. Éminemment politiques, les enjeux éducatifs sont eux-mêmes en prise, de près ou de loin, avec les événements agitant la société de leur temps. Les élèves, contrairement aux femmes par exemple, ne sont pas des oubliés de l’histoire à proprement parler ; ils sont cependant souvent relégués à l’arrière-plan, considérés comme de simples personnages et essentialisés (en atteste l’emploi récurrent du singulier « l’élève »). Le biais des sources existantes, en grande partie produites par l’institution scolaire, laissent peu de place aux individualités et à la notion de parcours. Les statistiques et considérations générales de l’administration doivent ainsi être contrebalancées par les travaux, récits et témoignages d’élèves ou encore par les registres d’inscription ou de sanction. L’exploration de représentations répandues et persistantes doit nécessairement être menée selon les auteurs : l’opposition manichéenne entre bons et mauvais élèves, les stéréotypes genrés ou encore les figures stéréotypées comme celle du boursier méritant doivent être nuancés. Ainsi les historiens des élèves ont la possibilité de s’appuyer sur des récits littéraires, comme ceux de Marcel Pagnol exaltant la figure romanesque du boursier, qui sont des sources importantes pour reconstituer un système scolaire ségrégué. Outre la question des représentations à dépasser, la question de la définition même de l’élève pose question. La difficulté du critère de l’âge est par exemple relevée par les auteurs : à partir de quand et jusqu’à quand est-on considéré(e) comme élève ? Carole Christen livre par exemple une contribution sur les élèves adultes, déconstruisant certains préjugés à cet égard (volume 1, p. 345).
De même, le premier volume s’interroge sur la place à accorder aux choix personnels et familiaux dans les scolarités des élèves et à la place des déterminismes et des solutions mises en place par l’institution pour les réduire. Il s’organise en trois parties : la première porte sur les logiques institutionnelles qui organisent le système éducatif, la deuxième sur une approche sociologique et spatiale des trajectoires des élèves et la troisième sur l’expérience scolaire des élèves. Ne pouvant rendre compte de la totalité des contributions, deux ont retenu notre attention dans le volume 1 : celle de Jean-François Condette sur la lutte contre l’absentéisme à partir du cas des écoles primaires du Nord et du Pas-de-Calais entre 1882 et 1914 (p. 151) et celle de Patricia Legris sur la séparation des sexes à partir du cas des écoles normales primaires des Ardennes entre 1945 et 1969 (p. 459).
Jean-François Condette étudie l’absentéisme dans les écoles primaires du Nord et du Pas-de-Calais entre 1882 et 1914 en envisageant les formes et les motifs de ce qui est pour lui une remise en cause de l’école républicaine, ainsi que les stratégies des administrations pour y mettre fin. Son étude s’appuie notamment sur des données statistiques exhaustives, des images d’Épinal donnant à voir des élèves ou encore des rapports d’incident. Malgré la loi Ferry du 28 mars 1882, l’absentéisme persiste en effet dans la région, notamment parce que les élèves restent associés au monde du travail dans les milieux précaires. D’autres raisons sont avancées par l’historien : les raisons médicales avec la persistance des maladies et épidémies dans les mêmes milieux, ou encore l’influence du contexte politique. En effet, le conflit idéologique entre école publique laïque et école privée catholique a donné lieu à de véritables guerres scolaires, Jean-François Condette évoquant particulièrement les « guerres de manuels » (p. 182). L’enlisement des projets de lois de lutte contre l’absentéisme s’explique en partie par la guerre entre les deux écoles.
Patricia Legris a quant à elle étudié la séparation des sexes à partir du cas des écoles normales primaires des Ardennes entre 1945 et 1969, en se concentrant de fait sur les élites des classes populaires et moyennes. Selon elle, la remise en marche des écoles normales primaires ayant été difficile après la guerre, le caractère genré des formations persiste de manière très marquée alors que la mixité est toujours plus répandue dans le reste du système scolaire. Si quelques activités extrascolaires sont mixtes, comme le théâtre, celles-ci sont l’objet de chaperonnage par les professeurs qui veillent notamment à réprimer farouchement la sexualité des élèves. La persistance de cette non-mixité s’explique notamment par une volonté de la part des autorités scolaires de « garantir le prestige » des écoles normales primaires (p. 468), afin d’éviter la fuite des élèves pour les plus prestigieux baccalauréats de philosophie ou de mathématiques d’autres établissements. Alors que les flirts comme les blue jeans sont pendant une longue période interdits, la fin des années 1960 marque une rupture nette. Les mobilisations de Mai 68, l’influence des grèves et des idées politiques de gauche porteurs d’émancipation pour les jeunes finit par favoriser la mixité dans ces écoles.
Le second volume vise davantage encore à considérer les élèves comme des acteurs à part entière du système éducatif, dans la mesure où il rassemble des contributions portant sur les ordres, les désordres et les engagements relatifs aux élèves. Les enjeux politiques nombreux autour de l’éducation sont disséqués avec précision. Pour former, informer et conformer les élèves, l’école s’est faite à la fois le reflet et le produit de la société française. Aussi, les phénomènes d’adhésion autant que de contestation de l’ordre scolaire sont prioritairement étudiés. L’usage de sources permettant de faire entendre la parole des élèves est particulièrement souligné : des écrits de pédagogues, des extraits de presse lycéenne, les traces des activités des associations d’anciens et anciennes élèves, ou encore des textes règlementaires et des sources orales ont été employés dans les recherches présentées.
Les auteurs soulignent notamment la difficulté d’écrire une histoire des élèves dans une société quasi intégralement passée par l’école : ils parlent de « l’évidence du passé d’élève » (p. 18). La chronologie des politiques éducatives laisse en effet peu de place aux élèves en histoire de l’éducation, sauf « quelques heureuses exceptions » comme les travaux de l’historienne de l’enfance et de l’adolescence dans la Première Guerre mondiale Manon Pignot (p. 17). Il s’agit par ailleurs de ne pas négliger l’idée que l’institution scolaire est également « appropriée et transformée par ses usagers » (p. 17). Ainsi les auteurs reprennent à leur compte le concept d’agency ou liberté d’action des acteurs (p. 21), à l’honneur dans un grand nombre de champs historiographiques actuellement, au sujet des élèves. Le but du second volume est finalement d’interroger les modes de participation des élèves à la vie des établissements, en accordant de fait une place plus grande aux adolescents, et notamment aux lycéens. Par conséquent, la surreprésentation de l’enseignement secondaire contraint les auteurs à s’intéresser à une élite sociale essentiellement masculine. A rebours d’une idée répandue, les auteurs affirment qu’en matière de participation des élèves à la vie de leur établissement, Mai 68 n’est pas qu’un « point de départ » mais une « étape dans une longue histoire du rôle des acteurs dans les continuités et les changements que connaissent ces établissements » (p.20). Si les années 1960 constituent un tournant, il ne s’agit donc pas de considérer la période comme une rupture nette. L’ouvrage s’organise en trois temps : les formes de la participation des élèves à la vie des établissements sont d’abord explorées, avant une analyse des normes scolaires et disciplinaires au quotidien. Enfin, la place des élèves dans la cité, leurs contestations et leurs engagements sont étudiés dans un troisième temps. Ne pouvant rendre compte de la totalité des contributions, deux ont retenu notre attention dans le volume 2 : celle de Véronique Castagnet-Lars sur les violences dans le cadre scolaire durant les affrontements confessionnels aux XVIe et XVIIe siècles (p. 225) et celle de Jérôme Krop sur la contestation lycéenne à la télévision en 1968-1969 (p. 299).
Les violences dans les collèges catholiques et protestants durant les affrontements confessionnels aux XVIe-XVIIe siècles peuvent-elles être qualifiées de « scolaires » ? La question guide la réflexion de Véronique Castagnet-Lars dans sa contribution. Si l’on considère l’importance du contexte social, politique et culturel, il est en effet difficile de distinguer les violences dues au cadre proprement scolaire et les violences confessionnelles entre catholiques et protestants pénétrant dans le cadre scolaire. L’historienne constate l’incapacité des règlements successifs à proscrire le port d’armes des élèves, discutant notamment l’idée répandue selon laquelle l’école participe de la « disciplinarisation » des sociétés. Les écoliers apparaissent en effet comme une « population citadine turbulente » (p. 232), susceptible de se constituer en bandes ou en troupes pour commettre des violences. L’autrice analyse également le fonctionnement des autorités répressives, en notant par exemple que l’échelle des peines est globalement empruntée au droit des adultes – lequel se trouvait, sous l’Ancien Régime, sous le regard de Dieu. Ainsi l’amende honorable et les punitions corporelles avec usage du fouet figurent par exemple dans l’éventail des sanctions encourues par les élèves violents (p. 240).
La contribution de Jérôme Krop sur la contestation lycéenne à la télévision en 1968-1969 se situe à la jonction de l’histoire de la jeunesse et des élèves et de l’histoire des médias. L’historien s’interroge sur la place de la télévision dans la contestation lycéenne en étudiant trois magazines : Dim, Dam, Dom, Les Chemins de la vie et Panorama. Dim, Dam, Dom est selon l’auteur « l’unique exemple d’une expression télévisuelle dans le sens des discours contestataires » (p. 307), alors que Les Chemins de la vie permet des débats entre militants lycéens et représentants de l’Éducation nationale. Panorama est quant à lui un magazine donnant lieu à des échanges entre lycéens et journalistes. Jérôme Krop note la rareté de la présence lycéenne contestataire dans un média comme la télévision, sous une tutelle politique forte en 1968. La disparition de leur présence à la télévision coïncide avec la fin du dialogue avec la jeunesse contestataire.
En conclusion, la somme ambitieuse que représente cette Histoire des élèves en France parue aux Presses universitaires du Septentrion apporte un éclairage riche, construit et extrêmement instructif, ponctué d’études précises sur des acteurs et actrices au cœur des préoccupations des professeurs non seulement d’histoire-géographie mais également des professeurs d’autres disciplines et des administrateurs des enseignements primaire, secondaire voire supérieur en France. Pour l’attention et la précision portées à cette historicisation des élèves, il s’agit d’une lecture nécessaire : l’histoire des élèves paraît constituer un levier pour le renouvellement de l’histoire de l’éducation. Si l’étude s’arrête à la fin du XXe siècle, il est indéniable que ces contributions posent les jalons prometteurs de recherches sur l’histoire des élèves du XXIe siècle, jusqu’à ceux des temps présents. L’influence du numérique, les conséquences sur les élèves du contexte exceptionnel engendré par l’épidémie de Covid-19 en 2020 sont autant de pistes pouvant s’inscrire dans la continuité de l’entreprise d’histoire des élèves dirigée par J.-F. Condette, V. Castagnet-Lars, J. Krop et S. Lembré.
Liens utiles :
Présentation des deux volumes par l’éditeur :
http://www.septentrion.com/fr/livre…
http://www.septentrion.com/fr/livre…
Sihem Bella – Professeure d’histoire-géographie au lycée Jean Moulin à Roubaix (59).
[IF]Una politica senza religione – De LUNA (CN)
De LUNA, Giovanni. Una politica senza religione. Torino: Einaudi, 2013, p. 137. p. Resenha de: GUANCI, Vicenzo. Clio’92, 7 ago. 2019.
“Per risvegliarci come nazione, dobbiamo vergognarci dello stato presente. Rinnovellar tutto, autocriticarci. Ammemorare le nostre glorie passate è stimolo alla virtù, ma mentire e fingere le presenti, è conforto all’ignavia e argomento di rimanersi contenti in questa vilissima condizione”
Con queste parole di Giacomo Leopardi, G. De Luna conclude il suo saggio sulla mancanza di una “religione civile” nella nazione italiana e sui tentativi (sporadici) di costruirne una nel corso dei centocinquant’anni di storia unitaria.
In premessa, l’autore esplicita cosa intende per religione civile: “uno spazio in cui gli interessi che tengono insieme un paese si trasformano in diritti, in doveri civici, in valori consapevolmente accettati, nel nome dei quali i cittadini italiani sono sollecitati ad abbandonare le nicchie individualistiche o comunitarie, quei progetti esistenziali racchiusi nel terribile slogan ‘tengo famiglia’ e ‘mi faccio i fatti miei’, condividendo un universo di simboli in grado di legare il singolo e la società in un rapporto di dipendenza e di identificazione”.
Si tratta quindi di uno spazio in continua costruzione, attraverso l’invenzione di tradizioni e il loro consolidamento mediante simboli riconosciuti che creano una realtà pubblica di appartenenza e di cittadinanza. E questo chiama in causa direttamente le Istituzioni e la Politica.
L’autore svolge il rotolo della storia unitaria d’Italia incontrando prima i fallimenti del “fare gli italiani” dell’Italia liberale di fronte al trasformismo della politica, poi quelli del “ciascuno al suo posto” della gerarchia fascista che non riuscì a imporre un vero totalitarismo perché non affrancata da una “marcata subalternità nei confronti di quelli che erano i valori proposti dalle gerarchie cattoliche” ( p. 29).
Il momento nel quale gli italiani furono sul punto più vicino a costruire una loro religione civile fu senza dubbio quello della realizzazione della Costituzione nata dalla Resistenza. Largo spazio G. De Luna dedica all’impegno del Partito d’Azione, individuando nei loro esponenti gli autentici ispiratori di un pensiero laico in grado di farsi civilmente religioso. Piero Calamandrei “cercava di sottrarre il paradigma di fondazione della nostra Repubblica all’ipoteca (che gli appariva effimera) dei partiti antifascisti per riconsegnarla direttamente al vissuto e all’esperienza collettiva di tutti gli italiani. Di qui la sua insistenza sul ‘carattere religioso’ della lotta partigiana…
A fondamento di un nuovo spazio pubblico in cui ci si potesse riconoscere come cittadini di uno stesso Stato nel nome di valore condivisi, Calamandrei chiamava così ‘il popolo dei morti’ (di quei morti che noi conosciamo uno a uno, caduti nelle nostre file, nelle prigioni e sui patiboli, sui monti e sulle pianure, nelle steppe russe e nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti) presentato non nella dimensione ‘vittimaria’ dell’innocenza e dell’inconsapevolezza, ma come fonte attiva di una nuova legittimazione dello Stato” (pp. 40-41).
Il tentativo naufragò sugli scogli del clericofascismo democristiano, favorito dall’art. 7 della Costituzione che integrandovi i Patti Lateranensi creò un “pericoloso innesto confessionale” nella costruzione della Repubblica.
Nel luglio 1960 l’Italia del boom economico scoprì l’antifascismo. Manifestazioni e scontri cruenti con la polizia impedirono il congresso del partito neofascista MSI a Genova, medaglia d’oro della Resistenza, e causarono le dimissioni del governo Tambroni, un monocolore democristiano con l’appoggio esterno del MSI. Si aprì una stagione di importanti riforme: la scuola media unica, la nazionalizzazione dell’energia elettrica, lo Statuto dei Lavoratori, la chiusura dei manicomi. Ciò nonostante, sostiene De Luna, “il rilancio della Costituzione nel suo significato di testo fondamentale della nostra religione civile fu una grande occasione mancata” (p. 60) perché la stagione si esaurì presto e gli anni Ottanta si aprirono con la famosa intervista a E. Scalfari, nella quale Enrico Berlinguer poneva alla politica tutta la “questione morale”. I partiti ormai non provvedevano più a formare la volontà popolare, non svolgevano più alcuna funzione pedagogica, di dibattito tra le masse. Essi erano diventati pure macchine per l’occupazione del potere.
L’Italia si stava avviando verso una condizione nella quale l’unica “religione” poteva essere quella cattolica vaticana, affiancata, seppur tra mille problemi, da quelle dei nuovi immigrati; non vi sarà più spazio per alcuna religione civile.
O meglio.
L’unica vera, trionfante, religione sarà quella officiata dal “mercato” a cui la politica si sottometterà. Berlusconi sarà il suo eroe. Tutto sarà immerso nella religione dei consumi. E gli italiani, memori di secoli di povertà, si immergeranno in un benessere fondato su consumi indotti massicciamente dai nuovi media, soprattutto dalla televisione invadente. Tutto, ma proprio tutto, sarà ordinato dai totem dell’audience, dello share, della pubblicità, della visibilità, del culto dell’immagine. A questo proposito De Luna ricorda opportunamente come neanche il Vaticano si sottrarrà alle leggi del mercato: basti pensare alle figure degli ultimi tre pontefici, al carisma di Giovanni Paolo II di cui fu perfino spettacolarizzata la lunga agonia, al coup de theatre delle dimissioni si Benedetto XVI, alla capacità meravigliosa di tenere la scena di papa Francesco.
[IF]
Karl Marx: uma biografia dialética | Angelo Segrillo
O livro de Angelo Segrillo (professor Livre Docente de história contemporânea, coordena o Laboratório de Estudos da Ásia do Departamento de História da USP; Graduou-se pela Southwest Missouri State University (EUA), cursou mestrado no Instituto Pushkin de Moscou (Rússia) e doutorado na UFF; É especialista em história da Rússia e ex-URSS eurasiana) se soma a outros dois trabalhos, com escopo biográfico, publicados por pensadores brasileiros. O primeiro deles, “Marx – vida e obra” de Leandro Konder publicado no Rio de Janeiro pela editora Paz e Terra, nos anos 1970 (em 2015 foi publicado em nova edição pela Editora Expressão Popular) e o outro, “Marx Vida e Obra” do professor José Arthur Giannotti publicado em 2000 na coleção L&PM Pocket Filosofia. Porém, enquanto estas duas obras abordam com maior ênfase aspectos teóricos do pensador alemão, Segrillo produz um trabalho com foco na vida de Karl Marx.
‘Karl Marx: uma biografia dialética’ é dividido em 10 capítulos, além da introdução, da conclusão, de um anexo (que é a cronologia da vida de Marx) e da bibliografia. As seções do livro não são proporcionais, uma vez que cada uma delas analisa como Marx viveu, em cada cidade pela qual passou. Dessa forma, lugares em que o Mouro (apelido pelo qual Marx era conhecido em razão da cor de sua pele, mais escura que os seus amigos e familiares) permaneceu por menos tempo tiveram um espaço menor no livro, sendo o décimo capítulo, “Londres, agosto 1849-14 de março 1883”, o maior de todos. Leia Mais
Mulheres e Caça às Bruxas: da Idade Média aos dias atuais / Silvia Federici
Silvia Federici / Foto: DeliriumNerd /

Mulheres e Caça às bruxas é composto por sete capítulos, divididos em duas partes. Os capítulos são, em sua maioria, edições revistas de artigos e ensaios publicados anteriormente.
Na primeira parte, Federici dialoga mais especificamente com Calibã e a Bruxa, colocando a caça às bruxas dos séculos XVI e XVII na Europa no rol dos processos sociais que prepararam terreno para o surgimento do capitalismo, junto com o comércio escravista e o extermínio dos povos indígenas. Na segunda parte, Federici esboça novas investigações, trazendo para a conversa sociedades contemporâneas e “novas formas de acumulação de capital e caça às bruxas”.
Para a autora, as transformações sofridas pela Europa resultaram em um aumento vertiginoso de práticas misóginas e patriarcais, cujas consequências mais perversas foram a tortura e a morte na fogueira de milhares de mulheres acusadas de bruxaria. Federici tenta explicar como as mulheres passaram a ser vistas como ameaça à nova ordem que se impunha, passando a ser controladas, vigiadas e punidas. Ela aponta os cercamentos das terras a partir do final do século XV, como fundamentais para a compreensão deste processo e afirma que estes, somados ao crescimento das relações monetárias, resultaram em pauperização e exclusão social da população, sendo as mulheres as mais atingidas. Isso ocorre por múltiplos motivos.
As mulheres, que até então viviam em terras comunais, exercendo suas atividades coletivamente e gozando dos direitos consuetudinários, viram a privatização das terras desmantelar os laços comunais e toda uma rede de saberes compartilhados por elas, bem como a maneira como se relacionavam com a terra, a natureza e seus corpos, que nesse processo passam a servir à produção e reprodução da mão de obra. Para garantir a força de trabalho que serviria ao sistema capitalista, as mulheres foram confinadas no trabalho doméstico não remunerado, bem distante do trabalho coletivo praticado anteriormente.
Dessa forma, a autora relaciona a caça às bruxas à necessidade do controle da reprodução e, consequentemente, dos corpos das mulheres. Nesse sentido, é interessante notar que as mulheres mais velhas eram vistas como as mais perigosas e foram as mais perseguidas e mortas em países como a Inglaterra. As idosas, especialmente as sem família, foram as maiores vítimas da miséria e da exclusão social, sendo muito comum que se rebelassem contra essa situação praguejando, furtando, etc. Além disso, as mais velhas eram as grandes portadoras dos saberes sobre a comunidade e a natureza, saberes estes que poderiam “corromper” as mais jovens, ensinando-as sobre controle de natalidade, ervas abortivas e outros conhecimentos proibidos que iam contra as perspectivas das novas normas que pretendiam disciplinar os corpos para o trabalho.
Era preciso arruinar esses conhecimentos “mágicos” e garantir o total controle do Estado e da Igreja sob o comportamento sexual e reprodutivo das mulheres. Isso pressupunha interferir na maneira como elas se relacionavam entre si, estimulando as suspeitas e denúncias. Federici aprofunda o tema ao analisar as mudanças na Inglaterra entre os século XIV e XVIII, do termo “gossip” – equivalente à “fofoca” no português. A palavra, que na Idade Média remetia à amizade e solidariedade entre mulheres, lentamente adquire o significado pejorativo que conhecemos hoje, de conversa fútil, vazia e maledicente. Essa nova conotação é parte simbólica do processo de degradação, desvalorização e demonização das mulheres e dos saberes compartilhados entre elas, sendo a caça às bruxas o ponto alto dessa degradação.
A caça às bruxas é comumente considerada como “coisa do passado”, algo que entrou para o imaginário, sendo abordada em filmes, séries, romances, etc. muitas vezes de maneira folclorizada e estereotipada. No entanto, Federici argumenta que as novas formas de acumulação do capital – envolvendo desapropriação das terras, destruição de laços comunitários, intensificação da exploração e controle dos corpos das mulheres, etc. – vem resultando em uma nova onda de violências, principalmente nos países mais pobres, como da América Latina e África. Essa violência, na verdade, nunca teria cessado e, sim, se normalizado e adquirido outros formatos, como a violência doméstica, por exemplo, tão banalizada ainda hoje.
Entretanto, apesar do crescimento de organizações e lutas feministas no sentido de prevenir essa violência, o que assistimos nas últimas décadas, segundo a autora, ultrapassa a norma. Para ela, o aumento em todo o mundo de agressões, torturas, estupros e assassinatos de mulheres, atingem níveis de brutalidade que só vemos em tempos de guerra. É sobre essa escalada de violências que Federici fala na segunda parte de Mulheres e caça às Bruxas. Ela relaciona essa situação devastadora às novas formas de acumulação de capital e à “globalização”, que nada mais seria do que um “processo político de recolonização” (p. 94) que não pode ser alcançado sem o ataque sistemático às mulheres e seus direitos reprodutivos, especialmente mulheres negras, indígenas, racializadas e migrantes.
Uma das maiores expressões desse recrudescimento da violência contra as mulheres é a “nova” caça às bruxas que ganhou terreno a partir dos anos 80 em algumas regiões do mundo, como na Índia e em alguns países africanos. Federici finaliza seu livro discutindo esse fenômeno, principalmente na África, colocando-o no âmbito do enfraquecimento das economias locais africanas e à desvalorização da posição social das mulheres. Ela relaciona a caça às bruxas atuais com outros elementos de violência contra as mulheres na Índia, México, etc., analisando-os como efeitos da integração forçada das populações, notadamente das mulheres, na economia global, mas também da propensão dos homens de descarregarem nelas, especialmente em suas companheiras, as frustrações econômicas impostas pelo capitalismo, além da crescente presença de igrejas neopentecostais evangelizadoras em algumas regiões.
Por fim, Silvia Federici fala sobre o importante papel do ativismo feminista em relação à crescente violência contra as mulheres no mundo e, mais especificamente à caça às bruxas na África. Ela comenta o silêncio dos movimentos feministas sobre essa situação, que acredita representar um perigo para todas as mulheres, e propõe alternativas de luta. Essa luta, para ela, deve envolver críticas severas e ações contra as agências que criaram as condições para que tais fenômenos se tornassem possíveis, incluindo os governos africanos, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e até as Nações Unidas que, segundo ela “apoiam os direitos das mulheres da boca para fora” (p. 111). A defesa das mulheres, para Federici, são incompatíveis com o apoio e difusão de políticas neoliberais e os feminismos precisam cobrar das instituições que promovem tais políticas e silenciam diante de tamanha violência.
A caça às bruxas não é apenas uma realidade que ficou para trás. Em pleno século XXI, mulheres continuam sendo perseguidas, controladas, violentadas e mortas. Silvia Federici nos ajuda a compreender os processos históricos que geram essas violências ontem e hoje e, assim, barrar seus avanços. Para isso, é preciso manter viva a memória daquelas que perderam a vida e fortalecer as lutas das mulheres pelo fim dessas violências e do sistema que as concebe e reproduz.
Erika Bastos Arantes – Historiadora, mãe e feminista. Professora do departamento de história da UFF de Campos dos Goytacazes, onde coordena o grupo de estudos Gênero, Raça e Classe.
FEDERICI, Silvia. Mulheres e Caça às Bruxas: da Idade Média aos dias atuais. Tradução Heci Regina Cadian. São Paulo: Boitempo, 2019. Resenha de: ARANTES, Erika Bastos. Caça às Bruxas ontem e hoje. Humanas – Pesquisadoras em Rede. 06 jul. 2020. Acessar publicação original [IF].
Saber hacer y decir en justicia. Culturas jurídico-judiciales en la zona centro-sur de Chile (1824-1875) | Victor M. Brangier
No cabe duda que, dentro de las vertientes historiográficas que han estado en boga durante los últimos años, la historia de la justicia aparece como una de las más fructíferas. En efecto, su desarrollo ha permitido construir muchos puentes entre la investigación histórica, el mundo jurídico, y su impacto en la sociedad, problema que ha llevado a la gestación de iniciativas y a la publicación de una serie de trabajos sobre este tema, que dan cuenta del gran potencial que posee esta temática, que en Chile cuenta con un acervo documental importante en lugares como el Archivo Nacional Histórico, que gracias a su gran cantidad de fuentes de carácter judicial le entregan al historiador elementos de análisis y soportes que, a partir de ellos, son necesarios para formular preguntas1.
El presente libro, escrito por Víctor Brangier, corresponde a un nuevo resultado que el desarrollo de este enfoque le ha entregado a la historiografía nacional. A través de estas páginas, el autor expone una amplia investigación, que está sustentada en una serie de juicios criminales provenientes de los fondos de juzgados de letras y del ministerio de justicia, y que tuvieron como escenario al Maule y Colchagua durante el siglo XIX. Desde la imagen del mundo rural que conformó al Chile decimonónico durante las primeras décadas de construcción republicana, Brangier aterriza su estudio, el que a pesar de tener como materia prima los expedientes judiciales, a lo largo del texto le da prioridad a los relatos que desde los casos obtiene, con el propósito de construir, a partir de ellos, las prácticas y valores de quienes eran los protagonistas de los conflictos, como una forma de darnos luces sobre la cultura jurídico-judicial que ellos manejaban. Leia Mais
Política e sociedade no Brasil oitocentista: história e historiografia (I) / Clio – Revista de Pesquisa Histórica / 2020
A Revista Clio abre este número com a primeira parte do Dossiê Política e sociedade no Brasil oitocentista: história e historiografia, que traz artigos voltados às interfaces entre o poder, as culturas políticas e a sociedade, a partir de perspectivas teórico-metodológicas que focalizem as rupturas, as permanências, os antagonismos e as ambivalências historicamente tecidas nas múltiplas formas de relações sociais entre as elites e as camadas populares no Brasil durante o século XIX, nas mais diversas dimensões de envolvimentos do poder e seus reflexos na sociedade e na economia. A inserção da esfera micro na dimensão macro, as atualizações e ressignificações do local e do regional diante das injunções produzidas pela dinâmica do global, como também apreender os processos e as tramas que singularizam as histórias do local e regional, e o espaço de negociação estabelecido pelos seus atores sociais instituídos nacionalmente. As práticas políticas, a cultura do clientelismo, a organização social e econômica, bem como a inserção e participação das famílias livres e pobres em meio ao universo escravista. As relações e articulações políticas, e econômicas, bem como o perfil dos movimentos sociais, entre os diversos atores, são fundamentais para entender a participação e o protagonismo político de diversos grupos de elite e das camadas populares no “longo século XIX”.
Os cinco primeiros artigos tratam do mundo rural no XIX, a partir do debate sobre o trabalho e as políticas de colonização. Abre esse bloco o artigo de Júlia Leite Gregory, Esquecidos, desclassificados e sem razão de ser? Revisitando a historiografia para localizar o pobre no mundo rural, que traz uma importante análise historiográfica sobre o universo das famílias de trabalhadores livres no meio rural nos séculos XVIII e XIX. Gregory focou sua investigação nos trabalhos que discutem as trajetórias e experiências dos lavradores na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, e mostra os avanços da historiografia em torno deste vasto grupo, que numericamente era maior do que o universo de trabalhadores escravos, mas que ainda apresenta várias lacunas em torno de temas importantes para a compreensão de um grupo complexo e heterogêneo, e que ainda constituem um campo “em aberto” às investigações dos historiadores.
Ainda sobre o universo das famílias livres e pobres do mundo rural no oitocentos, temo o segundo artigo de autoria de Leandro Neves Diniz, intitulado A política de mão de obra no Império brasileiro: da conturbada unificação à precarização do trabalho livre, que discute a precarização do trabalho livre na Paraíba após o fim do tráfico internacional de escravos na década de 1850. Diniz parte da análise do impacto das revoltas regenciais sobre o universo do trabalho livre, especialmente nas relações estabelecidas entre os pequenos lavradores e os grandes proprietários. A desarticulação do tráfico internacional tem destaque na análise de Leandro Diniz, que mostra que o fim da alternativa de renovação das senzalas, mesmo que pela obtenção ilegal de escravizados, criou uma série de ameaças aos libertos, além do direcionamento das políticas de estado para a solução da “crise de braços” para a contratação de imigrantes europeus, relegando-se a um segundo plano os lavradores livres e pobres nacionais. Um cenário que contribuiu para a precarização do trabalho livre no Brasil da segunda metade do século XIX.
As dinâmicas do mundo do trabalho e a superexploração de trabalhadores rurais são o tema do terceiro artigo do dossiê, de autoria de Christine Paulette Yves Rufino Dabat, intitulado Ópio e açúcar: o capitalismo e suas drogas na superexploração dos trabalhadores rurais (Índia e Brasil, séculos XVIII-XIX). Dabat realiza uma investigação comparativa entre o Brasil e Índia no “longo século XIX”, permitindo ao leitor uma boa experiência metodológica da história conectada, tão em voga em Portugal na atualidade. Nesse artigo são analisadas as cadeias produtivas do açúcar e do ópio e o impacto desses produtos no universo do trabalho. Esses dois produtos distintos em suas propriedades e efeitos foram utilizados na expansão na expansão industrial e colonial da Grã-Bretanha: o ópio para enfraquecer os trabalhadores chineses frente às imposições coloniais inglesas, o açúcar como fonte de energia para os trabalhadores na indústria.
Ainda em torno do debate sobre a questão da mão de obra e a colonização no Brasil oitocentista, temos em seguida o artigo de Marcos Antônio Witt, intitulado Projetos de desenvolvimento para o Brasil: imigração, colonização e políticas públicas, que analisa os projetos de imigração no Império do Brasil articulados com as mesmas políticas em curso nos países vizinhos, especialmente a Argentina, o Chile e o Uruguai. Witt discute esses projetos de colonização mostrando as suas várias faces: da questão da mão de obra às teses do “branqueamento”. Além disso, Witt inova o debate ao analisar os limites desses projetos no Brasil oitocentista, especialmente no caso da imigração alemã no sul do Brasil. As políticas imperiais em torno da imigração encontraram barreiras de origens diversas, que frearam os projetos do Império em torno da colonização europeia.
No processo de colonização o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas teve, a partir de 1860, um papel central. No quinto artigo dessa coletânea, Pedro Parga em seu trabalho intitulado O funcionamento da Diretoria de Agricultura e as solicitações de adiamento de prazo para medição entre 1873 e 1889, discute as políticas e o papel do órgão na promoção da colonização. Parga discute a atuação desta repartição nas solicitações de adiamento do prazo de medição e demarcação de terras e também na aplicação das leis agrárias oitocentistas. A investigação desses mecanismos permitiu uma análise dos interesses de grupos específicos articulados em tonos do Estado Imperial.
Em seguida temos um bloco de trabalhos voltados à História Política do Brasil Império. No sexto capítulo temos o artigo de Kelly Eleutério Machado Oliveira intitulado O tempo da província”: revisão bibliográfica crítica da política imperial no Brasil oitocentista, no qual analisa a abordagem historiográfica das províncias e das assembleias provinciais no debate sobre a construção do Estado nacional. Oliveira parte da discussão da obra de Francisco Iglésias sobre a Província de Minas Gerais que, para a autora, criou um divisor de águas na historiografia ao privilegiar a esfera da província na investigação. A partir da obra “Política econômica do governo provincial mineiro (1835-1889)” Kelly Oliveira percorre as obras herdeiras do legado de Francisco Iglésias, debatendo as correntes historiográficas formadas a partir das pesquisas em torno das administrações provinciais.
Em seguida temos o sétimo artigo, intitulado Rupturas e Continuidades na Assembleia Constituinte de 1823: a autoridade do monarca e o lugar do poder local, de autoria de Glauber Miranda Florindo, no qual analisa a estruturação do Estado brasileiro a partir da primeira constituinte do Brasil. Florindo parte da discussão da Constituinte de 1823 no que diz respeito ao debate em torno das administrações dos municípios e províncias. O autor mostra os caminhos percorridos em torno das reformulações das esferas municipais e provinciais, e como elas se apresentavam no debate em torno do pretendido equilíbrio dos poderes no arranjo monárquico-constitucional brasileiro. Glauber Miranda Florindo destaca em seu trabalho uma continuidade discursiva e prática, de alguns elementos oriundos do estado português antes da Constituição de 1822, a base da formação do Estado brasileiro. Florindo mostra as continuidades dos elementos basilares da velha ordem colonial na Constituinte do Brasil de 1823.
Sérgio Armando Diniz Guerra Filho, é o autor do nosso oitavo artigo, intitulado As Câmaras e o Povo: a crise antilusitana de 1831 no interior da província da Bahia, no qual analisa os acontecimentos políticos ocorridos no interior da província da Bahia que tiveram como pano de fundo a crise antilusitana de 1831. Guerra Filho centrou a sua análise na atuação das câmaras municipais, especialmente àquelas do recôncavo baiano, região de grande importância econômica e política para a Bahia. O autor trata das tensões e conflitos políticos ocorridos nestas localidades, demonstrando o impacto dos acontecimentos protagonizados pelos de setores populares nas deliberações das câmaras. Ainda discute a atuação política do povo em geral nesse processo, além dos posicionamentos das autoridades frente aos movimentos rebeldes de 1831 na Bahia.
Seguindo no debate sobre a política no Estado Imperial, o nono artigo cognominado O Visconde da Parnaíba e a construção da ordem imperial na Província do Piauí de autoria de Pedro Vilarinho Castelo Branco, no qual analisa a trajetória de Manuel de Sousa Martins, o Visconde da Parnaíba, um dos personagens centrais da História do Piauí Oitocentista. Castelo Branco investigou a trajetória de vida do visconde, da sua construção a partir dos seus horizontes de expectativas no final do século XVIII, no Piauí. O autor mostra que, apesar das adversidades e das barreiras iniciais impostas pelos limites das suas redes de relações sociais, Manuel de Sousa Martins teve a oportunidade de utilizar as ferramentas de ascensão social presentes nas sociedades colonial e imperial, para si e sua parentela: poder, honra, prestígio social e patrimônio. Pedro Vilarinho Castelo Branco discute ainda a longevidade do visconde frente ao Governo Provincial do Piauí (1823-1843), mostrando várias faces da história política do Império na trajetória do Visconde da Parnaíba.
Amanda Barlavento Gomes é a autora do décimo artigo do dossiê, cognominado Negócios de família: políticos, traficantes de escravizados e empresários pernambucanos no século XIX. Gomes analisa a trajetória do comerciante pernambucano de grosso trato Francisco Antonio de Oliveira e seu filho Augusto Frederico de Oliveira, negociantes que aturam em diversos ramos do comércio e também no tráfico atlântico de escravizados. A autora mostra que em função da proximidade da Lei Antitráfico de 1831, eles diversificaram as suas atividades a partir de investimentos modernos de capitais e na fundação de empresas, contando com articulações políticas importantes dentro e fora do Império do Brasil. Amanda Barlavento Gomes analisou a atuação política desses personagens, que ocuparam os cargos de vereador e deputado geral, mostrando os mecanismos através dos quais eles defenderam os seus interesses familiares, especialmente a partir de suas redes de relações sociais com políticos e comerciantes, o elemento central para o sucesso financeiro da família.
Encerra esse bloco de trabalhos voltados à História Política o artigo de André Átila Fertig e Guilherme Gründling, intitulado Dos campos de batalha à Corte imperial: a relação entre os militares Visconde de Pelotas e Marquês do Herval através de suas correspondências (1869-1879). Fertig e Gründling abordam a trajetória política dos militares sul-rio-grandenses José Antônio Correa da Câmara (Visconde de Pelotas) e Manoel Luís Osório (Marquês do Herval) na segunda metade do século XIX, especialmente as suas articulações após a Guerra do Paraguai. Os autores investigaram as correspondências trocadas entre eles, tecendo uma interessante análise do fenômeno histórico do ingresso de militares no sistema político nas últimas décadas do Império do Brasil.
O décimo segundo artigo do dossiê é de autoria de Carlos Alberto Cunha Miranda, intitulado Médicos e engenheiros no Recife oitocentista: higienismo, implantação de projetos arquitetônicos e de serviços urbanos. Carlos Miranda analisa alguns aspectos dos saberes médicos na cidade do Recife, na perspectiva de implantação de um urbanismo higiênico no século XIX. Neste trabalho foi mostrado que o alto índice de epidemias e de insalubridade dos lugares públicos passou a preocupar os médicos, engenheiros e autoridades governamentais que, a partir daí, procuraram intervir no espaço urbano, nos novos prédios públicos, nos serviços de abastecimento de água e no saneamento, com o objetivo de modernizar a cidade e diminuir o perigo das epidemias que assolavam a Província de Pernambuco, especialmente a cidade do Recife no século XIX. Miranda discute a influência dos médicos e engenheiros nas construções de novas edificações e na implementação de serviços urbanos.
Encerra o Dossiê Política e sociedade no Brasil oitocentista: história e historiografia o artigo de Vandelir Camilo, intitulado Homem de cor: as performatividades de um “mulato” frente ao racismo Doutor José Mauricio Nunes Garcia Junior (1808-1884). Camilo analisa a trajetória de vida de José Mauricio Nunes Gracia Junior, um homem de cor que, apesar das adversidades do racismo no XIX e ciente das suas estratégias de sobrevivência naquele meio, logrou a formação na Academia Médico Cirúrgica em 1831, e ainda alcançou a docência Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e na Academia de Belas Artes. Vandelir Camilo traz uma perspicaz análise de temas como a liberdade e cidadania no Brasil Império a partir deste estudo de caso.
Cristiano Luís Christilino – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor adjunto na Universidade Estadual da Paraíba. E-mail: [email protected] ORCID: https: / / orcid.org / 0000-0002-9683-2885
Suzana Cavani Rosas – Doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professora associada na Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: [email protected] ORCID: https: / / orcid.org / 0000-0001-5528-0909
Maria Sarita Cristina Mota – Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é Investigadora Integrada do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia. E-mail: [email protected] ORCID: https: / / orcid.org / 0000-0002-1705-3999
CHRISTILINO, Cristiano Luís; ROSAS, Suzana Cavani; MOTA, Maria Sarita Cristina. Apresentação. CLIO – Revista de pesquisa histórica, Recife, v.38, n.2, jul / dez, 2020. Acessar publicação original [DR]
Prensa y política en Iberoamérica (Siglo XIX) | Alejandra Pasino, Fabián Herrero
La presente obra recopila estudios sobre prensa y política rioplatense producidos en el marco del proyecto presentado por la Universidad de Buenos Aires al Programa Universitario de Historia Argentina y Latinoamericana (PUHAL) del Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina. Leia Mais
La política a través de las armas: milicias y fuerzas armadas en Iberoamérica (siglo XIX) | Claves – Revista de Historia | 2020
Los procesos de construcción estatal durante el siglo XIX en América y en Europa estuvieron marcados por algunos denominadores comunes, entre los que podemos destacar la guerra como un fenómeno transversal, que provocó un fuerte proceso de militarización social y política. No en vano, algunos autores han denominado (y periodizado) la historia decimonónica iberoamericana como «tiempos de guerra». 1 Por otro lado, cada vez son más los historiadores que sitúan las guerras civiles en el centro de la formación de las culturas políticas, subrayando el papel desempeñado por la violencia y la exclusión del otro en la construcción de las identidades colectivas. 2 En ambos lados del Atlántico, la ciudadanía política se construyó «a bala, piedra y palo», a través de «la urna y el fusil», en un arco temporal marcado por el conflicto armado que se podría abrir con la Guerra de los Siete Años (1756-1763) y finalizar con la guerra cubanoespañola de 18983.
El presente dossier aborda las relaciones entre la sociedad, la política y la guerra durante el siglo XIX iberoamericano desde dos enfoques complementarios. Por un lado, el impacto de la guerra en la construcción de los Estado desembocó en una intensa militarización de la sociedad. La idea de militarización, acuñada a inicios de la década de 1970 por el historiador argentino Tulio Halperin Donghi, sirve para definir el ascenso político de distintos grupos militares, la extensión de formas de organización militar a la sociedad y la convivencia de amplios sectores sociales con la guerra permanente y sus consecuencias (lo militar como estrategia de ascenso social, de surgimiento de liderazgos, de dinámicas étnicas y de formas de disciplinamiento). Los levantamientos, revoluciones armadas y golpes de Estado, fueron una parte esencial de la dinámica política decimonónica y, contrariamente a lo que se ha sostenido, no solo no interrumpieron, sino que incidieron, en el proceso de construcción estatal. Leia Mais
La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional | María Victoria Baratta
Resenhista
Silvina Sosa Vota – Universidad de Santiago de Chile. Estudiante de Doctorado en Historia. USACH
Referências desta Resenha
BARATTA, María Victoria. La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional. Buenos Aires: SB, 2019. Resenha de: VOTA, Silvina Sosa. Historia y conflictos bélicos: nuevas formas de abordaje. Escrita da História, v.7, n.14, p.247-250, jul./dez. 2020. Acesso apenas pelo link original [DR]
Mar del Plata: un sueño de los argentinos | Elisa Pastoriza e Juan Carlos Torre
El libro de Elisa Pastoriza y Juan Carlos Torre presenta desde la perspectiva de la historia social, el desarrollo de uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Argentina, la ciudad de Mar del Plata, como una expresión del itinerario de la sociedad argentina entre fines del siglo XIX y principios de los setenta. Mar del Plata condensa, conjeturan los autores, el espíritu igualitario y democrático que caracterizó a la Argentina. En esa línea, revelan como el progreso del balneario acompañó las transformaciones sociales operadas en el país. Desde esta perspectiva de abordaje, el libro realiza una importante contribución a la historia del turismo local, centrada en el tiempo vacacional y sus prácticas. Los autores se proponen hacer un recorrido desde sus orígenes como villa balnearia hasta los años sesenta, cuando se inicia el ocaso de la ciudad producto de la crisis del turismo masivo. Una crisis que estuvo acompañada de los cambios en las condiciones políticas, sociales y culturales en el país. Leia Mais
Las colonias penales de la Australia y la pena de deportación | Concepción Arenal
La obra Las colonias penales de la Australia y la pena de deportación de Concepción Arenal ha sido editada por el profesor Manuel Martínez Neira a principios del año 2020. Publicada en la editorial Dykinson, la aparición de este texto se produce con ocasión del bicentenario del nacimiento de la famosa autora gallega. Se trata de una contribución olvidada que tuvo dos ediciones (1877 y 1895) y que por fin ha recibido un merecido reconocimiento. En concreto esta edición reproduce la primera impresión de 1877 con plena fidelidad, subsanando ciertos ajustes ortotipográficos como las tildes. El editor ha tomado el manuscrito conservado en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para su contraste, cotejo y exactitud. Es de agradecer, por tanto, el acceso al manuscrito al bibliotecario de la institución, D. Pablo Ramírez Jérez. La publicación está disponible en acceso abierto –en pdf e epub–, lo cual facilita su manejo y total disponibilidad. En este sentido, la persistente labor editorial y el continuo trabajo del área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Carlos III de Madrid y de Dykinson a lo largo de estos últimos años merecen un caluroso aplauso. Leia Mais
1819 y la construcción del Estado-Nación en Colombia | Eduard Moreno, Joaquín Viloria, Édgar Rey, Carlos Manrique, Leonor Hernández e Jesús Flórez || Hace doscientos años. Una historia de la campaña libertadora | Andrés Castillo-Brieva || Del grito a la victoria. Independencia de Colombia 1810-1819 | Gonzalo España || 1819. Campaña de la Nueva Granada | Daniel Gutiérrez-Ardila
En el momento de escribir esta reseña, estamos a poco más de un mes de la fecha emblemática del 7 de agosto. La polémica sobre si el bicentenario de la independencia colombiana se debía celebrar en 2010 o 2019 parece lejana y “bizantina”. Sin embargo, lo que sí puede afirmarse es que bibliográficamente la conmemoración bicentenaria de este 2019 es bastante pobre en producción bibliográfica dirigida a un público general, lo que crea una extraña lectura en paralelo con los clamores por restaurar la enseñanza de la historia en los ciclos de educación básicos.
El aniversario de 2010, con un logotipo de identificación, una programación de iniciativa estatal, de instituciones y universidades y la publicación de una bibliografía mucho más visible y abundante mostró una iniciativa editorial amplia en la que pueden enumerarse los siguientes títulos y actividades: El gran libro del bicentenario1 —donde participaron “pesos pesados” de la disciplina, entre los que estuvieron Anthony Mcfarlane, Víctor Manuel Uribe Urán, Rodolfo Segovia Salas, Georges Lomné, Pablo Rodríguez, Malcolm Deas, Juan Marchena y Gustavo Bell—; la serie Bicentenario de Colombia 1810-2010 —su primer tomo “El descubrimiento, la conquista y la colonización de la América Hispánica”, se publicó en noviembre de 2009—; un proyecto de la Universidad Simón Bolívar; La independencia en el arte y el arte en la independencia2; Colombia 1810-2010 3; la recopilación de conferencias Bicentenario de la Independencia 1810-2010 4; Educación en la Independencia5; las actividades lideradas por el Banco de la República, como la “Exposición: palabras que nos cambiaron”, el blog de noticias bicentenarias; biografías de los héroes para niños (Antonio Nariño, Francisco José de Caldas, Policarpa), la Exposición “Ensamblando una nación”; y la colección de Credencial historia entre octubre de 2009 y septiembre de 2010. Leia Mais
Encontros e desencontros de lá e de cá do Atlântico: mulheres Africanas e Afro-brasileiras em perspectiva de gênero / Patrícia G. Gomes e Claudio A. Furtado
Patrícia Godinho Gomes / Foto: Elaine Schmitt – UFSC Notícias /

No primeiro capítulo, “De emancipadas a invisíveis: as mulheres guineenses na produ-ção intelectual do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas”, a autora Patrícia Godinho Go-mes apresenta um breve excursus teórico de Houtondji e Oyèwùmi e a questão dos estudos sobre mulheres e gênero, no qual destaca a origem da produção deste conhecimento e seus principais destinatários. No processo de independência de Guiné-Bissau, em 1973, a partici-pação das mulheres constituiu-se em um elemento-chave para seu desenvolvimento do pro-cesso, tanto externo como interno. Porém, a importância das mesmas é inviabilizada nos dis-cursos, como discutido no diálogo apresentado entre dois intelectuais guineenses- Carlos Lo-pes e Diana Lima Handem, que debatem temas como patriarcado, subalternização e relações de gênero e mercado de trabalho. É abordada a ausência de mulheres na produção intelectual do INEP, juntamente com a de temas sobre as mesmas, dando destaque às atitudes de alguns órgãos como A União Democrática das Mulheres Guineenses (Udemu) em relação a isto. Leia Mais
O lugar central da teoria-metodologia na cultura histórica | José Carlos Reis
O lugar central da teoria-metodologia na cultura histórica, de José Carlos Reis, é uma reunião de artigos, resenhas, prefácios, aulas, conferências e entrevistas publicados por Reis em coletâneas e periódicos brasileiros ao longo de seu compromisso como professor e pesquisador no Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Lançada pela Editora Autêntica, na seção História & Historiografia, em maio de 2019, justamente por ocasião de sua aposentadoria, a última obra de Reis pode ser definida como uma obra-memória de sua notável atuação acadêmica.
O sentido da obra-memória de Reis está na passagem entre dois modos de praticar história: partindo de um dado reflexivo e existencial, chega a fazer com que entendamos a história como conhecimento e necessidade quase vital. Um modo de pensar e de viver, podemos dizer assim. Como modo de pensar, isso significa que a história é teoria, é trabalho com os conceitos, é escolha de métodos e emprego de linguagens, para conseguir elaborar, mediante o exame das fontes, imagens que sejam representações do passado, representações do passado em vários níveis. Como modo de viver, isso implica buscar entre essas imagens da história, de representações do passado, de formas como esses passados se apresentam para nós, algo que nos ensine a viver. Em síntese: uma experiência. Experiência não diz respeito só a uma história prática, mas também teórica, como uma forma anterior de escolha das coordenadas fundamentais para nos ajudar na relação com o mundo. Mesclar esses dois modos de praticar história foi a tarefa a que José Carlos Reis se propôs em toda a sua vida profissional, como vemos nessa e em outras de suas obras, como História & Teoria: historicismo, modernidade, temporalidade, verdade (FGV, 2003), História: a ciência dos homens no tempo (EDUEL, 2009), A história entre a filosofia e a ciência (Ática, 2006), História da consciência histórica ocidental contemporânea: Hegel, Nietzsche, Ricoeur (Autêntica, 2011), pois comum a todas elas é a reflexão, o pensamento, enfim, o aprofundamento de questões sobre o passado. Leia Mais
Sulla vocazione per la politica. Max Weber e le “Politische Stimmungen” di Karl Jaspers | Edoardo Massimilla
Publicado em 2019, o ensaio de Edoardo Massimilla, Sulla vocazione per la politica. Max Weber e le “Politische Stimmungen” di Karl Jaspers, inaugura, retomando uma ideia originária de Pietro Piovani, a nova série dos “Quaderni di storia della cultura” da antiga e prestigiosa “Accademia di Scienze morali e politiche” de Nápoles.
Nele, partindo da “ampla” introdução à “excelente” antologia dedicada a Weber como pensador político de Francesco Tuccari, Massimilla propõe uma comparação crítica, articulada e minuciosa, entre as reflexões de Max Weber sobre a ação política e as de Karl Jaspers, que nunca deixou de observar as reflexões de Weber. E, para tanto, depois de ter percorrido facilmente os “três níveis de articulação da reflexão política weberiana” apontados por Tuccari – o relativo à sociologia do poder; o outro dedicado à política alemã da época, e o terceiro, relativo à elaboração de uma teoria geral da política moderna” (5-6) – o autor identifica no último destes aquele em que, mais do que nos outros, são presentes elementos que permitem uma comparação fecunda, na esfera política, entre os dois pensadores (16). Leia Mais
Leituras canônicas e tradição pátria – o pensamento hispano-americano oitocentista em Bilbao, Sarmiento e Sierra | Libertad Borges Bittencourt
O livro de Libertad Borges Bittencourt, Leituras canônicas e tradição pátria, é uma excelente leitura para aqueles interessados em história da América Latina, mas também uma contribuição para as discussões de história do pensamento histórico e teoria pós-colonial ou teorias da colonialidade do poder. A autora aborda, numa perspectiva de história conectada (p. 12), a forma como três ensaístas latino-americanos pensaram o desafio da superação da condição colonial (p. 20). Os três autores em enfoque foram o chileno Francisco Bilbao, o argentino Domingos Faustino Sarmiento e o mexicano Justo Sierra. O livro nasce da pesquisa de pós-doutorado da professora da Universidade Federal de Goiás. Após pesquisar amplamente sobre organizações indígenas na América Latina, a autora se volta para a história do pensamento social no continente no pós-independência e seleciona três países para conferir como seus mais destacados ensaístas do século XIX pensaram a realidade da construção do Estado nacional: México e Argentina, nos extremos da América Hispânica, países com dificuldade para atingir uma unidade interna; e Chile, contrastando com ambos por atingir estabilidade política que foi divulgada como uma espécie de consenso modelar em relação a um continente marcado pela fragmentação e pela guerra civil. Leia Mais
Histoire de la fête des Mères. Non, Pétain ne l’a pas inventée ! – JAQUEMOND (APHG)
JAQUEMOND, Louis-Pascal. Histoire de la fête des Mères. Non, Pétain ne l’a pas inventée !. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2019, 240p. Resenha de: CARNEIRO, François da Rocha. Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG). 7 jun. 2020. Disponível em: < https://www.aphg.fr/Histoire-de-la-fete-des-Meres-Non-Petain-ne-l-a-pas-inventee>Consultado em 11 jan. 2021.
Dans un ouvrage qui assume la très longue durée, Louis-Pascal Jacquemond en éminent spécialiste de l’histoire des femmes qu’il est, étudie cette journée si particulière qu’est la fête des Mères.
Remontant aux déesses-mères antiques, il souligne la double-assignation initiale attribuée à la divinité, caractérisée à la fois par la naturalité et le maternalisme. Envisagé par l’auteur comme étant « la plus ancienne religion du monde » (p.22), le culte de la Déesse-mère connaît de multiples visages dans toutes les civilisations anciennes. Dans les panthéons nordiques et germaniques, ce sont Freyja, chez les Vanes, et Frigg, chez les Ases, qui jouent ce rôle de divinité à la fois de l’amour et de la maternité, tandis que Dana chez les Celtes est « la mère primordiale des anciens elfes », célébrée elle aussi par une « fête de la nuit des Mères » (p.24). L’auteur voit dans l’identification de Marie à une Déesse-mère chez les premiers chrétiens comme le résultat d’un glissement homothétique, peut-être dans l’héritage du culte rendu à Cybèle, qui était pour les Romains la Mater magna. De fait, le culte marial s’impose dans le christianisme au point que s’installe, autour du XIIe siècle, l’appellation « Notre-Dame », à qui sont dédicacées de nombreuses églises de pèlerinage.
À l’époque moderne, en Angleterre et dans les colonies américaines, apparaît la tradition du Christian Mothering Sunday. Ce rituel oblige le fidèle à servir un dimanche de Carême dans sa paroisse de naissance. Une fois par an, l’église-mère réunit ainsi tous ses enfants et, par analogie, permet à la mère biologique d’être au centre des attention de sa progéniture qui doit alors lui offrir des fleurs et un gâteau. Cette tradition protestante s’implante jusqu’aux colonies américaines avant d’y tomber en désuétude. Il faut la mobilisation des féministes Julia Ward Howe (1819-1910), Juliet Calhoun Blakeley (1818-1920), Mary Towes Sasseen (1860-1906) et surtout Anna Jarvis (1864-1948) pour qu’une journée rendant hommage aux mères soit de nouveau instituée. Voté en 1913, le Mother’s Day fait immédiatement du deuxième dimanche de mai une fête nationale aux États-Unis.
Étrangère à cette culture protestante du monde anglophone, la France connaît sa propre voie. Le Code civil impose la vision familialiste, assignant à la femme les seules fonctions conjugale et maternelle. À l’autre bout du XIXe siècle, les hommes de la IIIe République défendent la cause démographique au non de la défense de la Nation. Parmi d’autres, l’Alliance nationale, que fonde Jacques Bertillon en 1896, défend ardemment cette ambition nataliste. Si les mouvements féministes qui apparaissent alors ne sont que rarement antinatalistes, ils n’en placent pas moins la maternité « au cœur de leur définition de la différence des sexes » (p.59). Quant aux anarcho-syndicalistes, beaucoup invitent au néo-malthusianisme « pour ne pas entretenir un capitalisme avide de bras bon marché » (p.60).
C’est dans le contexte nataliste de la IIIe République que prend place l’expérience d’Artas, où l’instituteur Prosper Roche, lui-même père de sept enfants, lance en 1906 la première fête des Mères de famille nombreuse, organisée par la très masculine Union fraternelle des pères de famille méritants qu’il a fondé en 1904. Le dimanche 10 juin 1906 donc, deux mères de famille artasiennes de neuf enfants sont mises à l’honneur. Les festivités empruntent au cérémonial républicain, avec défilé, réception à la Mairie, banquet de plus de 200 convives et remise de la somme de 25 francs à chacune des deux récompensées.
La Première guerre mondiale et les secours des Américains sont l’occasion de transférer sur le Vieux continent, dans les régions occupées du Nord de la France et en Belgique, la jeune tradition du Mother’s Day. L’arrivée des soldats américains diffuse encore plus largement ce rituel qui inspire jusqu’au nom la Journée des Mères donnée à Lyon du 14 au 16 juin 1918. Le dernier jour permet de féliciter douze femmes enceintes déjà mères d’au moins cinq enfants. En 1920, peu après la création du Conseil supérieur de la natalité, Theodore Steeg, ministre de l’Intérieur, autorise la « Journée nationale des mères de famille nombreuse ». Malgré la tenue de cette fête le 19 décembre 1920, « la fête des Mères n’a pas encore pris sa place dans le calendrier annuel » (p.82) et aucune journée nationale n’a lieu dans les années qui suivent, l’organisation relevant de l’échelon local.
Avec l’introduction de la démographie dans les programmes scolaires à partir de la fin des années 1920, une politique familiale se met en place, fondée sur le modèle traditionnel, autour de la Mère au foyer et de l’autorité du père qui ramène l’argent à la maison. Comme l’écrit l’auteur, « la petite musique du « Travail, Famille, Patrie » est déjà à l’œuvre » (p.84). La fête des Mères du régime de Vichy n’est donc que l’aboutissement d’un long processus. Dans cette liturgie pétainiste, la Mère mise à l’honneur devient l’icône de la Révolution nationale. Pourtant, comme le montre Louis-Pascal Jacquemond, les mouvements de Résistants, communistes en tête, se saisissent du décalage entre le discours du pouvoir en place et les souffrances du quotidien pour faire de cette fête un outil de mobilisation. Les tracts sont alors nombreux appelant les mères à rejoindre « l’armée des ombres ».
Après la Seconde guerre mondiale, la fête des Mères s’installe dans le cadre républicain et particulièrement à l’école. Néanmoins, cette pratique scolaire est de plus en plus remise en cause, tant elle implique de se calquer sur un idéal familial et maternel contesté. Cette fête connaît par ailleurs une marchandisation en même temps que la société goûte de plus en plus à une consommation effrénée. L’auteur distingue quatre temps de la « récupération mercantile » (p.136) de cette fête. Le premier XXe siècle voit la commercialisation massive des fleurs et des cartes de vœux, la mère se voyant au centre d’un intérêt qui n’est pas sans rappeler le désir amoureux masculin. À partir des années 1930, la promotion de l’électroménager domestique attribue à la mère une image de modernité technique. Les dernières décennies du XXe siècle et les cadeaux comme les parfums ou la lingerie érotisent sensiblement l’image de la mère. Enfin, au début du millénaire, cette fête semble s’appuyer sur les modes de communication actuels et « met en scène des femmes substituts » (p.143).
Critiquée dès l’entre-deux-guerres, la fête des Mères se retrouve dans la ligne de mire des féminismes des années 1970 comme des années 2000, ce qui pousse l’auteur à poser la question de son « obsolescence programmée » (p.167). Cependant, sa popularité n’est guère remise en cause et la Journée internationale des Femmes du 8 mars ne parvient guère à l’effacer du paysage.
L’auteur achève son étude par un rapide tour du monde des fêtes équivalentes, « chrétienne et nationale » en Amérique Latine, importée en Afrique et au Proche-Orient, acculturée dans les mondes asiatiques. Il conclut ainsi une réflexion riche et stimulante qui permet de déconstruire autant les stéréotypes genrés que les légendes urbaines.
François da Rocha Carneiro – Professeur d’histoire-géographie à Roubaix, Docteur en histoire contemporaine et chargé de cours à l’Université d’Artois, Vice-Président de l’APHG.
[IF]Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930) | Ana Beatriz D. Barel e Wilma P. Costa
O livro Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930), organizado pelas historiadoras Ana Beatriz Demarchi Barel e Wilma Peres Costa, é uma coletânea de trabalhos que pesquisadores de diferentes instituições do país apresentaram durante o “Seminário Internacional de Estado, cultura e elites (1822-1930)”, na Fundação Casa de Rui Barbosa, em 2014. A obra tem como recorte cronológico o chamado “longo século XIX” no Brasil, que, segundo as próprias organizadoras, foi marcado pela “intensidade das transformações que atravessaram a experiência humana no Velho e no Novo Mundo” (p. 7).
Através da análise de objetos variados e trajetórias individuais, o livro apresenta as disputas travadas no interior do processo de definição da identidade nacional brasileira, um itinerário complexo marcado pela construção do Estado e pela consolidação da nação. Para a elite letrada brasileira, o desafio consistia em estabelecer símbolos que fossem importantes para o público interno letrado do país e para os leitores do velho continente. Seu objetivo era integrar o Brasil no sistema cultural das nações europeias, ao mesmo tempo que era necessário distingui-lo das demais nações do Novo Mundo.
Os projetos nacionais para o Brasil, a fundação de instituições culturais, a composição da sociedade letrada, a relação entre Estado e cultura, tudo isso está presente ao longo dos doze capítulos que compõem as duas partes da obra. Os da primeira parte abordam especialmente a propagação da cultura escrita no país, destacando-se algumas figuras importantes que conduziram os debates sobre a nação através da produção de obras, organizações literárias e disputas dentro das próprias instituições do país. Na segunda parte do livro, observamos a importância e o impacto da difusão da imagem, em particular dos retratos e da fotografia nas décadas que compreendem a segunda metade do século oitocentista até o início da república brasileira. Em ambas as partes, as disputas pela construção de narrativas para o país, bem como a relação tensa entre cultura e poder, constituem o eixo de análise dos capítulos.
O primeiro capítulo da obra, “Espaço público, homens de letras e revolução da leitura”, do historiador Roger Chartier, fornece a chave para compreender as tensões entre o Estado, as elites e a constituição da cultura nacional exploradas em diferentes momentos do livro. Chartier desenvolve aí a genealogia de três noções, a de espaço público, a de circulação de impressos e a de constituição do conceito de intelectual. Desenvolvidas durante o movimento iluminista, essas noções apresentaram variações no desenrolar do mundo contemporâneo e influíram decisivamente nas nações a surgir nas Américas, entre elas o Brasil.
A construção de um imaginário para a nação a partir do olhar estrangeiro do viajante, tema clássico mas sempre atual nas discussões sobre o Novo Mundo, é apresentado no segundo capítulo do livro, de Luiz Barros Montez Barros. O texto analisa os objetivos da produção dos relatos do alemão Johann Natterer a respeito de sua viagem ao Brasil entre os anos de 1817 a 1835. Como sugere Barros, conhecer novas terras possibilitava a elaboração reflexiva sobre a cultura dos países de origem dos próprios viajantes. Essa produção, além de prezar pela objetividade científica das informações, resultava em avaliações eurocêntricas que ressaltavam a “afirmação da supremacia do modelo civilizacional e técnico” dos países capitalistas emergentes (p. 49).
O estudo de Wilma Peres Costa sobre a figura de um dos intelectuais mais importantes do século XIX brasileiro, Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899), também explora a temática da construção da identidade nacional brasileira em sua complexa relação com o Velho Mundo. A autora observa a complexidade de um personagem que pertencia à linhagem francesa e vivenciava o contexto desafiador de criação de um campo literário e artístico no Brasil oitocentista. Através da análise do processo de mudança do próprio nome do literato, aponta que Taunay, em oposição à maioria dos intelectuais brasileiros, buscava se distanciar das referências francesas e se aproximar das de Portugal e do nativismo brasileiro. Assumindo a condição de uma “dupla cidadania intelectual”, o letrado revelava em suas obras, com destaque para A Floresta da Tijuca, o projeto de construção de uma memória e história vinculadas ao poder do Imperador e da monarquia no Brasil.
O esforço pela construção do Estado e pela busca da estabilidade política monárquica no Brasil também se materializou na fundação das instituições literárias na primeira metade do século XIX, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), criado em 1838. Naquele momento, a elite letrada do Brasil se inspirava nas instituições francesas – o Instituto Histórico de Paris havia sido fundado alguns anos antes (1834) e contava com a presença de representantes do Império brasileiro em suas sessões iniciais. A preocupação do homem do século XIX, dos dois lados do Atlântico, era com o registro histórico para a composição e conformação da memória nacional.
Dois capítulos do livro se ocupam dos temas relacionados à composição social dos membros do IHGB e às escolhas de temas nas publicações de sua Revista, na primeira metade do século XIX. A historiadora Lucia Maria Paschoal Guimarães analisa como a seleção de acontecimentos históricos e suas respectivas narrativas, junto à composição social dos membros do IHGB desde a sua fundação até o ano de 1850, apontam para o esforço considerável de construir um passado nacional legitimador do Estado monárquico. A defesa da monarquia e da figura do Imperador era necessária diante das conturbações e pressões vividas naquele momento. “O passado acabaria então por converter-se em ferramenta para legitimar as ações do presente.” (p. 62).
Tamanho esforço também poderia ser observado na busca pelo estabelecimento dos cânones literários brasileiros na Revista do IHGB, dado que os escritores nacionais a figurar entre as referências literárias também foram definidos no interior do próprio Instituto. Conforme nos indica Ana Beatriz Demarchi Barel, a seção da revista intitulada “Biographia dos Brasileiros Distintos por Letras, Armas, Virtudes, &” tinha a finalidade de apresentar ao público os nomes de personalidades nacionais (escritores, advogados, diplomatas, navegadores, inquisidores) dignas de elogios, e dentre elas é possível observar a indicação de quais nomes deveriam pertencer ao panteão dos escritores da literatura nacional, em diálogo com as referências europeias. Assim, “a RIHGB conforma-se como instrumento de propaganda da política alavancada pelas elites e do poder de um monarca ilustrado nos trópicos” (p. 83).
O historiador Avelino Romero Pereira abordou a música no Império como um campo de prospecção e definição de um projeto cultural nacional. Propondo refletir sobre suas características “aproximando-a da literatura e das artes visuais” (p. 100), o autor destaca que, a exemplo dos gêneros literários, a produção, a circulação e o consumo musical estiveram permeados de tensões. O mecenato exercido pelo imperador nessa área não reduziu a música a um caráter meramente oficialista do Império, como se os artistas fossem “marionetes a serviço do poder pessoal do Imperador e da construção de um projeto exótico de Império nos trópicos”. (p. 93) Araújo Porto Alegre seria um dos representantes da multiplicidade de ideias contrapostas à visão de unicidade nacional.
As trajetórias individuais iluminam as contradições, oposições e alianças estabelecidas no processo de formação de campos discursivos culturais no Brasil, como se pode ver no capítulo de Letícia Squeff. A autora nos apresenta o caso do pintor Estevão Silva, negro, que se indignou ao receber a medalha de prata como artista das mãos do Imperador, em 1879, Academia Imperial de Belas Artes. Squeff aponta a tensão que esse episódio gerou, intensificando, inclusive, o momento de crise vivido dentro da instituição e, também, acentuando ainda mais o descrédito público da figura do Imperador. “Foi percebido como atitude potencialmente revolucionária, numa monarquia que já vinha sendo sacudida por debates e discursos republicanos” (p. 294).
Ricardo Souza de Carvalho também traz à tona uma importante trajetória individual ao analisar a atuação do abolicionista e monarquista Joaquim Nabuco em duas instituições de peso, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Academia Brasileira de Letras. Como dito, o IHGB se vinculou, durante todo o período do Império, à figura do Imperador e à Monarquia, enquanto a Academia Brasileira de Letras, fundada na última década do século XIX, marcou as necessidades relacionadas aos dilemas da construção do início da República no Brasil. Carvalho estuda a presença de Nabuco nessas instituições para mapear as relações tensas entre instituições culturais e política no fim do Império.
A relevância social das imagens na segunda metade do século XIX aparece no capítulo de Heloisa Barbuy, dedicado à organização de uma galeria de retratos na Faculdade de Direito de São Paulo no século XIX. O retrato ganhava ares de prestígio no momento em que a fotografia ainda não era tão glorificada. Retratar significava eternizar uma memória, dando início a uma “cultura de exposições” na segunda metade do século XIX que se ligava à construção de narrativas nacionais e, também, ao estabelecimento de personalidades como figuras de referência. Barbuy indica a relação entre a formação do Estado Nacional, em particular o seu sistema jurídico, e a escolha de determinadas trajetórias de “homens públicos-estadistas e governantes” para figurar uma sala de retratos. “Homenagear alguém com o seu retrato em pintura, em telas de grandes dimensões, era a expressão máxima da admiração reverencial que se desejava marcar.” (p. 223).
O capítulo de Ana Luiza Martins aborda a importância da iconografia para demarcar a preponderância do café na economia imperial brasileira. A ideia de que o “café dava para tudo” é problematizada através da análise de inventários e das obras literárias sobre os cafeicultores do Vale do Paraíba. As dificuldades encontradas com o declínio do tráfico negreiro e as oscilações do mercado ficaram, durante muito tempo, submersas na imagem do poder que a economia cafeeira proporcionava, imagem construída em grande medida pela iconografia. Os casarões dos proprietários das fazendas de café estavam retratados em telas pintadas por artistas de renomes da corte, o que representava o “poderio econômico e político” dos cafeicultores mesmo no momento em que a produção da região já não estava em seu auge.
Analisando a arquitetura do Vale do Paraíba, Carlos Lemos aponta para as transformações da cultura material nas residências da região. Lemos salienta que o material para construção das residências não variava e que o Estado não teve influência na constituição de suas características. As questões estéticas das casas, ao longo do Paraíba no século XIX, não eram primordiais. O tamanho das casas era o fator que diferenciava a classe social e econômica e é nesse aspecto que podemos perceber o esforço de diferenciação social que ocorreu através da monumentalidade dos casarões dos cafeicultores. “O que interessava aos ricaços era unicamente o tamanho de suas casas de dezenas de janelas” (p. 168).
O simbolismo de poder existente nas construções grandiosas, nas imagens e em suas exposições também ganharam aspectos novos com o advento e difusão da fotografia no Brasil. A chegada de fotógrafos europeus, a partir da segunda metade do século, possibilitou que aspectos da nossa sociedade fossem retratados com base em uma nova materialidade. Ao analisar a trajetória do fotógrafo alemão judeu Alberto Henschel, Cláudia Heynemann observa que, no momento em que o retrato a óleo ainda se restringia a uma minoria economicamente favorecida, a fotografia, através do desenvolvimento do formato carte de visite, possibilitou que outros setores da sociedade também tivessem acesso ao consumo de suas próprias imagens. O álbum privado, que trazia imagens de “famílias brasileiras, abastadas, das camadas médias em ascensão, de libertos, de escravizados, gente de todas as origens”, se tornou uma febre social (p. 258). A respeito de Alberto Henschel, a autora ainda destaca a diversidade de seus trabalhos, inclusive inúmeras fotografias que retratava os negros brasileiros, marcando um novo momento da história visual do Império e da sociedade escravista.
A diversidade de abordagens apresentada nos capítulos que compõe Cultura e poder entre o Império e a República nos permite compreender, com mais acuidade, o panorama múltiplo das relações entre as elites brasileiras e o Estado Nacional ao longo de mais de cem anos. A leitura de cada capítulo dá densidade a esse relevante tema de investigação. À medida que nos detemos em um determinado personagem ou em algum contexto mais específico, nos aproximamos das mais variadas formas de produção e circulação de ideias que fizeram parte da construção do imaginário nacional de um país monárquico cercado de repúblicas e profundamente marcado pela herança da escravidão.
Referência
BAREL, Ana Beatriz Demarchi; COSTA, Wilma Peres. (Orgs). Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930). São Paulo: Alameda, 2018.
Lilian M. Silva – Universidade Federal de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
BAREL, Ana Beatriz Demarchi; COSTA, Wilma Peres. (Orgs). Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930). São Paulo: Alameda, 2018. Resenha de: SILVA, Lilian M. Relações de poder na cultura escrita e visual no “longo século XIX” brasileiro. Almanack, Guarulhos, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
O urucungo de Cassange: um ensaio sobre o arco musical no espaço atlântico (Angola e Brasil) | Josivaldo Pires de Oliveira
Ao escrever as palavras urucungo e Cassange no programa de edição de textos, o corretor ortográfico as sinaliza como grafadas de forma errada. O mesmo não ocorre quando escrevemos violoncelo ou Paris usando o mesmo editor de textos. O erro deve estar justamente aí, na programação dos computadores e na nossa formatação como historiadores. Palavras de origem africana soam estranhas no português no Brasil, no português dos intelectuais do Brasil, mas a outros estrangeirismos estamos acostumados e os naturalizamos.
O professor da Universidade do Estado da Bahia e mestre de capoeira Josivaldo Pires de Oliveira escreveu um ensaio intitulado O urucungo de Cassange. O livro decorre justamente de sua experiência como intelectual acadêmico e profundo conhecedor do corpo, da musicalidade e dos instrumentos como fontes para a historiografia e como objetos do interesse do historiador. Josivaldo tem clareza sobre como desempenhar uma das funções que poucas vezes cumprimos a contento neste ofício: dialogar com públicos mais amplos e oferecer materiais de qualidade para uso nas escolas por estudantes e professores atuantes na rede de ensino básico. Quando endereçamos publicações a esses leitores, nem por isso o rigor deve ser deixado de lado – e, neste caso, o rigor foi conjugado a uma linguagem apropriada. Esse é o primeiro ponto do livro que quero destacar.
Urucungo ou barimbau é o arco musical usado na capoeira. Josivaldo encontra evidências do uso desse instrumento antes da sua popularização, graças às rodas de capoeira. O último quartel do século XIX e a primeira metade do século XX são os marcos temporais da obra e o Cassange do título não é exatamente a região da Angola atual de onde vieram milhares de escravizados pelo Atlântico até o Brasil, mas sim um tocador de berimbau e personagem do folhetim oitocentista Ataliba, o vaqueiro, do diplomata e escritor piauiense Francisco Gil Castelo Branco. O formato em arco e a referência à África e ao Brasil funcionam como metáforas da diáspora africana em suas múltiplas expressões.
O ensaio divide-se em três capítulos. No primeiro, intitulado “Cassange e seu arco musical”, a epígrafe recupera a descrição da personagem do folhetim (mais tarde republicado em livro) e, em meio a uma fisionomia eivada dos preconceitos comuns no século XIX, informa-se que Cassange, homem nessa altura já encanecido, “fora importado da África ainda moleque e conservava o nome de sua terra natal”. A terra e o homem, unidos em um mesmo nome, já nos alertam para a tentativa de transformar seres humanos em simples elementos da natureza. Essa era uma leitura de sabor oitocentista que incluía, entre outras coisas, nomear os africanos escravizados conforme a região ou o porto de origem, inventando etnônimos que pouco definiam as origens e a cultura. Tendo por guia o homem chamado Cassange, Josivaldo vai em busca de uma história do arco musical no Brasil.
Para isso, ele percorre o interior e o litoral da África Centro-Ocidental, o Atlântico e a província do Piauí, tradicionalmente ocupada desde a colonização pela pecuária extensiva no sentido sertão-litoral. Vaqueiro inseparável do arco musical que carregou consigo desde os tempos de liberdade na terra natal até ter por volta de oitenta anos de idade, Cassange é o representante dos tocadores desse instrumento no Brasil. Imbangala, como outros em sua terra, o africano dominava o arco de uma corda só usado no pastoreio e que os viajantes que conheceram aquela região africana denominaram “violam”, por analogia, como faziam todos os viajantes para aproximar os lugares exóticos e as coisas estranhas aos leitores brancos e europeus que pretendiam alcançar. No Brasil e no Congo/Zaire dos séculos XIX e XX, outros literatos, estudiosos e folcloristas foram unânimes ao apontar a origem bantu do berimbau, que não deve ser confundido com marimbau, e a importância dele para a música e a dança brasileiras. Berimbau, urucungo, hungo, rucumbo ou mbulumbumba são sinônimos encontrados por Josivaldo em fontes dos dois lados do oceano para designar esse instrumento feito de corda metálica, vara de madeira e cabaça. A circulação das palavras, do instrumento e das personagens literárias simbólicas pelas margens atlânticas leva a pensar que ficção e História têm vários pontos de intersecção. O nome disso é verossimilhança.
No capítulo 2, “Os parentes de Cassange ou os arcos musicais em Angola”, somos levados ao outro lado do oceano: estamos na Angola que nos civilizou, nas palavras recuperadas por Luiz Filipe de Alencastro. O ensaio de Josivaldo dá mais lastro à ideia de civilização, na medida em que, além da força de trabalho, agrega o saber musical ao rol dos inúmeros saberes que os brasileiros receberam como herança dos povos africanos trazidos compulsoriamente para a América portuguesa e o Brasil imperial. Mas ver no urucungo apenas um legado aos brasileiros seria uma apropriação simplista e incompleta: o instrumento tem uma história que antecede sua vinda ao Brasil na bagagem literal e cultural dos escravizados e que continuou a existir na Lunda, terra dos imbangala que mantiveram trajetórias históricas em seu próprio continente. A se fiar nas narrativas dos viajantes europeus do século XIX que por ali passaram, o uso do instrumento era recreativo – “tocam-no quando passeiam e também quando estão deitados nas cubatas”, afirmou Henrique Dias de Carvalho em 1890 – e suas formas eram idênticas às que já se conhecia no Brasil, ou seja, a cabaça como caixa de ressonância e o contato com a pele nua na criação da musicalidade. Todavia, nos relatos dos viajantes, o urucungo não aparecia compassar o movimento dos corpos. Pequenas variações e especificidades, como o berimbau de boca e o toque por mulheres, também foram registradas lá e cá, em Angola e no Brasil.
O arco musical espalhou-se por arcos territoriais amplos, em lugares de cultura bantu para além do nordeste de Angola. As fontes de Josivaldo, neste capítulo, são basicamente os registros de viagens e a etnografia feita por portugueses, no afã de construir conhecimentos acerca das regiões sobre as quais se pretendia legitimar a conquista, nos termos acordados na Conferência de Berlim. Não por acaso, são escritos do último quartel do século XIX – indício seguro de que o urucungo existia desde antes disso e que a ausência do registro não deve ser lida como inexistência do objeto descrito. Afinal, como Josivaldo revela, saiu da pena do padre Fernão Cardim, no século XVI, a primeira menção ao termo “berimbau”.
O capítulo 3 faz o percurso de volta. “Do outro lado do Atlântico: tocadores de urucungo no Brasil” é um exercício de boas práticas em História Social. Mesmo quando a fonte não é de próprio punho e não se pode nomear os sujeitos, como nas histórias de viés político mais tradicionais, o coletivo e os indivíduos ganham corpo e voz (som, no caso). Artes plásticas, jornais e outras fontes dos séculos XIX e XX são visitadas em busca da a(tua)ção dos tocadores. As confusões de significado em crônicas e anúncios de jornais desde fins do século XIX, que faziam a gaita ser definida como berimbau, são esclarecidas neste capítulo. Não por acaso, Edison Carneiro já anotava a expressão “berimbau não é gaita”, usada de norte a sul do país, com o sentido de alertar o ouvinte para uma situação absurda e, assim, satirizá-la.
O binômio “origem africana como atraso” e “origem europeia como civilidade” não é novo nos estudos sobre a cultura brasileira, especialmente no que se refere ao início do século XX e às pretensões modernizantes da recém-instaurada República. Soaria divertido, se não fosse um sintoma do preconceito, o esforço em europeizar o berimbau como corruptela do francês “berimbele”, ainda que se tratasse de instrumentos diferentes (o barimbau de corda e o de sopro).
Fazer desaparecer a Pequena África no Rio de Janeiro planejado como cartão postal era um ideal republicano. Nesse processo, o arco musical tinha seu lugar, manuseado como era por negros presentes na cena musical popular das ruas da capital federal. Mas o urucungo não estava só ali nem só naquele momento: José de Alencar em seus romances rurais, Luiz Gama em sua obra poética, Antônio Ferrigno em óleo sobre tela e as páginas de jornais de diferentes províncias do Império exemplificaram a dispersão territorial do instrumento, como que unificando o Brasil de matriz africana.
A partir da vasta gama de fontes compilada para a escrita do ensaio, Josivaldo Oliveira encerra o terceiro capítulo em coautoria com Gabriel Ferreira, artista plástico que transformou em dez desenhos as descrições contidas nas evidências históricas. O resultado são páginas com representações iconográficas contemporâneas e legendas-textos informativas, tudo composto com grande liberdade criativa. A Bahia, como é justo, dá o desfecho à história do urucungo/berimbau. Folcloristas de meados do século XX afirmavam que o instrumento era quase desconhecido fora daquele estado, dando corpo à hipótese de que foi o uso do berimbau na capoeira que garantiu sua permanência. O livro aqui resenhado deixado claro que a história é bem mais complexa.
Áfricas transplantadas, ressignificadas, perseguidas e persistentes. Áfricas que ainda são o nosso outro, mesmo que sejam tão fortemente parte de nós. É dessa história que trata Josivaldo, por meio de um indício da cultura material e imaterial, ao mesmo tempo um objeto de madeira biriba, corda e cabaça e um saber-fazer transmitido corporal e musicalmente ao longo de gerações.
O livro traz ainda dois anexos. O primeiro reproduz um texto de Edison Carneiro sobre o berimbau, originalmente publicado em 1968. O segundo cumpre, de forma competente, o que determina a legislação conquistada pelos movimentos negros e que se refere ao ensino de História da África e da Cultura africana e afro-brasileira. Ali, são sugeridas formas de trabalhar O urucungo de Cassange com estudantes do ensino básico.
Terminada a leitura deste ensaio, não será mais possível adotar a postura do assistente passivo de uma roda de capoeira apenas pelo fascínio do movimento dos corpos ou por contemplação desinteressada do conjunto de sons e gentes ali reunidos. Sem perder isso de vista, o assistente verá o arco vertical se horizontalizar, ligando os dois lados do Atlântico numa história única, secular, sul-sul e do tempo presente. A sugestão do berimbau como ponte entre dois continentes foi feita por Enrique Abranches e, mesmo não sendo original, funciona bem para exprimir a sensação de leigos diante de práticas que, embora admire, não deve praticar sem iniciação correta. Por isso, a condução pelo historiador e mestre Josivaldo Oliveira traz uma sensação de segurança na narrativa sobre o percurso de um instrumento tão emblemático.
Referência
OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. O urucungo de Cassange: um ensaio sobre o arco musical no espaço atlântico (Angola e Brasil). Itabuna: Mondrongo, 2019.
Jaime Rodrigues – Universidade Federal de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. O urucungo de Cassange: um ensaio sobre o arco musical no espaço atlântico (Angola e Brasil). Itabuna: Mondrongo, 2019. Resenha de: RODRIGUES, Jaime. Ancestralidade na história e na música: o berimbau/urucungo nos séculos XIX e XX no Brasil e em Angola. Almanack, Guarulhos, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
Reinventando a autonomia: Liberdade – propriedade – autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo 1535-1822 | Vania M. L. Moreira
A recopilação Legislação indigenista no século XIX, publicada por Manuela Carneiro da Cunha em 1992, ofereceu um importante quadro referencial de onde partir para estudar a problemática indígena durante o século de consolidação da independência política brasileira. A partir de então, os comentários da autora abriram duas importantes linhas de frente, e de crítica, para os estudos indigenistas relativos ao período. A primeira delas – a afirmação de que a política indigenista passou, durante o século XIX, de uma política de mão de obra para uma política de terras – vem sendo contestada por inúmeros autores que destacam a dimensão do trabalho compulsório e o apagamento da identidade indígena durante o período em questão. A segunda, por sua vez, refere-se ao escopo temporal, anotando que a revogação do Diretório pombalino em 1798 abriu um período de vazio legislativo durante o qual o Diretório teria sido aplicado, de maneira oficiosa, até a aprovação do Regulamento das Missões em 1845.
Sem gastar tempo refutando essas afirmações, Vânia Moreira aborda em Reinventado a Autonomia (2019) todos os temas centrais das observações de Carneiro da Cunha: a identidade indígena, as questões de terras e mão de obra, as particularidades do período pombalino e as mudanças ocorridas durante o século XIX, passando, ademais, por questões de gênero e família e conectando-as de forma convincente com as demais temáticas tratadas. Ainda que o foco geográfico seja o território específico do Espírito Santo, a autora trata de vincular as suas conclusões com as de outros autores que estudaram diferentes regiões brasileiras, oferecendo uma visão mais ampla do contexto no qual se inserem.
Apesar de enunciar uma temporalidade muito mais ampla (1535-1822), a maior riqueza documental do trabalho encontra-se precisamente no estudo do período pombalino em diante (capítulos 3 a 6), foco de pesquisa da autora durante os últimos anos. Quem está familiarizado com o trabalho de Vânia Moreira pode experimentar uma sensação de déjà vu ao ler o livro. De fato, a obra recolhe o conteúdo tratado nos seus principais artigos sobre os indígenas no território do atual Espírito Santo, organizados de forma mais temática que cronológica, voltando e avançando as datas para contextualizar devidamente cada um dos temas tratados. Porém, não se trata de mera coletânea de artigos publicados. A autora estabelece um diálogo entre seus próprios textos, devidamente referenciados para aqueles que queiram aprofundar em questões específicas, o que acaba convertendo o livro numa espécie de quadro geral de parte da sua produção acadêmica dos últimos quinze anos. Acrescente-se, finalmente, o cuidado em anexar fotografias, mapas e gráficos ao longo da obra, elementos normalmente mais limitados no espaço dos artigos científicos, e que contribuem para reforçar esse caráter estrutural da obra.
No primeiro capítulo, intitulado “Tupis, tapuias e índios”, a autora se vale de uma extensa bibliografia para abordar os caracteres da população que habitava a costa leste do continente antes da chegada dos europeus. Os vestígios das suas etnias, troncos linguísticos, organizações políticas, cultura material e demografia são abordados de forma probabilista, valendo-se de forma convincente dos trabalhos sobre as fontes disponíveis a respeito. No mesmo capítulo, a autora também reconstrói os impactos dos primeiros conflitos com os europeus, ressaltando que a escravização dos prisioneiros de guerra afetou significativamente os valores que presidiam a guerra ameríndia, dando lugar a uma perspectiva promissora para os colonos da região no final do século XVI. Não obstante, a autora enumera uma série de razões pelas quais em meados do século seguinte a escravidão de africanos teria substituído, na capitania, a aposta pelos “negros da terra”. Apesar da perda de protagonismo econômico da região a partir desse momento, a autora anota a sua importância geopolítica, dado que se configurava como fronteira tanto para o mar como para o interior do continente, especialmente a partir da descoberta do ouro na região das Minas. Essa importância se traduziu em diferentes tensões entre indígenas, moradores e jesuítas, relatadas com detalhe por Moreira. Finalmente, o capítulo encerra adentrando-se em questões jurídicas. A autora define a posição jurídica indígena, nomeadamente dos aldeados, como status específico no contexto do Antigo Regime, status que se traduzia na obrigação de prestar serviços, tendo como principal contraprestação a garantia de permanência em terras coletivas (p. 89). Para falar do status no Antigo Regime, não obstante, a autora referencia o conhecido livro de António Manuel Hespanha (2010) dedicado ao estatuto jurídico de coletivos atípicos no Antigo Regime. Nesse espaço, sente-se falta de uma citação direta ao trabalho de Bartolomé Clavero (autor citado, não obstante, ao falar da estrutura de poder do Antigo Regime ibérico, nas páginas 275-276), pois, pertencendo ambos a uma mesma corrente historiográfica, o trabalho do autor espanhol é muito mais incisivo que o de Hespanha no relativo à posição específica atribuída à humanidade indígena na cultura jurídica do Antigo Regime (CLAVERO, 1994, 11-19).
O capítulo seguinte trata sobre os processos históricos que pouco a pouco foram desembocando na consolidação territorial de certos grupos indígenas e sua conversão em aldeamentos. A autora repassa as guerras e migrações mais significativas, assim como dinâmicas particulares que surgiram nesse processo (por exemplo, o curioso fato de que grandes guerreiros aldeados recebessem nomes portugueses idênticos aos dos principais líderes portugueses da terra, fato que exige portanto uma especial atenção dos historiadores na análise das fontes). À continuação, são descritos os principais aldeamentos da capitania, as etnias que os compunham e a importância do trabalho jesuítico na fixação desses grupos ao território. Moreira define três tipos de aldeias administradas pelos jesuítas: (1) as aldeias de serviço do Colégio, (2) as aldeias do serviço Real e (3) as aldeias de repartição (130-131). Por outro lado, destaca-se a importância paramilitar dos indígenas aldeados, que protegiam o território dos ataques de outros povos guerreiros (europeus ou americanos). Os inacianos são descritos como destacados mediadores entre a Coroa e os povos indígenas, encarregando-se da evangelização como fase sucessiva e necessária da conquista mediante a guerra. Por outro lado, a autora destaca o trabalho dos religiosos em aprender as línguas locais e interpretar a cultura dos indígenas, dando a entender que, nesse processo de contato, “escolhiam determinados códigos em detrimento de outros e procuravam neutralizar o processo de conquista e subordinação” (113). Para a autora, isso caracterizaria a presença de uma verdadeira relação intercultural entre os indígenas e os inacianos das aldeias do Espírito Santo.
Do terceiro capítulo em diante, a autora entra definitivamente na cronologia pós-Pombal, tratando as diversas vicissitudes inauguradas com a legislação indigenista aprovada a partir de 1750. O capítulo terceiro trata de uma das principais consequências políticas do Diretório dos Índios – a capacidade de autonomia e autogoverno – ilustradas na conversão das duas maiores aldeias da capitania (Nossa Senhora da Assunção de Reritiba e Santo Inácio e Reis Magos) em Vilas (Nova Benevente e Nova Almeida). Vânia Moreira repassa os debates da Segunda Escolástica relativos à liberdade das pessoas e bens dos aborígenes e, analisando as leis pombalinas, considera que “o que a legislação efetivamente reconheceu e prometia garantir aos índios era a posse e o domínio das terras de seus aldeamentos” (144). A Lei de 6 de junho de 1755 teria especialmente assegurado sua liberdade, propriedade e autogoverno mediante sua equiparação aos demais vassalos da Coroa. Essas medidas foram limitadas pela restituição da tutela mediante o Diretório dos Índios, analisado pela autora neste capítulo (151-158). Em seguida, é explicado o processo de implantação do Diretório no território do Espírito Santo, destacando aspectos como a relação econômica das novas vilas indígenas com o resto de vilas da capitania, os processos eletivos que garantiam a preeminência indígena nas Câmaras, os atos de gestão local do patrimônio e as medidas de controle dos costumes levadas a cabo pelas autoridades – especialmente em relação com as mulheres indígenas.
O capítulo 4 recupera a Lei de 4 de abril de 1755, que incentivava o casamento entre indígenas e brancos como forma de assimilar aqueles à sociedade colonial. A autora destaca o assimilacionismo das políticas pombalinas, interpretando como eminentemente cultural a discriminação no período, e adotando, portanto, as posições que preferem reservar o termo “racismo” para os processos de racismo biologicamente fundamentado (210). Recuperando a argumentação dos inícios da colonização, que caracterizou os indígenas como sujeitos que viviam no “estado natural”, a autora percebe uma continuidade entre essa concepção e as ideias que presidem a abertura do século XIX, onde os indígenas eram acusados de carecer de “vida civil”, continuidade que só seria quebrada com a irrupção do racismo biologicista na segunda metade do século XIX. Para falar sobre políticas matrimoniais, a autora retorna uma vez mais aos relatos dos primeiros missionários no continente, tratando de reconstruir os costumes dos indígenas no relativo às práticas sexuais, alianças afetivas, vestimenta etc. A autora recorda o papel histórico da instituição do matrimônio para a consolidação do poder da Igreja desde as reformas gregorianas, destacando que também na América essa intervenção na organização familiar indígena foi uma política de longa duração (236). Na última seção do capítulo, a autora recupera os seus trabalhos sobre a interpretação que os indígenas da vila de Benevente fizeram das políticas matrimoniais e territoriais contidas no Diretório pombalino. Através de um estudo específico de caso, ela mostra que esses índios interpretaram que o aforamento de terras a moradores brancos, permitido no artigo 80 do Diretório, estava condicionado à sua união em matrimônio com alguma índia da aldeia.
Vânia Moreira volta a tratado desse tema no capítulo seguinte, dedicado às questões de luta pela terra coletiva. A autora destaca que durante a vigência do Diretório os ouvidores de comarca se encarregavam da administração dos bens dos índios, enquanto os diretores eram os responsáveis pela administração das suas pessoas. Para Moreira, as críticas da historiografia à figura dos diretores devem ser tomadas com cautela, pois ela observa que nas duas vilas de índios do Espírito Santo os conflitos entre índios e diretores eram habituais, e que na prática estes acabavam tendo um poder de mando relativo (271). Ela destaca, além do mais, que durante esse período os indígenas foram efetivamente preferidos para os cargos de governo municipal, o que inclusive propiciou a consolidação de uma elite indígena muito ativa na cena política local. Essa situação começou a mudar no fim do século XVIII, com o aumento das intrusões de brancos e pardos nas terras indígenas, garantidas pelo aval das autoridades chamadas, em princípio, a proteger os interesses indígenas (neste caso, os ouvidores de comarca). Assim, ao mesmo tempo que os indígenas eram cada vez menos preferidos para os cargos municipais, as terras eram cada vez mais aforadas a brancos e pardos pelos mesmos poderes municipais. Segundo a autora, essa situação se manteve até o século XIX, pois ela documenta um conflito ocorrido na vila de Nova Almeida em 1847, no qual a Câmara municipal argumentara que levava ao menos 79 anos aforando as terras indígenas a brancos. Em alguns momentos, essas incursões em períodos muito anteriores ou muito posteriores aos fatos narrados podem conduzir a interpretações por vezes anacrônicas, que não tomam em conta o contexto do momento de produção do documento. Em relação ao documento de 1847, por exemplo, Moreira critica a afirmação da Câmara de que os índios eram somente usufrutuários das terras, e não os seus donos. Para a autora, a afirmação é criticável porque as terras não pertenciam ao município, mas sim aos índios, e deveriam ser protegidas segundo as leis específicas que regulavam o patrimônio indígena. Não obstante, segundo o Regulamento das Missões, aprovado dois anos antes do conflito, os índios aldeados eram somente usufrutuários das terras que ocupavam, ainda que contassem com a garantia de não ser expulsos e com a possibilidade de converter-se em proprietários após 12 anos de cultivo ininterrupto (BRASIL, 1845, art. 1.15º). O capítulo conclui, em qualquer caso, retornando ao final do século XVIII e sugerindo que esses episódios de traição por parte das autoridades chamadas a protegê-los permaneceram na memória coletiva dos moradores indígenas. Mais de vinte anos depois dos episódios, os nativos continuavam narrando aos viajantes a pouca confiança que depositavam na justiça institucional.
O último capítulo adentra no processo de subalternização dos indígenas que se abriu com o século XIX e a chegada da família real ao Brasil. Para a autora, um dos fatores que contribuiu para a progressiva exclusão dos índios dos cargos municipais foi a revogação do Diretório em 1798, porque implicou a eliminação dos privilégios dos índios e a sua equiparação jurídica ao status dos brancos. A autora conta que, ao mesmo tempo, essa equiparação só foi efetiva naqueles pontos prejudiciais à autonomia indígena, pois na prática o cargo de Diretor foi recriado, por exemplo, na vila de Nova Almeida em 1806, com o adendo de que esses novos Diretores exerciam funções mais restritas e coercitivas do que os antigos escrivães-diretores, e respondiam a uma configuração diversa do poder. Moreira conta como o sistema de trabalho compulsório foi se tornando muito mais pesado, marcado pela violência e validado pela “escola severa” do período joanino. Nesse sentido, a autora sugere que as Cartas Régias de 1808 que voltavam a permitir a “guerra justa” tinham também como objetivo reencenar a potência da monarquia, que se encontrava num contexto de crise após a fuga da Casa Real sob a ameaça de invasão napoleônica (318). No processo, reforça-se a noção de menoridade jurídica do indígena, e a subsequente submissão à tutela. Moreira conta que no Espírito Santo essa tutela foi exercida especialmente por particulares que eram encarregados de educá-los, cristianizá-los e civilizá-los. Outra faceta da menoridade jurídica era a tutela pública, que se traduzia em uma série de mecanismos que em última instância visavam ao controle social e ao trabalho coercitivo. Assim, muitos indígenas foram recrutados para o serviço militar, especialmente quando mantinham meios de vida diferenciados da cultura do trabalho nos termos europeus. Destarte, os índios que viviam da caça, pesca, roça e atividade madeireira eram os mais vulneráveis a recrutamentos forçados. Este caráter forçoso do recrutamento foi especialmente evidente porque a prestação de serviços militares à Coroa deixou de ter como contraprestação as tradicionais garantias de direito à terra, proteção e direitos específicos. O resultado, segundo Moreira, foi um significativo movimento diaspórico de indígenas aos sertões cada vez mais distantes do controle institucional, muitas vezes com as trágicas consequências de perda de laços com as suas antigas comunidades de origem, além da perda dos privilégios jurídicos reconhecidos aos índios aldeados.
Ao narrar os acontecimentos ao longo do livro, Vânia Moreira se esforça por destacar as estratégias dos indígenas para conseguir manter suas posições no contexto da conquista, esforço que se inserta numa agenda indigenista que vem buscando identificar o seu agenciamento e protagonismo como sujeitos da história. É uma tarefa que durante os últimos vinte anos vem rendendo prolíficos resultados, ainda que sejam insuficientes para situar os indígenas como agentes nos relatos não-indigenistas da história brasileira, como destacou a própria autora alguns anos atrás (MOREIRA, 2012). Por outro lado, talvez seja necessária certa cautela ao referir-se à relação entre indígenas e missionários como uma relação intercultural. Especialmente porque dentro dos estudos culturalistas a noção de diálogo intercultural vem sendo criticada por partir de um pressuposto de igualdade entre as partes que não leva em consideração a problemática da violência intrínseca à noção de universal que a cristandade e a modernidade europeia carregam, o que torna essa noção, portanto, inaplicável nos casos de identidades culturais ou reivindicações particularistas que desafiam os pressupostos do liberalismo econômico e do capitalismo mundializado – como ocorre, atualmente, com as demandas territoriais dos diferentes povos indígenas brasileiros (ÁLVAREZ, 2010).
Por momentos fica a sensação de que os jesuítas eram um mal menor no contexto da colonização, já que com eles era possível o diálogo, enquanto que com os poderes locais só imperava a força. A mesma autora, porém, frisa que a evangelização era um braço necessário da conquista violenta, que serviu para legitimá-la num momento no qual a Coroa não exercia nenhum tipo de controle efetivo sobre o território. Também é perigoso, nesse sentido, afirmar que a expulsão jesuítica acarreou uma política laica de civilização (88), já que no Diretório dos Índios o Reino reclamava para si a jurisdição temporal sobre os aldeados, mas continuava a encarregar a tarefa de evangelização e jurisdição espiritual aos representantes da igreja católica.
Tudo indica, portanto, que se existiu algum nível de diálogo prolífico entre jesuítas e indígenas, esse só foi possível pela existência de uma conjuntura em que também havia outros interesses em disputa, como os dos moradores e representantes do poder régio. Como a própria autora mostra em seu trabalho, a expulsão dos jesuítas abriu um período em que os indígenas conseguiram conservar e inclusive reforçar uma efetiva dimensão de autogoverno, que começou a desmoronar definitivamente com a mudança drástica de conjuntura aberta pelas revoluções liberais na Europa e a necessidade de reafirmação e consolidação do poder por parte das Coroas portuguesa e, posteriormente, brasileira.
Referências
ALVAREZ, Luciana. Mas alla del multiculturalismo: Critica de la universalidad (concreta) abstracta. Filosofia Unisinos n. 11, v. 2, p. 176-95, setembro 2010.
BRASIL. Decreto n. 426 – de 24 de julho de 1845 que contem o Regulamento acerca das Missoes de catechese, e civilisacao dos Indios. In Colleccao das leis do Imperio do Brasil de 1845. Tomo VIII, parte II, p. 86-96. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1846.
CLAVERO, Bartolome. Derecho indigena y cultura constitucional en America. Mexico: Siglo Veintiuno Editores, 1994.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Legislacao Indigenista no Seculo XIX. Sao Paulo: Edusp, 1992.
HESPANHA, Antonio Manuel. Imbecillitas. As bem-aventurancas da inferioridade nas sociedades do Antigo Regime. Sao Paulo: Annablume, 2010.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Reinventando a autonomia: Liberdade, propriedade, autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo, 1535-1822. São Paulo: Humanitas, 2019.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Os indios na historia politica do Imperio: avancos, resistencias e tropecos. Revista Historia Hoje n. 1, v. 2, p. 269-74, 2012.
Camilla de Freitas Macedo – Universidad del País Vasco. Bilbao – País Vasco – España.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Reinventando a autonomia: Liberdade, propriedade, autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo, 1535-1822. São Paulo: Humanitas, 2019. Resenha de: MACEDO, Camilla de Freitas. Autonomia como agência: o caráter polifacetado da história de luta indígena no Espírito Santo. Almanack, Guarulhos, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
Democracia, federalismo e centralização no Brasil – ARRETCHE (TES)
ARRETCHE, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro, Editora FGV/Editora Fiocruz, 2012, 232 p. Resenha de: LOBO NETO, Francisco José da Silveira. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.12, n.2, maio/ago. 2014.
O livro de Marta Arretche trata da democracia, do federalismo e da centralização. Temas fundamentais na sociedade radicada neste país continental que, desde 15 de novembro de 1889 se constituiu, pelo decreto n. 1 do Governo Provisório, como Federação.
A autora, ao trabalhar seu objeto, prioriza o aprofundamento da ordem constitucional atual, no qual revela sua trajetória de cientista social e cientista política, recorrendo às referências que lhe oferecem a História e o Direito, na elucidação dos fatos e na construção de sua análise interpretativa.
Importante mencionar, desde já, o rigor metodológico da organização da obra composta de cinco capítulos, cada um deles com sua especificidade e todos se integrando para conformar a unidade do livro, “apresentado originalmente como tese de livredocência defendida no Departamento de Ciência Política na Universidade de São Paulo” (p. 24), em 2007. A própria autora nos diz, na Introdução, que “embora cada capítulo possa ser lido separadamente, o livro tem uma unidade teórica e analítica” (p. 13), no “objetivo de examinar ‘se’ e ‘como’ Estados federativos produzem efeitos centrífugos sobre a produção de políticas públicas, tomando o caso brasileiro como objeto empírico” (p. 13).
Peça importante na interpretação do seu livro é, além da Introdução (p. 1131), o artigo de 2001 “Federalismo e democracia no Brasil: a visão da ciência política norteamericana” (Arretche, 2001, p. 30). Nele, ela analisa os estudos da ciência política nos Estados Unidos, revelando-nos rumos novos de pesquisa. Sua preocupação foi “destacar a necessidade de ampliação da agenda de pesquisas sobre a natureza das relações intergovernamentais no Brasil”, sugerindo dois caminhos: “exame dos processos decisórios em que o governo federal foi bem sucedido em implementar sua agenda de reformas” e “análise do processo decisório de políticas que envolvam relações diretas entre o Poder Executivo dos diversos níveis e/ou nas quais o Poder Judiciário funcione como árbitro dos conflitos intergovernamentais” (Arretche, 2001, p. 30).
A importância deste livro, portanto, está justamente na concretização dessa ampliação de agenda na própria produção da pesquisadora, a partir de 2001. As análises contidas nos cinco capítulos respondem a muitas questões, mas abrem, sobretudo, outras tantas indagações.
De fato, a autora menciona duas dimensões centrais no seu foco de análise: “o poder de veto das unidades constituintes nas arenas decisórias centrais (sharedrule) e a autonomia dos governos subnacionais para decidir suas próprias políticas (selfrule)” (p. 13). Assim, a estrutura do livro tem os três primeiros capítulos voltados para a primeira dimensão e os dois últimos abordando a segunda dimensão.
No primeiro capítulo, a pesquisadora examina 59 iniciativas de interesse federativo, que foram aprovadas na Câmara dos Deputados entre 1989 e 2006. Tratam de diferentes matérias que afetam interesses dos governos subnacionais, relacionadas às receitas de estados e municípios; à autonomia dos governos subnacionais na decisão sobre a arrecadação de seus impostos, o exercício de suas competências e a alocação de suas receitas. E ela o faz sempre trazendo o texto da Constituição de 1988, onde claramente é atribuída à União autoridade para legislar “sobre todas as matérias que dizem respeito às ações de Estados e municípios” (p. 70). A autora também demonstra que os constituintes de 1988 “não criaram muitas oportunidades institucionais de veto” e “não previram fortes proteções institucionais para evitar que a União tomasse iniciativas para expropriar suas receitas ou mesmo sua autoridade sobre os impostos e as políticas sob sua competência” (p. 70). Assim, com argumentação solidamente fundamentada, aborda os seguintes aspectos: a partir do federalismo comparado, analisa hipóteses do processo centralizador vivido na década de 1990; estuda amplamente as leis federais afetando interesses dos governos subnacionais, fundamentando-se na distinção entre execução de políticas e autoridade decisória; analisa – como determinantes federativos desse processo – as mudanças nas agendas da Presidência da República e o comportamento das bancadas estaduais; finalmente, identifica a influência das instituições federativas em relação aos processos decisórios. Em sua conclusão “de como 1988 facilitou 1995”, que aparece como título deste primeiro capítulo do livro, Marta nos diz que “há mais continuidade entre as mudanças na estrutura federativa da segunda metade da década de 1990 e o contrato original de 1988 do que a noção de uma ampla reestruturação das relações intergovernamentais autorizaria supor” (p. 72).
Já o segundo capítulo se volta para uma análise do comportamento das bancadas estaduais na Câmara dos Deputados em relação às matérias de interesse federativo, especificamente aquelas em que a União e os “governos territoriais” tinham interesses opostos. Foram identificadas 69 iniciativas – propostas de emenda constitucional (PECs), projetos de lei complementar (PLPs) e projetos de lei (PLs) – representando 24% de votações no período de 1989 a 2009. Este capítulo se ocupa da agenda federativa após a Constituição de 1988 cuja temática principal é a criação de impostos e contribuições não sujeitos à repartição com os estados e municípios, da análise da correlação entre a “centralização decisória nas arenas federais” e a limitação das “oportunidades institucionais de veto dos governos territoriais”. A conclusão da pesquisadora é exposta em um duplo aspecto. Primeiramente a “centralização regulatória combinada à ausência de arenas decisórias adicionais de veto” limita as oportunidades de veto dos governos subnacionais. Em segundo lugar, o comportamento das bancadas estaduais sem coesão em torno das questões estaduais, cedendo mais aos acordos partidários do que aos interesses regionais que representam (p. 112113).
No capítulo terceiro, a investigação se volta para uma análise comparada da relação entre federalismo e bicameralismo, como fundamentação argumentativa do estudo sobre o comportamento do Senado Federal brasileiro. Sobretudo estudando a tramitação de 28 emendas constitucionais, a autora constata que nossos senadores não se deixam afetar pelas pressões dos governadores, das elites econômicas ou da opinião pública dos estados ou regiões que representam. O poder de veto no Senado Federal, de fato, pertence aos partidos políticos e não aos interesses regionais. Unindo o caso brasileiro às teorias que embasam o relacionamento do federalismo ao bicameralismo, a pesquisadora assim se expressa em sua conclusão: “mesmo sob o bicameralismo simétrico em que a Câmara Alta constitua uma arena adicional de veto, o efeito inibidor de vocalização dos interesses regionais sobre a mudança institucional pode ser substancialmente reduzido se a segunda casa legislativa também for uma casa partidária, isto é, se a disciplina partidária prevalecer sobre a coesão da representação regional” (p. 141).
Se até aqui Arretche privilegiou a análise da centralização e o poder de veto das instâncias subnacionais, nos capítulos quarto e quinto seu foco será a descentralização e autonomia nas relações verticais da federação e a questão da igualdade regional.
O capítulo quarto examina as bases teóricas para a análise dos “mecanismos institucionais que permitem aos governos centrais obter a cooperação dos governos subnacionais para realizar políticas de interesse comum” (p. 27). A análise comparada permitiu minimizar uma correlação direta entre a criação destes mecanismos e a forma federalista ou unitária de organização do Estado. A distinção conceitual entre execução e autoridade decisória é mais útil do que a distinção entre estados federativos e unitários “para predizer os efeitos centrífugos da relação central-local, isto é, dos arranjos verticais dos estados nacionais” (p. 170). Isto significa, no caso brasileiro, que a “convergência em torno das regras federais é alavancada quando a) a Constituição obriga comportamentos dos governos subnacionais ou a União controla recursos fiscais e os emprega como instrumento de indução de escolhas dos governos subnacionais.” (…) “Neste sentido, efeitos centrífugos não são diretamente derivados da fórmula federativa, mas mediados pelo modo como execução local e instrumentos de regulação federal estão combinados em cada política particular” (p. 171).
O capítulo final enfrenta – inovando – a questão crucial do pseudo-confronto entre a proposta federalista e a igualdade territorial como forma de manter a unidade da União. Neste sentido, argumenta contra as interpretações de que a Constituição de 1988 criou instituições federativas comprometedoras da eficiência do Estado brasileiro, lembrando que não podem ser ignorados nem o papel das desigualdades regionais, nem as relações da União com os governos subnacionais sobre o seu funcionamento. A divisão entre unidades pobres e ricas é que está “na origem da escolha por um desenho de Estado que permita ‘manter a União’ e evitar os riscos associados à fórmula majoritária” (p. 175). Resgatando as discussões dos capítulos anteriores, Marta Arretche sintetiza: “Distinguir quem formula de quem executa permite inferir que, no caso brasileiro, embora os governos subnacionais tenham um papel importante (…) no gasto público e na provisão de serviços públicos, suas decisões de arrecadação tributária, alocação de gasto e execução de políticas públicas são largamente afetadas pela regulação federal”. Após debruçar-se sobre dados de um panorama das políticas nacionais de redução das desigualdades e seus efeitos sobre a desigualdade territorial de receita, das políticas nacionais de regulamentação e supervisão do gasto e seus efeitos, a autora afirma em sua conclusão: “A parte mais expressiva das transferências federais no Brasil tem sua origem no objetivo de reduzir desigualdades territoriais de capacidade de gasto. Essas foram (historicamente) um elemento central de construção do Estado brasileiro, similarmente a outras federações, em que a ideia de uma comunidade nacional única prevaleceu sobre as demandas por autonomia regional” (p. 201).
Como afirma a apresentadora, o livro traz “uma interpretação inovadora sobre o nosso sistema federativo”. É uma obra fundamental para os cientistas políticos e apoio à autoanálise dos políticos em seu comportamento. Sobretudo, porém, indicado para fortalecer análises de pesquisadores e profissionais da saúde e da educação, já que estes campos manifestam fundamental correlação entre os poderes central e locais.
Referências
ARRETCHE, Marta. Federalismo e democracia no Brasil: a visão da ciência política norteamericana. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 14, n. 4, p. 23-31, 2001. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/spp/v15n4/10369.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2014. [ Links ]
Francisco José da Silveira Lobo Neto – Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fundação Oswaldo Cruz, Manguinhos, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: [email protected]
[MLPDB]O asilo e a cidade: histórias da Colônia Juliano Moreira – VENANCIO; POTENGY (HU)
VENANCIO, A.T.A.; POTENGY, G.F. (org.). O asilo e a cidade: histórias da Colônia Juliano Moreira. Rio de Janeiro: Garamond, 2015. 336 p. Resenha de: PETRINI, Abigail Duarte. Colônia Juliano Moreira: seus sujeitos e lugares na história da psiquiatria e da loucura. História Unisinos 22(2):317-319, Maio/Agosto 2018.
O livro O asilo e a cidade: histórias da Colônia Juliano Moreira, composto por nove capítulos, é apresentado e introduzido pelo texto de suas organizadoras Ana Teresa Acatauassú Venancio – pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz – e Gisélia Franco Potengy – pesquisadora sênior do Programa CNPq/Fiocruz. As organizadoras desse livro reuniram um florilégio de pesquisas que versaram sobre a Colônia Juliano Moreira e sua imersão na vida urbana e no imaginário social da cidade do Rio de Janeiro. Essa composição de textos está, em grande medida, comprometida com o rompimento de noções estagnantes ou simplificadoras da compreensão das relações sociais decorrentes do cotidiano e das experiências entre os diversos atores, individuais e coletivos, dessa instituição de assistência psiquiátrica. Contudo, as reflexões propostas ultrapassam os propósitos de suas organizadoras, colaborando para aprofundar questões sobre a operacionalização estatal das instituições psiquiátricas, sob a inserção de prismas nos quais os sujeitos da equação ganham espaço, independentemente de sua localização na teia traçada.
São trazidas para o centro das discussões as complexidades dos cuidados formais para com pessoas em sofrimento mental por vieses como a estruturação psiquiátrica e seu vínculo ao Estado, expressados pelas ações de diversos atores sociais; a situação daqueles sujeitos que lá foram reunidos pela premissa do cuidado, mas também do rompimento de suas vidas pregressas; a de todos aqueles que assistiram cotidianamente à presença desse singular espaço de sociabilidades em que claramente as relações de poder eram hierárquicas e desiguais; o albergamento de moradores naquele espaço, mantendo suas trajetórias individuais vinculadas ao passado vivido naquela instituição, e os conflitos gerados posteriormente à sua desativação e à ressignificação daquele lugar.
Com olhares que partiram de áreas diversas, incluindo Planejamento Urbano e Regional, Sociologia Rural, Antropologia Social, Ciências Sociais, Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural, História e História das Ciências, os/as pesquisadores/as devotaram suas investigações à Colônia Juliano Moreira na busca da formação social dessa instituição e de sua participação na história da cidade do Rio de Janeiro. No artigo que inicia a coletânea, intitulado “Memória e história da ocupação e dos conflitos de terra do Sertão Carioca”, Renato de Souza Dória objetivou fazer um levantamento das imagens constituídas sobre o lugar onde foi instalada a Colônia Juliano Moreira – a região de Jacarepaguá, então pertencente à zona rural do Distrito Federal, nas primeiras décadas do século XX.
Buscou também situá-las em seus contextos histórico e social, para através delas perceber transformações daquela região quanto à sua estrutura fundiária, com atenção aos atores e grupos sociais que se inseriram nesse processo de resistência. Segundo o autor, a historiografia sobre a zona oeste do Rio de Janeiro procedeu a “[…] um silenciamento que obscureceu as experiências de organização e luta de trabalhadores que contestaram e desafiaram as relações de dominação e exploração […]” (p. 57), no conflito gerado pelas ofensivas de despejo engendradas por banqueiros, advogados, juízes, policiais, agentes da administração estatal e empresários, de um lado, e a oposição das famílias de pequenos lavradores e pescadores que habitavam a região, de outro.
O artigo subsequente, de Renato Gama-Rosa e Ana Paula Casassola Gonçalves, intitula-se “Evolução urbana da Colônia Juliano Moreira”. Os autores partem da identificação de momentos-chave da ocupação do espaço para refletir sobre o exame da arquitetura hospitalar no âmbito das políticas de saúde engendradas na Colônia Juliano Moreira, mesmo antes desta ser conhecida como tal. São foco da discussão os anos de 1750, 1912, 1941 e 1980, num trabalho analítico que parte dos mapas da área da Colônia nos séculos XVIII e XIX, e nos anos de 1922, 1936, 1941, 1945, 1953, 1964, 1975, 1984 e 2000. Estes mapas embasam a percepção de questões de maior complexidade sobre a ocupação daquele espaço, como a implantação do modelo pavilhonar europeu e do monobloco nas edificações da instituição, bem como a concretização do caráter urbano na área da instituição frente ao modelo heterofamiliar inicialmente adotado na ocupação do sítio da Colônia.
O terceiro artigo do livro, “‘E eu sei doutor?’: experiências de doença e falas sobre o Estado Novo em internos da Colônia Juliano Moreira (1941-1942)”, de Janis Alessandra Pereira Cassília, investiga as narrativas dos próprios internos sobre suas experiências de doença através de documentos clínicos, citando 19 casos e 52 Fichas de Observação de internos. Atentando para o filtro da transcrição médica que essas narrativas muitas vezes sofreram no processo de sua documentação, a autora explora a circularidade de ideias produzidas pelos internos enquanto excluídos e marginalizados tanto da história oficial quanto da própria sociedade. Quanto a seus sofrimentos e perturbações mentais, os internos expressaram seu cotidiano enquanto doentes por noções mais generalizantes e leigas do que as noções médicas sobre doença mental. Junto com esses relatos, eles também se manifestaram sobre temas como o Estado populista, as políticas trabalhistas e a cultura em que estavam inseridos, tornando Getúlio Vargas, a quinta-coluna, o comunismo e o integralismo participantes de suas narrativas de vida: “São histórias de vida e interpretações sobre o mundo que os cercava que apontam tanto para as tensões políticas do Estado Novo, quanto para as novidades culturais da época” (p. 123), esclarece a autora.
“Memórias coletivas e identidades sociais na história do Pavilhão Nossa Senhora dos Remédios (Colônia Juliano Moreira, RJ)” é o capítulo de autoria de Ana Teresa Acatauassú Venancio, Laurinda Rosa Maciel, Anna Beatriz de Sá Almeida, Bruno Dallacort Zilli e Silvia Monnerat. Destinado inicialmente a tratar a loucura e a tuberculose de suas internas, o Pavilhão Nossa Senhora dos Remédios é abordado desde sua criação em 1940 até seu declínio e desativação enquanto unidade hospitalar, transformando-se em lugar de moradia para outras pessoas que não as internas, na década de 1970, e enfim seu desligamento final enquanto lugar de moradia em 2006, momento em que a área da Colônia Juliano Moreira já fazia parte da Fundação Osvaldo Cruz. “Mesmo antes de morar no Pavilhão, muitas daquelas famílias já viviam na Colônia e lá se enraizaram, fazendo daquele local um espaço físico e simbólico que dava sentido à sua existência” (p. 158). As relações tanto de internos e trabalhadores quanto de posteriores moradores do Pavilhão foram atravessadas por problemas como a falta de profissionais na fase em que foi devotado aos internamentos e a carência de infraestrutura básica durante todo o período em que foi ocupado, questões essas presentes nas discussões abordadas pelos pesquisadores.
No quinto capítulo, “Doença mental e tuberculose nas mulheres internas do Pavilhão Nossa Senhora dos Remédios da Colônia Juliano Moreira, 1940-1973”, escrito por Anna Beatriz de Sá Almeida, Ana Carolina de Azevedo Guedes e Pedro Henrique Rodrigues Torres, os autores seguem o rastro de internas da Colônia Juliano Moreira que foram possivelmente internas do Pavilhão Nossa Senhora dos Remédios, para construir entendimentos sobre os motivos de suas internações e a forma que suas vidas tomaram enquanto estiveram internadas na Colônia.
Ao explorar essas vidas e as relações históricas em que o gênero feminino se vinculava às perturbações mentais, as pesquisadoras e o pesquisador investigaram os parâmetros que foram preenchidos nas fichas de internamento (cor, idade, estado civil, profissão, diagnóstico) e as trajetórias de algumas internas. Perscrutaram, assim, “[…] não apenas as concepções médico-científicas a respeito, mas o imaginário social mais amplo que se fazia presente nas falas transcritas dos diferentes atores sociais envolvidos” (p. 192).
De autoria de Sigrid Hoppe, o capítulo “Práticas católicas na Colônia Juliano Moreira: a igreja da instituição e a festa de São Cristóvão” parte de fontes como entrevistas e conversas com moradores da Colônia Juliano Moreira, do Livro de Ocorrências da Capela Nossa Senhora dos Remédios e da observação de rituais para analisar as relações entre catolicismo, vida social e cuidados psiquiátricos. Conduzida pela narrativa deixada pelo Padre Joaquim del Rodrigues entre as décadas de 1950 e 1990, e pela presença e registro dos rituais entre 2011 e 2012, a autora analisa a atuação da igreja católica sobre os funcionários residentes na Colônia e em relação aos internos, bem como as disputas em torno de diferentes formas de professar a fé.
Na sequência, “‘O filho do povo’ de Jacarepaguá: o médico da Colônia e as lutas sociais no Sertão Carioca (1945-1962)”, capítulo de Renato de Souza Dória e Leonardo Soares dos Santos, acompanha a trajetória de vida do médico Jacinto Luciano Moreira, que, filiado ao Partido Comunista Brasileiro, militou pelo reconhecimento dos trabalhadores da saúde pública em sua atuação nas lutas sociais vivenciadas por lavradores, pescadores e demais categorias de trabalhadores no sertão carioca na primeira metade do século XX. Acompanhar a vida de Jacinto colabora para perceber as dinâmicas em jogo em diversos planos sociais, considerando tratar-se de um homem negro que de auxiliar de lavoura e guarda de sanatório passou a atendente da instituição e, posteriormente, a médico da Colônia Juliano Moreira. Da mesma forma interveio enquanto militante em diferentes esferas de atuação, tanto no comitê do bairro quanto como candidato a vereador ou no movimento de médicos do Distrito Federal.
O oitavo capítulo, “A assistência psiquiátrica da Colônia Juliano Moreira no governo JK”, de André Luiz de Carvalho Braga, explora o período entre 1956 e 1960 e a atuação do Serviço Nacional de Doenças Mentais no Distrito Federal, focando especialmente a Colônia Juliano Moreira, mas atentando também para as demais instituições psiquiátricas federais localizadas na cidade do Rio de Janeiro, como o Centro Psiquiátrico Nacional e o Ambulatório de Higiene Mental de Jacarepaguá. As políticas assistenciais do governo Kubitschek são exploradas em relação à potencialização dos investimentos, tais como o aparato de ambulatórios, o incentivo à terapia ocupacional e os procedimentos terapêuticos (como o eletrochoque e as injeções), mas também em relação às dificuldades encontradas pela direção da Colônia Juliano Moreira.
Encerrando o livro, o capítulo de Gisélia Franco Potengy e Sigrid Hoppe, “Identidade e apropriações do espaço no bairro Colônia”, seguiu o rastro das lembranças na recuperação de vivências dos moradores da Colônia Juliano Moreira, escutando outras versões das histórias sobre o bairro e a Colônia, sem prender-se às narrativas oficiais, na valorização de conhecimentos e práticas esquecidos.
“A convivência entre as famílias de funcionários e os pacientes era compulsória, no cotidiano da vida, devido à própria concepção terapêutica do hospital […]” (p. 284).
Além destes, também ocorreram ocupações do lugar por parte de outras pessoas, o que pode ser percebido no conflito entre os antigos moradores e os novos, enunciados como os “de dentro” e os “de fora”. Essas manifestações revelam conflitos surgidos em decorrência das mudanças das pautas do Estado para com os doentes mentais e as instituições psiquiátricas – a reforma antimanicomial e antipsiquiátrica – e também para com o funcionalismo público, integrando o lugar da então Colônia Juliano Moreira à cidade, visando à democratização de direitos.
O conjunto dos textos que compõem o livro “O asilo e a cidade: histórias da Colônia Juliano Moreira” expôs as ramificações sociais em diversos contextos e períodos daqueles que passaram pela instituição, seja como internos, funcionários ou mesmo moradores daquele lugar, acompanhando os significados da Colônia Juliano Moreira em suas vidas, tal como um sujeito maior de suas histórias.
O livro aponta para novas perspectivas de compreensão das dinâmicas sociais engendradas pelos asilos manicomiais, seja em suas relações com as políticas públicas de saúde mental, seja quanto às práticas culturais que perpassam as vidas daqueles que são recebidos sob seus auspícios, seja do ponto de vista dos conflitos decorrentes da instalação, manutenção e desenvolvimento de suas estruturas. A obra ultrapassa, assim, concepções superficiais como a de que o asilo é meramente um depósito de loucos, separados do mundo por seus muros, expandindo com riqueza o entendimento sobre as instituições psiquiátricas.
Abigail Duarte Petrini – Doutoranda no Programa de Pós- -Graduação em História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Rua Pernambuco, 1777, 85960-000, Marechal Cândido Rondon, PR, Brasil. E-mail: [email protected].
Plínio Salgado: um católico integralista entre Portugal e o Brasil (1895-1975) | Leandro Pereira Gonçalves
O filósofo da ciência Karl Popper (1980) costumava afirmar que o conhecimento científico é, acima de tudo, uma luta contra o marasmo e as supostas verdades preestabelecidas dentro do próprio campo científico. Podemos compreender esse “marasmo” e as “supostas verdades estabelecidas”, em parte, como os próprios estudos científicos que marcam época e criam um establishment em determinada área de pesquisa. Leia Mais
Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000 – BURKE (S-RH)
BURKE, Peter. Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000. São Paulo: Editora Unesp, 2017. Resenha de: SANTOS, Jair. O conhecimento sem pátria. SÆCULUM – Revista de História, João Pessoa, v. 25, n. 42, p. 222-226, jan./jun. 2020.
Todos os que acompanham a atualidade política sabem que um tema em particular está quase sempre presente no debate público, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos: a imigração. A polêmica discussão é animada não somente pelos jornalistas e atores políticos, com posicionamentos nem sempre apaziguadores, mas também pelos intelectuais. São inúmeros os acadêmicos – filósofos, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, juristas – que tentam, através de uma análise mais serena e por meio dos instrumentos fornecidos pela ciência que professam, analisar a imigração como um fenômeno social complexo, com diferentes causas e diversas consequências para a sociedade. O último livro de Peter Burke, fruto de conferências proferidas na Historical Society of Israel em 2015, é um belo exemplo de como um historiador, de quem se costuma esperar apenas um olhar crítico sobre o passado, também pode enriquecer a reflexão acerca de problemas atuais. A obra Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, publicada em 2017, estuda um tipo específico de imigração: a dos intelectuais que deixaram seu país natal, de modo espontâneo ou forçado, e prosseguiram a sua produção intelectual em outras terras. A partir desse grupo seleto de imigrantes, o autor examina os efeitos do encontro – ou eventualmente do choque – entre duas culturas na produção e difusão do conhecimento. Este é o pressuposto central do livro: a imigração é um fato social de efeitos recíprocos, isto é, tanto os indivíduos que imigram quanto a sociedade estrangeira que os acolhe são de algum modo afetados e transformados pelo intercâmbio que se opera. Está claro, portanto, que o livro refuta o argumento, às vezes invocado em âmbito político, segundo o qual a influência estrangeira é necessariamente nociva para a cultura nacional. Leia Mais
Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia | João José Reis
Vinte e seis anos depois da publicação de um artigo no dossiê na Revista USP intitulado “A greve negra de 1857 na Bahia”, o historiador baiano João José Reis lançou resultados mais amplos desta ambiciosa pesquisa em “Ganhadores”, livro de subtítulo homônimo ao texto do dossiê. No próprio artigo da década de 1990 foi pontuado que aquele era só parte de “um estudo mais amplo” (REIS, 1993, p.8) que ele estava realizando. Portanto, o livro é o produto deste esforço quase trintenário do historiador, que revela o aprimoramento da análise das fontes ao longo deste intervalo, além do enriquecimento da perspectiva acerca do seu objeto, seja pelas outras contribuições historiográficas que acompanharam o processo desta pesquisa até a conclusão da obra, seja pela adição de novas fontes ao trabalho iniciado anteriormente.
O exercício do ganho entre os escravizados e libertos era comum desde o século XVIII e em outras áreas além da Bahia. Ele consistia na prática de venda, por parte do proprietário ou do próprio liberto ou livre, do seu serviço para variadas atividades na cidade, como carregamentos, transportes de palanquins, venda de alimentos, entre outras atividades. Nesta lógica, mesmo o escravizado receberia uma remuneração pela função de ganho desempenhada. João José Reis outras especificidades desta dinâmica laboral fronteiriça entre a escravidão e a liberdade no espaço de Salvador oitocentista, onde há a particularidade dos “cantos de trabalho”. Eles consistiam em agrupamentos de trabalhadores, além de constituir também mais um espaço associativo negro. Inicialmente, se compunham exclusivamente de africanos que se reuniam em locais definidos onde ofereceriam seus serviços. Tal organização seguia critérios de gênero, etnicidade, normas internas e públicas, definidas por posturas. Leia Mais
Hospitais e saúde no Oitocentos: diálogos entre Brasil e Portugal | Cybelle Salvador Miranda
Por um vasto oceano uniram-se dois continentes, com uma língua e um passado partilhados. Entre as viagens, sobreveio um profícuo e interessante linguajar oitocentista entre vários actores e instituições portugueses e brasileiros. Essas “conversas”, influenciadas por uma Europa de referência elitista, por um maior poder económico e um rápido incremento de estatuto social, foram cruciais para a apropriação e a utilização de conceitos na arquitetura da época. Cybelle Salvador Miranda e Renato da Gama-Rosa Costa, no livro Hospitais e saúde no Oitocentos: diálogos entre Brasil e Portugal , publicado em 2018, pela Editora Fiocruz, organizam relatos históricos de uma viagem icónica entre esses dois mundos que, aparentemente diferentes, beberam da mesma fonte.
Os diversos poderes imperiais e não imperiais que, nesse arco cronológico, sofreram metamorfoses são, também, agentes produtores de registos cruciais, pois, em última análise, a decisão é um poder executivo. Nessa obra, não são apenas os detalhes históricos centrados em sistemas governativos, mas também as visões dos doentes para com os seus decisores, invertendo a narrativa para ilustrar a importância da doença e do tratamento – o relato pelas elites resulta, normalmente, numa linha histórica rapidamente solúvel. As diversas peças do puzzle são extensivamente analisadas nos textos, entre as quais a questão da mudança da direcção médica das instituições, a consolidação científica, a título de exemplo. A arquitetura é um “espelho de Alice” que, além de refletir imagens da sua realidade, revela, por detrás, um mundo desconhecido de premissas e locuções – as mesmas que, também, o livro desvenda. Leia Mais
La mujer que salvaba a los niños – MULLEY (SEH)
MULLEY, C. La mujer que salvaba a los niños. Barcelona: Alienta Editorial, 2018. Resenha de: SÁNCHEZ, Elena Duque. Social and Education History, v9, n.1, p.121-123, feb., 2020.
El presente libro es una biografía de Eglantyne Jebb, nacida en 1876 en Ellesmere (Reino Unido) en una familia de clase media intelectual, que tal y como se detalla en el libro, poseían una casa en la que en todas las habitaciones era posible encontrar libros. Una pasión, la lectura que Eglantyne inició desde pequeña y no abandonó hasta su muerte. Licenciada en historia por la universidad de Oxford decidió en 1899 comenzar a dar clases en una escuela para niños y niñas de clase trabajadora y con situación económica precaria. Esta experiencia la llevó a apasionarse por la educación y por la búsqueda de mejores metodologías de aprendizaje y a estudiar la carrera de magisterio.
Tal y como se muestra a través del libro, los varios problemas de salud que tuvo nuestra Eglentyne generaron que tuviera que pasar largos períodos sin trabajar. Fue a partir de 1916 que empezó a unirse aún más a su hermana Dorothy, que movida afiliada a Liga internacional por la paz y la libertad y activista pacifista. Dorothy estaba convencida que la promoción de una visión más humanitaria de los enemigos de la Gran Bretaña se podría conseguir una paz negociada (recordemos que para esas fechas, ya se había iniciado la I Guerra Mundial). Uno de los proyectos de Dorothy para combatir la información sesgada sobre la guerra en los periódicos de Gran Bretaña, fue la de publicar noticias de la misma guerra, pero en periódicos de los países enemigos o neutrales. Con el objetivo de mostrar el sufrimiento de ambos bandos y no justificar la guerra. Entre su equipo de colaboradoras y traductoras se encontraba su hermana Eglentyne que dominaba con fluidez el francés y el alemán En 1919, entre cuatro y cinco millones de niños y niñas se estaban muriendo de hambre en Europa. Dorothy creó en marzo la Oficina de Información sobre el Hambre con el objetivo de recoger información fiable de la verdadera situación de los niños y niñas víctimas colaterales de la guerra. En estos momentos se empezaron también a elaborar y distribuir folletos de niños y niñas austríacas hambrientas, mostrando así las secuelas que estaba teniendo la guerra para un colectivo totalmente inocente. Motivo por el que fue detenida Eglentyne y otra compañera y llevadas a juicio. El motivo fue la distribución de propaganda no autorizada por el gobierno.
La propaganda involuntaria de dicho juicio fue aprovechada por las dos hermanas y convocaron una “Reunión contra la hambruna” el 19 de mayo de 1919. Fecha que se considera la creación de Save de Children. En dicha reunión Eglentyne dio un mensaje muy poderoso sobre los niños y niñas: “Tenemos un único objetivo, salvar a tantos como sea posible. Tenemos una sola regla, les ayudaremos sea cual sea su país, sea cual sea su religión” (p.319).
Aunque existían otras organizaciones humanitarias en terreno de guerra, la realidad era que los niños y sus necesidades no eran tenidos en cuenta.
Siendo así que Save the Children se convirtió en la primera organización benéfica especial creada para niños sin hogar y la primera fundada por mujeres. También es la mayor organización internacional independiente para la mejora de la infancia. Y, por lo tanto, también ha contribuido a crear conciencia de la existencia de derechos de un colectivo totalmente invisibilizado como eran los niños y niñas.
A partir de su creación, el trabajo se centró en recaudar fondos para hacer llegar la ayuda al máximo de niños y niñas y a crear una conciencia de que éstos ser considerados terreno neutral. Para hacer aún más clara esta posición de la asociación, se decidió poner su sede en Ginebra, considerado país neutral.
Al trabajo en Save the Children como presidenta de Eglentyne, se unió su empeño por crear un documento con reconocimiento que reuniera los derechos imprescindibles de los niños y niñas, tal y como se detalla en el capítulo 15, llevó a Eglantyne a elaborar un inicial redactado llamado “Carta del niño” con cinco puntos que fue el punto de partida de la promulgación de los Derechos del niño y la niña por parte de las Naciones Unidas. En este libro se pueden encontrar los detalles de la trayectoria de una mujer que se rebeló también contra las imposiciones sociales de su época y consiguió hacer partícipe a la humanidad de la necesidad de poner en el centro del bienestar a los niños y niñas.
Elena Duque Sánchez – Universidad de Barcelona. E-mail: [email protected].
[IF]Instituto de Menores Artesãos (1861-1865): informação, poder e exclusão no Segundo Reinado | Douglas de Araújo Ramos Braga
Resultado de uma pesquisa de iniciação científica que se tornou tema de trabalho de conclusão de graduação, o livro é fruto da monografia de Douglas de Araújo Ramos Braga- graduado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), mestre em História das Ciências e da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz (COC-FIOCRUZ) e atualmente doutorando em História pela Universidade de Brasília (UNB) 1.
Instituto de Menores Artesãos (1861-1865): informação, poder e exclusão no Segundo Reinado concede centralidade às noções de “criança”, “infância” e “menor”, numa análise que busca entender a experiência institucional do instituto de vida efêmera que exerceu profundo impacto sobre os indivíduos que para ela foram enviados-retirados das ruas ou mandados por familiares que não tinham condições de criá-los. O que eram crianças? O que eram menores? Como e porque eram inseridos junto a outras figuras – homens, mulheres, livres, escravos, imigrantes, africanos livres de diversas idades – nas chamadas “classes perigosas”? O que era ser criança, o que era infância? São algumas das perguntas que norteiam as reflexões do autor, que insere sua problemática no debate maior acerca das políticas públicas de controle e esquadrinhamento social pelo Estado Imperial. Leia Mais
Crescendo em silêncio: a incrível economia escravista de Minas Gerais no século XIX | Roberto Borges Martins
Prieto: Yoruba Kingship in Colonial Cuba during the Age of Revolutions | Henry B. Lovejoy
Faz mais de um século que historiadores e antropólogos têm se atribuído a tarefa de realçar o legado dos homens e mulheres procedentes do chamado “país iorubá” em Cuba. Cumprir tal tarefa parecia inevitável, pois se tratava dos criadores de um dos sistemas religiosos de origem africana mais difundidos e aceitos no país: a Santería. Sistema que, a partir de uma visão colonialista assumida sem muitos reparos, foi catalogado como menos “selvagem” ou mais “civilizado” do que outros de igual origem, o Palo Monte ou Regla de Conga, uma herança que os cubanos podem ostentar com certo orgulho. No caso da Santería, admiração que possivelmente aumentaria se muitos outros cubanos soubessem que os lucumís – como eram chamados os iorubás em Cuba – foram os protagonistas de algumas das mais sérias sublevações produzidas na primeira metade do século XIX. Não importa tanto se estas revoltas se manifestavam, no dizer dos estudiosos, como mera continuidade das “guerras” que muitos haviam sustentado em suas terras, porque o próprio fato de rebelar-se fora suficiente para incorporá-los ao cânone da luta anticolonial, mais ainda se destruíram plantações açucareiras e cafezais e, no caminho da liberdade, mataram a todo soldado espanhol empregado por seus opressores. Em resumo, ainda que o ditado mais conhecido em Cuba seja “quem não tem de congo tem de carabali”, também devemos contabilizar um DNA lucumí digno de ser conhecido, e assim a muitas histórias de vidas que ainda permanecem ocultas nos arquivos. Leia Mais
A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista: O que não deve ser dito / Marco Morel
A obra do historiador Marco Morel intitulada: “A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista: O que não deve ser dito” é dividida em três partes, e se debruça sobre os efeitos da Revolução Haitiana de 1791 no Brasil. Na primeira parte do livro, o autor apresenta um esboço da história haitiana e um quadro cronológico dos principais eventos ocorridos a partir de 1492 na antiga colônia francesa quanto na portuguesa, fazendo referência à chegada dos espanhóis na “Hispaniola” e ao fim do tráfico negreiro a partir do tratado entre Brasil e a Grã-Bretanha, em 1826. Em seguida, o autor delineia o perfil de todos os líderes haitianos e suas ascensões no cenário revolucionário, analisando concomitantemente, as primeiras constituições do país caribenho, com destaque à classificação racial elaborada pelo colono Moreau de Saint-Méry, um dos aspectos fundamentais no processo revolucionário de 1791. A segunda parte apresenta uma visão panorâmica do olhar ocidental sobre a revolução, através das ideias dos abades franceses Henri Grégoire, François Raynal e De Prat, os mais influentes do período revolucionário. Além disso, o autor destaca a relação e os impactos do pensamento dos abades sobre o período colonial na América, especialmente no Brasil e no Haiti.
Na terceira e última parte do livro, Morel desenvolve o principal objetivo de seu trabalho, ou seja, uma investigação por meio de jornais sobre os efeitos da revolução haitiana no Brasil, ressaltando as atuações de vários brasileiros letrados e não escravizados que tiveram contato com os eventos da pérola das Antilhas. A menção final do título dessa obra chama nossa atenção “o que não deve ser dito” deixando subentendido que há ocorrências que não deveriam ser ditas [2]. Essa perspicácia da obra traz uma motivação a uma compreensão destes fatos latentes, muito embora, questões relativas à Revolução do Haiti de 1791, ainda são pouco estudadas no meio acadêmico brasileiro. Portanto, isso contribui de certa forma na relevância deste livro, que é considerado um dos primeiros (em sua maior parte) a compreender a Revolução de São Domingos de 1791.
Marco Morel é historiador e professor associado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, formado em Jornalismo e possui mestrado e doutorado em História. É importante sublinhar que o livro aqui resenhado vem apenas aumentar a quantidade de publicações do autor sobre o Haiti. Em 2005 publicou-se nos anuários dos Estudos Bolivarianos sua primeira produção a respeito do Haiti cujo trabalho estipulado A Revolução do Haiti e o Império do Brasil: intermediações e rumores. No mesmo ano, publicou na revista Almanaque Braziliense O abade Grégoire, o Haiti e o Brasil: repercussões no raiar do século XIX, onde parece ter iniciado os estudos sobre as relações dos eventos entre Haiti e o Brasil.
Ao dedicar mais de trezentas e quarenta páginas a revolução haitiana, suas diversas facetas e suas conexões, o autor discute os impactos e as influências da revolução haitiana no contexto do Brasil escravista. A referência aos impactos dos ocorridos da revolução liderada por Toussaint Louverture e Jean Jacques Dessalines da antiga colônia francesa na colônia portuguesa da América não é algo novo, pois, autores brasileiros como Sidney Chalhoub (1990) em Visões de liberdade[3], Luiz Mott (1988) em Escravidão, homossexualidade e Demonologia [4], Patrícia Valim em sua tese de doutorado de (2007) Da sedição de mulatos a conjuração baiana de 1798: a construção de uma memória histórica [5] e João José Reis (1986) em Rebelião escrava no Brasil [6], dentre outros e também inúmeros artigos, já haviam destacado a presença do que é chamado por Eugène Genovese [7] (1983) de “inspiração negra” em vários estados brasileiros durante o período escravista. Entretanto, a obra A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista: O que não deve ser dito baseia-se em uma bibliografia diversificada e com uma presença significativa de documentos e autores haitianos, trazendo em seu conteúdo uma análise inovadora, além de ser um importante estudo dos efeitos causados pela Revolução do Haiti sobre a antiga colônia portuguesa, sobretudo no período pós-independência. Não por acaso, o autor estende suas análises até o período de 1825, um período importante na história pós independente do Haiti, que se viu obrigado a pagar uma alta indenização para que a antiga metrópole francesa pudesse reconhecer a independência da nova nação haitiana.
A obra traz para os leitores, especialmente os do meio acadêmico brasileiro, um debate sobre a classificação racial, um aspecto fundamental na compreensão dos principais eixos da revolução de 1791. A questão racial relembra Morel (2017) representa um ponto chave tanto na história de São Domingos como colônia, quanto na história do Haiti independente, ou seja, o autor reconhece, de certa forma, o papel central da questão racial no cenário colonial e revolucionário haitiano. No entanto ao analisar os conflitos internos (negros escravizados e mestiços livres de cor) e externos (contra a escravidão) na colônia, o autor mostra seu desacordo com o historiador Pauléus Sannon, no que se refere à ênfase dada por este autor aos aspectos raciais. Para Sannon [8] (1938) as inúmeras lutas sociais e políticas que se deram na colônia nesse período tiveram suas origens nos conflitos raciais ocorridos em São Domingos. Do mesmo modo, o historiador Gérard Barthelémy que publicou em 1989 Le Pays en de hors [9] na qual analisa o espaço rural haitiano do período pós-escravagista, alega que na colônia para o emancipado, a cor da pele constituiu-se em um estigma, marca indelével da infâmia, embora juridicamente ele fosse considerado livre. Nesta fronteira, onde os limites de cores são tão incertos quanto os limites das condições, às pessoas de etnias diferentes (do branco) entram no centro das contradições. Entretanto, segundo Morel [10] os diversos conflitos que ocorreram na parte francesa da ilha deveriam ser analisados a partir de perspectivas sociopolíticos. Isto é, esta visão enfatiza que a luta da população negra escravizada contra o sistema escravista e contra as políticas europeias eram centradas na luta pela ascendência social e político.
As notícias não fizeram esperar para chegar aos períodos luso-brasileiros, nos jornais como o Correio Braziliense e a Gazeta do Rio de Janeiro. A presença de vários traços dos eventos da revolução de 1791 já circulava nos territórios brasileiros e o nome do Haiti era referenciado tanto como exemplo de defesa da soberania quanto como exemplo de combate à escravidão. Morel nota que em 1805, um ano após a proclamação da Independência de São Domingos, as notícias já circulavam em terras brasileiras, especificamente no Rio de Janeiro onde os soldados de milícias usaram o retrato de Jean Jacques Dessalines, a maior figura nacional do movimento revolucionário haitiano. Nessa onda de inspiração haitiana em terras brasileiras, o cenário não era diferente nas regiões do Nordeste como Pernambuco e Sergipe. Entre 1818 e 1822, um pouco antes do surgimento da expressão haitianismo, foram registradas diversas referências ao Haiti. As referências expressam duas visões opostas. De um lado, expressava um certo desespero da parte dos senhores porque representava uma ameaça para o sistema escravista. De outro lado, ela simbolizava esperança aos escravizados.
A resistência de Emiliano Mundurucu e de seus próximos, o pastor Agostinho Pereira na cidade de Recife na Confederação do Equador contra a escravidão e o preconceito racial, confirmam as lutas e as ideias empregadas pelos líderes haitianos do período pós-independência de libertar as colônias ainda sobre a dominação europeia. Entre 1804 e 1816 os líderes da revolução de 1791 participaram de forma ativa à medida que ofereciam armas e munições na batalha para erradicar a escravidão na América espanhola. Isto permite entender que os líderes da revolução haitiana não limitavam as suas batalhas contra a colonização e a escravidão apenas no seu país, tratava-se de uma luta contra a escravidão, a desigualdade racial e contra todos aqueles que violavam os princípios gerais da liberdade humana. Em outras palavras, como assinala Buck-Morss, contra o sistema colonial no seu conjunto [11].
A leitura da obra em questão, instiga a perceber que as influências e a presença dos eventos da Revolução do Haiti resultaram em diversas consequências para o Brasil. O haitianismo no Rio de Janeiro, com efígie de Jean Jacques Dessalines nos peitos de escravizados, as notícias nos periódicos lusos brasileiros, as referências aos heróis da revolução entre pretos e pardos nas terras brasileiras, o medo causado nas elites econômicas, foram entre outros, indicadores que sugerem a pluralidade nas formas influenciadoras da revolução haitiana de 1791.
Notas
2. É importante sublinhar que na historiografia francesa e/ou haitiana, a referência a algo ocultado no processo revolucionário é geralmente relacionado à última batalha pela Independência do Haiti onde as tropas napoleônicas foram derrotadas em Vertières em 18 de novembro de 1803. Este fato foi ocultado pela historiografia francesa durante séculos, como é apontado por vários autores como Marcel Dorigny e Jean-Pierre Le Glaunec, em estudos mais recentes.
3. CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
4. MOTT, Luiz R. B. Escravidão, homossexualidade e demonologia. São Paulo: Ícone, 1988.
5. VALIM, Patrícia. Da sedição de mulatos a conjuração baiana de 1798: a construção de uma memória histórica. Tese (Doutorado em História) – Universidade de São Paulo: São Paulo, 2007.
6. REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês, 1835. São Paulo, SP: Brasiliense, 1986.
7. GENOVESE, Eugene D. Da rebelião a revolução. São Paulo: Global, 1983.
8. SANNON, Pauléus. Histoire de Toussaint Louverture. Port au-Prince, Haiti, 1938.
9. GERARD, Barthelémy. Le Pays en dehors; essai sur l’univers rural haïtien. Cidhca, Canada 1989.
10. MOREL, Marco. A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista: O que não deve ser dito. 1. ed. Jundiaí. São Paulo: Paco, 2017, p. 96.
11. BUCK-MORSS, Susan. Hegel e Haiti. Novos estudos. 90-julho, 2011.
Breno Logis – Doutorando em História pela Universidade Estadual Paulista – Câmpus Assis-UNESP. Correio eletrônico: [email protected].
MOREL, Marco. A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista: O que não deve ser dito. 1. ed. Jundiaí. São Paulo: Paco, 2017. 348, p. Resenha de: LOGIS, Berno. História.Com. Cachoeira, v.7, n.13, 2020. Acessar publicação original [IF].
Sobre o autoritarismo brasileiro / Lilia M. Schwarcz
Escravidão, Racismo, Mandonismo, Patrimonialismo, Corrupção, Desigualdade social, Violência, Raça, Gênero, Intolerância, Tempo Presente, Brasil, Século 19, Século 20, América
Nós, os brasileiros, somos como Robinsons: estamos sempre à espera do navio que nos venha buscar da ilha a que um naufrágio nos atirou (Lima Barreto, “Transatlantismo”, Careta).
Em tempos de retrocesso, em que a esperança parece ter fugido do coração dos homens, é preciso voltar ao passado. Em momentos históricos conflitantes, nos quais a histeria e intolerância tornam-se a tônica do cotidiano, é preciso entender onde erramos, reencontrarmo-nos com o mais profundo de nós. Em momentos de frivolidades, mesquinharias, total apatia ao saber e à cultura, é preciso um pouco mais de poesia, de literatura, arte, diálogo. Como diria o poeta: “Precisamos adorar o Brasil! Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, porque motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos” (ANDRADE, s.d., s.p).
É preciso tentar entender, em suma, os caminhos percorridos por nós, brasileiros, na construção deste país que ainda se faz muito desigual e injusto, é preciso que nós, historiadores, inventores do passado (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007), na lida com o seu inventariado, coloquemos a nu o Brasil, naquilo que ainda o faz um país do atraso e autoritário. Penso eu que foi essa responsabilidade, diante do caos, que provocou na antropóloga e historiadora brasileira, Lilia Moritz Schwracz, a necessidade de escrever uma obra como a que foi recém-lançada pela Companhia das Letras em 2019, intitulada Sobre o autoritarismo brasileiro.
No atual momento da história brasileira, discutir temas como escravidão, racismo, mandonismo, corrupção, desigualdade social, violência, etc, constitui-se como uma tarefa fundamental, como que um lembrete aos incautos sobre os verdadeiros dilemas do país. Como diria o velho historiador: “o papel do historiador é lembrar aquilo que a sociedade insiste em esquecer”.
O livro é curto, cerca de 255 páginas que se entregam à uma viagem ao Brasil profundo, revelando aspectos não tão somente de seu passado, mas demonstrando claramente como este passado ainda ecoa no presente, produz mártires, heróis e muitos esquecimentos ao longo de sua história. É válido ressaltar que alguns temas que aparecem no livro já foram discutidos pela antropóloga em alguns de seus outros livros e artigos, como o capítulo Escravidão e Racismo, que aparece na coletânea História da Vida Privada no Brasil (volume 4, 1998), ou como também de seu outro recente livro, escrito em parceria com Heloísa Starling, intitulado Brasil uma biografia.
O livro é dividido em duas partes: uma primeira contém oito capítulos com os temas: Escravidão e racismo; Mandonismo; Patrimonialismo; Corrupção; Desigualdade social; Violência; Raça e Gênero e; Intolerância. Na segunda parte um breve panorama sobre o nosso presente, intitulado Quando o fim é também o começo: Nossos fantasmas do presente.
Em uma proposta honesta, já na introdução podemos sentir a que vêm as páginas seguintes. A autora se posiciona diante dos fatos, toma partido, sua obra não se torna panfletária deste ou daquele lado, num país divido, mas propõe-se a ser mais que uma obra enunciativa, ela denuncia os mandos e desmandos pelos quais passamos ao longo de nossa história. E por falar em História, um aviso aos leitores: “história não é bula de remédio”. Isso para falar das várias vertentes que explicaram e explicam ainda hoje o Brasil, seja em suas teses validáveis, ou naquelas ainda hoje criticadas pela Academia, mas que fazem parte do imaginário popular acerca do país, algumas delas como a de democracia racial, difundida por Gilberto Freyre.
Naturalizar a desigualdade, evadir-se do passado, é característico de governos autoritários que, não raro, lançam mão de narrativas edulcoradas como forma de promoção do Estado e de manutenção do poder. Mas é também fórmula aplicada, com relativo sucesso, entre nós, brasileiros. Além da metáfora falaciosa das três raças, estamos acostumados a desfazer da imensa desigualdade existente no país e a transformar, sem muita dificuldade, um cotidiano condicionado por grandes poderes centralizados nas figuras dos senhores de terra em provas derradeiras de um passado aristocrático (SCHWARCZ, 2019, p. 19).
É em torno do binômio passado/presente que toda a narrativa do livro se dá. Parte-se do presente, do nosso presente, marcado por discursos autoritários, para mostrar-nos que sempre fomos autoritários, que as desigualdades entre nós, de tão oficializadas pelo Estado, já foram por nós naturalizadas, não nos causando estranhamento e apatia, pelo contrário, é dessa naturalização de tais características nossas que novos sujeitos autoritários surgem e ganham total apoio do povo, culminando numa perpetuação de nossas desigualdades, só que agora mais cristalizada, edulcorada, aceitável e demandada.
A historiadora nos faz lembrar que, diante de toda a história brasileira o tema da escravidão se coloca como um problema ainda não superado pela sociedade. O racismo advindo dela, como a posse de uma pessoa por outra, só geraria um regime nefasto e sanguinolento. Por isso, no livro abundam dados de pessoas que sofreram na pele os desígnios da escravidão na época de sua vigência, como também daqueles que, pós abolição, encontraram-se sem qualquer tipo de assistência por parte do Estado, culminando nos atuais atrasos vivenciados por nós até hoje, como a constituição segregadora de nossas cidades, regiões específicas delas nas quais eclodem violências fruto da desigualdade.
Ao longo de sua análise é possível notar a perpetuação de antigos sujeitos no cerne do estabilishment brasileiro. Figuras frutos das antigas oligarquias do baronato brasileiro que, incrustando-se na vida política de determinadas regiões brasileiras, formam verdadeiros clãs no Estado. Como é o caso da família Sarney, dos Gomes e até mesmo, atualmente, da família Bolsonaro, na realidade carioca. Esse mandonismo brasileiro é um dos motivos de seu atraso, uma vez que esses clãs têm o Estado como um campo seu, particular, em atendimento aos seus interesses privados.
Surge daí a evidente noção de Patrimonialismo que desemboca em diversos tipos de corrupção na República. No livro, fica demonstrado que a corrupção é a palavra-chave de nosso dicionário político ao longo da história, desde a primeira carta de Pero Vaz de Caminha até os recentes escândalos de corrupção que malogram os dias brasileiros. Tais atos políticos, naturalizados pelos brasileiros de parte a parte, fazem do Brasil o que ele é hoje; um país democrático, é certo, mas que a qualquer tempestade vê a sua democracia se esvaindo e não sente no povo a sua inspiração de esperança e futuro melhor, pelo contrário, o povo, aqui, parece ter cumprido sempre o papel de apoiador alienado dos interesses das elites do momento.
Hoje, saltam aos nossos olhos milhares de homicídios pelas grandes cidades brasileiras. Suas vítimas? Na maioria das vezes jovens negros, habitantes das favelas. Onde erramos nós? O que fez com que estes homens brasileiros, tão guerreiros e trabalhadores, brutalizarem seus olhares para a vida e morte do próximo? Gays, lésbicas, trans e tantos outros morrem brutalmente, silenciosamente, todos os dias, a cada minuto no Brasil, simplesmente por pertencerem a este ou àquele grupo a que chamamos “minorias”. Por serem minorias o Estado não os tem assistido de seus direitos, demandas, sonhos.
Raça e Gênero, outro problema tão grave, tão brutal, que parece ter se extrapolado no dia a dia brasileiro. Homens que têm em mente que suas parceiras são sua posse as matam, as encarceram e as agridem, física e existencialmente. Tudo se perdeu, as colorações político-partidárias parecem estar estampadas na face de cada um, sem diálogo, sem conversa, esquerda ou direita. Precisamos de mais poesia, de mais humanidade, de democracia e de história. “Precisamos descobrir o Brasil, escondido atrás as florestas, com a água dos rios no meio, o Brasil está dormindo, coitado, Precisamos colonizar o Brasil”.
Às vezes, na descoberta deste Brasil nos defrontamos com tão tristes histórias, a sua história, que a lida parece ser impossível. E nós historiadores, que nos posicionamos diante do caos, inventando e inventariando esse cipoal de tragédias por pouco perdemos as esperanças, de tão atacados, difamados, violentados que somos. Seja em nossos escritos, em nossos posicionamentos, em nossos recortes e escolhas, desvendemos o Brasil, esse jovem país, acossado por tantas precariedades. Este é o nosso papel, “farejar a carne humana”, numa história cada vez mais humana e voltada para os homens, problematizemos o Brasil, mesmo que seja sem esperança, vai que por aí, por sorte ou compaixão ela renasça novamente no coração dos homens. Não sei, na democracia tem dessas coisas!
Referências
ALBUQUERQUE JUNIOR. Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. Bauru, SP. Edusc, 2007.
ANDRADE, Carlos Drummond. Hino Nacional. Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/5668/hino-nacional . Acessado em: 30/08/2019.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
Marco Túlio da Silva – Graduado em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Membro do Núcleo de Estudos Históricos da Arte e Cultura (NEHAC-UFU). Bolsista CNPQ. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2763247048100798. E-mail para contato: [email protected].
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. Resenha de: SILVA, Marco Túlio da. Autoritarismos e o Brasil: uma fissura no silêncio. Em Perspectiva. Fortaleza, v.6, n.1, p.339-342, 2020. Acessar publicação original [IF].
Transnational South America: Experiences, Ideas, and Identities, 1860s1900s | Ori Preuss
Transnational South America, de 2016, é o segundo livro publicado do historiador americanista Ori Preuss. Professor do Instituto de História e Cultura da Universidade de Tel-Aviv, Preuss estuda os intercâmbios transnacionais entre as capitais sul-americanas da passagem do século XIX para o XX. Trabalhando com fontes relacionadas ao fluxo de ideias e pessoas, o objetivo central dos trabalhos do autor tem sido analisar a formação histórica de um espaço denominado América Latina. Para isso, dialoga com o campo da História transnacional que, na última década, passou a questionar veementemente o conceito de Estado-nação como unidade de análise.
Imbricado na tarefa de construir categorias espaciais transnacionais cabíveis para a análise historiográfica, Preuss elegeu o processo de modernização do final do século XIX como o momento de intensificação das trocas entre os países então denominados latino-americanos. Seu grande desafio, contudo, é analisar a inserção do Brasil nesse espaço. Em Bridging the Island, publicado em 2011, o autor buscou percorrer a trajetória dos intelectuais que contribuíram para a formação de uma ideia de América Latina no Brasil. Já em Transnational South America, Preuss aumentou seu escopo ao propor um mapeamento da trajetória de ideias e pessoas que circularam entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires com o intuito de fortalecer laços latino-americanos. Leia Mais
Love, order, and progress: the science, philosophy, and politics of Auguste Comte. BOURDEAU et. al. (HCS-M)

En el Capítulo 86 de Rayuela de Julio Cortázar (2008) se puede leer: “Quizá haya un lugar en el hombre desde donde pueda percibirse la realidad entera. Esta hipótesis parece delirante. Auguste Comte declaraba que jamás se conocería la composición química de una estrella. Al año siguiente, Bunsen inventaba el espectroscopio”. Nada se aleja tanto de la estructura fragmentada de la novela de Cortázar como la obra sistemática del fundador de la religión de la humanidad. El presente volumen reúne nueve artículos en inglés que, descartando una comprensión fragmentaria de la obra de Comte, tanto de sus aciertos como de sus insuficiencias, resaltan que sus vertientes científica, filosófica y política son solidarias. Leia Mais
Darwin y el darwinismo desde el sur del sur – VALLEJO et al (HCS-M)

Concebido en el marco de los debates generados por la Red Iberoamericana de Estudios de Historia de la Biología y de la Evolución – fundada tras el XIX Congreso Internacional de Historia de la Ciencia (Zaragoza, 1993) y desde entonces alma mater de encuentros celebrados a lo largo de toda América Latina –, Darwin y el darwinismo desde el sur del sur (Vallejo et al., 2018) reúne las contribuciones de un heterogéneo núcleo de docentes e investigadores en torno a las problemáticas generadas por la irrupción, propagación y recepción del pensamiento evolucionista en el mundo iberoamericano. Leia Mais
Los indígenas y la construcción del Estado-Nación. Argentina y México, 1810-1920: historia y antropología de un enfrentamiento – BERNAND (FH)
BERNAND, Carmen. Los indígenas y la construcción del Estado-Nación. Argentina y México, 1810-1920: historia y antropología de un enfrentamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Prometeo, 2016. Resenha de: ZAPATA, Horacio Miguel Hernán. Los pueblos indígenas en la construcción Nacional de Argentina y México: un contrapunto de experiencias sociohistóricas (1810-1820). Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.480-485, jan./jun., 2020.
La participación de las sociedades indígenas dentro de los procesos de creación y afianzamiento de los Estados nacionales constituye una de las tantas problemáticas que ha marcado tanto la historiografía como la antropología latinoamericanas de las últimas décadas. Sin duda, a ello han contribuido de forma significativa, por un lado, antropólogos formados en la tradición de una Etnohistoria interesada por entrever la “perspectiva del otro indígena en las situaciones de dominación colonial y estatal” (ROJAS, 2008). En segundo lugar, han contribuido a ello también aquellos historiadores enrolados en una historia social y política “desde abajo”, preocupados por ofrecer nuevas aproximaciones a las diversas experiencias históricas de los grupos sociales subalternos – en relación con los grupos hegemónicos– a lo largo la historia. En efecto, el desarrollo de investigaciones empíricamente fundadas en la interpretación de viejas y nuevas fuentes a partir de enfoques y metodologías renovadas, ha permitido que historiadores y antropólogos pudiesen “ensanchar la base de la historia” (SAMUEL, 1984, p. 17) y explorar “una dimensión desconocida del pasado” (HOBSBAWM, 1998, p. 207-208) o, más bien, un aspecto de las culturas nacionales mal conocidas y sobre las que pesan no pocos mitos y polémicas. A partir del fortalecimiento de esta línea de trabajo innovadora, contamos con más elementos para acabar con las miradas que han concebido a las comunidades indígenas como objetos pasivos de las políticas impuestas en el pasado y el presente.
Como consecuencia, en los nuevos estudios e interpretaciones histórico-antropológicas los pueblos indígenas se nos presentan como verdaderos actores, sujetos constructivos y activos frente a la realidad que los contiene y que se transforma continuamente a través de las sucesivas adecuaciones, inventivas e impugnaciones barajadas gracias a su capacidad de agenciar – de manera armónica o contradictoria – distintos bienes, prácticas y representaciones del mundo en que viven. Precisamente gracias a que existen estos incesantes esfuerzos de distintos académicos por producir conocimiento social sobre las comunidades originarias es que hoy contamos con el libro Los indígenas y la construcción del Estado-Nación. Argentina y México, 1810-1920, de la afamada etnohistoriadora francesa Carmen Bernand. Elaborado y publicado originalmente como un manual destinado a abordar el tema del concurso de acceso a la condición de profesor de la enseñanza pública en Francia, el presente libro constituye la versión traducida al castellano y mejorada por su propia autora, convirtiéndose en una voluminosa obra dedicada a presentar – como bien indica su título – un estudio de antropología histórica comparada de los complejos vínculos entre los indígenas y los nuevos Estados nacionales surgidos a partir del descalabro del otrora imperio español.
Como podrá advertir el lector avezado, su redacción obligó a reunir y compaginar un creciente y heterogéneo universo de resultados de investigación sobre diferentes objetos y en diversos registros, propios y ajenos, cuya articulación no siempre resulta evidente, en una narración atrapante donde su objeto nunca se desdibuja. Su composición permite ver con claridad tanto las líneas maestras del oficio como la manera, precisa y elocuente, de trabajar con un corpus significativo de fuentes (correspondencia oficial y personal, periódicos, informes de comandancias de frontera, los registros de gastos de compensaciones, memorias particulares y diarios de viajeros) en un esfuerzo para comprender, de manera vívida y sugerente, los significados que una sociedad atribuye a los acontecimientos en los que participa. Si bien los argumentos vertidos a lo largo del libro – en la mayor parte de los casos – no son naturalmente novedosos para los especialistas, el mismo no carece de la profundidad propia de las obras que obligan a ajustar cuentas con los estudios anteriores y marcan pautas para futuras investigaciones, sobre todo en lo que se refiere a la principal hipótesis de la autora. Y es que el objetivo central de Bernand es demostrar que los grupos indígenas fueron partícipes de los dramáticos avatares derivados de la conformación de los actuales Estados republicanos de México y Argentina a lo largo del siglo XIX, ya que – en tanto agentes activos – tejieron relaciones de negociación, conflicto y subordinación con las elites en el poder.
Sin embargo, pese a su nueva adaptación, la investigadora logró conservar esa particular “identidad mestiza” (VIAZZO, 2003), que supo imprimirle al ensayo original, desdibujando las fronteras entre Antropología e Historia, combinando un conjunto de preocupaciones teóricas del campo antropológico con el andamiaje empírico que provee del decurso histórico. En este sentido, el lector podrá observar que en la arquitectura global del libro hay secciones que resultaron más históricas, mientras que otras se tornaron más antropológicas; ello no quita que, por momentos, el abordaje conjugue ambos enfoques. Ciertamente, la obra divide el estudio de las trayectorias indígenas en dos grandes partes. Bajo el subtítulo de “Jalones”, la primera parte expone y analiza los principales hechos en el orden cronológico en el que se presentaron a lo largo de un apartado introductorio y siete capítulos. Los capítulos, a su vez, se hallan delimitados a partir de distintos clivajes temporales que responden – en términos generales – a una periodización secular significativa para ambos países, cuyo inicio arranca en el año 1810 y su cierre alrededor de inicios de la década de 1920. Si bien la decisión de Bernand de recurrir a una periodización inconveniente (por su apego a efemérides patrias o convenciones historiográficas tradicionales, pero no así a las dinámicas del mundo indígena), es indudable que la misma se convierte en un mapa de lectura muy útil.
De ese modo, en el capítulo introductorio se presentan cuestiones que la autora entiende como fundamentales para la comprensión del recorrido histórico de los siguientes acápites, como la situación en los Virreinatos de Nueva España y del Río de la Plata a fines del siglo XVIII, dos territorios mucho más extensos que las repúblicas que llevaran los respectivos nombres de México y Argentina, los caracteres y dinámicas sociales de los grupos indígenas que habitaban más allá de las fronteras de ambas jurisdicciones, las descripciones etnográficas sobre éstos legadas por funcionarios, misioneros y viajeros y los fundamentos políticos sobre los que se erigieron las jóvenes repúblicas. Seguidamente, en los capítulos primero y segundo, la autora describe los corolarios producidos sobre las poblaciones indígenas por el proceso de la insurgencia en México y en las Provincias Unidades del Sur. A continuación, los capítulos tres y cuatro reconstruyen el largo período caracterizado por una sucesión de guerras civiles y de conflictos internacionales abiertos luego de la independencia política de ambos países.
Allí, Bernand sitúa al indígena dentro del conjunto de grupos socioétnicos que tomaron parte, según sus propios intereses y oportunidades, en los conflictos que forjaron los Estados republicanos modernos, historizando las acciones emprendidas por las distintas facciones políticas criollas en pugna (caudillos unitarios y federales en el caso del Río de la Plata y liberales o conservadores en el caso del México), para ganar la colaboración militar de algunas de las parcialidades indígenas y los diversos posicionamientos que éstas últimas adoptaron. Resultado de esa participación fueron, como muy bien explica la autora, la progresiva pérdida de la autonomía y los enfrentamientos interétnicos que comenzaron a vivirse dentro de las propias sociedades indígenas. A su vez, a lo largo de los capítulos cinco, seis y siete, se explora cómo el triunfo de las políticas librecambistas, la vinculación de ambas regiones con el mercado mundial y los procesos de consolidación de la soberanía territorial exigieron la anexión de nuevas áreas productivas y un fuerte disciplinamiento social, acentuando las políticas ofensivas de ambos Estados contra los aborígenes y volviendo imposible su existencia de éstos como formaciones sociales independientes. El relato prosigue con la situación de las comunidades una vez que las empresas de expansión territorial colocaron paulatinamente las últimas “fronteras interiores” bajo el control del nuevo Estado. Se examina la forma en que los miembros de comunidades indígenas que sobrevivieron a tal embestida perdieron total autonomía y pasaron a ser incluidos en forma subordinada a las sociedades nacionales de Argentina y México, como ciudadanos de segunda clase entre fines del siglo XIX y principios del XX.
Al finalizar este primer gran apartado, cualquier lector quedará con la sensación de haber recorrido una historia propiamente hablando, en la cual es posible identificar algunas coyunturas claves o episodios específicos, que operan como disruptivos en la dinámica de interacción socio-política general y, sobre todo, ciertas transformaciones ocurridas en los vínculos entre indios y cristianos a lo largo del período de estudio, sin perder de vista las continuidades que se manifestaron en la larga duración. Además, desde ese marco temporal amplio, el lector también podrá observar las rupturas y continuidades en la vida de los pueblos indígenas durante la formación de las culturas nacionales de cada país, así como también las similitudes y contrastes que existieron entre los casos argentino y mexicano. Ello, sin duda, llevará a los lectores a prestar atención a las características regionales; al tipo de intereses conjugados en las relaciones interétnicas; al carácter de frontera o de dominación ya consolidada de los ámbitos que estructuraban estas relaciones; a las modalidades jurídicas y legales ofrecidas por los sucesivos gobiernos en los diferentes contextos sociohistóricos; y, finalmente, a los rasgos sociopolíticos de las poblaciones indígenas. De allí se desprende la intención de dar cabida a ciertas individualidades a medida que entran en escena, en función de ciertos problemas y la importancia asignada a correspondencias con la trama social en la que se insertan. En efecto, a lo largo del libro las ejemplificaciones ofician como una herramienta interpretativa – no la única, por supuesto – capaz de dar cuenta del carácter complejo de las interacciones y conflictos que caracterizaron el vínculo de los indígenas con las diversas instancias estatales de cada país y de las miradas opuestas o alternativas que unos y otros construyeron en aras de definir la forma de inclusión de “lo indígena” a las culturas nacionales en definición. Para la autora, el hecho que las sociedades indígenas fueron las grandes derrotadas en la construcción estatal constituye un desenlace humanamente trágico a la vez que paradójico, puesto que en ese mismo momento ambas sociedades atravesaban sus primeras experiencias de ampliación política democrática: ya sea a través de la vía reformista seguida en Argentina y expresada en la ley Sáenz Peña (que garantizaba el derecho al voto universal, secreto y obligatorio), cuya aplicación llevó a la presidencia al radical Hipólito Yrigoyen en las elecciones de 1916; ya sea a través de la vía revolucionaria ocurrida en México, la cual se manifestó en el estallido de la Revolución agraria en 1910 y concluida en 1917.
Bajo el título de “Problemáticas”, la segunda parte del libro comprende un conjunto de textos que se alejan de un abordaje de tipo cronológico y, organizados en los restantes cinco capítulos, tienen por propósito profundizar la complejidad de los modos de organización y cosmovisión de las sociedades indígenas y sus transformaciones a lo largo del período analizado. Consciente del desafío de bosquejar esta complejidad lo más claramente posible para el lector no especialista, alejado de las eruditas y no siempre fáciles discusiones metodológicas, la autora estudia – del capítulo ocho al once – el largo devenir de la agencia indígena desde ciertos nudos problemáticos. De ese modo, Bernand explora la estructura y funcionamiento de los cacicazgos, las múltiples dinámicas (alianzas políticas, conflictos armados, intercambios comerciales y procesos de mestizaje) que tenían lugar en los espacios de frontera, la conversión de los indígenas en proletarios a partir de su desarticulación (en el caso argentino), la pervivencia de las economías campesinas a partir de los procesos de comunalización (en el caso mexicano) y, finalmente, el impacto heterogéneo del catolicismo – con sus misiones y cofradías, fiestas y rituales – sobre la cultura de los pueblos nativos. Por último, en el capítulo doce, Bernard analiza el vínculo entre los indígenas y la memoria a partir de los distintos significados adjudicados a este último concepto como narración identitaria, como representación visual y como relato experiencial. Para ello la autora identifica y describe los contrastes existentes entre las configuraciones particulares que asumen las formas de recuerdo (u olvido) de “lo indígena” en el arte, la fotografía, el folklore, las coleciones patrimoniales de los museos y las etnografías. Si bien los temas nativos fueron retomados por ciertas vertientes del nacionalismo cultural de las décadas de 1910 y 1920, Bernand indica que los indígenas fueron valorados únicamente en función de ciertas producciones estéticas de su cultura que, desde una mirada occidental, resultaban curiosas, llamativas y exóticas. Esta apreciación prejuiciosa y estereotipada tuvo su correlato en el largo y progresivo proceso de negación y olvido generalizado de la participación del indio en la historia patria. Sin embargo, Bernand concluye que esa misma memoria oficial se ha visto impugnada a partir de los procesos de reemergencia identitaria y, en particular, de las acciones llevadas adelante por líderes y organizaciones indígenas para la reivindicación de sus derechos y territorios, tanto en México como en Argentina, a finales del siglo XX y principios del nuevo milenio.
Por lo antedicho, no solamente nos hallamos frente a un insumo bibliográfico básico para el investigador y para el formador de docentes e investigadores, sino también una muy buena obra de divulgación, adecuada e interesante para un público que rebasa el ámbito de los especialistas en temas indígenas. Y es aquí donde reside una de sus principales virtudes: logra brindar al lector lego una imagen clara, precisa y equilibrada de las diversas contingencias que atravesaron las relaciones que los diversos gobiernos establecieron con los indígenas durante la formación del Estado en ambas experiencias nacionales a través de una síntesis elaborada con un lenguaje sencillo y desprovisto de los tecnicismos propios de la jerga académica. Pero otra virtud del libro, quizás menos visible pero ciertamente válida, es que se trata de una obra que saca a la luz significados que son posibles de extraer a través de un minucioso trabajo forjado donde el pasado histórico nos sacude y nos arroja involuntariamente a reflexionar sobre el presente y el futuro de los pueblos originarios en América Latina.
Referencias
HOBSBAWM, Eric. Sobre la Historia. Barcelona, España: Crítica, 1998.
ROJAS, José Luis de. La Etnohistoria de América. Los indígenas, protagonistas de su historia. Buenos Aires, Argentina: Editorial SB, 2008.
SAMUEL, Raphael. Historia popular y teoría socialista. Barcelona, España: Crítica-Grijalbo, 1984.
VIAZZO, Pier Paolo. Introducción a la Antropología Histórica. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003.
Horacio Miguel Hernán – Magister Internacional en Ciencias Humanas y Sociales por el Instituto de Desarrollo Humano de la UNESCO, Madrid, España. Docente-Investigador de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Resistencia, Argentina. Formador de Formadores en la Dirección de Nivel Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, Argentina. Correo electrónico: [email protected].
[IF]Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX) – DOMINGUES et al (FH)
DOMINGUES, Ângela; RESENDE, Maria Leônia Chaves de; CARDIM, Pedro (orgs). Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX). Lisboa: Atlantica Lisbon Historical Studies. Centro de História da Universidade de Lisboa, CHAM – Centro de Humanidades (NOVA FCSH-UAc) e Programa de Pós-Graduação em História/Universidade Federal de São Joao del-Rei (PPGH-UFSJ), 2019. 364 p. Resenha de: ARAÚJO, Lana Gomes de. Protagonismos indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.486-492, jan./jun., 2020.
Em 2019, sob a organização de Ângela Domingues, Maria Leônia Resende e Pedro Cardim, foi publicado o livro Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX) composto por vários artigos de pesquisadores que entendem a sociedade colonial não só como um espaço dinâmico, mas complexo, diverso e criativo, onde o tratamento dado aos indígenas gerava uma pluralidade de respostas e das suas justiças frente à cultura jurídica da sociedade colonial da América espanhola e portuguesa.
Abrindo as discussões, Ailton Krenak denuncia as violências reais e simbólicas sofridas pelo povo Krenak ao longo dos séculos. Foram perseguidos, tiveram suas famílias escorraçadas, massacradas, despejadas, expulsas de suas próprias terras e perambularam por diversas regiões do Brasil. Situação agravada durante o regime militar, quando juntamente com outras etnias foram jogados em um Reformatório, sob a desculpa governamental de que precisavam ser reeducados, enquanto tomavam-lhes as suas terras. Terras que as famílias indígenas nunca desistiram.
Em Os Povos Indígenas, a dominação colonial e as instâncias de Justiça na América portuguesa e espanhola, Pedro Cardim discute os esforços dos próprios indígenas ao longo da história em se afirmarem enquanto grupo étnico. Apontando que o movimento indígena, a produção acadêmica mais recente desenvolvida pelos próprios pesquisadores indígenas, a aproximação da história com outras disciplinas, métodos, conceitos, assim como as técnicas de manuseio de fontes documentais e as influências do conceito de subaltern studies1, têm sido importantes ferramentas para “superação dos silêncios nada inocentes e mostrar a voz e o rosto dos ameríndios”2. (FISCHER, 2009 apud CARDIM, 2019, p.31) Apesar dos avanços, Pedro Cardim destaca que é preciso estar atento ao “vocabulário da conquista” (CARDIM, 2019, p. 41), referindo-se aos termos comumente encontrados nos documentos coloniais como “índio”, “gentio”, “bárbaro” e outros. Uma vez que estes possuíam efeitos jurídicos diferentes dentro do cenário da América portuguesa e podiam significar manutenção ou perda de direitos, por exemplo.
Em Da ignorância e rusticidade: os indígenas e a inquisição na América portuguesa (séculos XVI-XIX), Maria Leônia Resende traz uma importante abordagem sobre a atuação do Tribunal da Inquisição e como a produção historiográfica sobre tratou o tema, apresentando uma luta ideológica entre as diversas facções religiosas da Europa na Idade Moderna: ora uma visão detratora por sua crueldade, ora pelo certo grau de misericórdia diante aos considerados ataques ao catolicismo.
Todavia a história institucional do dito Tribunal se deu no plural na Europa e nos domínios ultramar, ao ponto de podermos afirmar que houve Inquisições. E, os estudos das denúncias e processos têm mostrado as maneiras que a Inquisição lidou com as expressões das práticas religiosas, costumes e culturas indígenas tendendo, muitas vezes, em uma interpretação jurídica-canônica mais benevolente para as “populações desprotegidas”, fundamentada no uso do conceito “persona miserabilis” e da “ignorância (in)vencível”.
O conceito de persona miserabilis permeia o debate de outros pesquisadores, como o de Jaime Goveia, Maria Regina Celestino de Almeida, Hal Lagfur e de Pedro Cardim. Este último, inclusive, compreende que a classificação de miserabile garantia certa proteção aos indígenas, situando-os numa condição especial frente à Inquisição, aos tribunais ordinários, ou ainda, aos colonos, sustentadas por uma posição evangelizadora mais benevolente. Esse entendimento, de pessoas “miseráveis, ignorantes, pessoas rústicas”, fazia com que acreditasse que os indígenas eram incapazes de dar conta dos seus próprios erros, por não terem consciência plena do “pecado”.
As principais denúncias contra os indígenas fundamentavam-se em questões de feitiçaria, adivinhações, bigamia, blasfêmias, por comerem carne em dias proibidos e até por pequenos roubos, como foi o caso de Anselmo da Costa. Este, um jovem índio de 14 anos, confessou ter roubado pequenos adereços e pedaços de fita do berço do Menino Jesus para confeccionar uma bolsa de mandigas, a fim de se livrar dos perigos de mordidas de cobras e onças. O jovem passou 4 anos no cárcere, mas teve seu processo encerrado quando o Tribunal alegou sua capacidade de discernimento (RESENDE, 2019, p.113).
Em Sem medo de Deus ou das justiças (…), a professora Ângela Domingues analisou os “poderosos do sertão” através dos discursos do capitão-mor e governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado na Capitania do Grão-Pará e como eles estavam alinhados com a política pombalina. De acordo com ela, através da análise desse período administrativo é possível perceber as estratégias, alianças e negociações interétnicas, revelando situações em que os indígenas passaram a ser considerados infratores por não se enquadrarem nos projetos do Estado para a Amazônia e desafiarem a vontade dos poderosos da região.
Em Índios, territorialização e justiça improvisada nas florestas do sudeste do Brasil, Hal Langfur levanta uma interessante questão acerca da implementação da justiça no Brasil colonial imposta em prejuízo aos indígenas. Segundo ele, a legislação colonial mascarou uma realidade jurídica, retirou os índios das suas terras, legitimou o trabalho forçado etc., mas “os indígenas não aceitaram esta perseguição jurídica sem resistência” (HANGFUR, 2019, p.157).
Jaime Gouveia, em Os indígenas nos auditórios eclesiásticos do espaço luso-americano, debate sobre as relações envolvendo os povos indígenas e a justiça episcopal no período colonial, tema que gerou algumas generalizações equivocadas, sobretudo, por não ter existido no caso português um “direito canônico” como existiu na América hispânica.
No Brasil, os auditórios tinham alçada sobre todo o clero secular – excetuando alguns crimes (como os de lesa-majestade e disputas relativas aos bens da Coroa) – e leigos (membros da Capela Real e das ordens militares). E poderes quanto a matéria, ou seja, sobre a natureza dos delitos, abrangendo os pecados públicos, independente dos autores serem leigos ou eclesiásticos. Mas, não tinha competência para julgar as consideradas heresias indígenas.
Porém, com os índices populacionais nos territórios indígenas, as necessidades de evangelização esbarravam na escassez de estruturas necessárias a esse exercício, passando a exigir responsabilidades mais amplas. De todo modo, os processos judiciais contra os réus indígenas decorriam na mesma formalidade de praxe dos não-indígenas, com exceção do privilégio jurisdicional de miserabilidade, que era visto como concessão de uma graça do direito canônico aos indígenas.
No sétimo artigo, Maria Regina Celestino de Almeida apresenta uma nova versão de dois capítulos de seus livros publicados em 2005 e 20093, desenvolvendo uma relevante análise sobre a cultura política indígena e política indigenista no Rio de Janeiro colonial através das disputas jurídicas sobre as terras e a identidade étnica dos índios aldeados entre os séculos XVIII e XIX. Evidenciando o fato de que, para evitarem a perda total de suas terras, os indígenas passaram a assumir nitidamente a identidade de índios aldeados e súditos cristãos, assumindo uma posição de privilégios em relação aos negros e índios escravos (ALMEIDA, 2019, p. 221).
Isso porque, assumindo essa condição, podiam solicitar mercês, ter direito à terra, embora uma terra reduzida. Tinham direito ainda a não se tornarem escravos, embora obrigados ao trabalho compulsório. Por fim, o direito a se tornarem súditos cristãos, embora tivessem de se batizar e abdicarem de suas crenças e costumes. Sendo que as lideranças ainda tinham direito a títulos, cargos, salários e prestígio social, o que dentro de condições limitadas, restritas e opressivas, eram possibilidades de agir para valer o mínimo de direito assegurado por lei.
Como parte das investigações mais recentes, escrito em espanhol, o artigo de Pablo Ibáñez-Bonillo, Procesos de Guerra Justa en la Amazonía portuguesa (siglo XVII), aponta a influência indígena na construção das fronteiras coloniais, partindo da premissa de que a guerra justa é uma ferramenta para se explorar as relações de fronteira. Com isso, a construção de alteridades e a influência das dinâmicas indígenas na história colonial não podem ser vistas como um mecanismo de dominação, mas sim um processo mais amplo de negociação e resistência.
O texto do professor Juan Marchena e da Nayibe Montoya (2019) traz um valioso estudo sobre as justiças indígenas andinas e sua relação com a aprendizagem da cultura escrita. Os autores destacam que as sociedades originárias lutaram e lutam permanentemente pela independência, justiça, dignidade e necessidade de combater a pobreza, não se renderam, não se deixaram comprar, mesmo enquanto eram abatidos e destruídos. Sendo que, com a luta mantida durante os séculos até o presente, por suas terras, cultura e identidade, representam uma luta que deveria ser de todas e todos nós.
Por fim, o artigo de Camilla Macedo alude sobre a propriedade moderna e a alteridade indígena no Brasil entre meados de 1755-1862, partindo da análise da implementação do Diretório dos Índios e suas implicações para as questões de terra e propriedade privada, observando as rupturas e continuidades através das políticas indigenistas na transição da jurisdição eclesiástica para a secular, envolvendo os indígenas, administradores coloniais, religiosos etc.
Com esta obra, os autores dão continuidade ao relevante trabalho que o movimento indígena juntamente com os historiadores e antropólogos vêm desenvolvendo ao longo das últimas décadas. As reflexões contribuem para a percepção de que os homens e mulheres indígenas foram e continuam sendo protagonistas das suas próprias histórias através das suas ações, ressignificações e agenciamentos4 frente aos ditames da Coroa portuguesa.
As pesquisas apresentadas nos permitem refletir acerca dos regimes de memória5, trabalhados e discutidos por João Pacheco de Oliveira (2011), que construíram no Brasil imagens preconcebidas sobre os índios, definindo-os e limitando-os negativamente, condicionando o indígena exclusivamente ao passado colonial e estereótipos como de nomadismo, bravura ou de exuberante beleza extraído da literatura romântica.
Além de ressaltar as questões de estratégias e que interações proporcionadas pelos contatos interétnicos na realidade política colonial eram plurais, como fez a professora Maria Cristina Pompa (2001). E problematizar sobre a circularidade cultural entre os indígenas e os outros agentes coloniais, como fez Gláucia de Souza Freire (2013), ao apontar que os missionários religiosos se prevaleciam de práticas ritualísticas dos indígenas que eram consideradas “feitiçarias”, como o uso da jurema sagrada.
Os diálogos contrariam ainda a historiografia dita oficial que reservava aos indígenas um papel secundário e descarta antigas concepções sobre “índio puro”, “índio aculturado”, “resistência”, “aculturação”, embasados nas tentativas de reduzir a participação dos indígenas a um processo inevitável de extinção e desaparecimento. Sendo que os indígenas estão cada vez mais presentes nas questões políticas, se apropriando e ressignificando sua cultura e lutando pelo reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos após muita persistência do próprio movimento indígena.
Notas
1 O conceito de Subaltern Studies trabalhado por Florencia Mallon (1994) foi utilizado para tratar da análise de “baixo para cima” realizada por um grupo de estudiosos sobre a Índia e o colonialismo, mas que forneceu inspiração para historiadores americanicistas. MALLON, Florencia. The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American. History. The American Historical Review: 1491-1515. DOI:10.1086. 1994.
2 FISHER; O’HARA. Introduction Racial Identities and their Interpreters in Colonial Latin America. In: FISCHER, Andrew; O’HARA, Matthew Imperial Subjects. Race and Identity in Colonial Latin America. Durham: Duke University Press. 2009. p. 1-37.
3 ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Índios, Missionários e Políticos: Discursos e Atuações Político-Culturais no Rio de Janeiro Oitocentista.” In: SOIHET, Racehel el al (org). Culturas Políticas. Ensaios de História Cultural, História Política e Ensino de História. Rio de Janeiro: Mauad, 2005, p. 235-255; ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Cultura Política Indígena e Política Indigenista: Reflexões sobre Etnicidade e Classificações Étnicas de Índios e Mestiços no Rio de Janeiro – Séculos XVIII e XIX. In.: AZEVEDO, Cecilia et al (org.) Cultura, Política, Memória e Historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 211-228
Referências
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Índios, Missionários e Políticos: Discursos e Atuações Político-Culturais no Rio de Janeiro Oitocentista. In: SOIHET, Racehel el al (org). Culturas Políticas. Ensaios de História Cultural, História Política e Ensino de História. Rio de Janeiro: Mauad, 2005, p. 235-255.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Cultura Política Indígena e Política Indigenista: Reflexões sobre Etnicidade e Classificações Étnicas de Índios e Mestiços no Rio de Janeiro – Séculos XVIII e XIX. In.: AZEVEDO, Cecilia et al (org.) Cultura, Política, Memória e Historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009, p. 211-228
DOMINGUES, Ângela; RESENDE, Maria Leônia Chaves de; CARDIM, Pedro (orgs). Os Indígenas e as justiças no mundo Ibero-Americano (Sécs. XVI – XIX). Lisboa: Atlantica Lisbon Historical Studies. Centro de História da Universidade de Lisboa, CHAM – Centro de Humanidades (NOVA FCSH-UAc) e Programa de Pós-Graduação em História/Universidade Federal de São Joao del-Rei (PPGH-UFSJ), 2019. 364 p.
FISHER; O’HARA. Introduction Racial Identities and their Interpreters in Colonial Latin America. In: FISCHER, Andrew; O’HARA, Matthew Imperial Subjects. Race and Identity in Colonial Latin America. Durham: Duke University Press. 2009. p. 1-37.
MALLON, Florencia. The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American. History. The American Historical Review: 1491-1515. DOI:10.1086. 1994.
MONTEIRO, John. Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
OLIVEIRA, João Pacheco de (org). A presença indígena no Nordeste: processos de territorialização, modos de reconhecimento e regimes de memória. Rio de Janeiro: Contra Capa. 2011.
POMPA, Maria Cristina. Religião como tradução: missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil Colonial. 2001. 455 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2001.
SOUZA, Glaucia Freire. Das “feitiçarias” que os padres se valem: circularidade cultural entre indígenas Tarairiú e missionários na Paraíba setecentista. 2013. 159 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de Campina Grande, PB, 2013.
Lana Gomes Assis Araújo – Bacharela em Direito pelo Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande – PB, licenciada em História pela Universidade Federal de Campina Grande – PB, mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande – PB, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Recife – PE. Bolsista CAPES. E-mail: [email protected].
[IF]Frontiers of Citizenship. A black and Indigenous history of Postcolonial Brazil – MIKI (FH)
MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship. A black and Indigenous history of Postcolonial Brazil. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 314p. Resenha de: SANTOS, Murilo Souza dos. “Fugir para a escravidão”: Geografia insurgente e cidadania na fronteira do Brasil pós-colonial. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.493-497, jan./jun., 2020.
Há um esforço recente, e cada vez mais imperioso entre os pesquisadores, de questionar a maneira pela qual história e antropologia estudaram as populações indígenas e afrodescendentes na América Latina. Fruto de uma política colonial que tratava índios e negros separadamente, outrossim perpetuada nos regimes de governos subsequentes, a tradicional análise dessas populações restou seccionada e, frequentemente, dicotômica (WADE, 2018). Por objetivar explorar as temáticas de raça, nação e, sobretudo, cidadania por meio das interconexões entre as histórias de negros e indígenas, Frontiers of Citizenship: a black and Indigenous history of Postcolonial Brazil, de Yuko Miki, é um livro que se insere nesse esforço novo e promissor. Entre os diversos prêmios e honrarias que recebeu até o momento, estão o Wesley-Logan Prize em História da Diáspora Africana, concedida pela American Historical Association, e o Warren Dean Memorial Prize como o melhor livro sobre História do Brasil publicado em inglês, dado pela Conference on Latin American History (CLAH), que lhe concedeu, ainda, menção honrosa no Howard F. Cline Prize, dedicado à Etno-História da América Latina.
A pesquisa que resultou nesse livro é também motivada por um segundo incômodo da autora: a compreensão de que a historiografia brasileira não teria dado a devida atenção às fronteiras, espaço no qual, segundo ela, a relação entre raça, nação e cidadania havia sido de fato testada e definida diariamente (MIKI, 2018, p. 8). Com isso em mente, Yuko Miki elege como espaço de observação o que ela escolheu chamar de fronteira atlântica: uma região que, embora jamais tenha aparecido nas fontes sob tal denominação, corresponderia ao contorno da Mata Atlântica original do sul da Bahia e Espírito Santo. Outrora proibida pela Coroa portuguesa, essa região se tornou objeto de uma colonização agressiva com o avançar do século XIX.
Os seis capítulos que compõem Frontiers of Citizenship estão estruturados em torno de um embate de visões. De um lado, as elites brancas, que pretendiam homogeneizar o povo brasileiro a fim de que fosse encaixado em uma definição pré-definida de cidadania; do outro, negros e índios, que disputavam a definição de cidadania, para que o povo, na sua heterogeneidade, nela pudesse ser incluída. Dessa maneira, enquanto o primeiro capítulo analisa os debates parlamentares acerca da definição notavelmente inclusiva de cidadania inscrita na Constituição de 1824 para contrastar com a exclusão implícita que ela pressupunha, o segundo foca nos índios e negros da fronteira atlântica para examinar como eles reagiam diante das exclusões geradas na prática. Essa intercalação está presente em todo o livro.
O segundo capítulo faz, ainda, uma análise estimulante acerca da percepção que muitos negros e indígenas tinham da monarquia como fonte de justiça e proteção, ao ponto de inúmeras revoltas terem sido desencadeadas pela forte ressonância dos boatos de emancipação. Todavia, a menos que se considere o crescendo de violência que caracteriza a expansão do Estado no período como consequência das formas de resistência adotadas por negros e índios, Yuko Miki fica longe de cumprir com o principal objetivo assumido para esse capítulo, qual seja o de “demonstrar como a expansão do Estado foi moldada pelas mesmas pessoas que procurou excluir” (MIKI, 2018, p. 25, tradução nossa).
Os capítulos terceiro e quarto se complementam no objetivo de mostrar que a adoção da mestiçagem como meio de criar um povo brasileiro homogêneo implicava tanto na crescente inclusão desigual dos negros escravizados quanto na efetiva extinção dos índios. Assim, o terceiro capítulo argumenta que as elites urbanas combinaram o indigenismo romântico e a nova ciência antropológica com a expressão das leis para criar uma situação legal, na qual “para se tornar cidadãos, os índios precisavam ser civilizados e, uma vez civilizados, não eram mais índios” (MIKI, 2018, p. 133, tradução nossa). O quarto, por sua vez, demonstra as consequências práticas desse projeto de mestiçagem por meio da comparação de dois casos de violência oriundos da fronteira atlântica: de um lado, a erosão do poder dos proprietários de escravos sobre eles; do outro, a transformação dos índios no Brasil pós-colonial em corpos matáveis.
O ponto principal do livro está nos capítulos quinto e sexto, cujo sentido é mostrar que a perspectiva de liberdade negra e autonomia indígena se tornaram inseparáveis da luta pela terra. No quinto capítulo, Yuko Miki observa que, nos anos finais da escravidão, muitos quilombolas criaram assentamentos tão próximos da região na qual estavam legalmente escravizados que se podia ouvir seus batuques à noite. A partir dessa constatação, e inspirando-se na ideia de geografia rival, elaborada por Edward Said e usada pelos geógrafos para descrever a resistência à ocupação colonial, Miki formula o conceito de geografia insurgente para designar a prática política que ela entende como “fugir para a escravidão” (fleeing into slavery, no original). Seria por meio da geografia insurgente, do fugir para a escravidão e não para longe dela, que as pessoas escravizadas deixaram de resistir à sociedade escravista para, finalmente, desafiá-la por dentro; vivendo como pessoas livres em seu meio e, desse modo, expressando “os termos pelos quais queriam viver na sociedade brasileira” (MIKI, 2018, p. 214, tradução nossa).
Por seu turno, no sexto capítulo, a autora observa que, apesar das divergências de opiniões quanto ao futuro dos indígenas e libertos, tanto missionários quanto abolicionistas e escravocratas compartilhavam a visão de que eles deveriam ser disciplinados para uma cidadania limitada e fundamentalmente servil. A iminência da abolição revigorou o interesse das elites pela possibilidade de transformação dos indígenas em “cidadãos úteis” por meio da disciplina do trabalho conjuntamente à negação do acesso à terra (os mesmos termos que posteriormente seriam reproduzidos nas discussões sobre os libertos). Tal confluência de pontos de vista teria ajudado a conjugar, do outro lado, as perspectivas de negros e indígenas. Para a autora, a forma como eles interpretaram liberdade e cidadania não apenas repreendeu radicalmente essas ideias racializadas, naquele contexto, como teve repercussões duradouras no período republicano.
Como se pode ver, o conceito de geografia insurgente é central para a tese defendida em Frontiers of Citizenship. Sua pressuposição é a de que a convivência na comunidade do quilombo teria transformado a consciência de liberdade numa prática política coletiva pela qual as pessoas escravizadas reimaginaram suas vidas como pessoas livres dentro da própria geografia em que estavam destinados a permanecer escravizado (MIKI, 2018, p. 174). Interessa mostrar, finalmente, que os escravizados não apenas lutavam para proteger o que lhes eram pessoalmente importantes, mas, muito além, eles afirmavam uma visão específica da política de cidadania e anti-escravidão (MIKI, 2018, p. 26). De que maneira? Yuko Miki sabe que a multiplicidade de motivos que levavam os escravizados a fugir em pouco se confunde com semelhante ideologia. A engenhosidade do conceito de geografia insurgente está justamente na capacidade de transformar uma motivação factível, “a luta pela geografia”, em um significante para a cidadania (MIKI, 2018, p. 251), ainda que para tal inferência não haja indícios capazes de sustentá-la. Já no epílogo, a autora nos lembra que, com a Constituição de 1988, o direito à terra se tornou, legalmente, um meio para reivindicar uma cidadania plena. O problema que se coloca, em suma, é que se, por um lado, tal conquista é verdadeira, por outro, soa forçoso dizer que tal associação foi forjada conscientemente pelos afro-brasileiros no período de escravidão e pré-emancipação (MIKI, 2018, p. 257). Dessa maneira, o que seria a mais importante contribuição do livro fica reduzida a uma ilação ou, mais apropriadamente, à amostra de um equívoco metodológico denominado por Frederick Cooper como ultrapassar legados, isto é, “afirmar que algo no tempo A causou algo no tempo C sem considerar o tempo B, que fica no meio” (COOPER, 2005, p. 17).
Frontiers of Citizenship é um trabalho vigoroso, que consegue demonstrar com sucesso a impossibilidade de compreender temas como raça, nação e cidadania sem envolver tanto as histórias da diáspora africana quanto a das Américas indígenas. Por outro lado, e essa é a principal crítica, não analisa alguns conceitos que são cruciais para a sua própria fundamentação mas, pelo contrário, aplica-os nas fontes sem historicizá-los. Cooper, já mencionado, mostrou, em Citizenship, Inequality and Difference (2018), que apenas recentemente o conceito de cidadania foi constituído como inerentemente igualitário, mas por Yuko Miki aplicar esse conceito sem a devida contextualização, a existência de uma cidadania desigual, tal como defendida pelas elites na conjuntura analisada, soa como mera injustiça. Similarmente, raça e nação lhe parecem ser concepções tão unívocas que sequer precisam ser definidas e, dessa forma, a impressão resultante é de que os sujeitos analisados agem em relação às mesmas identidades coletivas que pressupomos hoje.
Em The Problem of Slavery as History: a Global Approach, Joseph C. Miller impôs o desafio intelectual de pensar a escravidão para além da politização contemporânea. Para ele, estamos tão preocupados em condenar a escravidão, que inibimos o entendimento acadêmico dessa prática como sujeito de investigação intelectual (MILLER, 2012, p. 2). Pelo demonstrado, a abordagem dos conceitos em Frontiers of Citizenship o situa como exemplar dessa conduta que precisa ser evitada. Ainda assim, esse é um trabalho que merece atenção, não apenas pela importância do tema, mas sobretudo pela forma original com a qual Yuko Miki, frequentemente, associa os discursos sobre cidadania, escravidão e extinção com a política deles resultante.
Referências
COOPER, Frederick. Citizenship, Inequality and Difference. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2018.
COOPER, Frederick. Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of California Press, 2005.
MILLER, Joseph C. The Problem of Slavery as History: a global approach. New Haven and London: Yale University Press, 2012.
WADE, Peter. Interações, relações e comparações afro-indígenas. In: ANDREWS, George Reid; FUENTE, Alejandro de la (orgs.). Estudos afro-latino-americanos: uma introdução. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2018.
Murilo Souza Santos – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (PPGH-UNICAMP), na linha de História Social da Cultura. Bolsista de mestrado CAPES. E-mail: [email protected].
[IF]O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista – LUKÁCS (FH)
LUKÁCS, György. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Tradução de Nélio Schneider. 1 ed. São Paulo Boitempo, 2018. 733p. Resenha de: SILVA, Edson Roberto de Oliveira. O jovem Hegel de Lukács: por uma redenção da dialética. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.51-507, jan./jun., 2020.
György Lukács é considerado o maior filósofo marxista do século XX. Nasceu em Budapeste no dia 13 de abril de 1885, em uma Hungria que, no período, fazia parte do território integrado ao Império Habsburgo. Graduou-se na Universidade da mesma cidade, doutorou-se em Direito e Filosofia em 1906 e 1909, respectivamente. A produção e desenvolvimento filosófico do jovem Lukács — de 1910 a 1923 influenciou nomes conhecidos como Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, Ernest Bloch e pensadores da famosa Escola de Frankfurt, como Theodor W. Adorno.
O livro O Jovem Hegel e os Problemas da sociedade capitalista (2018), de Lukács faz parte da coleção A Biblioteca Lukács, coordenada por José Paulo Netto, e se tornou o sétimo título do filósofo húngaro publicado pela editora Boitempo. A obra foi traduzida diretamente do alemão por Nélio Schneider e teve revisão técnica de Netto e Ronaldo Vielmi Fortes.
A coleção Biblioteca Lukács tem como missão fazer a divulgação do pensamento do filósofo húngaro. Entretanto, não é de hoje que o pensamento lukacsiano é divulgado no Brasil, tanto por traduções como por elaborações críticas. Sua filosofia foi intensamente divulgada na década de 1960 por três intelectuais de grosso calibre — Leandro Konder, Carlos Nelson Coutinho e J. Chasin — efetuando traduções e em elaborações críticas. Entre as obras de Lukács traduzidas e divulgadas por Konder e Coutinho estão: Ensaios Sobre Literatura (1964); Introdução a uma Estética marxista (1978), títulos esses publicados pela Editora Civilização Brasileira.
O desenvolvimento filosófico de Lukács tem como proposta, desde seus primeiros escritos marxistas, fazer um debate renovado com a filosofia clássica, principalmente a alemã, na qual ele buscava fazer “ao nível da crítica” a “análise histórica e sistemática das modalidades de conhecimento e interpretação do mundo constituídas pela cultura burguesa” e “determinar o estatuto histórico-filosófico do marxismo” instaurando uma “crítica macroscópica da totalidade da cultura burguesa” (NETTO, 1978, p.14). Netto (1978) dará destaque para duas obras do filósofo húngaro onde se encontram as críticas sistemáticas à cultura filosófica burguesa: O jovem Hegel, a qual nos propomos apresentar a partir dessa resenha, e Destruição da Razão: de Schelling a Hitler (NETTO 1978, p.15). O intérprete nos alerta que a crítica à filosofia burguesa do pensador húngaro não somente se propõe a apontar suas limitações, mas, também, resgatar Hegel da instrumentalização mistificadora elaborada pelos ideólogos fascistas — se empenhando em “resgatar os conteúdos humanistas e democráticos do pensamento burguês anterior 1848” (NETTO, 2011, p.8). Desta forma Lukács, desde História e Consciência de Classe, é considerado um renovador do pensamento marxista.
O livro, O jovem Hegel, é dividido em quatro partes que são compostas por momentos do desenvolvimento filosófico de Hegel partindo das diferentes localidades em que o filósofo alemão viveu: Berna (1793-1796), denominado como o período republicano de Hegel; Frankfurt (1797-1800), no qual o filósofo deu início ao desenvolvimento do método dialético; e Iena, que se divide em mais dois períodos: o primeiro (1801-1803), no qual há a vinculação e a defesa ao idealismo objetivo; e o segundo (1803-1807), momento que mostra os últimos percalços que Hegel trilhou para culminar em sua primeira produção amadurecida, original e de peso, A Fenomenologia do Espírito.
O plano de fundo d’O jovem Hegel é a Revolução Francesa e os ecos no pensamento germânico. O interesse do filósofo alemão, como nos alerta Lukács, estava voltado para entender a sociedade civil burguesa [bürgerlicheGesellschaft]. O húngaro mostrará que a influência da revolução burguesa na sua totalidade — isto é, Revolução Industrial e a revolução política para a instauração de um Estado-nação —, interessava à Hegel e foi determinante para a formação de seu posicionamento filosófico e político.
No curto espaço de tempo que Hegel esteve em Berna, Lukács analisa o início do seu desenvolvimento filosófico, desmistificando as interpretações feitas de sua filosofia nesse período, que tendem a culminar, muitas vezes, na redução e vinculação de suas elaborações a um “reacionarismo” tratando-o como absolutista e vinculando-as unilateralmente com a “teologia”. O húngaro nos mostra que, em primeiro lugar, as vinculações políticas de Hegel nesse período sempre estiveram voltadas para a ala da esquerda democrática do Iluminismo e que teciam críticas ao Iluminismo alemão, pois os “absolutistas feudais e seus ideólogos tentaram muitas vezes se aproveitar de determinados aspectos deste movimento para seus próprios fins” (LUKÁCS, 2018, p. 68). Hegel via a “antiga república citadina (polis) não como um fenômeno social do passado”, mas como a constituição de “um modelo eterno, ideal não alcançado para uma mudança atual da sociedade e do Estado” (LUKÁCS, 2018, p. 69, grifos nossos). Em segundo, aponta que a filosofia de Hegel não teve vinculação teológica, pelo contrário, Lukács argumenta que o alemão é um crítico do sectarismo do cristianismo primitivo (LUKÁCS, 2018, p. 71), e se interessava por seitas posteriores. Hegel, segundo seu estudioso, trata o cristianismo como uma religião “positiva” a qual “constitui um esteio do despotismo e da opressão” (LUKÁCS, 2018, p. 85).
A ligação de Hegel à filosofia kantiana, principalmente de Crítica da razão Prática, é, segundo Lukács, de extrema importância para a vinculação de sua filosofia à realidade. O filósofo alemão vê que tanto os problemas sociais como os morais vinculam-se aos problemas da práxis, mostrando que a base de sua filosofia é a “reconfiguração da realidade social pelo ser humano”. Lukács escreve que Hegel vai além de Kant, posto que este último investiga os problemas morais do ponto de vista do indivíduo. Para Kant o fundamental é a consciência como um fato moral, em contraponto a isso “o subjetivismo do jovem Hegel, direcionado para a prática, é coletivo e social desde o início. Para Hegel, é sempre a atividade, a práxis da sociedade que constitui o ponto de partida e também o objeto central da investigação” (LUKÁCS, 2018, p. 73).
Já nos três anos de Frankfurt, Hegel, segundo Lukács, irá reestabelecer criticamente algumas das suas concepções filosóficas, entre elas a sua elaboração de positividade. Nesse momento, a “positividade” será vista como “um sinal de que o desenvolvimento histórico já ultrapassou uma religião, e que ela merece ser destruída e inclusive tem de ser destruída pela história” (LUKÁCS, 2018, p. 329). Essas novas formulações também servirão de base para os “primeiros embriões do método de Fenomenologia do espírito” (LUKÁCS, 2018, p. 177). Lukács nos expõe que todo esse desenvolvimento do período de Frankfurt é atrelado com as constantes variações na história da Revolução Francesa, porém suas concepções republicanas revolucionárias permanecem as mesmas do período de Berna. O húngaro realça que é nesse momento que se revela a diferença da produção filosófica hegeliana, pois, enquanto em Berna Hegel elaborava suas concepções histórico-filosóficas partindo de um único fato relevante para a história universal, a Revolução Francesa, após Frankfurt, o alemão passa a dar igual importância para o desenvolvimento econômico da Inglaterra. Assim, ambos os eventos passam a ser elementos fundantes para a sua concepção de história e noção de sociedade. “O problema”, diz Lukács, “referente ao modo como a estrutura absolutista feudal da Alemanha deve ser modificada pela Revolução Francesa aflora para Hegel dali em diante não como questão geral da filosofia da história, mas como problema político concreto”. (LUKÁCS, 2018, p. 171).
Lukács diz que a filosofia de Hegel incorpora as “problemáticas sociais e políticas” e que estas “se convertem em filosóficas de modo sempre imediato” (LUKÁCS, 2018, p. 172). Como consequência disso, passou a tomar “consciência, portanto, do antagonismo entre dialética e pensamento metafísico primeiro como antagonismo entre pensamento, representação, conceito etc. de um lado, e vida, de outro” (LUKÁCS, 2018, p. 173). Esse processo teria feito parte de um projeto de reconciliação filosófica de Hegel entre os “ideais humanistas do desenvolvimento da personalidade e os fatos objetivos e imutáveis da sociedade burguesa” que, segundo o filósofo húngaro, irão conduzir Hegel “a uma compreensão mais e mais profunda primeiro dos problemas da propriedade privada e depois do trabalho como inter-relação fundamental entre indivíduo e sociedade” (LUKÁCS, 2018, p. 175). Esse desenvolvimento das concepções de Hegel culminará em uma tentativa de sistematização no fim do período de Frankfurt, o que também prepara Hegel para uma crítica profunda ao idealismo subjetivo e para a separação da filosofia de Schelling frente a de Fichte.
Em Iena, onde Hegel passa um pouco mais de seis anos, de 1801 a 1807, é que surgirão as suas elaborações de juventude mais profundas. É o período em que o jovem filósofo acertará as contas com a filosofia clássica de seu tempo, Kant, Schiller, Fichte e, somente em Fenomenologia do espírito, com Schelling — obra que sela definitivamente o rompimento com as colaborações filosóficas entre ambos, e faz com que este último se coloque como um combatente frente a dialética hegeliana. Em Iena temos dois períodos, o primeiro, de 1801 a 1803, é marcado fortemente pela defesa de Hegel ao idealismo objetivo. Para tanto, o filósofo inicia sua parceria com Schelling demonstrando a diferença da filosofia deste com a de Fichte onde, o último, é colocado como um agnóstico (LUKÁCS, 2018, p. 342), motivo que colocou Hegel como defensor da filosofia schellinguiana e revelou a ambos que ali nascia uma nova formulação filosófica por parte de Schelling. Nesse processo, Lukács aponta que Hegel combateu o individualismo abstrato da ética elaborando uma crítica mais concreta, dessa forma o filósofo alemão “não se limita mais a examinar problemas isolados da ética kantiana que tem uma problemática coincidente com a sua, mas submete toda a ‘filosofia prática’ do idealismo subjetivo a uma análise crítica abrangente” (LUKÁCS, 2018, p. 391).
A filosofia hegeliana, segundo o húngaro, é histórica desde as primeiras elaborações de Berna, porém essa concepção só entra em cena após as “renúncias às ilusões jacobinas de renovação da Antiguidade”. É nesse momento que Hegel se depara com os “problemas da dialética da sociedade burguesa moderna”, isso faz com que se constitua, no seu pensamento filosófico, um problema central e latente de “conexão dialética entre o desenvolvimento histórico e a sistemática filosófica”. Dessa maneira Hegel tem a possibilidade de levantar contra Fichte uma crítica a suas concepções de “liberdade independentemente das leis objetivas da natureza e da história” (LUKÁCS, 2018, p. 410. Lukács mostra que o historicismo de Hegel segue uma concepção que não significa uma glorificação do passado, pois esse seria a visão do historiador romântico que apareceu na Alemanha “sob a influência publicística da contrarrevolução”, disseminando a “concepção de que a ‘organicidade’ das formações históricas e do desenvolvimento histórico exclui a vontade consciente dos homens de mudar seu destino social” e, além disso, também defendem que “a ‘continuidade’ do desenvolvimento histórico é francamente contrária à interrupção da linha de desenvolvimento já iniciada” (LUKÁCS, 2018, p. 411. As concepções de Hegel nesse momento já se apresentam como um prelúdio para a sua primeira síntese filosófica de peso sistematizada em Fenomenologia do espírito A Fenomenologia do espírito de Hegel é colocada por Lukács como uma obra seminal do pensamento filosófico alemão e marca uma virada nas coordenadas do desenvolvimento não só da filosofia hegeliana, mas de todo pensamento moderno. É no segundo momento de Iena, 1803 a 1807, que Hegel iria amadurecer suas diferenças filosóficas com Schelling, as quais foram reduzidas pelo primeiro apenas à questão do método, mas que o húngaro enfatiza que a diferença se apresenta “também em todas as questões da filosofia da sociedade e da história” (LUKÁCS, 2018, p. 559). A concepção filosófica-histórica de Hegel, a partir de Lukács, vai na contramão da visão moderna, pois na filosofia hegeliana não existe “estado de espírito”, assim há uma diferença em relação a “posição histórica do tempo presente” (LUKÁCS, 2018, p. 594). Em Iena, o filósofo húngaro diz que “a Revolução Francesa e sua superação (no triplo sentido hegeliano) por Napoleão constitui o ponto de inflexão decisivo da história mais recente” e que entra em contraposição com a visão posterior do velho Hegel que a “Reforma assume a posição central na história da era moderna que em Iena Hegel havia atribuído à Revolução Francesa e a Napoleão” (LUKÁCS, 2018, p. 595).
O filósofo húngaro atribui à Fenomenologia a sistematização entre as categorias de mediação, reflexão etc. mas considera as categorias de alienação (Entäusserung) e estranhamento (Entfrendung) como pontos centrais do desenvolvimento dessa obra, ambos os termos derivados da tradução do termo inglês “alienation” para o alemão – termo esse que foi utilizado na economia-política inglesa, quando se tratava da venda de mercadoria e, também, pela “teoria do contrato social para denominar a perda da liberdade original, a transmissão, a exteriorização da liberdade original à sociedade originada pelo contrato”(LUKÁCS, 2018, p. 689). A categoria de alienação não foi usada exclusivamente por Hegel na filosofia clássica alemã. Lukács exibe que Fichte já a tinha utilizado para mostrar que um “objeto posto” constitui uma alienação do sujeito e o próprio objeto é concebido como uma “razão alienada”. O estudioso do filósofo alemão aponta que, na Fenomenologia, há três níveis de apresentações da categoria de alienaçãoo primeiro faz menção à relação entre sujeito-objeto, e vincula toda produção humana, o trabalho, à “atividade social e econômica do homem”; o segundo nível a alienação é o que se apresenta na sua forma capitalista, e que, mais tarde, será desenvolvido por Marx como categoria fetichismo (LUKÁCS, 2018, p. 691); no terceiro nível é um momento que passa pela alienação, ou seja, como “coisidade (Dingheit) ou objetividade (Gegenständlichkeit)” que é a “forma em que, na história da gênese da objetividade, esta é apresentada filosoficamente como momento dialético na trajetória do sujeito-objeto idêntico de volta a si mesmo, passando pela ‘alienação’” (LUKÁCS, 2018, p. 692).
Lukács se esforça em sistematizar historicamente o envolvimento de Hegel com o seu tempo histórico e demonstrar o reflexo desse tempo em sua filosofia. Dessa forma o húngaro não faz uma biografia de Hegel, mas um tratamento histórico-sistemático olhando a “filosofia como parte importante do movimento total da história” (LUKÁCS, 2018, p. 21). Graças ao trabalho de tradução de Nélio Schneider, a divulgação do pensamento de Lukács — que se iniciou na década de 1960 com Konder, Coutinho e Chasin — ganha ainda mais volume e temos a oportunidade de ter em mãos um trabalho histórico-filosófico que contribui para o desenvolvimento do marxismo no Brasil de forma fecunda e dialética pois essa obra tem a capacidade de desmistificar a filosofia de Hegel e, com uma leitura atenta, absorver o método dialético que ali se explicita.
Referências
LUKÁCS, György. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Tradução de Nélio Schneider.1º ed. São Paulo Boitempo, 2018.
NETTO, José Paulo. Lukács e a Crítica da Filosofia Burguesa. Lisboa: Seara Nova, 1978.
NETTO, J. Paulo. Introdução: Sobre Lukács e a Política. In. LUKÁCS, György Socialismo e democratização – Escritos políticos 1956-1971. 2º ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2011.
Edson Roberto Silva – Graduado em História pela Universidade Estadual Paulista – UNESP, Assis, estado de São Paulo (SP), mestrando na Pós-Graduação em História da UNESP de Assis, estado de São Paulo (SP), Brasil. Atualmente é bolsista CAPES. e-mail: [email protected].
[IF]Práticas Religiosas, Errância e Vida Cotidiana no Brasil (Finais do Século XIX e Inícios do XX) – WISSENBACH (PH)
WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Práticas Religiosas, Errância e Vida Cotidiana no Brasil (Finais do Século XIX e Inícios do XX). São Paulo: Intermeios; USP-Programa Pós-Graduação História Social, 2018, 256 p. Resenha de: PERES, Elena Pajaro. Religiosidade em trânsito. Práticas cotidianas do sagrado coração no Brasil da Primeira República. Projeto História, São Paulo, v.67, pp. 439-446, Jan.-Abr., 2020.
Em 1929 o imigrante italiano José Zarelli, depois de muito trabalhar em São Paulo como vendedor, comprou uma pequena propriedade rural nos arredores da cidade. Foi nesse pedaço de terra que resolveu recuperar uma antiga habilidade que trouxera da Europa: esculpir imagens de madeira inspiradas em figuras do mundo camponês. Com o tempo foi acrescentando a essas imagens atributos de matriz africana sobre os quais tomou conhecimento no Brasil. Essa modificação de sua arte levou Zarelli a ganhar fama como escultor feiticeiro. Suas criações, após os devidos rituais de consagração, passaram a ser consideradas objetos sagrados, ou, como seria mais apropriado denominá-las, ínqueces,
e começaram a integrar altares religiosos, tornando-se, o próprio artesão, um rezador.
Essa significativa história, narrada por Oswaldo Xidieh em artigo de 1944, foi retomada pela historiadora Cristina Wissenbach em seu livro Práticas Religiosas, Errância e Vida Cotidiana no Brasil (Finais do Século XIX e Inícios do XX), publicado em 2018 pela editora Intermeios, para nos introduzir de maneira exemplar no universo das interconexões entre o catolicismo de base popular, imbricado de práticas camponesas muitas vezes consideradas heréticas na Europa, as religiões de matrizes africanas e os saberes milenares dos povos indígenas. A partir daí, capítulo a capítulo, o leitor vai conhecendo como se deu historicamente esse entrecruzamento cultural recriador de formas de expressividade artística e religiosa.
Essa configuração cultural multifacetada vem sendo nas últimas décadas recuperada por estudos acadêmicos – como os da própria professora Wissenbach, do historiador Robert Slenes e do antropólogo estadunidense James Lorand Matory, entre outros – que têm demonstrado como elementos provenientes de diferentes tradições entrechocaram-se no Brasil, levando ao surgimento de novas e intrincadas práticas culturais.
O livro de Wissenbach traz à luz os quatro capítulos revisados da tese de doutoramento Ritos de Magia e Sobrevivência. Sociabilidades e práticas mágico-religiosas no Brasil (1890/1940), apresentada ao Departamento de História da Universidade de São Paulo em 1997. No processo de revisão dos capítulos, a pesquisadora incorporou sua experiência como professora de História da África na Universidade de São Paulo, ampliando diálogos e abrindo suas reflexões para novos horizontes, como ela mesma afirmou em um dos eventos de lançamento ocorrido no Centro Cultural São Paulo. Seguindo os mais recentes debates na área, Wissenbach atualizou bibliografia e conceitos, enfatizando pontos antes apenas mencionados em sua tese. Dessa forma utilizou o conceito de pós-emancipação no lugar de pós-abolição, práticas religiosas no lugar de magia, vida cotidiana em vez de sobrevivência. Acrescentou ainda o conceito de errância, que antes não estava explicitado no título ou definido teoricamente.
As memórias, as crônicas, os relatos de viagem e de expedições foram algumas das fontes utilizadas na pesquisa. Contudo, foi na documentação criminal e nas notícias impressas nos jornais que a historiadora descobriu o elo para se aproximar das vivências concretas das populações que se encontravam em trânsito e que, num período conturbado da passagem do século, nos primeiros anos da República brasileira, experimentavam novas formas de estar no mundo. Ao revelar a luta do poder instituído para tentar disciplinar essas populações e suas manifestações culturais e religiosas, a documentação policial também revela, mesmo que parcialmente, as táticas utilizadas pelos mais pobres para se desvencilhar desse poder. A autora explica como esses registros, pelo seu próprio caráter fragmentário, permitem a compreensão de práticas que também se davam fragmentariamente, permeadas pelo improviso e pelo aproveitamento das brechas. Práticas que assumiam formas fugidías para garantir a permanência e liberdade de expressão em um meio dominado cada vez mais pelo pensamento racial e evolucionista.
Assim, dialogando com as fontes, tendo como fio teórico condutor de seu método o perspectivismo e a hermenêutica, que alerta para a historicidade do próprio conhecimento histórico, Wissenbach mergulha e faz o leitor mergulhar no mundo das religiosidades populares, um mundo que não se atrela ao poder oficial e desafia constantemente as religiões institucionalizadas.
No primeiro capítulo – Ritos e crenças de homens livres no pós-emancipação – a autora revela, a partir de uma extensa pesquisa bibliográfica e de fontes, como a população economicamente pobre criou padrões de organização de moradia, trabalho e convivência, colocando em circulação ideias, práticas e mercadorias nos momentos das festas religiosas, dos encontros e das feiras. Quando movimentamos as páginas, seguindo os rastros deixados no texto, podemos acompanhar a versatilidade desses grupos na busca de um melhor terreno para plantio e caça, no trabalho de construção e reconstrução da moradia, na decisão de abandonar os poucos bens materiais que não seriam úteis ou que não poderiam ser carregados durante a mudança de um território a outro. Práticas essas sempre vistas com reprovação pelos detentores das terras e do poder, que pretendiam aprisionar essas populações pelo trabalho, quando necessário, ou, quando eram vistas como dispensáveis, eliminá-las ou isolá-las em alguma área em que permanecessem segregadas.
O estudo mostra como esses grupos sociais criaram vínculos com a natureza, realizando todas as tarefas em seu tempo certo. Era na mata que encontravam parte importante de sua alimentação, ervas medicinais e seu mundo espiritual. Tudo o que era considerado sinal de atraso pelo pensamento modernizador que adveio com a República adquire uma outra roupagem quando se busca, como fez Wissenbach, uma aproximação compreensiva dos valores e meios de vida dessas populações. Eram grupos que viviam dispersos, mas evitavam o isolamento por meio de uma hierarquia social bem configurada em um mundo paralelo ao poder oficial e por ele incompreendido. Nesse grupo se destacam os africanos e afro-brasileiros a quem a autora dedicou grande parte do estudo publicado nesse livro.
Importantes discussões são apresentadas nesse primeiro capítulo, incorporando novas abordagens sobre as manifestações culturais especialmente dos povos provenientes da África centro-ocidental, que, segundo reforçam pesquisas atuais, foram os grupos majoritários trazidos ao Brasil no século XIX pelos traficantes de escravizados.
No segundo capítulo – Dissonâncias sociais da cidade moderna – vislumbra-se como as expressões de cultura e religiosidade presentes no interior do país começam a se reconfigurar a partir do movimento dessas populações em direção às áreas urbanas, promovendo a ressocialização das camadas populares em novos espaços. Discursos políticos, médicos e higienistas, que acompanharam e legitimaram a chamada modernidade, passaram a considerar as práticas religiosas desses grupos como sinais de incultura, atraso e ignorância. A história de Canudos e seu crescimento demográfico explosivo em torno das pregações do beato é recuperada pela autora como uma referência importante para se compreender processos semelhantes que ocorriam nas cidades brasileiras. Essas práticas começaram a ser cada vez mais notadas, anotadas e perseguidas. Nesse cenário aparecem novamente com destaque os contingentes de africanos e afro-brasileiros que, nas cidades conturbadas por um processo de urbanização abrupta, dividiram o espaço com imigrantes pobres de diferentes nacionalidades. Sabe-se que essa convivência foi muitas vezes tensa e conflituosa, mas, como esse e outros estudos demonstram, também foi marcada pelo compartilhamento de tradições.
No capítulo 3 – Religiosidade e magia nas primeiras décadas do século XX – a autora leva o leitor pelos meandros da escrita de cronistas e romancistas, que descreveram as práticas religiosas, especialmente aquelas que se davam nas casas de homens negros e mulheres negras. Essas descrições em sua maioria traziam toques de exotismo, demonstrando a tentativa de distanciamento dos autores em relação àquela população encantada por feitiços, magia e tudo aquilo que pertencia ao mundo do secreto e do oculto. As camadas remediadas e as mais ricas temiam aqueles “cultos misteriosos”, reservados aos iniciados, e preferiam se aproximar do espiritualismo de base francesa ou americana, mais atrelado à ciência e às supostas comprovações.
Nesse terceiro capítulo acompanha-se ainda a história de como o espiritismo se disseminou rapidamente também entre as camadas mais pobres da população, combinado com as crenças de ascendência europeia e às religiões afro-brasileiras.
O ritmo da narrativa se intensifica até atingir o capítulo 4 – Espaços sociais das crenças religiosas na urbanização de São Paulo – onde se vê como o discurso que representa o medo pela perda de controle sobre esses grupos espiritualizados foi muito forte em São Paulo entre 1890 e 1900, período em que a população da cidade cresceu em 268%. Esse medo acompanhou de perto a disseminação de práticas religiosas diversas por todo espaço urbano.
Particularmente nesse capítulo final pode ser feita uma ponte entre esse estudo e as mais recentes concepções dos estudos africanos, que demonstram como a incorporação de novas crenças e sua recriação era uma prática comum na África central. Pesquisas de historiadores africanistas como Linda Heywood e John Thornton apontam enfaticamente na direção de que novos elementos sempre foram apreendidos e transformados quando considerados benéficos ou úteis à cosmologia dos povos africanos. A convivência no Brasil com curandeiros, pitonisas e adivinhos provenientes das mais variadas nacionalidades, como demonstra Wissenbach, ampliou ainda mais essa prática. Essa “mistura”, da qual nos fala a autora, permeava o extrato social e cultural onde essas populações viviam, nas pequenas casas de cômodos, nos quintais coletivos, no compartilhamento de atividades informais. Aos poucos as práticas chamadas de curandeirismo irmanaram-se aos novos campos da ciência, como a homeopatia.
Na conclusão Wissenbach mostra como as práticas religiosas populares eram mais perseguidas e, ao mesmo tempo, mais temidas, quando eram empreitadas por homens negros, os chamados mestres cumbas ou feiticeiros. Foi contra eles que a repressão policial agiu de forma mais intensa até seu ponto máximo nos anos de 1930. Mesmo temidos, eram eles que lançavam uma fagulha de esperança para aqueles que não tinham a quem recorrer ou que não acreditavam em qualquer ajuda que pudesse vir do poder estabelecido. Da mesma forma, segmentos negros da população eram perseguidos quando fundavam agremiações religiosas, como igrejas reformadas, grêmios de ocultismo e centros espíritas.
Nos processos criminais, analisados pela historiadora, um ponto chamou sua atenção de forma impactante, a presentificação das narrativas a partir do final do século XIX. Desapareceram os detalhes da vida pregressa, da África ancestral, que podiam ser encontrados nos depoimentos de escravizados e libertos. A cidade em processo de modernização parecia reservar espaço apenas para o novo. Essa importante reflexão da autora nos leva a indagar se a memória de fato fora perdida ou começara a ser acobertada como tática de proteção num momento de perigo, em que as perseguições a tudo que remetesse à África haviam se intensificado.
E aqui podemos voltar ao início do livro, quando, citando Xidieh, Wissenbach ressalta que há um momento certo para a narração, que não é o momento da noite ou do dia, mas é o momento social em que elas se justificam e funcionam. É preciso concordar que essa pesquisa, que demorou um longo tempo para ser publicada, chegou num momento preciso de narração, num tempo necessário, permitindo a lembrança e o estudo crítico de práticas que fogem das imposições oficiais e se afirmam em sua diversidade, em profunda conexão com o contexto histórico das camadas populares, seus conflitos e compartilhamentos. Nesse sentido o livro atende a um público amplo, formado não apenas por historiadores, estudiosos das religiões, da história urbana e do cotidiano, mas também por todos os interessados nos assuntos relativos à diversidade, ao direito de expressão, às dissonâncias culturais, ao compartilhamento e tensão entre tradições. O trabalho de Cristina Wissenbach é profícuo em ampliar caminhos de pesquisa e discussão.
Elena Pajaro Peres – Doutora e mestre em História pela FFLCH-USP. Pós-doutora pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Visiting Scholar no African American Studies Program da Boston University (2013-2014). É pesquisadora no grupo Trilhas e circuitos do riso no espaço público brasileiro (1880-1960)-DH-USP/CNPq.
Pós-abolição no sul do Brasil: associativismo e trajetórias negras | J. M. Mendonça, L. Teixeira e B. G. Mamigonian
Beatriz Gallotti Mamigonian. Foto: LEHMT |

Convencionou-se adotar o racismo como contexto imperante, engessando as ações dos indivíduos, na qual a experiência do pós-abolição de São Paulo é imposta para as mais diversas regiões do país. Mas o livro, magistralmente, inverte a lógica. Todos os artigos se concentram nas ações desses indivíduos, no sul do país, e a partir delas que o contexto é (re)construído. São eles os balizadores das experiências limites, que ultrapassam fronteiras estruturalmente e artificialmente construídas pela historiografia, das décadas de 70 e 80. Portanto, a mudança teórica para a microanálise é o grande trunfo do livro.
Dentre os mais diversos temas de pesquisas existentes nos pós-abolição – dentre os quais destaco: saúde, migrações, expressão cultural, identidades, gênero, quilombolas, atuação política, entre outros – o livro foi certeiro em escolher dois: associativismos e trajetórias. Em primeiro lugar, encontra-se a importância de se demonstrar como a população negra não adentrou o pós-abolição de forma desorganizada, muito pelo contrário, as associações demonstraram a reunião em torno de projetos coletivos e racialmente orientados, constituindo grupos de apoio mútuo no combate ao racismo. Essa experiência compartilhada orientou e viabilizou projetos que colocavam na praça e na opinião pública a discussão sobre o processo de racialização que a sociedade passava, durante a Primeira República. A segunda grande contribuição do livro versa sobre as trajetórias. Apesar de a maior parte dos autores não realizarem uma boa discussão diferenciando trajetórias de biografias, as experiências individuais, coletivas, e, principalmente, familiares trazem uma ótima reflexão sobre o papel dessa parcela da população na construção da sociedade, do pós-abolição. A mudança de ótica da macroestrutura imobilizadora de ações individuais para a microanálise mostrou como eles usaram as incoerências dos sistemas normativos para ultrapassar as barreiras do racismo imperante para construir um novo contexto e impor também os seus projetos e desejos.
O primeiro artigo da coleção apresenta o estado da arte da discussão bibliográfica sobre os associativismos negros no período pós-abolição. Petrônio Domingues, em seu artigo, tenta atingir todas as múltiplas experiências de associativismos negros, no pós-abolição.
Verdade seja dita, os limites de páginas impostos ao autor não tiram o brilho e o trabalho empenhado para tentar acompanhar uma produção bibliográfica em ampla expansão. Petrônio elenca as associações voluntárias, tais como: agremiações beneficentes, clubes sociais, centros cívicos, sociedades carnavalescas, ligas desportivas que no seu entender são catalisadoras de laços de solidariedade e união em prol de um fim coletivo. Somado a isto também levanta a bibliografia referente as trajetórias de suas lideranças, formas de resistência, lutas, acomodações, as estratégias, as ações coletivas e o papel das mulheres. Lembra o autor que a maior parte dessas associações investiu fortemente na formação educacional de seus membros e parentes, principalmente através de cursos alfabetizantes e montando bibliotecas. Por fim, para além das atividades objetivas, muitas dessas associações foram responsáveis em oferecer uma gama importante de atividades recreativas, tais como: bailes, festas, competições, concurso de fantasias, desfiles, entre outros.
Na esteira da discussão sobre a importância dos clubes negros, uma das mais importantes contribuições do livro vem do artigo de Fernanda Oliveira. Fruto de sua Tese de Doutorado, intitulada As lutas políticas nos clubes negros: culturas negras, cidadania e racialização na fronteira Brasil-Uruguai no pós-abolição (1870-1960), o artigo condensa as principais conclusões. De longe, a mais importante foi a demonstração das trocas transnacionais de informações entre membros de clubes negros do Brasil e do Uruguai. Com isso demonstra belamente que os limites nacionais não foram impeditivos aos sujeitos de compartilharem experiências cotidianas de discriminação.
Nos capítulos seguintes conseguimos ter uma visão ampla sobre a quantidade e importância das associações negras. Racke e Luana Teixeira apresentam as agremiações em Florianópolis: o Centro Cívico e Recreativo José Arthur Boiteux (1915-1920), as Escolas de Samba “Os Protegidos da Princesa” e a “Embaixada Copa Lord”. Assim como no Paraná, Merylin Ricieli dos Santos pesquisa a existência do “Clube Treze de Maio” de Ponta Grossa, a partir de entrevistas. Em todos os trabalhos a tônica se mantêm quase a mesma, a de reforçar a existência de associações com uma identidade étnico-racial constituída e organizada politicamente com objetivos específicos.
Chegando a parte 2 do livro temos mais uma importante contribuição aos estudos do pós-abolição: as trajetórias. Nos capítulos que seguem fica claramente distinto tanto os aportes teóricos quanto a metodologia em diferenciar trajetórias individuais e coletivas.
Sobre a segunda, vale a pena reforçar nesses estudos o quanto o fortalecimento das famílias negras foi importantíssima estratégia para a manutenção da vida e consequente para a mobilidade social de seus integrantes. Logo, separaremos as pesquisas nos dois blocos: indivíduos e famílias.
São variadas e importantes trajetórias individuais externadas pelos pesquisadores. Zubaran, por exemplo, ressaltou as vidas de médicos negros, a saber: Alcides Feijó das Chagas Carvalho – graduado em 1916, defendia o “saneamento moral” obtido por meio da educação que levantaria a “moral” da comunidade negra; Arnaldo Dutra, diretor dos jornais O Imparcial, entre 1916-1918, e da Gazeta do Povo, entre 1920-1922, ambos de Porto Alegre. Assim, como o autor José Bento da Rosa que nos apresenta a belíssima trajetória de Firmino Alfredo Rosa e Manoel Ferreira de Miranda. São trabalhos aparentemente ainda em fase de execução e ao seu final com certeza serão uma ótima contribuição à historiografia.
Ao analisar as ações dos indivíduos é possível perceber as estratégias construídas ao longo de sua vida, sendo a busca pela educação uma importante engrenagem para a mobilidade social. Naomi Santos nos mostra a experiência de duas pessoas que passaram pela escravidão: Barnabé Ferreira Bello e João Baptista Gomes de Sá. O primeiro, escravizado, nasceu no ano de 1845, em Curitiba, e fora sapateiro. De acordo com a autora com o letramento e o fim do Império foi possível encontrá-lo no alistamento eleitoral de 1889. Já João matriculou-se aos 50 anos na escola noturna, sendo livre e empregado público. Essas histórias tinham por objetivo mostrar a busca por educação no processo de construção de liberdade e de lutas por cidadania, no pós-abolição. Apesar de belíssima contribuição desses trabalhos, de colocar à luz da história essas trajetórias de negros importantes, não há nesses artigos uma discussão que diferencie biografia de trajetórias, e muito menos fazem uma reflexão que diferencie “trajetórias negras” das demais.
Para além das trajetórias individuais, o livro se debruça sobre a importância das trajetórias coletivas, para ser mais preciso às famílias negras. Perussatto analisa a Família Calisto, grupo fundador do Jornal O Exemplo. Utilizando uma gama de fontes – tais como: alistamentos eleitorais, anúncios e notas diversas publicadas no jornal A Federação; habilitações e registros de casamento religioso e civil; registros de batismos e de óbitos; testamentos e inventários post-mortem; relatórios e almanaques – brilhantemente consegue traçar toda a genealogia e, principalmente, a atuação familiar na arena pública.
Calisto construiu uma ampla rede de sociabilidades entre homens de cor que lhe conferiu mobilidade e respeitabilidade, e sua atuação nos ajuda a compreender melhor o papel e a importância das famílias negras na mobilidade social, no período pós-abolição. É na trajetória familiar de Maria Teresa Joaquina que temos uma maravilhosa discussão sobre a importância das famílias negras no pós-abolição do Brasil Meridional.
Através de uma miríade de fontes, Rodrigo Weimer dá sentido e importância a trajetória da Rainha Jinga ao enfatizar o seu papel na congada e na atuação política para o reconhecimento da Comunidade Quilombola a que pertence. E sua maior contribuição é a do fortalecimento das pesquisas sobre famílias negras através de dois prismas: o primeiro se refere a percepção de que os sujeitos das famílias foram capazes de colocar suas marcas na história com autonomia superando a vitimização que normalmente lhes são imputados; e, por conseguinte; afirma ser as famílias negras a melhor unidade de observação, e não as trajetórias individuais, uma vez que as estratégias de vida não eram pensadas de forma individual, mas sim vividas e pensadas coletivamente.
Na continuidade de observar as ações coletivas e familiares de negros do pós-abolição, a História Oral se mostrou como um dos principais caminhos. Joseli Mendonça e Pamela Fabris reconstruíram as experiências das famílias Brito e Freitas, a partir da entrevista de Nei Luiz de Freitas. Descendente de escravizados, o seu depoimento abriu as portas para a realização de mais entrevistas com os seus familiares e permitiu a reconstrução de uma rede imbricada vivenciada por Vicente e Olympia. Vicente Moreira de Freitas acumulou recursos durante o período da escravidão, exercia a profissão de pedreiro, tinha instrução e obteve cargos que conferiam status e dignidade na Sociedade Protetora dos Operários –, fundada em 1883. Apesar da preocupação dos autores ser a análise das memórias e das identidades dos entrevistados, a pesquisa tem por principal contribuição a demonstração de que famílias negras, no pós-abolição, buscavam por diferentes redes de sociabilidades numa clara estratégia para diminuir as incertezas em relação ao futuro.
O último artigo dessa coletânea nos agracia com uma profunda pesquisa de microanálise em uma história de família. Henrique Espada Lima coloca em prática a redução de escala de análise de forma primorosa, buscando, ações, estratégias, incertezas e valores da família de Maria do Rosário. De acordo com a documentação, a família apostou, em primeiro lugar, na aproximação por alianças e construção de redes de solidariedade com pessoas brancas. As alianças com mulheres brancas frequentemente viúvas ou solteiras, de acordo com o autor, era conectada com “a própria vulnerabilidade a que se expunham essas mulheres – de outro modo, privilegiadas – que tentavam proteger-se de algum modo das incertezas da velhice solitária”. Mesmo que diante da possibilidade de se construir alianças, Henrique não percebe, pelo menos nesse texto, que essas relações eram construídas de modo a manter a população ex-escravizada em situação subalterna.
Em seguida, outra estratégia tomada pela família é a procura por ocupar diversos ofícios e isso permitiu o alistamento ao voto e o pertencimento à Guarda Nacional. Esses eram elementos que distinguiam homens pardos da maior parte dos seus pares, isto é, dando acesso ao exercício da cidadania. E, por último, uma das principais estratégias de mobilidade social foi a busca incessante pela educação. A trajetória da família, e principalmente de Olga Brasil, bisneta de Maria do Rosário, é marcada desde o início pelo investimento na educação formal, combinado com a participação em atividades ligadas à igreja católica. Contudo, a maior contribuição, e mais polêmica, do artigo é a de analisar uma família “parda” da escravidão ao pós-abolição. De início Henrique retoma uma discussão sobre o “silenciamento da cor” na documentação como estratégia para diminuir o horizonte de vulnerabilidade imposta aos ligados, mesmo que minimamente, à escravidão. Para o autor, à medida que a família se ascendia socialmente, a família de libertos “pardos” conseguiu se desfazer da associação com o passado escravista. E aponta, mesmo que sem aprofundamento, que o branqueamento pode ter sido um sucesso.
Verdade é que a documentação analisada não permite observar como a população ao entorno observava a família, assim como não é possível acompanhar os impedimentos de acesso a burocracias do estado ou mesmo a postos de poder. Apostar na estratégia (in)consciente de “branqueamento” da população negra, que perpassou pela escravidão e guardou em seu corpo as marcas desse passado, é muito arriscado na atual realidade da produção historiográfica a qual aposta na racialização como marco definidor dos lugares de poder e decisão, mesmo sem precisar falar de cor.
Essa é uma obra que ocupará um espaço importante na historiografia, não somente regional, do pós-abolição, mesmo que tenha altos e baixos, com artigos de historiadores ainda em formação. O livro contribui com importantes marcos, como as associações, as trajetórias individuais e familiares para a história nacional. E, desse modo, convido a todos a ler essa obra que incentivara novas pesquisas pelo Brasil todo.
Carlos Eduardo Coutinho da Costa – Professor Adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, docente do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de História da mesma instituição.
MENDONÇA, J. M. N; TEIXEIRA, L.; MAMIGONIAN, B. G. (Org.). Pós-abolição no sul do Brasil: associativismo e trajetórias negras. 1. ed. Salvador: Sagga, 2020. 293p. Resenha de: Carlos Eduardo Coutinho da. O pós-abolição no Brasil meridional. Revista Ágora. Vitória, v.31, n.2, 2020. Acessar publicação original [IF].
Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia | João José Reis
O autor João J. Reis em seu livro, Ganhadores: A greve negra de 1857 na Bahia, apresenta-nos um retrato social dos chamados “ganhadores”, que ocuparam as ruas de Salvador ao longo do século XIX. A greve de ganhadores ocorreu em Salvador, no ano de 1857, e com ampla mobilização social da categoria colapsou o funcionamento da cidade. Em uma leitura fluída, agradável e densa as páginas conduzem para o dia a dia da lida desses trabalhadores africanos empregados ao ganho em Salvador na década de 1850. A maioria deles era composta por homens africanos nagôs, libertos ou escravizados, empregados ao ganho, responsáveis, principalmente, por carregar pessoas e mercadorias entre as ruas enladeiradas da capital baiana. Como indica o autor, “esse livro busca descrever e entender o que foi o primeiro movimento grevista envolvendo todo um setor sensível da classe trabalhadora urbana no Brasil, trabalhadores responsáveis pelo transporte, por toda cidade, de pessoas livres de vária ordem e objetos de todo tipo.” (p.17). Leia Mais
Inhuman Traffick: The International Struggle against the Atlantic Slave Trade: A Graphic History – BLAUFAB; CLARKE (TH-JM)
Liz Clarke Foto: NewHouseSports /
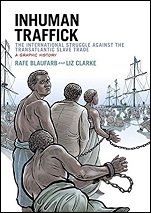
Inhuman Traffick revolves around the Neirsée incident in 1828-29, a complex tale hitherto unknown before Blaufarb’s skillful archival research. A slaving vessel of indeterminate nationality, the Neirsée was captured off the African coast as part of the British Navy’s suppression of the Atlantic slave trade. After retaking the ship, slavers sailed it to the Caribbean islands where they released Europeans at British Dominica and sold African passengers into slavery at French Guadeloupe. Because the latter group included not only the 280 survivors among the 309 original slaves but also several African Krumen (Royal Navy personnel) and Sierra Leoneans (British subjects), authorities in the UK demanded from French officials the freedom of its British African subjects. In return, the French objected to both British violation of French territory on Guadeloupe and the original confiscation of the Neirsée, which (falsely) flew under the French flag and was theoretically off limits to searches by British warships. Thus, the Neirsée incident precipitated a diplomatic imbroglio in 1829. Leia Mais
The Yellow Demon of Fever: Fighting Disease in the Nineteenth-Century Transatlantic Slave Trade | Manuel Barcia
Não é necessário ser especialista para saber que o tráfico de pessoas escravizadas entre o continente africano e as Américas, ao longo dos séculos, foi um mar de horrores em termos sanitários, dentro e fora das embarcações. Nem é coincidência que os navios que transportavam esses africanos e africanas para a venda na outra costa do Atlântico fossem chamados de tumbeiros. Mas, além da dor e da desumanização de suas vítimas, a viagem negreira foi também uma experiência sobre o conhecimento das doenças que se manifestavam durante a travessia. Foi também o terreno em que diferentes tratamentos daquelas enfermidades puderam se desenvolver para salvar vidas. Leia Mais
Elecciones entre sables y montoneras. Uruguay, 1825-1838 | Clarel de los Santos
Este libro de Clarel de los Santos es una adaptación de su tesis maestría, defendida en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en 2017, que obtuvo el primer premio en el concurso Tesis de Historia que organizó la Asociación Uruguaya de Historiadores (AUDHI). Por ello, se trata de una investigación rigurosa y novedosa sobre un tema escasamente tratado por la historiografía local, que contribuye a la renovación de los estudios historiográficos del siglo XIX en la región.
Clarel de los Santos se propuso analizar la vida política en la Provincia Oriental/Uruguay entre 1825-1838: un período fermental para la conformación de los estados en el espacio rioplatense. Lo hizo a través del estudio de las formas de legitimación del poder que emergieron con el triunfo revolucionario, los tipos de representatividad política y la participación ciudadana en elecciones. Para lo cual recurrió a un nutrido marco teórico e historiográfico que enriqueció el análisis del corpus documental relevado. Leia Mais
Paz en la República. Colombia/Siglo XIX | Carlos Camacho, Margarita Garrido, Daniel Gutiérrez
Mucho se ha escrito sobre la guerra y sobre la violencia en Colombia. Al punto que los dedicados a estos complejos tópicos se han hecho merecedores del mote académico de “violentólogos”309. Si bien la historia de Colombia está, como la de muchos países, marcada por el sino de la violencia, el fenómeno, su duración y las formas de manifestación han adquirido en nuestro contexto unas características bien particulares. Dentro de los adjetivos que ha merecido este tema están los de violencia política, violencia por estructura y violencia por desarrollo. Estos tipos de violencia se pueden identificar en la vasta bibliografía sobre el tema. Son una forma de clasificación general que incluye dentro de sí diversas y complejas prácticas violentas, las cuales describen y analizan los comportamientos y las formas de relación entre los individuos, entre estos y el Estado y sus instituciones, y a su vez entre las comunidades con sectores empresariales que promueven la explotación de los recursos apelando el desarrollo social. Leia Mais
Anatomía del pánico. La batalla de Huaqui/o la derrota de la revolución (1811) | Alejandro Rabinovich
Alejandro Rabinovich doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París nos presenta un nuevo texto fundamental para la historia militar, Anatomía del pánico. La batalla de Huaqui, o la derrota de la revolución (1811). Es un libro que busca conocer los gestos y las acciones de los jefes, oficiales y soldados que protagonizaron la catastrófica desbandada. Comprender estas acciones permite discernir el actuar de los soldados en los campos de batalla y el rol que tuvo el pánico en los combates del siglo diecinueve. La tesis central propone que los ejércitos revolucionarios no fueron deshechos por el accionar de las fuerzas realistas, ni por las muertes de sus militares. Como indica Rabinovich “simplemente, en un momento dado, se desató una fulgurante ola de pánico que recorrió las filas del ejército hasta deshacerlas por completo. Los efectos de este pánico fueron tan devastadores que, incluso varios después de la batalla, a decenas de kilómetros del enemigo y cuando ya no corrían ningún peligro, las tropas seguían huyendo sin que los oficiales y autoridades locales lograran detenerlas”1. Leia Mais