Posts com a Tag ‘Topoi (Tpr)’
Le dossier sauvage | Philippe Artières
Philippe Artières | Imagem: Acervo do autor/LintervalleBlog
No mês de outubro de 2019 o imaginativo historiador Philippe Artières publicou O dossiê selvagem. Quanto a isso, nenhuma dúvida. O fato está aí, posto com clareza: um livro foi publicado, em tal data, por tal editora e, principalmente, sabe-se verdadeiramente sua autoria. Entretanto, ao longo das breves 160 páginas do livro, o leitor se depara com uma narrativa que se assenta na linha divisória, cinzenta, onde se equilibra e brinca com o falso e o verdadeiro, o factual e o contrafactual, o real e o ficcional, sem que em nenhum momento, contudo, abandone o terreno da história.
Mas o que é o “dossiê selvagem” que dá título ao livro? Trata-se de um conjunto de documentos (anotações manuscritas, reprografias de jornais ou revistas) agrupados em uma pasta de arquivo dos anos 1970, identificada com os dizeres “Vies sauvages”, numa caligrafia bastante familiar para o autor. Esses registros, fragmentados, essencialmente lacunares, referem-se a pessoas que, por razões diversas, saíram da cidade e foram morar em florestas, cavernas, regiões inóspitas onde, em sua maioria, buscaram estabelecer um modo de vida solitário e independente da civilização urbano-industrial. Esse conjunto reúne nomes e informações de pessoas que viveram desse modo “selvagem” em diferentes momentos da história, do século das Luzes aos anos 1980. Com raras exceções, a maior parte habitou regiões inóspitas da Europa e da América do Norte. Voltaremos a elas. Antes é importante familiarizarmo-nos com a descrição do material, aproximarmo-nos de sua história, a começar pelo modo como esse arquivo ganhou uma existência complexa e intrigante. Leia Mais
Pandemia cristofascista | Fábio Py
Fábio Py | Imagem: CONIC
Quando o presidente de um país, cujos mandatários há décadas não ousam descuidar do eleitor religioso, precisando também lidar com uma crescente bancada evangélica, usa o termo “cristofobia” em discurso diante da Organização das Nações Unidas – ONU, é sinal de que a religião ali não pode ser um tema menor na escrita da História atual. Pelo menos desde as últimas duas décadas do século XX enchendo estádios, templos e urnas, o movimento evangélico no Brasil, todavia, tem participação no curso dos acontecimentos da nossa contemporaneidade desproporcional à atenção que lhe tem sido dedicada pela academia. O livro Pandemia cristofascista, do teólogo Fábio Py, pode ser visto como um alerta sobre o custo que temos pago pela falta de compreensão deste fenômeno.
Trabalho sucinto, cujo eixo principal é a análise da “unção” conferida ao presidente Jair Bolsonaro por líderes das maiores organizações evangélicas do país durante a semana da Páscoa de 2020, o opúsculo divide-se em quatro seções. São elas: introdução; histórico e crítica da Frente Parlamentar evangélica (mais conhecida como “bancada evangélica”); estudo do processo de construção de uma imagem santificada do presidente da República em meio à escalada da pandemia de Covid-19; e conclusão, onde o comportamento dos líderes religiosos que contribuíram para a minimização da crise sanitária de 2020 é criticamente contraposto ao que seria esperado de sacerdotes genuínos, segundo o livro bíblico Levítico. Leia Mais
O fascismo em camisas verdes: do integralismo ao neointegralismo | Leandro Pereira Gonçalves
Leandro Pereira Gonçalves | Imagem: Arquivo pessoal/BBC News Brasil
O historiador dos fascismos históricos tem uma dupla dificuldade em tratar dos neofascismos, uma de ordem moral, outra de ordem teórica. Sobre a primeira – e em vista das sucessivas ondas de neofascismos do mundo posterior à Segunda Guerra – paira a pergunta: o que fazer quando a sensação de déjà-vu se apresenta para a sociedade? Inevitavelmente, ela se volta para aqueles que ela entende como os ‘guardiões do passado’, requerendo explicações sobre o fenômeno reincidente. No que concerne à segunda ordem de dificuldades, é certo que um dos mandamentos do historiador é ‘não farás pontes entre passado e presente em vão’. Se isso está correto, é certo também que aos historiólogos é imputada a obrigação de explicar o passado à luz do presente e o presente à luz do passado, numa espécie de retroalimentação.
Embora escoimados de certos rigores da ‘cenografia’ acadêmica, os autores de O fascismo em camisas verdes: do integralismo ao neointegralismo, apresentam à sociedade algumas pontes entre passado e presente que estão longe de serem vãs. Na obra publicada pela Editora da Fundação Getúlio Vargas (2020), os dois especialistas no campo dos ‘estudos verdes’ (um do campo dos fascismos históricos, outro dos neofascismos) juntaram forças numa tentativa, bem-sucedida, em nosso julgamento, de demonstrar o quão perigoso é enterrar o conceito de fascismo em 1945, abandonando, assim, o olhar fenomenológico. Nosso argumento ficará mais claro ao longo desta avaliação crítica. Leia Mais
Ghetto: the invention of a place, the History of an idea | Mitchell Duneier
Mitchell Duneier | Foto: Aaron Salcido/Zócalo
Em 25 de maio de 2020, a morte de George Floyd, um homem negro, em Minneapolis, por um policial branco, reascendeu uma onda de protestos trazendo novamente à tona questionamentos sobre como se dá a atuação das forças policiais contra a comunidade negra. Episódios como este têm sido recorrentes nos últimos anos: em 2014, em Ferguson, no Missouri, um policial branco matou o jovem de 18 anos, Michael Brown, e em 2015, em Baltimore, Freddie Gay, de 25 anos, também foi assassinado por um policial branco. Tal contexto nos faz indagar: quais são os fatores que levam a uma crescente violência contra as comunidades negras estadunidenses? O livro Ghetto: the invention of a place, the history of an ideia de autoria de Mitchell Duneier, de 2016, nos mostra que qualquer tentativa de compreensão desse fenômeno desassociada de uma análise de longa duração terá seu objetivo frustrado.
Professor de Sociologia da Universidade de Princeton, Duneier é autor de livros como Slim’s Table: Race, Respectability, and Masculinity, que venceu em 1994 o prêmio de melhor publicação acadêmica da American Sociological Association, e de Sidewalk, de 1999, que ganhou o prêmio de melhor livro pelo jornal Los Angeles Times. Formado em Direito pela Universidade de Nova Iorque, Duneier obteve seu doutorado pela Universidade de Chicago em 1992, tendo como objeto de estudo a etnografia urbana dos anos de 1920. Em Ghetto, o autor historiciza a construção desse conceito, mostrando como sua utilização foi mobilizada em diferentes contextos em virtude de questões sociais e políticas específicas. O livro abrange uma temática atual, uma vez que grande parte dos pontos abordados ao longo de seus seis capítulos permanece ainda hoje manifesto, e assistimos a uma retomada desses mesmos discursos no cenário político. Leia Mais
O romance de formação | Franco Moretti
Franco Moretti | Imagem: Salon
There is no stillness at that point. Its components split and diverge each time we try to bring them into focus, as if interior continents were wrenching askew in the mind.1
Eros the Bittersweet
Em prefácio à segunda edição (1999) de O romance de formação, Franco Moretti, crítico e historiador da literatura, reconhece com uma precisão impressionante um dos limites da sua primeira grande obra e de sua abordagem teórica de então, nomeadamente a união direta entre história literária e história ideológica. A intenção de produzir uma associação quase imediata entre literatura e ideologia já é confessada, mas sem que seja entendida como excesso, no prefácio original, a partir do emprego da categoria do filósofo Ernst Cassirer de “forma simbólica”. A definição com a qual opera, estabelecida de saída, delimita bem a questão direcionada aos seus disputados objetos (romances com uma crítica literária abundante), mas sobretudo o permite se posicionar criticamente ao que considera ser a longa tendência da Historiografia Literária (Cf. MORETTI, 2007): a de dispor do objeto estético como dotado de uma força que transcende seu contexto histórico, e não como parte dele. Leia Mais
Magie als Waffe gegen Schlangen in der ägyptischen Bronzezeit | Katharina Stegbauer
Angela Kaiser, Daniela Rutica e Katharina Stegbauer | Foto: fhm
Contextualização
A obra aqui analisada foi composta, originalmente, como uma tese doutoral na Fakultät für Geschichte, Kunst und Orientwissenschaften – Universität Leipzig. Após a publicação da tese, em 2010, o texto passou por incontáveis revisões bibliográficas e atualizações conceituais até a publicação do livro em seu formato final. Uma vez procedida a atualização da obra, ela veio inaugurar uma nova série acadêmica: “Ägyptologische Studien Leipzig”, que se dedica à publicação de estudos monográficos sob as regras do regime “Open Access”, via Propylaeum-ebooks1.
Graças à sua estruturação acadêmica original, a obra fornece ao leitor uma importante contextualização temática e conceitual sob a forma de um estado da arte sintetizando um século de desenvolvimento dos debates sobre a magia egípcia. Desse modo, a autora apresenta uma discussão historiográfica sobre como a antropologia cultural exerceu e exerce influência sobre o debate egiptológico. Leia Mais
Texto/ imagem e retórica visual na arte funerária egípcia | Ronaldo Guilherme Gurgel Pereira
Ronaldo Guilherme Gurgel Pereira | Imagem: Café História
Ronaldo Guilherme Gurgel Pereira é um egiptólogo brasileiro radicado em Portugal. Atua na graduação e pós-graduação em História da Universidade Nova de Lisboa e é o autor da primeira gramática de egípcio médio oficialmente publicada em língua portuguesa (PEREIRA, 2016).1 Com a publicação de sua gramática e, agora, do livro ora resenhado, Pereira vem contribuindo largamente para o desenvolvimento dos estudos sobre o Egito antigo no Brasil.
A obra Texto, imagem e retórica visual na arte funerária egípcia consiste em um erudito manual introdutório ao estudo da arte egípcia. O livro foi concebido de forma que possa ser utilizado em cursos de graduação e pós-graduação e, sobretudo, suprir a lacuna causada pela raridade de cursos de língua egípcia no Brasil hoje em dia. Porém, não se trata de um manual em um manual de língua egípcia propriamente dito; o estudo da língua é somente introduzido em relação àquele das representações artísticas – de suas convenções e elementos ocultos que podem ser lidos como textos, na medida em que os hieróglifos são essencialmente representações visuais que constituem as formas de construção e comunicação do simbolismo da arte egípcia. Portanto, tal como apresentado na introdução, o conhecimento da língua é considerado crucial para que se possa decodificar a arte como fonte de informações sobre a sociedade e a cultura egípcias. Leia Mais
A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil | Lilia M. Schwarcz e Heloísa M. Starling
A pandemia de gripe espanhola foi um dos fenômenos mais devastadores que a humanidade já vivenciou. A doença irrompeu no hemisfério norte na primavera de 1918 e em menos de seis meses, matou milhões de pessoas em todo o mundo. Fenômeno global, a pandemia teve maior alcance e ceifou mais vidas do que a peste bubônica, que assolou grande parte da Ásia e da Europa em meados do século XIV. Apesar da abrangência e da destrutividade da pandemia de gripe de 1918-1919, durante muitos anos ela foi silenciada não só pelos que sobreviveram à catástrofe, mas também pelos historiadores, mais inclinados a investigar questões relativas à economia, à política e às guerras. Não à toa, o historiador norte-americano Alfred Crosby a denominou de “a pandemia esquecida”.
Contudo, nas últimas décadas do século XX, período marcado por sucessos da medicina, como a erradicação da varíola, e de derrotas imprimidas pela reemergência de doenças tidas como erradicadas e surgimento de novas, como a Aids, o olhar dos historiadores se voltou para a história da saúde e das doenças. Nesse contexto, estudos sobre epidemias e pandemias se multiplicaram em vários países e o Brasil tem seguido essa tendência com uma produção crescente de estudos sobre epidemias e pandemias do passado, realizados, sobretudo, nos programas de pós-graduação. Dentre as epidemias e pandemias estudadas, figura a de gripe espanhola (1918-1919), que vem sendo mapeada em várias partes do mundo, incluindo-se o Brasil. Leia Mais
O feroz mosquito africano no Brasil: o Anopheles gambiae entre o silêncio e a sua erradicação (1930-1940) | Gabriel Lopes
Já vai longe o tempo da história dos grandes homens, dos manuais escolares ilustrados com figuras varonis. Nas últimas décadas, o público leitor se acostumou com histórias da vida privada, do cotidiano, das mulheres e de outros atores ou mesmo protagonistas que até então eram vistos como subalternos ou meros coadjuvantes de uma história por demais eurocêntrica. Em 1961, Jean-Paul Sartre anteviu a emergência de novos atores na contemporaneidade ao prefaciar o livro Os condenados da terra, de Frantz Fanon. O filósofo percebeu que os indivíduos do “terceiro mundo” seriam os novos protagonistas de uma história pós-colonial. Alguns anos depois, Emmanuel Le Roy Ladurie propôs uma história assaz diferente. Ao estudar as oscilações climáticas na longa duração, o historiador contribuiu para relativizar o papel do ser humano e do seu lugar no palco da história.1 Na década seguinte, o balbuciar de uma história ambiental favoreceu novas perspectivas, menos dualistas e mais ecológicas, com ênfase nas complexas interações entre os seres vivos e suas correlações em diferentes ecossistemas (PÁDUA, 2010). Leia Mais
Pandemia cristofascista | Fábio Py
O pesquisador Fábio Py lançou, em junho de 2020, Pandemia cristofascista, publicação em formato e-book, pela editora Recriar. A obra é o quarto volume da série “Contágios infernais”, organizada por Fellipe dos Anjos e João Luiz Moura. O autor da obra em questão é doutor em teologia pela PUC-Rio e professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). O texto de Fábio Py chama a atenção logo no título, que é justificado pelo próprio autor:
São reflexões que versam sobre o contexto e vivência da pandemia desde os primeiros casos do novo coronavírus, no território. No título, há o termo ‘cristofascista’ porque essa é a forma de governo que está gerindo o contexto da pandemia. ‘Cristofascista’ porque instrumentaliza seu mandato pelo fundamentalismo evangélico conservador (PY, 2020, p. 9). Leia Mais
A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade | Ulrich Beck
O diálogo com sociólogos como Jürgen Habermas e Pierre Bourdieu ampliaram os horizontes da História e levaram a produções fundamentais dentro da historiografia. Contudo, parece que o trabalho de Ulrich Beck ainda não foi devidamente apreciado pelos historiadores. A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade pode ser uma oportunidade interessante para se aproximar de sua teoria social, além disso, é um diagnóstico histórico ambicioso sobre as transformações do mundo contemporâneo.
Ulrich Beck foi professor de sociologia na Universidade de Munique, na London School of Economic’s and Political Science e doutor honoris causa por diversas universidades europeias. As preocupações e questões desenvolvidas no conjunto de sua obra o colocam ao lado dos grandes intérpretes da modernidade, como o próprio Jürgen Habermas, Michel Foucault e Zygmunt Bauman. Beck tornou-se conhecido após a publicação de Risikogesellshaft (1986), traduzido para o português com o título Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade (BECK, 2011). Esse livro foi publicado no mesmo ano em que ocorreu o acidente nuclear de Chernobyl, as incertezas e o sentimento de falta de controle em relação ao uso da energia nuclear apresentavam uma impressionante coincidência com as análises desenvolvidas por Beck. Leia Mais
Formulário médico. Manuscrito atribuído aos jesuítas e encontrado em uma arca da igreja de São Francisco de Curitiba | Heolisa Meireles Gesteira, João Eurípedes Franklin Leal e Maria Claudia Santiago
A interpretação e a materialidade de manuscritos da Época Moderna, conforme a preposição “da” atrás empregada, procura ressaltar que os manuscritos a serem analisados são provenientes do período situado, grosso modo, entre os séculos XVI e XVIII. Não raro esses textos chegam ao presente experimentando autorias diversas, além de intervenções de copistas, proprietários, restauradores e leitores. Portanto, os manuscritos não deveriam ser percebidos hoje como se estivessem simplesmente “na” Época Moderna – eis aí a sutil diferença. A perspectiva vincula-se ao tema da materialidade social, uma apropriação do trabalho de Donald McKenzie sobre a bibliografia entendida como sociologia dos textos (MCKENZIE, 2018). Os textos, enquanto tecidos com textura (conforme a origem latina das palavras), sejam manuscritos ou impressos, possuem uma materialidade a ser estudada. Mas sua matéria é também social e histórica, a ser considerada na análise de um artefato proveniente de outro tempo, que passa por metamorfoses até chegar ao momento atual. Decorre daí a importância de se abordar nas pesquisas o percurso dos documentos – manuscritos ou impressos – em meio a arquivos particulares ou públicos. É fundamental também lidar com as diferentes leituras, por vezes expressas no próprio corpus documental, do objeto, mediante comentários, anotações nas margens etc., ou quando os manuscritos são transcritos, editados e impressos em forma parcial ou integral e passam a ser comentados por leitores vários, assumindo divulgação mais ampla por meio de publicações. Leia Mais
Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia | João José Reis
O livro Ganhadores: a greve negra de 1857 na Bahia foi lançado em agosto de 2019 e preenche uma importante lacuna da historiografia a respeito das greves promovidas por escravos ou libertos. Como homens e mulheres escravizados viveram o cotidiano da escravidão urbana? O autor, João José Reis (UFBA), especialista em contar como os escravos se revoltavam, nos oferece uma riqueza de detalhes sobre a vida desses homens que resistiram a uma maior exploração dos seus corpos numa grande cidade escrava. O final da história está no título do livro e representa o nome dado a esses homens que ousaram contra a municipalidade soteropolitana: ganhadores, pois também venceram uma batalha que durou 10 dias e que paralisou a cidade de Salvador. Além deles, com esse livro ganharam todos os interessados em discutir a escravidão, o trabalho, a liberdade e a cidadania negra no oitocentos. Leia Mais
Ditadura/ anistia e transição política no Brasil (1964-1979) | Renato Lemos
Em tempos em que proliferam disputas narrativas e versões negacionistas a respeito da ditadura militar brasileira, a publicação do livro Ditadura, anistia e transição política no Brasil (1964-1979), do historiador Renato Lemos, chega em boa hora. Enquanto parte da população brasileira e políticos têm feito apologia do regime ditatorial, o autor expõe no livro o projeto daqueles que não agem assim por desconhecimento, mas sim por comprometimento com a face mais brutal da dominação burguesa no Brasil, como diz o professor Marcelo Badaró (UFF) no prefácio do livro.
Renato Lemos é professor titular de História do Brasil na Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordena o Laboratório de Estudos sobre os Militares na Política (LEMP/UFRJ)1. O historiador marxista defende o uso da nomenclatura “ditadura empresarial-militar” para designar o regime de 1964-1985, no lugar de “ditadura militar”, por entender que esta generaliza os militares, ao mesmo tempo em que oculta os vínculos de classe das lideranças civis beneficiadas pelo golpe. Leia Mais
História Pública e divulgação da história / Bruno L. P. de Carvalho e Ana Paula T. Teixeira
Bruno Leal Pastor de Carvalho e Ana Paula Tavares Teixeira / Fotos: Comunicação Ages e Café História /

A obra é uma coletânea composta de seis capítulos e três entrevistas produzidas por historiadores, jornalistas e por gente que transita nesses dois campos. São profissionais com perspectivas históricas variadas, com diferentes experiências e inserções distintas como produtores/mediadores de representações da História. O conjunto dos textos deste livro compreende diferentes linguagens e suportes da História Pública, com discussões sobre como ampliar o acesso do conhecimento histórico pesquisado em revistas acadêmicas, livros, vídeos do Youtube, sites, museus e espaços públicos da cidade.
Os coordenadores Bruno Leal Pastor de Carvalho e Ana Paula Tavares Teixeira são investigadores da História Pública no Brasil e contribuíram neste volume para o desenvolvimento da temática ao colocar juntos colegas que trabalham a dimensão pública do conhecimento histórico. Leia Mais
The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution | Julius S. Scott (R)
Julius Sherrard Scott / Foto: Scholars and Publics /
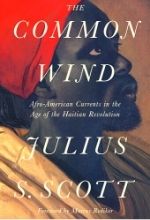
É difícil entender o intervalo de mais de trinta anos entre a defesa da tese e a impressão do livro, sobretudo porque o conteúdo manteve-se praticamente inalterado, porque o assunto é relevante e a narrativa é bem construída. Desinteresse editorial, desejo do autor em rever sua obra ou espera por um momento oportuno para reavivar a lembrança coletiva de que o Haiti ainda existe, como o terremoto de 2010, talvez possam ser elencados como hipóteses possíveis para essa longa espera. A bibliografia sobre o Haiti e, de forma mais ampla, o Grande Caribe, como Scott aborda no livro, não é extensa em inglês e é praticamente inexistente em português. [2] Por isso, talvez o primeiro ponto a ser destacado nesta resenha seja a necessária iniciativa de traduzir esse livro no Brasil, sem esperar a passagem de outras três décadas para que os leitores possam acessar uma experiência tão próxima à história colonial e imperial do país e tão inspiradora para os estudos históricos sobre a formação cultural brasileira e a história marítima ainda pouco praticada por aqui.
Chama a atenção a profusão e diversidade de materiais de que Scott se valeu para a escrita de sua história da circulação de ideias revolucionárias no Caribe setecentista: manuscritos oficiais de agentes da Coroa em arquivos espanhóis e cubanos, o mesmo tipo de fontes para a administração britânica em Londres e nas Índias Ocidentais, documentos de fundos privados em coleções estadunidenses, baladas cantadas por marinheiros negros e brancos em circulação por aquelas águas, narrativas de viajantes, propaganda abolicionista e jornais editados na América do Norte, nas Antilhas, no Reino Unido e na França. Exceto por periódicos que circularam em Portau-Prince e Cap Français, as fontes haitianas são praticamente ausentes do estudo, sinal de seu desaparecimento ou inacessibilidade ao longo da conturbada história humana e natural do país desde o século XVIII. “Pandora’s Box: The Masterless Caribbean at The End of the 18th Century”, o capítulo inicial, anuncia o contexto da ação revolucionária no Caribe. A perspectiva não é exatamente comparativa, mas leva em conta a diversidade de experiências coloniais e a grande expansão econômica baseada no boom da produção de açúcar na região. Aqui são consideradas também as formas de dominação oriundas de diferentes autoridades europeias a partir da vitória contra os piratas, bucaneiros e renegados que ocupavam aquelas ilhas e se organizavam por meio de regras próprias. Foi ao longo do século XVIII que a presença de escravizados africanos passou a se dar no Caribe de forma massiva – o que, se veio a transformar substantivamente a região, ao mesmo tempo manteve a imagem daquelas ilhas como lugares atrativos para desertores, escravos fugidos e toda a multidão de gente espoliada que pretendia viver sem obedecer às ordens de senhores.
O capítulo 2, “Negroes in Foreign Bottoms’: Sailors, Slaves, and Communication”, remete à visão de mundo de escravizados e seus senhores. Ambos reconheciam o potencial transformador do conhecimento das técnicas e formas de navegação. Tratava-se de algo perigoso e que criava homens insolentes, na visão senhorial, e que tendia para a construção de uma igualdade, no entendimento dos escravos. Olaudah Equiano, escravo marinheiro em meados do século XVIII e autor de uma celebrada autobiografia que parece guiar o capítulo, percebeu claramente que a mobilidade advinda dessa ocupação permitia certa igualdade com seus senhores, e não hesitou em “dizê-lo para sua mente”. Desgraçadamente para os senhores, muitos escravos com dificuldades de aceitar a disciplina que se lhes queria impor se engajaram no mundo do trabalho marítimo, inclusive porque seus senhores queriam se ver livres deles justamente por serem indisciplinados.
O terceiro capítulo, “The Suspense Is Dangerous in a Thousand Shapes’: News, Rumor, and Politics on the Eve of the Haitian Revolution”, pretende dar um aporte maior ao entendimento da revolucionária década de 1790 considerando seus antecedentes. O foco está dirigido à mobilidade de escravos, homens livres de cor e desertores militares e da marinha mercante que circulavam entre uma propriedade e outra, entre o campo e as cidades e entre as diversas ilhas, colocando em questão o controle social e a autoridade imperial. Ao fazer isso, alimentaram uma tradição de “resistência móvel” construída ao longo do Setecentos e que se radicalizaria nas décadas finais daquele século e no início do Oitocentos. As reações e tentativas de controle social mais severo por parte de autoridades metropolitanas e coloniais inglesas, espanholas e francesas são apresentadas nesse capítulo.
O capítulo 4, “Ideas of Liberty Have Sunk So Deep’: Communication and Revolution, 1789-93”, lança novas luzes sobre a repercussão da Revolução no Haiti nas demais ilhas. Ideias revolucionárias circularam não apenas em busca de adeptos, mas também como estratégia das autoridades imperiais em interação repressiva. Além de informações, oficiais baseados em uma ilha trocavam, com seus homólogos de outras Coroas, ajuda de todo tipo, militar inclusive. Os da Martinica pediram tropas ao governador de Cuba em 1790, diante das desordens que enfrentavam naquela colônia e da confusão revolucionária em que a própria metrópole francesa mergulhara em 1789, inviabilizando o envio de qualquer apoio. A causa da manutenção do controle social ultrapassava fronteiras linguísticas, imperiais e senhoriais. Mas os acontecimentos de 1789 e 1790 no Caribe, como afirma Scott, também ativaram as redes de comunicação afro-americanas. Se autoridades e proprietários ingleses, espanhóis e franceses construíram diálogos e articularam ações para se autopreservarem no Caribe ao longo do tempo, os escravos e homens livres de cor fizeram o mesmo.
O quinto capítulo, “Knows Your Interests’: Saint-Domingue and the Americas, 1793-1800”, concentra-se no impacto pós- -revolucionário nos impérios coloniais remanescentes e nos Estados Unidos. Porém, a amplitude geográfica do capítulo é menor do que o título promete. Houve mobilização militar nas colônias, num esforço para manter a ordem. Os escravos, por sua vez, mobilizaram- se e articularam ações que não foram apenas respostas ao aumento da severidade e da vigilância, mas que diziam respeito às suas próprias tradições organizativas. Esse processo foi intenso em Cuba [3], na porção oriental de Hispaniola, na Venezuela, em Curaçao e na Luisiana, apenas para mencionar algumas colônias em que a escravidão era a base da exploração dos trabalhadores. Desafortunadamente, a América portuguesa, maior colônia escravista do continente, ficou fora do quadro comparativo, decerto pela falta de domínio da língua portuguesa por parte do autor e pela reduzida bibliografia sobre a repercussão da Revolução Haitiana produzida no Brasil e em Portugal.
A circulação ou mobilidade espacial é o grande tema do livro. Negros africanos ou nascidos no Caribe e mestiços iam de uma colônia às outras, navegando distâncias que, embora relativamente curtas, lhes davam acesso a comunidades estrangeiras, com diferentes línguas e experiências de escravização e resistência. As oportunidades de disseminar conhecimentos e ideias e trocar informações objetivas não foram perdidas por aqueles escravos que se ganharam o mar e o mundo além do horizonte. O movimento dos navios e dos marinheiros oferecia não só oportunidades de desenvolver habilidades ou viabilizar fugas, mas criava formas de comunicação de longa distância e permitia que os afro-americanos transportassem, física e simbolicamente, seus modos de enfrentar as adversidades do cativeiro a outras partes, construindo resistências e concepções de liberdade globais.
A cultura marítima no Caribe era multirracial e multinacional. Escravos africanos ou nascidos nas colônias americanas eram partes importantes do contingente de trabalhadores do mar, mas o “submundo dos marinheiros” na região ao fim do século XVIII era formado também por milhares de britânicos e franceses. Tratava-se de uma população instável e que, por vezes, em razão de questões de mercado de trabalho ou de saúde, se estabelecia em alguma ilha à espera de melhores condições, enraizando- -se na cultura local de transitoriedade e de exposição às informações que circulavam rapidamente para os padrões daqueles tempos. No Caribe sabia-se dos acontecimentos das ilhas vizinhas, da Europa e da América do Norte: ali era a encruzilhada do mundo Ocidental, mais especificamente do hemisfério Norte, graças às correntes de comunicação estimuladas pela relativa proximidade, pelas facilidades da navegação e pelo aumento da atividade agroexportadora caribenha ao longo do século XVIII.
O axioma segundo o qual marinheiros eram desordeiros em terra encontrava plena comprovação no Caribe. Milhares de homens em trânsito representavam um problema para as autoridades locais responsáveis pela manutenção da ordem. Inúmeras leis foram postas em vigor para discipliná-los, do mesmo modo como se fazia para tentar regular a conduta dos escravos. Em tempos mais explicitamente conflituosos, como na Guerra dos Dez Anos (1780-1790), chegou-se a proibir que marujos britânicos nas Índias Ocidentais servissem a príncipes ou Estados estrangeiros. A proibição mostrou-se ineficaz.
A comparação entre escravos e marinheiros não é aleatória no trabalho de Scott. Ele nos deixa ver como ambos tiveram experiências em comum e causas pelas quais militavam juntos: o engajamento compulsório independentemente da condição, a submissão a punições arbitrárias, a pressão para embarcarem em navios mercantes contra sua vontade e a visão sobre ambos como perturbadores da ordem pública. Bom exemplo foi um ato policial de 1789, em Granada, prevendo penalizar escravos, mestiços livres e marinheiros que atentassem contra a própria saúde e a moral, porque seus comportamentos, vistos como dissolutos, eventualmente seduziam pessoas de outras condições.
Escravos e marinheiros conviviam a bordo, como tripulantes dos mesmos navios, mas a experiência também replicava em terra. Marinheiros eram os consumidores naturais das roças escravas caribenhas e, apesar do empenho policial, era difícil impedir que escravos lavradores ou em fuga fizessem comércio com marinheiros famintos e fragilizados depois de uma longa viagem, ávidos sobretudo por frutas e outros alimentos frescos. O contato e o convívio entre marinheiros e negros naquelas ilhas não tiveram apenas consequências econômicas, mas também forjaram elementos da cultura: muitas canções de trabalho populares no mar, disseminadas por marujos britânicos pelo mundo afora no século XIX, têm extraordinária semelhança com as canções escravas do Caribe. Scott afirma haver evidências consideráveis de que muitas canções podem ter se originado da interação de marinheiros e negros nas docas das Índias Ocidentais e que a teoria da origem e desenvolvimento das línguas crioulas no Caribe enfatiza o contato entre marinheiros europeus e escravos africanos e africano-americanos.
O ponto de intersecção de toda essa gente trabalhando em trânsito era Saint-Domingue, lugar de extraordinária diversidade de grupos de marinheiros europeus, a julgar pelos relatos do próprio ministério da Marinha francês na década de 1790. Mesmo com os monopólios coloniais e suas diferentes nomenclaturas (a flota espanhola, o exclusif francês, o British Navigation Act inglês), o contrabando grassava por ali, pondo em contato colonos europeus, marinheiros de diferentes metrópoles e escravos caribenhos e de variadas origens africanas. A razão dessa diversidade também entre os escravos, para além do tráfico direto com a África, era a sede por mão de obra em Saint-Domingue, o que fazia daquela colônia francesa um repositório de escravos fugidos a partir de 1770, vindos de Jamaica, Curaçao e, a julgar pela língua de alguns deles, também do Brasil. Muitos desses escravos em fuga se engajaram ativamente em rebeliões antes mesmo de 1789 e desempenharam papéis relevantes nos anos revolucionários – por exemplo Henry Christophe, segundo presidente do Haiti independente, nascido em St. Kitts, nas Índias Ocidentais britânicas.
O comércio e a circulação de marinheiros por aquelas bandas não só traziam notícias de fora como transmitiam ao resto do mundo o que se passava em Saint-Domingue. Scott reconhece que as revoltas de negros no Caribe em fins do século XVIII inspiraram os escravos nos Estados Unidos e em muitas das Antilhas. Em termos materiais, a afirmação encontra base no volume comercial entre Estados Unidos e Saint-Domingue em 1790: o montante das trocas, nessa altura, excedia aquelas feitas com todo o restante do continente americano, e era superado apenas pelo comércio com a Grã-Bretanha.
Scott foi um dos primeiros historiadores a identificar na mobilidade espacial advinda da navegação um importante indicador de autonomia e, eventualmente, liberdade para os cativos que conseguissem trilhar esse caminho. Os navios carregados de açúcar e rum circulando pelo Caribe possibilitavam escapar do rigoroso controle social existente nas sociedades escravistas e principalmente os navios menores eram vistos como instrumentos de fuga. Problemas diplomáticos e policiais decorriam dessa mobilidade não autorizada, mas o foco do autor se firma nos marinheiros e escravos desertores que elegeram as ilhas caribenhas como seus locais preferidos.
No Atlântico, mais do que em outros oceanos, e no Caribe, de forma concentrada, o comércio marítimo de longa distância e de cabotagem envolvia homens escravos e livres de cor. No caso dos escravos, envolvia também perspectivas de autonomia e liberdade dadas não só pela mobilidade como também pelas chances de se diluir em meio à multidão reunida nos portos, formada por indivíduos que, ao serem observados, não podiam ser definidos como livres ou cativos apenas pela cor de suas peles. Os mesmos jornais jamaicanos que publicavam anúncios de senhores vendendo negros especializados em trabalhos marítimos também publicavam anúncios de fuga de gente que certamente usara o mar como rota para desaparecer das vistas de seus senhores. Scott interpreta a “mística do mar” nas sociedades escravistas insulares do Caribe, ao salientar a vida a bordo de um pequeno navio de cabotagem ou do comércio intercolonial como uma alternativa atrativa à vida marcada pela hierarquia severa nas lavouras açucareiras. Mesmo escravos sem experiência marítima podiam conhecer alguns termos náuticos graças aos versos das canções populares e fingirem serem marinheiros livres. Ávidos por força de trabalho, os capitães dos navios quase nunca inquiriam cuidadosamente cada marinheiro engajado. Durante a década de 1790, antes e depois da Revolução de Saint-Domingue, sujeitos envolvidos no mundo do trabalho marítimo – marinheiros da navegação de longa distância, de pequenos navios de cabotagem no comércio intercolonial, escravos fugidos, marujos desertores brancos e negros – assumiram o centro do palco. No mar ou em terra, homens e mulheres sem senhores desempenharam um papel vital, espalhando rumores, reportando notícias e atuando como correia de transmissão de movimentos antiescravistas e, finalmente, da revolução republicana em curso na Europa.
A Revolução do Haiti tornou-se lendária não só porque foi a primeira experiência de liberdade coletiva e de construção de uma nação por ex-escravizados que retiraram à força seus senhores de cena, mas também pelo que representou como possibilidade na imaginação de escravos e senhores espalhados pelo mundo ocidental onde a escravidão era a base da acumulação de riquezas. A crença na determinação histórica, fruto da autocondescendência pela suposta descoberta de modelos explicativos eficazes, encontra nesta encruzilhada do Ocidente um incômodo para os historiadores mais seguros de suas opções teóricas. O passado torna-se sempre mais complexo quando é considerado da perspectiva de seus agentes.
Referências
ANDRADE, Everaldo de Oliveira. Haiti, dois séculos de história. São Paulo: Alameda, 2019.
FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana e a Revolução Haitiana. Almanack, n. 3, p.37-53, jun. 2012.
FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana na época da Revolução Haitiana. In: CUNHA, Olívia Maria Gomes da.
Outras ilhas: espaços, temporalidades e transformações em Cuba. Rio de Janeiro: Aeropolano/FAPERJ, 2010. p. 37-64.
GRONDIN, Marcelo. Haiti. Col. Tudo é História. São Paulo: Brasiliense, 1985.
JAMES, Cyril Lionel Robert [1938]. Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos. São Paulo: Boitempo, 2000.
REDIKER, Marcus. O navio negreiro: uma história humana. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
REDIKER, Marcus; LINEBAUGH, Peter. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
SCOTT, Julius S. The Common Wind: Afro- American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Londres; Nova York: Verso, 2018.
Notas
- Autor de A hidra de muitas cabeças: marinheiros, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário (em parceria com Peter Linebaugh) (2008) e O navio negreiro: uma história humana (2011).
- Exceções são os livros de Grondin (1985); de Andrade (2019) e, é claro, a tradução muito tardia de James (2000), editada pela primeira vez em 1938.
- O impacto da Revolução do Haiti em Cuba pode ser conhecido pelo leitor brasileiro com mais detalhes pelos trabalhos já traduzidos de Ada Ferrer (2010 e 2012).
Jaime Rodrigues – Professor da Universidade Federal de São Paulo / Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas / Departamento de História, Guarulhos/SP – Brasil. E-mail: [email protected].
SCOTT, Julius S. The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Londres; Nova York: Verso, 2018. 246p. Resenha de: RODRIGUES, Jaime. Uma encruzilhada do Ocidente: o Caribe setecentista como espaço histórico Topoi. Rio de Janeiro, v.22, n.46, jan./abr. 2021. Acessar publicação original [IF].
A renovação da Antiguidade pagã – WARBURG (Topoi)
 Aby Warburg. Retrato-montagem de “Let’s Talk about Aby Warburg / youtube.com
Aby Warburg. Retrato-montagem de “Let’s Talk about Aby Warburg / youtube.com
WARBURG, Aby. A renovação da Antiguidade pagã: contribuições científico-culturais para a história do Renascimento europeu. Tradução de Markus Hediger, Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. Resenha de: FERNANDES, Cássio. O legado antigo entre transferências e migrações. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.
Fora do restrito círculo de estudiosos da arte e da cultura do Renascimento, Aby Warburg (1866-1929), ao longo do século XX, ficou mais conhecido como criador de uma biblioteca pessoal transformada em instituto de pesquisa do que propriamente pelo teor de seus escritos. Por certo, sua biblioteca, sediada originalmente em Hamburgo e transferida para Londres depois da ascensão nazista na Alemanha, simbolizou o interesse que percorreu seu inteiro trajeto de estudioso. O Instituto Warburg para a Ciência da Cultura, ligado à Universidade de Londres, reúne um vasto material sobre a vida póstuma da Antiguidade, ou seja, a influência da cultura antiga sobre os séculos posteriores e seu papel na formação da Europa moderna. O tema de sua biblioteca paraleliza-se com o tema de sua obra.
Porém, a obra de Warburg não se constituiu como um corpus organizado em forma de livros ou de conjuntos de textos sistematizados pelo próprio autor. Ao contrário, Warburg jamais escreveu um livro, jamais obteve uma cátedra acadêmica, jamais tratou de delimitar de próprio punho o que desejava fosse publicado do vasto material composto por escritos curtos, conferências, cartas ou cursos ministrados como convidado na Universidade de Hamburgo. Os livros que se constituíram dos escritos de Warburg foram produto do interesse e da sistematização de outrem. Ele próprio editou apenas de modo fragmentário parte de sua produção textual, em revistas científicas, em publicações da própria Biblioteca Warburg ou como pequenos volumes separados. Mesmo assim, grande parte de seus escritos permaneceu inédita até o final de sua vida.
Os escritos de Warburg conheceram uma primeira sistematização, produto de um projeto editorial, no início da década de 1930, pelo esforço de Gertrud Bing, que, ao lado de Fritz Saxl, dirigia a biblioteca ainda em Hamburgo. Ambos haviam trabalhado ao lado de Warburg e também durante o interregno de sua ausência, entre 1918 e 1923, em que passou em tratamento na clínica psiquiátrica de Kreuzlingen, na Suíça. Do trabalho de organização de Gertrud Bing surgiu em 1932, pela editora alemã Teubner, a Gesammelte Schriften, que deveria constituir apenas a primeira parte do projeto de edição do legado textual de Warburg. Esse projeto, porém, delineado brevemente por Fritz Saxl na edição original, jamais seria levado a cabo. O livro de 1932 tornou-se, ao longo do século XX, a edição canônica dos escritos de Aby Warburg, sendo desde então reimpresso em língua alemã ou traduzido para outros idiomas. Esse livro ganha, em 2013, sua primeira edição brasileira, pela Editora Contraponto, do Rio de Janeiro, sob o título A renovação da Antiguidade Pagã: contribuições científico-culturais para a história do Renascimento europeu, com tradução de Markus Hediger. Antes disso, o que se conhecia de Warburg em língua portuguesa era apenas a sua tese de 1893, publicada em Portugal, em 2012, O nascimento de Vênus e a Primavera de Sandro Botticelli, pela Editora KKYM, de Lisboa.
A edição brasileira do livro canônico de Warburg tem o mérito de trazer, além do prefácio da edição de 1932, de autoria de Gertrud Bing, também o prefácio da edição de estudos de 1998, assinado em conjunto por Horst Bredekamp e Michael Diers. O prefácio de 1998 nos ajuda a compreender o contexto de surgimento do livro de 1932, numa perspectiva da história da fortuna da obra de Warburg, bem como aponta alguns aspectos que determinaram a interrupção do projeto editorial de sua obra.
Aby Warburg provinha de uma família judia de banqueiros de Hamburgo. Após uma incursão juvenil no estudo da medicina, voltou seus interesses aos temas estéticos e culturais, ingressando na Universidade de Bonn em 1886. Em Bonn, assistiu às aulas do historiador da cultura Carl Justi e do estudioso do mito e das religiões gregas antigas Hermann Usener, concentrando-se, já nos primeiros anos de estudo, na ideia de corrigir, sob um fundamento histórico-cultural, a concepção de Winckelmann a respeito da serenidade olímpica da Antiguidade. Esse ideal, formulado na juventude, transformar-se-ia numa espécie de obsessão, que, em certo modo, o acompanharia até o final de suas forças. Uma primeira viagem a Florença, em 1888, possibilita-lhe o encontro com o historiador da arte August Schmarsow, que, naquele momento, tentava formar, na cidade dos Medici, um instituto alemão de história da arte. Warburg permance em Florença por seis meses. Poucos anos depois, Schmarsow veria criado o Kunsthistorisches Institut in Florenz. De Florença, Warburg sairia com a ideia da futura tese, defendida não em Bonn, mas em Estrasburgo, sob orientação de Hubert Janitschek, estudioso do Renascimento, organizador da edição do De pictura de Leon Battista Alberti. A tese de Warburg, editada em 1893, trataria das pinturas mitológicas de Sandro Botticelli, na perspectiva da leitura, por parte do humanismo florentino do ambiente de Lorenzo de’ Medici, da tradição homérica pela via da transmutação latina realizada por Ovídio. Era uma compreensão do diálogo entre palavra e imagem no seio do humanismo florentino dos anos 1480, somada a uma perspectiva histórico-artística que perseguia a relação entre artista, comitente e conselheiro erudito. Warburg defendia, na tese, que as pinturas de Botticelli, O nascimento de Vênus e a Primavera, surgiram da encomenda de Lorenzo de’ Medici e sob a base iconográfica formulada pelo literato e professor de Ovídio na Academia Platônica de Florença, Angelo Poliziano. Poliziano, então, seria o mediador da relação entre Botticelli e Ovídio nas pinturas, que teriam sido executadas justamente para ornar o salão de debates da referida academia. A tese de Warburg aparece como primeiro capítulo em A renovação da Antiguidade pagã.
Na tese sobre Botticelli, Aby Warburg apresentava já o interesse pelo processo constitutivo das obras de arte e, ao mesmo tempo, sua disposição de seguir o caminho das transmissões do legado antigo no limiar da era moderna. E tudo isso é realizado num estudo de caso, analisando dois quadros para compreender, de modo individualizado, um problema histórico que certamente não se apresentava isoladamente, mas, ao contrário, indicava um edifício maior. Decerto, seu aprendizado em Bonn, com Carl Justi, teria contribuído para a elaboração de uma perspectiva microscópica. Justi havia aprendido com seu antecessor e mestre, Anton Springer (1825-1891), como abordar amplos problemas históricos focados em personagens individuais. Springer é o criador de um gênero historiográfico, muito empregado no âmbito dos estudos culturais e artísticos, que ficou conhecido como Monographie. Carl Justi transformou-se no mestre do gênero monográfico, autor de monografias sobre Michelangelo, Velazquez e Winckelmann.
Mas Warburg estivera também em Estrasburgo e, sob orientação de Janitschek, autor do livro Die Gesellschaft der Renaissance und die Kunst in Italien (A sociedade do Renascimento e a arte na Itália), aproximara-se da perspectiva da história social da arte. Esse aprendizado estava presente na tese de 1893, no movimento de ampliação da interpretação da arte florentina do Quattrocento do âmbito propriamente do artista em direção às etapas do processo criativo, que incluía, em primeira escala, as figuras do comitente e do idealizador erudito. Era um modo muito concreto de compreender a arte no âmbito da cultura do Renascimento.
O termo cultura do Renascimento, entretanto, remetia Warburg a um estudioso cujo nome é já uma referência ao tema e de quem Warburg afirmaria, logo depois, ser um seu continuador. Tratava-se de Jacob Burckhardt, a quem Warburg enviou a tese sobre Botticelli e recebeu de volta uma carta com as seguintes palavras: “com o seu escrito o senhor fez cumprir um passo adiante no conhecimento do medium social, poético e humanístico no qual Sandro [Botticelli] vivia e pintava”.
Burckhardt concedera a Warburg, de fato, o tema da cultura do Renascimento sob uma perspectiva de movimento e inter-relações culturais que o estudioso de Hamburgo aprofundará ao longo de seus estudos. O livro de Warburg é organizado em seções que, por sua vez, são compostas por textos de várias fases de sua vida, revelando que o autor lidou com alguns temas mais gerais, revisitando-os ao longo de sua trajetória. Algumas dessas seções temáticas são inteiramente ligadas a caminhos trilhados por Jacob Burckhardt. O mais claro exemplo é a primeira seção, “A Antiguidade na cultura burguesa florentina”, da qual faz parte a tese sobre Botticelli, seção facilmente referível ao centro do estudo de Burckhardt contido em seu livro mais conhecido, A cultura do Renascimento na Itália, de 1860. Além disso, é importante citar o texto warburguiano de 1902, “A Arte do retrato e a burguesia florentina”, que se anuncia, já na “Nota preliminar”, como continuação ao livro de Burckhardt sobre o tema, recentemente editado no Brasil: O retrato na pintura italiana do Renascimento. Warburg se utiliza de um único afresco, pintado por Domenico Ghirlandaio na Capela Sassetti, na igreja florentina de Santa Trinità, para compreender o problema da relação entre cristianismo medieval e paganismo antigo na Florença da segunda metade do século XV. A abordagem de Warburg colocava, de novo, no centro a relação entre comitente e artista, nesse caso, entre o retratista, Ghirlandaio, e o retratado, Francesco Sassetti, que representa o figura do burguês laico e culto do primeiro Renascimento florentino. Sassetti é o banqueiro, assolado cotidianamente pelo pecado da usura, que manda pintar sua capela fúnebre em homenagem a São Francisco, santo que simboliza o despojamento dos bens materiais e exalta a pobreza como redenção.
Entretanto, seria interessante nos voltarmos a outras duas seções do livro de Warburg, com o intuito de compreender o quanto foi-lhe importante o ensinamento de Burckhardt. A primeira delas intitulou-se “O intercâmbio entre as culturas florentina e flamenga”. Dois acontecimentos editoriais marcaram o encontro de Warburg com o tema das relações culturais entre Florença e Flandres no Quattrocento. O primeiro foi a edição póstuma de parte dos últimos escritos de Burckhardt sobre a arte italiana do Renascimento, em 1898, as Beiträg zur Kunstgeschichte von Italien (Contribuições à história da arte na Itália), que conteve três ensaios “O retrato na pintura”, “O retábulo de altar” e “Os colecionadores”. Uma das linhas interpretativas que atravessavam esses textos de Burckhardt era a importância da pintura flamenga para a formação do gosto artístico de uma classe de mercadores florentinos encomendantes das obras artes e, consequentemente, seu papel da execução da pintura em Florença. O outro acontecimento editorial importante para Warburg, nesse momento, foi o aparecimento, em 1888, do livro de Eugène Müntz sobre as coleções dos Medici no século XV, Les collections des Médicis au quinzième siècle, que também tinham sido de grande valia para os citados estudos de Burckhardt. O estudo do inventário dos Medici permitia compreender um progressivo interesse, em Florença, pela pintura de cavalete, sobre tela ou sobre madeira, em comparação com a tradicional pintura a fresco. Com esse processo, era possível perceber a importância da arte flamenga no ambiente dos Medici, e não apenas do ponto de vista da pintura, mas também da tapeçaria. A partir do livro de Müntz, era possível concluir que os flamengos tinham condicionado o desenvolvimento do primeiro colecionismo italiano, em especial, pela capacidade realística da pintura a óleo desenvolvida em Flandres, mas também pela facilidade de circulação dos tecidos, dos tapetes e dos quadros flamengos de pequenas dimensões, fato que antecede a circulação dos próprios artistas nórdicos na Itália. Desse modo, os inventários das coleções dos Medici confirmavam a importância da ligação entre a tarefa ditada pelo colecionador e o conteúdo de uma obra. Warburg, então, dedica-se a ampliar e aprofundar as indicações a esse respeito, presentes nos textos de Burckhardt, com estudos de casos entre os anos de 1899 e 1907. Toda a seção do livro trata desse tema, refletindo, uma vez mais, o interesse de Warburg em compreender as imagens como símbolos de circulações, de migrações de homens e de ideias, seu esforço em perfazer os caminhos das conexões, dos encontros entre elementos distintos, sua determinação em entender a fronteira como o próprio terreno da história. Além disso, encantava-lhe o fascínio do mundo refinado toscano pelos meios de expressar o vivo, trazidos à luz pela arte flamenga. Para Warburg, essa pintura é um exemplo emblemático da compreensão espontânea demonstrada pela burguesia toscana em direção à arte nórdica, resultado da mescla de elementos humanos que se atraem por seu contrário.
A outra seção que demonstra quão perene foi o influxo de Burckhardt sobre a obra de Warburg é aquela relativa ao tema da “Antiguidade e o presente na vida festiva do Renascimento”. Burckhardt tinha intitulado a parte 5 de A cultura do Renascimento na Itália de “A sociabilidade e as festividades”, entrelaçando o esplendor artístico nas cidades da Itália renascentista às festividades em sua formulação mais elevada, como um movimento superior da vida do povo, momento no qual seus ideais religiosos, morais e poéticos assumem uma forma visível. Warburg, por sua vez, buscou conceber a expressão humana na obra de arte figurativa como imagem da vida prática em movimento, tanto para o caso do culto religioso, quanto para aquele do drama da cultura por meio da festividade ou do palco cênico. A festa era, portanto, não apenas o momento de apresentação da expressividade artística, com todo o aparato que compõe a arquitetura decorada, mas sobretudo o palco da encenação da existência, quase uma transição da vida para a arte. Os cortejos e as encenações festivas eram, para Warburg, ocasiões para contemplar a vida social, bem como para interpretar o aparato artístico de que eram compostos. Esse aparato, em sua concretude, revelava-se, então, documento do significado histórico da Antiguidade clássica para os homens dos séculos XV e XVI na Itália, bem como no mundo nórdico, indicando ainda as ligações entre esses dois universos culturais.
Exatamente a busca de diálogo entre norte e sul dos Alpes havia movido Warburg a idealizar sua biblioteca particular. Sua intenção era reunir um acervo de livros e documentos que constituíssem as malhas de ligação entre o Sul e o Norte da Europa, concentrando num único lugar a livre consulta de publicações fundamentais sobre esse contato cultural. Ele, então, escolheu um tema que pudesse amalgamar sua proposta de seguir o diálogo e as relações transalpinas, sem deixá-los dispersar-se no infinito. Escolheu o tema da influência da Antiguidade, com o qual desenvolvia já à época seu trabalho de pesquisa.
Corria o ano de 1902 e, numa conversa em família, Aby Warburg adquiriu, por parte de seu pai, com o apoio de seu irmão mais velho, Max, a quantia de 1.700 marcos para instalar sua biblioteca no edifício onde permanecera até 1933, em Hamburgo. Era o início da Biblioteca Warburg para a Ciência da Cultura, transformada depois em instituto de pesquisa. A biblioteca nascia, assim, como fruto de um problema histórico de alta relevância, e talvez ainda hoje não explorado a contento: o problema das transposições históricas do mundo mediterrânico em direção è Europa nórdica, um tema que seguia, no início do século XX, a contrapelo dos caminhos políticos da Europa à beira dos conflitos nacionais. Enquanto Warburg buscava os contatos culturais, as transposições, as circulações de modelos literários e imagéticos da Antiguidade aos tempos modernos, do Sul em direção ao Norte, venciam, na Europa das primeiras décadas do Novecentos, as ideias de identidades nacionais, baseadas na noção de fronteiras naturais na formações dos povos europeus. Assim, ao final da Primeira Guerra, Warburg sucumbiu a uma forte crise psiquiátrica e foi internado numa clínica na Suíça, onde permaneceu até 1923.
No que se refere ao livro em questão, é importante salientar a intensificação dos estudos de Warburg em temas históricos que permitem um aprofundamento das inter-relações e transferências culturais entre o mundo mediterrânico e a Europa nórdica. As demais seções do livro apontam nessa direção, indo, nesse sentido, muito além da perspectiva de Burckhardt.
Em primeiro lugar, Warburg aborda o tema da Antiguidade italiana na Alemanha a partir da obra de Dürer, estudando, em 1905, a circulação de gravuras provenientes do ambiente de Andrea Mantegna no âmbito do artista de Nüremberg. Interessa a Warburg compreender, além propriamente da transposição da arte italiana ao mundo germânico, também a face bifrontal da influência da doutrina clássica no Renascimento, tanto ao norte, quanto ao sul dos Alpes. Warburg queria demonstrar que a Antiguidade chegou a Dürer, por intermédio da Itália, na forma de estímulos dionisíacos, mas também com a sobriedade apolínea.
Em 1908, estudando desenhos, gravuras e calendários dos séculos XV e XVI, provenientes da Itália e do mundo germânico, Warburg aponta para o momento em que ocorre uma mudança estilística nessas imagens pela entrada em cena das influências da escultura clássica sobre as representações tardo-medievais de imagens de deuses oriundos da Antiguidade tardia. Há, portanto, para o estudioso de Hamburgo, uma refiguração de ilustrações medievais provocada pela redescoberta renascentista da arte da Antiguidade. Para isso, ele realizava também, no estudo de 1908, as primeiras incursões no tema da astrologia.
De fato, Warburg dedica-se de modo sistemático aos estudos astrológicos a partir da leitura, realizada em 1907, do livro de Franz Boll (1867-1924). Filólogo clássico e professor na Universidade de Heidelberg, eminente especialista em história da astrologia, Franz Boll havia publicado, em 1903, Sphaera. Neue griechische Texte und untersuchungen zur geschichte der Sternbilder. Nesse livro, Boll, mediante fragmentos de textos e referências indiretas, conseguiu restituir um dos mais influentes tratados sobre o céu da Antiguidade Clássica, a Sphaera barbarica, do babilônico Teucro (séc. I a.C.). Partindo, então, do tratado de Teucro, Franz Boll empreende uma reconstrução detalhada da migração da astrologia e da astronomia grega por meio de suas transmissões no Oriente e na Idade Média latina. O texto de Teucro mostrava já, por sua vez, a contaminação e o enriquecimento da sphaera clássica com novos asterismos orientais, ou seja, o catálogo das estrelas fixas de Arato (séc. III a.C.). Na época helenística, esse céu de poucas constelações foi preenchido com novas figuras provenientes da tradição egípcia, aramaica e babilônica. Esse catálogo de constelações, mescla de elementos gregos e orientais, teve grande fortuna e, no curso do tempo, foi enriquecido com ornamentos astrológicos indianos e persas. Portanto, o tema do livro de Franz Boll é a história da compilação de Teucro, e de suas migrações na Antiguidade e na Idade Média, entre diversas culturas no Oriente e no Ocidente.
Warburg, por seu turno, havia começado a estudar intensamente a história da mitografia e da astrologia, focalizando a descrição das divindades pagãs nos textos medievais e a continuidade do imaginário astrológico da antiguidade nos tempos modernos. O livro de Boll despertou-lhe o interesse pelo estudo dos textos astrológicos indianos, o que seria fundamental para sua interpretação da iconografia das pinturas do Palácio Schifanoia de Ferrara. Em 1909, imerso no estudo sobre astrologia, Warburg entra em contato epistolar com Franz Boll. Em 1912, Aby Warburg apresenta, no X Congresso Internazionale di Storia dell’Arte di Roma, uma conferência em que decifra os afrescos do Palácio Schifanoia a partir da história da tradição astrológica. A conferência de 1912 representaria também o momento de apresentação para um público internacional de sua metodologia histórico-artística, onde a abordagem iconológica figurava em gênese. Na conferência, que na edição brasileira apresenta o título “A arte italiana e a astrologia internacional no Palazzo Schifanoia de Ferrara”, Aby Warburg encontrava nos afrescos a confirmação de sua hipótese de trabalho, qual seja, a transmissão ao Renascimento italiano de uma tradição iconográfica grega antiga, através da mediação indiana e árabe. Era essa uma forma de sobrevivência dos deuses pagãos que passava por um grande percurso migratório até tocar o território da Península Itálica, marcando a importância da tradição antiga para a formação da Europa moderna.
Com a conferência de 1912, Warburg observava o quanto o classicismo grego estava perpassado por elementos orientais, oriundos do Egito, da Pérsia, da Mesopotâmia. Portanto, sua noção de “antigo” tinha uma forte dose do primitivismo a minar o equilíbrio olímpico das divindades gregas. Paralelamente, sua noção de Renascimento ampliava-se ainda mais, ultrapassando em muito as relações entre arte nórdica e primeiro Renascimento na Itália, que até 1907 tinha dado um sentido a seus estudos histórico-artísticos. Com a conferência de 1912, Warburg distanciava-se de Burckhardt, tanto na concepção da Antiguidade grega, quanto na noção de Renascimento. Com o estudo sobre os afrescos astrológicos do Palácio Schifanoia de Ferrara, o Renascimento de Warburg absorve o vasto universo das interpretações árabes e indianas do mundo grego antigo, compreendendo, assim, um caminho migratório muito amplo a conectar o Renascimento italiano à Antiguidade grega.
O texto de 1912 é, então, emblemático na obra de Warburg por indicar um rompimento com todas as fronteiras que os estudiosos da arte e da cultura do Renascimento tinham até então estabelecido, dando um caráter internacionalista a sua interpretação. Nem mesmo as históricas fronteiras entre Ocidente e Oriente permaneceriam de pé depois de seu estudo apresentado em Roma. É curioso que essa abordagem tenha permanecido fora do centro nefrálgico dos estudos histórico-artísticos durante o século XX.
Assim, o livro canônico de Warburg, agora editado em língua portuguesa, cumpria em parte a tarefa de apresentar às gerações futuras o autor formado em ambientes intelectuais que, no final do Oitocentos, comunicavam a história social da arte com a história da cultura, a história das religiões e a nascente antropologia. Um autor que, de fato, jamais teve a intenção de dar vida a uma disciplina específica, mas, ao contrário, percorreu, movendo-se por resultados que a psicologia, a antropologia, a linguística da época lhe ofereciam, a evolução dos mecanismos fundamentais da expressão humana, que tinham conduzido determinadas culturas do antropomorfismo ao pensamento simbólico. Warburg, na verdade, procura demonstrar que o comportamento humano é sempre mediado pelo uso de símbolos. Com base nisso, sua busca não foi a de mover os símbolos para captar uma presumível verdade histórica neles submersa. Ao contrário, o movimento intelectual presente na obra de Warburg consiste em interrogar os símbolos sobre o que eles comunicam, localizando sua indagação no intervalo entre o páthos e o símbolo propriamente. Assim, Aby Warburg concentrou-se no intervalo pré-linguístico da experiência humana, situado entre a comoção causada pelos fundamentais sentimentos do homem, tais como a dor, a morte, o amor, e o impulso de representá-los com imagens, transformando-os em símbolos.
Desse modo, seu estudo direcionou-se ao mundo das formas simbólicas (então o mito, a arte, a linguagem, a ciência), como as tinha definido seu amigo e colaborador dos anos finais em Hamburgo, Ernst Cassirer, autor do livro dedicado a Warburg, A filosofia das formas simbólicas. No livro, Cassirer compreende as formas simbólicas não como imitações do real, e sim como órgãos da realidade, ou seja, como modo de converter o real em objeto de captação intelectual, tornando-o visível para nós.
Porém, a fase de maior colaboração intelectual entre os dois infelizmente não ficara registrado em A renovação da Antiguidade pagã. Exatamente a fase final de seu trabalho, após a recuperação da crise psicológica e o retorno, em 1923, às atividades na biblioteca de Hamburgo. Cassirer tinha chegado à cidade, para ensinar na recém-fundada universidade, em 1920, ao lado de Erwin Panofsky e do jovem Edgar Wind, este último estudante de doutorado. Essa fase da atividade de Warburg diz respeito a sua conferência sobre “O ritual da serpente”, ao projeto inacabado do “Atlas Mnemosyne”, à conferência autobiográfica “De arsenal a laboratório”, ao texto sobre Burckhardt e Nietzsche, aos cursos ministrados como convidado na Universidade de Hamburgo sobre Burckhardt e sobre “O método da ciência da cultura”. Também esteve fora do livro de 1932, traduzido no Brasil em 2013, uma série de textos de Warburg anteriores ao internamento na Suíça. A maior parte desse volumoso corpus permanece inédita em português, e, na verdade, só se tornou pública no início dos anos 2000, sobretudo na Itália e na Alemanha. Vale citar aqui o fundamental trabalho a partir dos manuscritos realizado pelo estudioso italiano, Maurizio Ghelardi, que traduziu diretamente ao italiano e publicou em dois volumes, em 2004 e 2008, as Opere de Aby Warburg. O trabalho de Maurizio Ghelardi traz ainda o mérito de editar a inédita correspondência entre Warburg e Cassirer, além da publicação em conjunto na Alemanha (traduzida na França) dos últimos escritos de Warburg, de algumas de suas cartas e da introdução ao Atlas Mnemosyne. Ghelardi é responsável, ainda, pela edição italiana dos estudos de Warburg sobre os índios pueblos do Novo México, bem como do próprio Atlas Mnemosyne. Este último, organizado a partir da edição alemã, que, sob os cuidados de Martin Warnke, é uma nova seleção dos escritos do estudioso de Hamburgo. É importante citar, ainda, a edição alemã de 2010, que mescla textos presentes no livro de 1932 com outros até então inéditos em alemão. Não citaremos aqui as edições de comentadores da obra de Warburg, surgidas sobretudo desde os anos 2000, trazendo importantes releituras de sua produção.
Tudo isso decerto não tira o mérito da edição recentemente traduzida no Brasil. Porém, revela a importância da obra de Warburg para o estudo das imagens, seja no âmbito da história da arte e da cultura, seja no campo da pesquisa antropológica ou da teoria da imagem. Oxalá a edição brasileira de 2013 sirva de incentivo para novas traduções e edições de escritos de Aby Warburg no Brasil.
Cássio Fernandes – Professor adjunto do Departamento de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo. E-mail: [email protected].
A imagem sobrevivente – DIDI-HUBERMAN (Topoi)
DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Tradução de Vera Ribeiro, Rio de Janeiro: Contraponto; Museu de Arte do Rio, 2013. Resenha de: Di GIOVANNI, Julia Ruiz. Histórias de fantasmas para gente grande. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.
Uma ciência da cultura
Georges Didi-Huberman, filósofo, historiador da arte e professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales, é um autor de destaque: tem mais de trinta trabalhos publicados na França, muitos dos quais foram e continuam sendo traduzidos em diferentes países. Tendo a história da arte e a teoria das imagens como temas principais, seus trabalhos vão do Renascimento aos problemas da arte contemporânea, e têm sido recebidos com interesse renovado entre historiadores e antropólogos, mas também no campo crescente da curadoria de arte. É também como curador que Didi-Huberman vem ao Brasil, em 2013, na ocasião do lançamento de A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg, trabalho publicado em versão original na França há mais de dez anos. Em conjunto com o lançamento do livro foi realizada, como uma das primeiras atividades a ocupar o espaço do recém-inaugurado Museu de Arte do Rio (MAR), a exposição Atlas suite. A mostra exibiu fotografias cujo objeto é outra exposição também curada por Didi-Huberman, esta muito maior, realizada em Hamburgo, em 2011: Atlas: como carregar o mundo nas costas, produzida originalmente em 2010 no Museu Reina Sofia, em Madri. Segundo a sinopse do MAR, tratava-se não de quadros, mas de “fantasmas” de uma exposição espalhados pelo chão do novo Museu.
Atlas, a exposição original de 2010, era um desdobramento dos estudos de Didi-Huberman sobre Aby Warburg (1866-1929), historiador alemão a que se dedica o extenso trabalho de A imagem sobrevivente: “Warburg é nossa obsessão, está para história da arte como um fantasma não redimido – um dibuk – para a casa que habitamos” (p. 27). Os modos de pensar de Warburg, tal como inspiram Didi-Huberman em seu percurso de produção teórica e agora também curatorial, recebem no livro um tratamento aprofundado, sendo apresentados menos por uma forma argumentativa linear do que por meio de séries de aproximações entre textos, imagens, referências teóricas e objetos de diversas naturezas. Demonstrando influências explícitas e implícitas nos estudos deste “antropólogo das imagens” – Burckhardt e Nietzsche, Lucien Lévy-Bruhl, E. Tylor, Darwin, entre outros – e propondo relações intensas entre sua abordagem e as proposições de contemporâneos – Sigmund Freud e Walter Benjamin, fundamentalmente -, Didi-Huberman busca destacar elementos para uma apreensão de Warburg que vai muito além da história da arte antiga e do Renascimento a que este em princípio se dedicara. Para o autor, trata-se fundamentalmente de reconhecer em Warburg modelos temporais, culturais e psíquicos que abrem a história da arte a “problemas fundamentais”, em grande medida “impensados” da disciplina, não por fornecer-lhe uma lei geral alternativa, mas por colocar as singularidades das imagens para funcionar na descrição das relações entre modos de figuração e modos de agir, de saber ou de crer de uma sociedade: “passamos de uma história da arte para uma ciência da cultura” (p. 41).
Uma compreensão expandida da obra de Warburg como teoria da cultura tem motivado interesse crescente em suas ideias e inspirado diversas extensões de seus conceitos e procedimentos metodológicos, construídos no contexto de estudos da arte renascentista e barroca, para as análises da sociedade industrial e contemporânea. José Emilio Burucúa já indicou a importância desse entusiasmo por um sistema warburguiano percebido como capaz de englobar os conflitos do tempo presente, identificando na última década certa tendência desses interesses a se converterem em uma moda intelectual ou mania acadêmica na América Latina.1 A publicação do livro de Didi-Huberman, embora possa ser lida superficialmente como reforço dessas extrapolações tão interessantes quanto arriscadas, propõe ao leitor brasileiro a possibilidade de uma confrontação mais aprofundada com a densidade do pensamento de Warburg. O estudo detido de Didi-Huberman – organizado em três grandes segmentos: a imagem-fantasma, a imagem-páthos e a imagem-sintoma – oferece uma série de elementos a serem problematizados no percurso (que tanto nos interessa) de formulação de teorizações mais gerais sobre a cultura que tenham a arte e as imagens como foco e como perspectiva a partir da qual pensar as relações sociais e sua historicidade.
A indagação sobre as estruturas e dinâmicas dos regimes visuais que Warburg inspira parece acenar com a possibilidade de acedermos, por meio da complexidade das imagens, ao “olho do furacão” dos processos sociais, abarcar os lapsos e esquecimentos, recuperar tudo o que parece escapar a modos verbais e lineares da escritura da história. A obsessão pelas imagens está ligada, como afirma Stéphane Huchet, a um fascínio em torno do “estrato da experiência e da intuição anterior às formalizações científicas” e de uma ambição de incorporação dessa dimensão ao saber teórico.2 Essa ambição intelectual, se considerada apenas a partir de Warburg, já apresenta manifestações múltiplas o suficiente para ser irredutível a qualquer moda passageira. Mas admitindo, como propõe Huchet, estarmos na presença de “certa atmosfera warburguiana”, é relevante deixar-nos guiar pela leitura de Warburg construída por Didi-Huberman: não para reproduzi-la impensadamente, mas sobretudo para buscar entender quais são as particularidades da imagem que nos prometem ver o que fontes de outra natureza não mostram. De que modo, segundo ele, na ciência warburguiana da cultura, as imagens se tornam não apenas objetos do pensamento, mas elementos com os quais pensar o passado, o presente e o futuro?
Sobrevivência e fórmula gestual
Segundo Didi-Huberman, Warburg foi um pesquisador dotado de “maravilhosa lucidez quanto à história transindividual de seus objetos de estudo e paixão: as imagens” (p. 423-424). A primeira chave de apreensão dessa sensibilidade é um conceito tão fundamental quanto, dirá Didi-Huberman, mal interpretado: a sobrevivência ou Nachleben. Antes de mais nada, o modo de análise criado por Warburg nos coloca diante da imagem como algo que não se define apenas por um conjunto de coordenadas positivas (como autor, data, técnica, iconografia etc.). Uma composição visual é uma sedimentação de uma multiplicidade de movimentos históricos, antropológicos e psicológicos que começam e terminam fora dela. Não é um corte em uma linha do tempo, mas um “nó” de temporalidades: “ficamos diante da imagem como diante de um tempo complexo” (p. 34; destaque do autor). Onde a história da arte precedente explicava o “retrato” como gênero das belas-artes surgido no Renascimento graças ao triunfo do humanismo, do indivíduo e de novas técnicas miméticas, Warburg encontrará uma forma em que se entrelaçam marcas de diferentes tempos: práticas pagãs antigas, formas litúrgicas medievais cristãs e problemas artísticos e intelectuais do século XV italiano. Nessa perspectiva, a obra de arte não se deixa resolver tão facilmente pela história, apresenta-se antes como um “ponto de encontro dinâmico” (p. 41) de historicidades heterogêneas e sobredeterminações: relações com as múltiplas dimensões da vida, com os modos de agir, pensar ou crer, sem os quais toda imagem, segundo Warburg, perderia “seu próprio sangue” (p. 41). Haveria assim uma dinâmica interna das imagens, um tempo que lhes é próprio: denso, porque formado de sobreposições e misturas entre instâncias históricas particulares. A sobrevivência, do alemão Nachleben, é o nome deste tempo, afirma Didi-Huberman.
Inspirada inicialmente pelo uso do termo por Edward Tylor (survival) para descrever os vestígios de um estado social já desaparecido, que resiste sob formas deslocadas – como o arco e a flecha de guerras antigas sobrevivem como brinquedos infantis -, a noção warburguiana designa a intrusão de formas anacrônicas que obriga a uma visão complexa do tempo histórico. Embora evoque um horizonte epistemológico evolucionista, a forma sobrevivente de Warburg não é aquela que vence suas concorrentes em uma corrida contra a morte, e sim a forma inapta que sobreviveu subterraneamente ao próprio desaparecimento para reemergir de modo inesperado em outro ponto da história. Ao introduzir o conceito de sobrevivência para discutir o Renascimento italiano, período a que estava remetida a invenção da história da arte como tal, Warburg lançava luz sobre o caráter fundamentalmente impuro desse renascimento, pois “cada período é tecido por seu próprio nó de antiguidades, anacronismos, presentes e propensões para o futuro” (p. 69). Isso equivalia, segundo Didi-Huberman, a comprar uma briga quanto ao estatuto do discurso histórico em geral (p. 60-66).
Inspirado por Burckhardt, como afirma Didi-Huberman, Warburg reconheceria essa complexidade da articulação temporal como uma articulação formal (p. 89). Na arte, a forma dos detalhes, o movimento dos adornos ou as nuances cromáticas são vestígios dos conflitos em ação no tempo, as formas são portanto vivas, portadoras de jogos de força em estado de latência. É nesse sentido que as imagens de que trata Didi-Huberman são “sobreviventes”: formas da sobrevida de tensões já mortas, disponíveis para assombrar as periodizações e causalidades definidas pela história. Warburg definiria a história das imagens que praticava como uma “história de fantasmas para gente grande” (p. 72), pois desvelava em sua temporalidade específica, híbrida, a palpitação de conflitos que, apesar de enterrados, pareciam nunca encontrar repouso.
Uma morfologia das imagens sensível a seu caráter de “nó” temporal jamais pode prescindir de registrar seu caráter dinâmico: “não há morfologia, ou análise das formas, sem uma dinâmica, ou análise das forças” (p. 90), afirma Didi-Huberman; “toda a problemática da sobrevivência passa, fenomenologicamente falando, por um problema de movimento orgânico” (p. 167). O segundo conceito central daquilo que o autor chama de “lucidez” warburguiana a respeito do caráter das imagens responderia a este problema: de que modo as formas dinâmicas do tempo sobrevivente se manifestam como movimentos dos corpos?
A questão conduziu o historiador a uma antropologia das formas do gesto intensificadas por sua recorrência em tempos históricos e modos de representação díspares, da Antiguidade ao século XX europeu, passando pelos hopis na América do Norte. Warburg reconheceu essas formas recorrentes como fórmulas, modos de operação da tragicidade do tempo. Chamou-as de Pathosformeln, ou fórmulas de páthos. O conflito não resolvido estaria contido em uma memória do gesto, em uma tensão corporal que se repete deslocada, transformada ou convertida em seu contrário, como as mênades pagãs que reaparecem nos anjos renascentistas. Graças a sua atenção às imagens, Warburg teria encontrado vínculos entre o problema do tempo histórico e o tempo psíquico nos corpos agitados por afetos. As contorções, inclinações e texturas da forma humana, sua força patética, fornecem a matéria das imagens fantasma. A pesquisa sobre as fórmulas primitivas ou sobreviventes do movimento corporal era um caminho para compreender o que esse “primitivo” ou “antigo” queria dizer no presente (p. 193).
Lições do olhar
Ao explorar os conceitos de sobrevivência e fórmula de páthos construídos por Warburg, Didi-Huberman desenvolve a que talvez seja a proposição central de A imagem sobrevivente: a complexidade das imagens tal como tratada por Warburg é de natureza “sintomal”. Do entrelaçamento entre o presente do páthos, o passado da sobrevivência e a imagem do corpo, ele dirá: “Que é afinal esse momento senão o do sintoma (…) no qual só permite pensar a psicanálise freudiana, contemporânea de Warburg?” (p. 229).
O sintoma freudiano é o modelo que Didi-Huberman utilizou para demonstrar a atualidade das tensões que o olhar de Warburg destacava nas imagens e extrapolar esse olhar, desenvolver como formulações mais gerais seus modelos temporais e semióticos. Como sintoma, segundo o autor, é que as imagens se tornam uma via de acesso aos processos invisíveis e formas paradoxais da cultura: a imagem é nesse sentido um retorno do conflito recalcado sob uma forma deslocada, uma “formação de compromisso”. A clínica da histeria teria fornecido ao próprio Warburg um modelo sintomatológico para interpretar as fórmulas expressivas e encontrar nas imagens a temporalidade latente dos traumas.
No entanto, ao contrário do médico que busca reduzir a mobilidade de corpos atravessados por crises a um quadro de regularidades, Warburg teria buscado preservar e incorporar em sua leitura da história da arte as descontinuidades, diferenças e incongruências entre manifestações das mesmas fórmulas. Segundo o autor, a epistemologia de Warburg é definida pelo procedimento de montagem. Na criação de Mnemosyne – o atlas aberto em que Warburg criava e recriava composições de imagens em busca de uma interpretação das fórmulas de páthos – e de sua própria biblioteca, Warburg teria antecipado a ideia de montagem de Walter Benjamin, que aproxima a construção cinematográfica contemporânea das operações de quebra e recomposição próprias dos processos mnemônicos (p. 419).
Didi-Huberman encontra assim “lições do olhar” ensinadas por Freud e Benjamin como chaves para a compreensão e o desdobramento de uma abordagem warburguiana das imagens em geral e, mais além, de todo objeto da cultura – como “tensão em ato” (p. 162). A leitura do movimento, a descrição da estrutura contraditória dos gestos e a dialética das relações entre imagens, apreendida por seu incessante deslocamento combinatório, por uma atitude interpretativa que recusa a se fechar: “Warburg havia compreendido que devia renunciar a fixar as imagens“, afirma o autor (p. 389).
Warburg sintoma
O sintoma como categoria crítica, dirá Didi-Huberman, e a montagem como operação investigativa e interpretativa seriam portanto definidores de um modo de estar diante das imagens que encontra atualmente novos desenvolvimentos, como ramos ressecados que inesperadamente se põem a brotar fora de estação (p. 428). Não é esse o tema warburguiano por excelência, o das coisas que rebentam fora de seu tempo “natural”? É também por meio da descrição freudiana da formação dos sintomas psíquicos que Didi-Huberman apresenta ao leitor o fundamento “anacrônico” desse olhar sobre a cultura: assim como uma lembrança recalcada só ganha dimensão de trauma a posteriori, na medida em que reemerge distorcida na forma do sintoma, as “fontes primitivas” da imagem só se constituem no processo de seu reaparecimento (p. 289).
Para Didi-Huberman, esse movimento estrutura a maneira warburguiana de perscrutar o antigo a partir de suas reconfigurações contemporâneas. A conferência de 1923 sobre o ritual da serpente, que Warburg apresenta no sanatório onde se encontrava internado em grave crise psicótica, é considerada por Didi-Huberman uma síntese epistemológica. A um só tempo uma regressão e uma invenção: no momento da crise, o retorno ao périplo passado – a viagem ao território hopi realizada trinta anos antes – possibilita a produção de um novo conhecimento, “que tirou do fato de estar em perigo os fundamentos de sua eficácia” (p. 318).
Como teórico e curador, Didi-Huberman não deixa de mimetizar os procedimentos que identifica em Warburg, buscando apresentar ideias e imagens em seu caráter estruturalmente dúbio e parcialmente inacessível, sujeitando-as de modo explícito a “deslocamentos” ou “desvios”. As formas de montagem caleidoscópica que apresenta em seus textos e nas exposições que tem organizado fornecem, hoje, provavelmente, o paradigma mais visível e persuasivo para a recepção dos trabalhos de Warburg – que se torna mais presente no Brasil com a publicação.
Parece pertinente dirigir a essas formas a pergunta que nos ensinam: a que responde, no presente, o emprego das figuras da sintomatologia e da montagem modernista na narrativa historiográfica ou antropológica? A aspiração por uma anticiência, que ambiciona dar a ver as instâncias obscuras ou recalcadas da história, não deixa de ser uma das fórmulas patéticas que habitam nossas práticas de pesquisa e modas intelectuais. Seria desejável nesse sentido interpretar os conflitos persistentes e novos compromissos que se manifestam no destaque que vem recebendo a obra de Warburg e nas proposições sobre essa obra feitas por Didi-Huberman. Nas aproximações sempre férteis entre história e antropologia, sob inspiração do próprio autor, devemos estar dispostos a ler tais proposições e seus modos de difusão como sintomas, observar atentamente sua forma e temporalidade.
Em grande medida, o Warburg que vemos surgir no livro de Didi-Huberman – fortemente freudiano e benjaminiano, deleuziano em algumas passagens – é, ele mesmo, uma imagem: fantasma, montagem e sintoma. O Warburg “pescador de pérolas” (p. 423), mestre dos procedimentos intelectuais que nos parecem indispensáveis para a decifração do tempo presente (este tempo em que as imagens se multiplicam tão vertiginosamente a ponto de não mais as vermos), não nos precede cronologicamente apenas, como uma forma original resolvida, transmitida por imitação. Ele se constitui no próprio processo de deslocamento graças ao qual (re)aparece ao nosso interesse, uma “origem que só se constitui no atraso de sua manifestação” (p. 289).
1 BURUCÚA, José Emilio. Repercussões de Aby Warburg na América Latina. Concinnitas, Rio de Janeiro, v. 2, n. 21, dez. 2012. Disponível em: <http://concinnitas.kinghost.net/texto.cfm?edicao=21&id=97>.
2 HUCHET, Stéphane. O historiador e o artista na mesa de (des)orientação. Alguns apontamentos numa certa atmosfera warburguiana. Revista Ciclos, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 3-18, set. 2013. Disponível em: <www.revistas.udesc.br/index.php/ciclos/issue/view/291/showToc>.
Julia Ruiz Di Giovanni – Doutora em antropologia social pela Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected].
A ditadura na tela: o cinema documentário e as memórias do regime militar brasileiro- DELLAMORE et. al. (Topoi)
DELLAMORE, Carolina; AMATO, Gabriel; BATISTA, Natalia. A ditadura na tela: o cinema documentário e as memórias do regime militar brasileiro. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2018. Resenha de: CARDOSO, Igor Barbosa. História cultural, linguagem fílmica e ditadura militar brasileira. Topoi v.21 n.43 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2020.
Há algumas décadas, os estudos culturais flexibilizaram uma tradição de estudos históricos a fim de refletir sobre as políticas de identidade que discutem a questão do sujeito a partir de conflitos sociais em que há afirmação ou negação de identidades étnicas, nacionais, etárias, de gênero, de classe e outras. A renovação dos estudos históricos impactou as análises fílmicas no sentido de superar o diagnóstico estrutural da produção cultural de massa para voltar o olhar às condições efetivas e específicas de produção e recepção da obra. O olhar histórico e sociológico tendo o cinema como fonte de pesquisa passou a privilegiar, quando muito, o nível narrativo-dramático, em detrimento dos componentes propriamente estéticos.
Sob a organização dos doutorandos Carolina Dellamore, Gabriel Amato e Natalia Batista, o livro A ditadura na tela procura equilibrar as análises oriundas dos estudos culturais, levando em consideração a linguagem cinematográfica, em uma articulação interdisciplinar. Logo na introdução (“A ditadura na tela: questões conceituais”) – escrita pelos organizadores -, três pressupostos orientam a curadoria: os filmes documentais são tratados como “trabalhos de recordação interessados na construção de identidades e de projetos políticos no tempo presente de sua produção” (p. 12); são previamente indexados de modo que pactuam com o espectador um “compromisso de exploração da realidade” (p. 13); e são resultados de uma conformação cultural atual que demanda narrativas memorialísticas. A partir desses pressupostos, os historiadores articulam – alguns com mais sucesso – elementos fílmicos e extrafílmicos para compreender os posicionamentos assumidos pelos diretores em seus trabalhos bem como a relação de suas obras com o público.
A ditadura na tela é fruto do projeto de extensão, de título homônimo, conduzido pelo Núcleo de História Oral da UFMG. Em parceria com equipamentos públicos de Belo Horizonte – Centro de Referência da Moda e Museu da Imagem e do Som (MIS) Cine Santa Tereza -, o projeto exibiu, entre 2014 e 2017, diversos documentários a respeito do período ditatorial brasileiro (1964-1985), seguidos de discussões fomentadas por pesquisadores convidados. O livro é constituído de duas partes. A primeira (“As batalhas de memória no cinema documentário sobre a ditadura”) é resultado da reunião de dez artigos oriundos dessas intervenções públicas. Em parte por isso, não é possível encontrar unicidade metodológica de análise. Os temas abordados também são diversos: a militância de mulheres, estudantes universitários e operários; a relação entre Estado, futebol e imprensa; na produção cultural, a literatura de temática lésbica de Cassandra Rios, o grupo inovador Dzi Croquettes, o movimento (musical) tropicalista e os silêncios sobre o cantor Wilson Simonal.
Juliana Ventura Fernandes analisa Repare bem (2012), documentário da cineasta portuguesa Maria de Medeiros. No artigo, alguns aspectos próprios da composição fílmica são abordados, tais como a construção cênica (locações quase sempre na casa das entrevistadas), a montagem (que faz coincidir a fala das entrevistadas com imagens documentais, reforçando o argumento apresentado) e, especialmente, a oralidade (considerando tanto os momentos de maior contundência do discurso, quanto os depoimentos mais fragmentários e fugidios, além dos silêncios e pausas). A análise da violência e da perseguição política pelas quais três gerações de mulheres foram submetidas, proposta de Medeiros, é compreendida por Fernandes no campo das estratégias estatais de construção de uma memória sobre a ditadura, uma vez que o documentário é fruto da iniciativa do projeto Marcas da Memória, que tem por finalidade construir alternativas à atuação dos órgãos oficiais de reparação – geralmente, de caráter pecuniário – ao fornecer material para o reconhecimento de experiências de violência durante a ditadura.
De modo relativamente semelhante, Gabriel Amato analisa Memória do movimento estudantil (2007), documentário dirigido por Silvio Tendler, relacionando os elementos propriamente fílmicos e o debate historiográfico sobre a União Nacional dos Estudantes (UNE), entidade que financiou a produção documental por meio de Lei Federal de Incentivo à Cultura. A partir do conceito exposto por Marie-Claire Lavabre, de que a memória histórica é uma sobreposição das fronteiras entre a prática social da memória e a atividade intelectual historiográfica, Amato propõe que a estética realista de Tendler corrobora a narrativa hegemônica sobre o movimento estudantil desenvolvida em O poder jovem (1968), de Arthur Poerner, segundo o qual “o estudante brasileiro é um oposicionista nato” (p. 56). Amato explora com acuidade o recorte realizado pelo documentarista dos documentos de época, das trilhas sonoras não originais, dos acontecimentos, das personagens e das entrevistas. Segundo o articulista, a seleção prévia expressa determinada visão de mundo que acaba por reduzir “a participação política dos estudantes brasileiros à história da UNE e a determinado modelo de militância dentro da entidade” (p. 59). Com efeito, a contracultura e o hippismo, duas manifestações culturais caras à juventude das décadas de 1960 a 80, permanecem silenciadas face à memória histórica da UNE – o que se reflete no trabalho de Tendler.
Também encontramos boa discussão historiográfica e de linguagem fílmica com Davi Aroeira Kacowicz, que analisa Tropicália (2012), documentário dirigido por Marcelo Machado. Como Amato sugeriu em relação a Memórias do movimento estudantil, Kacowicz discute a reprodução de certa memória histórica sobre a efervescência cultural dos anos 1960 no documentário de Machado, qual seja a de que a tropicália, conceito estético que designou uma constelação de vanguardas culturais, acaba reduzido ao tropicalismo, movimento musical de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Torquato Neto e tantos outros. Em contrapartida, Kacowicz evidencia que a historiografia mais recente compreende a contracultura brasileira para além das fronteiras da cena musical, a exemplo dos importantes trabalhos de Frederico Coelho (Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado, 2010), de Christopher Dunn (Brutalidade jardim, 2009) e de Heloísa Buarque de Hollanda (Impressões de viagem, 2004). Apesar disso, o artigo aponta que o levantamento documental empreendido por Machado traz fatos inéditos que podem revisar em parte a discussão historiográfica, como as cenas do Festival da Ilha de Wight de 1970 e a versão ao vivo da faixa Alfômega, apresentada por Caetano e Gil na rede de televisão portuguesa em 1969. Além da raridade material, Kacowicz atenta para o cuidadoso trabalho dispensado em Tropicália na condução da trilha sonora (sugerindo haver um refinamento técnico das músicas), dos efeitos de pós-produção (com inserção de cores vivas nas imagens em p&b) e de montagem, capazes de envolver o público em um “painel imagético-sonoro do contexto” (p. 133).
Da mesma forma que Kacowicz acredita que Tropicália pode contribuir para novas questões ao debate historiográfico, Natália Batista defende a tese de que o documentário Dzi Croquettes (2009), de Tatiana Issa e Raphael Alvarez, inaugurou uma discussão que ainda não havia sido feita pelos historiadores, isto é, o papel do teatro na resistência à ditadura pelo viés do escracho e do humor, com a abordagem das homossexualidades. Batista também explicita que o esquecimento/apagamento em torno do grupo teatral dificulta a construção documentária na falta de outras ancoragens narrativas. De todo modo, por meio de entrevistas, imagens de arquivo e trilha sonora, Batista acredita que Issa e Alvarez conferem uma dimensão de engajamento do grupo diante da ditadura e um reconhecimento de sua importância tanto no âmbito nacional quanto no internacional. Ademais, segundo Batista, o documentário permite questionar o pressuposto de “vazio cultural dos anos 1970” e, em especial, o papel dos corpos como atos políticos.
Ana Marília Menezes Carneiro debate a questão de gênero a partir de Cassandra Rios: a Safo de Perdizes (2013), documentário dirigido por Hannah Korich que conta com depoimentos de familiares, estudiosos e pessoas próximas da escritora, que escreveu romances bastante populares com temáticas homoeróticas. Carneiro ressalta a importância do documentário por reapresentar Cassandra Rios para além dos estereótipos muitas vezes preconceituosos e, ainda, por levar em consideração o amplo alcance de público, expressão de uma demanda social latente pelos temas ficcionalizados pela escritora. Apesar da boa discussão mobilizada por Carneiro em torno do silenciamento midiático sobre Cassandra Rios – reproduzindo em parte o argumento apresentado no depoimento de Laura Bacelar, editora de grande parte dos romances de Rios -, talvez fosse interessante resgatar reportagens de época em importantes meios de comunicação a fim de melhor explorar – e quem sabe nuançar – a tese sobre a recepção de suas obras durante a década de 1970, a exemplo do perfil elaborado sobre Cassandra Rios pela revista Realidade em 1970 e da crítica ao romance Carne em delírio escrita por Marina Colasanti e publicada pelo Jornal do Brasil em 1972.
Como no artigo de Juliana Ventura, a participação de mulheres na resistência à ditadura também é tema discutido por Débora Raiza Carolina Rocha Silva, que analisa Que bom te ver viva, documentário dirigido por Lúcia Murat e lançado em 1989. Silva retoma o contexto de produção memorialística e historiográfica sobre a ditadura militar nos finais da década de 1980 para compreender a representação do feminino na obra de Murat, em especial no que diz respeito à tortura de cunho sexual contra mulheres. Também lança um olhar atento sobre a recepção da obra no meio midiático. O artigo não explora o estatuto do documentário de Murat, constituído de cenas dramatizadas e depoimentos, o que poderia enriquecer enormemente a análise sobre as fronteiras do dizível, uma vez que a ficção é aí elemento central na abordagem de um tema sensível.
O artigo de Isabel Cristina Leite da Silva também aborda a representação do feminino durante a ditadura. Analisa Subversivas – Retratos femininos de luta contra a ditadura (2013), documentário dirigido por Fernanda Vidigal e Janaina Patrocínio. O texto destaca a inclusão de novos temas pelo documentário para compreender o período da ditadura militar, como o de conciliação entre o mundo político e o mundo privado, a maternidade, a revolução sexual e os novos comportamentos por parte de setores da sociedade brasileira frente ao aborto. A leitura realizada pela autora privilegia a exposição da narrativa desenvolvida pelo documentário, sem colocar questões com relação à linguagem propriamente fílmica.
A partir de Simonal – ninguém sabe o duro que dei (2009), documentário dirigido por Cláudio Manoel, Micael Langer e Calvito Leal, Bruno Vinicius de Morais tematiza o corpo negro do cantor Wilson Simonal como parte de uma memória subterrânea sobre o período ditatorial. Por meio de entrevistas concedidas por Manoel, que também foi comediante do grupo global Casseta & Planeta, Morais identifica um projeto de releitura sobre o período ditatorial brasileiro pretensamente assentado na renovação historiográfica empreendida por Daniel Aarão Reis Filho, para quem os anos de chumbo foram de relativo consenso e legitimação social, sendo que as esquerdas não apresentavam até então um programa democrático face ao autoritarismo de direita. Morais avalia que a forma pela qual o documentário foi recebido pela opinião pública em jornais e revistas é significativa: em geral, Wilson Simonal é representado como um artista ingênuo e apolítico; por outro lado, a esquerda é associada a um “stalinismo midiático”, tão autoritária quanto a própria ditadura. Segundo Morais, a apreensão conservadora sobre o regime militar acaba por se silenciar acerca de outras questões caras à trajetória do cantor, como as denúncias que fazia contra o racismo e a afirmação do orgulho negro em plena década de 1960, quando o debate racial carecia de espaços institucionalizados.
Já o artigo de Carolina Dellamore versa sobre Greve! (1979), documentário de João Batista de Andrade, que registrou o movimento grevista dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo (SP). Para Dellamore, o cineasta não somente mostrou a greve, mas buscou especialmente intervir na realidade, na medida em que o que ele filmou foi a situação criada a partir da presença da câmera, o que Jean-Claude Bernadet denominou de “dramaturgia da intervenção” (p. 87). O artigo explora a narrativa em off, que muitas vezes chega a ser irônica se contrapondo à exibição das imagens e às falas dos entrevistados. Outro aspecto da construção narrativa evidenciada por Dellamore reside na montagem empreendida por Andrade, que faz o depoimento do interventor Guaracy Horta em defesa da “normalidade” nos sindicatos ser contradito pelas imagens de repressão policial sobre os trabalhadores nas ruas. A trilha sonora, com músicas de Belchior, também é explorada como elemento diegético que sugere por vezes ambiguidade com relação às imagens exibidas. O movimento de câmara é analisado ao final, quando o cineasta privilegia a perspectiva do operário em vez do ponto de vista do palanque, das lideranças, revelando a posição crítica de desconfiança assumida por Andrade.
Marcus Vinícius Costa Lage escreve sobre Memórias do chumbo: o futebol nos tempos do Condor (2012), uma série de quatro documentários realizada por Lúcio de Castro sobre o uso político do futebol pelas ditaduras militares de Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Exibida pelo canal televisivo ESPN Brasil, a série é analisada por Lage a partir da construção narrativa, ora atentando-se para a composição da trilha sonora, ora para os cenários nos quais os entrevistados depõem sobre o tema. Segundo o articulista, a abordagem escolhida por Castro privilegia a denúncia contra a corrupção das entidades desportivas, que seriam caracterizadas pela manipulação da opinião pública por meio do futebol, com interferência direta dos governos autoritários. O contexto de produção e lançamento da série – isto é, seis meses antes da realização da Copa das Confederações da FIFA no Brasil, quando parte da imprensa discutia a promoção de megaeventos esportivos que demandaram vultoso financiamento estatal – ajuda a explicar, segundo Lage, o posicionamento crítico do cineasta bem como do canal televisivo.
Na segunda parte do livro (“O fazer e o guardar no campo do cinema documentário sobre a ditadura”), a cineasta e professora Anita Leandro (UFRJ) escreve sobre o método de “montagem direta” utilizado em seu documentário Retratos de identificação, que consiste no comparecimento da imagem de arquivos – muitas delas inéditas e produzidas pela polícia para fins de identificação e controle do prisioneiro – diante da testemunha. Segundo a autora, o método precede a montagem propriamente dita de modo que de entrevistada a testemunha torna-se narradora de uma história na primeira pessoa. Apesar de existir uma seleção prévia das imagens e uma ordem de apresentação que designam um roteiro, a metodologia de Anita Leandro possibilita um novo campo de pesquisa ao despertar a potência mnêmica dos materiais de arquivo com a fala das testemunhas. Ainda com relação à segunda parte do livro, Marcella Furtado faz um apanhado geral sobre o acervo do MIS de Belo Horizonte, composto basicamente por cinejornais institucionais produzidos pela prefeitura e por materiais brutos e editados pela TV Globo Minas.
Por fim, vale ressaltar que o livro A ditadura na tela se mostra relevante para o atual debate historiográfico por diversos motivos. Em primeiro lugar, a própria seleção dos documentários privilegia a inclusão de novos sujeitos – mulheres, negros, homossexuais – para a compreensão mais plural da ditadura militar brasileira, que por vezes é centrada pela atuação de partidos e lideranças políticas. Em segundo lugar, no caso dos documentários que abordam atores já consagrados tanto pela memória quanto pela historiografia, como no caso da atuação do movimento estudantil ligado à UNE, o tratamento analítico dos articulistas procura explorar os desvios em relação às narrativas hegemônicas. Por fim e em terceiro lugar, ainda que nem todos os artigos se debrucem mais detidamente sobre a linguagem fílmica, fica nítido o esforço de levar em consideração tanto os elementos de produção e recepção das obras quanto os elementos estéticos específicos de fontes audiovisuais. Em tempo de revisões grosseiras sobre o período, A ditadura na tela contribui para um debate público qualificado, ultrapassando a interlocução entre pares, algo cada vez mais necessário.
Referências
DELLAMORE, Carolina; AMATO, Gabriel; BATISTA, Natalia(orgs.). A ditadura na tela: o cinema documentário e as memórias do regime militar brasileiro. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2018. [ Links ]
Igor Barbosa Cardoso – Doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais / Departamento de História, Belo Horizonte/MG – Brasil. E-mail: [email protected].
Uma editora italiana na América Latina – SCARZANELLA (Topoi)
SCARZANELLA, Eugenia. Uma editora italiana na América Latina: o Grupo Abril (décadas de 1940 a 1970). Campinas: Editora da Unicamp, 2016. Resenha de: NASCIMENTO, Aline de Jesus. A família Civita e a imprensa na América Latina. Topoi v.21 n.43 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2020.
Escrever acerca da trajetória dos fundadores até a consolidação da Abril é tarefa que exige fôlego. Em meados do século XX, os seus criadores remodelaram os nichos editoriais na América Latina, principalmente no que tange ao caso brasileiro. Além do tradicional almanaque e das mais diversas coleções de fascículos, os produtos foram diversificados em vários suportes impressos não se limitando apenas às revistas, destinadas aos mais diversos públicos. A Abril segmentou o mercado de impressos e levou às bancas o mais variado tipo de revistas, que iam do esporte à moda, do gerenciamento e decoração da casa à informação semanal, enfim, uma diversidade de conteúdos que acabavam por agradar diferentes leitores e interesses, o que permitiu à empresa construir um verdadeiro império no campo editorial e tornar as bancas de jornais locais de informação e entretenimento. Uma empresa com tal renome não passaria impune aos historiadores, há uma gama de trabalhos acadêmicos acerca das principais revistas produzidas pela empresa, cada qual com sua metodologia.
O livro da professora de História da Universidade de Bolonha, Eugenia Scarzanella, seguiu uma linha interessante ao se basear na trajetória dos italianos pertencentes à família Civita na segunda metade do século XX. Especialista em América Latina, o livro representa sua primeira investida na empresa Abril. Sem deixar de entrelaçar as publicações da editora com o contexto político vigente, Scarzanella esmiuçou, com maestria, uma análise que levou em conta a experiência da Abril na Argentina, no Brasil e no México. Portanto, apesar da editora Abril constituir-se objeto comumente pesquisado, a autora contribui para as relações internacionais de um empreendimento que não afetou apenas o campo econômico, mas também o cultural. Dessa maneira, o título da obra por si já fornece indícios do que o leitor irá encontrar ao se debruçar no texto: a experiência de uma editora italiana na América Latina.
Cabe destacar dois pontos: a data de lançamento da tradução em português foi oportuna, visto que o atual cenário da editora não é mais promissor como o das décadas anteriores; a edição brasileira foi publicada pela Editora Unicamp, renomada por disseminar grandes títulos na área acadêmica.
Além do obstáculo da escassez de estudos que contemplem a trajetória da editora nos três países, outro desafio da pesquisa concerne às fontes. A fragmentação de documentos da editora Abril, que se encontram espalhados em diferentes bibliotecas e arquivos históricos, elencados na apresentação do livro, exigiu o empenho da pesquisadora não apenas na recolha, mas também no estabelecimento de uma linha de raciocínio diante de tantas frações. Também, a ausência de indícios fez com que Scarzanella levantasse diversas fontes para cobrir possíveis brechas na história. As fontes orais foram contribuições relevantes para o trabalho da historiadora. Além de compartilharem lembranças dos membros da família Civita, os testemunhos dos funcionários da empresa forneceram informações que não puderam ser acessadas nos escassos documentos oficiais.
A obra privilegia os primeiros anos da editora na Argentina, ao evidenciar como ocorreu a investida da empresa e quais foram as obras de mais destaque naquele país. A questão das relações étnicas e de como os italianos ocuparam espaço desse empreendimento na Argentina foi delineado pela autora e representa um novo olhar acerca da empresa. O livro, desse modo, contribui para novas perspectivas acerca dessa grande empresa que não se limitou apenas a um espaço geográfico.
O Brasil aparece como pano de fundo, quando a Abril constituiu-se numa empresa autônoma, mas que soube se apropriar de determinadas publicações de sua vizinha. Ao México foram destinadas poucas páginas no final do livro. A partir da atuação da família Civita na América Latina, o livro está dividido em seis capítulos com títulos claros acerca do que cada componente irá abordar. Acrescenta-se dois recursos interessantes: o índice onomástico e o caderno de imagens, elementos pós-textuais de grande relevância para quem quer realizar uma rápida consulta de revistas citadas no decorrer dos capítulos.
Scarzanella abordou os passos iniciais dos fundadores das empresas, a família Civita, desde o momento que fizeram parte da estatística dos exilados que se espalharam nos territórios da América por causa dos regimes totalitários entre 1920 e da Segunda Guerra Mundial que eclodiram na Europa. Cabe lembrar que uma parcela desses exilados era pertencente à classe social média alta, com elevados recursos econômicos e culturais. A atividade editorial da família Civita dentro do território latino-americano iniciou-se na Argentina com Cesare, empenhado em publicações de revistas em quadrinhos. Uma rede de relações e parcerias, firmadas por Cesare, na qual estavam envolvidos contatos com a comunidade judaica e italiana na Argentina, possibilitou um leque de novos financiadores e leitores. Em 1944, a Abril argentina publicou uma revista em pequeno formato da Disney: El Pato Donald. Trabalhar nesse local não significou apenas um privilégio econômico comparado a outros empregos no setor, simbolizava a possibilidade de compartilhar um ambiente dinâmico, jovem, culto e divertido.
Vittorio seguiu o caminho do irmão e, com os direitos autorais da Disney, publicou no Brasil, em junho de 1950, o Pato Donald, marcando o momento inicial da empresa que dominaria as bancas em poucos anos. A sede da editora sempre foi São Paulo, estado que se destacava do ponto de vista econômico e que então contava pouco mais de dois milhões de habitantes. O mundo do jornalismo, assim como o da cultura e dos intelectuais, era largamente dominado pelo eixo Rio de Janeiro/São Paulo e a cidade foi uma aposta do fundador que acabou por se revelar bastante acertada.
Scarzanella estabeleceu os traços comuns entre os dois países, que não se limitaram apenas pela escolha do mesmo nome para a editora. O desenvolvimento paralelo da Abril no Brasil e na Argentina prosseguiu por todos os anos de 1950. O caso da revista de fotonovelas Capricho merece destaque nessa relação devido ao seu grande sucesso. Lançada em 1952, a revista foi dirigida por uma colaboradora da Abril argentina, a fim de contribuir para o lançamento de novas publicações nesse gênero. Após uma mudança de formato e o início da publicação de histórias completas em cada número, o periódico chegou a uma tiragem de 500 mil cópias e uma versão em espanhol passou a ser distribuída na Argentina.
O segredo da Abril consistia em colocar no mercado novos produtos com publicações diferenciadas e destinadas a determinadas faixas de consumidores, em uma velocidade imposta pelas nuances do mercado editorial. Assim, em 1959, foi lançada em São Paulo a primeira revista de moda, Manequim, que utilizava material fotográfico proveniente de Buenos Aires.
Ainda na década de 1960, Parabrisas na Argentina foi grande sucesso relacionada ao desenvolvimento da indústria automobilística no país. O êxito acarretou no aumento de sua periodicidade – de mensal para semanal – a fim de estar mais presente nas bancas. Foi rebatizada como Corrida (1966) e Raúl Horacio Burzaco foi convidado para dirigi-la. Em agosto de 1960, a Abril de São Paulo lançou a revista Quatro Rodas, sob direção do jornalista Mino Carta, nos moldes da publicação argentina, igualmente especializada em turismo e automóveis.
Em 1961 surgiu nas bancas Claudia, publicação homônima à argentina lançada em 1957. Seguindo os moldes de Marie Claire, Grazia e Ladies’ Home Journal, esse semanal feminino foi de imediato grande sucesso. Destinado a donas de casa, explorou o uso de fotografia e publicidade nas suas páginas. No caso brasileiro, foi a primeira revista feminina que trouxe no título o nome de uma mulher. Os periódicos renovaram o gênero e sempre estiveram em sintonia com o crescimento da urbanização e das camadas médias. Porém, progressivamente ambas as revistas, brasileira e argentina, se distanciaram, ao adequar-se aos poucos cada qual a sua realidade nacional. Com grande sucesso até os dias atuais, no Brasil, Cláudia, destinada à mulher casada, deu origem a subprodutos como Casa Cláudia.
A Abril firmou-se no mercado brasileiro em função de projetos grandiosos e inovadores. Para garantir maior eficiência na vendagem, a editora criou uma rede de distribuição própria, comprou bancas e financiou jornaleiros para os quais organizou também cursos de formação. A editora brasileira antecipou-se à argentina no mercado de enciclopédias e fascículos com A Bíblia mais bela do mundo (1965), Os pensadores (1974), Os economistas (1982).
Pode-se levantar hipóteses de que a Abril brasileira pôde usufruir da vantagem de melhores relações com o poder público, mesmo com as dificuldades ligadas à limitação da liberdade da imprensa, fator que não se repetiu com a ditadura na Argentina. O regime militar brasileiro foi provavelmente para os empresários um interlocutor mais estável e mais hábil na gestão da economia em relação ao regime militar argentino, que fez as empresas naquele país “navegar[em] em águas difíceis, adaptando-se à mudança brusca de governos, à pretensão recorrente dos militares de impor à censura (e com ela a moral católica e conservadora) e à hostilidade dos seguidores de Perón (de direita e de esquerda), em guerra permanente entre si” (p.113).
A irmã brasileira lançou Realidade, em 1966, e Veja, em setembro de 1968. A censura impediu a circulação da primeira durante dois anos devido aos conteúdos considerados ofensivos (sexo, aborto, divórcio). O momento de lançamento da última não foi feliz porque, em dezembro do mesmo ano, foi decretado o Ato Institucional nº 5, com o qual o regime militar suspendia as garantias constitucionais. Entre 1975 e 1976, Veja teve que se submeter à aprovação prévia da censura e evitar tratar de uma lista de temas proibidos. Inclusive, de acordo com a historiadora, a demissão do diretor da revista, Mino Carta, teria sido uma exigência da ditadura, informação contestada de acordo com a versão do Roberto Civita (ALMEIDA, 2009, p. 151). Veja conseguiu sobreviver à ditadura e quando a editora brasileira comemorou 50 anos foi a revista com mais exemplares vendidos no país.
A Abril argentina não teve a mesma sorte, seus semanários de atualidade foram alvos de forte censura, houve intimidação e violência contra jornalistas, proprietários e tipógrafos. Em 1975, a organização de direita Aliança Anticomunista Argentina (Triple A) explodiu, diante do prédio da editora, uma bomba lança-panfletos contendo ameaças aos funcionários e à família Civita. Uma contribuição interessante do livro, mas que é pincelada pela autora foi que o empresário Cesare decidiu deixar o país e tentar se instalar em São Paulo, mas Vittorio teria dito que não havia modos de utilizá-lo dentro da sociedade. Esse tema pouco explorado representa uma nova perspectiva sobre a relação dos dois irmãos e questionamentos acerca dos conflitos de interesse das empresas.
A partir dos anos de 1960, Cesare tentou se inserir no México, com a Mex-Abril. enviando o genro Giorgio de Angeli para gerir esse novo empreendimento. Claudia também recebeu uma versão nesse país, com ingredientes locais, com divulgação de material de escritores e comerciantes, assuntos sobre homens e roupas que podiam ser compradas em boutiques nacionais, além de belas mulheres da televisão e sobre o cinema do país. A Mex-Abril não se revelou tão próspera quanto as irmãs e, no livro de Scarzanella, não houve muitas páginas dedicadas a essa investida de Cesare.
O destino da Abril argentina não se mostrou feliz desde os anos de 1970, explorado no encerramento do livro. Scarzanella enfatizou que o “capital social” de Cesare não foi o suficiente para transformar a editora argentina, empresa essencialmente familiar, em um empreendimento internacional. Os políticos, militares e lobistas teriam conquistados a Abril, como a própria autora afirmou no título do último capítulo.
O caso brasileiro foi mais frutífero. No ano de 2000, em seu cinquentenário, a empresa contava com 219 títulos nas bancas. Destarte, uma obra que demonstra as relações sociais e os empreendimentos na imprensa latino-americano dentro da família Civita, se caracteriza como uma leitura imprescindível. Principalmente, ao se considerar o entrelaçamento da Abril argentina com o contexto político do país que influenciou a sorte da empresa. Para um leitor que busca conhecimento acerca da Abril no Brasil e no México, o livro não contempla um estudo detalhado, o título original justifica o motivo: Abril – De Perón a Videla: um editore italiano a Buenos Aires. O assunto está longe de se esgotar dentro da obra, sendo, dessa maneira, um instrumento interessante para multiplicar as pesquisas sobre o assunto na área de História.
O estilo de escrita e a divisão dos capítulos permitem uma leitura fluída, inclusive para aqueles que não são especialistas na área. A obra se destaca por ser o resultado de uma pesquisa intensa com grande diversidade de fontes, motivo que contribui para os debates em torno da editora Abril e também abre espaço para se pensar acerca das redes étnicas criadas pela família Civita.
Referências
ALMEIDA, Maria Fernanda Lopes. Veja sob censura: 1968-1976. São Paulo: Jaboticaba, 2009. [ Links ]
SCARZANELLA, Eugenia. Uma editora italiana na América Latina: o Grupo Abril (décadas de 1940 a 1970). Campinas. Editora da Unicamp, 2016. [ Links ]
Aline de Jesus Nascimento – Mestranda da Universidade Estadual de São Paulo / Departamento de História, campus Assis, Assis/SP – Brasil. Bolsista Fapesp, processo nº 2017/15451-9. E-mail: [email protected].
O rei, o pai e a morte – PARÉS (Topoi)
PARÉS, Luis Nicolau. O rei, o pai e a morte – a religião vodum na antiga Costa dos Escravos na África Ocidental. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Resenha de: REZENDE, Leandro Gonçalves. A religião vodum e seus indeléveis laços atlânticos. Topoi v.21 n.43 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2020.
O livro O rei, o pai e a morte – a religião vodum na antiga Costa dos Escravos na África Ocidental, obra publicada em 2016, é fruto de anos de pesquisa de Luis Nicolau Parés, doutor em Antropologia da Religião pela Universidade de Londres e professor da Universidade Federal da Bahia. Autor de variadas publicações, sua produção acadêmica encontra-se no limiar entre a história e a antropologia, destacando-se pelas análises comparativas entre as populações da África Ocidental e as afro-brasileiras, enfocando aspectos religiosos, étnicos e culturais. De modo geral, o livro em questão examina as práticas religiosas na África Ocidental, ou seja, os antigos reinos de Aladá, Uidá e Daomé, região que atualmente corresponde à República do Benim, demonstrando seu dinamismo e sua imbricação na vida política, social e econômica daquelas sociedades, nos séculos XVII, XVIII e XIX.
Da antiga Costa dos Escravos ou Costa da Mina, como denominavam os portugueses, foram embarcadas grandes levas de africanos escravizados, que desembarcaram no Brasil, em especial na Bahia. Trata-se de africanos falantes dos idiomas do grupo gbe, que compartilhavam a fé nos voduns. Fato significativo, pois, uma vez ressignificada, a cultura desses povos será preponderante, desde então, no imaginário afro-brasileiro. Assim, o autor busca entender o processo histórico das práticas religiosas e das crenças associadas aos voduns, destacando-as como importante elemento de identidade cultural, imprescindível para entender aspectos sociais, políticos e econômicos cunhados historicamente em ambas as costas atlânticas.
Trata-se de uma análise comparativa, pois para compreender a religiosidade afro-brasileira, recriada em Salvador, no Recôncavo Baiano ou no Maranhão, faz-se necessário um retorno às origens africanas, principalmente nos períodos de maior intensidade do tráfico de escravos. De fato, são africanas muitas das heranças que o universo brasileiro carrega, porque Brasil e África, desde o século XVI, estiveram conectados, ambos inseridos num contexto maior, o qual se pode denominar Mundo Atlântico. Dessa forma, os povos e culturas que habitavam as duas margens do Oceano Atlântico, mantiveram intensos vínculos, estabelecidos não somente pelo tráfico de escravos, mas por inúmeras formas de trocas, principalmente as trocas socioculturais, que, apropriadas de diferentes maneiras dos dois lados dessa lógica atlântica, conformaram uma cultura e identidade, sendo um de seus pilares a religiosidade. Todavia, o autor é enfático ao afirmar que não busca revelar origens cosmológicas dessa ancestralidade africana, numa tentativa de reelaboração de uma idealizada “África mítica”; mas sim, almeja um sistemático estudo histórico da cultura associada ao vodum, compreendendo sua dinâmica social localizada no tempo e no espaço.
De forma simples, Parés entende a religião “como toda interação ou comunicação entre ‘este mundo’ sensível e fenomenológico dos humanos e um ‘outro mundo’ invisível, onde se supõe habitem entidades espirituais, responsáveis pela sustentabilidade da vida neste mundo” (p. 37). Assim, para além do fenômeno religioso, buscar-se-á a compreensão de um rico universo cultural que mediava e formava parte das variadas relações sociais, como parentesco, poder político, justiça, economia e/ou arte. Logo, percebemos a existência de um sistema de significados coerente e coeso, mas que, com o devir do tempo, soube se moldar, (re)configurando-se, dinamicamente, numa crescente diversificação religiosa, que “não seria possível sem o desenvolvimento paralelo de um alto grau de tolerância religiosa, um dos aspectos mais notáveis do complexo cultural do vodum” (p. 39). Da mesma forma, o autor busca examinar a micropolítica religiosa na sua dinâmica interna, mas também a dialética paralela estabelecida com as influências externas que levam à progressiva inserção do local na economia atlântica global.
Assim sendo, a obra é composta de sete capítulos, num estudo que mantém um diálogo instigante entre as duas costas atlânticas, ou seja, da Costa da Mina ao Brasil e vice-versa, em constantes desdobramentos e reconfigurações. Mesmo que não formalmente, o estudo pode ser dividido em duas partes, que são tangenciadas pela estrutura religiosa associada aos voduns. A primeira é situada na África, compreendendo como as práticas religiosas, ligadas à estrutura de parentesco e ao culto aos ancestrais, se relacionam com a organização política e social desses antigos reinos, centralizada na figura do rei, numa época de intenso tráfico de escravos. Já a segunda parte ocupa-se das dinâmicas trocas culturais, que são ressignificadas de acordo com os novos cenários políticos, econômicos e sociais, os quais foram impostos aos africanos que desembarcaram no Novo Mundo. Assim, analisa-se a dinâmica e os significados dessas práticas e desses elementos rituais, demonstrando suas continuidades históricas, ressignificadas no contexto escravista.
Metodologicamente, o autor trabalha com diversificadas fontes, em especial os diários, correspondências e relatórios de estrangeiros e viajantes, que, geralmente, trazem um olhar eurocêntrico, dominador, intolerante e subjetivo, que precisa ser analisado e interpretado em seu viés ideológico; debatido e contextualizado com outras fontes e conhecimentos, para formar um relevante e útil corpus documental. Nesse sentido, Parés desenvolve uma apurada crítica historiográfica estabelecendo conexões e comparações com as fontes disponíveis, bem como analisando criticamente os discursos que tais fontes empregam, para, desse modo, entender a lógica cultural inerente à ação dos africanos, captando suas concepções locais, seu universo simbólico e sua práxis ritual. O fruto desse trabalho é a reconstrução de um universo religioso africano a partir de suas fontes internas, incluindo diversas tradições orais e elementos arqueológicos; e de suas fontes externas, abarcando os múltiplos tipos de escritos europeus, bem como as visões de mundo mistas e plurais de agentes intermediários, ou seja, dos africanos europeizados e dos europeus africanizados. Também se faz uso da etnografia ritual como subsídio histórico para interpretar comportamentos, aspectos simbólicos, expressivos e comunicativos. Nesse sentido, a tradição oral, em especial os contos, os mitos e as memórias locais sobre as práticas religiosas são importantes fontes históricas, na medida em que auxiliam no entendimento ou interpretação dos relatos, estabelecendo um profícuo diálogo entre a história e a antropologia.
Os primeiros capítulos do livro concentram-se, em parte significativa, nos processos históricos de formação dos antigos reinos de Aladá, Uidá e Daomé, destacando sua centralização política, o apego ao espaço territorial, cuja organização social era estruturada em famílias patriarcais, marcadas por vínculos de pertencimento, de descendência – cultos aos ancestrais -, e de territorialidade. Essas ligações familiares ou identidades coletivas são significativas na configuração das práticas religiosas, ou seja, nos cultos aos ancestrais e voduns: as forças invisíveis, os mistérios ou deuses. O rei era sacralizado e responsável pela manutenção das práticas religiosas locais, prescritas pela tradição, havendo forte mescla entre o cerimonial religioso e o cerimonial da corte. Nessa lógica, Parés examina a complexa interação de forças históricas e culturais que formaram essa cultura, na qual há uma relação direta entre parentesco, política e religião. Desvenda-se assim, o imbricado jogo de palavras que compõem o título da obra: o rei – o político; o pai – o familiar; e a morte – a ligação ancestral, que funciona como a relação basilar das instituições e que garantia a continuidade do reino. Portanto, ganha destaque a centralidade do culto aos mortos e sua eloquência indissociável dos voduns na cultura religiosa da área gbe. Nas palavras do autor, o rei, o pai e a morte são elos de identidade cultural, pois “a análise da organização social dos reinos de Aladá, Uidá e Daomé, das suas formas de legitimação política articuladas em função da ideologia da descendência, dos ritos fúnebres e do culto aos antepassados, permitiu compreender a imbricação entre o parentesco, a política e a religião” (p. 91).
A seguir, o autor apresenta algumas instituições e discursos religiosos emblemáticos da correlação entre os processos de centralização política e o estabelecimento de cultos extradomésticos, como por exemplo, o culto à serpente Dangbé, no reino de Uidá, ou o do leopardo Agassu, no reino do Daomé, demonstrando que os mesmo foram instituições inicialmente associadas à monarquia, mas que, por meio dela, foram promovidas, através de processos identitários, a emblemas e símbolos da nação, garantindo certa coesão social do reino. No caso do Daomé, houve ainda um investimento complementar no culto aos ancestrais reais, celebrados nos festivais conhecidos como Costumes, que poderiam ser distintos entre os “grandes Costumes”, celebrados após a morte de um rei; e os “Costumes anuais”, menores, em que se evocava a memória e se sacrificava para os ancestrais reais. A historiografia sobre os Costumes enfatizou múltiplas dimensões dessa instituição, porém cada autor em questão ressalta um aspecto distinto: fenômeno social total, função política, natureza militar, legitimação do poder real, dimensão econômica/comercial etc. Parés corrobora esses aspectos, todavia, evidencia que em meio a essa multifuncionalidade é fundamental destacar o campo religioso/ideológico, ou seja, “as oferendas sacrificiais aos ancestrais (e a outras divindades) e a concomitante ativação pública da memória do passado, como a lógica estruturante do ciclo cerimonial” (p. 185). Confirma-se também que a centralização política foi acompanhada de uma relativa centralização religiosa, na qual os ancestrais reais foram erigidos como referentes espirituais da nação.
Da mesma forma, a pesquisa destaca que para entender a “economia da escravidão” que se desenvolveu na Costa da Mina é necessário entender a “economia do religioso”, que envolvia a troca de bens materiais e imateriais entre clientes e sacerdotes, e entre homens e deuses. Tratava-se de sociedades nas quais as práticas agrícolas eram fundamentais (economia camponesa), onde se conhecia a escravidão, contudo, não eram sociedades escravistas, pois o processo produtivo não girava em torno de uma mercadoria principal, centrada no trabalho escravo, mas, ao contrário, a principal mercadoria de exportação era por excelência o próprio escravizado, “o corpo humano capaz de gerar força de trabalho” (p. 279). A principal forma de angariar novos cativos era a guerra e essa mercadoria humana era trocada por armamento e munição, ou por produtos de consumo, a exemplo de aguardente e tabaco, ou por bens europeus que denotavam prestígio, visando a aumentar a distinção social daqueles que monopolizavam os “meios de produção escravista”, ou seja, a coroa e os funcionários da corte. Nesse contexto, o pensamento religioso do vodum certamente ocupou lugar de destaque na mediação das relações mercantis, ao orientar as disposições e, em última instância, as decisões dos atores envolvidos, que em suas empreitadas lançavam apelos ao mundo invisível do vodum e ao seu aparato espiritual. Dessa forma, o autor é enfático ao afirmar que a prática religiosa interferia nos processos de escravização, da mesma forma que a realidade da escravidão encontrava expressão no ritual.
Significativo é notar que já em África existia um processo de assimilação e agregação de outros cultos importados ou por conquistas, ou por alianças ou pelo deslocamento de escravos, o que contribuiu para um significativo pluralismo religioso, baseado numa tradição de tolerância religiosa. Partindo dessa interpretação histórica, os capítulos finais do livro fazem uma comparação entre práticas religiosas de origem africana desenvolvidas no outro lado do Atlântico. Apesar das inevitáveis e evidentes transformações acontecidas em ambos os lados do Atlântico, existe um significativo paralelismo, que pode ser identificado em vários aspectos do panteão e das atividades rituais, tal qual a iniciação, que encontra surpreendentes semelhanças. Além disso, as práticas rituais dos devotos dos voduns teriam sido um importante modelo referencial para a organização de diversos grupos religiosos afro-brasileiros, permitindo organizar comunidades coesas, oferecendo aos seus membros recursos e apoio emocional para enfrentar a adversidade imposta pela situação de marginalidade social. Nas palavras do autor:
As religiões afro-brasileiras, ou de matriz africana, como sabemos, são o resultado de um complexo processo histórico de síntese e criatividade cultural em que se emaranharam as contribuições mais diversas, tanto dos vários povos africanos, de sua descendência crioula com o do cristianismo ibérico e das populações ameríndias. Contudo, isso não impedia que certas tradições culturais africanas fossem mais atuantes do que outras no processo de institucionalização dessas religiões. Minha tese é de que, a partir do século XVIII, especialmente na primeira metade do século XIX, os saberes dos sacerdotes dos voduns – relativos à instalação de altares em espaços estáveis, aos processos de iniciação, à hierarquização do corpo sacerdotal e à devoção conjunta a múltiplos deuses – estabeleceram um padrão de grande eficácia para integrar o pluralismo religioso dos escravizados em comunidades de tipo eclesial (p. 322).
Percebemos, assim, que a obra de Parés se enquadra na perspectiva de uma história conectada entre África e Brasil e vice-versa, ou seja, numa circularidade atlântica, em que práticas e discursos geograficamente distantes teriam se constituído mutuamente através do fluxo e refluxo de pessoas, ideias e mercadoria. Nas últimas décadas, percebemos que a ótica dos estudos africanos tem enfocado as relações culturais, que são formadoras de uma base comum, ou seja, uma herança cultural que une diferentes comunidades criadas a parir da diáspora africana, corroborando a existência de uma grande área cultural interligada em intensas trocas culturais e ressignificadas de maneiras distintas e em diferentes realidades no fluxo e refluxo que se deu nas duas costas atlânticas ao longo do tempo. Percebe-se, assim, uma grande redefinição identitária, ou seja, a reelaboração de novas formas de ser, agir e pensar o mundo. Há um diálogo criador, que superou as injustiças e adversidades impostas àqueles indivíduos. As religiões afro-brasileiras podem ser pensadas não apenas em termos de continuidades e sobrevivências africanas, mas sim como um processo de diálogo e interação constante com as práticas e os discursos religiosos africanos recepcionados e reelaborados nos diferentes contextos regionais. Assim, a devoção aos voduns se espalhou pelo Brasil, Haiti, Cuba, Estados Unidos, Jamaica e outros lugares do Caribe, onde essa memória ritual, mediada pelas entidades espirituais, contribuiu para interessantes desdobramentos identitários no contexto atlântico. O campo religioso, sem dúvida, é um espaço privilegiado para reivindicar identidade, para criar formas de pertencimento e até para a mobilização e a ação política. Conforme bem salientou Perés: “A centralidade das práticas religiosas para enfrentar, no nível individual, os momentos de experiência difícil e para negociar, no nível coletivo, as situações de subalternidade política faz delas um tema sempre relevante, qualquer que seja a sociedade ou o momento histórico” (p. 358).
Destarte, concluímos que a obra O rei, o pai e a morte – a religião vodum na antiga Costa dos Escravos na África Ocidental é uma importante contribuição para a historiografia em língua portuguesa sobre a diáspora africana, demonstrando os impactos das práticas religiosas na economia, política e sociedade dos antigos reinos da Costa dos Escravos em sua correlação com a cultura afro-brasileira. Trata-se de uma obra significativa e referencial que estabelece um diálogo entre dois universos que se conectam por indeléveis laços religiosos confeccionados em contexto histórico marcado pela intolerância, mas que recriados deixaram um grande legado para os dias atuais.
Referências
PARÉS, Luis Nicolau. O rei, o pai e a morte – a religião vodum na antiga Costa dos Escravos na África Ocidental. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. [ Links ]
Leandro Gonçalves Rezende – Mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais / Departamento de História, Belo Horizonte/MG – Brasil. E-mail: [email protected].
Golpes na história e na escola: o Brasil e América Latina nos séculos XX e XXI – MACHADO; TOLEDO (Topoi)
MACHADO, André Roberto de Arruda; TOLEDO, Maria Rita de Almeida. Golpes na história e na escola: o Brasil e América Latina nos séculos XX e XXI. São Paulo: Cortez Editora, ANPUH-SP, 2017. Resenha de: GENARI, Elton Rigoto. Na trincheira das conquistas democráticas: o ensino de história como alvo de ataques e resistência ativa. Topoi v.20 n.42 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2019.
Em 1940, sob a sombria República de Vichy, Marc Bloch se entregou à tarefa de refletir sobre a derrota francesa diante do nazismo, num esforço de compreender tal processo. Escrito em três meses, A estranha derrota é testamento do significado que articular historicamente o passado tinha para Bloch: uma tarefa que exige crítica, observação e honestidade nos estudos, bem como interesse consciente em relação ao seu próprio presente. A história do tempo presente e do tempo imediato sempre apresenta complicações particulares, não apenas pelo alto grau de divergência entre interpretações e pela fugacidade do conhecimento produzido, mas também por, tantas vezes, estar ligada a eventos desestabilizadores. Dificuldade que é também a própria exigência de sua escrita – é a desorientação que leva à busca de meios para agir com mais clareza no calor dos acontecimentos.
Politicamente engajado, Golpes na história e na escola nasce também sob o signo de tempos conturbados, sendo o golpe de Estado de 2016 no Brasil o ponto de partida para sua produção. Com o comprometimento de situar os acontecimentos numa perspectiva histórica, os autores elaboraram reflexões capazes de conectá-los a processos políticos e sociais mais amplos. O livro aponta diversas experiências históricas, formando uma malha de narrativas ligadas pela demanda ética de viabilizar, como afirmou Circe Bittencourt na apresentação da obra, “uma memória social em oposição àquela construída pelos atuais donos dos Três Poderes” (p. 5). E, ao longo da empreitada, fica evidente a conexão entre a política institucional e o conhecimento produzido e circulado nos universos acadêmico e escolar, com ênfase no conhecimento histórico.
A coletânea foi, primeiramente, concebida como um dossiê de revista acadêmica, aprofundando debates iniciados em Historiadores pela democracia1 – obra lançada por um grupo de pesquisadores que se posicionaram em defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff, apontando as irregularidades e os interesses subjacentes ao processo de impeachment levado a cabo contra ela. A proposta inicial tomou o formato de livro com o apoio recebido da seção São Paulo da Associação Nacional de História (ANPUH-SP) e tem, em seu âmago, a preocupação com o recrudescimento das disputas políticas no país, compreendido como uma ameaça não apenas à democracia brasileira, mas à própria concepção de História como área do conhecimento (p. 8). Dessa maneira, o livro se configura também como uma defesa do ofício de historiador, bem como do ensino de história.
O livro foi organizado por Maria Rita de Almeida Toledo (Unifesp) e André Roberto de Arruda Machado (Unifesp), respectivamente, pesquisadora do ensino de história e da formação de docentes, e estudioso da formação do Estado brasileiro. Traz artigos produzidos por historiadoras e historiadores de diferentes nacionalidades e divide-se em duas partes. A primeira engloba reflexões sobre as diversas tensões e interesses em disputa no Brasil nos contextos de golpe e exceção durante a chamada Quarta República, sobretudo o golpe civil-militar ocorrido em 1964, lançando também um breve olhar para o caso da ditadura argentina. A segunda parte trata das recentes tentativas de usurpar ou monopolizar a educação, discutindo os processos de formação da escola pública no Brasil e também na Colômbia, tendo como norte um debate sobre a liberdade de ensino e os projetos de sociedade que pautam diferentes perspectivas sobre a função social da escola.
A introdução avulta-se por articular as especialidades de Toledo e Machado numa reflexão historiográfica que, além de apresentar os trabalhos desenvolvidos em cada capítulo, chama a atenção para os embates entre diferentes sujeitos que permeiam os processos históricos e para o fato de que a sua escrita e seu ensino constituem ferramentas de poder e, em decorrência disso, campos de disputa. Junto disso, o texto apresenta um panorama do processo de despolitização da escola, identificado na própria constituição do sistema escolar brasileiro nos anos 1930 (p. 21-23).
Outro aspecto interessante é a coesão da coletânea, resultado do esforço em estabelecer diálogos entre as produções: os capítulos, mesmo sendo frutos de trabalhos prévios independentes sobre diferentes assuntos e temporalidades, possuem conexões claras. A obra abre espaço para analisar as articulações entre produção historiográfica, prática docente, educação básica e políticas educacionais, o que lhe confere um caráter politizado e colaborativo. Entretanto, nenhum artigo traz proposições ou experiências diretas de professores atuantes no Ensino Básico, o que poderia ter contribuído para fomentar mais diálogo entre o mundo escolar e o acadêmico.
Os primeiros quatro capítulos da Parte 1 se voltam para os atores políticos em contextos de golpe no Brasil, seus objetivos e atuação. O capítulo de abertura é de James Green, que se dedica a pesquisas sobre o Brasil e a América Latina na Brown University e investiga o papel dos Estados Unidos na construção da legitimidade dos processos que levaram às deposições de João Goulart, em 1964, e Dilma Rousseff, em 2016.
Os dois capítulos seguintes tratam do jogo de forças entre os atores nos três poderes. Em Crises políticas e o “golpismo atávico” na história recente do Brasil (1954-2016), Marcos Napolitano, professor da USP, e David Ribeiro percorrem as crises de 1954 e 2016, lançando o foco sobre o caráter desestabilizador que o desgaste das relações entre os poderes Executivo e Legislativo exerce sobre o sistema político. O texto de Napolitano e Ribeiro dialoga diretamente com o trabalho de Marco Aurélio Vannuchi que constitui o terceiro capítulo da coletânea, em que o autor apresenta uma análise sobre a atuação de juristas em oposição a Jango na década de 1960 e as correlações que ela carrega com a contemporaneidade, capaz também de problematizar a visão generalizada sobre a OAB como opositora do regime ditatorial desde a sua instauração.
O quarto capítulo, elaborado por Joana Monteleone, historiadora que pesquisa o apoio civil ao regime militar, em coautoria com o jornalista Haroldo Ceravolo Sereza, demonstra o protagonismo da Fiesp, especialmente através do Grupo Permanente de Mobilização Industrial, na articulação do golpe que derrubou João Goulart. Além de o estudo identificar de modo interessante a lógica da Doutrina de Segurança Nacional nas ações e planejamentos de grupos empresariais, o texto traz a reprodução de parte das fontes analisadas, permitindo seu uso em atividades escolares.
Os três últimos capítulos da primeira parte tratam da atuação de sujeitos na contramão dos regimes autoritários, a começar pelas comparações de Janaína de Almeida Teles entre os casos brasileiro e argentino no enfrentamento dos dilemas das reaberturas políticas, sobretudo ligadas ao direito à memória e à verdade. Em que pese o posicionamento crítico de Teles em relação às notórias limitações da atuação da Comissão Nacional da Verdade no Brasil, o artigo teria se beneficiado de um olhar mais matizado sobre o caso argentino para evitar dar a impressão de que esse teria obtido êxito completo. Ainda assim, Teles oferece uma perspectiva interessante para compreendermos a gênese das Comissões da Verdade e as dificuldades que envolvem a justiça de transição.
O sexto e sétimo capítulos dão enfoque ao protagonismo de movimentos sociais na luta pela democracia. Enquanto Claudia Moraes de Souza demonstra, em seu texto, o papel do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Osasco no fortalecimento da luta por Direitos Humanos, o artigo de Petrônio Domingues e Flávio Gomes traz um importante panorama sobre as batalhas em torno dos usos de símbolos ligados a culturas de matriz africana. Além de apresentarem as distinções entre os movimentos organizados e as comunidades quilombolas, nos permitem enxergar suas estratégias, formas de atuação e seu papel fundamental, junto de esforços no ambiente acadêmico, no fortalecimento da luta contra o racismo, sobretudo ligadas ao reconhecimento dessas identidades e comunidades ao longo da Ditadura Civil-Militar. Nesse sentido, os três autores identificam, nas ações desses movimentos, um caráter de resistência e oposição aberta ao regime autoritário.
Em consonância com a primeira, a segunda parte do livro também fornece subsídios para o trabalho docente, com panoramas historiográficos, reflexões inovadoras e material para refletir sobre práticas e abordagens na escola, bem como uso de excertos em atividades educacionais. Esse mérito parece vir do entendimento de que a distinção entre bacharéis e licenciados foi constituída também em processos históricos cheios de tensões, conflitos e interesses políticos. É justamente esse o problema tratado pela co-organizadora Maria Rita de Almeida Toledo, no capítulo inicial da Parte 2. Uma contribuição importante do trabalho é inserir as disputas em torno de reformas educacionais da atualidade num contexto mais amplo, evidenciando continuidades que permitem ver, com mais clareza, a relação desses embates com diferentes projetos de sociedade.
Diante desses enfrentamentos, o capítulo de Fernando Seffner, coordenador da área de Ensino de História da UFRGS, aparece como uma resposta qualificada contra as iniciativas de estabelecimento de um ensino conformador de pensamento. De longe, é o mais voltado ao debate teórico sobre a ação docente, sua dimensão política e sua relação com o ferramental crítico atribuído ao fazer historiográfico. O texto de Seffner pondera sobre os limites, potencialidades e desafios para o ensino de história pensada não apenas como uma disciplina curricular isolada, mas como componente de um quadro mais amplo de saberes escolares fundamentais à construção de uma sociedade democrática. Na segunda parte do texto, Seffner avalia tentativas específicas de controlar e cercear a liberdade de ensinar e aprender, como projetos alterando a LDBEN (1996) e a Escola Sem Partido, também analisados nos capítulos finais.
Em Ideología de género: semblanza de um debate pospuesto, a professora do Centro Nacional de Memoria Histórica da Colombia, Nancy Prada Prada apresenta uma genealogia do conceito-espantalho “ideologia de gênero” nos debates políticos da Colômbia, bem como as finalidades de seu uso. Além de colaborar com a construção de uma crítica consistente às pautas dos grupos políticos que fazem uso do termo, seu trabalho nos ajuda a perceber que muitas convulsões sociais e enfrentamentos políticos de nosso cotidiano estão longe de ser um dilema exclusivamente brasileiro.
À luz de Seffner e Prada, os capítulos seguintes ficam ainda mais esclarecedores. Do arco-íris à monocromia: o Movimento Escola Sem Partido e as reações ao debate sobre gênero nas escolas, de Stella Maris Scatena Franco (USP), traz um histórico do próprio debate sobre gênero das últimas décadas, apontando para uma característica de movimentos como o Escola Sem Partido, a saber, a total recusa a ceder direitos. Nisso reside o elo com o trabalho seguinte, de Fernando de Araújo Penna, coordenador do Laboratório de Ensino de História da UFF, que observa as concepções do Movimento Escola Sem Partido sobre educação e, através das suas representações e discursos sobre o mundo escolar, chama a atenção para seu baixo apreço pela democracia e seus esforços em abolir o próprio caráter educacional da escola.
Esse tema se conecta às análises empreendidas por Antonio Simplicio de Almeida Neto e Diana Mendes Machado da Silva. Atuando na formação de professores e na pesquisa ligada ao ensino, os autores avaliam o papel da escola democrática diante de iniciativas de cerceamento da liberdade e dos ataques à educação de forma geral. Com isso, apontam os riscos que tais iniciativas reacionárias representam e o papel dos professores na defesa da escola e, consequentemente, da democracia.
Ao abrir mão de um fio condutor voltado ao aprofundamento de um único campo em prol de questões políticas do tempo imediato, Golpes na história e na escola traz as temáticas para o presente, demonstrando com clareza de que modos configuram campos de batalha na contemporaneidade. Interessa a uma série geral de pesquisadores por suas reflexões sobre a condição da profissão do estudioso em História, tanto na pesquisa acadêmica quanto na docência. Ao demonstrar a relação entre ensino e pesquisa, nos chama a refletir sobre os problemas ao subestimá-la. Simultaneamente, a obra nos permite compreender fatores que colaboraram para a construção da dicotomia ensino-pesquisa e, assim, percebemos como nossa herança do período ditatorial compõe um quadro mais complexo e multifacetado. De fato, é fundamental que pesquisadores reflitam sobre como suas pesquisas podem romper as barreiras do espaço acadêmico e alcançar a sociedade civil de modo amplo, trazendo a dimensão da educação para seus estudos, ao passo que educadores devem adotar a postura de pesquisadores na formulação e condução das aulas.
Outro aspecto de destaque é que a educação, ao longo das décadas, foi, ao mesmo tempo, campo de batalha e fortaleza sitiada nas disputas por hegemonia política no Brasil, alvo de uma série de discursos e dispositivos de poder em busca de sua instrumentalização. Por essa razão, o livro teria se beneficiado de contribuições que trouxessem experiências de profissionais que atuam no front. Professores que, em seu cotidiano nas escolas e nas pesquisas, produzem importantes análises para o enriquecimento da produção historiográfica e do ensino, não só permitindo um olhar mais esclarecido sobre as disputas em questão, como também caminhos para a superação de preconceitos que conservam uma relação dicotômica entre Universidade e Ensino Básico.
Por outro lado, essa limitação da coletânea apenas evidencia a dificuldade estrutural em aproximar a produção acadêmica da produção escolar, de modo que essa vigore como mais que mero objeto daquela. Atesta, desse modo, a importância das considerações propostas no livro e de ações institucionais que reconheçam a docência no ambiente escolar como prática incessante de pesquisa e não como conhecimento de segunda ordem. Isso é especialmente urgente em tempos em que a memória e o patrimônio nacionais são apagados por incêndios e iniciativas de censura, decorrentes de ações estratégicas e do próprio descaso do Poder Público. Assim, esse reconhecimento é fundamental a qualquer prática intelectual que busque defender e reforçar os alicerces e pilares de nossa jovem democracia, para que não seja necessário resgatar seus restos entre escombros.
Referências
Machado, André Roberto de Arruda; toledo, Maria Rita de Almeida . Golpes na história e na escola: o Brasil e América Latina nos séculos XX e XXI. São Paulo: Cortez Editora / ANPUH-SP, 2017. [ Links ]
MATTOS, Hebe; BESSONE, Tânia; MAMIGONIAN, Beatriz G. Historiadores pela democracia: o golpe de 2016 e a força do passado. Alameda, 2016. [ Links ]
1 MATTOS, Hebe; BESSONE, Tânia; MAMIGONIAN, Beatriz G. Historiadores pela democracia: o golpe de 2016 e a força do passado. Alameda, 2016.
Elton Rigotto Genari – Mestre em Ensino de História pela Universidade Estadual de Campinas / Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / Departamento de História, Campinas/SP – Brasil. E-mail: [email protected].
Corporação dos Enteados: tensão, contestação e negociação política na Conjuração Baiana de 1798 – VALIM (Topoi)
VALIM, Patrícia. Corporação dos Enteados: tensão, contestação e negociação política na Conjuração Baiana de 1798. Salvador: EDUFBA, 2018. 327p.p. Resenha de: CHAUVIN, Jean Pierre. Bastidores da Conjuração Baiana de 1798. Topoi v.20 n.42 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2019.
Nos cursos de Letras, quando topamos com periodizações relativas às partes do Brasil entre os séculos XVI e XVIII, costumamos aprender que o “Barroco” baiano durou 167 anos, de 1601 a 1768. Imediatamente após aquele “movimento artístico”, tido por rebuscado, serpenteante e obtuso, teríamos vivenciado 20 ou 30 anos de “Arcadismo”, iniciado muito precisamente em 1768 (ano em que saíram as Obras do desembargador, minerador, escravista e poeta Cláudio Manuel da Costa) e encerrado em data um tanto vaga, após a devassa, a prisão e a execução de um dos chamados “inconfidentes”. A solução que os manuais encontraram para preencher a distância geográfica e o intervalo temporal até a chegada e violenta instalação da Corte no Rio de Janeiro consistiu em fixar e nomear o período que vai de 1792 a 1808 (ou o 7 de setembro de 1822, ou o 2 de julho de 1823) como era “de transição”. Sugere-se que migramos do estatuto “colonial” português para o império da jovem nação brasileira – ainda que sob a tutela inglesa -, mediante os caprichos de um irrequieto d. Pedro I que projetava suas ambições dinásticas no filho: o “conciliador” Pedro II. Supõe-se, também, que a chama “pré-romântica”, com seu pendão protonativista, estivesse embutida no movimento “árcade” e se extinguisse no mesmo cadafalso que recebera o alferes Tiradentes. Em acordo com essa concepção escolar, que ainda vislumbra “espírito cívico” e “patriotismo brasileiro”, décadas antes de o país vir a sê-lo, a prisão dos conjurados também encerraria o brevíssimo e anacrônico “neoclassicismo” greco-latino, redivido no lamaçal de eiras e beiras setecentistas.
Desse modo, a já nem tão reluzente capitania mineira, embalada por “sentimentos antilusitanos” e candidatos a heróis da “pátria”, viveria um período de decadência socioeconômica e cultural, em que quase nada de relevante teria acontecido naquele território ultramarino – exceção feita às denúncias de crimes de lesa-majestade, punidos com a chibata em público, o degredo para possessões na África e, em alguns casos, a forca e o esquartejamento, previstos nas Ordenações do Reino para os mais pobres. Tudo isso para deleite de uma ansiosa tribuna ciosa por tonificar sua moral, ordem e civilidade – devidamente apinhada em torno do patíbulo instalado no Rio de Janeiro. Esquece-se, providencialmente, que as capitanias do Estado do Brasil atuavam pragmaticamente e de modo mais ou menos coordenado, pelo menos naquele tempo. Isso impediria negligenciar o habitual privilégio dos magistrados, o arbítrio das leis, os movimentos de sedição contra diferentes governos e mesmo as variadas representações artísticas – dentre elas, as práticas letradas produzidas por cortesãos sedentos de distinção entre os “homens bons”. Para além dos eventos transcorridos entre 1789 e 1792, nas Minas, haveria que se prestar detida atenção à Conjuração Baiana de 1798, transcorrida em Salvador, apenas seis anos após a execução de Tiradentes no Rio de Janeiro.
Salvo engano, é essa grande lacuna que este livro de Patrícia Valimvem preencher. Dividido em três seções, o estudo parece dialogar com a célebre disposição que Euclides da Cunha estendeu a Os sertões. A estrutura tripartite – anunciada no subtítulo (“Tensão”, “Contestação” e “Negociação política”) – projeta-se desde a capa, cujas cores se aproximam em muito do bleau, blanc, rouge que tingia os ideais republicanos e embalavam a Revolução Francesa, iniciada em 1789. Por sinal, a Conjuração Baiana de 1798 quase reproduzia os três pilares de além-mar: “liberdade, república e revolução” (p. 22). Antes de passar à matéria principal, a pesquisadora revisita a extensa tradição historiográfica produzida sobre a colonização portuguesa, dentro e fora do país (Inácio Accioli, John Armitage, Francisco Adolfo de Varnhagen, Fernandes Pinheiro, Francisco Borges de Barros, Braz do Amaral, Caio Prado Júnior, Affonso Ruy, Fernando Novais, István Jancsó, Carlos Guilherme Mota, Florestan Fernandes, Kenneth Maxwell, etc.) e restabelece a importância dos estudos de Kátia Mattoso e Valentim Alexandre, entre muitos outros que reorientaram os trabalhos, especialmente em torno da chamada “Conjuração Baiana de 1798”.
Como a historiadora adverte, em “Alguma explicação”, Salvador exercia a “capitalidade” no Estado do Brasil, concomitantemente à nova sede do vice-reino (Rio de Janeiro), desde o século anterior. Com dezenas de milhares de habitantes, em 1780, a capitania da Bahia tinha população, estrutura e poder consideravelmente maiores e tão complexos quanto aqueles das Minas, para onde se transferia a atenção da Coroa, interessada em fomentar a exploração dos escravos, com vistas a ampliar divisas da Metrópole, graças ao escoamento de ouro e outras mercadorias pelo porto do Rio – principalmente aquelas que sobrassem do sabido contrabando local, sob as desordens dos “principais do lugar”, a atuar em nome de Deus, da Lei e do pretenso racionalismo das Luzes. Em funcionamento análogo ao das vilas mineiras, “[…] a cidade [Salvador] foi o centro administrativo da colônia e do único vice-reinado no mundo atlântico até 1763, sede da única Relação do Brasil até 1751, sede do único bispado até 1676 e, depois, do arcebispado do Brasil” (p. 66). Além de recorrer a diversos documentos, localizados em numerosos acervos dentro e fora do país, Patrícia Valim dialoga com Arno Wehling, para quem: […] os inúmeros conflitos ocorridos entre vice-reis, governadores e demais autoridades, sobretudo no final do século XVIII […] caracterizavam a natureza intrinsecamente conflitual das relações de poder na colônia – que, antes de significar ausência de racionalidade, era a própria filosofia administrativa da Coroa Portuguesa (p. 77). O que se entendia por “Corporação de Enteados” – ponto de partida para a tese de Valim? De acordo com as cartas e relatos de Luís dos Santos Vilhena, professor régio que atuou em Salvador no final do século XVIII, tratava-se de homens poderosos e sem escrúpulos, a ocupar postos estratégicos no governo da Bahia, que emprestaram feição aparentemente legítima a práticas de enriquecimento pessoal, na proporção direta com que negligenciavam a enorme população de miseráveis, condenada a sobre-existir naquela capitania:
[…] por um lado a Coroa portuguesa tentava recrudescer a fiscalização de todas as variáveis envolvidas no comércio para exportação com a criação das Mesas de Inspeção, das Juntas da Fazenda e do Celeiro Público (…) por outro, ela se colocava em uma situação delicada na medida em que alguns dos principais comerciantes traficantes de escravos, financiadores da economia exportadora e não raras vezes acusados de praticarem contrabando, eram recrutados a ocupar os postos dos órgãos da administração local (p. 82).No primeiro capítulo, destacam-se os muitos papéis e atribuições do Secretário de Estado José Pires de Carvalho e Albuquerque, célebre pela vasta memória arquivística e por encontrar contínuas brechas na legislação vigente, a reforçar a vantajosa parceria com d. Fernando José de Portugal e Castro, governador da Bahia entre 1788 e 1801. No quadro geral, para além da escravidão – o principal eixo da economia baiana -, as “clivagens políticas das elites governativas” (p. 52) aproximam decisivamente os eventos transcorridos em Salvador com os de outras cercanias. Também havia contrabando na Bahia e, a exemplo do que sucedeu nas capitanias de Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, etc., a troca de influências entre o governo e a justiça (e entre representantes da administração reinol e do clero) resultaram em uma complexa rede de benefícios escusos, restritos aos “principais do lugar”, convenientemente acobertados pela Coroa – mais preocupada em perpetuar o tráfico negreiro e o sistema exploratório do tabaco, do açúcar, do couro e de outras mercadorias: “[…] as falhas dos magistrados eram compensadas pelas funções políticas que eles acabam desempenhando” (p. 125). Dado o aumento do volume de correspondências contendo denúncias a emissários do reino, em Lisboa, e das representações à Vereança, assinadas por comerciantes e políticos locais, a Coroa fechou os olhos aos desmandos; alinhou-se de outras formas com o governo da capitania e passou a remunerar melhor as milícias da guarda real. Daí o relevante testemunho recuperado pela historiadora: “Vilhena associa a queda e a ausência de seus pagamentos à substituição das patentes dos agregados que havia nos corpos de milícias, pois parte dos provimentos do subsídio literário foi usada para a despesa com fardas e patentes que, a seu ver, ‘para nada lhes ficavam servindo’.” (p. 119). Após apresentar o complexo tabuleiro das relações institucionais, orientadas pelo personalismo e a administração irregular do dinheiro, em que sobressaem as imposturas do governador d. Fernando José Portugal de Castro e do secretário José Pires de Carvalho e Albuquerque, Patrícia Valim concentra-se na análise de conjuntura da época, na figura de d. Rodrigo de Sousa Coutinho, Secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos e do Erário Régio “entre 1796 e 1803” (p. 154). Das numerosas contendas entre os secretários, uma das mais impressionantes envolve a tentativa de se extinguir “o fim dos morgadios” (p. 164), processo que se arrastou durante anos e facultou a José Pires de Carvalho e Albuquerque, em vitória pessoal contra d. Coutinho, acumular impressionantes “348 propriedades” (p. 172), muitas delas surrupiadas a partir de causas alheias. Evidencia-se que d. Rodrigo chocava-se constantemente com o outro Secretário, José Pires de Carvalho Albuquerque, que costumava ser defendido pelo governador d. Fernando, decerto porque as concepções econômicas de d. Rodrigo se aproximavam das medidas adotadas pelo Marquês de Pombal, braço direito do rei d. José I até 1777: “D. Rodrigo de Sousa Coutinho fundamenta-se sobre dois princípios: unidade política e dependência econômica (…)”, por acreditar “na centralidade da mineração na vida econômica da capitania e pujança da monarquia” (p. 155 e 159).
À medida que avançamos no livro, o ano de 1796 assoma como marco temporal decisivo para compreendermos as motivações que levaram, não apenas as camadas populares, ao movimento de sedição, dois anos depois. Com o passar do tempo, d. Rodrigo passou a contar com um aliado fundamental – o provedor José Venâncio de Seixas. Até 1796, a capitania não recorrera a empréstimos que não pudesse saldar. Daí em diante, a situação se inverteu, o que levou o provedor Seixas a implementar a cobrança de novas taxas e impostos, entre outras medidas que desfavoreceram os colonos e comerciantes locais. As constantes intrigas entre os partidários de d. Rodrigo de Sousa Coutinho e o séquito do governador d. Fernando José de Portugal e Castro aumentaram em muito os processos judiciais, especialmente entre membros da própria elite escravista, dentre os quais, destaca-se o “negociante português Antônio José Ferreira (…), obrigado a desistir da prorrogação do contrato do dízimo em razão da pressão exercida pelos negociantes soteropolitanos, com apoio da Junta da Fazenda, do governador da capitania da Bahia e do posterior reconhecimento de D. João VI” (p. 192).
Se o cenário era de tensão constante entre os poderosos, adeptos de posições antagônicas, pode-se imaginar a reverberação das contendas em outros setores e camadas médias e mais populares, o que terá colaborado na publicação de “dez boletins manuscritos” em “12 de agosto de 1798” (p. 195), cuja autoria era ignorada. De acordo com os documentos da época, o levante teria reunido “676 adeptos”, dentre os quais “513 pessoas pertenciam a corporações militares” (p. 196). Vale lembrar que, para além das divergências na cúpula do poder local, o sangrento conflito contrapunha multiproprietários e um exército de despossuídos. A desigualdade estava na base dos conflitos. No bando de lá, brilhavam “o secretário de Estado e Governo e seus parentes (…) [como] os maiores proprietários de engenhos da capitania a Bahia no início do século XIX” (p. 208). Deflagrado o movimento, rápida e barbaramente sufocado pelas forças do governo, que contavam com o aval da Coroa, cumpria identificar e apontar os cabeças do movimento: “O caminho duvidoso escolhido por D. Fernando foi o exame de várias petições antigas que se encontravam na Secretaria de Estado e Governo do Brasil, sob o comando de José Pires de Carvalho e Albuquerque. O objetivo era confrontar as letras dos documentos oficiais com as letras dos ‘pasquins sediciosos’.” (p. 222). Logo começaram a aparecer os bodes expiatórios. A esse respeito, Patrícia Valim notou que: “[…] em 1798, havia uma fluida relação de homens provenientes de vários setores, mas especialmente entre os senhores de escravos e de terras, escravos urbanos e os milicianos das tropas urbanas” (p. 231). A condição dos homens mantidos em cárcere era emblemática: “Em meados de 1799, já eram nove presos – pois um deles, Antônio José, morrera na prisão (…). Dos escravos indiciados nos autos, quase todos eram pardos e nascidos na Bahia” (p. 225). O governo recorria a todos os métodos, em diferentes graus de ilicitude, para punir os “sentenciados”. Outro exemplo de desfecho trágico contava com os conflitos entre os “pardos livres” e “escravos” (p. 228): “Do total de 13 testemunhas que formularam culpa sobre Luiz Gonzaga das Virgens e, depois, em outra devassa, sobre mais três pardos, o poder local aproveitou-se da animosidade existente entre pardos livres e escravos para convocar que estes últimos despusessem sobre o que eles sabiam acerca da ‘revolução projetada’.” (p. 238).
Amparada por extensa bibliografia e documentação, encontrada em arquivos e acervos bibliográficos, Patrícia Valim explicita os mecanismos de favorecimento pessoal, enriquecimento ilícito e a prática quase regularizada do contrabando e da apropriação indébita de recursos do erário real, sob os olhos semicerrados da Coroa – mais interessada em manter e ampliar os empréstimos e favores prestados pela capitania da Bahia. Como os denunciados eram tratados, enquanto aguardavam pela sentença? “[…] o padrão presente no interrogatório dos escravos é o mesmo dos depoimentos e da acareação de Domingos da Silva Lisboa, homem pardo. Encerravam-se as perguntas no momento em que os nomes dos ‘principais’ eram citados e retomava-se o processo um ou dois dias depois, sem que se verificasse a procedência das informações” (p. 248). Conformadas ao sistema de acobertamento, aplicado pela Coroa sobre as numerosas denúncias de corrupção e mau uso do dinheiro na capitania, as instituições continuavam a validar as denúncias, muitas vezes sem qualquer comprovação material. A pesquisadora salienta que, “Embora as autoridades locais não averiguassem as informações fornecidas pelos cativos e milicianos, ao longo de mais de um ano de investigação, as denúncias sobre a participação de ‘homens colocados entre os povos’ chegaram a Lisboa e medidas foram tomadas” (p. 255). Assim como a murmuração mística, pertinente ao Tribunal do Santo Ofício, no plano terreno “o ‘ouvir dizer’ foi mais do que suficiente para a acusação dos quatro milicianos pardos por participarem de reuniões de conteúdo sedicioso e serem os autores dos boletins manuscritos” (p. 257). Avancemos. Eis que se aproxima o momento do castigo exemplar a ser aplicado aos perigosíssimos homens pobres e pardos da capitania: “No dia 18 de outubro de 1799, foram definidos os critérios para as sentenças e o termo de conclusão da devassa instaurada para averiguar a “projectada revolução” (…) dos infelices e desgraçados RR [réus]” (p. 265 – respeitada a grafia original). Os lamentáveis episódios transcorridos em Salvador culminaram com a morte direta de quatro participantes do movimento, cujo procedimento permitiria evocar o que sucedeu ao alferes Tiradentes, em 1792, no Rio de Janeiro:
À execução dos outros dois réus [Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga e João de Deus do Nascimento], seguiu-se o esquartejamento dos corpos. A cabeça de Lucas Dantas foi degolada, assim como a dos outros três, e depois espetada em um poste no Dique do Desterro. Os outros pedaços dos corpos dos réus foram expostos no caminho do Largo de São Francisco, onde Lucas Dantas residiu (p. 272).
Mas, afinal, o que teria acontecido à corporação dos enteados, que mandava e desmandava na capitania da Bahia? O que costumava suceder aos “homens de bem” daquele território: “Após o enforcamento e esquartejamento dos réus da Conjuração Baiana de 1798, a corporação dos enteados manteve-se como setor dominante da capitania da Bahia, voltando a ocupar, inclusive, cargos na Câmara Municipal de Salvador, afastados desde 1796” (p. 278). Estas linhas dizem muito menos do que vai no livro de Patrícia Valim, estudo pioneiro nesta abrangente área de pesquisa. No que toca à famigerada Corporação dos Enteados, porventura, fosse oportuno discorrermos mais longamente sobre a fabricação de leis extravagantes ou sobre a emissão de alvarás que costumavam atender a demandas específicas, quase sempre benéficas àqueles com maior poder de barganha. Também poder-se-ia aventar a hipótese de que certas posturas e práticas, situadas entre os séculos XVIII e XIX, teriam deixado um legado pernicioso às instituições que ainda operam no país.
Talvez ainda haja aqueles que fingem crer na imparcialidade da justiça e, vez ou outra, sacralizem figuras que se propõem tão retas quanto heroicas. Em nosso tempo, estamos longe de assistir a revoluções, para além de assinaturas em petições on-line. Nem por isso, mudou-se o caráter arbitrário e excludente das leis; tampouco abrandou-se a pena com que uns são castigados sem medida e outros são poupados, esses, quase sempre por serem amigos do rei.
Referências
VALIM, Patrícia. Corporação dos Enteados: tensão, contestação e negociação política na Conjuração Baiana de 1798. Salvador: EDUFBA, 2018, 327p. [ Links ]
Jean Pierre Chauvin – Professor da Universidade de São Paulo/Escola de Comunicações e Artes/Departamento de Jornalismo e Editoração, São Paulo/SP – Brasil. E-mail: [email protected].
O palácio da memória – DIMEO (Topoi)
DiMEO, Nate. O palácio da memória. Galindo, Caetano W.. 1. edição. São Paulo: Todavia, 2017. 256 pp. Resenha de: SANTOS. O palácio da memória, ou: da arte de contar histórias. Topoi v.20 n.41 Rio de Janeiro May/Aug. 2019.
O palácio da memória, de Nate DiMeo (Todavia, 2017), pode ser descrito como uma obra de caráter transdisciplinar, no âmbito acadêmico-escolar – como leitura obrigatória em aulas relacionadas à História e/ou ao Ensino de História, bem como à escrita ou processos de escrita, tanto no ensino superior como na educação básica – e para além dele – como uma leitura não obrigatória, selecionada sem uma finalidade pedagógica específica.
O fato de se enquadrar de modo peculiar nesses dois espaços formativos que muitas vezes parecem tão distantes um do outro (o acadêmico-escolar, com suas normas e saberes sistematizados, e o do cotidiano, que não estabelece uma rotina tão rígida e apresenta outra relação com os saberes, na sua transmissão e recepção) possibilita ao livro de DiMeo algo que poucas obras conseguem: articular o saber histórico formal com o saber histórico do dia a dia.
Seja para amantes da História ou de histórias, O palácio da memória traz registros históricos contundentes, utilizando uma narrativa autoral que faz da leitura uma experiência no mínimo singular e recomendável.
Nate DiMeo, natural de Providence, em Rhode Island, nos Estados Unidos, é um ex-músico que trabalhou como repórter de rádio por mais de dez décadas, segundo relata Fernanda Ezabella (2017), que realizou uma entrevista com o autor antes de a obra chegar às livrarias brasileiras.1 Nessa entrevista ele explica seu interesse por temas relacionados ao século XIX, ou, mais especificamente, aos anos entre 1880 e 1920, período em que “a vida moderna estava sendo inventada”, como afirma.
É diante do excesso de informação de nossa cultura contemporânea – descrito desde a primeira metade do século passado por Walter Benjamin,2 salientado por Ítalo Calvino3 na metade da década de 1980 e também por Georges Balandier4 no final daquela época – que DiMeo encontra seus personagens e constrói (ou tenta reconstruir, a partir da perspectiva histórica) suas histórias. Diante desse excesso algo sempre surge lhe chamando a atenção, fazendo-o voltar posteriormente para checar a veracidade e pesquisar em museus e arquivos de jornais, para em seguida pensar sobre a forma de contar mais uma de suas histórias.
O que impressiona em seu trabalho, realizado desde 2008, quando estreou o podcast “The Memory Palace”,5 é a sua capacidade de contar histórias e de demonstrar suas potencialidades, bem como a força dessa prática por vezes tão esquecida em nossa era digital-informativa, em que muitas vezes a multiplicidade midiática retira nosso tempo de reflexão sobre determinado conteúdo, nos privando da “riqueza de significados possíveis”, como expressou Ítalo Calvino, pois a superabundância de imagens e de informações muitas vezes “se dissolve imediatamente como os sonhos que não deixam traços na memória”.6
Mas é da adversidade que conseguimos enxergar e criar alternativas, como analisa Marcelo Yuka.7 Nesse sentido, Nate utiliza desse excesso de informação para pegar aquilo que lhe toca e trabalhar em cima do que foi selecionado com a prudência e o cuidado de um historiador de ofício, dando o seu devido tempo e atenção. Desse modo, ele consegue deixar muitos traços das memórias que narra em nossas mentes-corpos – uma vez que estes são elementos indissociáveis de nossa percepção sensorial do mundo -, nos atingindo física e emocionalmente diante de seus relatos.
Se Georges Balandier (1999) ressaltava sobre o processo de banalização e de sobrecarga do imaginário social por meio da constante repetição de imagens e informações sem uma orientação crítica de seus usos, temos em O palácio da memória uma experiência muito diferente. Experiência, a propósito do ato de narrar, de contar histórias surpreendentes, que Walter Benjamim afirmava, em 1936, ser uma arte em vias de extinção.8 Segundo o filósofo alemão:
São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. É cada vez mais frequente que, quando o desejo de ouvir uma história é manifestado, o embaraço se generalize. É como se estivéssemos sendo privados de uma faculdade que nos parecia totalmente segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências.9
Essa crise no ato de contar histórias, de intercambiar experiências significativas, é justificada por Benjamin ao afirmar que os fatos reportados em sua época, vindos de todas as partes do mundo, não favoreciam a narrativa – a experiência da narrativa -, pois vinham impregnados de explicações sem a necessidade da escuta atenta e sensível, do processo de efetuar relações e de refletir sobre o ocorrido; em contrapartida, isso favorecia o excesso de informação, que ainda hoje é um dos temas mais abordados por pesquisadores em diferentes áreas e campos do saber, como História, Educação, Sociologia, Comunicação, Mídia, Filosofia, Cinema, entre outros.
E por que a leitura de O palácio da memória é uma experiência narrativa diferenciada? Justamente porque Nate DiMeo consegue manifestar nosso desejo de ler/ouvir histórias, servindo como antídoto a todo o excedente informativo que permeia nossos dispositivos móveis e nossas vidas. Não obstante, ele demonstra que a História, deveras considerada um peso sem significado aparente na vida de muitos jovens estudantes, pode sim ser mais atrativa e carregada dos mais diversos significados.
Este é outro grande mérito desse artista estadunidense, de nos instigar -professores/formadores da educação básica ou do ensino superior – a rever nossos métodos e nossas próprias práticas pedagógicas, a ponto de podermos utilizar O palácio da memória em nossas aulas como um ponto de partida, um meio para elaborar novas possibilidades de ensino, de envolver nossos alunos com os conteúdos curriculares prescritos institucionalmente.
Não há outro meio de se conhecer mais a História e seus acontecimentos se não mergulhando naquilo que ela tem a nos oferecer. DiMeo faz isso, ele mergulha nas histórias que nos conta de modo a se aproximar das práticas relativas aos historiadores que atuam no campo da História Oral, contribuindo nesse terreno do “estudo da subjetividade e das representações do passado tomados como dados objetivos, capazes de incidir (de agir, portanto), sobre a realidade e sobre nosso entendimento do passado”, como sintetiza Verena Alberti10 a respeito dessa metodologia e abordagem historiográfica.
Essa aproximação com a História Oral está presente ao longo de toda obra, quando Nate toma como protagonistas de muitas de suas histórias sujeitos/personagens “comuns”, de “carne e osso” como todos nós, que não fazem parte daquela História seletiva e oficial – ou por muito tempo oficializada – que costumamos aprender nos bancos escolares, mas que, de acordo com Lucília Delgado,11 “anônima ou publicamente deixam sua marca, visível ou invisível, no tempo em que vivem, no cotidiano de seus paí ses e também na história da humanidade”.
Há também algumas grandes figuras conhecidas da História, sobretudo da história estadunidense, onde se passam as narrativas; mas nem por isso perdem seu valor, pois, quando contextualizados com a história social e coletiva da humanidade, conseguimos identificar sua importância e até mesmo relacionar a equivalentes de nossa própria esfera sociocultural.
Alguns desses nomes são de indivíduos que se consagraram em seus respectivos campos de atuação. Todavia, não se busca enaltecer e divinizar, nem tampouco condenar e demonizar tais sujeitos. Suas histórias são transcritas a partir de um contexto histórico-cultural maior, no qual o que importa, no fim das contas, não é reconhecer aqueles considerados e tratados como protagonistas, e sim ter consciência de que a história contada, por si só, teve (e, de certa maneira, continua tendo) uma relevância suficientemente expressiva em determinado tempo e espaço onde elas aconteceram – na verdade para além disso, uma vez que muitas delas cruzaram oceanos e continentes, inscrevendo-se na narrativa da história humana.
O palácio da memória está estruturado em 50 breves narrativas que abordam desde as desventuras de Samuel Finley Breese Morse – que, após perder a esposa e sequer conseguir estar presente ao seu funeral, “passou os quarenta e cinco anos seguintes inventando o telégrafo. […] E desenvolvendo o código Morse” (Distância, p. 9-10), na tentativa de que mais ninguém passasse por aquilo que ele viveu -, ao dia em que muitos nova-iorquinos quase enlouqueceram quando em uma manhã de novembro de 1874 uma alarmante notícia – inventada e publicada pelo jornal New York Herald – trouxe à tona muitos “monstros imaginários”, dando uma lição “que vale a pena recordar de vez em quando” (Enlouquecidos, p. 245-248), sobretudo diante de uma época em que as fake news estão ganhando cada vez mais destaque.
Entre as duas histórias, há muitas outras que emocionam, que chocam, que nos atingem de modo peculiar, nos fazendo pensar sobre o ocorrido ou sobre situações semelhantes que aconteceram também em tempos remotos e em outros lugares, distintos daquele que DiMeo descreve, ou que aconteceram recentemente; ou que acontecem ainda hoje, perto de nós, às vezes conosco, nessa sociedade em que muitos governos gostam de se autoproclamar democráticos, ainda que a democracia seja conhecida por poucos e distante de muitos.
Dentre alguns desses casos, que podem se relacionar de uma forma ou de outra, podemos trazer como exemplo o caso dos meninos de 9 anos que morriam simplesmente por serem crianças e por efetuarem um trabalho perigoso demais (Nipper, p. 17-18). De Minik Wallace, um inuíte de 7 anos de idade que vivia em um pequeno vilarejo na Groenlândia e viu o pai e outros conterrâneos morrerem quando saíram pela primeira vez de seu lugar de origem, convencidos por homens brancos a partirem para a cidade de Nova York, onde foram apresentados como artefatos e atração exótica, e que seriam estudados por cientistas do Museu de História Natural. Após a morte do pai, ele quis realizar um enterro conforme as tradições de sua cultura, descobrindo anos depois que fizera uma cerimônia sagrada inuíte para um saco de pedras, pois o corpo do pai havia sido mantido no museu, onde cientistas o dissecaram, fizeram estudos com o cérebro e deixaram os ossos em exposição (Algumas palavras para os responsáveis, p. 44-47). Das cobaias utilizadas durante o período da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (Cobaias, p. 103-105). De James Powell e sua mãe, bem como de Odessa Bradford, de Perfecto Bandalan, de Eugene Williams, de Robert Bandy e de outros afro-americanos ou imigrantes esquecidos (Esquecemos, p. 120-122). Da coragem de amar de Charlie Zulu e Anita Corsini (Zulu Charlie Romeu, p. 150-155). Da trágica história de Lucy Bakewell (Um pintor na paisagem, p. 173-181). Do filhote de leão capturado no deserto da Núbia para ser transformado numa das mais conhecidas imagens do cinema – ainda que a imagem não descreva as situações pelas quais ele teve que passar (Vulgo: Leo, p. 198-202). Do simbolismo para a comunidade LGBT do White Horse, o mais antigo bar gay dos Estados Unidos (Um cavalo branco, p. 206-210). Das 77 pessoas que se tornaram mais de 8 mil, numa jornada de 500 quilômetros, na busca dos trabalhadores do campo pelo direito de se organizarem em sindicatos para que pudessem exigir dignidade humana (Peregrinar, p. 233-237). Entre tantas outras…
São histórias inspiradoras que nos levam a rever o momento presente por outra perspectiva, a repensar certos conceitos e a valorizar as potencialidades contidas nas ações humanas, sejam elas realizadas por grandes nomes ou por desconhecidos/as, pessoas que se inscrevem na e escrevem a História, tanto quanto aqueles a quem os livros oficiais mais costumam demarcar como os nomes a serem lembrados (ou, como muitas vezes acontece, decorados) para a realização de uma prova, para a escrita de uma redação ou para a encenação de uma peça teatral escolar.
Nesse contexto, O palácio da memória insere-se como uma importante e necessária ferramenta educativa, ao desmistificar acontecimentos históricos e ao contribuir, no âmbito historiográfico, a dar “inteligibilidade ao vivido e ao narrado”, como destaca Carla Rodeghero.12
O principal ponto de ligação do trabalho de Nate DiMeo com a História Oral se dá por ele trabalhar com memórias, o que Alessandro Portelli13 destaca – neste trabalho entre a História Oral e a Memória – como um “campo de possibilidades compartilhadas, reais ou imaginárias” (1996, p. 72), ajudando-nos a compreender cada fragmento (cada pessoa, cada ação) desse mosaico que compõe a sociedade humana.
“Dizem que a memória pode ser um parque de diversões estranho e tortuoso, cheio de viagens em montanha-russa e salas de espelhos deformadores”, recorda o cineasta Michael Moore.14 Nesse parque de diversões que ilustra a memória, a força narrativa presente nos casos que DiMeo menciona nos prende na leitura do livro (ou na audição dos podcasts) de modo bastante satisfatório; como se ganhássemos as entradas para uma diversão previamente garantida – diversão que não se traduz somente em entretenimento, mas que faz pensar para além do habitual, promovendo reflexão.
Destarte, esse é o tipo de obra que eu recomendaria para os historiadores de ofício, profissionais, acadêmicos e para aqueles que não são, porém apreciam uma boa narrativa literária e gostam de ler/ouvir histórias. “Tudo que dizemos tem um ‘antes’ e um ‘depois’ – uma ‘margem’ na qual outras pessoas podem escrever”, acentuou Stuart Hall.15 Essa margem é onde Nate se ancora, utilizando-a com esmero.
Gostaria de finalizar este texto destacando duas questões: primeiro, parabenizar a editora Todavia pela publicação. Olhando em perspectiva, do ponto de vista qualitativo e deixando de lado os dados referentes ao número de exemplares vendidos – que no mercado editorial muitas vezes equivale a dizer se a obra foi ou está sendo um sucesso ou um fracasso -, posso afirmar que essa foi uma aposta significativa, pois permite que diferentes indivíduos (historiadores em formação, profissionais e leigos da área) reconheçam o valor contido nas histórias e no ato de narrar, na experiência que ela possibilita, naquele que talvez seja, como descreve Caetano W. Galindo ao final do livro, “o maior de todos os mecanismos de geração de empatia, de interesse, de comunidade e compaixão. Histórias. Narrativas” (p. 252).
Em segundo lugar, e não menos importante, convém destacar o trabalho de Caetano W. Galindo, responsável por traduzir a obra direto do áudio e apresentar o trabalho aos editores da Todavia. Até o momento, ela está em sua primeira edição impressa em nível mundial – nem em seu país de origem ela foi publicada, pois segundo DiMeo, na entrevista a Fernanda Ezabella mencionada no início do texto, os editores que lhe procuram têm interesse em um livro temático, enquanto ele prefere o formato curto de suas histórias, como faz em seu podcast.
Nate DiMeo, esse colecionador de memórias,16 vai encontrando novos fatos e personagens históricos para continuar compondo seu palácio da memória, compartilhando conosco os feitos de pessoas extraordinárias em tempos conturbados. Até o momento, o último podcast, o do episódio 144, foi publicado no dia 21 de junho de 2019. Se considerarmos que Nate continua realizando seu trabalho e que a edição da obra impressa reúne 50 de suas histórias, ainda há um bom número de casos a serem trabalhados e, quem sabe, publicados em edições futuras. Que as portas do palácio se mantenham abertas para nós!
1 EZABELLA, Fernanda. Ex-repórter de rádio, Nate Dimeo cria podcast que vai virar livro no Brasil. Folha, Los Angeles, 30 de julho de 2017. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/serafina/2017/08/1904465-ex-reporter-de-radio-nate-dimeo-cria-podcast-que-vai-virar-livro-no-brasil.shtml. Acesso em: abril 2018.
2 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Obras Escolhidas, v. 1)
3 CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
4 BALANDIER, Georges. O dédalo: para finalizar o século XX. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
5Que pode ser conferido em: http://thememorypalace.us/.
6 CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas. op. cit. p. 73.
7 YUKA, Marcelo. Sua relação especial com o corpo. TEDxSudeste, 30 out. 2010. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WLlN_Xf4CFk. Acesso em: abril 2018.
8É importante situar que o contexto histórico em que Benjamin escreve sobre experiência é o do perío do entre guerras (Primeira e Segunda Guerra Mundial), quando os soldados voltavam dos campos de batalhas sem conseguir narrar sobre o que acontecera, afetando-os de modo permanente.
9 BENJAMIN, Walter, Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura, op. cit., p. 213.
10 ALBERTI, Verena. O lugar da história oral: o fascínio do vivido e as possibilidades de pesquisa. In: ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. p. 13-43. p. 10.
11 DELGADO, Lucília de Almeida Neves. Memória e história: multiplicidade e singularidade na construção do documento oral. Cadernos CERU, série 2, n. 12, p. 23-30, 2001. p. 24. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/75083/78649. Acesso em: março 2018.
12 RODEGHERO, Carla Simone. História oral e história recente do Brasil: desafios para a pesquisa e para o ensino. In: RODEGHERO, Carla Simone; GRINBERG, Lúcia; FROTSCHER, Méri (Orgs.). História oral e práticas educacionais. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2016. p. 61-84. p. 80.
13 PORTELLI, Alessandro. A filosofia e os fatos. Narração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes orais. Tempo, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 59-72, 1996.
14 MOORE, Michael. Adoro problemas: histórias da minha vida. São Paulo: Lua de Papel, 2011.
15 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 41.
16Como a revista Piauí o retratou na edição 129, de junho de 2017, na seção Vozes da América.
Referências
ALBERTI, Verena. O lugar da história oral: o fascínio do vivido e as possibilidades de pesquisa. In: ALBERTI, Verena. Ouvir contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. p. 13-43. [ Links ]
BALANDIER, Georges. O dédalo: para finalizar o século XX. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. [ Links ]
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Obras Escolhidas, v. 1) [ Links ]
CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. [ Links ]
DELGADO, Lucília de Almeida Neves. Memória e história: multiplicidade e singularidade na construção do documento oral. Cadernos CERU, série 2, n. 12, p. 23-30, 2001. p. 24. Disponível em: Disponível em: https://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/75083/78649 . Acesso em: março 2018. [ Links ]
DIMEO, Nate. O palácio da memória. Tradução de Caetano W. Galindo. 1. edição. São Paulo: Todavia, 2017. 256 p. [ Links ]
EZABELLA, Fernanda. Ex-repórter de rádio, Nate Dimeo cria podcast que vai virar livro no Brasil. Folha, Los Angeles, 30 de julho de 2017. Disponível em: Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/serafina/2017/08/1904465-exreporter-de-radio-nate-dimeo-cria-podcastque-vai-virar-livro-no-brasil.shtml . Acesso em: abril 2018. [ Links ]
HALL, Stuart. A identidade cultural na pósmodernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. [ Links ]
MOORE, Michael. Adoro problemas: histórias da minha vida. São Paulo: Lua de Papel, 2011. [ Links ]
PORTELLI, Alessandro. A filosofia e os fatos. Narração, interpretação e significado nas memórias e nas fontes orais. Tempo, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 59-72, 1996. [ Links ]
RODEGHERO, Carla Simone. História oral e história recente do Brasil: desafios para a pesquisa e para o ensino. In: RODEGHERO, Carla Simone; GRINBERG, Lúcia; FROTSCHER, Méri (Orgs.). História oral e práticas educacionais. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2016. p. 61-84. p. 80. [ Links ]
YUKA, Marcelo. Sua relação especial com o corpo. TEDxSudeste, 30 out. 2010. Disponível em: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WLlN_Xf4CFk . Acesso em: abril 2018. [ Links ]
José Douglas Alves dos Santos – Doutorando da Universidade Federal de Santa Catarina/Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Florianópolis/SC – Brasil. E-mail: [email protected]. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7263-4657.
Entre a religião e a política: Eurípedes e a Guerra do Peloponeso – MOERBECK (Topoi)
MOERBECK, Guilherme. Entre a religião e a política: Eurípedes e a Guerra do Peloponeso. Curitiba: Prismas, 2017. Resenha de: SILVA, Uiran Gebara. Conflito social, política e culto na Atenas de Eurípedes. Topoi v.20 n.41 Rio de Janeiro May/Aug. 2019.
O livro Entre a religião e a política: Eurípedes e a Guerra do Peloponeso é um importante trabalho sobre a relação da tragédia com a dimensão política e religiosa da sociedade ateniense do V a.C. Há no Brasil uma grande quantidade de estudos dedicados à poética da tragédia, mas poucos voltados para a investigação histórica por meio das tragédias, não sendo incomum que muitos dos estudantes só possam recorrer ao clássico conjunto de estudos sobre essa intersecção de Jean Pierre Venant e Pierre Vidal-Naquet.1 O autor do livro, Guilherme Moerbeck, já tem um conjunto respeitável de estudos que lida com a intersecção entre política e tragédia na Grécia Antiga. Esse conjunto de investigações se expressa em vários artigos e no livro Guerra, política e tragédia na Atenas Clássica.2 Enquanto no trabalho anterior o propósito foi perseguir a hipótese de que a relação entre política, guerra e a tragédia seria mais bem compreendida por meio da noção de “gerações”, nesta nova obra há um estudo mais interessado em Eurípedes, que põe no centro de suas preocupações a hipótese de que a dinâmica da participação política em Atenas no século V a.C. pode ser entendida como a configuração de um campo político, noção tomada de Pierre Bourdieu.
Para desenvolver essa ideia, na primeira parte do livro Moerbeck articula de maneira bastante competente uma série de questões teóricas. No primeiro capítulo, “Poder simbólico e habitus: aproximações teóricas para a análise das tragédias nas Grandes Dioni síacas”, o autor apresenta e delimita o emprego que faz da teoria dos campos (pensando a distribuição de bens simbólicos, distinções sociais e poder simbólico) e da noção de habitus (produção e reprodução e práticas no interior dos campos), ambas de Bourdieu. Seu ponto de partida é o teatro ateniense como uma prática engastada ou incrustada (seguindo a terminologia de Moses Finley), isto é, uma prática social integrada em outras práticas sociais. Como o teatro está incrustrado tanto na política quanto na religião, no segundo capítulo, “Espaço, ritual e performance na cidade das Grandes Dionisíacas”, o autor busca, por um lado, compreender a dimensão ritual do teatro em sua espacialidade na cidade de Atenas na sua relação com o festival das Grandes Dionisíacas, e, por outro, apreender as conexões com o desenvolvimento das práticas políticas atenienses entre a sua constituição democrática e sua vocação imperial. Isso resulta em intuições significativas no que diz respeito à hipótese da formação de um campo político (e talvez até mesmo de um campo artístico, associado) na Atenas do século V a.C. e ao papel do conflito social como elemento constitutivo da formação desse campo. A contraparte dessa perspectiva atenta à existência integrada das práticas sociais está nas dificuldades oferecidas pelas práticas religiosas na Antiguidade para com as interpretações modernas. O instrumental intelectual desencantado da modernidade3 tem muita dificuldade em compreender adequadamente o lugar do conflito dentro das práticas religiosas (em geral pensadas como homogeneizantes), em lidar com o grau de integração da religião com outras práticas sociais, e em pensar a força do religioso em relação ao político.
Na segunda parte do livro, Moerbeck analisa de modo sistemático duas tragédias de Eurípedes, As suplicantes e As fenícias. Aqui, ao se observar a relação do teatro ora com o campo político, ora com as práticas religiosas (um campo? O autor não o articula nesses termos), aquelas dificuldades se fazem presentes. No terceiro capítulo, “Política, posição social e guerra em As suplicantes de Eurípedes”, o autor demonstra como a recriação de Eurípedes do episódio mítico em que Teseu interfere no ciclo tebano se articula com temáticas políticas e religiosas prementes para a Atenas do V a.C. Do ponto de vista das relações da tragédia com a política, a interferência remete ao próprio debate ateniense sobre a guerra contra a Liga do Peloponeso, ainda em sua primeira fase. Aqui Moerbeck dá destaque aos significados da representação dramática do caráter democrático do governo de Teseu, com especial destaque para a configuração de um discurso de oposição à tirania e para a elaboração da voz do camponês como o representante do bom senso do conjunto dos cidadãos. Já ao observar a relação da tragédia com as práticas religiosas, a análise de Moerbeck adentra o território dos costumes enraizados em um passado distante, o pressuposto religioso por trás do tabu desrespeitado por Creonte ao não permitir o sepultamento devido dos invasores mortos no conflito entre Etéocles e Polinices. Há um conflito de contornos religiosos servindo de motivação para a ação de Atenas em Tebas, uma vez que o estatuto de Atenas e seu rei como responsáveis por zelar por esse costume na Ática é um dos elementos que entram no debate na assembleia presente na tragédia
Já no quarto capítulo, “Ambição, poder e política em As fenícias”, a tragédia que é analisada tem como conteúdo mítico episódios cronologicamente anteriores, mas foi composta posteriormente a As suplicantes. Aqui, Moerbeck reflete sobre como o conflito aristocrático entre Polinices e Etéocles, nela representado, também pode ser articulado com temáticas políticas e religiosas associadas a uma fase tardia da Guerra do Peloponeso. Por um lado, o das conexões com as temáticas políticas, o debate sobre a rotatividade de governantes e a invasão de Tebas por estrangeiros é remetido aos conflitos entre os legisladores e estrategos atenienses da última década do século V, com um papel de destaque para Alcebíades. Essa operação ilumina a dimensão sofística e demagógica dos discursos de Etéocles em favor da tirania na tragédia. Por outro, no que diz respeito às relações da tragédia com as práticas religiosas, o contexto de guerra e o imperialismo ateniense colocam em relevo os vários juramentos quebrados em As fenícias, que Moerbeck remete à problemática da recente destruição de Melos pelos atenienses e a justificativa do poder pelo poder.
Ao abordar nesses dois últimos capítulos a articulação entre esses três conjuntos de práticas sociais, Moerbeck se preocupa em não reduzir uma coisa à outra, buscando integrar da melhor maneira possível tanto as posições de Julian Gallego4 quanto as de Christiane Sorvinou-Inwood.5 O resultado da sua investigação não é transformar a tragédia em metáfora da política, nem reduzi-la a uma forma racionalizada de rituais dionisíacos, mas mostrar como essa tríplice articulação permite ver a formação do campo político em Atenas. E, por isso, o conflito social tem um papel muito importante na sua economia argumentativa. É, porém, exatamente essa centralidade do conflito social que nos reenvia às previamente mencionadas dificuldades da interpretação moderna no que tange às práticas religiosas.
Quando se trata de analisar o conflito social em termos políticos, as ciências humanas têm um instrumental teórico bastante apurado. A História, em particular, uma vez que a observação do conflito social sempre está associada às temáticas da permanência e da transformação de uma sociedade. Na investigação de Guilherme Moerbeck o conflito social com contornos políticos é, sem nenhuma surpresa, definido de várias maneiras em relação às cidades, à polis: há conflito dentro das cidades, fora das cidades, entre cidades. Nesse sentido, na análise de Moerbeck das relações entre o teatro e o campo político em formação, adentra-se numa esfera de observações que a hermenêutica moderna tende a ver como mais dinâmico no que diz respeito à observação dos conflitos sociais. Enquanto o autor busca resguardar a autonomia relativa da prática dramática, há também um esforço de interpretação da relação e do desvelamento das conexões com o conflito. Há uma dificuldade de fundo que se apresenta a interpretações desse tipo, que é o estatuto do mito recriado em cada tragédia específica, de modo que a investigação pode resultar em leituras redutoras que tratam o mito como metáfora ou alegoria do conflito social, da história. A solução de Moerbeck é pensar a própria historicidade da produção do mito (recusando tacitamente visões unitaristas do mito), preocupando-se em incluir na sua análise a diversidade de interpretações concorrentes e as reescritas do mito. Isto é feito por meio da análise tanto intra quanto extradiscursiva das duas tragédias de Eurípedes, principalmente no que diz respeito à observação dos contextos de encenação e as ambiguidades do conceito de performance (e suas implicações em termos de reprodução e criação do mito e das próprias tragédias). Assim, o conflito não é encontrado na metáfora, mas no contrapelo do texto.
A relação do teatro com as práticas religiosas cria dificuldades diferentes, pois, como já dissemos, aquela hermenêutica moderna configura o religioso como um campo mais estático: os ritos são primariamente pensados como tradição e permanência (uma derivação teórica persistente da atenção durkheimiana para com a coesão social). Aqui o risco é a redução do teatro à alegoria moral do costume tradicional, agora como rito que encena o costume. Nesse contexto interpretativo, a associação das tragédias de Eurípedes com uma moralidade pan-helênica pode levar a uma visão a-histórica dessa moralidade, ou tornar certas passagens incompreensíveis, como é o caso da nossa dificuldade em decifrar o sentido do ritual que leva ao sacrifício de Meneceu. A solução de Moerbeck é novamente pensar a produção histórica dos fenômenos, isto é, historicizar o rito.6 O tratamento dado pelo autor à dimensão espacial da produção e reprodução das relações sociais das Grandes Dionisíacas na Atenas do século V a.C. tem como resultado explicitar a interpenetração do político, do econômico e do religioso nos festivais. Outro importante resultado é que aquela moralidade pan-helênica com a qual as tragédias dialogam é vista como algo que é criado, transformado, que se consolida ou se enfraquece, isto é, em termos propriamente históricos. As tragédias de Eurípedes se revelam como um território de observação da contestação constante que se ofereceu a essa moralidade no contexto da Guerra do Peloponeso.
O lugar do religioso em meio às guerras contra os persas e à Guerra do Peloponeso remete necessariamente às regras de comportamento entre as cidades gregas nesse contexto belicoso. Do mesmo modo, a efetividade dessas regras conecta-se à efetividade da dimensão religiosa que lhes dá suporte. A análise de Moerbeck demonstra que tanto as tragédias de Eurípedes quanto a narrativa histórica tucidideana (como no caso de Mitilene e Melos) denunciam a falha sistemática em se cumprir tais regras. E, nesse sentido, uma das poucas lacunas que se pode apontar ao trabalho de Moerbeck é a de não ter explorado mais o quanto sua abordagem de historicizar essa moralidade permite colocar em questão a homogeneidade da identidade pan-helênica, uma homogeneidade que até pouco tempo era tida como consolidada nesse momento da história das cidades da Grécia. Ainda assim, seu estudo é um excelente ponto de partida para os futuros pesquisadores interessados em desenvolver essa linha de investigação.
1 VERNANT, Jean-Pierre, & VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 2005.
2 MOERBECK, Guilherme. Guerra, política e tragédia na Atenas Clássica. Jundiaí: Paco Editorial, 2014.
3Cf. PIERUCCI, Antônio Flávio. O desencantamento do mundo: todos os passos do conceito em Max Weber. São Paulo: Editora 34, 2013.
4 GALEGO, Julian. La democracia em tiempos de tragédia: asamblea ateniense y subjetividad política. Buenos Aires: Miño y Davila, 2005.
5 SOURVINOU-INWOOD. Christiane. Tragedy and Athenian religion. Lanham, MD: Lexington Books, 2003.
6Para uma colocação precisa destes problemas, cf. VERSNELL, H. S.Inconsistencies in Greek and roman Religion 2. Transition and Reversal in Myth & Ritual. Leiden: Brill, 1994.
Referências
GALEGO, Julian. La democracia em tiempos de tragédia: asamblea ateniense y subjetividad política. Buenos Aires: Miño y Davila, 2005. [ Links ]
MOERBECK, Guilherme. Guerra, política e tragédia na Atenas Clássica. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. [ Links ]
MOERBECK, Guilherme. Entre a religião e a política: Eurípedes e a Guerra do Peloponeso. Curitiba: Prismas, 2017. [ Links ]
PIERUCCI, Antônio Flávio. O desencantamento do mundo: todos os passos do conceito em Max Weber. São Paulo: Editora 34, 2013. [ Links ]
SOURVINOU-INWOOD. Christiane. Tragedy and Athenian religion. Lanham, MD: Lexington Books, 2003. [ Links ]
VERNANT, Jean-Pierre, & VIDALNAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 2005. [ Links ]
VERSNELL, H. S. Inconsistencies in Greek and roman Religion 2. Transition and Reversal in Myth & Ritual. Leiden: Brill, 1994. [ Links ]
Uiran Gebara da Silva – Professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco/Instituto de História, Programa de Pós-Graduação em História, Recife/PE – Brasil. E-mail: [email protected].
Estudos de história metrológica: Medidas de capacidade portuguesas – VIANA (Topoi)
VIANA, Mário. Estudos de história metrológica. Medidas de capacidade portuguesas. Lisboa: Universidade de Lisboa, Centro de História, 2015. 170p.p. Resenha de: TAVARES, Maria Alice da Silveira. Desenvolver a história da metrologia em Portugal: aportações para o estudo das medidas de capacidade. Topoi v.20 n.40 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2019.
Estudos de história metrológica. Medidas de capacidade portuguesas es el primer volumen de Mário Viana , profesor de la Universidad de las Azores, dedicado a esta temática. Se trata de más una etapa para el desarrollo de la história económica y de la metrología, gracias a los esfuerzos del autor en aportar nuevas contribuciones e interpretaciones, en especial, a partir de fuentes portuguesas, al mismo tiempo que evalúa la bibliografía existente. Con este estudio, Viana nos ofrece una panorámica de la metrología en Portugal, desde el siglo IX hasta el XIX, proporcionándonos una perspectiva diacrónica de análisis de amplio espectro cronológico de ocho siglos. La consolidación de esta línea de estudio resulta de la sensibilidad y experiencia por parte del autor que se fue cristalizando a lo largo de estos últimos años, entre 2007 y 2015. Prueba de esto, son los siete capítulos que componen esta obra objeto de la presente reseña. Estos son precedidos por una breve nota previa del mismo autor con la intención de dar a conocer y de aclarar la elección de este objeto de estudio, bien como sus motivaciones. Asimismo, podemos subrayar que los dos primeros estudios tienen una función pedagógica, con los objetivos de proporcionar herramientas de trabajo (fuentes, bibliografía, por ejemplo) y de introducir al lector en las problemáticas de la historia metrológica.
El primer capítulo, “A história metrológica portuguesa. Breve roteiro ideográfico”, de carácter pedagógico, tiene un doble enfoque: dar a conocer la historia metrológica portuguesa desde finales del siglo XII hasta la actualidad y hacer un punto de la situación de las investigaciones desarrolladas en este campo del conocimiento histórico, proporcionando nuevas aportaciones. Asimismo, se pretende introducir al lector en las discusiones actuales sobre esta temática, proporcionándole algunos ejes de discusión relacionados, en primer lugar, con la idea de caos asociada a las iniciativas de uniformización del sistema métrico decimal no solo en Europa, sino también en Portugal, en perjuicio de los pesos y medidas locales. La inflación del sistema métrico decimal y a continuación, las diferencias metrológicas, según las distintas regiones de Portugal, son otros parámetros objeto de atención en este estudio. A modo de colofón, el autor nos proporciona un listado bibliográfico sobre la historia de la metrología en Portugal, proporcionándonos un instrumento de trabajo y un punto de orientación para futuras investigaciones en este campo del conocimiento histórico.
Dentro de la misma temática, el segundo capítulo – “Medidas de capacidade medievais portuguesas: uma revisão” -, consiste en la publicación de los resultados presentados en el evento científico (O reino, as ilhas e o mar oceano. Estudos em homenagem a Artur Teodoro de Matos de Matos, edição de Avelino de Freitas de Meneses e João Paulo Oliveira e Costa, Lisboa – Ponta Delgada, Centro de História de Além-Mar – Universidade dos Açores, 2007, v. I, p. 59-80), celebrado en Portugal. Mário Viana nos hace el estado de la cuestión de las fuentes y de los estudios sobre las medidas de capacidad utilizadas durante la Edad Media en Portugal, mientras que, por otro lado, nos propone una reevaluación de la bibliografía existente sobre este objeto de estudio. Con este ejercicio, el autor pretende hacer una nueva reflexión sobre el sistema metrológico portugués, con el objetivo de demonstrar que se trata de un método con características propias, organizado, contradiciendo las teorías anteriores defensoras de la existencia de una métrica confusa y desordenada.
El tercer capítulo, “As medidas de capacidade nas inquirições de 1258” fue publicado anteriormente en la obra colectiva, Olhares sobre a história. Estudos oferecidos a Iria Gonçalves, Lisboa, Caleidoscópio, 2009, p. 691-702. El título nos remite directamente para el objeto de estudio – las medidas de capacidad -, observadas con base en las actas de las inquiriciones regias, fechadas de 1258, relativas a la región entre los ríos Cávado y Miño, en el Norte de Portugal. Se trata de un artículo con características peculiares, una vez que esta investigación resulta de una ósmosis entre la historia y las tecnologías, gracias a la aplicación (INQExpert) de búsqueda automatizada de texto basada en el sistema de lenguaje Java. Esta metodología posibilitó estudiar y reconstituir el sistema de medidas de capacidad tanto para sólidos, como para líquidos, en el Noroeste portugués. Este output se desarrolló en el ámbito del proyecto INQ1258, coordinado por el propio autor – Mário Viana -, que contó con financiación del Gobierno Autonómico de las Azores (Dirección Regional de Ciencia y Tecnología de las Azores, con la referencia: DRCT00276M2.1.2/I/008/2006).
Como el título nos indica – “Para a história da metrologia em Portugal: um documento de 1353 relativo a Bragança” – el presente capítulo consiste en el estudio de un documento relativo al concejo de Bragança (localizado en Nordeste de Portugal, cerca de la frontera con España), de la segunda mitad del siglo XIV (1353), que se encuentra en el Archivo Distrital de la referida ciudad. Este documento trata de un conflicto entre las gentes de Bragança y el concejo por culpa de las medidas de capacidad utilizadas para medir el vino. Este problema sirvió de punto de partida para explicar la política y la reforma de los pesos y medidas del rey D. Pedro I (1356-1367) que data de 1357-1358. Las informaciones de este texto fueron publicadas en la revista de la Universidad de las Azores: Arquipélago. História, Ponta Delgada, 14-15 (2010-2011). Por último, a modo de colofón, podemos apreciar la edición del documento.
El quinto capítulo – “Para a história da metrologia em Portugal: dois documentos de 1358-1360 relativos a Coimbra” -, es un ensayo con una estructura particular al igual que el anterior, pues Mário Viana trae nuevas contribuciones a partir de documentación referente a situaciones de conflictos. Una vez más, el autor se refiere a una contienda entre el concejo de Coimbra y el monasterio de Santa Cruz que asumió la defensa de la aldea de Ansião, término de la susodicha ciudad. Con base en los dos documentos que se encuentran editados al final del capítulo, en los anexos, el autor pretende demostrar una clara intervención gradual del poder regio en controlar las instituciones económicas locales, entre las cuales los pesos y las medidas utilizadas en los concejos y en sus términos. De este modo, se evidenció el impacto de la aplicación de la reforma metrológica otorgada en 1357-1358 por el rey D. Pedro I (1356-1367), aunque estas conclusiones fueran publicadas, igualmente, en la revista azorina, Arquipélago. História, de la Universidad de las Azores, en el año 2009, con las páginas 281-295)
A continuación, podemos encontrar el sexto texto, “A regulação metrológica em Portugal nos séculos XV e XVI” que fue publicado, de forma parcial, en otro capítulo anterior, “A metrologia nas posturas municipais dos Açores (séculos XVI-XVIII)”, en la obra colectiva: O Faial e a periferia açoriana nos séculos XV a XX. Actas do V Colóquio, Horta, Núcleo Cultural da Horta, 2011, p. 279-312. En este ensayo, el autor enfoca los mecanismos de reglamentación de los pesos y de las medidas y, por otro lado, reflexiona sobre los procesos de uniformización metrológica implementada por el poder regio a lo largo de la Edad Media, con el apoyo del poder local. En este sentido, el presente capítulo está organizado en dos ejes basilares: la implementación de la figura del funcionario regio, “almotacé-mor” en los concejos y su respectiva jurisdicción. El segundo dice respecto a la política de uniformización de pesos y medidas, a par de otras iniciativas que acompañan las tendencias de control del poder local y de desarrollo de una política fiscal.
En el último capítulo, “As medidas de capacidade nos Açores em 1868”, consiste en un estudio que fue publicado anteriormente en la obra colectiva, Aquém e além de São Jorge: memória e visão, Lisboa, Centro de História d’Aquem e d’Além-Mar, 2014, p. 143-164. Como el título indica, Mário Viana nos adentra en las medidas de capacidad utilizadas en el archipiélago de las Azores, en la segunda mitad del siglo XIX, más en concreto, en 1868, en el marco de la implementación del sistema métrico decimal en Portugal. Para lograr sus objetivos, el autor se fundamenta, en especial, en una fuente decimonónica: Mapas das medidas do novo sistema legal comparadas com as antigas dos diversos concelhos do reino e ilhas. A través de esta obra, tenemos acceso a datos metrológicos de 21 “distritos” (circunscripciones administrativas) y 439 concejos portugueses. En el caso particular de las Azores, los datos observados corresponden a los “distritos” de Angra de Heroísmo (isla Terceira), Ponta Delgada (isla de São Miguel) y Horta (isla de Faial). A partir de estas indicaciones metrológicas, el autor analiza y coteja las variaciones de las medidas de capacidad para líquidos y sólidos en el archipiélago azorino, con recurso sobre todo a la cartografía isleña. En el anexo del referido capítulo, podemos encontrar una serie de tablas esquemáticas con las medidas de capacidad (tonel, pipa, almud, “pote”, “canada”, cuartillo, medio cuartillo y cuarto cuartillo) utilizadas en el siglo XIX, en las islas de las Azores.
En suma, se trata de una obra importante para el desarrollo de la historia económica y para el estudio de la metrología en Portugal desde la Edad Media hasta la época contemporánea. Además, Mário Viana nos aporta nuevas investigaciones, sobre todo, en consonancia con el uso de las tecnologías, herramientas de trabajo indispensables en el desarrollo de investigaciones en las ciencias sociales y humanas.
Referências
Mário Viana . Estudos de história metrológica. Medidas de capacidade portuguesas. Lisboa: Universidade de Lisboa, Centro de História, 2015, 170p. [ Links ]
Maria Alice da Silveira Tavares – Investigadora da Universidade Nova de Lisboa/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa – Portugal. E-mail: [email protected].
Sonhos da periferia: inteligência argentina e mecenato privado – MICELI (Topoi)
MICELI, Sergio. Sonhos da periferia: inteligência argentina e mecenato privado. 1. ed.. São Paulo: Todavia, 2018. 184p.p. Resenha de: TEDESCO, Alexandra. Do retrocesso ao sonho. Topoi v.20 n.40 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2019.
Obedecendo às escolhas teóricas da obra, não se pode acusar o leitor de contrariar o autor ao vincular a publicação do livro Sonhos da periferia (2018) a um projeto mais amplo, que perpassa a trajetória intelectual do sociólogo Sergio Miceli e que, como argumentaremos, parece, em seus termos, se constituir como mais um lance de um robusto projeto existencial, capaz de dotar de sentido heurístico as escolhas de recorte e as operações de enquadramento que organizam o livro. O ponto de vista que aqui se assume está construído a partir de um repertório conceitual afinado com o do autor, o que permite que o argumento do livro, bem como a investida que a publicação representa num campo específico – a saber, aquele da sociologia dos intelectuais e da história intelectual que tanto impulso ganhou nos estudos latino-americanos das últimas décadas a partir da circulação dos aportes de Pierre Bourdieu -, sejam cotejadas de modo simultâneo. Busca-se, com isso, apreciar o livro a partir de um procedimento análogo ao que o autor direciona a seus objetos, objetivando, desse modo, que essa resenha crítica contribua para destacar o caráter frutífero das considerações de ordem teórica e metodológica que perpassam a obra publicada pelo sociólogo e professor titular de sociologia na Universidade de São Paulo, Sergio Miceli.
O livro está dividido em três partes. Além da introdução constam um capítulo sobre as vanguardas argentinas e brasileiras sob prisma comparativo, um artigo sobre a revista Sur e, finalmente, um capítulo dedicado às trajetórias de Alfonsina Storini e Horacio Quiroga. Esta resenha acompanhará os argumentos na ordem de sua exposição, no intuito de dar prioridade às operações de enquadramento e às escolhas de recorte que parecem costurar o ordenamento dos temas, fornecendo assim os subsídios para um balanço final.
Na introdução, Miceli explicita que a escolha do recorte, a década de 1920, se justifica pelo fato de que nesse contexto coincide, em Brasil e Argentina, a emergência de vanguardas literárias imbricadas em regimes oligárquicos de fachada democrática: no caso brasileiro, a aliança que ficou conhecida como república do café com leite, sob predomínio paulista e, no caso argentino, os áureos tempos de Marcelo de Alvear. Especialmente no caso argentino, observa Miceli, os anos 1930 assistem a um processo de crise e de mudança na morfologia da inteligência, contexto que reforça o predomínio de um mercado intelectual fundamentado em relações pessoais de mecenato e legitimação endógena. Em oposição, pois, ao caso brasileiro, no qual análogo estado crítico levou a um regime de cooptação dos intelectuais (aspecto já proficuamente abordado por Miceli, diga-se de passagem, no compêndio publicado em 2001, Intelectuais à brasileira). Essa distinção entre os dois países – a predominância do mecenato privado na Argentina e o regime de engajamento nos cargos públicos no Brasil – perpassa todo o argumento do livro, e é enriquecida, no argumento de Miceli, a partir de outros traços diferenciais, a saber, o estatuto mais internacional (e internacionalizável) do idioma espanhol em relação ao português e, tangencialmente, indicativos como o diferente grau de abertura aos protagonismos femininos: a empreitada de Victoria Ocampo, por exemplo, não tem paralelo brasileiro, nem mesmo tomando em conta a contingente trajetória de Patrícia Galvão. A Sur, aliás, revista de Ocampo, já se erige, nesse momento do texto, como plataforma privilegiada de observação das tensões que Miceli se propõe a perscrutar, não pela sua muito celebrada sofisticação estética mas, ao contrário, pelo que a revista – principalmente a partir da observação da morfologia e da sociabilidade de seus membros fixos – revela da formação daquele campo intelectual. Desse modo, concentrando-se na passagem dos anos 1920 aos anos 1930, Miceli pretende capturar o momento de germinação de um interlúdio que compreende, em seus termos, o estouro da vanguarda martinfierrista e a decantação da reforma literária protagonizada por Sur. A bibliografia prolífica em torno da revista, sustenta Miceli, não incidiu de modo sistemático num aspecto constitutivo da revista, a saber, a materialidade das eleições dos índices, do projeto gráfico, do tamanho das seções, das propagandas de vultosos bens de consumo, da existência de memoriais, enfim, de toda uma sorte de pontos de observação que podem ser acionados na composição de uma análise que leva em conta aspectos como perfil de renda e de gosto dos leitores, pontos fundamentais para sustentar a aposta de Miceli de que toda disposição intelectual retém as marcas das condições nas quais se formou. A continuidade projetiva do livro é o arremedo da introdução, e dá o tom da argumentação subsequente. Em seus termos, “as vanguardas em retrocesso se transmutaram em quadros intelectuais cosmopolitas” (p. 17).
O primeiro capítulo, “A vanguarda argentina na década de 1920”, apresenta-se como resultado de um esforço que se pretende um compêndio de traços estruturais do campo literário argentino no período em questão, a partir da situação periférica que a Argentina ocupava na Republica Mundial das Letras. Esse é, aliás, o primeiro dos objetos aos quais Miceli se dedica em sua tarefa comparativa, na medida em que a relação de Brasil e Argentina com as ex- -metrópoles se apresenta distinta não apenas em grau mas, sobretudo, em efeito no campo – a escolha do título do livro já está, a essa altura, plenamente consonante com as escolhas teóricas do autor. O fato de que, na Argentina, a ausência de iniciativa pública em matéria de cultura tenha sido resiliente chama atenção como dado constitutivo da predominância do mecenato privado, que amplia sua influência conforme a literatura argentina vai reforçando seu intercâmbio internacional. Tal situação é confrontada com o contraexemplo brasileiro, no qual, destaca Miceli, além de não ser possível falar em uma relação sólida com os modernistas portugueses, a estabilidade do funcionalismo público fornecera, aos brasileiros, um estatuto precocemente profissional em relação ao país vizinho.
O caso do Brasil, funcionando enquanto ponto comparativo, ajuda a perceber, na sequência do argumento, que o funcionamento do nascente campo intelectual argentino esteve permeado por fissuras e tensões muito específicas. A questão da imigração, por exemplo, e sua incidência nas discussões sobre o idioma nacional, a partir das quais as posições intelectuais pareciam responder ao chamado de “preservar o que enxergavam como o tesouro do espanhol castiço passou a fazer as vezes de custódia das prerrogativas sociais cuja continuidade parecia em risco” (p. 28), bem como as clássicas fissuras de classe, como aquela explicitada pela sociabilidade de Boedo e Florida, compõem o argumento de Miceli. Tudo se passa como se os brasileiros se tivessem deixado contaminar menos pela vida pública do que os argentinos pelas relações que os cercavam, emoldurando um quadro em que “em ambos os países, o campo intelectual foi sendo modelado por forças sociais de elite cujas bases de sustentação material e simbólica estavam desigualmente sediadas na esfera estatal e no setor privado” (p. 37).
Após esse estudo comparado, o segundo capítulo, que retoma alguns pontos do livro de 2012, Vanguardas em retrocesso, intitula-se sugestivamente “A inteligência estrangeirada de Sur”. Se é ponto pacífico que poucas instituições culturais receberam tantos olhares acadêmicos como a revista dirigida por Victoria Ocampo, não é menos recorrente que as posições de revisão se enfrentem com uma espiral de filiações de prestígio e de recusas ideológicas. Miceli não deixa de situar sua posição, momento em que, inclusive, sua opção pela originalidade que a sociologia dos intelectuais pode aportar a temas canônicos da historiografia e da crítica literária se faz mais proeminente. Nesse sentido, apesar da vasta literatura, salienta Miceli, “posições tão antagônicas por vezes silenciam a respeito de feições sociais, políticas e intelectuais dos patronos das revistas, das quais preferem se esquivar” (p. 38). Apartado, pois, das acusações de que a Sur era um reflexo superestrutural da oligarquia agropecuária e, ao mesmo tempo, da tradição laudatória que a julga a partir de seu próprio cânone, a saber, o gosto bom e belo, Miceli pretende inserir-se na senda aberta por autores como Tulio H. Donghi e John King, a partir das quais a revista se torna objeto de análise social, não somente estético. Nesse sentido, a sociabilidade do círculo íntimo de Ocampo, suas relações familiares, seus gostos e preferências presumidas, todos esses dados ajudam a observar que, para além das adesões refletidas dos membros e do reivindicado apoliticismo da revista, opera um senso prático e um conjunto de posições que garantem a inteligibilidade social do empreendimento.
A narrativa de Miceli é pródiga em acompanhar o amadurecimento de uma tensão que levará ao descrédito da Sur frente à opinião pública nos anos que se seguem à caída de Perón, após 1955, mas que já está posta a partir dos primeiros anos da década de 1940. O efeito que os fascismos europeus causam nas revistas irmãs do empreendimento de Ocampo, a Nouvelle Revue Français e a Revista de Occidente – de Ortega y Gasset – constrangem a Sur a rever sua posição de ostentatória neutralidade. Num espaço de meses, pontua Miceli, relações sólidas da revista, como o próprio Ortega e Drieu de la Rochelle, passam a criticar a postura “ambígua” de Sur frente ao acirramento das tensões no velho continente, momento em que a “neutralidade” deixava de parecer uma opção viável. Politicamente, sugere Miceli, a revista fez o jogo das forças conservadoras enquanto, culturalmente, deu impulso inédito e vigoroso ao mercado editorial. Essa posição de hegemonia das consagrações culturais relacionava-se, para o autor, com uma opção constante na trajetória da revista, a saber, a transmutação das lutas sociais em dilemas civilizatórios, aos quais os intelectuais vinculados à Sur respondiam, a rigor, num tom abertamente espiritualista e impressionista, como se acompanha, sobretudo, a partir dos textos de Eduardo Mallea.
Sociabilidade fundamentada na antiguidade de seu prestígio, aponta Miceli, a Sur é também o espaço privilegiado de consolidação de um cânone, Jorge Luis Borges, a quem Miceli dedica as páginas mais ácidas de sua análise. O autor destaca que, em consonância com o caráter sempre arredio de Borges às críticas dos “especialistas” e à sua postura de juiz sentencioso, a crítica sempre foi imensamente generosa com o escritor. Não por acaso, nesse sentido, “a brigada de comparsas combatia ‘o exercício ilegal da crítica’, a saber, as incursões de acento sociológico, desacatos à ortodoxia dos magistrados do belo” (p. 77). A posição de Borges nas relações de seu tempo, bem como os influxos da crise internacional, são observados, no argumento de Miceli, a partir da própria prosa borgeana, atentando para uma cumplicidade de habitus que se expressa nas narrativas. Alguns efeitos de erudição, como pequenas alusões em francês, por exemplo, contribuem para evidenciar o argumento de Miceli a respeito da relação que Borges mantinha com seus discípulos, entre eles Mallea: “enquanto os artilheiros da brigada destroçam as investidas materialistas do sociologismo, o sumo sacerdote ensaia o esboço da ontologia que lastreia os artifícios literários” (p. 85). A ontologia de Sur, a metafísica de Borges: eficientes modos de negar a temporalização histórica e as análises de cunho social que sua aceitação certamente permite. Em epílogo contrastivo, lemos que esse mesmo Borges, patrono do autodidatismo cultivado dos dândis portenhos, cozinhado em caldo europeu, não encontra análogo brasileiro, o que justifica sua escolha exemplar.
O terceiro e último capítulo pode parecer, num olhar apressado, destoar do tema dos dois anteriores. “Sexo, voz e abismo”, no entanto, não apenas corrobora as teses de Miceli quanto ao hermetismo do círculo de Sur como, positivamente, ajuda a compreender essas redes da década de 1930 como um espectro constitutivo de trajetórias possíveis. Alfonsina Storini e Horácio Quiroga aparecem, em tom dramático, “prensados entre o rechaço movido pelos líderes da vanguarda martinfierrista e a adulação concedida pelos periódicos de ampla tiragem” (p. 97). As duas trajetórias, marcadas por tragédias pessoais e pela resistência profissional que encontraram de parte do grupo das vanguardas e, depois, da própria Sur, são analisadas no marco de uma relação tensional entre a condição biográfica marginal dos dois autores e sua ampla inserção nos projetos mais avançados da indústria cultural de então. Miceli nos apresenta duas trajetórias polivalentes, distantes do tom blasé com o qual seus contemporâneos de Sur criticavam a cultura de massa. Obra e vida de Storini e Quiroga aparecem, ao contrário, perpassadas pela indústria cultural. Assim, o melancólico Quiroga e a provocativa Alfonsina, reabilitados pelas críticas dos anos 1980 e 1990, recuperam o lugar da marginalidade morfológica que é, em termos analíticos, o contraponto necessário das posições de Sur. Para capturar essa tensão, Miceli recorre às fotografias públicas de Quiroga e Alfonsina, recurso que o permite capturar os trejeitos, a sociabilidade e a inserção de suas figuras, tão menos documentadas que as do círculo de Victoria Ocampo, cujas fotografias com grandes nomes do jet set intelectual internacional são, desde muito, célebres.
Chama a atenção, no entremeio da prosa sofisticada de Miceli, o recurso à uma estratégia analítica que, mais que uma sub-reptícia tomada de posição teórica, apresenta-se de modo sumamente honesto ao leitor: a revisão de objetos muito revisitados não é gratuita, mas obedece a um propósito que, se não pode, evidentemente, aparecer aqui como “estratégia oculta” ou mesmo como teodiceia subversiva, certamente pode ser apresentada como uma alternativa à história das ideias que, costumeiramente, é laudatória em relação à figuras simbólicas tão potentes como a Sur. A aposta na morfologia do campo, nas relações de parentesco e antiguidade do prestígio, entre outras, ajuda a pensar as distintas relações que esses intelectuais mantiveram com a indústria cultural e com as demandas de seu tempo enquanto variações de uma disputa mais robusta que envolvia não apenas um ethos, mas uma visão de mundo e, assim, uma aposta normativa sobre ele. Percebe-se, por exemplo, que a prosa sempre robusta de Miceli incide criticamente em Borges e se suaviza quando se trata de pensar o caso dos outsiders Alfonsina e Quiroga. Não compreendendo essa oscilação como uma escolha somente afetiva do autor, mas como um componente de seu argumento, tudo se passa como se a análise de cariz sociológico fosse capaz de restituir, pelo descortinamento que opera, o lugar das figuras menores, obscurecidas por uma tradição que costumava creditar o sucesso ao gênio e vice-versa, sem atentar-se para as inflexões sociais das posições ou, num extremo oposto, associando de modo irrefletido uma tomada de posição teórica a uma adesão ideológica manifesta. A sociologia aparece aqui, como antes aparecia em Bourdieu, como esporte de combate: trata-se de propor uma narrativa menos complacente com a dos sonhos estéticos da vanguarda.
Entrar em contato com o livro de Miceli é, por todo o exposto até aqui, abrir-se para um repertório criativo e inovador de análises que procuram, a partir de luz nova, observar fenômenos consagrados de história intelectual. Para além do rigor documental e da prosa erudita do sociólogo, nesse sentido, a aposta comparativa e a análise de trajetórias contribuem para alocar o livro, sem ressalvas nesse momento, num movimento de renovação que é, sintomaticamente, protagonizado por historiadores e sociólogos argentinos como Alejandro Blanco e Carlos Altamirano. Em certo momento da análise de Sur e dos vínculos societários por ela organizados, Miceli aponta que “para desconcerto dos estetas, o anúncio de pianos de cauda é tão revelador quanto a peroração patrioteira de Mallea ou os artifícios literários de Borges” (p. 14). Ilustrando a tese a partir de seu próprio texto, Miceli nos fornece uma chave de leitura interessante para a dedicatória que inaugura o livro, dirigida aos hermanos Alejandro Blanco, Adrián Gorelik, Carlos Altamirano e Jorge Myers: interlocutores de seu projeto intelectual e colaboradores da aproximação comparativa em termos latino-americanos. Desse modo, a opção pela linguagem marcadamente sociológica, o tom combativo de algumas considerações e, principalmente, essa retumbante vinculação que abre o livro, nos parecem tão reveladores quanto a análise minuciosa da documentação e o rigor analítico do autor, dimensões polifônicas que tornam o livro indispensável para qualquer um que esteja interessado, e aberto, aos temas mais candentes da história intelectual latino-americana e, ao mesmo tempo, à sua interface de colaboração disciplinar.
Referências
MICELI, Sergio . Sonhos da periferia: inteligência argentina e mecenato privado. 1. ed. São Paulo: Todavia, 2018, 184p. [ Links ]
Alexandra Tedesco – Doutora pela Universidade Estadual de Campinas/Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de História, Programa de Pós-graduação em História, Campinas/SP – Brasil. E-mail: [email protected].
A Persistent Revolution: History, Nationalism, and Politics in Mexico since 1968 – SHEPPARD (Topoi)
SHEPPARD, R. A Persistent Revolution: History, Nationalism, and Politics in Mexico since 1968. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2016. 392 p.p. Resenha de: SILVA JÚNIOR, José Antonio Ferreira. Nacionalismo revolucionário e a política do discurso no México. Topoi v.19 n.39 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2018.
O México vem atraindo atenção da grande mídia nos últimos tempos principalmente por sua relação cada vez mais delicada com os Estados Unidos. Após a eleição de Donald Trump (2016), o tema dos imigrantes ilegais e a construção de um muro na fronteira mexicana se tornaram tópicos recorrentes. O livro de Randall Sheppard, A Persistent Revolution (disponível on-line na plataforma Project Muse), é uma importante contribuição acadêmica a questões que voltaram a surgir neste contexto e que demonstram como as análises da situação política mexicana ainda são parciais e enviesadas a partir do “poderoso vizinho do norte”. O historiador da Universidade de Leiden, na Holanda, dedica-se a estudar as relações entre política e história na construção do nacionalismo no México dominado pelo Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido este que se construiu ao longo do século XX como o suposto herdeiro da Revolução Mexicana.
Esta não é a primeira publicação do autor sobre a história mexicana. O livro é resultado de seu doutorado, conduzido na Univesidade La Trobe, na Austrália. Tendo passado por um pós-doutorado na Alemanha, em Colônia, entre 2013 e 2016, suas produções mostram-se dedicadas a estudar o México durante o século XX. Em dois artigos, analisou a dimensão discursivo-política em torno da crise econômica do México nos anos 1980 e a construção de um pavilhão dedicado ao país num parque temático do Walt Disney World. A Persistent Revolution, como trabalho de maior profundidade, permite a Sheppard pesquisar um período mais amplo e dar conta das transformações que o discurso oficial do nacionalismo revolucionário sofreu ao longo de uma série de conjunturas políticas, econômicas e sociais durante o século XX e início do XXI.
Partindo de aportes teóricos consagrados, como os de Benedict Anderson e Eric Hobsbawm, em torno do nacionalismo, seus argumentos visam compreender como símbolos e mitos da história mexicana foram ressignificados conforme a necessidade do Estado príista e de atores políticos que buscaram legitimidade social no México. Dentre outras referências importantes para este livro estão os trabalhos de Mauricio Tenorio Trillo, historiador mexicano que atua na Universidade de Chicago. Esse autor destaca a importância do nacionalismo como categoria interpretativa da história mexicana. A obra de Claudio Lomnitz, antropólogo chileno da Universidade de Columbia, também é essencial para Sheppard interpretar e aplicar a teoria de Anderson sobre o nacionalismo na América Latina dos séculos XX e XXI. Além deles, os estudos de Ilene O’Malley, Thomas Benjamin, Samuel Brunk e Lynn Stephen são indicados como bibliografia básica no tema.
Segundo o autor, a construção e a consolidação do estado pós-revolucionário pelo PRI utilizou-se de mecanismos políticos e econômicos que pretendiam basear a sociedade em direitos coletivos adquiridos no processo revolucionário: as conquistas trabalhistas, a nacionalização do petróleo de 1938 e a reforma agrária são exemplos de como diferentes grupos foram setorizados na lógica corporativista da relação Estado-sociedade criada e fomentada pelo partido. Da mesma maneira, segundo Sheppard, mecanismos simbólicos foram essenciais nestes anos do século XX, neste período de construção do Estado-nação, para garantir a coesão social em torno do projeto nacional. Referências aos líderes do passado mexicano desde a independência da Espanha, em 1810, constituíram a principal forma de atribuir sentidos e significados às políticas pós-revolucionárias. No período de construção do Estado, então, teria ocorrido a consolidação de uma história nacional que narrava seus processos como momentos de ruptura capazes de estabelecer ou corrigir o percurso de desenvolvimento da nação. A Revolução do começo do XX, assim, foi vista como o “fim da história mexicana” (p. 59). O PRI erigiu-se como a manifestação da vontade da maioria da população que desejaria perpetuar suas conquistas e honrar as lutas daqueles heróis do passado que haviam se sacrificado para que o país atingisse tal momento.
A obra é dividida em seis capítulos que tratam de momentos políticos do país entre 1968 e 2012, investigando desde os usos da história pela política até campanhas eleitorais e resistências enfrentadas pelo PRI. Utilizando principalmente fontes oficiais, como pronunciamentos de líderes políticos em cerimônias cívicas, Sheppard analisa com cuidado a construção e o desenvolvimento do discurso nacionalista como orientador da ação política do governo mexicano.
Os capítulos seguem uma lógica temporal linear, entrelaçando temas políticos, econômicos e culturais com o contexto social do período em questão. Partindo da repressão violenta ao movimento estudantil no chamado Massacre de Tlatelolco (1968), o autor estuda como o presidente em exercício viu-se obrigado a enfrentar o descontentamento com o caráter autoritário que o Estado príista estava desenvolvendo. A partir de então, de acordo com Sheppard, todas as eleições presidenciais foram momentos de reconstrução da identidade e relação entre povo e partido, entre sociedade e Estado, entre os mexicanos e o PRI. As crises internacionais do petróleo na década de 1970 e a consequente crise por conta da dívida externa, já nos anos 1980, indicaram o esgotamento do modelo político-econômico empreendido até então no país. As reformas neoliberais que começaram a ser definidas no governo de Miguel de la Madrid (1982-1988), e caracterizaram um intenso processo de modernização no governo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), pautaram as maiores transformações na lógica do nacionalismo revolucionário do PRI. Nesse contexto, o partido tinha de se sustentar como herdeiro da revolução enquanto implementava medidas que desconstruíam conquistas sociais que por tantos anos mantiveram a legitimidade do partido no poder. Essa conjuntura dos anos 1980 e 1990, que tem um de seus pontos cruciais na assinatura do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), em 1994, é o foco principal do autor neste livro.
Em 2000, o PRI sofreu sua primeira derrota eleitoral na disputa pela presidência do México, chegando ao poder o conservador Partido Acción Nacional (PAN). Assim, Sheppard argumenta e analisa como a crise de representação que retirou o PRI do poder tem, na verdade, raízes mais profundas no modo como o Estado vinha lidando com as necessidades e as questões sociais do país. Ao estudar os governos do PAN (2000-2012), fica claro que não houve uma ruptura com as práticas políticas do Estado príista. O autor demonstra que foi este entendimento que fez o povo mexicano optar nas eleições de 2012 pelo candidato do PRI, agora com uma agenda renovada e estruturada em premissas distintas daquelas dos governos anteriores.
Cada capítulo é precedido por um breve texto introdutório que o autor chama de snapshot, uma descrição aproximada do contexto político e social do país em cada um dos momentos considerados chave para as transformações e as reconfigurações do nacionalismo revolucionário mexicano. Esses textos servem como uma boa estratégia que permite ao leitor não especialista conhecer alguns detalhes de eventos que marcaram a história do país nos últimos anos. Dessa forma, Sheppard tem maior liberdade para abordar alguns acontecimentos, permitindo uma leitura mais fluida. Os capítulos, assim como os snapshots, trazem fotografias de alguns dos eventos mencionados que chamam atenção para a dimensão visual de monumentos, protestos, personagens e líderes.
A construção do discurso nacionalista, como estabelecem Anderson e Hobsbawm, passa também por apropriações populares que se expressam por outros circuitos além dos discursos oficiais, revistas intelectuais e imprensa (principais fontes do autor). O livro, embora não contemple com igual atenção outras manifestações populares, apresenta potencialidades: analisa movimentos sociais independentes ao PRI em protesto contra as diretrizes políticas impostas pelo Estado; elenca uma série de grupos que, longe de aceitar o nacionalismo revolucionário príista, criaram suas próprias dinâmicas de comunicação e construção identitária (sendo o mais representativo o neozapatismo dos anos 1990); e, por fim, indica como algumas minorias baseadas em identidades de diversidade cultural ou de gênero também se envolveram nos processos discutidos no livro. Novas pesquisas e trabalhos podem centrar-se nesses casos para analisar produções socioculturais que nos permitam observar como o nacionalismo e as identidades foram se constituindo em outros âmbitos da sociedade mexicana, além dos oficiais.
Esses temas de investigação já estão sendo explorados em obras como ¡Viva la Historieta! Mexican comics, NAFTA, and the Politics of Globalization (University Press of Mississippi, 2009), de Bruce Campbell, que analisa histórias em quadrinho produzidas no contexto da modernização dos anos 1990 e da assinatura do Nafta. Outro livro neste sentido é Detonación: contra-cultura (menor) y el movimiento fanzine de Tijuana (1992-1994) (NortEstación Editorial, 2014), de Pedro Valderrama Villanueva, que apresenta um coletivo de produção cultural independente, no norte do México, num período em que o PAN ocupava o governo da Baja California pela primeira vez.
Com um estilo claro e simples, o texto de Sheppard permite uma leitura cadenciada mesmo para aqueles com um domínio intermediário da língua inglesa. A obra se destaca por ser o resultado de uma pesquisa intensa que renova os debates sobre o nacionalismo. Sua data de lançamento, no cenário político de eleições presidenciais da América do Norte, se mostra oportuna, e suas contribuições podem ser valiosas para uma perspectiva que entenda o México em suas especificidades históricas, políticas e culturais. A Persistent Revolution é uma obra importante que traz discussões em torno da história recente do México, esclarece como o discurso príista resolveu as aparentes contradições entre neoliberalismo e Revolução no fim do XX e oferece uma competente interpretação do governo do PAN no início do século XXI.
Referências
SHEPPARD, R . A Persistent Revolution: History, Nationalism, and Politics in Mexico since 1968. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2016. 392 p. [ Links ]
José Antonio Ferreira da Silva Júnior – Doutorando da Universidade Estadual de Campinas. E-mail: [email protected].
Calibã e a bruxa – FEDERICI (Topoi)
FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa. Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Trad. de Coletivo Sycorax, São Paulo: Elefante, 2017. I Tomo, Migraciones. Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017, 194p.p. Resenha de: REIS, Marcus. A normatização dos corpos e a regulação dos gêneros no processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Topoi v.19 n.39 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2018.
Calibã e a bruxa não é um livro que foge aos debates atuais envolvendo o movimento feminista. O fato de a tradução desta obra para o português ter sido encabeçada justamente por um “Coletivo”, o Sycorax, demonstra o alcance desse trabalho para além do contexto estadunidense. A proposta de Silvia Federicié clara ainda na introdução de sua obra, afirmando seu desejo em “esboçar a história das mulheres na transição do feudalismo para o capitalismo” como modo de explicar a relação entre essa história e a exploração decorrente desse processo. Por outro lado, não se desvincula dos primeiros momentos em que o feminismo se posicionou contrariamente ao status quo, ainda que a publicação original seja de 2004.
Não há, ressalte-se, um apego ao anacronismo por parte de Silvia Federici, como se o conceito de gênero fosse utilizado para enxergar as raízes do feminismo na Época Moderna. A originalidade de sua obra consiste em se preocupar não apenas com a multiplicidade que o conceito de mulher possui, mas principalmente com os espaços sociais distintos e atrelados ao fenômeno sobre o qual a autora se debruça. É nesse sentido que Federici parte para o uso em plural da ideia de mulher, assumindo, no âmbito de seu trabalho, o entendimento de que as práticas capitalistas são essenciais para perceber como as relações sociais em que as mulheres se inseriram estiveram marcadas por um contexto de exploração (p. 27).
Há, também, a preocupação em discutir os conceitos de caráter marxista antes mesmo de operacionalizá-los, como a noção de acumulação primitiva. Ao tratar dessa noção, a autora a articula ao objetivo central de sua obra, a “caça às bruxas”, afirmando que esse fenômeno, seja no mundo europeu ou no Novo Mundo, “foi tão importante para o desenvolvimento do capitalismo quanto a colonização e a expropriação do campesinato europeu de suas terras” (p. 26). É nesse objetivo que, aliás, Federici destaca seu distanciamento das análises de Marx na medida em que o autor, a seu ver, negligenciou a participação das mulheres no contexto da acumulação primitiva. Se Marx “tivesse olhado sua história {do capitalismo} do ponto de vista das mulheres” (p. 27), não teria afirmado que o capitalismo prepararia o caminho para a libertação do proletariado. É, portanto, na tentativa de ampliar a ótica marxista ao atrelá-la à categoria de gênero que seu trabalho se insere, dividindo-se em cinco capítulos.
Seu primeiro capítulo, intitulado “O mundo precisa de uma sacudida”, parte essencialmente da discussão voltada ao surgimento dos Estados Absolutistas, iniciando o debate ainda no contexto da Baixa Idade Média, caracterizada pelas relações de servidão e seus conflitos. No campo das relações de gênero, a contribuição da autora reside no interesse em atrelar o surgimento desses Estados a uma forte política de regulação dos sexos, dos papéis sociais que homens e mulheres deveriam cumprir, apontando para o forte revés sofrido pelas mulheres por conta da legalização do estupro. O resultado disso, para além da degradação da honra feminina, foi o fato de que essa legalização “insensibilizou a população frente à violência contra as mulheres, preparando o terreno para a caça às bruxas que começaria nesse mesmo período” (p. 104).
“A acumulação do trabalho e a degradação das mulheres” confere título ao segundo capítulo da obra de Federici, acompanhando a lógica que finalizou o capítulo anterior, atrelando a emergência dos Estados Absolutistas à maior degradação social das mulheres e à emergência de uma nova feminilidade. É nesse espaço de discussões que, por exemplo, a autora retoma o conceito de acumulação primitiva. Ao defender a hipótese de que esse conceito não diz respeito apenas a uma “acumulação e concentração de trabalhadores exploráveis e de capital”, a autora o entendeu como contexto de reformulação das relações de trabalho a partir da sujeição das mulheres. No entender de Federici, esse contexto contribuiu para o processo de ressignificação das funções sociais prescritas às mulheres, que teria atingido seu auge no século XIX “com a criação da dona de casa em tempo integral”, na medida em que à figura feminina coube exclusivamente o papel de reprodutora, distanciando-a da vida pública por conta da nova divisão sexual do trabalho.1
É também nesse segundo capítulo que a autora passa a apresentar com mais clareza sua hipótese central de trabalho: o fenômeno de caça às bruxas corresponderia à maior derrota sofrida pelas mulheres na medida em que teria culminado no surgimento de um novo modelo de feminilidade. As mulheres seriam, assim, destituídas do universo público, relegadas ao papel de reprodutoras, esposas, viúvas ou prostitutas, ficando, por fim, distantes das “relações coletivas e {dos} sistemas de conhecimento que haviam sido a base do poder das mulheres na Europa pré-capitalista” (p. 187). Desse modo, até finais do século XVII o que predominou foi um novo “cânone cultural”, encarando as mulheres como “selvagens, mentalmente débeis, de desejos insaciáveis, rebeldes, insubordinadas, incapazes de se controlarem”.
Seu terceiro capítulo, “O grande calibã”, analisa como esse processo de disciplinamento dos corpos direcionado às mulheres foi colocado em prática ao longo da Época Moderna, já que, no capítulo anterior, a autora discutiu as bases que permitiram o avanço dessa estrutura normativa. Esse novo contexto foi caracterizado pela dicotomia da “Razão e as Paixões do Corpo”. Como pano de fundo desse binômio, enxergou a emergência de uma “engenharia social” interessada em reinterpretar as funções do corpo e inseri-lo numa nova lógica em que este foi encarado como fonte de todos os males. Sob a filosofia mecanicista, interessada amplamente em destrinchar as funções corporais, Federici percebeu como o controle da classe dominante sobre o mundo natural se deu progressivamente até culminar no “controle sobre a natureza humana”. Como consequência, ocorreu a morte do conceito de corpo enquanto receptáculo de forças mágicas, amplamente difundido ao longo do Medievo. Aqui, sentimos falta de uma reflexão mais atenta à diversidade documental do período. Nesse sentido, em que medida essa morte de fato teria ocorrido nos séculos XVI e XVII se tomássemos por base as narrativas presentes nos processos dos diversos tribunais do Santo Ofício, e não somente os tratados da época?
Outro argumento empregado por Federici baseia-se no crescente interesse da burguesia em desclassificar a magia, encarando-a como principal entrave para o disciplinamento social e, por consequência, do trabalho. Esse ataque aos indivíduos que se valiam do sobrenatural como forma de resposta às demandas cotidianas, foi, inclusive, um dos principais alicerces para que os Estados investissem na perseguição contra a magia, resultando no fenômeno que é base do trabalho da autora. Disciplinar o corpo esteve, portanto, diretamente relacionado à desconstrução da magia, ambas tornando-se “laboratório no qual tomou forma e sentido a disciplina social” (p. 261).
Seu penúltimo capítulo, “A grande caça às bruxas na Europa”, busca, em sua essência, confirmar que o fenômeno da caça às bruxas foi resultado de um processo planejado e encabeçado pelas diversas estruturas de poder, maiormente Igreja e Estados, a fim de levar adiante um disciplinamento social em que as mulheres foram subjugadas.2 Foi, portanto, “iniciativa política”,3 com forte atuação da Igreja Católica por fornecer o “arcabouço metafísico e ideológico” que sustentou as perseguições a partir do século XVI. Além disso, tais perseguições devem ser vistas como uma reação à resistência das mulheres contra as relações capitalistas que ressignificaram a feminilidade. Por fim, esse fenômeno foi instrumento de construção de uma ordem patriarcal que criou modelos de feminilidade prescritos às mulheres, tornando seu “trabalho, seus poderes sexuais e reprodutivos” a serem controlados pelos Estados, segundo a forma de força de trabalho defendida pela burguesia. Se pensarmos numa síntese do que foi esse fenômeno, segundo Federici, poderíamos dizer que a caça às bruxas foi “uma guerra contra as mulheres; {…} uma tentativa coordenada de degradá-las, demonizá-las e destruir seu poder social {…} onde se forjaram os ideais burgueses de feminilidade e domesticidade” (p. 334).
O derradeiro capítulo, “Colonização e cristianização”, se debruça na extensão que o fenômeno da caça às bruxas adquiriu no Novo Mundo. A autora defende que a abrangência desse fenômeno para além do espaço europeu foi motivada pelo interesse das autoridades em utilizá-lo como ferramenta capaz de minar a “resistência anticolonial e anticapitalista” e levar adiante o interesse exploratório. Seu foco se direcionou basicamente ao contexto da América espanhola, percebendo similaridades com o processo de definição da bruxaria no âmbito europeu, como no perfil das mulheres que foram acusadas por esse delito no espaço americano: “as mulheres se converteram nas principais inimigas do domínio colonial, negando-se a ir à missa, a batizar seus filhos, ou a qualquer tipo de cooperação com as autoridades coloniais e os sacerdotes” (p. 402). Tal qual na Europa, a perseguição se direcionou ao combate de práticas e crenças heterodoxas ao catolicismo bem como às revoltas contra o sistema dominante, neste caso, colonialista.
Ao conferir protagonismo a um “sistema em que a vida está subordinada à produção de lucro” (p. 35), o que implica na imposição da violência, a autora acaba por privilegiar sua análise a partir de uma estrutura hegemônica. E, talvez, seja no excessivo olhar estruturante de sua obra que as análises empreendidas por Federici perdem força, principalmente em relação a outros campos de discussões associados ao fenômeno estudado.4 Perde-se a avaliação precisa do peso das práticas encabeçadas pelas mulheres como resultado da própria crença dessas mulheres na sua capacidade de dialogar com o sobrenatural. Ao enxergar nas práticas heréticas protagonizadas por elas ao longo da Baixa Idade Média como exemplos claros de uma verdadeira “revolução sexual”, a autora cai no risco de desconsiderar que, por vezes, essas mesmas mulheres, ao ingressarem no universo do sobrenatural, almejavam apenas a manutenção de seus casamentos, sem que a estrutura normativa fosse colocada em xeque.5
Mesmo ao chamar o “Novo Mundo” para o debate, relacionando-o ao contexto de perseguição à feitiçaria, a autora não se descola de um olhar homogeneizante, como ao considerar o período de 1580 a 1630 como ápice da “caça às bruxas”. Se partirmos para a América portuguesa, espaço que é negligenciado em sua obra, é possível perceber que, mesmo no século XVIII, os índices de denúncias e processos promovidos pela Inquisição portuguesa por esse delito são elevados, até maiores que os números relativos ao século XVI.6
Mesmo nesse século, as realidades são diversas quando comparamos regiões distantes, ainda que seja possível identificar algumas coerências nos argumentos da autora. No contexto inglês, Federici enxerga uma relação intrínseca entre o elevado número de acusações contra supostas feiticeiras em Essex e a grande quantidade de terras cercadas nessa região. O mesmo vale quando a autora, concordando com Henry Kamen, estabelece um paralelo entre as graves crises econômicas e o avanço da perseguição à bruxaria, já que muitas mulheres participaram das revoltas como protagonistas. No entanto, a imprecisão existe quando outros contextos são comparados, como em Portugal, em que a realidade é outra. Conforme apontou Francisco Bethencourt, nesse espaço, a figura da mulher, pobre e marginalizada socialmente, pouco apareceu nos processos da Inquisição lusitana.7
Por fim, outro importante debate historiográfico no qual se insere Calibã e a bruxa diz respeito ao entendimento da autora de que a misoginia, juntamente com o conceito de acumulação primitiva, contribuiu decisivamente para que a “caça às bruxas” se sustentasse como importante ferramenta de submissão das mulheres aos mecanismos de poder marcadamente masculinos. Trabalhos como o apresentado por Silvia Federici demarcam, assim, uma diferença visível em relação a outro viés analítico defendido, por exemplo, por Stuart Clark, no qual o peso da misoginia é relativizado.
Em Pensando com demônios, o conceito de contrariedade é tomado como base para refutar a ideia de que a misoginia foi o grande pilar que sustentou a demonologia e a “caça às bruxas”. Clark parte do entendimento de que a modernidade europeia sustentou suas visões de mundo e interpretações a partir de um “extremismo cognitivo”, do qual a figura da “bruxa” foi resultado direto. Bem e Mal se tornaram conceitos essenciais para tais sociedades.8 Esse novo “idioma” foi recorrente não apenas nos corredores eclesiásticos, mas também no modo como a religiosidade foi vivenciada, fazendo com que a alma do indivíduo fosse objeto de disputas. Assim, a misoginia perde força como categoria explicativa, na medida em que a contrariedade se tornou o elemento capaz de explicar os motivos das mulheres terem sido relacionadas à bruxaria.9
Por isso, ao perceber a pouca ocorrência de tratados que se interessaram exclusivamente em injuriar as mulheres e tendo em vista que os trabalhos da época pouco se direcionaram a “explorar o fundamento da bruxaria no gênero”,10 o autor defendeu a necessidade de se relativizar o uso da noção de misoginia. No entanto, ao afirmar que havia uma conexão óbvia para os estudiosos entre a presença das mulheres e a sua predisposição às influências diabólicas, a ponto de fazerem com que tais autores não sentissem “a menor necessidade de elaborar sobre ela ou apelar para o ódio às mulheres em seu respaldo”, Stuart Clark acabou por abrir uma aresta nos seus pressupostos, o que faz com que trabalhos como o de Silvia Federici seja um importante contraponto a esse viés.
Essa relativização por parte do autor a respeito da misoginia foi sustentada por outras duas interpretações. Clark percebeu que na maioria das vezes os tratados demonológicos não se interessaram exclusivamente em injuriar as mulheres – elemento que, a seu ver, sustenta a ideia de misoginia. Além disso, os tratados interessados em discutir sobre o fenômeno da bruxaria “mostraram pouco interesse tanto em explorar o fundamento da bruxaria no gênero quanto em usá-la para denegrir as mulheres”. Assim, as obras que foram amplamente difundidas pela historiografia como exemplo da misoginia presente nas perseguições à bruxaria, como o Malleus Maleficarum e os tratados de Jean Bodin e Martin del Rio, foram encaradas sob uma leitura isolada que pouco ou quase nada se preocupou com a justificativa da presença de mulheres no fenômeno da bruxaria. Todavia, os argumentos de Stuart Clark também são passiveis de críticas.
Se há uma obviedade na conexão entre a figura das mulheres e a presença do Diabo, conforme aponta o autor,11 não é na identificação desse caráter que reside a chave para a compreensão de todo o fenômeno de “caça às bruxas”. Em Calibã e a bruxa , o aspecto central para responder à problemática levantada consistiu justamente em conferir peso à misoginia como instrumento que sustentou a conexão citada, sem perder de vista que a história das mulheres em meio ao contexto de “caça às bruxas” é uma história eivada de trajetórias por vezes silenciadas, inclusive pelos próprios historiadores que negligenciaram o peso das estruturas de poder na normatização dos corpos, na definição dos gêneros e na sustentação de uma heterossexualidade compulsória. Um dos méritos da obra de Federici consiste justamente em perceber como o consenso entre as autoridades religiosas e civis produziu uma série de mecanismos de vigilância e normatização interessados na manutenção do binarismo masculino/feminino. Vide exemplo apontado pela autora nos discursos que se produziram a respeito do pacto diabólico, em que, mesmo ao defenderem a existência de rituais em que as mulheres negavam o catolicismo, se relacionavam com os diabos e consolidavam sua posição de “feiticeiras”, prevalecia a supremacia masculina: “as mulheres tinham que ser retratadas como subservientes a um homem {o Diabo} e o ponto culminante de sua rebelião – o famoso pacto com o diabo – devia ser representado como um contrato de casamento pervertido” (p. 343).
Calibã e a bruxa é uma obra que merece uma leitura atenta por se preocupar em compreender os longos séculos de associação das mulheres à figura do Diabo, à predisposição ao delito da feitiçaria, ou bruxaria, sem isolar as trajetórias dessas mulheres dos motivos que sustentaram essa associação. Por isso a relevância de sua obra: reafirmar a necessidade de se compreender passado e presente sem negligenciar o peso das relações de gênero e dos papéis sociais atribuídos aos homens e mulheres. Além disso, se levarmos em consideração não apenas a temática em que a autora se debruça, mas também o recorte temporal escolhido, percebemos o quão necessário são as publicações interessadas em articular religiosidade e relações de gênero na Época Moderna, tornando-se exemplos da diversidade de interpretações resultantes dessa interação. Para o contexto brasileiro, que tem acesso relativamente tardio à publicação em português deCalibã e a bruxa , tais aspectos estão igualmente presentes (talvez até com maior peso). Eles nos permitem entender que o estudo da bruxaria está longe de se esgotar quando o conceito de gênero é operacionalizado.
Referências
FEDERICI, Silvia; Calibã e a bruxa . Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Trad. de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017. Tomo I: Migraciones. Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017. 194p. [ Links ]
1É nesse contexto de disciplinamento dos corpos e de normatização das mulheres, atrelando-as ao papel reprodutivo, que a autora enxerga um forte paralelo com o aumento dos processos envolvendo os delitos de infanticídio e bruxaria (p. 157).
2Um dos argumentos mais sólidos que a autora construiu referente à submissão feminina no âmbito da caça às bruxas diz respeito à mudança de status adquirida pela figura do Diabo a partir do século XVI, deixando de ser escravo e servo das mulheres, tornando-se figura abominável, “seu dono e senhor, cafetão e marido”. Tanto é que o pacto diabólico, considerado pelos demonólogos como auge dos rituais empreendidos pelas mulheres com a figura do Diabo, evocava a supremacia masculina através de tal personagem, para a qual as mulheres deveriam prestar juramento (p. 338).
3A autora chega a afirmar que a “caça às bruxas foi o primeiro terreno de unidade na política dos novos Estados-nação europeus”, muito por conta de protestantes e católicos terem compartilhado do mesmo interesse em coibir a presença da bruxaria entre seus fiéis (p. 303).
4Como, por exemplo, a possibilidade de promover estudos mais aprofundados das crenças, das práticas, da possibilidade de se compreender o universo mágico-religioso e suas relações entre os indivíduos a partir do entendimento de que havia ali uma coerência interna distanciada do materialismo.
5No contexto da Coimbra Seiscentista, José Pedro Paiva identificou a predominância das mulheres casadas como as maiores interessadas em contar com a ajuda das feiticeiras para a manutenção de seus casamentos. Cf.: PAIVA, José Pedro. O papel dos mágicos nas estratégias do casamento e na vida conjugal na diocese de Coimbra (1650-1730). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1990, p. 168-169; 180-182.
6MATTOS, Yllan de. A última Inquisição: os meios de ação e funcionamento do Santo Ofício no Grão-Pará pombalino. 1750-1774. Jundiaí: Paco Editorial, 2012.
7BETHENCOURT, Francisco. O imaginário da magia. Feiticeiras, adivinhos, curandeiros em Portugal no século XVI. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 371. Destaque-se ainda, entre os denunciantes, a multiplicidade de classes sociais interessadas em denunciar o delito da feitiçaria.
8CLARK, Stuart. Pensando com demônios. A ideia de bruxaria no princípio da Europa Moderna. Trad. de Celso Mauro Paciornik. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006, p. 87.
9Ibidem, p. 187.
10Ibidem, p. 166.
11“Os autores sobre bruxaria evidentemente davam como certo uma maior propensão das mulheres ao demonismo, e tudo em seu ambiente cultural os encorajava a isso. A conexão era tão óbvia para eles, tão profundamente enraizada em suas crenças e comportamento, que não sentiam a menor necessidade de elaborar sobre ela ou apelar para o ódio às mulheres em seu respaldo.” Cf.: Ibidem, p. 168.
Marcus Reis – Doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: [email protected].
Uma educação pela natureza: a vida ao ar livre, o corpo e a ordem urbana – SOARES (Topoi)
SOARES, Carmen Lúcia. Uma educação pela natureza: a vida ao ar livre, o corpo e a ordem urbana. Campinas: Autores Associados, 2016. Resenha de: PAULILO, André Luiz. A terra, o ar, o mar e a nossa educação. Topoi v.19 n.38 Rio de Janeiro May/Aug. 2018.
A terra, o ar, o mar e nós. Talvez assim fosse possível resumir, sem interferir demais nos seus sentidos, as histórias que Carmen Lúcia Soares reuniu em Uma educação pela natureza: a vida ao ar livre, o corpo e a ordem urbana (Soares, 2016). Trata-se de uma edição bem cuidada da editora Autores Associados e tecida por mais 11 estudiosos do tema da natureza. São os textos dos franceses Bernard Andrieu e Sylvain Villaret, dos argentinos Laura Marcela Méndez e Pablo Ariel Scharagrosky e dos brasileiros Alexandre Fernandez Vaz, André Dalben, Carlos Herold Junior, Denise Bernuzzi de Sant’Anna, Janes Jorge, Vinicius Demarchi Silva Terra e Joana Carolina Schossler que dão forma ao conjunto das análises das quais resultam uma mesma compreensão da natureza. Aquela que a percebe não como a-histórica ou imóvel, fixa e imutável, mas enquanto construção social, cultural e politicamente constituída. Por todo o livro, tal qual marca d’água na página, há um só tema – a vida ao ar livre e as relações do corpo com uma natureza reconfigurada pela cultura, por nossas crenças e saberes. As mesmas relações de poder e dominação que animam a sociedade e a política fomentam as representações, as sensibilidades e a compreensão que nos enlaçou ao sol e ao mar das praias, às águas e ao calor dos balneários, aos campos e parques da moda desde o último século. É das mudanças dessas representações, sensibilidades e compreensão que o conjunto reunido neste inspirado volume trata.
No capítulo inicial, Carmen Lúcia Soares explicita as questões centrais do conjunto em três notas substanciais sobre as ideias de natureza, a ordem urbana e como a escolarização reordena os hábitos de vida ao ar livre. Em seguida, Alexandre Fernandes Vaz trata do tema da natureza na obra de Walter Benjamim. Depois, Sylvain Villaret, com seu estudo da educação física, e André Dalben, escrevendo sobre parques infantis e colônias de férias, trabalham com a presença da educação na construção da natureza-jardim e do vigor do corpo. Seguem-se as reflexões de Laura Marcela Mendez com Pablo Ariel Sharagrodsky e Carlos Herold Júnior acerca do escotismo. O tema da água e das práticas sociais em torno dela foi tratado em seguida por Denise Bernuzzi de Sant’Anna em relação à distribuição, por Janes Jorge, a respeito da represa, e finalmente, por Vinicius Demarchi Silva Terra em relação à praia. O livro encerra-se com dois belos ensaios sobre o sol e suas implicações sociais. O primeiro deles, de Joana Carolina Schossler, trata da prática do veraneio no litoral gaúcho. O outro, de Bernard Andrieu, ocupou-se dos efeitos dos tratamentos que se desenvolveram com base no uso da luz natural para nossa relação com a natureza.
Ainda que composto por uma dezena de textos de autores diferentes, o argumento central do livro está justamente nesse conjunto que se formou. Por entre a ordem urbana, a crítica romântica, o naturismo, os parques-infantis e as colônias de férias, o escotismo, as águas das cidades, as praias e o seu calor tem-se contato com instituições e práticas voltadas para a vida ao ar livre. É da perspectiva aberta na historiografia francesa por Alain Corbain e Georges Vigarello para estudar as sensibilidades e as relações que os sentimentos mantêm com o corpo que as análises seguem. Entretanto, a história que se vai encontrar neste livro é a cultural e contribui para animar esse campo de pesquisa no Brasil com uma compreensão especial das interfaces existentes entre a ordem urbana, a relação humana com a natureza e a educação. Tanto do ponto de vista das instituições quanto das práticas, o esforço de cada autor reunido neste volume auxilia no entendimento de como as concepções médicas e educativas acerca da vida ao ar livre constituíram-se em um elemento da cultura contemporânea.
Assim, a cultura clubística expressiva da ordem urbana que vai se impondo a partir dos anos 1920 é estudada por meio da análise do que significaram para a cidade os clubes Germânia, de Regatas Tietê, de Regatas São Paulo, Esportivo da Penha, Atlético Indiano, o Internacional de Regatas, de Regatas Saldanha Marino e do Iate Clube Paulista. Sobretudo, em torno das águas, um conjunto de instituições de esporte ou lazer consolidou práticas associadas ao corpo e à sua saúde e sua beleza. Nesse mesmo sentido, a praia como lugar de lazer, espaço por excelência do veraneio, oferece ao corpo o contato com o mar, o banho de sol, o litoral de balneários e hotéis para o turismo de férias. À beira-mar, práticas de bronzeamento, de divertimento e mesmo de exibição estética ou atlética marcam a presença humana na paisagem por meio das distinções sociais e normas impostas pela sociedade. Os diferentes aspectos da mudança de sensibilidade em relação aos benefícios da água e dos esportes para a saúde são tratados nos capítulos “A represa de Guarapiranga e os esportes na região de São Paulo”, “A invenção da praia de Santos” e “Sol e mar: veraneios no litoral gaúcho no início do século XX”, e, especialmente, questionados do ponto de vista dos seus significados políticos e sociais.
Em outra frente de preocupações, o escotismo, a educação extraescolar em parques infantis e colônias de férias desvelam a beleza paisagística do território nacional ou afirmam a natureza-jardim como espaços de cura ou aprendizagem. Desde a serra da Mantiqueira, aqui no Brasil, até Comodoro Rivadavia e Tantil, na Argentina, símbolos pátrios ou signos da vida e da sociabilidade perdida pela urbanização desordenada de metrópoles como São Paulo e Buenos Aires foram produzidos pela exploração da ideia de um valor supremo da beleza natural. Os parques infantis se valeram ainda do jogo de distinção das elites que fazia dos parques um cenário, uma figuração da natureza na trama urbana, para legitimarem-se perante o discurso médico favorável à vida ao ar livre. Na cidade, os parques infantis propunham embelezamento e higiene por meio de uma arquitetura e de desenhos paisagísticos capazes de opor à memória do passado rural “uma natureza inventada como genuinamente nacional” (p. 103). De fato, como mostram Dalben, Méndez e Scharagrodsky e Herold Júnior, as práticas sobre ou a partir da natureza são “uma elaboração social e cultural, uma complexa operação discursiva produzida em um espaço e tempo determinados” (p. 116).
Ao ar livre, o escotismo, a brincadeira infantil, a terapêutica, a disputa esportiva, o lazer da família em férias e a identidade que se constrói pacientemente em consonância com a moda ressignificam a natureza, tornando-a apropriada, codificada, dominando-a, enfim. O significado, então, que a exposição ao sol, a aprendizagem extraescolar ou a vilegiatura adquiriram na vida urbana dependeu da mudança de sensibilidade que a medicina, a educação física e as práticas sociais estabeleceram com a natureza e seus atributos mais visíveis. Nesse livro, assim, há de tudo um pouco para a ascensão da natureza e das práticas ao ar livre no estilo de vida moderno. Instâncias de hidroterapia, a helioterapia, acampamentos, dietas e exercícios, esportes, colônias de férias, parques, balneários, veraneios vão sendo mostrados capítulo a capítulo naquilo que mais nos enlaça à natureza dos nossos ritos sociais, aos modos como nos relacionamos com o cosmos que nos circunscreve: o desejo da felicidade, por meio da saúde, da beleza e da alegria.
Se nisso Bernard Andrieu e Sylvain Villaret arriscam o principal argumento de suas reflexões, Denise Bernuzzi de Sant’Anna lembra que o acesso a bens como a água e a saúde são domínios da desigualdade, efeitos de disputas e práticas sagazes de imposição ou resistência, de força ou astúcia. As relações entre o humano e a natureza que inventamos também são da ordem do acidente e do desastre, da violência, da falta e da polêmica. Entre as notícias que Sant’Anna observa tão bem, o afogamento, o roubo, a proibição, a exploração também circunscrevem a natureza nos negócios humanos.
Não falta, assim, a história dos sujeitos. Os protagonistas da vida ao ar livre são homens, mulheres e crianças comuns, aqueles que, então, deixaram-se apanhar pelo mar e pelo sol, pelas hidro e helioterapias, que subiram as montanhas e passearam no campo, que frequentaram parques e planejaram suas vilegiaturas, que praticaram a ginástica ou o esporte. Trata-se também daqueles que sofreram com o contato com a água ou com sua privação e daqueles que tinham nas colônias de férias apenas a oportunidade de escapar por um tempo dos subúrbios fétidos das grandes cidades. O interesse pelas curas e aprendizagens por meio da natureza, do robustecimento dos corpos, do embelezamento físico envolve cada um de nós com a história daqueles que nos legaram essas práticas que, desde o bronzeamento até o turismo de todas as férias, dizem algo de como experimentamos a vida ao ar livre.
Mas há nomes que são incontornáveis nessa história e cuja menção não se pode escapar de fazer. Nesse sentido, Georges Hébert, Baden Powel, Bernhard Basedow, Peter Villaume e Guts Muths, Arnold Rikli, Sebastian Kneipp, Mario de Andrade, Francisco Pascasio Moreno e Grabiel Skinner participam dessa história como pontos de difusão das práticas que envolveram as pessoas e a natureza-jardim, o sol, o mar, o campo e a montanha. Assim, o método da ginástica natural, o escotismo, o rousseauísmo de parte deles, as estações de tratamento e os parques infantis são as iniciativas exploradas por sua importância na construção de uma nova sensibilidade a respeito da natureza e do natural. É menos do pioneirismo de que trata os textos reunidos nessa coletânea, mas, principalmente, das variadas formas de envolver o corpo a um outro ambiente que não o da metrópole e das suas principais instituições de controle e produção.
Por outro lado, como é típico de livros que arriscam seus argumentos em uma perspectiva própria de compreensão ou em um veio especifico de trabalho, a boas pistas de pesquisa também revelam os principais limites da interpretação. A aposta, então, na análise de práticas, instituições e sujeitos se faz em detrimento de um maior investimento na história dos conceitos e teorias. Atualmente, a questão da circulação dos saberes e das estratégias de apropriação das ideias e saberes mostrou-se profícua ao estudo de grupos específicos e das suas disputas internas. Para aqueles a quem interessam mais as discussões de doutrina, de trajetórias ou dos círculos que animaram autores, práticas ou iniciativas, as escolhas teórico-metodológicas desta edição podem aparecer como limites da análise. Nesse sentido, as belas narrativas com que os autores problematizam seus objetos de pesquisa e reflexão ganhariam com comparações e histórias de apropriação e invenção. Ainda que assim seja, há questões de concepção absolutamente importantes suscitadas pelo conjunto.
Nesse sentido, seria válido nos perguntarmos se tais construções das relações humanas com a natureza não foram resultado de disciplinas, controles e explorações que visavam tornar produtivas as partes do território e da nossa imaginação que ainda estavam livres dos processos capitalistas de produção de valor. Talvez. A linha segura que os textos oferecem ao leitor, entretanto, é aquela que dá entrada a uma firme tradição de pensamento sobre a natureza e as mudanças de atitude humana em relação ao mundo natural. Desde Rousseau até Alain Corbin, passando pelos importantes trabalhos de Keith Thomas e Walter Benjamin, a perspectiva de análise compreende uma reflexão apurada dos constructos humanos que determinam a historicidade daquilo que chamamos de natureza. Da filosofia e da história vem, senão os conceitos, a perspectiva de análise de autores e autoras. No conjunto, a natureza e os seus elementos beneficiam-se das posições jusnaturalistas, das críticas pós-estruturalistas ou da história das sensibilidades para emergir como problema, e não como um dado, em cada um dos diferentes capítulos. As dificuldades que a teoria impõe ao tratamento do tema não impediram a fluidez da escrita, a clareza do texto ou a beleza das histórias que todo o conjunto conta.
Outra história que os textos dão aos leitores é a da educação. Entre tudo aquilo que a própria Carmen Lúcia Soares nota acerca do que implicava o triunfo da concepção de vida ao ar livre, lembra-nos, especialmente, de que não se tratou de um processo espontâneo. Ao contrário, tal processo resultou de um esforço de autoridades públicas em que desfilam inteligências e proposições elaboradas por médicos, educadores/pedagogos, engenheiros, urbanistas. O livro contribui para uma história da educação física, da educação infantil e das instituições escolares naquilo que elas testemunham da invasão dos elementos da natureza na arquitetura escolar e na doutrina pedagógica. A ideia de regeneração que vicejou no discurso de intelectuais de diferentes matizes no Brasil da primeira metade do século passado reservou um lugar especial para a natureza e seus elementos na percepção da sua utilidade à saúde das crianças e dos jovens. O valor educativo da natureza é reiterado em diferentes capítulos, por meio de diferentes perspectivas e, principalmente, analisado desde a escola até as práticas culturais mais cotidianas.
De fato, as contribuições do conjunto de textos reunidos por Carmen Lúcia Soares em Uma educação pela natureza: a vida ao ar livre, o corpo e a ordem urbana são muitas e variadas. Especialmente, para a área da história, concorre para a compreensão de ideias, de práticas, de instituições e de sujeitos que fizeram da natureza um elemento da vida urbana, escolar ou mesmo intelectual já entre as gerações que nos precederam. É como história, mas também como patrimônio e sensibilidade contemporânea, que este trabalho sugere ser a natureza, seus elementos e suas expressões, uma das mais profícuas áreas das invenções humanas. Daí porque, além das qualidades acadêmicas que o livro apresenta, vale deter-se na sua leitura.
Referências
SOARES, Carmen Lúcia (Org.). Uma educação pela natureza: a vida ao ar livre, o corpo e a ordem urbana. Campinas: Autores Associados, 2016. [ Links ]
Como citar: SOARES, Carmen Lúcia (Org.). Uma educação pela natureza: a vida ao ar livre, o corpo e a ordem urbana. Campinas: Autores Associados, 2016. Resenha de PAULILO, André Luiz. A terra, o ar, o mar e a nossa educação. Topoi. Revista de História, Rio de Janeiro, v. 19, n. 38, p. 263-267, mai./ago. 2018. Disponível em: <www.revistatopoi.org>.
André Luiz Paulilo – Professor da Universidade Estadual de Campinas. E-mail: [email protected].
300 años: Masonerías y Masones (1717-2017) – ESQUIVEL et. al. (Topoi)
ESQUIVEL, Ricardo Martínez; ANDRÉS, Yvan Ponzuelo; ARAGÓN, Rogelio. 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo I: Migraciones, Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017. 194pp. Resenha de: CAMARGO, Felipe Corte Real. Migrações sob o esquadro e o compasso: 300 anos de histórias da maçonaria. Topoi v.19 n.38 Rio de Janeiro May/Aug. 2018.
Escrever uma antologia é sempre uma tarefa complexa. Mais do que a reunião de textos diversos sobre um determinado assunto, é necessário ritmo, coerência e coesão; além de unidade temática e estilística, mesmo para textos contraditórios entre si. Tal necessidade aumenta ao se produzir uma antologia em cinco volumes, da qual o primeiro volume é o tema aqui (Esquivel, 2017).
A coleção 300 Años de Masonería (Esquivel, 2017) busca organizar as ideias e os ideais, que bem poderíamos chamar de pós-coloniais, que vêm sendo produzidos em torno da Revista de Estudios Historicos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña (REHMLAC). Com dez anos de existência, o periódico ascendeu de um difusor dos trabalhos latinos sobre história da maçonaria para um coletivo de ideias que, por exemplo, organizou sua própria (e maior) mesa no último Congresso Mundial sobre Fraternalismo, Maçonaria e História, em Paris.1 Mesa esta que avivou o debate sobre a pluralidade da maçonaria em suas práticas e seus pensamentos reafirmando que não deve haver maçonaria no singular para quem pesquisa este fenômeno.
Os editores da coleção, Ricardo Martínez Esquivel, Yvan Ponzuelo Andrés e Rogelio Aragón – respectivamente diretor, editor e contribuidor regular da REHMLAC -, segundo suas falas nos congressos de Paris (maio de 2017) e Havana2 (julho de 2017), querem demonstrar o caráter plural do fenômeno maçônico, ou seja, das maçonarias. Por meio dessa multiplicidade querem também dar visibilidade à miríade de pesquisas e pesquisadores que a Ordem3 abarca.
O primeiro volume tem o abrangente título Migraciones, desta maneira busca evidenciar os usos, as recepções e as apropriações não somente do fenômeno estruturante que é a maçonaria, como os impactos produzidos pelo que poderíamos chamar de “ideário maçônico”, que se confunde – mesmo por ser produtor e produto – com a própria modernidade.
Na primeira parte do livro, tal como na tradição universitária, temos a fala do decano. O professor dr. José Ferrer Benimeli, com mais de 40 anos de pesquisas em torno do tema, revisa as fontes e a historiografia produzida entre Espanha e México no oitocentos. Assim, demonstra os usos feitos da história da maçonaria, tanto nas vertentes laudatórias quanto nas detratórias. Desta maneira põe em xeque meias-verdades e mitos perpetuados por historiadores profissionais e amadores, com as intenções mais diversas. Apresentando erudição não somente da história da maçonaria como da história do mundo ibérico, Benimeli demonstra a relevência dos estudos maçônicos e suas ligações não somente aos temas mais variados da historiografia tradicional, mas também sua utilidade para problematizar questões propostas e por vezes tidas por resolvidas. Porém, o desfile erudito de autores, fatos, fontes e datas se apresenta pouco convidativo para o “abre-alas” de uma antologia. No afã de clarificar uma discussão nebulosa, Benimeli demonstra de maneira crua que para desvendar o hermetismo da história da maçonaria é necessário adentrar dois outros: o da historiografia e o da diplomática.
O capítulo seguinte segue uma metodologia semelhante, a divisão da argumentação em três tempos, e fica a cargo de um dos mais renomados professores da Universidade de La Habana (Cuba), Eduardo Torres-Cuevas. O historiador nos leva pela fragmentada história da maçonaria cubana por meio de suas divisões e influências. Ao ler o segundo capítulo, o leitor percebe que há um certo padrão fragmentário nas maçonarias latinoamericanas e que tais cisões acontecem por dois motivos principais: as variadas influências recebidas (Espanha, França, Inglaterra e Estados Unidos) e o papel central que as organizações maçônicas ou criadas nos moldes da maçonaria irão execer nas nascentes repúblicas. Tal atuação se deve ao fato de que as lojas maçônicas se apresentam como os primeiros corpos de auto-organização político-partidária nos séculos XVIII e XIX na América Latina.
Torres-Cuevas coloca em suspenso questões sobre as origens da maçonaria na ilha. Seguindo também a tradição mais clássica, tal como Benimeli, prende suas conclusões a provas documentais. Porém, insinua bastante livremente sobre possibilidades, chegando inclusive a apontar uma possível presença de “maçons operativos” (pedreiros que teriam sido a origem da maçonaria moderna, dita “especulativa”) na construção da Catedral de Havana. Das primeiras lojas fundadas no final do século XVIII por maçons fugidos da Revolução Haitiana, passando pela profusão de lojas e Grandes Orientes por quase 30 anos até o período final do século XIX, no qual se estabelecem as potências maçônicas que formariam o panorama da Ordem em Cuba no século XX, o autor oferece uma história bem costurada com pausas para análises bastante sintéticas, auxiliando o entendimento de uma história com muitas nuances e recheada de jargões.
O capítulo de Éric Saunier, professor da Universidade do Havre (França) demonstra, por meio de uma escrita fluida e precisa, como a história da maçonaria compõe um mosaico com a história política. Por meio de uma problemática que muito bem poderia se resumir a questiúnculas relativas a lojas maçônicas periféricas e suas relações com a sua obedicência central, Saunier apresenta de que modo se deram costuras políticas que permitiram lojas maçônicas antilhanas e lojas maçônicas francesas em cidades portuárias a continuarem fiéis às políticas poligenistas, impedindo a iniciação de negros em suas lojas, contrariando assim a política liberal parisiense do Grande Oriente da França. O capítulo de Saunier reflete a teoria que mesmo dentro de uma mesma obediência maçônica há variados entendimentos sobre sua práxis, cessando, uma vez mais, o entendimento ingênuo da maçonaria como homogênea e unívoca.
Ricardo Martinez Esquivel assina o capítulo que trata da origem da maçonaria centro-americana, nascida em seu país, Costa Rica. O autor discorre com desenvoltura sobre o tema, sobre o qual pesquisa há quase dez anos, principalmente quando foca na análise das redes de sociabilidade que a fraternidade teceu naquele país e nos seus vizinhos, ano após ano. O ponto forte do artigo se apresenta na relação que Esquivel estabelece entre os dados de suas pesquisas prévias com panoramas mais gerais da história da chamada América Latina. Mesmo o leitor neófito no tema poderá entender o peso que a francomaçonaria teve a partir da segunda metade do século XIX e os motivos para as rusgas entre a Igreja Católica e seus membros. Pretendendo apresentar um panorama muito completo, o artigo de Esquivel tende, a partir da metade do texto, para uma narrativa mais tradicional da história política, o que contrasta fortemente com a primeira parte, mais analítica e arrojada.
Na sequência, os primeiros anos da maçonaria mexicana são passados em revista pela experiente historiadora Maria Eugênia Vazques Samenedi. Com consistente trajetória acadêmica no campo da história da maçonaria, a autora revisa as obras que (por antiguidade ou merecimento) são tidas como indispensáveis para contar a história da Fraternidade em território mexicano. Mesclando análise, crítica e novas fontes, a historiadora desmonta mitos maçônicos mexicanos, como a “lenda” de que a primeira loja maçônica no México dataria de 1806 e que se localizaria na Calle de las Ratas. Além deste, desmonta o argumento, bastante comum, entre os historiadores mais tradicionais, de que a fundação das lojas maçônicas teria um caráter eminentemente político. Somente por esses dois feitos, o capítulo já se torna indispensável para qualquer pesquisador do tema na América Latina. Porém, mais do que isso, a historiadora aclara, de maneira sutil, nas últimas páginas, algumas questões de teoria e metodologia que tendem a ser negligenciadas em temas que não fazem parte do mainstream historiográfico, como a diferenciação entre a análise da história de uma instituição e a análise das narrativas que se fazem sobre ela.
Dévrig Mollès, historiador e diretor científico do Arquivo da Grande Loja da Argentina, traz um olhar desde aquele país sobre a chegada do feminismo na América Latina. Com esse tema demonstra o papel central que a maçonaria teve ao servir como base, dada sua capilaridade, aos movimentos vanguardistas do começo do século (feminismo, anticlericalismo, livre-pensamento) que configuraram o moderno sistema-mundo. Tal fenômeno teria ocorrido dado que as redes maçônicas formaram uma “plataforma de transferências culturais e um espaço de lutas culturais”. A escrita de Mollès flui de maneira singular, sua clareza conceitual e suas escolhas bibliográficas, enxutas e certeiras, fazem de seu capítulo um ótimo panorama sobre os movimentos de emancipação feminina na América Latina, suas relações com os movimentos socialistas e com a maçonaria.
O historiador chileno Felipe Santiago del Solar nos oferece um breve panorama dos primeiros anos da maçonaria no Chile. Para tal, faz uma análise das primeiras obras que dão conta das atividades maçônicas no país andino. Este recorrido, del Solar não o faz apenas por uma questão de crítica historiográfica, mas porque a grande maioria da documentação maçônica chilena se perdeu após um terremoto no começo do século XX. Apesar de bastante conciso, o capítulo é o relato de uma trajetória maçônica bastante tardia e singular se comparada aos outros países latinos.
O fechamento do livro fica nas mãos de Guillermo de los Reyes-Heredia, professor da Universidade de Houston (Estados Unidos), que escreve sobre um tema que pode não parecer “demasiado maçônico”, à primeira vista. A sociedade civil, seus elementos e constructos são analisados de maneira bastante didática pelo autor, que busca entender de que maneira as organizações voluntárias têm o poder de promover, criar e contribuir para a democracia (e se, de fato, contribuem). Analisando a maçonaria nesse espectro teórico mais amplo o autor clarifica uma das discussões mais recorrentes – porém pouco aprofundadas – no campo da história da maçonaria na contemporaneidade: aquela relativa à esfera pública. O debate, trazido atualmente por Habermas, é tema obrigatório em todo trabalho sobre a Franco-Maçonaria, e este capítulo é um bom guia para aqueles que desejam abordar o tema com maior propriedade. Além do cabedal teórico, em sua maioria oriundo da Ciência Política, apresentado pelo autor, somos também brindados com uma pequena análise da mitologia maçônica em sua expressão estadunidense, e de como a exacerbação, ou mero exagero, do papel da maçonaria na história política dos países se expressa em um aumento de importância real da Ordem.
A crítica a este volume é a mesma que se pode fazer a qualquer compilação de ensaios sobre a maçonaria, isto é, os autores estão separados por um tema comum. Explico: como a maçonaria foi, e continua sendo, um tema marginal na academia, há uma considerável defasagem teórica, muitas vezes causada pela necessidade dos autores acadêmicos de se comunicar com o seu público, mormente leigo, no que concerne às questões historiográficas. Outro traço dessa separação é a variedade de termos para definir as questões maçônicas que por vezes tais pesquisadores cunham e aplicam unilateralmente. Variedade esta causada pela falta de conhecimento dos termos usados pelos próprios maçons ou, quando há o conhecimento destes, devido a uma necessidade de se diferenciar dos “maçons historiadores”. A história da maçonaria tem sido produzida por maçons frequentemente sem formação acadêmica na área das humanidades, o que torna fundamental a crítica à produção “domingueira”. Seja qualquer um dos motivos, a falta de uniformidade conceitual pode inquietar quem conhece os termos maçônicos e confundir quem deseja conhecer.
De qualquer maneira, o primeiro volume desta coleção mostra que os estudos acerca da maçonaria evoluem para um debate mais público e qualificado. Longe de ser uma seita ou uma religião, ou ainda uma conspiração para dominar o mundo, conforme as crendices à direita e à esquerda, a maçonaria é um capítulo incontornável da história moderna e contemporânea. Como todos os mitos da modernidade, urge desativá-la na sua mística e analisá-la em sua historicidade. Para quem deseja dar os primeiros passos ou incrementar os que já foram dados, Migraciones será uma grata surpresa.
Referências
ESQUIVEL, Ricardo Martínez ; ANDRÉS, Yvan Ponzuelo ; ARAGÓN, Rogelio (Org.). 300 años: Masonerías y Masones (1717-2017). Tomo I: Migraciones. Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017. 194p. [ Links ]
1 Painel: “Imperialism, Colonialism and Multiple Freemasonries”. World Conference on Fraternalism, Free Masonry and History. 2017, Paris.
2 V Simposio Internacional de la Masonería Latinoamericana y Caribeña. 2017, La Habana.
3São termos intercambiáveis: Maçonaria, Franco–Maçonaria, a Ordem, a Fraternidade, entre outros.
Como citar: ESQUIVEL, Ricardo Martínez ; ANDRÉS, Yvan Ponzuelo ; ARAGÓN, Rogelio (Org.). 300 años: masonerías y masones (1717-2017). Tomo I: Migraciones. Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017. 194p. Resenha de CAMARGO, Felipe Corte Real de. Migrações sob o esquadro e o compasso: 300 anos de histórias da maçonaria. Topoi. Revista de História, Rio de Janeiro, v. 19, n. 38, p. 268-272, mai./ago. 2018. Disponível em: <www.revistatopoi.org>.
Felipe Corte Real de Camargo – Doutorando pela Universidade de Bristol, Inglaterra. E-mail: [email protected].
Palavras como balas: Imprensa e intelectuais antifascistas no Cone Sul (1933-1939) – OLIVEIRA (Topoi)
OLIVEIRA, Ângela Meirelle. Palavras como balas. Imprensa e intelectuais antifascistas no Cone Sul (1933-1939). São Paulo: Alameda, 2015. Resenha de: BEIRED, José Bendicho. Para compreender o antifascismo na América Latina. Topoi v.19 n.37 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2018.
Durante a Primeira Guerra Mundial, poucos imaginavam que estava em gestação um novo movimento político radical de direita capaz de alterar profundamente a política internacional. Ao tomar o poder na Itália, o fascismo foi a primeira experiência de extrema-direita a mostrar que era possível não só derrotar o status quo liberal mas também barrar a ascensão das forças de esquerda. Em seguida, outros movimentos de direita se alastraram pelo continente europeu, quer tomando o poder quer organizando-se em novos partidos. Para o filósofo alemão Oswald Spengler, vivia-se uma fase histórica em que se divisava a própria decadência do Ocidente. As reações foram tardias, pois apenas nos anos 1930 a direita radical deixou de ser combatida isoladamente pelas forças políticas de cada país e passou a ser objeto de luta de um movimento antifascista internacional que galvanizou um conjunto de forças formado por intelectuais, organizações e órgãos de imprensa.
O livro de Ângela Meirelles Oliveira constitui uma inovadora contribuição para a compreensão do papel da América Latina na cruzada internacional de combate ao fascismo. Com base em minuciosa pesquisa documental realizada em diversos países, o estudo oferece novos elementos a respeito dos movimentos antifascistas do Brasil, da Argentina e do Uruguai por meio de um recorte que privilegia o papel dos intelectuais e a atuação da imprensa. O título da obra, extraído de um verso emblemático – Palabras como balas hay que usar contra vosotros, enemigos! – da poetisa argentina Nydia Lamarque, por si só ilustra o espírito do engajamento que tomava os intelectuais empenhados na causa antifascista.
A metodologia empregada constitui um dos pontos altos da obra. Articulando o método comparativo e a perspectiva transnacional, a autora estabelece recortes criativos, reconstrói conexões e apresenta conclusões que permitem explicar as peculiaridades do antifascismo no Cone Sul e as suas relações com o movimento antifascista europeu. Um aspecto fundamental da abordagem reside no tratamento dos intelectuais como mediadores do processo de circulação de ideias entre os países do Cone Sul e entre estes e a Europa, em especial a França. Sob a vigilância metódica das autoridades policiais, os intelectuais sustentaram a luta antifascista por meio da fundação de entidades, criação de órgãos de imprensa, elaboração de artigos, troca de correspondência, promoção de campanhas e exposições de arte.
Uma tese basilar perpassa o livro pondo em xeque interpretações consagradas na historiografia: a despeito da relevância das organizações europeias e da URSS para o antifascismo latino-americano, este teria se desenvolvido com relativa autonomia em função dos contextos nacionais. Não obstante, a autora reconhece que as organizações criadas na Europa tiveram papel central no engajamento mundial dos intelectuais na luta contra o fascismo. Fundadas por militantes e simpatizantes de esquerda, as organizações europeias gravitaram, não sem tensão, em torno da Comintern e, consequentemente, dos interesses soviéticos em relação à política internacional, a exemplo do Comitê de Vigilância de Intelectuais Antifascistas e da Associação de Escritores e Artistas Revolucionários. Um papel de destaque coube ao Comitê Mundial contra a Guerra e o Fascismo por sua influência na Europa e na América, contando com a participação dos mais renomados intelectuais de então – Máximo Gorki, Bertrand Russell, Albert Einstein, John Dos Passos e André Gide entre muitos outros – sob a direção dos franceses Romain Rolland e Henri Barbusse.
A primeira parte do livro é dedicada ao exame das organizações, intelectuais e órgãos de imprensa antifascistas do Cone Sul. No Brasil, as primeiras a serem fundadas foram os Comitês Antiguerreiros de São Paulo e do Distrito Federal, de filiação comunista; e a Frente Única Antifascista, criada na sede do Partido Socialista Brasileiro, com a participação da Liga Comunista Internacionalista, de perfil trotskista. As tensões entre fileiras fascistas e antifascistas não eram pequenas. Em 1934, ambas confrontaram-se fisicamente quando as agrupações antifascistas se concentraram na Praça da Sé, centro de São Paulo, para protestar contra um comício organizado pela Ação Integralista Brasileira, deixando um saldo de seis mortos e dezenas de feridos dos dois lados.
Vinculado à Frente Única Antifascista foi criado o Clube dos Artistas Modernos, que promoveu a famosa conferência de David Alfaro Siqueiros a respeito da técnica muralista em São Paulo, por ocasião da sua passagem pelo Brasil ao retornar do Rio da Prata para o México. Outras experiências, o Clube de Cultura Moderna e o Centro de Defesa da Cultura Popular, associados à Aliança Nacional Libertadora, visavam ambos ao estabelecimento de contato entre os intelectuais e o grande público para a difusão das artes, da ciência e da literatura. Em busca de espaços alternativos para a promoção das artes, em 1935 o CDCP organizou a I Exposição de Arte Social no Brasil, com a participação de Portinari, Di Cavalcanti, Noêmia Mourão, Oswaldo Goeldi, Ismael Nery e Alberto Guignard. Tais entidades exemplificavam o esforço da geração modernista em conferir à arte um sentido ao mesmo tempo vanguardista, popular e comprometido com as questões políticas. Paralelamente, a imprensa foi outro veiculo fundamental de resistência política e cultural antifascista, cuja atividade esteve concentrada em órgãos tais como Revista Acadêmica, Diretrizes e Cultura, Mensário Democrático, além de jornais como Marcha e o diário A Manhã.
Uma das hipóteses da autora é que o funcionamento das entidades antifascistas dependeu das condições políticas de cada país do Cone Sul. No caso do Brasil, a dinâmica política da Era Vargas foi mais tolerante com as atividades da extrema direita, a exemplo do Integralismo, do que com as correntes de esquerda, objeto de sistemática vigilância, perseguição e prisões. A repressão subsequente ao levante de 1935 e ao golpe do Estado Novo apenas aumentou ainda mais as dificuldades do antifascismo, com o desmantelamento do PCB, prisões, fugas e exílio de militantes e intelectuais. A Argentina e o Uruguai foram os destinos mais procurados pelos exilados brasileiros, que transformaram Buenos Aires e Montevidéu nos seus principais centros de atuação no exterior, a exemplo de Carlos Lacerda na sua fase comunista.
A comparação permite constatar que a Argentina abrigou o movimento antifascista mais significativo da América Latina, traduzindo-se em uma maior quantidade de organizações, pessoas e órgãos de imprensa envolvidos do que em outros países da região. Em 1930 o general José Uriburu desferiu um golpe de Estado que derrubou o governo da União Cívica Radical presidido por Hipólito Yrigoyen e implementou uma ditadura filofascista apoiada pelo exército e por milícias uniformizadas, tais como a Legião Cívica Argentina. Carente de suficiente base política, o poder foi passado aos conservadores, que restauraram o antigo sistema de eleições fraudadas, primeiramente sob a presidência de outro militar, o general Agustín P. Justo, e depois o civil Roberto Ortiz, buscando-se manter uma posição de neutralidade diante da contenda entre o fascismo e o antifascismo. Apesar das perseguições contra militantes de esquerda, havia de qualquer modo mais condições que no Brasil para a atividade política, a organização de movimentos e o funcionamento da imprensa antifascista. Um papel relevante, embora fora do âmbito da pesquisa do livro, foi desempenhado pelas coletividades de estrangeiros, notadamente a italiana e a espanhola, cujas atividades antifascistas foram estudadas no Brasil por João Fábio Bertonha e Ismara Izepe de Souza, e na Argentina, por Mónica Quijada e Andrés Bisso.
A segunda parte do livro dedica-se à circulação internacional das ideias e dos intelectuais antifascistas. A autora confere especial atenção à Agrupação de Intelectuais, Artistas, Jornalistas e Escritores por considerá-la a mais importante associação em prol do antifascismo. Criada primeiramente em Buenos Aires, e em seguida em Montevidéu, tinha como objetivo declarado “lutar pela defesa da cultura”, em outras palavras, combater o obscurantismo embutido não apenas no fascismo internacional, mas também no autoritarismo e na corrupção política praticados pelos governos conservadores. A entidade argentina chegou a contar com 2 mil associados e diversas filiais no interior do país, tendo à frente figuras como Anibal Ponce, Sergio Bagú, Manuel Ugarge, Liborio Justo, Héctor Agosti e Arturo Frondizi, então jovem membro da União Cívica Radical e futuro presidente da nação. O boletim da entidade – Unidad por la defensa de la cultura – somou-se a várias outras publicações regulares que, embora não dedicadas exclusivamente ao antifascismo, o tomaram como causa própria, tais como Claridad, Hechos e Ideas, Sur e La Internacional.
Dois interessantes aspectos sobressaem. Em primeiro lugar, a diversidade ideológica das publicações mencionadas – respectivamente socialista, radical, liberal e comunista -, assim como das organizações antifascistas. A autora contesta enfaticamente a tese do caráter essencialmente comunista do antifascismo dos países estudados, assim como do papel determinante da Comintern na sua organização. No lugar disso, identifica a existência de uma matriz liberal no antifascismo argentino e, no caso do Uruguai, aponta uma forte politização, sem vinculação partidária. Em suma, a documentação sugere que o vigor do movimento antifascista nos três países estudados dependeu justamente da heterogeneidade das suas fileiras e da amplitude do arco progressista que reunia liberais, anarquistas, radicais, comunistas, trotskistas e socialistas.
Outro aspecto a destacar é o papel das redes de sociabilidade antifascista que se estabeleceram por meio da imprensa vinculando as publicações da Argentina, do Uruguai e do Brasil entre si e estas com as da França, epicentro internacional do movimento antifascista e sede de revistas como Clarté, Commune, Vigilance e Front Mondial. O intercâmbio ocorria pela reprodução de artigos e a notificação do recebimento de revistas de outros países, a exemplo de Commune, órgão da Associação de Escritores e Artistas Revolucionários, sediada em Paris, que recebia praticamente todas as revistas antifascistas sul-americanas. No Cone Sul, as revistas da Argentina e do Uruguai trocavam uma considerável quantia de matérias com as congêneres da França, o mesmo não ocorrendo com as revistas do Brasil, que apenas mantinham contato esporádico com as publicações estrangeiras. Quanto ao intercâmbio intelectual entre os países latino-americanos, apenas existiu de modo rarefeito. Parece ter ficado mais no plano das intenções que da sua efetivação material, apesar dos apelos da portenha Claridad e da baiana Seiva em favor do seu incremento.
O Uruguai merece um lugar especial em razão da relevância das atividades antifascistas em seu território. Em 1933, abrigou o Congresso Antiguerreiro Latino-americano de Montevidéu, que, vinculado ao seu homólogo europeu e à corrente comunista, congregou centenas de delegações sindicais, camponesas, estudantis, de artistas e intelectuais. Não deixa de ser notável a marca deixada por uma ilustre brasileira. Pelo prestígio pessoal e proximidade em relação ao PCB, Tarsila do Amaral foi uma das poucas intelectuais convidadas a proferir uma conferência, e, destoando do tom geral do evento, discorreu a respeito das “Mulheres e a guerra”. Encetando uma contundente crítica ao papel destinado às mulheres pelos governos capitalistas e imperialistas, terminou sob aplausos e conclamou-as à luta antiguerreira. A análise do congresso aponta, ainda, para as divisões intestinas da esquerda e os diferentes conceitos de frente política, evidenciados nas críticas aos trostskistas, na expulsão dos anarquistas e na condenação de figuras como Augusto César Sandino e Haya de la Torre.
Às vésperas da Segunda Guerra, Montevidéu acolheu outro importante evento, o Congresso Internacional das Democracias. Composto por delegações de intelectuais dos países americanos, foi patrocinado por um conjunto de partidos políticos uruguaios. Apesar da exclusão do Partido Comunista Uruguaio, a reunião contou com uma ampla participação de delegados de todas as correntes políticas das Américas comprometidas com o antifascismo, incluindo o comunismo. Estiveram presentes personalidades como Pablo Neruda e Juan Marinello, que se reuniram em dezenas de comissões para discutir assuntos políticos, econômicos, sociais e culturais. Também participou uma delegação brasileira não oficial composta por representantes da Universidade Nacional do Rio de Janeiro e das Mulheres Intelectuais do Brasil, além de brasileiros exilados perseguidos pelo Estado Novo, cujo governo buscou impedir sem sucesso a realização. Para a autora, o evento refletia a desilusão com a Europa e representou a inflexão do antifascismo latino-americano em vista do seu alinhamento às diretrizes da política externa norte-americana que enfatizava a boa vizinhança e a união das forças contrárias ao fascismo. O título do discurso do uruguaio Emilio Oribe era emblemático dessa guinada: “Por que a América imita os europeus? Cultura autóctone e universal.”
A autora dedica especial atenção à Guerra Civil Espanhola, conflito de enorme repercussão na América Latina e divisor de posições da opinião pública, que se mobilizou tanto a favor do governo republicano quanto dos rebeldes nacionalistas. Na Argentina e no Uruguai a solidariedade aos republicanos foi especialmente intensa em razão da elevada taxa de imigrantes espanhóis em relação ao conjunto da população. Por sua vez, tais imigrantes estavam organizados em uma vasta rede de entidades associativas e jornais comunitários que impulsionaram iniciativas em favor da República Espanhola. As remessas de alimentos, remédios, dinheiro e roupas constituíram as ações prioritárias da solidariedade aos republicanos, além da acolhida dos exilados e a pressão política pela não intervenção da Itália e da Alemanha no conflito espanhol.
São examinadas as atividades da Agrupação de Intelectuais, Artistas, Jornalistas e Escritores, cuja seção argentina criou a Comissão Argentina de Ajuda aos Intelectuais Espanhóis. As ações de solidariedade dessa comissão tiveram como ponto alto os protestos e as homenagens decorrentes do fuzilamento de Gabriel Garcia Lorca, ato covarde que foi transformado em símbolo da luta da cultura contra a barbárie fascista. Os intelectuais latino-americanos viam a si mesmos como legítimos partícipes das fileiras republicanas deste lado do Atlântico. A uruguaia Clotilde Luisi, perguntando-se quem formava essa retaguarda, esse verdadeiro exército, guardião da alma espiritual do povo, respondia: os homens de ciência, professores, artistas plásticos, atores, escritores e poetas.
Em contraste, para a autora, a solidariedade dos brasileiros aos republicanos espanhóis não contou com a formação de entidades dedicadas especialmente a tal finalidade. Contando com a permanente repressão do governo Vargas, a solidariedade republicana apenas pode tomar corpo por meio de matérias divulgadas na imprensa antifascista e assim mesmo com restrições em vista da censura. Segundo o escritor Álvaro Moreyra, a morte de Garcia Lorca foi noticiada pelos jornais brasileiros com seis meses de atraso em outubro de 1937. De qualquer forma, a Revista Acadêmica foi a publicação brasileira mais empenhada no apoio aos republicanos. Após a vitória dos nacionalistas, expressou a dor da derrota e a consciência dos limites do papel do intelectual por meio de um artigo de Emil Fahrat: “Nossa dor é maior do que a tua, Espanha, porque fomos vencidos sem termos entrado na luta. Perdão Espanha pelo que não fizemos por ti.”
Apesar de atestar o vigor do antifascismo dos países do Cone Sul, o livro se encerra com a melancólica constatação do fracasso do movimento. Por um lado, os intelectuais desmobilizaram-se em razão do Pacto Germano-Soviético e da sua subordinação à Política da Boa Vizinhança. Além disso, eles se mostraram incapazes de enfrentar as medidas autoritárias dos governos brasileiro, argentino e uruguaio. Talvez seja um quadro por demais pessimista que poderia ser repensado se relacionado ao processo mais amplo de construção da democracia na América Latina. Sabe-se que a formação de uma cultura democrática, pluralista e defensora de direitos humanos básicos nos países latino-americanos é um fato inegável da sua história contemporânea. Porém, sob inúmeros percalços, não se manifestou de forma linear e nem da noite para o dia, constituindo antes um processo ainda inconcluso.
O exame do movimento antifascista sugere que ele contribuiu decisivamente para desenvolver uma cultura democrática que serviu de suporte para combater o autoritarismo em suas várias modalidades depois da Segunda Guerra Mundial. Por sua vez, a cultura política frentista, por vezes tão mal compreendida, pode ter justamente no antifascismo uma das suas raízes mais fecundas na América Latina.
Referências
OLIVEIRA, Ângela Meirelles. Palavras como balas. Imprensa e intelectuais antifascistas no Cone Sul (1933-1939). São Paulo: Alameda, 2015. [ Links ]
2Como citar: OLIVEIRA, Ângela Meirelles. Palavras como balas. Imprensa e intelectuais antifascistas no Cone Sul (1933-1939). São Paulo: Alameda, 2015. Resenha de BEIRED, José Luis Bendicho. Para compreender o antifascismo na América Latina. Topoi. Revista de História, Rio de Janeiro, v. 19, n. 37, p. 226-231, jan./abr. 2018. Disponível em: <www.revistatopoi.org>.
José Luis Bendicho Beired – Professor da Universidade Estadual Paulista. E-mail: [email protected].
Resistência: memória da ocupação nazista: memória da ocupação nazista na França e na Itália – ROLLEMBERG (Topoi)
ROLLEMBERG, D. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda, 2016. Resenha de: GHERMAN, Michel. “Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália.” Uma perspectiva comparativa acerca do uso da memória. Topoi v.19 n.37 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2018.
Em seu livro Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália, publicado pela editora Alameda em 2016, a historiadora Denise Rollemberg propõe uma reflexão relativamente rara em trabalhos produzidos no Brasil: a análise dos lugares de memória da resistência ao nazismo em países que tiveram distintas experiências em relação à ocupação na Segunda Guerra Mundial, França e Itália.
Sua obra se divide em uma apresentação e em mais duas partes. Na apresentação, capítulo “Resistência: o desafio conceitual”, a autora faz um cuidadoso debate acerca das formas de resistência, de sua historiografia e de seus usos políticos. A Parte I, que trata de “Memória e resistência na França” se divide em dois capítulos.
No capítulo 2, “Museus e memoriais franceses”, é feita a análise de monumentos e museus da resistência francesa, discutindo referências teóricas de história e de memória e suas distintas adaptações nos vários casos dos “lugares de Memória” (p. 92) no país. No capítulo 3, “Em algumas horas vou morrer… As cartas de despedida dos resistentes”, a autora analisa cartas de despedida deixadas por resistentes que seriam, às vezes algumas horas depois de escrevê-las, fuzilados. Interessante notar aqui a tentativa de desconstrução de percepções prévias, por vezes consolidadas na memória da resistência, sobre os “mártires” assassinados pela repressão nazista.
Finalmente, na parte II: “Memória e resistência na Itália”, composta por mais dois capítulos, a autora faz uma reflexão sobre o uso da memória no país. O capítulo 4, “Museus e memoriais italianos” é aberto por um interessante debate sobre a própria construção da história italiana, no que diz respeito à memória da resistência. A partir dessa percepção, a resistência aberta ao nazifascismo, de fato estabelecida a partir da invasão estrangeira ao país (em 1943), teria sido iniciada, segundo a narrativa italiana do pós-guerra, já com a subida de Mussolini ao poder. Aqui, exposições e memoriais analisados parecem tentar estabelecer uma história contínua de resistência ao fascismo a partir da década de 1920. No livro, a autora aponta estratégias usadas na construção da memória sobre a resistência na Itália ao utilizar referências da unificação italiana (risorgimento, em fins do século XIX), como forma de estabelecer uma narrativa nacional contra a invasão alemã e o fascismo (p. 236).
Por fim, no capítulo 5, “Os sete fratelli”, o livro trata dos memoriais em homenagem a sete irmãos, militantes contra o fascismo, fuzilados em 1943. Aqui a autora analisa como os irmãos, simpatizantes do comunismo e moradores do interior da Itália, são alçados, no pós-guerra, à condição de símbolo nacional de resistência ao fascismo no país. Ao refletir sobre memoriais e museus em homenagem aos “sete fratelli”, a historiadora estabelece uma reflexão sobre a construção de uma memória sacralizada (p. 235) que transforma o caso específico de resistência e fuzilamento em referência simbólica da luta contra o nazifascismo na Itália.
O livro Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália constitui um trabalho importante por estar baseado em duas propostas de análise distintas e complementares. A primeira delas pretende estabelecer um estudo acerca da ocupação nazista em alguns países da Europa ocidental (França, Itália e Alemanha). Nesse contexto, a ideia de “uma resistência europeia” é desafiada. Para isso, a autora tenta historicizar a noção de resistência, ao propor questões determinadas pelas especificidades da política de ocupação em cada país.
A segunda proposta de análise está relacionada com a construção de uma memória da resistência. Aqui, Rollemberg analisa as narrativas sobre a resistência nos países citados. Essa revisitação da história é feita a partir da reflexão sobre os “usos da memória” na França, na Itália e na Alemanha, apresentando importante contribuição para debates acerca da ideia de memória sobre a resistência ao nazismo (p. 40).
O desafio de estudar museus e monumentos em países que tiveram experiências tão diferentes em suas respectivas relações com a expansão do nazismo na Europa demanda extrema habilidade na análise documental (de museus e memoriais), bem como uma perspectiva metodológica que garanta pertinência aos objetos escolhidos. Acredito que o livro de Denise Rollemberg tem muito sucesso em suas escolhas.
Esse sucesso está relacionado à cuidadosa análise que a autora faz do próprio conceito de resistência. Ao propor uma espécie de “dialética da resistência” (p. 20), Rollemberg afirma que o sentido de resistência deve estar menos vinculado, como propunha uma historiografia mais tradicional, com análises reificadas e absolutizadas da resistência propriamente dita. Aqui, a autora busca uma análise mais aprofundada a partir perspectivas mais críticas da própria resistência. Os diversos regimes escolhidos são analisados em conjunto com as respectivas formas de resistências ao nazismo. Nesse contexto, a historiadora propõe uma dinâmica comparativa entre dois (ou três) países com experiências bastante distintas na guerra: França e Itália (e Alemanha). Apesar de regimes diversos e das diversas formas de resistir, é proposto no livro que as referências de comparação podem ser não apenas possíveis, mas devem ser uma importante referência de pesquisa (p. 19).
Em sua pesquisa a historiadora propõe que seja estabelecida uma relação entre “forma da ocupação” e “forma da resistência”. Assim, o livro relaciona os diversos regimes de ocupação nazista às várias formas de resistência. Segundo a autora, onde as expressões do totalitarismo e da ocupação fossem mais pungentes e completas, mais flexíveis e menos específicas seriam as possibilidades de resistência. Nos casos em que o totalitarismo e a ocupação tivessem menos sucesso, as formas da resistência apareceriam de maneira menos ampla e mais objetiva.
Nesse sentido, países onde estruturas do regime fossem efetivamente hegemônicas, como é o caso da Alemanha, as formas de resistência deveriam ser vistas com lentes que dessem a elas maior expressão. Em países como a França (principalmente no norte do país), as análises sobre resistência deveriam ser feitas com mais exigência e fôlego, afinal, haveria, a princípio, maior espaço social e político para formas mais específicas e objetivas de resistência ao regime ocupante (p. 20).
Ao se debruçar sobre o caso francês, a autora faz um estudo de casos sobre “a história da memória” da resistência à ocupação. Se após a libertação a França produziu uma memória de “todos os resistentes”, essa memória se desloca para outro lugar depois das primeiras três décadas depois da ocupação nazista. Aqui, o livro aponta como referência o lançamento do documentário Le Chagrin et La Pitié, como forma de localizar e justificar a mudança da memória francesa no que diz respeito à resistência de todos. A perspectiva do documentário desafiava a memória oficial francesa, justamente por inverter esses sinais. A tese central do filme era de que, na França, todos foram, de uma maneira ou de outra, colaboracionistas (p. 21).
Nesse contexto, o “mito da resistência”, utilizado por governos do pós-guerra, seria substituído pelo “mito da colaboração”. Em um movimento de “contramemória”, os franceses revisitam as experiências do nazismo com, por assim dizer, sinais trocados. A autora defende que as transformações no tratamento da memória da resistência tenham sido um subproduto das manifestações de maio de 1968. Desse modo, a derrubada de heróis (típica da rebelião dos estudantes) chegava à experiência da resistência na guerra. Importante notar, como bem apontado no livro, que a produção dessa contramemória ocorre em um momento em que a geração dos “resistentes”, ou “colaboradores”, ainda estava ativa na França (p. 26).
Nessa dinâmica de memória e contramemória, a autora nota que outro debate começa a consolidar-se historiograficamente justamente após a publicação de uma importante obra que será referência. Vichy, France escrita pelo britânico Robert Paxton, propunha uma análise mais complexa do fenômeno da resistência. Nesse contexto, se buscava fugir das lógicas absolutas fosse da “nação de resistentes”, fosse da “nação de colaboradores”. De fato, o modelo paxtoniano apresenta uma nova abordagem sobre a história da resistência francesa, ou, segundo Rollemberg “entre os dois modelos de memória, ou entre as duas memórias, a historiografia buscou seu caminho próprio” (p. 23).
A partir desse momento, o livro debate modelos “pós-paxtotianos” da historiografia francesa que vão estabelecer critérios mais claros no que diz respeito às formas de resistência e as formas de colaboração. Afastando-se da noção do “homem providencial” (p. 27) e da naturalização da resistência (ou da colaboração) a historiografia francesa estabelece fronteiras e critérios para discutir formas de resistência na história do país.
A partir de então, a autora propõe que, para além de perspectivas “sacralizadas” das vítimas (p. 9), o “giro historiográfico” francês passa também a lidar com referências mais complexas de resistência. Saindo do debate baseado em figuras heroicizadas (no caso de resistentes) ou vilanizadas (no caso de colaboracionistas), a autora propõe análises a partir das “zonas cinzentas” de atuação (usando o conceito que Laborie pega emprestado de Primo Levi) (p. 9). A disputa entre a vítima sacralizada e a produção historiográfica mais crítica ainda está, entretanto, presente nos monumentos e nos debates sobre a memória francesa, como a autora bem demonstra no decorrer do livro (a abertura da obra com o exemplo do memorial de Jean Moullin ilustra muitíssimo bem esse debate) (p. 9).
Na parte sobre a resistência italiana, a autora trabalha a partir da perspectiva comparativa e estabelece características distintas em relação à resistência francesa. A resistência italiana se inicia com a ocupação nazista no país, justamente após a derrota do fascismo. Ou seja, há uma clara definição temporal e política sobre o início da resistência. Em comparação com a oposição contra o fascismo, a relação com os ocupantes nazistas aliados do fascismo era de combate (p. 44).
Esse período se estabelece quando estruturas de poder nazistas (como a Gestapo e a perseguição aos judeus) (p. 45) começam a se apresentar na Itália. Nesse momento, os opositores históricos ao fascismo italiano iniciam a resistência aos nazifascistas. Assim, a resistência italiana teria surgido, conforme propõe a autora, em 1943, junto à ocupação estrangeira.
Como bem coloca a historiadora, o combate e o apoio dos resistentes italianos é mais militar do que político (em comparação com a resistência francesa), apesar dos vários grupos envolvidos no combate aos nazistas (comunistas, democratas cristãos, socialistas, anarquistas etc.) e de suas perspectivas distintas de combate e de vitória sobre nazifascismo (tese das três guerras, p. 47).
Nesse sentido, inclusive haveria dois ocupantes no mesmo momento, os aliados (percebidos como parceiros na luta contra o nazifascismo) e os nazistas (em sua aliança com os fascistas), que teriam se transformado em inimigos e alvo da resistência italiana na guerra.
Nessa realidade, apresentada como referência comparativa ao que ocorria na França, a Itália vai produzir uma rede de memoriais, museus e monumentos muito específicos, como a autora apresenta na última parte do livro.
O último caso comparativo da obra de Denise Rollemberg é o caso da Alemanha, que por algum motivo não aparece no título e nem é alvo de análise quando a autora fala dos monumentos à resistência, na última parte da obra. Bastante diferente dos dois casos discutidos anteriormente, o caso da resistência na Alemanha é único.
Em primeiro lugar por não se tratar de uma resistência a invasão de potência estrangeira. A “resistência” alemã se estabelece no enfrentamento (ou na oposição) a um movimento social e político do próprio país. O segundo ponto importante está relacionado com o caráter do regime. Ao contrário do que ocorria na Itália e na França, a base social, as possibilidades de delação e o diminuto espaço para resistências criavam um tipo muito específico de oposição ao regime. Conforme proposto pela autora, no caso da Alemanha, o estabelecimento de um regime de alto grau de controle demanda que as análises de possíveis resistências sejam mais flexíveis e amplas. É isso que a autora faz.
A resistência alemã ao regime nazista fez com que ao fim da guerra se estabelecesse uma percepção de “grande élan moral e com um engajamento político intenso” (p. 50) que procurava se opor à “tese da culpabilidade coletiva”. Nesse sentido, se pretendia estabelecer uma espécie de lastro político para que “da outra Alemanha” pudesse surgir uma “nova Alemanha” (p. 51).
A ideia de que seria inviável, dado às expressões totalitárias do regime, que houvesse resistências internas na Alemanha foi largamente aceita, conforme mostra a autora, pelos historiadores do pós-guerra. A ideia de impossibilidade fazia com que se buscassem novas formas de compreensão da resistência alemã no contexto do regime nazista.
Essa perspectiva foi desafiada por Martin Boszat já na década de 1970. Para o historiador, a noção de “resistenze” (reações espontâneas, quase naturais) poderiam descrever as formas de “resistência” na Alemanha. Assim, a simples negação de uma saudação nazista, ou a não participação em desfiles do regime, seriam, em última instância, maneiras de resistir ao regime totalitário. Dessa forma, posicionamentos quase que exclusivamente individuais e “funcionalistas” (em oposição à natureza intencionalista da resistência francesa e italiana, p. 53), seriam as referências possíveis em uma Alemanha dominada pelo nazismo.
Na década de 1980, Ian Kershaw vai desafiar as perspectivas propostas por Boszat. Segundo ele, referências individuais e pontuais de “resistenze” poderiam apagar “zonas cinzentas ideológicas” (p. 54) que foram estabelecidas pelo próprio regime. Aqui, Kershaw chamaria a situação de dissidência, mas não utilizaria o conceito de resistência, sob o risco, segundo ele, de produzir-se heroicização de atitudes individuais. A autora faz, então, um levantamento de tentativas de resistência a partir de movimentos políticos coletivos que, apesar de poucos e dispersos, aconteceram na Alemanha nazista.
Esse debate sobre “culpabilidade coletiva”, “outra Alemanha” e sobre formas individuais e coletivas de resistência vai criar outro modo de produção de memoriais e museus que, infelizmente não são tratados no livro, centrado nos casos da Itália e da França.
A publicação no Brasil de um livro sobre a memória da resistência em países ocupados pelos nazistas na Europa é de fundamental contribuição em nosso país, no qual o debate sobre memória e resistência à ditadura parece encontrar novos desafios políticos e historiográficos.
Referências
ROLLEMBERG, D Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda, 2016. [ Links ]
2Como citar: ROLLEMBERG, D Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Alameda, 2016. Resenha de GHERMAN, Michel. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. Uma perspectiva comparativa acerca do uso da memória. Topoi. Revista de História, Rio de Janeiro, v. 19, n. 37, p. 232-236, jan./abr. 2018. Disponível em: <http://www.revistatopoi.org>.
Michel Gherman – Pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected].
Les invasions barbares: une généalogie de l’histoire de l’art – MICHAUD (Topoi)
MICHAUD, Éric. Les invasions barbares: une généalogie de l’histoire de l’art. Paris: Gallimard, 2015. 320p.p. Resenha de: DOSSIN, Francielly Rocha. O imaginário europeu sob o fantasma da filiação: sobre a racialização da arte e sua história. Topoi v.18 n.36 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2017.
“Nos pères les Germains”, Montesquieu.
Éric Michaud é historiador da arte e diretor de estudos na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris (École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS). Suas pesquisas giram em torno dos projetos artísticos que visaram a construção do novo homem, especialmente nos séculos XIX e XX. Há alguns anos tem se dedicado a compreender a distinção que a história da arte europeia, a partir do século XIX, fez entre norte e sul. Michaud pesquisa a criação dessa divisão, fundamentada por concepções nacionalistas e racializadas, a partir da leitura de autores como Wölfflin, Schlegel, Riegl, Courajod e Viollet-le-Duc.
Pouco conhecido no Brasil, Michaud ainda não obteve uma tradução de fôlego no país. A publicação mais próxima que dispomos é a argentina La estetica nazi – un art de la eternidade (Buenos Aires: Adriana Hidago, 2009, 397p.),1 seu livro anterior.2 Nessa obra o historiador francês empenhou-se no estudo do projeto estético nacional-socialista alemão, sendo exemplo cabal do uso da arte como prova da autoproclamada superioridade ariana. Michaud mostra como os usos da arte podem estar em posição contrária à “reconciliação” entre povos e como se dá o vínculo inseparável entre projetos políticos e estéticos. Como revela o subtítulo original, “Uma arte da eternidade”, a arte nazista propunha uma negação do tempo e da história. A inspiração para essa negação vem do cânone atemporal atrelado à noção de raça na história da arte. Essa problemática, que também circunda o último livro lançado, é tratada com a mesma erudição de seus textos anteriores. As invasões bárbaras: uma genealogia da história da arte3 é uma publicação da coleção Nrf Essais da editora francesa Gallimard. Resultado de uma pesquisa conduzida em 2010 no Institute for Advanced Study (Universidade de Princeton) e financiada pela fundação franco-estadunidense Florence Gould Foundation Fund. Na obra, Éric Michaud demonstra como concepções raciais foram fundantes da história da arte como disciplina.
Para o autor, “a história da arte começou com as invasões bárbaras”4 (p. 11), uma afirmação forte, mas que não significa que a história da arte tenha começado nos séculos IV e V com as invasões ao Império Romano, tampouco que a arte não possuísse história antes delas, mas sim que a disciplina só se fez possível quando, entre os séculos XVIII e XIX, as invasões começaram a ser entendidas e narradas como o “(…) evento decisivo pelo qual o Ocidente se engajou na modernidade, ou seja, tomou consciência de sua própria historicidade” (p. 11). A noção de que os bárbaros foram aqueles que destruíram a Europa clássica se inverte a partir do romantismo, momento em que passam a ser entendidos como aqueles que construíram o continente. Há nesse momento uma grande mudança na representação sobre o passado, criando-se uma grande oposição entre nórdicos (enérgicos e masculinos) e latinos (decadentes e femininos).
“Sobre um fantasma da filiação” é o título da introdução na qual o autor nos apresenta as linhas gerais de sua obra, mostrando como a partir de 1800 os “bárbaros” começam a ser entendidos como “um povo” vigoroso, forte e criativo, que trouxe renovação e rejuvenescimento de todas as ordens através da “injeção” do novo sangue, das raças nórdicas, no “corpo” dos povos do Império decadente. O “gênio5 nórdico” passa então a ser valorizado em detrimento da “latinidade”.
A história da arte, que surge com um viés antirromano e anticlassicismo, é uma criação romântica, contemporânea à criação dos Estados-Nações e ao desenvolvimento do nacionalimo na Europa. Sua genealogia nos remete a uma determinada organização histórica e política inerente ao regime de visualidade racializado. As relações entre história da arte e o modelo arqueológico e antropológico também ajudam a compreender como se deram as preocupações com as origens étnicas e raciais, pois tinham objetivos semelhantes: determinar o pertencimento de origem de um objeto. A maior parte dos departamentos de história da arte nas universidades europeias é de “história da arte e arqueologia”, um exemplo dessa relação estreita entre ambas as disciplinas. Tanto a arqueologia quanto a história da arte tinham por tarefa associar “(…) seus objetos a grupos raciais se baseando em alguns signos visíveis” (p. 23). Essa procura por uma filiação, muitas vezes fantástica, levou a compreensão da estética como algo ligado ao sangue e à raça e serviu para que a “Europa projetasse no passado, seu projeto político nacional e racial” (p. 16). Assim, entendemos como “(…) a história da arte se inscreveu na grande narrativa da guerra das raças” (p. 16).
No primeiro capítulo, intitulado “Do ‘gosto das nações’ ao ‘estilo de raça’”, Michaud revela o caráter fantasmático, imaginário e confuso de noções basilares da disciplina, a exemplo das ideias de gosto e estilo que facilmente se confundiam com construções raciais. O “estilo” foi uma forma de visualizar, teorizar e hierarquizar diferenças. Daí teriam surgido divisões como “arte latino-mediterrânea” e “arte nórdico-germânica”.
Já no segundo capítulo, intitulado “Automiméses e autorretrato dos deuses”, Michaud mostra como se construiu determinada “leitura” da antiguidade (a mesma que posteriormente o projeto nazista portará, mas desta vez como uma caricatura). Um dos historiadores mais presente neste momento é Johann Joachim Winckelmann, considerado por muitos como o pai da história da arte (e da arqueologia científica). Winckelmann empreendeu uma busca pela pureza da arte antiga grega, ideal que para Michaud está intrinsecamente ligado à noção de pureza racial e à idealização da beleza humana, a exemplo da invenção do perfil grego. A análise dos textos de Winckelmann revela também o desenvolvimento de uma narrativa a-histórica e cristã. Nas palavras de Éric Michaud: “(…) foi, portanto, um modelo cristão que estruturou essa narrativa: o ideal era a encarnação do Espírito na história – mas na história da Grécia antiga” (p. 88), a arte grega espelhava, para Winckelmann, deuses autorretratados.
No terceiro capítulo, “As invasões bárbaras ou a racialização da história da arte”, o autor aprofunda sua tese central na qual identifica na reinterpretação das invasões bárbaras o ponto decisivo da racialização da história da arte. Aqui vemos como o processo de “desbarbarização” dos povos outrora bárbaros e considerados sem arte e sem cultura possibilitou a inversão romântica e produziu o modelo histórico e cultural que agenciou a narrativa da disciplina história da arte. Ao longo da leitura somos introduzidos a conceitos como o de “tempo de incubação” (temps d’incubation), essenciais para compreender a visão evolucionista da arte. Segundo Michaud:
Ela [a noção de tempo de incubação] se comunicava com os conceitos de despertar,6 de reminiscência, e especialmente de sobrevivência que ele [Louis Courajod] lidava com talento para lançar constantemente pontes entre os planos biológico e cultural a fim de estabelecer uma natureza hereditária da transmissão das formas no espaço e no tempo. (p. 133)
Com a reabilitação dos povos bárbaros, surge outro grande inimigo das artes: o judeu. Se uma das tarefas da história da arte era mostrar como a arte representava um povo em suas qualidades e tradições, o judeu, sem um território constante, ficava fora dessa narrativa. A visão comum era de que os judeus, egoístas, eram incapazes artisticamente de se verem como um povo, uma nação. Eram iconoclastas e, portanto, insensíveis à beleza plástica. O judeu passa aos poucos a ser não só aquele que não tem arte, mas também o destruidor da cultura. Isso se dá principalmente depois da emancipação judaica.7 Esta tese está presente no quarto capítulo, “Um novo bárbaro: o judeu sem arte”.
No último capítulo, “O sangue dos bárbaros: estilo e hereditariedade”, encontramos outros conceitos e problemas que dão suporte à tese do autor. A história da arte como evolução é observada na oposição da tatilidade antiga do sul à opticalidade moderna do norte e também nas disputas acerca das origens do gótico. São vários os diálogos entre a visão evolucionista e racializada da história da arte e o pensamento de autores como Conde de Gobineau,8 por exemplo.
Outro conceito que nos é apresentado é o de Kunstwollen (vontade da arte), desenvolvido por Aloïs Riegl. Para Michaud, o conceito de vontade da arte está imbuído de um essencialismo psicológico nacional e racial. Caso semelhante é o conceito de Rassencharakter (Caráter racial), que Wölfflin creditava ser o responsável pelo estilo de um povo. No entanto, Michaud não foi o primeiro a observar as estreitas relações entre história da arte e teorias raciais. Meyer Shapiro já havia afirmado em 1936:
As teorias raciais do fascismo apelam constantemente às tradições artísticas (…). Onde, senão nos restos artísticos do passado, um nacionalista encontra as provas tangíveis de seu caráter racial imutável? Sua própria experiência se limita a uma ou duas gerações; somente os monumentos artísticos de seu país lhe asseguram que seus ancestrais eram como ele, e que seu próprio caráter é um legado permanente enraizado no seu sangue e no seu solo. Já faz um bom século que o estudo da história da arte tem sido usado para essas conclusões. (Apud Michaud, 2015, p. 211)
É verdade que os historiadores da arte mais lidos, como Aby Warbug, não são diretamente citados, entretanto, Michaud problematiza a metodologia de Giovanni Morelli (sob o pseudônimo de Ivan Lermolieff), revisitado por Carlo Ginzburg, para desenvolver seu “paradigma indiciário”, bastante utilizado por historiadores que tratam de arte, imagens, iconografia. Para Michaud, o método morelliano é outro exemplo de procura por indícios raciais e que faz parte de uma relação estabelecida anteriormente entre a “morfologia dos povos e as formas artísticas que produzem” (p. 64).
Nessa obra o conceito de raça tem uma conotação diversa da que ganha dianteira com o racismo científico. Por isso, sentimos falta de maiores contornos para o termo. No entanto, o autor está ciente dessas nuances e nos mostra que os termos raça, povo, nação, etnia foram utilizados de forma totalmente intercambiável por muitos dos autores que cita.
Para finalizar, cabe uma crítica relativa ao epílogo, intitulado “A etnização da arte contemporânea”. Nessas quatorze páginas, o autor defende que a crença de que uma arte representa um povo ou uma raça perdura não só nas classificações e divisões museológicas por nações e origens, mas também no que ele chama de “etnicização da arte”, que seria um fenômeno presente desde os anos 1950. Para ele, a universalidade abstrata, um dos princípios do mundo romano, continua a ser acusada de oprimir as singularidades dos diferentes povos; universalidade esta atualizada por meio da globalização. Tal queixa, para o autor, vem de uma visão romântica contra o que seria o poder normativo do classicismo. Michaud observa que o mercado de arte contemporânea tem sobrevalorizado as origens étnicas das obras de arte e dos artistas. Um dos casos lembrados pelo autor é a arte dos inuítes e como ela teria sido organizada pelo mercado de forma a valorizá-la, encerrando-a na constituição de um ideal de “pureza” de suas origens étnicas.
É possível observar um paralelo com a tese apresentada anteriormente, afinal, com a valorização de artistas fora do eixo Europa-Estados Unidos, não estaríamos assistindo a uma nova “reabilitação dos povos bárbaros”? Pode-se observar, por exemplo, como artistas africanos e afrodescendentes nas Américas e na Europa têm emergido em importantes espaços expositivos. Não seria esse outro momento de “desbarbarização” dos povos outrora considerados sem arte e sem cultura? Lembramos especialmente o caso da África por ter sido o continente que por muito tempo foi considerado o exato oposto da Europa. E por isso, sem leis, sem cultura, sem história e sem arte.9
Se, por um lado, podemos afirmar com o autor que uma compreensão racial baliza a compreensão da arte na contemporaneidade, por outro, Michaud parece nivelar a produção contemporânea como sendo um produto do interesse “étnico”. Nos últimos anos vêm ocorrendo uma maior participação de artistas oriundos de países chamados “periféricos” ao mundo da arte. É verdade que parte desses artistas conquista espaço através de rótulos relativos à origem, como, por exemplo, “arte latino-americana”, “arte do mundo árabe” ou “arte africana”. Por outro lado, vários desses artistas procuram colocar essas noções em xeque. Os próprios artistas lutam para se livrar dessa etiqueta que acaba por enclausurá-los na função de porta-vozes de uma nação ou de um determinado povo. Muitos artistas questionam e criticam esse olhar balizado a partir do interesse pelo “exótico” ou por uma “diferença construída”. A poética desses artistas acaba centrando-se no intuito de desconstrução da visualidade racializada que embalou e embala o ocidente. Eles assim o fazem, tal como o faz Michaud, demonstrando como tais critérios fazem parte do atual momento histórico marcado pelas estruturas e práticas racializadas.
É significativo que a obra se encerre abordando a arte contemporânea, afinal, as perguntas que fazemos ao passado são fruto das preocupações que temos com o presente. Em suma e ao final da leitura, a obra provoca os historiadores da arte a se colocarem uma questão capital: como pensar a historicidade da arte e sua narrativa fora do âmbito genealógico das filiações?
As invasões bárbaras apresenta uma grande contribuição à historiografia da arte, não apenas porque traz, com erudição, uma pesquisa excelentemente realizada, mas porque dialoga com as mais agudas preocupações da contemporaneidade. Se hoje sobra à História o exercício da autocrítica e da reflexão sobre sua própria escrita, faltava à História da Arte a coragem de se colocar algumas questões difíceis e incontornáveis impostas por nosso presente. Neste livro, Michaud realiza uma reflexão preciosa sobre a história, a ética e a estética da história da arte e as representações e sentimentos fundantes desta disciplina. Para quem se interessa por temas ligados não só à História da Arte, mas às questões ligadas à visualidade, em especial ao regime de visualidade racializado, esta obra é leitura imprescindível, e por isso espero que não tardemos a ver uma tradução em português.
1Un art de l’éternité. L’image et le temps du national-socialisme. Paris: Gallimard, 1996, 392p. (A obra contou também como uma tradução em língua inglesa: The Cult of Art in Nazy Germany. Trad. Janet Lloyd. Stanford: Stanford University Press, 2004, 276p.).
2Michaud é autor de outros livros que ainda não foram traduzidos para a língua estrangeira. Cf. <http://cehta.ehess.fr/index.php?/membres/membres-associes/163-eric-michaud>.
3Algumas questões centrais das quais o autor se ocupou no livro já tinham sido apresentadas em um artigo que publicou previamente na revista estadunidense October (n. 139, p. 59-76, inverno de 2012) sob o título “Barbarian Invasions and the Racialization of the Art History”.
4Todas as citações dos originais em língua estrangeira foram traduzidas por mim.
5A palavra gênio é utilizada aqui não no sentido de extraordinário talento, potência intelectual e/ou conhecimento, mas no sentido, mais comum em francês (génie), de características e qualidades próprias e distintivas de algo e/ou alguém.
6Réveil pode ser traduzida como “despertar”, referindo-se a um processo de renascimento.
7Refiro-me aqui ao processo, que se deu entre o século XVIII até o século XX, de libertação dos judeus na Europa, expresso principalmente pela abolição de leis discriminatórias e pela conquista de direitos civis.
8Bastante conhecido no Brasil e pelos estudiosos das relações raciais, pois, como diplomata, serviu no Brasil e seus escritos representam um resumo claro do racismo do século XIX.
9Lembro aqui o já bastante citado excerto da introdução de Fundamento geográfico da história Universal de Hegel: “A principal característica dos negros é que sua consciência não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, pelas quais o homem se encontraria com sua própria vontade, e onde ele teria uma ideia geral de sua essência. (…) O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda reverência, de toda moralidade e de tudo o que chamamos de sentimento, para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca a ideia de caráter humano. (…) Entre os negros, os sentimentos morais são totalmente fracos — ou, para ser mais exato, inexistente. (…) Com isso, deixamos a África. Não vamos abordá-la posteriormente, pois ela não faz parte da história mundial; não tem nenhum movimento ou desenvolvimento para mostrar. (HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia da história. Brasília: Ed. UnB, 1995, p. 84-88).
10Como citar – MICHAUD. Éric. Les invasions barbares: Une généalogie de l’histoire de l’art. Paris: Gallimard, 2015. p. 320. Resenha de DOSSIN, Francielly Rocha. O imaginário europeu sob o fantasma da filiação: Sobre a racialização da arte e sua história. Topoi. Revista de História, Rio de Janeiro, v. 18, n. 36, p. 690-695, set./dez. 2017. Disponível em: <www.revistatopoi.org>.
Francielly Rocha Dossin – Doutora em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: [email protected].
Crítica da razão negra – MBEMBE (Topoi)
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. 1. ed., Lisboa: Antígona, 2014. Tradução de Marta Lança. Resenha de: ROBYN, Ingrid. Capitalismo, esquizofrenia e raça. O negro e o pensamento negro na modernidade ocidental. Topoi v.18 n.36 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2017.
Crítica da razão negra, de Achille Mbembe (original em francês pela editora La Découverte, 2013), é um desses livros que nasceu já clássico: clássico não no sentido de antigo, ou imune à passagem do tempo, mas no sentido borgeano de ter sido escolhido por uma comunidade de leitores como leitura obrigatória. E o livro é, de fato, leitura obrigatória não apenas para aqueles que se interessam pela questão do “negro”,1 mas para todos aqueles que, de alguma forma, se interessam pela relação entre raça e modernidade, ou posto de outra maneira: raça, Estado e mercado. Porque o que o autor denomina devir-negro do mundo é, concretamente, uma teoria explicativa das relações entre o pensamento racial no mundo ocidental e a emergência da modernidade em sua relação intrínseca com o desenvolvimento do Estado moderno e do capitalismo, sobretudo da chamada acumulação primitiva do capital (que, diga-se de passagem, tanto Mbembe como a teórica italiana Silvia Federici não veem como uma etapa superada do desenvolvimento do capitalismo, e sim como algo ainda em curso). Situando-se entre a filosofia, a história e a crítica, Crítica da razão negra é, ao mesmo tempo, uma abrangente e provocadora reflexão sobre os conceitos de “raça”, “negro” e “África” no ocidente, e um panorama histórico das relações raciais no mundo ocidental entre os séculos XV e XXI. Ao mesmo tempo que analisa os processos históricos dos quais derivam estes conceitos, Mbembe também nos oferece um recorrido do que eu chamaria “pensamento negro” – a sua “razão negra” -, dialogando criticamente com uma série de filósofos, teóricos e escritores negros que se debruçaram sobre a sua condição e refletiram sobre as possibilidades de emancipação do negro no mundo ocidental; uma tradição cujo ponto alto o autor localiza entre as décadas de vinte e setenta do século XX, mas de cuja ideias ele se apropria para pensar o século XXI.
Apesar de que percorre um longo caminho histórico, a maior parte do livro se concentra em dois momentos históricos especialmente paradigmáticos da história das relações entre Europa e África, assim como a construção dos conceitos de “negro” e “raça”: o pensamento ilustrado do século XVIII francês e o colonialismo europeu sobre o continente africano no século XIX. Se bem faz remontar o termo “negro” ao século XVI, e conceda especial atenção à maneira como esta categoria opera nas Américas francesa e inglesa, é durante o iluminismo e o neocolonialismo europeus que Mbembe localiza o ponto nodal da construção do negro como sujeito racializado no Ocidente e, como tal, contraponto à humanidade encarnada pelo “branco”:
o Negro e a raça têm significado, para os imaginários das sociedades europeias, a mesma coisa. (…) a sua aparição no saber e no discurso modernos sobre o homem (e, por consequência, sobre o humanismo e a Humanidade) foi, se não simultâneo, pelos menos paralelo; e, desde o início do século XVIII, constitui, no conjunto, o subsolo (inconfessado e muitas vezes negado), ou melhor, o núcleo complexo a partir do qual o projeto moderno de conhecimento – mas também de governação – se difundiu. (p. 10)
Antes de entrar a fundo no conteúdo do texto, no entanto, proponho uma pergunta: por que a tradução portuguesa do livro saiu três anos antes da sua tradução ao inglês, quando o mercado de editoras acadêmicas nos Estados Unidos – para ficar apenas com os Estados Unidos – é reconhecidamente mais ativo e mais lucrativo que o mercado editorial português tomado em seu conjunto?
A pergunta permite um sem-fim de hipóteses. Uma hipótese seria a de que foram os portugueses os primeiros europeus a ocupar as costas africanas e estabelecer o tráfico de escravos daquele continente, para o resto do mundo. A teoria, no entanto, é preguiçosa: sabemos do papel de companhias inglesas no tráfico de escravos de origem africana e, mais importante, do papel preponderante das colônias da América do Norte no que diz respeito à construção da categoria “negro”. Além disso, tal hipótese apelaria ao nacionalismo português, algo do que o livro de Mbembe se afasta de forma notável.
Outra hipótese seria o interesse que o livro poderia suscitar em outros países de língua portuguesa, sobretudo as ex-colônias portuguesas na África e o Brasil. Mais condizente, esta hipótese não explica o outro lado da história: o fato de que o livro tenha demorado tanto em publicar-se em língua inglesa, quanto Mbembe na verdade confere certo protagonismo à Inglaterra e aos Estados Unidos tanto no que diz respeito ao tráfico negreiro e à escravidão como à construção das fabulações responsáveis pelo surgimento da figura do negro, e que em última instância determinariam os rumos da ideologia racial na modernidade.
Uma possível resposta encontra-se, talvez, na tese central que Mbembe desenvolve ao longo deste livro, e que encontra particular resistência no mundo anglo-saxão: a ideia de que o liberalismo – tanto econômico, como político – não é incompatível com a escravidão e o racismo; ao contrário, é o liberalismo que cria o negro e a noção de “raça”, indissociável desta figura. Para Mbembe, ao mesmo tempo que o Estado moderno surge com e para o mercado global – é a máquina de guerra do Estado moderno que permite a empresa colonial, isto é, a escravidão em massa, o sistema de plantação e a acumulação primitiva de capital -, o liberalismo é a ideologia que justifica esta operação. Obviamente, Mbembe diferencia os processos históricos e ideologias específicos que distinguem o colonialismo dos séculos XV-XVIII, daqueles que irão caracterizar o século XIX e boa parte do século XX. No entanto, o autor não observa uma real ruptura entre esses dois tipos de colonialismos – e capitalismos – no que diz respeito à questão do negro. Ao contrário, é o surgimento da noção de humanidade, no esteio do iluminismo e o liberalismo, o que garante a definitiva separação desta entre “brancos” – sinônimo de “homem”, neste contexto – e “negros” – vistos como uma outredade absoluta, como espécie de semi-homens cuja diferença radical frente ao “homem branco” justificaria a empresa colonizadora. Nos termos de Walter Migonolo, seria no século XVIII que se processa a separação dos homens entre humanitas e anthropos.
É esta a tese que o autor desenvolve nos três primeiros capítulos do livro, “A questão da raça”, “O poço da alucinação” e “Diferença e autodeterminação”. Seu ponto de partida, o questionamento das categorias “negro” e “África”, e com elas, da noção de “raça”. Para Mbembe, o negro é uma ficção, um conjunto de fabulações elaboradas no esteio do capitalismo mercantil e do estabelecimento do sistema de plantação. A criação da categoria “negro”, à qual logo se vincularia a noção de “raça”, teria por finalidade estabelecer uma diferença radical, entendida como insuperável, entre a humanidade europeia e esse outro, o negro, sobre o qual se projetam todo tipo de medos e ansiedades. Esse outro, prossegue Mbembe, não seria homem no sentido pleno da palavra, mas sim objeto: pré-humano, vivendo em estado primitivo, incapaz de autogovernar-se, o negro seria então reduzido à condição de escravo – mercadoria e trabalho – e a empresa colonial justificada como obra “civilizatória” e inclusive “humanitária”; algo que, segundo o autor, continuaria informando o neoliberalismo do século XXI e os processos de globalização.
Junto com as categorias “negro” e “raça”, surge a “África”, terra desconhecida e que não se quer conhecer, sobre as quais se projetariam também uma série de fabulações. A partir de então, negro e África passariam a ser diretamente associados: o colonialismo e o desenvolvimento do capitalismo dariam lugar, ao mesmo tempo, a uma territorialização da raça e racialização do espaço. Essa associação sine qua non entre negro e África é algo que os próprios sujeitos negros abraçariam em seus primeiros intentos de emancipação, reclamando sua “africanidade essencial” como parte de sua identidade, e canibalizando assim o discurso europeu.
Outro aspecto fundamental destes capítulos são as íntimas relações que se estabelecem entre o Estado moderno, o mercado e o racismo. Para Mbembe, o Estado moderno surge como instrumento do mercado e produto da razão mercantilista, a partir dos quais não apenas se estabelece uma partilha do mundo, mas uma partilha na qual a raça ocupa um papel central. Se o principal objetivo da lei e da burocracia é a coerção e controle dos corpos, e o medo é o principal instrumento do Estado – como já afirmara Michel Foucault -, é sobre o negro que irá se projetar este medo, e portanto sobre seu corpo que se exercerá o controle do Estado. Além do mais, o surgimento do direito moderno, na Europa, implicou entender tudo o que está além dela – homens incluídos – como ao mesmo tempo além e aquém da lei. Para Mbembe, o Estado moderno e o liberalismo surgem, então, como instrumentos biopolíticos por excelência que irão permitir e justificar a escravização do negro – entendido como ameaça, como conjunto de fabulações e de disparates que por sua vez disparam afetos -, o estabelecimento do sistema de plantação e, com isto, de um mercado global:
No ensaio La Naissance de la biopolitique, Foucault defende que, na origem, o liberalismo “implica intrinsecamente uma relação de produção/destruição [com] a liberdade”. Esquece-se de explicar que, historicamente, a escravatura dos Negros representa o ponto culminante desta destruição da liberdade. Segundo Foucault, o paradoxo do liberalismo é que “é necessário, por um lado, produzir a liberdade, mas esse próprio gesto implica que, do outro lado, se estabeleçam limitações, controles, coerções, obrigações apoiadas em ameaças, etc.” A produção da liberdade tem portanto um custo cujo princípio de cálculo é, acrescenta Foucault, a segurança e a protecção. Por outras palavras, a economia do poder característica do liberalismo e da democracia do mesmo tipo assenta no jogo cerrado da liberdade, da segurança e da protecção contra a omnipresença da ameaça, do risco e do perigo. (…) O escravo negro representa este perigo. (p. 143)
É neste sentido que o liberalismo e inclusive o discurso sobre direitos humanos solidificam o racismo. O liberalismo econômico tem por base o comércio de escravos, responsável pelo desenvolvimento do capitalismo e pelo que hoje chamamos globalização. Neste contexto, o negro ocupa o papel de mercadoria e de matéria energética: ele é, ao mesmo tempo, homem-mineral (não homem, natureza), homem-metal (escravo, instrumento de extração) e homem-moeda (produtor de mercadorias e mercadoria em si mesmo). Por sua vez, o liberalismo político e o discurso sobre os direitos humanos, herdeiro do iluminismo, utilizam a escravidão como metáfora da condição humana em seu conjunto, ao mesmo tempo que apagam a existência do racismo sob a bandeira da igualdade e da fraternidade: trata-se de um discurso universalizante que, por isso mesmo, é incapaz de dar conta da diferença histórica sobre a qual se fundam as categorias “negro” e “raça”. Ao contrário, sugere Mbembe, trata-se de reafirmá-las ante a suposta impossibilidade de conciliação entre a “raça branca”, portadora de humanidade e cidadania plenas, e a “raça negra”:
O direito é, portanto, neste caso, uma maneira de fundar juridicamente uma certa ideia de Humanidade enquanto estiver dividida entre uma raça de conquistadores e uma raça de servos. Só a raça de conquistadores é legítima para ter qualidade humana. A qualidade do ser humano não pode ser dada como conjunto a todos e, ainda que o fosse, não aboliria as diferenças.2 (p. 111)
O século XIX concluiria o trabalho de exclusão a partir do qual a África e o negro se vêm separados da “história da civilização”: sem lei e nem razão, a África e o negro deveriam ser paulatinamente “introduzidos” ao processo civilizatório sob a égide europeia. A noção de “decadência do ocidente”, bastante popular nas primeiras décadas do século XX, e o exotismo com o qual se recobre o continente africano – visto pela vanguarda europeia e também caribenha como portador de uma vitalidade perdida no velho continente -, não fazem senão reafirmar esses discursos, ainda quando se buscava reivindicar o termo “negro” como categoria de autodeterminação, e não mera projeção alheia.
Paralelamente à descrição dos processos históricos que discute, Mbembe vai deslindando o pensamento negro, a sua “crítica da razão negra”, à que irá se dedicar de maneira mais direta a partir do capítulo três. Durante os séculos XV-XVIII, o negro expressa uma espécie de cisão a partir do qual habita a si mesmo como um outro, expressando mesmo um desejo de ser outro – como já o havia sugerido Franz Fanon. Neste primeiro momento, o negro abraçaria os discursos e fabulações que o constroem como tal e lhe retiram a sua humanidade, ao mesmo tempo que está obrigado a reconhecer sua condição humana. Mesmo com o fim do tráfico de escravos e os movimentos de emancipação do século XIX, afirma Mbembe, o pensamento negro reproduziria as três respostas elaboradas pelo Ocidente no que diz respeito ao “problema africano”: a noção de que África representaria uma humanidade sem história, aquém da razão e da lei; a noção de que a diferença radical do negro é algo a emendar-se, para o qual se faria necessário administrar, ainda que de forma indireta, tanto os escravos libertos e seus descendentes como o continente africano como um todo; a ideia de que o negro deve assimilar-se ao projeto civilizatório europeu para tornar-se um ser humano e um cidadão.
Se nesse primeiro momento o negro experimentaria um processo de desapropriação e de degradação, num segundo momento, o pensamento negro se caracterizaria pela vitimização. Para Mbembe, o pensamento negro do século XIX e inícios do século XX teria sido incapaz de escapar do universalismo e humanismo liberal-ilustrados, abraçando a noção de reabilitação como forma de afirmar a sua humanidade. Neste contexto, o pensamento negro não nega, mas sim incorpora a noção de raça, fazendo dela fundamento para sua ideia de nação:
A reafirmação de uma identidade humana negada por outro participa, neste sentido, do discurso da refutação e da reabilitação. Mas se o discurso da reabilitação procura confirmar a co-pertença negra à Humanidade, não recusa, no entanto – exceto em raros casos -, a ficção de um sujeito de raça ou da raça em geral. Na realidade, abraça esta ficção. Isto é tão válido para a negritude como para as variantes do pan-africanismo. (p. 158)
Além disso, e como vítima, o negro passaria a ver a sua própria história como série de fatalidades causadas por um inimigo externo, planteando a necessidade de superar o seu passado e inclusive esquecê-lo, para poder gerar uma possibilidade de futuro.
É este, em grande medida, o tema do capítulo quatro deste livro, “O pequeno segredo”, dedicado à questão da memória e ao que o autor denomina “modos de inserção da colônia no texto negro”. Como origem da cisão fundamental a partir da qual emerge o negro, locus de uma perda originária, a colônia será contraditoriamente algo comemorado e relegado ao esquecimento. A colônia, afirma Mbeme, se apresenta para o negro ao mesmo tempo como violência e como espécie de espelho no qual se reconhece a si mesmo. Neste sentido, a memória da colônia se apresentará como ponto fulcral da literatura negra, e com ela, o problema do olhar: é o olhar do colonizador que cria o negro, um olhar que não vê mais além de um corpo sobre o qual projeta todo tipo de ansiedade sexual, e que se alimenta da sua própria ignorância:
África propriamente dita – à qual acrescentaria o Negro – só existe a partir do texto que a constrói como ficção do outro. (…) Por outras palavras, África só existe a partir de uma biblioteca colonial por todo o lado imiscuída e insinuada, até no discurso que pretende refutá-la, a ponto de, em matéria de identidade, tradição ou autenticidade, ser impossível, ou pelo menos difícil, distinguir o original da sua cópia e, até, do seu simulacro. (p. 166)
Outro aspecto que Mbembe associa à colônia é seu papel como produtora de desejos e alucinações. A colônia, afirma ele, faz circular no continente africano toda uma série de mercadorias e bens simbólicos que excitam o desejo dos colonizados, que passam quase imediatamente a ser considerados signos de prestígio, status, classe etc. Nesse sentido, a colônia é, também, objeto de desejo. Sua memória, então, apresenta-se à literatura africana como algo que ultrapassa os limites daquilo que a linguagem pode expressar, mas também como inelidível.
O quinto capítulo de Crítica da razão negra, “Réquiem para o escravo”, está dedicado quase exclusivamente à literatura negra. Neste capítulo, Mbembe se debruça sobre certos motivos correntes na literatura contemporânea, e que remetem à duplicidade de que nela se recobre a figura do negro: reverso da humanidade, mas incapaz de ignorar sua condição humana, o negro se identifica com seu duplo, a sua sombra, convertendo-se em espécie de fantasma, alienado do próprio corpo. Na realidade – e aqui Mbembe se afasta notavelmente do marxismo clássico -, dissociar-se do próprio corpo, metamorfosear-se, seria condição fundamental para a emancipação do negro, uma vez que a operação básica do capitalismo racial consiste precisamente em converter o negro em corpo para o trabalho, isto é, em objeto.
O último capítulo do livro, “Clínica do sujeito”, nos oferece um recorrido do pensamento negro no século XX, analisando criticamente diferentes propostas de emancipação que marcaram o período: especificamente, as de Marcus Garvey, Aimé Césaire, Franz Fanon e Nelson Mandela. Após comentar em detalhe cada um desses pensadores, Mbembe propõe dividir o pensamento negro contemporâneo em dois períodos: um primeiro no qual o desejo de autodeterminação passaria pela afirmação da diferença e celebração da negritude, do qual o exemplo máximo seria Aimé Césaire; e um outro, o do século XXI, no qual se abraçaria o significante negro não como forma de autoafirmação ou autocompadecimento, mas sim para melhor livrar-se dele. Para Mbembe, o atual mundo globalizado requereria uma crítica radical da raça, tanto política como ética, a partir da qual seria possível passar de uma afirmação da diferença para uma afirmação da comunidade humana. Valendo-se, sobretudo, de Fanon, e estendendo a questão do negro ao que o autor chama “novos condenados da terra”, Mbembe afirma que qualquer projeto efetivamente emancipador, nos dias de hoje, requer que o negro abandone o papel de vítima, por um lado, e que os colonizadores assumam a sua responsabilidade, de outro. Trata-se, segundo ele, de insistir na lógica da justiça; algo que se observa em movimentos negros contemporâneos como Black Lives Matter:3
Enquanto persistir a ideia segundo a qual só se deve justiça aos seus e que existem raças e povos desiguais, e enquanto se continuar a fazer crer que a escravatura e o colonialismo foram grandes feitos da “civilização”, a temática da reparação continuará a ser mobilizada pelas vítimas históricas da expansão e brutalidade europeia no mundo. Neste contexto, é necessária uma dupla abordagem. Por um lado, é preciso abandonar o estatuto de vítima. Por outro, é preciso romper com a “boa consciência” e a negação da responsabilidade. Será nesta dupla condição que é possível articular uma política e uma ética novas, baseadas na exigência de justiça. (p. 297)
Seria impossível dar conta aqui de toda a riqueza intelectual e gama de ideias que desenvolve Achille Mbembe nesse livro. Para finalizar, ressaltaria a contribuição teórica que oferece o autor, que compartilha com Fanon a qualidade de não poupar a sensibilidade do leitor. Claramente inspirado nas obras de teóricos como Gilles Deleuze e Michel Foucault, Crítica da razão negra responde a esses teóricos apontando a centralidade do negro e da noção de raça para o desenvolvimento da modernidade. Ao mesmo tempo, Mbembe incorpora em sua escritura as contribuições de toda uma série de teóricos negros – africanos, caribenhos e norte-americanos -, e até mesmo de teóricos latino-americanos como Walter Mignolo. Trata-se portanto de um arcabouço teórico que apenas em aparência deriva direta ou exclusivamente da tradição francesa. Ao demonstrar a relação inelidível entre o pensamento sobre raça no Ocidente, a constituição do Estado moderno e o mercado, Mbembe desloca o centro de preocupações da crítica de esquerda europeia da história do capital e dos chamados direitos humanos para a questão da raça. Ao mesmo tempo, o autor denuncia também as contradições do pensamento libertário e nacionalista negros, ressaltando suas dívidas para com a “razão branca” e insuficiências no que diz respeito a qualquer perspectiva de futuro. Por fim, apesar de enfocar-se na questão do negro em sua relação com a África e o colonialismo europeu – o negro como homem de origem ou descendência africana – as teses desenvolvidas em Crítica da razão negra, como indica o próprio autor, referem-se antes ao que ele denomina um devir-negro do mundo; expressão que introduz a possibilidade de pensar outros sujeitos racializados – muçulmanos, por exemplo – como os “novos negros” do mundo contemporâneo, e que reforça a ideia de que a categoria negro não passa de uma ficção útil. Não humano ou sub-humano, e ainda, ameaça ao mundo dos “brancos” – o que equivale a dizer, à “humanidade” mesma – o negro é portanto passível de ser explorado, isolado do resto da “humanidade” e, inclusive, exterminado. Neste sentido, Crítica da razão negra oferece não apenas chaves fundamentais para pensar-se a experiência do outro na modernidade, mas também a sua emancipação; aspecto fundamental para o desenvolvimento da humanidade mesma.
1“Nègre” no original, “black” na tradução ao inglês. Como veremos adiante, Mbembe analisa a categoria “negro” como uma construção histórica de longa duração que não se refere apenas aos sujeitos africanos e afrodescendentes, mas ao contrário se constrói como sinônimo de uma outredade absoluta; trata-se, portanto, de uma “ficção útil” que ultrapassa a questão da cor da pele, a origem ou a localização geográfica do sujeito negro.
2Mbembe se refere aqui ao direito moderno, e que continua informando tanto o funcionamento do Estado como o discurso sobre direitos humanos. Fundado numa noção universalizante de humanidade, o discurso sobre direitos humanos, de acordo com Mbembe, teria como resultado a obliteração da cisão fundamental que se estabelece a partir da própria criação da categoria “homem”.
3Refiro-me ao principal slogan do movimento BLM, “No justice, no peace!” (Sem justiça não há paz!), mas também ao fato de que o movimento rejeita a “boa consciência branca”, que via de regra se limita a converter o negro em vítima e portanto reproduz a lógica paternalista a partir da qual operam as relações raciais.
4Como citar – Mbembe, Achille . Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona, 2014. Tradução de Marta Lança. 1. ed. Resenha de ROBYN, Ingrid. Capitalismo, esquizofrenia e raça. O negro e o pensamento negro na modernidade ocidental. Topoi. Revista de História, Rio de Janeiro, v. 18, n. 36, p. 696-703, set./dez. 2017. Disponível em: <www.revistatopoi.org>.
Ingrid Robyn – Professora do Departamento de Línguas e Literaturas Modernas/Instituto de Estudos Étnicos. Universidade de Nebraska-Lincoln. E-mail: [email protected].
Empire in Waves: a Political History of Surfing – LADERMAN (Topoi)
LADERMAN, Scott. Empire in Waves: a Political History of Surfing. Berkeley: University of California Press, 2014. Resenha de: FORTES, Rafael. Surfe, política e relações internacionais. Topoi v.18 n.35 Rio de Janeiro July/Dec. 2017.
A obra do professor da Universidade de Minnesota, Duluth (Estados Unidos) constrói uma história política do surfe entre o fim do século XIX e o presente. Para tanto, explora um universo amplo e variado de fontes, pesquisadas, sobretudo, nos Estados Unidos. A descrição e a análise das fontes são entremeadas por uma boa contextualização realizada a partir de diálogo com a bibliografia, ao que se soma a perspicácia dos comentários e das problematizações apresentadas. O livro tem trechos saborosos de ler, seja pelo conteúdo das fontes ou pela análise acurada e, às vezes, mordaz.
No plano historiográfico, afirmações como a de que o prazer, intimamente associado ao ato de surfar, é também político, podem soar óbvias para aqueles familiarizados com os movimentos feministas do século XX, mas significam um avanço na história política do esporte e na história do surfe. No primeiro caso, Laderman acrescenta uma nova perspectiva a uma vertente quase sempre preocupada com políticas estatais, ou com o uso do esporte como ferramenta de mobilização e luta por movimentos sociais (de independência, de trabalhadores, identitários etc.).1 O autor aborda diacronicamente as relações entre uma modalidade e a política, cobrindo um período extenso, o que, salvo raras exceções – como o futebol (Brasil) e o futebol americano e o beisebol (nos Estados Unidos) -, permanece algo por fazer na história do esporte. Sua obra contribui para os estudos do surfe ao evitar a ênfase na história cultural ou no desenvolvimento das pranchas, comuns nos trabalhos sobre a modalidade.
O primeiro capítulo aborda o surfe no Havaí entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do XX, período que inclui um golpe de estado (1893) e a anexação pelos Estados Unidos (1898). As restrições à prática impostas por governantes estrangeiros e missionários cristãos integraram o processo de colonização do território e de subjuga-ção da população nativa. Nas primeiras décadas do século XX, o surfe é ressignificado pelos interesses imperialistas, tornando-se um dos principais elementos de promoção do arquipélago como destino turístico. Laderman explora fontes como panfletos, livros, revistas, pôsteres e cartões postais e, mais importante, realiza uma releitura de fontes conhecidas – como revistas2 e autores famosos da literatura memorialística sobre o surfe3 -, discutindo tais obras e a trajetória de seus autores a partir de articulações, pressupostos e objetivos políticos. Isto lhe permite contrariar a literatura jornalística, que situa a exploração comercial do surfe a partir dos anos 1970.
O capítulo dois enfoca as “viagens, a diplomacia cultural e as políticas de exploração do surfe” entre as décadas de 1940 e 1970 (p. 41). Em outras palavras, dá-se atenção à “globalização da cultura do surfe no pós-guerra”, estimulada pelas trajetórias de viajantes que se tornariam célebres, bem como ao fato de “as indústrias culturais dos Estados Unidos abraçarem o esporte”: via produções cinematográficas como Maldosamente Ingênua (Gidget) e Alegria de Verão (The Endless Summer); indústria fonográfica, com artistas como Beach Boys e Jan and Dean; e programas televisivos (p. 41-42).
O capítulo três aborda a construção da Indonésia como um destino paradisíaco, com a destacada promoção do surfe na política de divulgação turística levada a cabo pela ditadura de Suharto, nos anos 1970, a qual contou com intensa “colaboração dos surfistas com as autoridades indonésias” (p. 5). Em meados da década, Bali, promovida em revistas e filmes de surfe, tornou-se o principal destino turístico da modalidade fora dos Estados Unidos. A construção da ilha como um “paraíso” ignorou os cerca de 80 mil balineses assassinados pela repressão política após setembro de 1965, bem como o apoio dos Estados Unidos à matança em outras ilhas.4 De acordo com Laderman, “o primeiro campeonato internacional de surfe profissional realizado na Indonésia”, em 1980, contou com discursos de um general, de um ministro e do governador de Bali; e com uma parada de surfistas acompanhando a banda militar, na mesma época em que o governo do país executava um genocídio em Timor Leste (p. 77).
Este capítulo é o de maior densidade, discutindo os acontecimentos a partir de sua relação com a cultura do surfe, com a política interna da Indonésia e com os contatos desse país com os Estados Unidos. Frases como: “a história do surfe, como o próprio surfe, com muita frequência se situa numa bolha ideológica” (p. 63); e “para os surfistas que viajavam ao redor do globo, levar em consideração a realidade política dos lugares que visitavam significava o risco de poluir a transcendência da experiência de descer ondas” evidenciam o ponto de vista do autor, para quem a postura de ignorar questões políticas está relacionada com as próprias características e valores do surfe moderno. Isto tornava possível à cultura do surfe tanto ignorar os banhos de sangue quanto referir-se repetidamente ao espírito pacífico dos indonésios.
O capítulo quatro trata do surfe e do boicote esportivo à África do Sul devido ao apartheid. O assunto aparecia intermitentemente em revistas de surfe estadunidenses e australianas desde a década de 1960. Contudo, em 1985, quando três atletas profissionais de ponta decidem boicotar as competições em território sul-africano, o movimento ganha força e repercussão na modalidade. O texto se beneficia da grande variedade de fontes, incluindo filmes, livros e revistas da Austrália e da África do Sul.
O último capítulo foca a indústria do surfe e a “mercadorização da experiência”. Uma das principais contribuições é a análise da participação da indústria do surfe na “competição global estimulada por corporações multinacionais para reduzir salários, enfraquecer condições de trabalho e diluir proteções ambientais”, algo muito distinto da imagem positiva e ecológica que boa parte dos adeptos e do público geral nutrem em relação à modalidade (p. 147). Por outro lado, parece-me pouco produtiva a discussão sobre se é ou não contraditório o fato de o surfe ter se desenvolvido de tal maneira, se isto é inevitável etc. Neste ponto, a narrativa se distancia de um bom trabalho de interpretação histórica e flerta com uma visão essencialista do esporte.
Em suma, o livro problematiza uma série de elementos presentes na cultura do surfe e estabelece uma mirada interessante para a relação entre esporte e política. Contudo, como qualquer obra, tem limites. Aponto três.
Primeiro, ao afirmar que o surfe é “uma força cultural nascida no império (…), baseada no poder do Ocidente e inserida no capitalismo neoliberal” (p. 7), o autor fornece a chave para se compreender o foco central, mas também um limite fundamental de seu trabalho: trata-se de uma história política do surfe relativa à política externa dos Estados Unidos, e não de uma história política (geral) deste esporte, como o título sugere. Para ser justo: esta grandiosidade nos títulos é comum na historiografia de países como Grã-Bretanha, França e Estados Unidos.
Segundo, o uso de fontes e de bibliografia exclusivamente em língua inglesa limita a análise e as perspectivas apresentadas. Como é comum entre autores anglófonos, Laderman não reconhece o problema. Em dado momento, afirma não ser possível saber se os vietnamitas surfavam durante a guerra com os Estados Unidos. Ora, por que não é possível saber? Pela inexistência de fontes? Ou pela impossibilidade de acessá-las, já que não estão em inglês? Uma pesquisa de história oral que consulte surfistas do Vietnã atual poderia trazer informações sobre a prática do surfe durante a guerra – ou sobre sua inexistência. Trata-se de uma postura relativamente comum: ignorar, como possibilidade de acesso ao conhecimento, tudo que pode haver de fontes e de historiografia sobre o surfe em outros idiomas. Não se reconhece, assim, a limitação estrutural que o desconhecimento de outros idiomas impõe ao desenvolvimento da pesquisa histórica.
Terceiro, a narrativa dos acontecimentos recentes e a crítica à atuação das empresas (capítulo cinco) é, do ponto de vista científico, o ponto mais frágil: desaparece o olhar historiográfico, e a narrativa se limita a enfileirar frases remetendo a fontes. Pessoal e politicamente, concordo com muitas afirmações e críticas do autor, mas às vezes elas são pouco rigorosas e generalizantes, como ao dizer que os surfistas tendem a pensar desta ou daquela maneira, ou que a empresa de surfwear X é vista da forma Y pelo conjunto dos surfistas. Ademais, o capítulo apresenta, em maior grau, um traço que permeia o livro: para cada período histórico (ao que corresponde, mais ou menos, cada capítulo), o autor escolhe um assunto e uma questão – o que, em si, não é um problema. Contudo, acaba deixando em segundo plano o diálogo entre os capítulos e entre os períodos estudados. Desta forma, no último, ignora discussões dos anteriores que poderiam trazer densidade à análise: a disseminação global do surfe, a criação de um circuito mundial profissional, as mitologias em torno do Havaí e a emergência de mercados importantes como Brasil e Japão. No mesmo sentido, o capítulo crítica (com razão) a participação das multinacionais do surfe na selvageria promovida pelo neoliberalismo. Contudo, pouco responsabiliza as empresas pela conivência com regimes autoritários (tema do capítulo três), ou pelas representações estereotipadas e imperialistas, em peças publicitárias, de cidadãos de diversas regiões do mundo (o que permitiria dialogar com os quatro primeiros capítulos).
Não obstante tais limites, trata-se de uma contribuição sólida para a história do esporte, por inserir na história política uma modalidade quase sempre abordada pelo viés da história cultural, e por fazê-lo adotando uma perspectiva que busca transcender as fronteiras do nacional (ainda que limitada às políticas interna e externa dos Estados Unidos). Destaque-se também o fato de a obra mobilizar um imenso volume e variedade de fontes (embora, como apontei, num único idioma), num subcampo ainda muito dependente dos veículos impressos, particularmente os jornais diários. Trata-se de mais um título de história do esporte que mereceria ser objeto de tradução para o português, algo que ainda parece interessar pouco às editoras, inclusive às universitárias.
1Isto para não falar das frequentemente repetitivas pesquisas sobre Jogos Olímpicos, Copas do Mundo de futebol e identidade nacional.
2Como Surfer’s Journal.
3Como a autobiografia de Duke Kahanamoku, escritos diversos (cartas, reportagens e artigos) de Alexander Hume Ford e os livros dos jornalistas Drew Kampion e Matt Warshaw sobre história do surfe. Cf. KAHANAMOKU, Duke; BRENNAN, Joe. Duke Kahanamoku’s World of Surfing: Nova York: Grosset & Dunlap Publishers, 1968. KAMPION, Drew. Stoked: a History of Surf Culture. Salt Lake City: Gibbs Smith, 2003. WARSHAW, Matt. The History of Surfing. San Francisco: Chronicle Books, 2010.
4Os assassinatos em massa foram um dos principais métodos de repressão política do regime de Suharto.
Rafael Fortes – Doutor em Comunicação com graduação e pós-doutorado em História. Professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Rio de Janeiro – RJ, Brasil.
Barões do café e sistema agrário escravista: Paraíba do Sul, Rio de Janeiro (1830-1888) – FRAGOSO (Topoi)
FRAGOSO, João. Barões do café e sistema agrário escravista: Paraíba do Sul, Rio de Janeiro (1830-1888). Rio de Janeiro: 7Letras, 2013. Resenha de: SANTOS, Marco Aurélio; MORENO, Breno Aparecido Servidone. A formação da economia cafeeira do vale do Paraíba. Topoi v.18 n.34 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2017.
Nos últimos anos, as pesquisas feitas nas áreas de História Social e História Econômica vêm deslindando a complexa realidade econômica, política e social de diversas localidades brasileiras. Historiadores com diferentes abordagens, favorecidos por uma ampliação do conjunto documental acessível à pesquisa, estão conseguindo descortinar a significativa complexidade brasileira. O livro Barões do café e sistema agrário escravista: Paraíba do Sul, Rio de Janeiro (1830-1888), do historiador João Fragoso, insere-se nesse amplo corpus bibliográfico que vem, a cada ano que passa, enriquecendo a compreensão de diversos municípios do país. Em linhas gerais, Barões do café é uma versão resumida dos capítulos de história agrária de sua tese de doutorado, defendida em 1990,1 e procura investigar a estrutura e a hierarquia no sistema agrário escravista-exportador, bem como a reprodução desse sistema no município de Paraíba do Sul, situado no médio Vale do Paraíba fluminense.
João Fragoso inicia o capítulo 1, “Estrutura e hierarquia no sistema agrário escravista-exportador”, lançando um conceito-chave: o de “recriação de sistemas agrários escravistas”. Segundo seu ponto de vista, esse conceito apresenta três significados. A citação, apesar de longa, merece ser reproduzida na íntegra, pois mostra o que pode ser considerado como sendo a tese central do autor. Sendo assim, “a noção de recriação de sistemas agrários escravistas {…}”
– diz respeito à continuidade de uma sociedade não capitalista, onde (sic) as relações sociais de produção identificam-se com relações sociais de subordinação, os fatores de produção (inclusive a mão de obra) se apresentam enquanto mercadorias e se verifica a hegemonia do capital mercantil (fenômeno que se traduz na preponderância da elite de comerciantes de grosso trato sobre a hierarquia econômica colonial);
– essa recriação gera demanda para as produções voltadas para o mercado interno e, com isso, permite a recorrência da formação econômico-social escravista-colonial;
– e, por último, tal movimento reitera, na fronteira, os traços gerais da sociedade escravista: a produção de mercadorias, uma hierarquia econômico-social diferenciada e a hegemonia do capital mercantil. (p. 43)
Um pouco adiante, Fragoso escreve que, nessa economia de Paraíba do Sul,
as relações de produção se confundem com as de poder, ou melhor, cuja forma de extorsão do sobretrabalho depende de elementos extraeconômicos: o trabalhador direto é homem de outro homem. Entretanto, esse fato não causa o desvio do excedente da economia. Ao contrário de outras sociedades pré-capitalistas, a recorrência das relações de poder (e, com elas, as de produção) está presa aqui ao retorno do sobretrabalho para a produção por meio dos senhores de homens. (p. 43-44)
Essa sociedade, porém, tem especificidades: “a reprodução ampliada adquire um sentido particular que tem como resultado a reiteração e o aumento do poder, sem que isso signifique que tal economia se fundamente numa lógica do lucro pelo lucro” (p. 44).
Como já foi dito, esse início de capítulo apresenta a base conceitual que dá suporte ao estudo sobre Paraíba do Sul. Nesse sentido, partindo do que Fragoso escreveu, é possível tirar as seguintes conclusões sobre o “sistema agrário escravista-exportador”: (a) esse é um sistema de agricultura mercantil-escravista; (b) o sistema baseia-se na monocultura, na agricultura extensiva e no baixo nível técnico; (c) existe a produção de lucro, com a ressalva já apontada; (d) o sistema agrário funciona numa sociedade pré-capitalista/não capitalista (os dois conceitos são usados ao longo do trabalho); (e) fatores de produção como a mão de obra “se apresentam como mercadorias”; (f) o capital mercantil é hegemônico e, por fim (g) existe produção de mercadorias (café entre outras).
Uma primeira observação a ser feita é a de que o autor associa dois conceitos que são significativamente diferentes: o de “sociedade pré-capitalista” (p. 44) e o de “sociedade não capitalista” (p. 43). Fragoso usa diversas variantes desses dois conceitos. Algumas delas são: “estrutura econômica pré-capitalista” (p. 45), “agricultura pré-capitalista” (p. 57), “mercado pré-capitalista” (p. 57) e “mercado pré-industrial” (p. 58). Todas essas classificações seriam características do “sistema agrário escravista-exportador”.
Para Fragoso, Paraíba do Sul foi uma área de “agricultura pré-capitalista altamente especializada, cuja reprodução, tanto no que concerne à geração de suas rendas como o seu abastecimento, passa pelo mercado”. Esse é mais um trecho que confirma que se trata, segundo o autor, de uma sociedade pré-capitalista produtora de mercadorias. Afinal, se as rendas e o abastecimento passam pelo mercado, então o que a sociedade produz são mercadorias para abastecer a fazenda e para garantir sua sobrevivência (reiteração/reprodução, como talvez preferisse escrever o autor).
Ora, em primeiro lugar deve-se salientar que a caracterização de Paraíba do Sul como uma sociedade pré-capitalista mostra um vínculo do autor com o trabalho de Eugene D. Genovese, The Political Economy of Slavery: Studies in the Economy and Society of the Slave South.2 Por outro lado, fica claro que muitas das caracterizações feitas por Fragoso carecem de rigor conceitual. Deve-se sublinhar, de imediato, que existe uma diferença abissal entre os conceitos de “sociedade pré-capitalista” e “sociedade não capitalista”. O prefixo “pré” significa anterioridade e um momento de transição entre uma sociedade, digamos, colonial, e outra capitalista. Já afirmar uma sociedade “não capitalista” significa conceber outro sistema ou modo de produção. Como o autor não conceitua essas expressões, é impossível associar o conceito de “sociedade não capitalista” com o de “sociedade pré-capitalista” em Paraíba do Sul. O conceito “sociedade não capitalista” permite pensar que a “sociedade em estudo {no caso Paraíba do Sul} não é capitalista”. O adjunto adverbial de negação “não” faz supor a existência de outro modo de produção. De qualquer modo, ao associar “sociedade não capitalista” e “sociedade pré-capitalista”, tem-se uma confusão conceitual que dificulta a compreensão da agricultura cafeeiro-escravista de Paraíba do Sul. Essa falta de rigor conceitual marca a obra e chama facilmente a atenção do leitor.3
De modo geral, João Fragoso é pouco cuidadoso nos procedimentos metodológicos empregados em Barões do café. O autor utilizou “mais de 400” inventários post mortem e 2.223 escrituras públicas de compra-venda e hipotecas entre os anos de 1830 e 1885 (p. 20). A partir dos inventários, os agentes coevos foram distribuídos em uma hierarquia econômica composta por três grandes grupos de fortunas (em libras esterlinas). Quanto ao corte cronológico, Fragoso não justifica a pertinência de dividi-lo em subperíodos (1830-1840; 1845-1850; 1855-1860; 1861-1865; 1870-1875; 1880-1885) e nem a razão pelo qual certos quinquênios foram excluídos da amostra. Da mesma forma, não apresenta o método de conversão do mil-réis em libras esterlinas. Por fim, não esclarece os motivos pelos quais não utilizou em todos os quadros, gráficos e tabelas que contemplam dados extraídos dos inventários, a totalidade de processos de sua amostra inicial (os 462 inventários, como se constata no Quadro 16, no capítulo 1).4 Por exemplo, o Quadro 3, na página 48, apresenta os “investimentos nas fazendas de café”. Nesse quadro, o autor utiliza-se de 224 inventários, ou seja, cerca de 49% do total pesquisado. O mesmo número de inventários (224) se repete nos Quadros 14 e 15, às páginas 70 a 72.
Deve-se destacar que, em alguns casos, a amostra de inventários é tão pequena que pode até mesmo comprometer a validade das análises de João Fragoso. Um bom exemplo do que estamos apontando pode ser observado no Quadro 24 (p. 122), que exibe a origem dos créditos dos grupos de fortuna em Paraíba do Sul entre 1840 e 1880. Nota-se que o autor utilizou pouquíssimos inventários (12 para o período 1840-1850, 33 para 1851-1871 e 10 entre 1871-1880) para determinar se o crédito era oriundo de Paraíba do Sul ou do Rio de Janeiro.
João Fragoso reconhece que a metodologia adotada em sua pesquisa tem “uma série de problemas” (p. 22). Contudo, malgrado essa observação, o autor acredita ter alcançado o objetivo proposto ao perceber as “mudanças de uma dada hierarquia social, e a vida de seus agentes, no tempo, e portanto em meio às flutuações econômicas da sociedade” (p. 22). No entanto, seu livro não apresenta a dinâmica desse sistema na formação histórica do Brasil e não leva em conta os processos globais mais amplos da economia-mundo capitalista. Além disso, Fragoso afirma que o sistema agrário de Paraíba do Sul conserva “uma certa autonomia das flutuações da economia escravista-colonial frente às conjunturas do mercado internacional” (p. 65). Ora, sabe-se que essa autonomia nunca existiu. Esse assunto é objeto de importante debate historiográfico pelo menos desde a publicação de O arcaísmo como projeto.5
Trabalhos recentes em inventários questionam outra tese presente em Homens de grossa aventura6 e n’O arcaísmo como projeto e reproduzida em Barões do café. A noção segundo a qual a história do sistema agrário escravista é resultado de um processo global de reprodução que foi “originado de uma acumulação previamente realizada no comércio” (p. 43) é uma hipótese que pode servir para alguns casos específicos. Contudo, essa hipótese não deve ser generalizada para as demais regiões do médio Vale do Paraíba, coração da cafeicultura escravista do Oitocentos. Em Bananal – e em outras localidades do Vale do Paraíba paulista7 – a montagem da cafeicultura escravista obedeceu a outros mecanismos. A implantação e a disseminação da cultura cafeeira provocaram intensas mudanças na composição econômica dos domicílios. Os fogos que, em sua maioria, dedicavam-se à produção de mantimentos (milho, arroz, feijão e farinha de mandioca), sobretudo para a própria subsistência, no início do século XIX, logo se converteram em propriedades rurais voltadas à exportação de café para o mercado mundial. Os agricultores que não dispunham de capital para ingressar na cafeicultura adotaram a estratégia de cultivar milho e feijão entre as fileiras dos arbustos de café recém-plantados. Com isso, eles foram se deslocando paulatinamente da produção de gêneros para a atividade cafeeira, sem abdicar do cultivo de víveres para o autoconsumo.8
Por fim, cabe salientar que, apesar de questionar alguns procedimentos metodológicos utilizados para compor o livro Barões do café, Fragoso reproduz uma série de argumentos de seus trabalhos anteriores, como a noção de “autonomia”. Esses argumentos, já amplamente debatidos pela historiografia, apontam para outra direção, diferente da sustentada pelo autor. De qualquer modo, cabe salientar o esforço de Fragoso em olhar para as elites e suas estratégias empresariais e tentar compreender sua atuação no contexto do desenvolvimento da economia cafeeiro-escravista do século XIX. Malgrado as polêmicas em torno de suas teses, sua empreitada fomenta o debate historiográfico e o conhecimento da formação econômica e do Estado nacional brasileiro no Oitocentos.
1FRAGOSO, João L. R. Comerciantes, fazendeiros e formas de acumulação em uma economia escravista-exportadora no Rio de Janeiro: 1790-1888. Tese (Doutorado em História Social) — PPHS-UFF, Rio de Janeiro, 1990.
2Um exemplo desse vínculo pode ser lido no seguinte trecho: “The planters were not mere capitalists; they were precapitalist, quasi-aristocratic landowners who had to adjust their economy and ways of thinking to a capitalist world market. Their society, in its spirit and fundamental direction, represented the antithesis of capitalism, however many compromises it had to make”. GENOVESE, Eugene D. The Political Economy of Slavery: Studies in the Economy and Society of the Slave South. Middletown: Wesleyan University Press, 1989, p. 23. Para uma avaliação crítica da interpretação de Genovese, ver TOMICH, Dale W. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Edusp, 2011, p. 28-32.
3O conceito de “sociedade pré-capitalista”, com o prefixo “pré” compreendido como um momento de transição, está muito bem caracterizado no “Debate Brenner” e no debate sobre a transição do feudalismo para o capitalismo. Não é objetivo desta resenha desenvolver essa questão do conceito de sociedade pré-capitalista. Contudo, vale a pena ler a definição de R. H. Hilton para “pré-capitalista” em HILTON, R. H. Introduction. In: ASTON, T. H. & PHILPIN C. H. E. The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 5. Ver também a definição apresentada por Robert Brenner em BRENNER, Robert. The Origins of Capitalist Development: a Critique of Neo-Smithian Marxism. New Left Review, Londres, n. 104, 1977, p. 37. Mais ainda, vale a pena considerar a proximidade entre a “sociedade pré-capitalista de Paraíba do Sul”, conforme caracterização de Fragoso (ver especialmente os itens “c”, “f” e “g” citados anteriormente), e o conceito usado por Paul M. Sweezy de “economia pré-capitalista de produção de mercadorias”. Esse conceito foi usado por Sweezy para entender “o sistema que prevaleceu na Europa ocidental durante os séculos XV e XVI”. Ver SWEEZY, Paul. O debate sobre a transição: uma crítica. In: SWEEZY, Paul et al. A transição do feudalismo para o capitalismo: um debate. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 60-63. O artigo citado de Brenner é uma apreciação crítica da caracterização de Sweezy sobre o período de transição e sobre uma sociedade que, segundo o entendimento do historiador norte-americano crítico de Maurice Dobb, não era nem feudal nem capitalista nos séculos XV e XVI.
4Apenas na confecção do Quadro 16 (p. 78), que apresenta dados referentes à presença de fortunas no mercado de escrituras de Paraíba do Sul, Fragoso valeu-se de todos os inventários de sua amostragem.
5A tese segundo a qual a economia colonial brasileira gozava de “autonomia” frente à economia global já havia sido desenvolvida pelo autor em O arcaísmo como projeto, redigido em parceria com Manolo Florentino. FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto. Mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1840. 1. ed., 1993. Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. Vale notar que esta tese também está presente em: FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). 1. ed., 1997. São Paulo: Companhia das Letras, 2010; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do império: hierarquias sociais e conjunturas econômicas no Rio de Janeiro (c. 1650-c. 1750). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003. Para um contraponto ver, entre outros, os seguintes estudos: MARQUESE, Rafael; TOMICH, Dale. O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do café no século XIX. In: SALLES, Ricardo; GRINBERG, Keila (Org.). O Brasil imperial (1808-1889). Volume II (1831-1871). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 345-347. TOMICH, Dale. A “Segunda Escravidão”. In:______. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Edusp, 2011, p. 81-97. MARQUESE, Rafael. As desventuras de um conceito: capitalismo histórico e a historiografia sobre a escravidão brasileira. Revista de História (USP), v. 169, p. 223-253, 2013. MARIUTTI, Eduardo; NOGUERÓL, Luiz Paulo; DANIELI NETO, Mário. Mercado interno colonial e grau de autonomia: crítica às propostas de João Luís Fragoso e Manolo Florentino. Estudos Econômicos: IPE-USP, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 369-393, abr./jun. 2001. MORENO, Breno Aparecido Servidone. A formação da cafeicultura em Bananal, 1790-1830. In: MUAZE, Mariana; SALLES, Ricardo (Org.). O Vale do Paraíba e o Império do Brasil nos quadros da Segunda Escravidão. Rio de Janeiro: 7Letras, 2015, p. 328-350.
6Cf. FRAGOSO, João. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992.
7Cf. MOTTA, José Flávio. Corpos escravos, vontades livres: estrutura da posse de cativos e família escrava em um núcleo cafeeiro (Bananal, 1801-1829). São Paulo: Annablume/Fapesp, 1999. LUNA, Francisco; KLEIN, Herbert. Evolução da sociedade e economia escravista de São Paulo, de 1750 a 1850. São Paulo: Edusp, 2005.
8Cf. MORENO, Breno Aparecido Servidone. A formação da cafeicultura em Bananal, 1790-1830, op. cit. Ver também o livro de Maria Luíza Marcílio, resultado de sua tese de livre-docência apresentada junto ao Departamento de História da Universidade de São Paulo em 1974. Nessa pesquisa, Marcílio procurou investigar como “a infraestrutura ou o suporte humano, material e social sobre o qual se instituiu a economia cafeeira teve formação anterior a ela e não apenas concomitante”. MARCÍLIO, Maria Luiza. Crescimento demográfico e evolução agrária paulista: 1700-1836. São Paulo: Hucitec/Edusp, 2000, p. 16.
Marco Aurélio dos Santos – Doutor em História Social pela FFLCH-USP, Universidade de São Paulo – São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected].
Breno Aparecido Servidone Moreno – Centro de Estudos Migratórios – São Paulo, SP, Brasil. Mestre e doutorando em História Social pela FFLCH-USP. E-mail: [email protected].
An African Slaving Port and the Atlantic World – CANDIDO (Topoi)
CANDIDO, Mariana P. An African Slaving Port and the Atlantic World. Benguela and Its Hinterland, (2013). ., Nova York: Cambridge University Press, 2015. Resenha de: ALFAGALI, Crislayne Gloss Marão. Uma história de Benguela na economia do Atlântico Sul. Topoi v.18 n.34 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2017.
Este é um livro pioneiro: trata-se do primeiro trabalho exaustivo sobre um importante território angolano ao sul do rio Kwanza: Benguela, hoje uma das principais províncias do jovem país1 e, historicamente, durante mais de duzentos anos, o terceiro maior porto de embarque de escravos do Atlântico. O recorte temporal é abrangente, desde a primeira expedição portuguesa à localidade que ficou conhecida como “Benguela Velha”, no início do século XVI, até meados do século XIX, quando Benguela perde sua importância na economia atlântica devido à legislação que determina o fim do tráfico de escravos para o Brasil.
Mariana Candido, ao propor um diálogo assíduo com diversas correntes historiográficas, se insere em um conjunto de autores que abordam a história do continente africano a partir de uma perspectiva “afrocêntrica”, tributária dos caminhos abertos por uma historiografia que se voltou para o estudo dos portos de escravos na África, centra sua análise na agência africana.2 Dessa forma, ao escrever a primeira história detalhada sobre Benguela e o seu hinterland – e a formação de seu porto no centro da economia escravista do Atlântico Sul – a autora destaca o papel das “pessoas que construíram esses lugares e o inseriram na economia global” (p. 24). E, ainda que não negue a importância da participação dos oficiais portugueses e de comerciantes estrangeiros nessa história, sua narrativa privilegia as trajetórias dos africanos e, como veremos, com enfoque nas mulheres africanas.
O conjunto de fontes que compõe essa análise é vasto e advém de três continentes; são documentos coloniais produzidos por portugueses, brasileiros e africanos – relatórios, cartas, ofícios, censos, dados de exportação, registros paroquiais, crônicas, relatos de viagem provenientes dos arquivos de Angola, Portugal, Brasil, Canadá e Estados Unidos. Consciente da limitação dos documentos coloniais, por serem produto de uma visão europeia, a autora se esforça para reconstruir uma história social da região afirmando que mesmo nas lacunas e nos silêncios é possível encontrar indícios do que foi destruído, transformado e criado pelos atores envolvidos (p. 23). Embora tenha recorrido a entrevistas, registros de missionários e antropólogos do século XX para complementar os dados insuficientes das fontes escritas, privilegia as informações dos documentos que encontrou nos arquivos de Luanda e Benguela.3
Como debate historiográfico central, An African Slaving Port and the Atlantic World discute o impacto da economia Atlântica e do tráfico transatlântico de escravos nas sociedades da África Centro-Ocidental. Ao contrário do que defendem Thornton e Miller,4 Candido busca comprovar que as transformações provocadas na organização social, política, cultural e econômica dos Ndombe – um dos povos que primeiro estabeleceu contato com os portugueses na região – e de outros grupos vizinhos deixaram marcas devastadoras, pois levaram à expansão do colonialismo, à dependência africana da economia Atlântica, à instabilidade e perda de autonomia política e à violência incitadas pelos constantes (e, ao longo do tempo, cada vez maiores e mais frequentes) conflitos que tinham por objetivo o apresamento de escravos. Para a autora, esses fatos não podem ser desvinculados da situação de declínio econômico e político enfrentada pelos africanos no final do século XIX.
De maneira eloquente, vemos surgir a emergência de uma sociedade escravista na África e os efeitos do colonialismo português na desarticulação dos estados africanos. Embora estudos quantitativos já tenham informado sobre os impactos do tráfico transatlântico5 – número de cativos exportados, a relevância da reprodução natural, os números da produção alimentícia -, eles negligenciam as transformações sociais, tal como a dependência local do trabalho escravo (p. 14). A escravidão se tornou em Benguela, como em outras colônias, o elemento fundante da ordem econômica e social, e foi por meio da ação de seus agentes (traficantes, oficiais coloniais, entre outros) que a colonização se instaurou: a língua portuguesa, a religião católica, novos padrões de alimentação e consumo, mudanças nas relações de gênero.
A estrutura do livro se divide em dois capítulos introdutórios que cobrem a história de Benguela até 1850 e três capítulos temáticos em que a autora aborda com mais detalhes algumas questões. An African Slaving Port and the Atlantic World traz a descrição dos estágios da colonização portuguesa em Benguela dos primeiros contatos, que foram atraídos pelas notícias da abundância de cobre na região e de uma grande densidade populacional, em fins do século XVI, até quando todo um esforço de colonização teria conferido uma maior estabilidade à presença portuguesa, ao longo do século XVIII. Logo que o acesso às minas de cobre foi dificultado pelas chefias africanas, o tráfico de pessoas foi eleito como o comércio mais rentável.
O porto de Benguela se tornou o centro do colonialismo português e do tráfico de escravos ao sul do rio Kwanza. Uma das questões defendidas neste trabalho é a centralidade deste porto para o tráfico transatlântico já no século XVII, explicada tanto pelos dados demográficos do tráfico quanto pela invasão holandesa de 1641-1648: “Se a exportação de escravos não era importante em Benguela, por volta de 1640, como podemos explicar a invasão e ocupação holandesas”? (p. 69). Para além da costa e mesmo ao longo dela, a colonização portuguesa não se fazia forte ou impenetrável. Os poucos homens nas guarnições já reduzidas, espalhadas pelos presídios e feiras que foram surgindo, estavam debaixo da constante ameaça dos africanos e de outros europeus.
Muitas chefias que desafiaram a presença portuguesa nas primeiras décadas do século XVIII desaparecem nos relatos dos anos seguintes. Isso é interpretado como um indício de como o tráfico transatlântico levou ao colapso antigos domínios centro-africanos e, por conseguinte, à sua fragmentação política e a ciclos de violência que traziam fome, insegurança e possibilitavam a captura massiva de cativos. Essas premissas são comprovadas no estudo da reconfiguração política dos estados de Wambu, Mbailundu e Viye. As próprias identidades que assumiam as vítimas do tráfico de Benguela ao chegarem nos portos de destino (em sua maioria, eram enviados para o Brasil) – Kitata, Kalukembe, Kitete, Mbailundu e Wammbu – eram resultado de um processo fluido de migração: em busca de proteção e segurança contra os mecanismos de escravização, as pessoas se anexavam a uma ou a outra chefia local. Assim, a identidade étnica hoje conhecida como Ovimbundu, um grupo coeso do interior de Angola, não existia na era do tráfico transatlântico; essa singularidade foi construída posteriormente (p. 292 e ss.).
No seu compromisso de dar nome e rosto aos números da demografia da escravidão, Mariana Candido segue os esparsos registros que a documentação oficial deixou para reconstruir as trajetórias de homens e mulheres que foram escravizados. Os processos e mecanismos de escravização – guerra justa, razias, sequestros, condenação judicial, escravidão por dívida, punição por crime – são analisados à luz da luta de Quitéria, Juliana, Albano, Katete, Vitória, Nbena, José Manuel e outras pessoas que, enquanto agentes históricos, utilizaram todos os seus recursos à procura de alguma segurança, equilibrando-se na linha tênue que determinava as formas legais e ilegais de escravização. Essas histórias mostram que a escravidão era uma ameaça a todos: tanto os que moravam ao longo da costa e que, sendo vassalos da Coroa, eram cristãos, dominavam o português, e, portanto, estariam protegidos pela legislação portuguesa, quanto os gentios que habitavam o interior. Candido contesta nesse ponto a tese de Joseph Miller segundo a qual a fronteira da escravidão se moveria cronológica e progressivamente para o interior do continente africano, criando uma margem de proteção para os moradores do litoral.6
A noção de crioulização sustenta muitos argumentos da presente obra. Apoiando-se sobretudo nos apontamentos de James Sweet,7 a autora defende que só é possível compreender a crioulização em sua relação íntima com o tráfico de escravos e o colonialismo, como uma transformação sociocultural; não uma ocidentalização ou aculturação, pois as resistências aos elementos da cultura europeia eram evidentes – tais como o sincretismo religioso e a persistência da poligamia (p. 12). O conceito é visto como uma via de mão dupla, em que tanto as instituições portuguesas tinham de se ajustar às mudanças provocadas por elementos africanos, quanto os estados africanos se viam obrigados a ceder espaço na violenta negociação com as forças coloniais.8
Os autos de vassalagem colonial, tratados em que as autoridades centro-africanas – os sobas – oficializavam sua sujeição à Coroa portuguesa, mediante o estabelecimento de obrigações e direitos definidos para os dois lados, se misturavam com as cerimônias de undamento locais. Ao undar, deitar pó ou farinha no corpo de um novo chefe, os mais velhos da comunidade confirmavam sua autoridade e poder. O mesmo procedimento foi adotado pelos portugueses, que, ao ratificarem suas alianças, undavam o soba que passava a lhes ser sujeito.
O conceito de crioulização também é desenvolvido ao analisar a participação de portugueses, brasileiros, filhos da terra (nascidos na colônia) na formação das sociedades Luso-Africanas em Benguela e seu interior; trata-se de grupos de uma nova elite intrinsecamente ligada ao estado colonial. A presença de brasileiros é realçada devido, entre outras razões, ao intenso tráfico de escravos que a colônia americana demandava e, assim, ao constante trânsito de traficantes ou degredados brasileiros que iam se instalando na margem africana do Atlântico Sul.
Se o papel das mulheres é abordado de forma transversal em An African Slaving Port and the Atlantic World, é ao descrever o papel econômico e cultural das mulheres africanas que a temática ganha peso. As donas, mulheres que se envolviam com portugueses ou brasileiros e que acumulavam riquezas, eram responsáveis por um grande número de dependentes, pelo funcionamento do tráfico de escravos, o cultivo de alimentos e a comercialização de mercadorias. Além disso, “elas assumiam a responsabilidade que reproduzir hierarquias sociais, enfatizando sua aliança com a Igreja Católica e com o comércio Atlântico (p. 135) ”.
No decorrer do livro, Candido se lança a um esforço de comparação com outras realidades coloniais, assim, aparecem ligações com a África Ocidental, a América Hispânica, com os imperialismos britânico e francês. Do mesmo modo, dialoga com a historiografia brasileira em temas fulcrais como a polissemia dos termos que aparecem nas fontes coloniais, que ora determinariam a cor da tez, ora a condição social. Contudo, ao descrever os mecanismos de escravização de africanos e luso-africanos, uma maior aproximação dos estudos sobre o aprisionamento e a escravização de indígenas no Brasil poderia lançar novas questões, além de renovar algumas interpretações.9 Entretanto, a forma eloquente e balanceada como os argumentos são construídos em torno do problema histórico do colonialismo é precisa. Trata-se de um estudo de fôlego com vasta pesquisa histórica e densa reflexão, incontornável aos que se dedicam à análise da História da África e dos africanos, da escravidão e da formação do império português.
1Embora Benguela apareça como objeto de alguns estudos anteriores, é a primeira vez que lhe dedicam uma análise extensa, com vasta pesquisa arquivística e novas interpretações. Exemplos de outros estudos sobre a temática são aqueles de Ralph Delgado que, escritos enquanto Angola ainda era colônia portuguesa, trazem muito do ponto de vista colonial: DELGADO, Ralph. A famosa e histórica Benguela: catálogo dos governadores, 1779 a 1940. Lisboa: Cosmos, 1944 e O reino de Benguela. Do descobrimento à criação do governo subalterno. Lisboa: Imprensa Beleza, 1945.
2Alguns exemplos dessa historiografia: HEYWOOD, Linda M.; THORNTON, John. Central Africans, Atlantic Creoles and the Making of the Foundation of the Americas, 1585-1660. Nova York: Cambridge University Press, 2007; SWEET, James H. Recreating Africa: Culture, Kinship, and Religion in the African-Portuguese World, 1441-1770. Chapel Hill: University of North Caroline Press, 2003; LOVEJOY Paul E.; TROTMAN, David V. Enslaved Africans and their Expectations of Slave Life in the Americas: Towards a Reconsideration of Models of “Creolisation”. In: SHEPHERD, Verene; RICHARDS, Glen L. (Ed.). Questioning Creole: Creolisation Discourses in Caribbean Culture. Kingston: Ian Randle, 2002, p. 67-91.
3Vale lembrar que a guerra foi um fator desarticulador da reconstrução de alguns aspectos da tradição oral, da memória das gerações passadas na África Central.
4THORNTON, John. The slave trade in eighteenth century Angola: effects of demographic structure. Canadian Journal of African Studies, v. 14, n. 3,p. 417-427, 1980; MILLER, Joseph C. The significance of drought, disease and famine in the agriculturally marginal zones of West-Central Africa. Journal of African History, v. 23, n. 1, p. 17-61, 1982; MILLER, Joseph C. Way of death: Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade, 1730-1830. Madison: University of Wisconsin Press, 1988.
5Exemplos de estudos quantitativos sobre o tráfico transatlântico: CURTIN, Philip.The Atlantic Slave Trade: A Census. Madison: University of Wisconsin Press, 1969; ELTIS, David. Economic Growth and the Ending of the Transatlantic Slave Trade. Nova York: Oxford University Press, 1987; ELTIS, David; RICHARDSON, David (Org.).Extending the Frontiers: Essays on the New Transatlantic Slave Trade Database. New Haven e Londres: Yale University Press, 2008.
6MILLER, Joseph C. Way of Death: Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade, 1730-1830, op. cit., p. 140-169.
7SWEET, James H. Recreating Africa: Culture, Kinship, and Religion in the African-Portuguese World, 1441-1770, op. cit.
8Seguindo a interpretação de Hawthorne, para os africanos, a crioulização era um exemplo de uma criatividade cultural sob opressão. HAWTHORNE, Walter. From Africa to Brazil: Culture, Identity and an Atlantic Slave Trade, 1600-1800. Nova York: Cambridge University Press, 2010.
9MONTEIRO, John. Negros da terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
Crislayne Gloss Marão Alfagali –Universidade Estadual de Campinas – Campinas, SP, Brasil.
Alegoria moderna: crítica literária e história da literatura na obra de Sérgio Buarque de Holanda – NICODEMO (Topoi)
NICODEMO, Thiago Lima. Alegoria moderna: crítica literária e história da literatura na obra de Sérgio Buarque de Holanda. São Paulo: FAP-Unifesp, 2014. Resenha de: GAIO, Henrique Pinheiro Costa. A crítica como missão: formação e modernização na obra de Sérgio Buarque de Holanda; Topoi v.18 n.35 Rio de Janeiro July/Dec. 2017.
Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) tem uma obra volumosa e que transitou entre a crítica literária, o ensaísmo e a escrita histórica monográfica. Talvez não seja equivocado dizer que sua trajetória intelectual, sobretudo entre os anos 1920 e 1950, pode funcionar como uma espécie de metonímia do processo de profissionalização do historiador ou de autonomização do campo, tendo como referência importante a consolidação de instituições universitárias no Brasil. Sua obra mostra-se encorajadora de imensa fortuna crítica: variadas abordagens demonstram não somente a juventude perene de um pensador clássico como também ilumina certas nuances da reflexão buarquiana. É justamente neste contexto de ampliação e sedimentação da fortuna crítica do autor – que tanto serve como estorvo para leituras ingênuas como também instiga novos caminhos de pesquisa – que Alegoria moderna: crítica literária e história da literatura na obra de Sérgio Buarque de Holanda (2014), de Thiago Lima Nicodemo, deve ser inserido.
A trajetória da pesquisa de Thiago Nicodemo parece traçar um movimento contrário ao do processo de profissionalização do historiador, uma espécie de leitura a contrapelo ou teleologia às avessas. Nicodemo, em seu livro anterior, fruto de sua dissertação de mestrado, Urdidura do vivido: Visão do paraíso e a obra de Sérgio Buarque de Holanda nos anos de 1950 (2008), lidou com um momento basilar no trabalho de Sérgio Buarque: o processo de especialização que culmina com a feitura de Visão do paraíso (1958) e sua inserção universitária. Em sua nova publicação, Nicodemo recua cronologicamente com o intuito de perscrutar o processo de formação do historiador acadêmico, abarcando desde a década de 1920 até a de 1950, ou seja, a passagem do jovem crítico modernista, atento ao debate dos dilemas da modernização nacional, para o historiador maduro que opta por cortes mais circunscritos em detrimento de generalizações e que, sobretudo, mescla com peculiar maestria erudição e imaginação. O arco cronológico abarcado pela pesquisa permite uma compreensão abrangente da formação do intelectual; por meio do cruzamento entre crítico literário, ensaísta e historiador, é possível mapear interesses recorrentes e constantemente burilados. Tal esforço de cruzamento já demonstra a relevância da pesquisa que temos em mãos.
Ao retornar para a década de 1920, Thiago Nicodemo aponta para os interesses compartilhados com aquela geração e a influência duradoura de temas tipicamente modernistas ao longo da vida intelectual de Sérgio Buarque de Holanda. Para além da definição estanque do jovem modernista ou do historiador maduro, almeja demonstrar certa continuidade, ou seja, a importância do resgate de sua produção de crítica literária como forma de compreender sua formação intelectual e o desenvolvimento intermitente de temas fulcrais na sua reflexão. Nicodemo realiza um bem-sucedido esforço de lastrear o caráter de missão que orienta a trajetória de Sérgio Buarque de Holanda, pois ao definir precursores e ao reconhecer a manutenção de assuntos do jovem modernista na pena do historiador maduro demonstra a unidade do pensamento e certo sentido da escrita.
Sérgio Buarque molda sua crítica por meio de uma metodologia fugidia e diversificada, todavia, esforça-se para estabelecer um diálogo entre obra e tradição, autor e ambiente de escrita. Segundo Antonio Candido, para se ter dimensão da fortuna da contribuição do jovem crítico, às vezes é preciso compreender que ela se articula “com todo um ciclo da civilização a que pertence, como no caso da extraordinária análise de Cláudio Manuel da Costa”, quando o crítico, de acordo com Candido, “circula no tempo, vai até Petrarca, vem até Lope de Vega, vai até Dante Alighieri, vem a Metastasio, volta para Cláudio Manuel da Costa, a constelação vai se formando e você sente que para explicar aquele texto curto de catorze versos ele mobiliza a civilização do Ocidente.”1 Tal comentário mostra-se importante para indicar não só a conhecida erudição do crítico, mas também a dimensão histórica que se revela no diálogo da obra literária com uma tradição ocidental.
Nicodemo, evitando o risco e o reducionismo da influência, explora o impacto da viagem de Sérgio Buarque aos Estados Unidos, em 1941, momento em que entrou em contato com os pressupostos teóricos do new criticism, que reivindicava a autonomia do texto literário em relação à biografia do autor e o ambiente de sua produção. A técnica do close reading, no entanto, não provocou no crítico o descarte da historicização da estrutura linguística e estética. A experiência norte-americana, mesmo com seu valor na institucionalização disciplinar, trazia como corolário um formalismo radical que soava como conservadorismo. Além disso, o “senso das coalescências”, indicado por Candido na crítica literária de Sérgio Buarque, apontava para o jogo de semelhanças e diferenças, rupturas e permanências. Portanto, o crítico, ao temporalizar a experiência estética, recusava deliberadamente fazer da historiografia literária um mero catálogo de escolas. Desse modo, a historicidade literária, segundo a crítica buarquiana, implica não ignorar que a obra de ficção seria fruto de certa inserção no tempo, condicionada por determinado horizonte histórico, donde o autor não pode mais ser visto como um gênio romântico que prescinde do mundo para criar. Assim, o que parece estar em jogo são as condições de possibilidade de criação literária ou a “pesquisa da constituição do texto”. Dito em outras palavras, sem denegar a autonomia da linguagem da ficção, o crítico busca combinar sua análise aos estratos históricos que possibilitam a feitura do artefato literário.
A chave de leitura de Candido, também seguida por Antonio Arnoni Prado, parece funcionar como um fio condutor de Alegoria moderna. Não somente porque existe um deliberado esforço de continuação de certa tradição interpretativa, algo demarcado claramente ao longo do trabalho, mas também porque a missão modernista parece conferir sentido ao processo de profissionalização das letras nacionais. Seguindo os passos de Mário de Andrade, inclusive o substituindo no Diário de Notícias em 1941, Sérgio Buarque, desde sua militância modernista, assume o compromisso da especialização e da superação de uma cultura de superfície, pautada por bacharéis e medalhões, críticos impressionistas e historiadores diletantes. Tais personagens funcionariam como arautos de uma palavra vazia, palavra feito ornamento, ou ainda, como um passado que ainda se faz presente, algo que depõe contra o esforço de modernização das letras nacionais. Thiago Nicodemo, ao alargar a crítica literária de Sérgio Buarque num horizonte mais amplo de exortação de mudanças na intelectualidade brasileira, identifica sua dimensão cultural e sua inserção no processo de autonomização do campo intelectual, tal como pensado por Pierre Bourdieu.
Se a costura do trabalho de Thiago Nicodemo é o reconhecimento de certa missão crítica de superação de traços coloniais, conferindo unidade à reflexão, faz-se necessário dizer que isso não implica carência de contradições ou o descarte de rasuras significativas na obra de Sérgio Buarque. Os planos de historicidade que se manifestam em modificações nas três primeiras edições de Raízes do Brasil, as intersecções entre Visão do paraíso (1958) e Capítulos de literatura colonial (1991), assim como a recorrência dos temas, revelam a presença de diversas temporalidades na orientação e reorientação da escrita buarquiana.2 Como em um palimpsesto, onde horizontes históricos se cruzam na constante atividade de reescrita que não apaga de todo o passado, a escrita ficcional e o próprio ato crítico são marcados pela passagem do tempo e por uma consciência histórica que desempenha um papel estruturante. A abordagem hermenêutica mobilizada por Nicodemo, valendo-se de autores como Hans-Georg Gadamer e Jörn Rüsen, numa espécie de duplicação da abordagem buarquiana, permite compreender a dimensão estética no interior de estruturas históricas, sem, contudo, subsumir uma na outra. Desse modo, segundo alerta Thiago Nicodemo, “não é possível afirmar que Sérgio Buarque de Holanda possuía uma ‘concepção’ de crítica literária, já que sua ideia era justamente buscar um ‘ajuste’ entre o horizonte criativo e o horizonte crítico”.3 Além do reconhecimento do caráter movediço da reflexão, o sentido de missão de Sérgio Buarque parece ter sido captado em seu momento de engendra mento, evitando-se certa teleologia que descrevesse sem tensões a transição do crítico diletante para o historiador profissional.
Thiago Nicodemo movimenta-se entre texto e contexto esquivando-se das dicotomias e do equívoco das influências reguladoras. Tal cuidado teórico fica patente ao demonstrar o impacto da experiência italiana na feitura do estudo inacabado que dá origem a Capítulos de literatura colonial – título concebido por Antonio Candido aos rascunhos encontrados postumamente e publicados em 1991. Detalhando a vivência italiana por meio de ampla documentação (cartas, documentos do Itamaraty, ementas de disciplina etc.), Nicodemo, seguindo a sugestão de Candido sobre uma “fase italiana” (1952-1954), descreve as condições que possibilitam a redação de Capítulos de literatura colonial e Visão do paraíso, ou seja, articula um momento fundamental da trajetória tanto do crítico quanto do historiador.4 A influência de pensadores como Mario Praz e Benedetto Croce, assim como a familiaridade com autores italianos do Renascimento, Barroco e Arcadismo, permitiu a ampliação do aparato erudito do crítico e o distanciamento de um nacionalismo literário típico do século XIX – mas que se estendeu, não sem alterações, até a década de 1950 como “nacionalismo estratégico”, na definição de Antonio Candido.
Admitindo-se a concomitância da pesquisa e escrita de Capítulos de literatura colonial e Visão do paraíso na década de 1950, mostra-se relevante o distanciamento de uma historiografia literária que se amparava na reconstituição de origens e no esforço de identificação de nativismos pretéritos, buscando retrospectivamente eventos que permitissem elaborar uma narrativa redentora da formação, numa espécie de anunciação da presença. Evitando a orientação interessada do nacionalismo que pautava a historiografia literária tradicional, Sérgio Buarque procurou a articulação do passado literário nacional por meio dos topoi. Nesse sentido, o trabalho de Ernest Robert Curtius, Literatura europeia e Idade Média latina (1948), torna-se central para compreender o papel que as permanências literárias que atravessam fronteiras e remetem a uma herança retórica antiga adquirem na reflexão buarquiana da década de 1950.
A tópica enquanto “celeiro de provisões” literárias, tal como anunciada por Curtius, foi fundamental na feitura de Visão do pa raíso.5 Os motivos edênicos que impulsionam o ideal aventureiro dos descobrimentos e organizam os primeiros contatos com o Novo Mundo não somente criavam uma tensão entre experiência e fantasia, mas também imputavam ao estilo condicionamentos históricos, podendo inclusive expor novas disposições subjetivas. Nicodemo, que, seguindo a sugestão de Luiz Costa Lima, estudou com densidade o uso da tópica na costura de Visão do paraíso, estendeu sua análise para Capítulos de literatura colonial. Esse movimento mostra-se extremamente profícuo para a compreensão do esboço de historiografia literária de Sérgio Buarque.
Segundo Nicodemo, o autor aponta para uma “longa permanência da épica como padrão figurativo da literatura na América portuguesa”, o que significou o afastamento da influência romântica na avaliação do passado literário colonial. Desse modo, o gênero tornou-se, para o crítico e historiador, “ponto de partida para compreender os textos como parte de um tecido social e, por isso, em constante interação com um público dotado de horizonte específico”.6 Dito de outra forma, como consequência desse ponto de partida, a demonstração da extensão do gênero épico, que perpassa o século XVII e estende-se até o XIX, indica a força da convenção em detrimento de uma originalidade de traço romântico, donde a emulação e a engenhosidade possuem uma ocorrência técnica. Assim, segundo a leitura proposta por Nicodemo, “a literatura na América portuguesa busca conferir dignidade épica a temas figurados no território ultramarino”,7 ou seja, a história da literatura colonial parece ser o relato da gradativa adaptação de códigos literários europeus ao ambiente americano. O intuito de inserir a América no quadro imagético europeu faz com que Capítulos de literatura colonial tenha como estrutura narrativa a formação da tópica do “mito americano” ou “tópica do sentimento nacional”. Portanto, figura como uma espécie de continuação de Visão do paraíso.
No âmbito de uma história cultural, o que emerge do uso da tópica é uma consciência histórica que se molda por meio da tensão entre um modelo figurativo associado ao corpo místico, fundamentação do Estado Absoluto, e o gosto arcádico que se vincula ao modelo figurativo da modernidade. Nesse jogo entre o antigo e o novo, compreender a permanência de barroquismos, de uma hiperbólica e retorcida linguagem, significa ater-se à dificuldade de sedimentação da clareza e sobriedade árcade, significa problematizar os estorvos impostos à modernização da cultura, investir no descompasso entre os influxos do iluminismo e o desenvolvimento do “gosto árcade”. Segundo Nicodemo, investir em tal tensão pressupõe que “a cultura cumpre, enfim, um papel fundamental e oferece para Sérgio Buarque de Holanda a chave da compreensão do processo histórico de formação (…)”. 8
O descompasso ou o impasse da modernização remete à questão do Barroco. Em Capítulos de literatura colonial, o Barroco aparece não somente como parte das demandas crítico-literárias da década de 1950, condicionada pelo resgate de procedimentos poéticos herméticos, mas como possibilidade de se pensar a formação nacional – tema caro aos modernistas. Nicodemo demonstra como a preocupação com o papel do “longo barroco” na colônia não aparece de maneira fortuita na obra de Sérgio Buarque. Este, além de anunciar na terceira edição de Raízes do Brasil, de 1956, A Era do Barroco no Brasil (Cultura e vida espiritual nos séculos XVII e XVIII) como obra em preparo e indicando a realização de três volumes – trabalho nunca realizado -, parecia querer articular uma mentalidade barroca com seu diagnóstico dos problemas da formação nacional.
Assim, o que está em jogo para Nicodemo, em sua proposta de relacionar a história literária buarquiana com a formação nacional, não é somente o caráter convencional da literatura colonial que se pautava em preceptivas retórico-poéticas rígidas, mas a dimensão histórica do processo de acomodação dessas preceptivas, justamente a possibilidade de amolecimento ou de misturas de gêneros. A tradição ibérica, desse modo, pressupõe a força da figuração barroca que se prolonga até o início do século XIX, marcando a manutenção de uma linguagem alambicada e de uma mentalidade formatada pela aversão às hierarquias e à hegemonia dos laços familiares e patriarcais. Nesse ponto, o tema central de Raízes do Brasil, a preocupação com a superação do passado ibérico que teima em impor-se diante da vontade de modernização, parece prolongar-se na reflexão buarquiana.
Fruto de tese de doutoramento, Alegoria moderna tem como mérito investir, com resultados profícuos, em veredas sugeridas pela fortuna crítica do autor analisado, mas ainda não percorridas. Thiago Nicodemo acrescenta mais um traço firme no quadro interpretativo-analítico da obra buarquiana, como também de sua própria trajetória acadêmica, que vem se caracterizando por pesquisa consistente e esforço contínuo de compreensão da escrita de Sérgio Buarque de Holanda.
1CANDIDO, Antonio. Apud PRADO, Antonio Arnoni. Introdução. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. O espírito e a letra: estudos e crítica literária. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 32. Ver também: CANDIDO, Antonio. Inéditos sobre literatura colonial. In: Sérgio Buarque de Holanda: 3. Colóquio Uerj — Rio de Janeiro: Imago, 1992.
2NICODEMO, Thiago Lima. Planos de historicidade. História da Historiografia, Ouro Preto, n. 14, p. 44-61, abr. 2014. Disponível em: <www.historiadahistoriografia.com.br>. Acesso em: 4 ago. 2016.
3NICODEMO, Thiago Lima. Alegoria moderna: crítica literária e história da literatura na obra de Sérgio Buarque de Holanda. São Paulo: FAP-Unifesp, 2014, p. 125.
4CANDIDO, Antonio. Introdução. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de literatura colonial. São Paulo: Brasiliense, 2000.
5CURTIUS, Ernest Robert. Literatura europeia e Idade Média latina. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1957. Ver também: LIMA, Luiz Costa. Sérgio Buarque de Holanda: Visão do paraíso. Revista USP, São Paulo, n. 53, p. 42-53, mar./maio 2002. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br>. Acesso em: 4 ag. 2016; NICODEMO, Thiago Lima. Urdidura do vivido. Visão do paraíso e a obra de Sérgio Buarque de Holanda nos anos de 1950. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.
6NICODEMO, Thiago Lima, Alegoria moderna: crítica literária e história da literatura na obra de Sérgio Buarque de Holanda, op. cit., p. 216.
7Ibidem, p. 221.
8Ibidem, p. 236.
Recebido: 16 de Agosto de 2016; Aceito: 24 de Setembro de 2016
Henrique Pinheiro Costa Gaio – Doutor em História pela PUC-Rio e pós-doutorando no Departamento de História da Univesidade Federal de Ouro Preto-UFOP. Ouro Preto – MG, Brasil. E-mail: [email protected].
IZECKSOHN, V. Slavery and War in the Americas (Topoi)
IZECKSOHN, Vitor. Slavery and War in the Americas: Race, Citizenship, and State-Building in the United States and Brazil. Charlottesville: University of Virginia Press, 2014. Resenha de: BEATTIE, Peter M. Guerra, mobilização e escravidão no Brasil e nos Estados Unidos. Topoi v.18 n.34 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2017.
Talvez o maior elogio que possa ser feito a um livro seja: “Por que ninguém fez um estudo desta natureza antes?” Entendo que Slavery and War in the Americas cabe nesta categoria de livro; mas o potencial do objeto de pesquisa de Vitor Izecksohn já fora previsto uma geração antes, pelo historiador James M. McPherson, em Battle Cry of Freedom: the Civil Era (Nova York: Ballentine Books, 1988). Como Izecksohn mesmo observa (p. 4), McPherson, baseado na literatura secundária, comentou que ao lado do povo paraguaio, que perdeu cerca de 50% de sua população adulta durante a Guerra da Tríplice Aliança (segundo algumas estimativas), os esforços da Confederação do Sul dos Estados Unidos pareciam fracos, pois os rebeldes só perderam 5% da sua população antes de se render. Dito isso, é possível afirmar que a resposta do historiador brasileiro ao chamado de McPherson é original, pois ele escolheu um ponto de comparação diferente e, a meu ver, mais interessante ainda. Em vez de examinar os exércitos da Confederação e do Paraguai, ele enfoca as dificuldades que os exércitos vitoriosos, da União dos Estados Unidos e do império brasileiro, enfrentaram para mobilizar soldados para o front. No final das contas, foram esses dois exércitos que tomaram parte na consolidação de suas nações, apesar da força de tradições e ideologias que favoreciam o poder local – especialmente quando se tratava dos sistemas de defesa. Em ambos os casos, as autoridades dos governos centrais tiveram que negociar com as autoridades locais para extrair soldados, ações que provaram ser insuficientes para as demandas dos conflitos. Os dois governos centrais chegaram ao ponto em que se tornara necessário mobilizar escravos libertos como soldados, a fim de fornecer o volume de tropas necessário para o sucesso. Os líderes nacionais, dessa maneira, consideravam a integridade territorial como um princípio fundamental, e, por isso, decidiram lutar por uma vitória total sobre seus adversários. Enfim, o livro resenhado fornece a mais extensa comparação entre a Guerra Civil Americana (1860-1865) e a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) produzida até agora, e por isso merece a atenção não só de especialistas, mas de pesquisadores interessados na história comparativa em escala mundial.
Por que, até agora, ninguém aceitou o desafio de McPherson? A resposta é simples: as dificuldades que trabalhos de história comparativa implicam para o historiador, principalmente quando se insiste na utilização de fontes primárias, são enormes. Aliás, outra característica original do livro de Izecksohn é seu ineditismo, já que se baseia em sistemática pesquisa arquivística, ocorrida em ambos os lados do Equador. O resultado, portanto, é um dos mais instigantes trabalhos de história comparativa produzido nos últimos anos, talvez desde o livro de Charles Degler, Neither Black Nor White: Slavery and Race Relations in Brazil and the United States (Madison: University of Wisconsin Press, 1971), que, como o trabalho de McPherson, foi baseado em fontes secundárias.
As complicações e o tempo demandado pela pesquisa empírica além do Equador não são os únicos obstáculos que um historiador comparativo enfrenta para realizar um projeto como Slavery and War in the Americas. A historiografia da Guerra da Tríplice Aliança abrange quatro países e está em plena fase de expansão, enquanto os trabalhos sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos são numerosos e o campo não demonstra sinais de decréscimo. Dominar a literatura em si já é um grande desafio, que Izecksohn passou anos digerindo. Por esses esforços, o autor merece reconhecimento, e esperançosamente, o trabalho inspirará outros jovens pesquisadores nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, a seguir seus passos.
Um dos principais pontos do livro de Izecksohn é a maneira como ele insere a história da mobilização de soldados nos contextos históricos do desenvolvimento das guerras e das políticas nos Estados Unidos e no Brasil. Em ambos os casos, havia bastante apoio popular inicial para as guerras e muitos cidadãos se voluntariaram para seguirem para os fronts. Ou seja, o patriotismo romântico associado à ideia do cidadão-soldado inspirou muitos homens a pagarem o seu tributo do sangue sem coerção. Contudo, o otimismo gerado pelos chamados às batalhas duraria pouco tempo, e quando ficou claro que as guerras não terminariam rapidamente, fator somado às notícias das baixas, doenças e condições onerosas que a soldadesca enfrentava, a popularidade das mobilizações caiu grandemente e o número de voluntários diminuiu de modo considerável. A partir de então, tanto o governo do Brasil como o da União contemplaram maneiras coercitivas para completar suas fileiras de praças e oficiais.
Na União, foi implantado um sistema de conscrição por sorteio, mas nem por isso se proibiu a substituição dos designados por outros ou o pagamento de isenção pecuniária. No Brasil, por sua vez, o governo imperial exigiu cotas das províncias, proporcionalmente às suas populações, chamando membros da Guarda Nacional, normalmente protegidos do recrutamento, para servirem ao Exército. Em ambos os casos, os sistemas de recrutamento não forneceram os números de recrutas necessários, e, por isso, decidiu-se pela mobilização de escravos e ex-escravos.
Izecksohn narra exemplos específicos de conflitos entre cidadãos e autoridades locais e centrais em várias comunidades, desde a região da Nova Inglaterra até o Meio-Oeste americano. Uma das características de seu texto, aliás, é a maneira admirável como o autor costura exemplos específicos, que envolvem indivíduos humildes e poderosos, sem perder a capacidade de síntese concisa requerida para contextualizar esses episódios.
Um exemplo é o caso do advogado William A. Pors, de Port Washington, Wisconsin, nomeado por seu governador para servir de comissário do sorteio militar em um dos distritos da cidade, em 1862. Ali, um grupo de homens e mulheres marchou, naquele ano, até o fórum, para, finalmente, desembrulhar uma bandeira, exclamando: “No Draft!” Aquelas pessoas também ameaçaram Pors: “Se ele for ao fórum, será um homem morto.” Pors, por sua vez, tentou acalmar o espírito dos manifestantes, pedindo a eles que se dispersassem, sem sucesso. Quando o grupo viu a caixa do sorteio militar, eles atacaram os condutores dela e a destruíram. Depois disso, espancaram William Pors, que conseguiu escapar e entrar na agência dos correios, onde encontrou proteção de outras autoridades. Esses atos de resistência ao sorteio, ocorridos por todos os estados do norte, em pequenas cidades como Port Washington, e em outras maiores, como Nova York, enfraqueceram a habilidade de mobilizar recrutas utilizando o novo sistema, uma proposta que supostamente teria dado mais autoridade ao governo central.
Tratando do Brasil, Izecksohn também incluiu exemplos interessantes. Um deles é o do jovem escravo Carlos, cujo mau comportamento levou seu dono a vendê-lo como recruta para o exército imperial. Mesmo assim, apesar da alta demanda, os inspetores das forças armadas o rejeitaram por seu mau estado de saúde. Ao perceber que seu senhor o venderia como escravo destinado às lides do campo, Carlos se evadiu, sendo capturado mais tarde no Rio de Janeiro. Ativando seus procuradores na corte, mais uma vez o senhor de Carlos ofereceu seu escravo como recruta, tarefa para a qual finalmente foi aceito – e, então, seu dono recebeu US$ 640.00, lucrando US$ 180.00 na operação (p. 128-129). Aqui, Izecksohn sucintamente ilustra como as ações de um escravo, seu senhor e as autoridades do governo negociaram o recrutamento militar, a alforria e a política de venda de escravos neste período singular. Entretanto, como o próprio autor enfatiza, o recrutamento de cativos ou homens livres para a Guerra da Tríplice Aliança exigiu a cooperação das lideranças e dos potentados locais. Senhores que não queriam vender seus escravos não foram obrigados a fazê-lo; chefes políticos protegeram efetivamente seus clientes (homens livres) de bandos de recrutadores, especialmente nos anos centrais da mobilização.
Como o título da obra indica, a escravidão é um tema privilegiado no livro. Dois dos cinco capítulos enfocam essa comparação, que constitui uma das contribuições mais interessantes do volume. Dessa forma, Izecksohn argumenta, de uma maneira distinta dos historiadores da Guerra Civil nos Estados Unidos até agora, que foi o fracasso das tentativas de implementar a conscrição que levou o governo da União a formar regimentos segregados, compostos por homens de cor, para lutar. Até o momento da formalização dessa medida, a ideia de ser cidadão-soldado havia sido considerada um privilégio dos brancos. Mas o elevado número de baixas e o ressentimento que a conscrição criou entre a população branca da União fez com que a mobilização de homens de cor parecesse mais aceitável à maioria nortista.
Diferentemente do Brasil, todavia, o exército da União manteve a segregação racial dos regimentos, regra seguida até a Guerra da Coreia (1950-1953). A envergadura desta mudança não deve ser negligenciada: ela foi fundamental para assegurar tanto a vitória da União quanto a abolição da escravidão. Mesmo que os direitos à cidadania para homens de cor tenham sido sufocados depois da Reconstrução (1865-1877), o serviço militar desses contingentes virou uma contradição e um fator-chave que por fim abriu espaço para as lutas políticas em prol de direitos civis e integração no século XX.
Quanto à Guerra da Tríplica Aliança, Vitor Izecksohn ainda demonstra que foram as ações do maior aliado brasileiro, a Argentina, que levaram o governo imperial a recrutar cativos para lutar contra o Paraguai. A instabilidade política da república argentina levou seu presidente, Bartolomé Mitre, a deixar o comando das forças aliadas e voltar à capital, Buenos Aires. Junto de Mitre foram seus soldados, e o Brasil teve que extrair ainda mais recrutas para sustentar a guerra. Uma carta do ministro da Guerra ao presidente da Província do Rio Grande do Sul, em 1867, demonstrou a conexão direta entre a retirada das forças argentinas e a necessidade de mobilizar escravos (p. 147).
Diferentemente dos Estados Unidos, onde movimentos sociais a favor da abolição e a opinião pública pressionavam o governo de Lincoln em favor do uso de escravos como soldados, no Brasil a decisão de mobilizá-los foi feita a portas fechadas, como uma necessidade de segurança nacional. No caso brasileiro, portanto, tal fato não era ligado a campanhas abolicionistas, onde a experiência militar seria um laboratório de cidadania para os homens de cor.
O autor de Slavery and War in the Americas utiliza estudos de caso para refletir sobre interpretações mais amplas que abrangem os resultados dessas duas guerras. Por exemplo, ele argumenta que o Brasil conseguiu vencer a Guerra da Tríplice Aliança sem grandes modificações econômicas e sociais, como novos (e onerosos) impostos, ou um surto de industrialização, ou ainda a abolição da escravidão. De maneira contrastante, o governo e a economia da União parecem muito mais próximos de um caso de guerra total, que estimulou a industrialização, destruiu escravidão como uma maneira de derrotar o inimigo e aumentou o poder do governo central. Assim, a Guerra Civil dos Estados Unidos abriu espaço para realizar políticas que os estados do norte favoreciam por décadas: tarifas para bens industriais importadas, imposto de renda, decisões econômicas mais centralizadas para desenvolver a infraestrutura de transportes e indústrias etc. Nesse sentido, para Izecksohn, a comparação oferece a oportunidade de criticar interpretações que dão pouca ênfase a Guerra Civil como um exemplo de guerra total (p. 175-176).
Este livro, portanto, oferece muito a leitores não especialistas, assim como aos especialistas, historiadores militares ou não. A prosa é clara e sucinta, e a leitura é prazerosa. Espero que a obra atraia muitos leitores e que não tenhamos que esperar mais uma geração para que trabalhos de semelhante ambição e alcance sejam levados a cabo.
Peter M. Beattie – Michigan State University – East Lansing, MI, Estados Unidos.
Os mortos não comem açúcar – FURTADO (Topoi)
FURTADO, Alexandre. Os mortos não comem açúcar. Rio de Janeiro: Confraria do Vento, 2015. 151p.p. Resenha de: VIANNA, Alexander Martins. Às margens da açucaristocracia: segredos internos da Recife da década de 1970 em um conto de Alexandre Furtado. Topoi v.18 n.34 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2017.
Não, não é um romance histórico… O livro Os mortos não comem açúcar também não é coletânea de contos, ou “contos interligados”, diferentemente do que sugeriu a Revista Continente ao noticiar o seu lançamento no café-restaurante Roda Cultural de Pernambuco em 21 de maio de 2016. O livro de Alexandre Furtado é um único conto com catorze entradas narrativas, ora assumidas por algum personagem, ora pelo narrador-voz-de-deus, configuradas com vigor de devassa indiciária. A sua estrutura narrativa cria um efeito magnético muito interessante de leitura: os silêncios suspensivos em cada capítulo são rachaduras que formam metonímias indiciárias de sentido que estão longe de serem banais e previsíveis. Cada capítulo envolve a perspectiva inevitavelmente parcial de cada modelo de narrador que nele predomina. Assim são revelados, aos poucos, os horrores formativos das existências presentes e passadas dos personagens que vivem à margem da açucaristocracia de Recife. Por conta de sua estrutura narrativa, parece interessante abordar o livro de Alexandre Furtado a partir de alguns caracteres que engenhosamente ganham carnadura em cada capítulo.
As tramas de vidas narradas no conto transcorrem na Recife de começos da década de 1970, no polo social da classe média alta, urbana e de serviços, que ainda tenta imitar, no traquejo social e na moralidade, as formas de distinção referidas à grandeza passada da açucaristocracia de Pernambuco. Há pequenos momentos de recuo para situar a trajetória de alguns personagens, mas o polo da trama gira em torno da expectativa do casamento de Laura e Fabio. Laura é filha de Silvina, que é esposa do comunista domesticado Marco Aurélio. Silvina e Marco Aurélio são pais de Pedro, que é irmão de Laura e jovem cobiçado por Albertina – a esguia, blasé, afrancesada, cu-sujo e aparentemente inacessível (fruta podre) jovem da açucaristocracia decadente de Pernambuco. Albertina contrasta fisicamente e sexualmente com o seu inseguro, gordinho, delicado, ejaculador precoce e pouco atrativo irmão Gabriel.
No presente e no passado de Laura e Silvina, há um mistério revelado aos poucos, por pequenas fendas narrativas, até o grande confronto de suas semelhanças, durante o casamento, no capítulo “Aos céus um pedido” (p. 139-151). Contudo, nos engenhosos mecanismos narrativos de Furtado, as vidas que se cruzam com a ascensão social de Silvina são reveladas pelas margens sociais, as quais abrem a possibilidade de o conto falar também a partir dessas vidas à margem – ou melhor, margens, sem as quais não haveria os centros dos pequenos horrores formativos de suas existências. Ao criar fendas extraordinárias devassantes da complexidade formativa das vidas dos personagens, tal estratégia de narrar a partir das margens é um dos grandes méritos de figuração de caracteres no conto de Furtado.
A aderência narrativa às margens é uma escolha de composição que não cria um efeito de maniqueísmo vítima-algoz; pelo contrário, revela gradativamente a complexidade do horror formativo das vidas que ainda giram paradigmaticamente em torno de saudosas referências à grandeza (violenta) da açucaristocracia. Não há um personagem que não espelhe, de seu lugar, a violência sutil que o forma: a desigualdade social, racial e de gênero; a caridade e a relação funcional-vingativa entre desiguais (sociais, raciais e de gêneros) no espaço doméstico patriarcal; o amor que pode se revelar e se fazer nas brechas dessas desigualdades (ou igualdades) sociais, raciais e de gêneros. O fato é que a barca do patriarcado recifense da década de 1970 faz água por todos os lados. São as fendas extraordinárias abertas pela lâmina narrativa de Furtado.
Há importância especial no fato de as narrativas parcialmente se centrarem nos jovens amigos de começos da década de 1970: por meio deles, os pais são revelados, mesmo aqueles que não têm existência enunciada em corpo narrativo. Embora preocupados em manter alguma aparência (particularmente no caso das mulheres de classe média), os jovens já têm o aval tácito dos pais para namorarem sem vigília acirrada: vão ao cinema, namoram sozinhos em casa, avançam o sinal, engravidam, abortam ou fazem casamento corretivo-ocultativo de gravidez não planejada. Portanto, mesclam o velho com novos padrões de pudor e hipocrisia social. Contudo, o que é brechtianamente assombroso na caracterização dos personagens de Furtado são os pais desses jovens ou, mais especificamente, as mães: donas de seu desejo em estratégica negociação corpo-mente nas margens da aparência de submissão aos códigos do patriarcado recifense.
Assim, os seus paradoxos são revelados: não há descendência ou linhagem plenamente segura no casamento, porque o próprio segredo no modo de viver a liberdade sexual cria válvulas de escapes que provocam múltiplas porosidades sociais, raciais e de gênero. Como a liberdade sexual ocorre enquanto segredo, não há liberação sexual em relação às regras de boa aparência social configuradas por binarismos raciais e de gênero. Assim, as mães socialmente brancas da classe média são donas de seu prazer por meio de adultério (bissexual) bem discreto; os pais e filhos têm os puteiros ou as áreas de serviço ao preço das filhas mal empregadas e mal nutridas dos desvalidos; as filhas socialmente brancas da classe média têm os seus namorados ou noivos para desafogo (mas também outros paralelos), com a anuência tácita de suas mães.
Dentre as mães que revelam as fendas no patriarcado, Silvina é um exemplo marcante no conto de Furtado: retirante de pele clara, isso a levou para lugares que foram negados às outras meninas da Casa 10. Ao cair nas graças do manipulador prof. Olavo, Silvina terminou o seu romance com a amiga Juliana, a qual se tornara dona e gestora do principal bordel de Recife. Depois disso, houve uma total reinvenção social de Silvina, à custa da educação e do suicídio de sua bem letrada mãe adotiva: Lúcia, que foi casada em segunda núpcia com Olavo. Este trouxera Silvina da Casa 10 para ser companhia filial para a infértil Lúcia; mas, em surdina, continuaram sendo amantes. Quando descobertos, isso provocou a depressão e o suicídio de Lúcia, expresso no surpreendente engenho narrativo do capítulo “Tristam Shandy c’est moi ou beijo de língua” (p. 90-100), no qual é a própria suicida que se narra enquanto a vida deixa o seu corpo.
Olavo era o pai biológico de Laura. Pouco antes de Laura nascer, Silvina casara com seu marido-tampão Marco Aurélio, um comunista doméstico que começou a envolver-se sexualmente com Laura desde o começo de sua puberdade. Silvina só soube disso no dia do casamento de Laura, quando ambas confrontaram seus segredos e suas semelhanças. Portanto, em certa medida, a falta de liberação sexual e a desigualdade de gênero em desfavor das mulheres da geração de Silvina criavam uma codificação específica de sujeito e liberdade sexual (escondida) configurada nos termos dos segredos do patriarcado. Esta é outra fenda extraordinária de Furtado, cuja reflexão se intensifica na narrativa do capítulo “Deus proteja os sem-vergonha” (p. 68-79), no qual o narrador-voz-de-deus devassa, pelas frestas, a consciência manipuladora das boas aparências da bem reputada Sueli, esposa do major Paulo e mãe de Ângela e Febo.
A hipocrisia da boa aparência é sustentada por várias válvulas perversas de escape. Perante a preocupada Silvina, Sueli figura como uma verdadeira tratadista sobre como ser dona de seu prazer por meio do adultério com o menor dano colateral possível para a família. Sueli e Silvina também tiveram um caso amoroso lésbico já sendo senhoras casadas, mas deixaram isso no passado… O que mobilizou a inesperada visita de Silvina foi a sua gravidez do médico Laércio. Ela queria abortar. Sueli também era amante de Laércio. Isso é engenhosamente revelado para o leitor por meio de seu diálogo à parte com a empregada Inácia. Sueli tinha gozo perverso por esta situação (p. 77). Portanto, no silêncio das frestas dessas senhoras com “S”, havia muita inveja e concorrência.
Não por acaso, Furtado reforça os paralelos entre Sueli e Silvina pelo fato de ambas terem casais de filho regulando na mesma idade – e, por que não dizer, ambas tinham maridos-tampão, mesmo que adversos: milico e comunista, respectivamente. Silvina nunca soube que Sueli tinha também caso com Laércio. Mas, nessa visita a Sueli, Silvina ficou surpreendida com a sua desenvolta postura consoladora ao usar exemplos domésticos. Silvina se sentia inferior a Sueli por seu passado de retirante que trabalhou como faxineira na Casa 10, mas a verdadeira aula de Sueli sobre como ser dona de seu prazer por meio do adultério – sem culpa e dano à família – deixou empatado o jogo social-moral entre ambas. Mais uma fenda extraordinária criada pela engenhosa lâmina narrativa de Furtado…
No seu conjunto, o livro de Furtado demonstra grande aproveitamento narrativo-borgiano dos detalhes significativos de longo alcance. Por isso, quando terminamos de lê-lo, ficamos com vontade de experimentar o livro de um lugar de onisciência que não é possível até a última página. O livro não se entrega fácil, não se reduz a clichês ou estereótipos de caracteres. Cada metonímia de silêncio é um convite a novos indiciamentos. Quando voltamos ao começo, detalhes suspensivos se amplificam em nosso cinismo cúmplice: somos o deus-fora-da-máquina-do-conto; somos o lugar de quem o escreve; saboreamos o seu processo de criação; reconhecemos a precisão narrativa dos seus recortes de silêncios; surpreendemo-nos com a forma como traz a língua-viva autônoma de cada personagem. Na máquina do conto de Furtado, há o domínio completo da arte que abre brechas na cegueira dos costumes, margina o silêncio grávido de horrores sociais e o ambienta num plano de critérios que visam a provocar deslocamentos críticos em relação a esquemas estereotípicos de caracterização na própria arte narrativa dos contos pós-Kafka, ou dos romances regionais pós-Jorge Amado.
O bom manejo da língua viva – talhada com limpidez de acordo com o lugar do narrador e/ou dos personagens – explora alguns motivos recorrentes: a bissexualidade (masculina e feminina); o adultério; a liberdade sexual feminina sem liberação sexual; a decadência física-moral-social da açucaristocracia; a hipocrisia das aparências de respeitabilidade social configurada em termos de binarismo racial e de gênero; a dignificação narrativa de marginais, como Juliana e Inácia, mas também reveladora do horror formativo de seus corpos e subjetividades; a evidente simpatia narrativa por Antônio em contraponto ao que representa Albertina. Há também o cuidado de criar efeito trágico surpreendente ao situar Silvina como mote dos suicídios de Lúcia e Juliana, ou seja, as duas mulheres que a amaram, a resgataram e a prepararam, ao seu modo, para a ascensão social: da retirante estuprada à senhora casada e educada.
Antônio é outra fenda extraordinária da açucaristocracia decadente de Recife que é revelada aos poucos: produto da caridade funcional do matriarcado sobreviventista das áreas de serviços das “casas grandes”, Antônio cresceu em proximidade afetiva, social e cultural aos filhos dos patrões de sua mãe e avó, tendo acesso à mesma escolaridade. Antônio é apaixonado por Cosme e fascinado por Albertina. Diferentemente de Sueli e Silvina, que são “S’s” paralelos, Antônio e Albertina são “A’s” social e racialmente adversos. Antônio é invisível para Albertina, que tem interesse sexual-predatório em Pedro, irmão mais novo de Laura. Os amigos ricos de Antônio periodicamente o lembravam que Albertina não era “para seu bico” de jovem engenheiro de origem negra e pobre.
Antônio e Cosme se percebem bissexuais… No capítulo dessa revelação, é Cosme que assume a narrativa. E vemos o seu fluxo de consciência migrando do particular ao cósmico. Trata-se de um momento especial no qual a narrativa concilia o meditativo-cósmico à árida delicadeza de “um montão de [grandes sertões] veredas” (p. 35) pelas quais caminhamos. Ambos não têm categorias para entenderem como sentem o que sentem “assim, quando menos se espera” (p. 25-35), mas o beijo impresso na pele encontra a recepção da carícia que se posterga, como uma sutil promessa que, no futuro, também poderia esconder-se num casamento-tampão… Tal afeição delicada é o oposto narrativo-tipológico da “macheza cênica” de Tales (namorado de Ângela, filha de Sueli) para os seus amigos na Casa 10: Ele acha que é um segredo vergonhoso-perigoso o seu gosto especial por fio-terra (p. 40). Em si mesma uma marginação do patriarcado, a Casa 10 tem em tais segredos os seus mais importantes recursos imateriais que possibilitam a sua sobrevivência social e econômica. O segredo é a alma desse negócio porque a vergonha machista ainda movimenta o corpo pútrido do patriarcado.
Dentre as várias operações pelas margens no conto de Furtado, destaco, por fim, o capítulo “Uma história assim é outra” (p. 123-131), no qual a voz narrativa é assumida por Inácia, cuja língua viva aparece com a autenticidade que passa longe da estereotipia. No estilo de Inácia, nota-se a sua revelação corpo-mente sobreviventista: como sente, pensa e revela o seu passado e a si mesma no presente; como lida com seus desejos; por que casar não é a melhor opção para ela; a violência estrutural que sofre sem percebê-la; o amor platônico que a desloca para fora dos hábitos violentos do patriarcado; as suas pequenas vinganças contra a patroa (Sueli), o patrão (major Paulo) e seus filhos (Ângela e Febo); os sexos ocasionais com Paulo e (e)Febo; os sexos ocasionais de fora da casa (mas dentro da casa) dos patrões… Tudo revelado numa voz narrativa leskoviana na qual autenticamente ouvimos Inácia em sua lógica formativa discorrendo-se para o leitor sem residuais interferências explicativas do autor.
Com Inácia, temos o nadir narrativo de Furtado encarnando perfeitamente o sentido crítico da “guerra de compreensão” dos modelos de narradores propostos pela poética contemporânea de Alberto Lins Caldas. Inácia transcorre em total autonomia em relação a Furtado – e, em certa medida, em relação aos homens em sua vida sobreviventista no patriarcado. Na máquina narrativa do conto de Furtado, Inácia se entrega ao leitor como se entrega aos seus homens: pelas frestas, pelas margens… Com tais operações engenhosas, Furtado agarra nos corpos narrativos do seu conto os vários nacos dos horrores formativos corpo-mentes dos personagens socialmente bem assentados, mas que vivem à margem da açucaristocracia decadente e refletem os seus rizomais sintomas. Aliás, como afirma Inácia, “uma história assim é outra” (p. 131): aquela dos muitos desconcertantes enigmas e fragmentos amargos de horrores da decadente açucaristocracia recifense da década de 1970…
Dizer mais é entregar cedo o doce que só os vivos comem… Então, recomendo: embrenhem-se no conto Os mortos não comem açúcar! Aqui deixei apenas algumas tramas furtadas de Alexandre.
Alexander Martins Vianna – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Seropédica, RJ, Brasil.
Historical and Archaeological Aspects of Egyptian Funerary Culture – WILLENS (Topoi)
WILLENS, H. Historical and Archaeological Aspects of Egyptian Funerary Culture. Religious Ideas and Ritual Practice in Middle kingdom Elite Cemeteries. Culture & History of the Ancient Near East, 73, Leiden, Boston: E. J. Brill, 2014. Resenha de: GAMA-ROLLAND, Cintia Alfieri. Deir el-Bersha e a “democratização”: Uma nova maneira de compreender os Textos dos caixões e o sistema nomárquico. Topoi v.17 n.32 Rio de Janeiro Jan./June 2016.
Esse livro, publicado em 2014, na série Culture & History of the Ancient Near East, volume 73, pelo tradicional editor de livros de egiptologia E. J. Brill é o mais recente dentre os escritos por Harco Willems. O autor é professor e pesquisador na Universidade Católica de Leuven – Lovaina – na Bélgica. O livro é uma tradução, com atualizações de certos conceitos, da edição francesa chamada Les Textes des sarcophages et la démocratie: éléments d’une histoire culturelle du Moyen Empire Égyptien, de 2008.
O autor é um especialista inconteste no que concerne ao Médio Império (XI e XII dinastias, c. 2065-1781 a.C.) e aos Textos dos caixões, tema que estuda desde seu doutorado. Atualmente, ele chefia as escavações do sítio de Deir el-Bersha, local onde estão as tumbas em hipogeu dos nomarcas, dentre eles a do celebre Djehutihotep – 17L20/1 (antigo número 2) -, grande chefe (nomarca) do nomo da lebre, que serviu durante os reinados de Amenemhat II, Senusret II e Senusret III.
O livro em francês e, consequentemente, sua tradução são provenientes de uma série de quatro conferências dadas pelo autor na École Pratique des Hautes Études, em maio de 2006, a convite de Christiane Zivie-Coche. O fato de esse livro ser a publicação de quatro conferências lhe confere um aspecto narrativo e analítico bastante claro, sendo uma síntese dos trabalhos empreendidos pelo autor até o presente.
O primeiro capítulo trata da cultura nomarcal, abordando de uma maneira explicativa os aspectos políticos, administrativos, sociais e religiosos dessa categoria social que tem seu momento forte na história egípcia durante o Médio Império. Esse capítulo, mais voltado para o sistema político e administrativo, trata também da origem da organização do estado egípcio em nomos, durante o Antigo Império (c. 2670-2195 a.C.), e a continuação desse sistema e seus meios administrativos regionais durante o Primeiro Período Intermediário (c. 2195-2065 a.C.) e Médio Império. Por meio do estudo da cultura nomarcal o autor apresenta toda a organização do estado egípcio fazendo paralelos entre a política, a administração e a história egípcia.
Ainda nessa parte é analisado o que representa o título de nomarca para os egípcios antigos, suas funções e atributos, em comparação com as interpretações dadas pela egiptologia. É tratado também da tradução desse termo originalmente grego e, se é correto usarmos o termo nomarca ou não.
Por sinal, a discussão acerca do termo nomarca é um dos pontos altos desse capítulo, pois se as primeiras partes contextualizam o âmbito de ação dessa categoria social, é durante a análise do termo que há uma revisão bibliográfica dos estudos mais recentes sobre o tema e a apresentação de um vasto conjunto de fontes epigráficas em que o termo egípcio ḥr.y.w-tp ʿȝ n spȝ.t ou ḥr.y.w-tp ʿȝ é mencionado.
O primeiro capítulo estabelece, assim, as bases tanto informativas quanto críticas sobre a política egípcia antiga, tendo como foco uma categoria social precisa e a maneira como essa se inseria na sociedade egípcia como um todo. Se essa primeira parte é mais voltada para as fontes epigráficas, a segunda apresenta os principais sítios e trabalhos arqueológicos referentes ao Médio Império. Mesmo se centrado no trabalho empreendido pelo autor em Deir el-Bersha, Harco Willems passa em revista o histórico das escavações realizadas em sítios ligados ao poder nomarcal.
O sítio de Deir el-Bersha, localizado no Médio Egito, é conhecido por ter funcionado como pedreira, e, sobretudo, por ter sido, durante o Médio Império, a sede do cemitério dos nomarcas do XV nomo do Alto Egito, mas ele também contém sepulturas que vão do Antigo Império até o Período Greco-Romano (332 a.C-395 d.C.). Trata-se assim de um dos grandes locais para o estudo do poder nomárquico. O projeto da Universidade Católica de Leuven, The Dayr el-Barsha Project, começou em 2002 e as escavações continuam até hoje. Os diversos artigos oriundos das campanhas de escavações são publicados anualmente em revistas especializadas e trabalhos de pesquisa de maior fôlego são realizados sob a forma de teses, como a defendida em novembro de 2015 por Athena Van der Perre sobre a pedreira de calcário de Deir el-Bersha usada na época amarniana (1350-1333 a.C.). Ao tratar dessa localidade, o autor aproveita para fazer uma revisão dos trabalhos anteriores aos de sua equipe, comparando o que foi feito por outros e suas respectivas conclusões com a pesquisa empreendida atualmente. Essa revisão dos estudos tanto de Deir el-Bersha quanto de outras cidades do Médio Império nos fornece uma imagem bastante completa do período estudado, bem como das abordagens arqueológicas de cada época.
Na parte final do segundo capítulo, após descrever as descobertas de 2006, o autor trata de uma questão muito em voga nos estudos atuais sobre a religião egípcia, a paisagem ritual. Com seu trabalho, o autor mostra como os cemitérios nomarcais se desenvolveram tornando-se grandes paisagens processionais para o culto do governador local. É explicado que as rotas de acesso do cemitério deviam servir como vias processionais para uma cerimônia em que a linhagem dos governadores era cultuada. Sendo que o eixo principal do mesmo liga as tumbas dos nomarcas a capelas cultuais. Para endossar essa hipótese o autor apresenta mapas do cemitério e analisa tanto o alinhamento da via principal quanto o das tumbas e a decoração delas. Tudo isso comparando Deir el-Bersha a outros sítios da mesma época, como Qaw el-Kebir, Qubbat el-Hawa e Deir el-Bahari.
Em seguida, para melhor compreender o que a paisagem arqueológica deixa evidente, Harco Willems faz uso da epigrafia, estudando os textos autobiográficos. Ele nota também que o sistema de culto dos governadores de Deir el-Bersha não é idêntico ao de Balat e de Elefantina, mas que em linhas gerais a procissão e, consequentemente, o culto aos governadores se ordenam entre dois polos formados pelas capelas de culto dos governadores e suas tumbas.
Por fim, é evidenciado que o culto aos governadores é uma prática religiosa com certa especificidade, em que homens com poderes políticos ou pertencentes às altas esferas da sociedade ocupavam um lugar particular no pensamento religioso da população, sem serem divindades, mas como um chefe morto venerado.
O terceiro, mais longo e completo dos capítulos, dividido em seis subpartes, é aquele que trata da “democratização” dos textos funerários. Com o intuito de estabelecer o histórico desse tema, antes de desconstruí-lo, o autor inicia sua análise apresentando os fatores e autores que desenvolveram ou fazem uso da teoria da “democratização” ou “demotização”. Nessa primeira parte, o autor faz um belo exercício teórico inserindo os criadores da teoria da “democratização” em seus contextos históricos e políticos, mostrando, assim, em que medida pontos de vista pessoais bem como o momento histórico vivido por cada autor influenciou na sua forma de abordar a religião egípcia antiga e suas transformações.
Em seguida, para iniciar a desconstrução da teoria da “democratização”, o autor trata das transformações passadas pelo equipamento funerário durante o Primeiro Período Intermediário e Médio Império, para depois tratar dos Textos dos caixões pelo viés da demografia. A análise demográfica é constituída por quatro elementos: o estabelecimento da população egípcia durante o Médio Império, a quantificação dos caixões decorados de el-Bersha, de Beni Hasan e de Assiut. Já nesse momento, ao cruzar os dados referentes ao número de habitantes do Egito no Médio Império com o de caixões decorados, o autor evidencia o fato de que possuir esquifes e, ainda mais, aqueles decorados, era algo extremamente elitista, longe do pregado pelos adeptos da “democratização”. Nas palavras do próprio autor: “Having access to Coffin Texts was about as exceptional to the Middle Kingdom Egyptian as it would be today to possess a Rolls Royce”.1
Após constatar o uso restrito dos ataúdes decorados e consequentemente dos Textos dos caixões, o autor procede a um estudo geográfico da distribuição dos caixões decorados e dos textos inscritos neles, chegando à conclusão de que o ponto de partida dessa tradição funerária das elites (a inscrição de textos funerários nas paredes de seus caixões) teria sido o scriptorium de el-Ashmunein, local de onde difundiram-se os textos funerários não apenas para Tebas e Deir el-Bersha, mas também para as regiões nomarcais mais afastadas do Médio Egito. Com isso, o autor começa a estabelecer o epicentro de sua teoria, isto é, que o uso dos Textos dos caixões está intimamente ligado à cultura nomarcal e de forma alguma às esferas da população sem relação com os governadores ou poder locais, fazendo com que esse tipo de texto funerário caia em desuso com a decadência do poder dos nomarcas.
Na última parte desse capítulo, para fortalecer sua teria, Harco Willems associa os Textos dos caixões às cartas aos mortos, estudando especificamente os spell 30-41, 131-146, 149 e 312. Mostrando, assim, que uma nova visão do pós-vida proveniente das camadas dirigentes, mas não faraônicas, ganha espaço no domínio funerário. Uma visão do além que reproduz o mundo dos vivos e diversos aspectos da vida quotidiana da elite. Assim, os Textos dos caixões, além de não serem uma difusão de privilégios reais ao povo, são uma criação da elite para a elite.
Além dos três capítulos, o livro tem anexos de muito interesse, como uma lista atualizada dos caixões decorados do Médio Império, a maioria deles inédita, e um epílogo que conta com informações referentes às novas descobertas egiptológicas associadas à pesquisa do autor.
Trata-se de um livro extremamente inovador por diversas razões. Primeiramente, ele permite restituir a organização político-administrativa do Egito de suas origens até o Médio Império, passando por períodos complexos como o Primeiro Período Intermediário. Nele são também apresentados os resultados das escavações de Deir el-Bersha com a sua nova paisagem ritual, mostrando que o cemitério é mais vasto do que se pensava e que se organizava como um local de culto do poder nomárquico.
Mas o fator essencial e o maior de todos os avanços oferecidos por essa obra é o fato de questionar uma teoria aceita desde o início do século XX pela egiptologia, conhecida como “democratização” ou “demotização” das práticas funerárias. Esse questionamento bastante convincente se dá por meio do estudo aprofundado dos Textos dos caixões, posicionando-os em seus contextos histórico, político, administrativo e cultural do Primeiro Período Intermediário e Médio Império, e pela comparação com outras fontes epigráficas, como as cartas aos mortos e autobiografias da mesma época. Harco Willems consegue, assim, mostrar de maneira persuasiva que os Textos dos caixões não eram tão comuns como se imaginou e que sua difusão foi extremamente restrita, não sendo o reflexo de uma religião funerária praticada por todas as categorias sociais egípcias, mas apenas pela alta elite do Médio Império, os nomarcas.
Por meio do questionamento da teoria da difusão da religião funerária dos reis a toda sociedade, dos Textos das pirâmides até o Livro dos mortos (a chamada “democratização”), o autor traz uma análise das correntes de pensamento da egiptologia. Deixando evidente as influências da sociedade contemporânea sobre os egiptólogos, Willems mostra que por vezes o contexto de vida de certos autores e suas opiniões políticas acabam por influenciar suas análises do passado egípcio. Com isso, ele abre uma via inovadora de estudos que concernem ao Médio Império, tornando-se uma leitura essencial para aqueles que desejam estudar tanto a religião funerária egípcia antiga quanto os desenvolvimentos subsequentes aos Textos dos caixões. Além do mais, esse texto, de uma clareza e método irrepreensíveis, é um exemplo de como desenvolver uma pesquisa aliando diversas fontes e diversas abordagens sem a alienação de um estudo puramente religioso, político ou social.
Cintia Alfieri Gama-Rolland – Doutora em Religião e Sistemas de Pensamento pela École Pratique des Hautes Études – Paris, França. E-mail: [email protected].
O passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina – COSTA PINTO, A.; MARTINHO (Topoi)
COSTA PINTO, António; MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. O passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 336p. Resenha de: GUIMARÃES, Gabriel Fernandes Rocha. A democracia na penumbra. Topoi v.17 n.32 Rio de Janeiro Jan./June 2016.
Recentemente muito se tem falado nos círculos intelectuais e na grande mídia acerca do golpe militar de 1964 e de que forma ele moldou a política brasileira durante o regime implementado, e mesmo depois, já no período da chamada redemocratização, que tipo de herança política ele deixou, seja de caráter institucional ou ligado à cultura política nacional. Muito se tem especulado acerca deste período. Alguns afirmando que se tratou de um dos maiores, se não o maior, trauma político da história nacional, outros dizendo que foi o solapamento de uma jovem e incipiente democracia brasileira. Há ainda aqueles que falam do golpe como uma resposta a um crescente ganho de força dos grupos de ideologia comunista no Brasil, seja através de guerrilhas rurais, seja através da criação de quadros marxistas dentro das forças armadas, sobretudo no médio e baixo oficialatos.
Embora essas correntes analíticas estejam em debate desde a década de oitenta do século passado, foi nos últimos anos que a discussão se tornou mais acirrada. Então fica a pergunta: por que apenas em governos ou períodos específicos a busca pela “verdade” e pelo passado ganha maiores impulsos? Por que o passado é visto como alvo de uma averiguação mais profunda em certos contextos e em outros não? Por que em certos contextos se defende um maior silêncio em relação a passados ditatoriais sob o argumento de que não é bom para uma democracia nascente abrir velhas “feridas”, e em outros se argumenta que as “feridas” devem ser reabertas justamente em benefício da democracia? Por que em alguns casos os “regimes de transição” parecem remediar bastante os traumas políticos gerados por regimes autoritários (como na Grécia) e em outros se dá lugar a um silêncio que só será contestado muitos anos depois (como na Espanha)? É sobre esta problemática que O passado que não passa, livro organizado por Antônio Costa Pinto e Francisco Carlos Palomanes Martinho vai tratar analisando países sul-americanos com ênfase no Brasil e países da Europa do sul, colocando em foco Portugal, Espanha, Itália e Grécia.
Os diversos autores que escrevem no livro organizado por Costa Pinto e Martinho tentam mostrar como e por que surgem as “políticas do passado”, quais os grupos que as defendem, se elas vêm à tona durante a redemocratização, através dos “regimes de transição”, ou anos, ou mesmo décadas depois de fim dos regimes autoritários. Os países da Europa do sul, como Itália, Portugal, Espanha e Grécia trataram de formas bastante diferentes o seu passado, uma vez que o modo como lidaram com as principais lideranças dos regimes autoritários imediatamente à queda destes mesmos regimes foi muito diverso.
O regime fascista italiano teria caído no contexto de uma sangrenta guerra civil entre fascistas e partisans comunistas no norte italiano, além de uma invasão de forças norte-americanas e inglesas que avançou a partir do sul. Os saneamentos ligados a cargos políticos e burocráticos, protagonizados pela esquerda radical, fizeram com que 309 dos 420 senadores fossem afastados de seus cargos, assim como todos aqueles que ocupavam cargos nos níveis mais altos da administração pública. Os saneamentos selvagens que foram administrados pelos partisans junto ao desmantelamento do paraestado fascista foram uma das primeiras medidas tomadas pela esquerda radical enquanto o regime desmoronava. Estimou-se que entre doze e quinze mil supostos agentes do fascismo tenham sido fuzilados através de processos de justiça sumária. O Comitê de Liberação Nacional (CLN), durante a libertação e depois dela limitou-se e comprometeu-se a cumprir as ordens das autoridades aliadas, sendo que a defesa dos saneamentos selvagens e da condenação daqueles que deram suporte aos fascistas, após o término da segunda guerra, ficou a cargo, sobretudo da esquerda radical, o PCI (Partido Comunista Italiano), e na região mais ao norte, seu líder Palmiro Togliatti defendeu a necessidade do “sagrado ódio do povo” se manifestar contra seus antigos opressores. No sul, por outro lado, adotava-se uma posição mais conservadora, preferindo-se “esquecer” o passado fascista tendo em vista a necessidade de pôr fim aos conflitos fratricidas que desde o período da guerra assolavam a sociedade italiana. Os partidos de direita foram revitalizados após a guerra e o movimento Uomo Qualunque, (homem comum) que tanto havia se oposto aos saneamentos, assim como à CLN, conseguiu assegurar a reabilitação de muitos que haviam sido saneados.
O legado do regime fascista italiano persiste até os dias de hoje, de acordo com o artigo, através das disputas entre partidos de direita e de esquerda. Os primeiros defendendo a ideia de que os partidos de direita do pós-guerra impediram que o comunismo, uma força supostamente mais violenta que o fascismo, tomasse o poder na Itália, e os segundos colocando os partisans comunistas como os responsáveis pela derrocada do regime mais tirânico que seu país conheceu. Muitas vezes a esquerda italiana associa a direita de Berlusconi a uma retomada do fascismo na Itália, sendo que a memória do passado está bastante viva no presente político italiano.
Os portugueses, por sua vez, não desmantelaram estruturas paraestatais como os italianos, nem promoveram saneamentos selvagens tão violentos após o fim do regime autoritário em 1974 (estes ficaram restritos a algumas áreas do norte português). Os acertos de contas com o passado dirigiram-se, sobretudo, à PIDE, a polícia secreta do regime salazarista, que atuava tanto em Portugal quanto nas colônias africanas. Assim como na Itália, a demanda por justiça em relação a todos que, de alguma forma, colaboraram com o regime foi encabeçada pelos partidos colocados mais à esquerda do PS (Partido Socialista) no espectro político, no caso o PCP (Partido Comunista Português) e a UDP (União Democrática Popular), de inspiração maoista. A UDP, inclusive, defendia execuções sumárias, nos moldes dos partigiani italianos definidas por tribunais revolucionários populares, para quem tivesse apoiado o regime. No entanto, assim como o PCP, obtiveram pouco apoio popular.
Os saneamentos feitos no sistema burocrático e administrativo encontraram os mesmos problemas que na Itália, uma vez que provar definitivamente quem apoiava integralmente o regime ou não era muito difícil, e julgar todos os suspeitos gerava o risco de paralisia de toda a estrutura burocrática nacional. Apesar do forte apelo feito pelo PCP e pela UDP, dos saneamentos feitos dentro da PIDE e do caráter revolucionário da fratura política, o regime de transição português se caracterizou por uma posição relativamente moderada (pelo menos se compararmos com o caso italiano), no sentido de que as demandas comunistas-maoístas foram amenizadas por uma espécie de apatia de boa parte da sociedade portuguesa em relação a tais propostas.1 A maioria da sociedade lusitana se contentou com a prisão dos membros da PIDE como forma de acertar as contas com o antigo regime de Salazar e Marcello Caetano. A memória popular ligada ao regime do Estado Novo ficou muito vinculada à imagem de Marcello Caetano que, segundo os autores, teve a sua principal faceta, a de um grande intelectual, apagada da memória popular em função de momentos esporádicos de sua carreira, como a repressão à Capela do Rato ou as restrições às listas eleitorais de 1969 e 1973. Dois anos após a queda do regime, o que se viu foi um quase desaparecimento das políticas do passado. A vitória do PS em 1976 deu continuidade a este processo de esquecimento e de reconciliação frente a processos de caráter mais punitivo.
Já o caso espanhol aparece como um dos mais curiosos, uma vez que, mesmo com a violência e grande duração (36 anos) do regime de Franco, as políticas do passado e a busca pela verdade só vieram à tona já adentrado o novo século, tendo havido uma espécie de esquecimento que durou décadas até ser ativado pelo governo de Zapatero. Ao contrário do caso italiano, em que o regime de Mussolini caiu frente a uma violenta guerra civil, ou do caso português, que viu o regime ruir frente a um movimento revolucionário que se desenvolveu dentro das Forças Armadas em um contexto de guerra colonial, o regime franquista espanhol nasceu, se desenvolveu e morreu com Franco. O ditador faleceu de velho em sua cama em 1975, em uma conjuntura de pouco conflito político-militar, com a monarquia logo tomando as rédeas do processo de democratização.
De certa forma, as elites que conduziram a redemocratização insistiram em um argumento utilizado pelo próprio Franco de que os espanhóis seriam inaptos para viver em democracia sem recorrer à violência. Embora essas elites conduzissem o sistema rumo a uma democracia, este argumento foi utilizado no sentido de estabelecer rapidamente um discurso de reconciliação e evitar novos confrontos que pudessem vir à tona junto com a busca pelas raízes do governo franquistas. Isto se traduziu numa procura obsessiva pelo consenso, e um princípio indispensável durante o governo de transição. Desta maneira, o argumento de Franco foi utilizado de forma ex negativo como forma de superação do regime do próprio Franco.
A transição para a democracia foi, em alguma medida, baseada num desejo quase explícito de esquecer, ou mesmo silenciar as dimensões do passado. A Lei de Anistia de 1977 para crimes políticos, votada no Parlamento por todos os partidos, menos a ala de direita dos ex-franquistas, satisfez, sobretudo bascos e catalães, que haviam sofrido repressão direta do regime. Entretanto, essa lei protegia de ações judiciais também os perpetradores da ditadura. O referendo para Lei para a Reforma Política de 1976, que estabelecia a lei como princípio político e a soberania do povo através do sufrágio geral teve amplo apoio popular (77% votou pelo sim) e a maioria dos partidos políticos espanhóis optou pela moderação.
Os primeiros sinais da necessidade de pensar o passado vieram com as pensões destinadas a viúvas de militares republicanos mortos na guerra civil, e a reabertura de valas comuns em certos municípios, onde estariam enterrados membros da oposição assassinados pelo regime. A reabertura das valas foi uma iniciativa popular situada, sobretudo, em pequenos municípios, canalizadas por parlamentares recém-eleitos das câmaras municipais, mas as iniciativas de “desenterro” do próprio passado ficaram reduzidas a isso. Mesmo com o PSOE vencendo as eleições espanholas de 1982 e 1986, pouco se propôs para uma maior averiguação do passado ditatorial. Apenas com o PP (Partido Popular), um partido de direita chegando ao poder em 1996, começou-se realmente a tentar desvelar o passado franquista. A política do passado se fez incisivamente relevante no presente, assumindo um ponto central no discurso da esquerda a partir de 2000. O PSOE passou a associar a direita espanhola de forma geral com a ditadura franquista, de maneira a enquadrá-la como a revitalização de um passado sombrio, cabendo à esquerda a tarefa de barrar esta suposta ameaça. Desta forma, a averiguação do passado ditatorial está intrinsecamente ligada a um discurso partidário de plataformas eleitorais de esquerda como PSOE, IU (Izquierda Unida), ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) e vivo no presente político espanhol, como no caso da ARMH (Associação para a Recuperação da Memória Histórica) fundada no ano 2000. De qualquer forma, os próprios autores concordam que a necessidade de recuperar a “verdade” acerca do passado autoritário na Espanha ter ocorrido apenas nestas datas específicas permanece uma questão a ser estudada mais minuciosamente.
No caso grego, curiosamente parece ter ocorrido justamente o contrário. O “governo dos coronéis” caiu em 1974, sendo que suas mais proeminentes lideranças foram presas e condenadas quase que imediatamente ao fim do regime. Isto parece ter, em alguma medida, saciado a necessidade de acerto de contas com o passado, visto que o tema da ditadura militar parece ter sido “apagada” da memória coletiva dos gregos. À queda do regime sucedeu o retorno do conservador Konstantinos Karamanlis ao poder, o mesmo que havia sido deposto em 1967 pelos militares. Quando da queda dos militares o partido mais à esquerda, o Partido Comunista da Grécia (EKK), curiosamente não foi quem colocou demandas mais radicais em relação ao que fazer com os administradores da ditadura. Quem assumiu esta posição foi o Partido Socialista Grego (PASOK). Isto se deve, segundo o autor, ao fato de muitos membros do EKK terem vivenciado a semidemocracia de antes da ditadura, onde partidos socialistas e comunistas eram proibidos de competir em eleições. Para os membros do EKK, o direito às eleições após o fim da ditadura já era um grande ganho e tinham receios do que poderia ocorrer caso colocassem demandas demasiadamente radicais, tendo em vista as perseguições que sofreram durante os governos conservadores de antes do regime dos coronéis. Os mais jovens membros do PASOK, não tendo tão fresca a memória acerca dos regimes conservadores, não hesitavam em exigir penas duríssimas para os responsáveis pela ditadura. Por causa desta questão geracional, os gregos inverteram a regra portuguesa, onde os comunistas haviam assumido um maior radicalismo e os socialistas uma maior moderação. Com a condenação à prisão perpétua de três dos principais membros dos círculos governantes, a necessidade de desenterrar o passado ficou no próprio passado, no caso grego.
Voltando nosso olhar para a América do Sul, o Brasil foi o maior alvo da atenção dos autores. De acordo com Palomanes Martinho, os silêncios acerca da ditadura no Brasil foram vários, incluídos aqueles em torno das iniciativas políticas institucionais e extrainstitucionais da esquerda antes do golpe e aquele em torno dos torturadores, que parece ocupar um lugar central nos atuais debates acerca do tema. A averiguação dos crimes cometidos pelo regime militar, no caso brasileiro, também teve, no início, iniciativas bastante tímidas. Elas se limitaram às buscas do frade franciscano Paulo Evaristo Arns e do pastor presbiteriano Jaime Wright, ainda durante o regime (entre 1979 e 1985) por meio de documentos confidenciais acerca do julgamento de 707 “subversivos” julgados pelo Superior Tribunal Militar (STM). No governo Collor, muito pouco se fez para aprofundar um anseio que já se desenvolvia em alguns setores da sociedade civil desde a década de 1980: acesso aos arquivos em busca da verdade acerca dos mortos e desaparecidos.
Foi no governo FHC que começaram medidas mais significativas em relação ao passado ditatorial. Em 1995 a Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos por Razões Políticas (CFMDRP) publicou o “Dossiê das mortes e desaparecimentos políticos a partir de 1964” e o governo respondeu apresentando um projeto de lei para reconhecer a morte dos 136 presos políticos e compensar as famílias dos mortos e dos torturados. O governo também assinalou o décimo sexto aniversário da Lei de Anistia, que liberou presos políticos e torturadores de qualquer forma de processo por parte do Estado. Ainda em 1995, a Lei das Vítimas de Assassinato e Desparecimento Político tornou-se o eixo da “justiça de transição” do governo FHC. Ela reconhecia a responsabilidade do Estado pela morte de 136 militantes políticos e estabelecia a criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos com o objetivo de analisar esses e outros casos pendentes, além de comprometer o governo com o pagamento de indenizações às famílias das vítimas.
O governo Lula deu continuidade a essas propostas, aprofundando-as através de uma nova Comissão de Anistia e do estabelecimento de uma Comissão Nacional da Verdade promovendo um conjunto de “políticas da memória”. O governo Lula representou o primeiro esforço oficial para contar a verdade desde os esforços de Arns nos anos 1980. Entretanto, deparou-se com as mesmas dificuldades encontradas durante o governo FHC, em particular com a resistência dos militares em abrir os arquivos e com a forte resistência contra a violação dos limites impostos pela Lei de Anistia. No governo Dilma Rousseff este processo se aprofundou realmente. A política do passado ganhou tonalidades mais gritantes. Ao passar a Lei da Comissão da Verdade, a presidente Dilma também sancionou a Lei de Acesso à Informação, que permitiria aos cidadãos entrar em contato com os documentos governamentais. Esta lei entrou em vigor em 2012 e garantiu acesso a documentos públicos de órgãos federais. Porém, a existência dos tribunais separados para a polícia militar continua gerando certo clima de impunidade e de continuidade de certos traços do regime ditatorial, permanecendo como um dos principais temas de conexão entre as políticas do passado e do presente.
Encontrar um eixo comum que caracterize todos os casos estudados se mostra bastante difícil, no que se refere ao momentum em que essas reivindicações são de fato postas em prática. A busca pela verdade e pelo acerto de contas pode vir ainda durante o regime, mas ganhar contornos mais incisivos apenas anos depois, como no Brasil. Pode também vir à tona apenas décadas depois como no caso espanhol. Segundo os autores, o passado pode sobreviver e influenciar na luta partidária do presente como na Itália, ou permanecer no passado como na Grécia e, em certa medida, Portugal.
Os gregos, inclusive, foram o caso mais claro de esquecimento do passado autoritário, talvez porque os principais responsáveis tenham imediatamente recebido penas duríssimas, satisfazendo assim o desejo de retaliação de certos setores sociais. O que podemos ver em todos os casos analisados é que são basicamente os setores de esquerda que reivindicam a luta pela memória. Tanto nos regimes de transição, onde a esquerda radical defende muitas vezes julgamentos populares para os suspeitos, quanto já no período democrático, onde a esquerda clama para si o papel de antagonista daqueles que supostamente ainda perpetuam certos traços das ditadura, ela em todos os casos analisados assume o papel de grande adversário do espírito autoritário que dominou seus países, mesmo em situações onde grande parte da população não esteja tão interessada na questão, como em Portugal. Isto se deve, muito provavelmente, ao fato de todos os regimes estudados no livro terem sido ditaduras de direita. Mas fica a pergunta: a esquerda, e sobretudo, a esquerda radical, entra em cena nesses momentos para lutar por um regime poliárquico no sentido de Robert Dahl, ou para alavancar um processo revolucionário extra, ou intraparlamentar? Seria interessante um aprofundamento deste estudo comparando os casos analisados com os países do leste europeu, seus regimes de transição, quais atores afrontaram os regimes autoritários e como o fizeram, e de que maneira o passado influencia na política do presente.
1Não se quer dizer que na Itália não houve de for ma alguma um desinteresse popular pela extrema esquerda. Queremos dizer apenas que a esquerda radical italiana conseguiu capitalizar o processo de saneamento do regime fascista por mais tempo e de forma mais contundente.
Gabriel Fernandes Rocha Guimarães – Doutorando em Sociologia pelo Iesp-Universidade do Estado do Rio de janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
Mitos papais: política e imaginação na História – RUST (Topoi)
RUST, Leandro Duarte. Mitos papais: política e imaginação na História. Petrópolis: Vozes, 2015. Resenha de: MARTINS, William de Souza. A Santa Sé e os impasses da modernidade. Topoi v.17 n.32 Rio de Janeiro Jan./June 2016.
Há um século, o historiador Benedetto Croce elaborou uma análise que marcou posteriormente diversas interpretações. Afastando-se da perspectiva segundo a qual a História contemporânea abrangeria apenas o passado muito próximo (“os cinquenta últimos anos, o último decênio, o último ano, mês ou dia ou mesmo a última hora ou minuto”), o erudito italiano entendeu que os fatos do presente mantinham relações próximas com diferentes temporalidades históricas: “somente uma preocupação da vida presente pode nos impelir a fazer pesquisas sobre um fato do passado”. Ou, dito de modo mais claro: “a contemporaneidade não é própria de uma categoria de histórias (…), mas caracteriza intimamente toda a história”.1
As considerações desenvolvidas parecem adequadas para introduzir a discussão do novo livro de Leandro Duarte Rust, professor de História Antiga e Medieval da Universidade de Mato Grosso, e autor, entre outras obras, de as Colunas de São Pedro: a política papal na Idade Média Central (São Paulo: Annablume, 2011). Buscando atingir simultaneamente o público acadêmico e o leitor não especializado interessado nas investigações históricas, o autor se propõe a analisar o que designa como “mitos papais”, quais sejam: o suposto pontificado de São Pedro, o apóstolo; o Cristianismo Primitivo; a Reforma Gregoriana; o papado de Alexandre VI, da família Bórgia; e o pontificado de Pio XII, que recentemente recebeu o cognome de “papa de Hitler”.
Não se trata assim de uma história linear da Igreja, como muitas já disponíveis. O leitor tem em mãos uma obra construída em torno de um problema de pesquisa bem delimitado. Além disso, salta aos olhos a habilidade do autor em alternar diferentes temporalidades históricas, indo do cristianismo dos primeiros tempos até o século XX, sem perder o fio da narrativa. Este modo de narrar resulta da forma como os mitos papais foram construídos. Nos cinco casos analisados, trata-se de narrativas estruturadas aproximadamente entre 1870 e 2000, período em que a Igreja se viu diretamente desafiada pelos processos resultantes da Modernidade, conforme será detalhado. Um dos argumentos centrais do autor é que tais narrativas mitológicas cumpriram a função de redefinir de maneira positiva o lugar da Igreja católica em geral, e da Santa Sé em particular, em um período marcado pela perda da sua influência social e política. A produção das referidas narrativas não foi obra de erudição desinteressada, resultando antes da necessidade de assumir posições políticas para combater projetos de poder rivais. Os mitos papais foram construídos no calor dos acontecimentos dos séculos XIX e XX, deixando-se impregnar pela contemporaneidade de que Benedetto Croce falava.
Antes de passar ao comentário dos mitos escolhidos pelo autor, cada um ocupando um capítulo à parte no livro, deve-se dialogar com a definição de mito utilizada na obra. O autor se baseia na análise de Christopher G. Flood, para quem os
Mitos políticos são perspectivas assumidas sobre a autoridade e a dominação, a resistência e a exclusão, a unidade e a separação. Quando narrativas deste tipo surgem conectadas, circulando em uma mesma época como armas empregadas na luta pelo controle do comportamento coletivo, elas formam uma mitologia política. (p. 27)
Mais conhecida pela historiografia brasileira, a obra de Raoul Girardet, Mitos e mitologias políticas, aparece citada somente de maneira pontual, para tratar da importância do apelo à unidade em tempos de crise (p. 71-72). Não obstante, a análise do professor Leandro Rust ganharia amplitude caso tivesse recorrido com maior frequência à obra do estudioso francês. A interpretação que Girardet propõe do mito político, segundo a qual este cumpre uma tripla função, a de fabulação, a de explicação e a de mobilização, se torna basilar para compreender as tramas conspiratórias e os complôs produzidos em série ao longo dos séculos XIX e XX, de que constituem exemplo as perseguições promovidas contra os judeus e os jesuítas.2 Sem dúvida, a gênese da produção deste tipo de mitologia política se situa um pouco mais além, no âmbito do imaginário das Luzes e da Revolução Francesa. A apropriação de alguns elementos do primeiro por parte de algumas monarquias setecentistas levou-as a medidas contrárias à Companhia de Jesus, que culminaram com a supressão da Ordem em 1773 pela Santa Sé.3 Além disto, esta se viu ameaçada com o corte de relações diplomáticas, como o que foi praticado por Portugal, entre 1759 e 1770.4 No que tange à importância dos eventos políticos da França para a produção de mitos, pode-se assinalar a contribuição de François Furet, segundo a qual a temida “conspiração aristocrática”, denunciada pelas lideranças revolucionárias, tornava-se a imagem invertida da ideologia democrática e igualitária promovida pela própria Revolução.5 Na sequência do processo revolucionário, e tornando-se porta-voz dos ideais laicizantes e republicanos da França, Napoleão Bonaparte ensejou uma farta produção de leituras e imagens míticas, “ancoradas seja na luta entre o bem e o mal, seja na perspectiva da vinda de um salvador, seja no regresso a uma idade de ouro, seja ainda, especialmente, na visão do anticristo”.6
Parece válida a chave interpretativa proposta por José D’Assunção Barros no Prefácio da obra, segundo o qual os mitos papais se situam nas “tensões produzidas pelas relações do papado com a Modernidade” (p. 17). Esta última deve ser compreendida no seu significado histórico e filosófico mais amplo de ruptura com a tradição: “a modernidade não pode e não quer continuar a ir colher em outras épocas os critérios para a sua orientação, ela tem que criar em si própria as normas por que se rege”.7 Segundo a conhecida análise de Koselleck, as condições para a afirmação plena da Modernidade foram dadas na segunda metade do século XVIII, quando o horizonte de expectativas dos sujeitos históricos se distanciava cada vez mais do espaço de experiência em que tinham sido formados, criando uma dinâmica de aceleração e de descontinuidade do tempo histórico.8 Ainda que o próprio autor não tenha recuado até o século XVIII para situar a perda de poder político e social da Igreja de Roma, talvez seja útil reconstituir aqui este contexto mais amplo para aprofundar a compreensão dos “mitos papais”.
Cabem também algumas palavras gerais sobre a composição da narrativa do autor. Em cada capítulo, é analisado um mito político particular a respeito da Santa Sé. O autor mostra convincentemente que narrativas míticas que evocavam pontificados da Antiguidade, da Idade Média e do Renascimento foram construídas muito tempo depois dos referidos acontecimentos ou, mais exatamente, entre 1870 e o pós-Segunda Guerra Mundial. Por trás da elaboração dos referidos relatos, situavam-se estudiosos e historiadores comovidos com o impacto das consequências da Modernidade sobre o poder da Igreja e do pontífice romano, como pilares dos valores da tradição e da cultura do Ocidente. Após a exposição das narrativas míticas, o autor promove a desconstrução das mesmas, valendo-se de farto material crítico, constituído por contribuições da historiografia especializada e por fontes de natureza muito variada. A partir das operações complementares de contextualização, de exposição dos mitos e da crítica, o autor fornece aos leitores valiosas pistas, que poderão levá-los a construir suas próprias visões sobre os papados em foco, atingindo o objetivo da obra historiográfica aberta a sucessivas contribuições e reinterpretações.
No primeiro capítulo, a autor discute o mito do pontificado de São Pedro. Ainda que os Evangelhos atribuam a Jesus a frase “também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha Igreja” (Mt, 16,18), está longe de consenso historiográfico a hipótese de que Pedro tenha sido o primeiro papa e fundador da Igreja de Roma. Não obstante, ao longo da Segunda Guerra Mundial, o papa Pio XII (1939-1958) promoveu escavações no subsolo da Basílica de São Pedro, a fim de obter informações que pudessem comprovar a atuação do apóstolo como primeiro pontífice. Em 1950, um relatório elaborado por uma equipe de arqueólogos e estudiosos convenceu o papa de que havia indícios suficientes sobre a descoberta da tumba e dos restos mortais do apóstolo. Esta última informação, bem mais difícil de auferir, foi encampada pela arqueóloga Margherita Guarducci, da Universidade de Roma. Para tanto, a estudiosa se baseou em diversas fontes, que são cuidadosamente apresentadas e contextualizadas pelo autor. Guarducci se apoiou também nos testemunhos das inscrições contidas na suposta tumba do apóstolo. Em diálogo crítico com a referida interpretação, o professor Leandro Rust mostra que as fontes citadas podem ser lidas de diversas maneiras, relativizando as conclusões da pesquisadora italiana. No pós-guerra, período marcado pela crise dos valores da civilização ocidental, a Santa Sé, amparada na pesquisa de diversos estudiosos, buscou se fortalecer por meio do mito do pontificado de São Pedro.
O conceito de “Cristianismo Primitivo” constitui o segundo mito analisado pelo autor. Ao longo do século XX, tanto na imprensa como em obras de natureza historiográfica, tornou-se corrente o uso daquela expressão para caracterizar o cristianismo dos primeiros tempos. De modo mais exato, o cristianismo dos três primeiros séculos, anteriores à ascensão de Constantino, que oficializou o culto cristão no âmbito do Império Romano. Além de encerrar definitivamente as perseguições dirigidas aos cristãos, o édito de Constantino teve o efeito de afastar os bispos da comunidade dos fiéis, acentuando as divisões hierárquicas na instituição eclesiástica, e de preparar o terreno para a posição central do bispo de Roma sobre toda a Igreja. Em contraste, segundo Max Weber, o “Cristianismo Primitivo” caracterizou-se pela “rejeição antipolítica do mundo”, isto é, “uma religiosidade voltada para a redenção através da fraternidade, da renúncia material, do repúdio à violência e da diferença perante o Estado” (p. 83).
O autor apresenta diversos elementos que matizam a tese weberiana, diminuindo os contrastes entre os períodos situados antes e depois da decisão de Constantino. Uma parte das elites imperiais já havia se cristianizado antes do ano 200. Outros indícios mostram que os cristãos tinham adotado previamente um código social mais pragmático, acomodado ao status quo. Em 197, o sacerdote Tertuliano defendeu a compatibilidade entre o cristianismo e a defesa dos poderes imperiais. De maneira complementar, o professor Leando Rust refuta a ideia de que o bispo de Roma teria assumido um poder centralizador sobre toda a Igreja, imediatamente depois das medidas de Constantino. Adotando o código moral das elites romanas, baseado na autoridade do pater familias e na exaltação da piedade, da castidade e da moderação, a autoridade dos pontífices romanos foi construída a partir de outras bases: “nos últimos séculos do mundo antigo, se outros bispos os obedeciam não era porque os enxergavam como líderes estatais ou soberanos, mas porque viam em suas ações e em sua retórica a patria potestas, ou seja, o poder paternal” (p. 103).
No terceiro capítulo, o autor traz à discussão o tema da Reforma Gregoriana, que foi primeiramente elaborado na tese de doutorado de Augustin Fliche, publicada na década de 1920. De acordo com este erudito, sob a ameaça dos poderes dos senhores feudais e o do imperador, que interferiam diretamente na escolha dos bispos, o papa Gregório VII (1073-1085) tomou uma série de decisões, estabelecendo que somente o pontífice romano possuía a autoridade para a investidura dos bispos. Esta e outras medidas estabeleceram o primado do poder espiritual sobre os poderes temporais, transformando a Igreja em um protótipo de monarquia centralizada, responsável pela ordem pública e pela moralização da sociedade. O professor Leandro Rust salienta que a tese da Reforma Gregoriana se tornou um poderoso mito papal, cuja repercussão se encontra presente em contribuições historiográficas recentes. Elaborada em um contexto marcado pela derrocada dos impérios russo, Habsburgo e Otomano, a tese traz a marca de um pensamento tradicionalista, temeroso diante de um quadro político em que “as instituições estavam desacreditadas; a ordem, espatifada; a lei, desacatada” (p. 115). O mito da Reforma Gregoriana vinha reforçar o papel da Igreja como guardiã da unidade e da tradição, em uma época conturbada. Além de situar o contexto de produção do mito, o autor desenvolve um exercício semelhante ao praticado nos capítulos precedentes, mostrando que a suposta “monarquia papal” do século XI era mais frágil e incerta do que se imagina: “o papado comandado por Gregório VII não foi uma monarquia centralizada capaz de inaugurar uma época inteiramente nova. Ele foi uma instituição feudal, repleta de tensões e de limitações, como o mundo que a abrigava” (p. 139).
O quarto capítulo do livro analisa o pontificado de Alexandre VI (1492-1503), da família Bórgia. A fama negativa deste papado se deve à “lenda negra” construída em torno do cardeal Rodrigo Bórgia e de seu clã espanhol, que permanece arraigada até os dias atuais, a ponto de se considerá-lo “o pior papa da história” (p. 169). De acordo com o mito papal em questão, a corrupção da conduta moral da cúpula da Igreja e o favorecimento de parentes atingiram o clímax no pontificado de Alexandre VI. A própria eleição do papa foi marcada pela denúncia da compra de votos no colégio dos cardeais. Conforme assinala o autor, o mito em questão foi lavrado por Ferdinand Gregorovius. A obra A história de Roma na Idade Média foi redigida em 1870 pelo erudito alemão sob o impacto da perda dos territórios da Santa Sé para o Estado italiano e da proclamação do dogma da infalibilidade papal no Concílio Vaticano I, convocado por Pio IX (1846-1878). Adepto do ideal nacionalista, Gregorovius atribuía à “tirania” dos papas a ausência de unidade política na península italiana, colocando no mesmo plano o domínio estrangeiro dos Bórgia e o “despotismo” absoluto do papa Pio IX (p. 153 e 184).
Em contraste com as avaliações parciais do pontificado de Alexandre VI, o autor busca entendê-lo a partir dos condicionamentos coevos. Assim, “o favorecimento da própria família cumpria uma função política: redirecionando recursos da Igreja para filhos e parentes, o Papa Bórgia estruturava um grupo leal à sua autoridade” (p. 178). Ademais, estudos recentes a respeito do período do Renascimento e do Antigo Regime têm mostrado a importância dos vínculos de sangue na formação de redes de poder de famílias aristocráticas, em que a ocupação de posições no alto clero e na carreira eclesiástica em geral assumiam uma posição estratégica.9 Por fim, o autor mostra a ligação entre a imagem inteiramente negativa do pontificado de Alexandre VI com a “lenda negra” de tradicionalismo e obscurantismo associada à cultura ibérica (p. 185). Neste caminho, valeria a pena ter dialogado mais com a historiografia dos mitos políticos construídos em torno da Companhia de Jesus e da Inquisição, instituições eclesiásticas marcadas simultaneamente pela herança ibérica e pela vinculação à Santa Sé.10
No quinto capítulo, o autor discute o silêncio do papa Pio XII (1939-1958) diante das atrocidades cometidas pela Alemanha nazista. De acordo com o referido mito político, “traumatizado pelo envolvimento judaico com a luta política de 1918-1919, identificado com a cultura alemã e obcecado por fazer carreira no interior da Cúria Romana, Pacelli teria optado por uma conciliação com o nazismo” (p. 200). A tese foi difundida por John Cornwell na obra O papa de Hitler: a história secreta de Pio XII, publicada no Brasil em 2000. Pacientemente, o autor desmonta os argumentos do silêncio do papa. Sem exército e com um território mínimo, o Estado do Vaticano contava apenas com os canais diplomáticos como instrumentos de pressão externa. Em encíclicas publicadas em 1937 e em 1939, o papa condenou o antissemitismo, a exaltação da raça e a invasão da Polônia pelo exército de Hitler. Durante a Segunda Guerra, com a Itália ocupada pelas tropas alemãs, a Santa Sé mudou o tom das condenações formais, recorrendo à resistência indireta e fluida. Milhares de judeus foram poupados dos campos de concentração ao se abrigarem em estabelecimentos católicos, cuja imunidade tinha ficado assegurada pela concordata estabelecida em 1933 entre a Alemanha e o Vaticano, representado pelo cardeal Eugenio Pacelli, o futuro Pio XII.
Por trás dos mitos analisados, o autor mostra a existência de uma lógica simplista e maniqueísta que, derivada dos embates políticos, se revela incapaz de perceber as nuances e complexidades presentes no processo histórico. O livro constitui um ótimo exercício de como construir e descontruir histórias, e tem o mérito de se colocar ao alcance do público não especializado ou que está principiando os estudos na área.
1CROCE, Benedetto. Théorie et histoire de l’historiographie {1915}. Genève: Droz, 1968, p. 13-14. Grifos do autor.
2GIRARDET, Raoul. Mitos e mitologias políticas. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 9-62.
3A respeito dos discursos mitológicos envolvendo especificamente a Companhia de Jesus, ver FRANCO, José Eduardo. O mito dos jesuítas em Portugal, no Brasil e no Oriente (séculos XVI a XX). Lisboa: Gradiva, 2006, v. 1, p. 19-45; WRIGHT, Jonathan. Os jesuítas: missões, mitos e histórias. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2006, p. 137-194.
4MILLER, Samuel J. Portugal and Rome, c. 1748-1830: An Aspect of the Catholic Enlightenment. Roma: Università Gregoriana Editrice, 1978, p. 232-245.
5FURET, François. Pensar a Revolução Francesa [1978]. Lisboa: Ed. 70, 1988, p. 80-84.
6NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Napoleão Bonaparte: imaginário e política em Portugal (c. 1808-1810). São Paulo: Alameda, 2008, p. 29.
7HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote, 1990, p. 18. Grifos do autor.
8KOSELLECK, Reinhart. “Espaço de experiência” e “horizonte de expectativa”: duas categorias históricas. In: KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006, p. 305-327.
9MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Poder senhorial, estatuto nobiliárquico e aristocracia. In: HESPANHA, António Manuel (Coord.). O Antigo Regime (1620-1807). Lisboa: Estampa, 1993, p. 332-379; LAVEN, Mary. Virgens de Veneza: vidas enclausuradas e quebra de votos no convento renascentista. Rio de Janeiro: Imago, 2003, p. 67-83.
10PROSPERI, Adriano. Tribunais da consciência: inquisidores, confessores, missionários. São Paulo: Edusp, 2013, p. 189-211, a respeito da “lenda negra” da Inquisição. A respeito dos jesuítas, ver a nota 3 acima.
William de Souza Martins – Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
Poesia e Polícia – Redes de comunicação na Paris do Século XVIII – DARNTON (Topoi)
DARNTON, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Tradução Rubens Figueiredo. Resenha de: QUELER, Jefferson. Fazer a história cantar: oralidade e política na Paris do século XVIII. Topoi v.17 n.32 Rio de Janeiro Jan./June 2016.
Buscar e compreender sons do passado, fazer a história cantar. Estes são os principais objetivos de Robert Darnton neste livro recentemente traduzido no Brasil – a publicação original foi feita nos Estados Unidos em 2010. Intelectual renomado, capaz de entrar em fóruns de discussão composto por historiadores do porte de François Furet, Albert Soboul e Roger Chartier, e ainda assim propor abordagens e interpretações novas para a França do Antigo Regime; pesquisador notável, capaz de encontrar documentação inédita em arquivos e seguir suas pistas e desdobramentos em fontes as mais variadas possíveis; dono de uma narrativa ágil e eletrizante, capaz de dialogar não apenas com a academia, como também com o público em geral; ele certamente traz todos esses elementos nesta obra e faz jus à série de resenhas elogiosas que ela vem recebendo em revistas acadêmicas e jornais de grande circulação, tanto no Brasil quanto no exterior.1 Contudo, pouco ou nada se discutiu sobre suas contribuições à luz dos debates em torno do seu tema central, a oralidade.
Entre as famosas publicações do autor, é possível encontrar estudos sobre a Encyclopédie, literatura pornográfica, impressos em geral; material subversivo amplamente consumido e discutido na França às vésperas da revolução de 1789. Na obra ora analisada, Darnton continua a lidar com o tema da calúnia política sobre a monarquia francesa; e é bem cuidadoso ao não estabelecer nenhuma relação simplista de causa e efeito entre a primeira e a queda da segunda. Porém, sua abordagem dos impressos e dos manuscritos ganha uma coloração nova: a palavra escrita passa a ser compreendida em suas interações com as redes de comunicação oral da Paris pré-revolucionária.
Passemos à trama. Em meados do século XVIII, o estudante de medicina François Bonis foi preso pela polícia parisiense por levar consigo versos que detratavam o monarca Luís XV. Na sequência da investigação, outras treze pessoas foram presas, membros dos estratos médios da sociedade francesa, como clérigos, burocratas, outros estudantes e um professor universitário. Mais cinco poemas subversivos afloraram entre os acusados. O Caso dos Quatorze, como ficou registrado nos arquivos policiais, revelava a extensa rede de comunicação no âmago da sociedade francesa. Versos eram copiados em pedaços de papel e carregados em bolsos de colete ou em mangas de camisa para serem recitados ou cantados entre amigos e, por vezes, em público. Tais composições eram reproduzidas e repassadas em grande quantidade, muitas vezes memorizadas pelos seus portadores. A ambição dos investigadores, de encontrar o autor dos versos, nunca foi satisfeita, porém. Segundo Darnton, nem poderia ser diferente, pois tais canções eram variações de uma “criação coletiva”.
Ora, o fato de a polícia não ter encontrado as pessoas que primeiramente compuseram os versos não significa que não existisse um ponto de partida; tampouco que não houvesse autoria envolvida no processo de difusão dos mesmos. A antropóloga Ruth Finnegan, em trabalho clássico publicado originalmente no final da década de 1970, criticou a ideia de que a poesia oral é produzida de maneira anônima ou coletiva. Em vez disso, é possível afirmar que os poetas envolvidos nessa tarefa são capazes de expressar certo grau de individualidade, seja na composição, seja na performance.2 A pesquisa de Darnton aponta também nessa direção. Ele chega a afirmar que a declamação dos versos ou a execução das músicas podiam alterar seus significados: o ritmo, o tom da voz, a melodia escolhida definiam a seriedade ou deboche das apresentações.
As referências bibliográficas do historiador para lidar com o tema da oralidade fornecem pistas para entender sua interpretação. Ele menciona tão somente o trabalho The Singer of Tales de Albert Lord. Trata-se de livro pioneiro, um clássico publicado em 1960. Contudo, muitas de suas conclusões vêm sendo contestadas nas últimas décadas, inclusive pelo referido trabalho de Finnegan.3 Em seu livro, ademais, a antropóloga africanista cita e analisa numerosos exemplos de poesia política, coletados especialmente durante os diferentes processos de independência política na África na segunda metade do século XX; poemas empregados para propósitos tão distintos quanto ridicularizar os colonizadores, conferir unidade à resistência, e esclarecer o funcionamento de processos eleitorais para populações majoritariamente analfabetas.4 Em suma, a poesia política de caráter oral é um fenômeno bastante conhecido e estudado, que demorou a ganhar destaque em fóruns de pesquisa como o da história da França do Antigo Regime; ainda que tenha sido estudada com grande engenho e criatividade por Darnton. De qualquer forma, este certamente podia ter se beneficiado dos debates mais recentes travados em torno do tema da oralidade.
Paul Zumthor indicou a amplitude do fenômeno da poesia oral no passado europeu. De caráter urbano, a canção de protesto esteve presente na França, na Inglaterra, na Alemanha e na Itália dos séculos XV e XVI. Foram encontradas “baladas sediciosas” em Veneza por volta de 1575, canções francesas da época das guerras de religião, mazarinadas (panfletos contra o Cardeal Mazarino). Tal gênero poético, desprezado pelos eruditos, mas seguido atentamente pela polícia, também aflorou no século XVII monárquico. Nas cidades holandesas, por volta de 1615, canções apareciam tomando partido pró ou contra Johan van Oldenbarnevelt na luta pela independência da Espanha; nas cidades inglesas, durante o reinado de Charles I, as streetballads atacavam com virulência os homens de negócio monopolistas. Impressores especializados e cantores de rua difundiam opúsculos satíricos, canções e profecias, frequentemente com teor político. É possível mencionar ainda a poesia operária cantada na França da época dos enciclopedistas. Havia a comemoração dos conflitos dos papeleiros de Angoulême em 1739 ou da revolta dos canuts lioneses em 1786.5 Em outras palavras, o livro de Darnton retoma, ainda que de maneira indireta, uma tradição documental bastante consolidada.
Os motivos da eclosão desse tipo de problemática em seu trabalho podem ser identificados nas páginas iniciais de seu livro. Darnton afirma que a propalada sociedade da informação dos dias de hoje favorece a emergência de uma consciência de que vivemos num mundo completamente diferente de tudo que já existiu. Em sua opinião, entretanto, as redes de comunicação da Paris do século XVIII demonstram a existência de uma sociedade da informação muito antes da cunhagem deste termo, antes da popularização da internet. É claro que sua análise tem o mérito de apontar as insuficiências de tal conceito; porém, ela acaba utilizando-o para entender não apenas o seu presente, como também a sociedade francesa do Antigo Regime. Ora, os fluxos de comunicação contemporâneos, sob o impacto de tecnologias como a imprensa, o rádio, a televisão e o computador, tornam a comunicação contemporânea radicalmente distinta daquela experimentada na França do século XVIII, seja do ponto de vista qualitativo, seja do quantitativo.
Por outro lado, Darnton apresenta um pensamento provocador e convincente para a redefinição da noção de opinião pública. Ele critica o tratamento desta última pela perspectiva sociológica de Habermas ou pela nominalista de Foucault. Em sua opinião, é possível conceber um público discutindo assuntos políticos e criticando os governantes mesmo antes do aparecimento do referido termo. Numa França sem periódicos, patrulhada pela censura oficial, as canções e versos atuavam como se fossem jornais cantados ao fazer a sátira da monarquia e seus delegados, bem como a crônica dos principais acontecimentos políticos. Por exemplo, “Qu’une bâtarde de catin”, canção surgida na corte para detratar Madame de Pompadour, amante de Luís XV, ganhou as ruas e transformou-se ao sabor dos interesses e intervenções de seus difusores. Muitos de seus versos foram modificados e novos assuntos acrescentados a ela. Em algumas de suas versões, foram comentadas as negociações de paz da Guerra de Sucessão Austríaca, as últimas disputas intelectuais de Voltaire ou a resistência a um novo imposto. De origem cortesã, muitos versos e músicas podiam deixar os salões da nobreza e depois retornar a eles com acréscimos das ruas. Não é por menos que Luis XV considerasse em certa medida as opiniões de seus súditos. Ainda que projetos revolucionários e propostas para derrubar a monarquia não fizessem parte de tais canções, Darnton demonstra com profundidade como estas últimas delineavam uma espécie de esfera pública numa sociedade fortemente marcada pela oralidade.
O historiador é bastante arguto ao interpretar esse material e estimar seu impacto. As canções, como ele destaca, veiculavam mensagens e eram igualmente eficazes em fixar seus conteúdos, uma vez que atuavam como poderosos instrumentos mnemônicos. Em meio às poesias e versos encontrados, especialmente em cancioneiros, Darnton notou indicações das melodias que deveriam acompanhá-los. Seguindo essas pistas, ele localizou uma série de partituras destinadas a reproduzi-las. Na Paris revolucionária, a poesia oral era cantada nas ruas com o apoio de violinos, flautas, elementos que aumentavam sua eficácia no processo comunicativo. O livro de Darnton chegou a ser criticado pela suposta inadequação de seu título, dado que este se propõe a estudar poesia, mas envereda pela análise de músicas.6 Crítica injusta, pois a poesia oral, em sua maioria, é cantada.7 Outro elemento que merece destaque em sua análise é a identificação das canções no interior de seus respectivos gêneros. Entre elas, emergem jogos de palavras, baladas populares, piadas, contos de natal burlescos, diatribes. Trata-se de observação fundamental, pois as formas das histórias narradas e comentadas nas letras, e não apenas seus ritmos e tons, eram componentes fundamentais na definição de seus sentidos.
Darnton questiona-se ainda sobre a recepção dessas músicas pelos seus ouvintes. Em busca de respostas, ele analisou memórias e diários (como o do Marquês d’Argenson, irmão do Conde d’Argenson, o encarregado-mor da repressão no Caso dos Quatorze) referentes àquele período, e pôde confirmar não apenas a origem cortesã de muitos dos poemas satíricos, como também os incômodos que tais versos podiam causar à monarquia. Em sua análise da recepção, contudo, Darnton não consegue avançar satisfatoriamente, uma vez que os sons, fugazes como o são, deixam poucos traços nos arquivos. De modo a suprir essa lacuna, ele estabeleceu parceria com a cantora francesa Hélène Delavault, a qual procurou reinterpretar algumas das referidas canções, de modo a oferecer uma ideia de como elas eram veiculadas nas ruas no passado – com direito a anexos e hiperlink que disponibiliza tais músicas gratuitamente aos leitores. Evidentemente, tal material não tem valor de prova na argumentação do autor; entretanto, possui o mérito de conferir ainda mais sabor à sua narrativa, um forte elemento de persuasão.
Suas técnicas de sedução, sua elevada qualidade de pesquisa e de interpretação, sem esquecer a estimada reputação do autor e o sedimentado interesse pela história francesa, talvez ajudem a explicar a boa recepção deste livro sobre poesia política no Brasil. Para efeitos de comparação, vale a pena destacar que o historiador irlandês Vincent Morley publicou trabalho muito parecido em 2002. Nessa obra de pouquíssima repercussão no país, o autor se dedica a investigar os impactos do processo de independência das colônias norte-americanas entre 1760 e 1783 na opinião de diversos setores da sociedade irlandesa. Morley demonstra como as notícias sobre o conflito que cruzavam o Atlântico e eram publicadas nos principais jornais irlandeses logo adentravam o universo da oralidade, sendo transformadas em música e versos em língua vernácula.8 Seu conhecimento de gaélico permitiu-lhe traduzir essas composições e perceber como a grande massa da população católica e analfabeta, outrora considerada passiva e despolitizada, acompanhou de perto os acontecimentos na América do Norte e apoiou a resistência dos norte-americanos ao domínio britânico, algo a que também aspirava, transformando figuras como George Washington em heróis populares.9 Não se trata aqui de diminuir a originalidade de Darnton, mas apenas de situar seu trabalho numa tendência mais ampla. Ademais, tal exemplo nos leva a refletir sobre as condições de circulação de conhecimento historiográfico, ou melhor, sobre os aspectos que levam um determinado assunto ou abordagem a receber atenção e reconhecimento entre historiadores.
De qualquer maneira, as análises e conclusões de Darnton contribuem não apenas para a história francesa do século XVIII. Elas também sugerem fecundos caminhos de pesquisa em diversas outras sociedades e períodos. No caso brasileiro, Sílvio Romero, em trabalho de folclorista, afirmava no final do século XIX que seria importante investigar a relação da poesia popular com nossos movimentos políticos e sociais. Em seu trabalho de compilador, ele notou a ausência de composições tratando das guerras de Independência, dos Farrapos, dos Cabanos, dos Balaios e do Paraguai, lacuna que em sua opinião poderia ser preenchida.10 Além disso, é de amplo conhecimento a presença de figuras políticas nos versos da literatura de cordel, especialmente vigorosa na região nordeste, o que também chama a atenção para a importância do estudo da poesia política de caráter oral no período republicano. O método sugerido por Darnton instiga a historiografia brasileira a encontrar e analisar esse gênero de sons do passado, e inseri-los nos debates travados em torno do tema da oralidade fortemente desenvolvido nos últimos anos. Seu livro deve interessar também aos estudantes da área de humanidades e comunicação, bem como ao público não especializado em geral.
1Dois exemplos significativos no Brasil: CABRAL, Luís Felipe. Darnton, Robert. Poetry and the Police: communication networks in eighteenth-century Paris. Rev. Bras. de Hist., v. 34, n. 68, p. 333-338, 2014; MATTOS, Yllan de; DILLMAN, Mauro. Darnton, Robert. Poesia e polícia: redes de comunicação na Paris do século XVIII. Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p. 357-362, 2015. O primeiro, baseado no texto original, faz uma boa descrição do conteúdo da obra e comentários elogiosos a ela. O segundo, apoiado na tradução, segue o mesmo caminho, apesar de apontar problemas no texto em português, como a utilização do termo “Velho Regime” em vez de “Antigo Regime”, além de notar a ausência de diálogo do autor com trabalhos importantes que já haviam tocado no tema por ele estudado.
2FINNEGAN, Ruth. Oral poetry: its nature, significance, and social context. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1992, p. 201-210.
3Ibidem, p. 58-70.
4Ibidem, p. 217-222.
5ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010, p. 307-308.
6SHAW, Matthew. Robert Darnton. Police and Poetry: communication networks in eighteeth-century Paris. Cambrige: Belkap Press, 2010. European History Quarterly, vol. 43, n. 2, p. 348.
7FINNEGAN, Ruth. Oral poetry: its nature, significance, and social context, op. cit., p. 118.
8MORLEY, Vincent. Irish opinion and the American Revolution (1760-1783). Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 97-107.
9Ibidem, p. 281.
10ROMERO, Sílvio. Estudos sobre a poesia popular no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1977, p. 263.
Jefferson Queler – Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas. Professor adjunto da Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil. E-mail: [email protected].
Cardenio entre Cervantès et Shakespeare: Histoire d’une pièce perdue – CHARTIER (Topoi)
CHARTIER, Roger. Cardenio entre Cervantès et Shakespeare. Histoire d’une pièce perdue. Paris: Gallimard, 2011. Resenha de: SOBRAL, Luís Felipe. “Ler um texto que não existe”. Topoi v.17 n.32 Rio de Janeiro Jan./June 2016.
O problema parece extraído de um conto de Borges. Em duas ocasiões, datadas de 20 de maio e 9 de julho de 1613, o registro de contas do Tesoureiro da Câmara de James I, rei da Inglaterra, assinalou pagamentos a John Heminges, um dos atores e proprietários dos King’s Men, chamados oficialmente de Grooms of the Chamber, pelas representações recentes de uma peça teatral intitulada Cardenno ou Cardenna. Sabe-se que o foco de tal peça é Cardenio, personagem cujo drama amoroso é narrado intermitentemente no primeiro livro do Quixote; mas o seu conteúdo exato é desconhecido, uma vez que ela nunca foi impressa, o que era então comum, e nenhum manuscrito seu jamais sobreviveu. Ao contrário dos contos de Borges, repletos de títulos e autores apócrifos, o problema tratado aqui não se circunscreve à proliferação de obras, mas a sua própria carência; no entanto, o desafio enfrentado pelo historiador Roger Chartier se aparenta, pelo seu caráter insólito, aquele que se propunha frequentemente o escritor argentino, pois seu objetivo não é outro senão, de acordo com o título de sua introdução, ler esse texto que não existe ou, mais precisamente, que pereceu no escoamento do tempo. A rigor, o conteúdo estrito da peça encenada pelos King’s Men é inapreensível, e assim permanecerá, a menos que surja algum manuscrito inédito capaz de reverter a situação. Mas o problema proposto pelo autor não se refere a uma leitura literal; na verdade, como ele já havia anunciado pelo menos desde sua aula inaugural no Collège de France, onde dedicou, na cadeira nomeada “Escrita e culturas na Europa moderna”, seus dois primeiros cursos a Cardenio, seu interesse maior reside no próprio fundamento da leitura e da autoria, interpelado através das noções de circulação, de apropriação e de prática cultural.1
Ainda que o texto da peça seja hoje efetivamente desconhecido, pode-se recorrer, no intuito de realizar uma leitura indireta, a uma série diversificada de fontes, a começar pelo próprio romance de Cervantes, no qual Cardenio aparece a partir do capítulo XXIII do primeiro livro.2 Dom Quixote e Sancho Pança encontram Cardenio na Sierra Morena, região inóspita na qual se escondem logo após terem libertado, com consequências desastrosas, um grupo de prisioneiros condenados às galés. Tal encontro é precedido pelo rápido vislumbre de um homem de aspecto roto saltando “de pedra em pedra e de moita em moita com estranha ligeireza”.3 Um velho cabreiro que aí vive alega desconhecer os motivos que o levaram a essa situação, mas ele conta que o roto encontra-se em um estado de penúria tanto física, apresentando-se faminto e esfarrapado, como mental, oscilando entre uma lucidez melancólica e rompantes violentos de delírio. Em um desses momentos lúcidos, o próprio roto, que não é outro senão Cardenio, surge e relata sua história desgraçada. Ele amava Luscinda e pretendia se casar com ela, mas foi vítima do golpe traiçoeiro de D. Fernando, seu próprio amigo. Enquanto Cardenio encontrava-se ausente a serviço de Fernando, este aproveitou para pedir a mão de Luscinda a seu pai, que aceitou com ganância o pedido vindo do filho de um duque. Ao tomar conhecimento disso através de uma carta de Luscinda, Cardenio dirigiu-se imediatamente à casa da amada, conseguindo se infiltrar secretamente aí quando o casamento estava prestes a começar; do vão de uma janela, ele assistiu impotente à cerimônia, que se encerrou com o desmaio de Luscinda e a descoberta em seu peito de um papel fechado, que Fernando tomou para ler. Amargurado por seu infortúnio, Cardenio vagou sem rumo, alcançando enfim a Sierra Morena, onde perdeu o juízo e conheceu a miséria. Este não é contudo o fim dessa história, cujos demais personagens surgem para contá-la de sua própria perspectiva e acabam se misturando às aventuras do protagonista do romance: por exemplo, Dorotea, amada de Fernando, participa do estratagema, arquitetado pelo padre e pelo barbeiro, amigos do cavaleiro errante, para levar este de volta a sua aldeia, resgatando-o assim de seu desatino; ela torna-se então a princesa Micomicona, cujo reino D. Quixote promete livrar de um gigante usurpador.4
Qualquer que tenha sido o conteúdo da peça encenada pelos King’s Men, ele se alimentou, ao menos em sua orientação dramática inicial, da história narrada por Cervantes, o que pressupõe necessariamente a precedência do Quixote na Inglaterra. A primeira tradução do primeiro livro do romance de Cervantes foi justamente a inglesa, realizada por Thomas Shelton e publicada em 1612 por Edward Blount, um dos livreiros londrinos que seriam mais tarde responsáveis pela impressão do primeiro fólio de Shakespeare, a primeira coletânea de peças do bardo. No entanto, várias referências ao Quixote precederam na Inglaterra essa tradução, pois tal romance conhecera até então nada menos que nove edições e treze mil e quinhentos exemplares, alcançando uma ampla circulação que ultrapassava a península ibérica e a América espanhola; os ingleses contavam com dicionários, manuais e gramáticas dedicados à língua castelhana, publicados em Londres desde 1590, e a tradução de Shelton circulou em manuscrito antes de ser impressa. Ainda que houvesse uma forte tendência no teatro inglês a retratar comicamente os espanhóis, um efeito persistente das tentativas da coroa espanhola em derrubar a rainha Elizabeth nas décadas anteriores, a língua e a literatura castelhanas gozavam então de um imenso prestígio, que sem dúvida não se limitava à Inglaterra. No entanto, observa Chartier, a peça em questão não se foca em D. Quixote, protagonista do romance, mas em Cardenio.
O problema é formulado então da seguinte maneira:
Não saberemos sem dúvida jamais como o que Cervantes designa no inglês de Shelton como “so thwart, intricate, and desperate affaires” (“tan trabados y desesperados negocios” [“essas aventuras tão emaranhadas e tão desesperadas”]) foi levado à cena pelos atores do rei quando em 1612 ou 1613, por duas vezes, eles representaram Cardenio. Se a tradução de Shelton, fiel ao texto de Cervantes, propunha materiais imediatamente utilizáveis para uma peça de teatro, com momentos espetaculares (o casamento, a sedução, os reconhecimentos, as despedidas), diálogos dramáticos e monólogos interiores, o mesmo não ocorria com a própria construção da intriga. Como transformar de fato em uma narrativa linear o que estava dado em Dom Quixote como uma série de recapitulações na qual cada narração acrescentava episódios conhecidos somente por aquele ou aquela que convocava o passado em sua memória? E, mais difícil ainda, como tratar no teatro o enredamento das duas histórias que advém desde que Dorotea entra no papel da princesa Micomicona? O desafio não era pequeno, pois ele podia conduzir seja a representar os amores de Cardenio e Fernando sem ligá-los de nenhuma maneira às aventuras de Dom Quixote, seja a inventar uma fórmula que permitisse associar em cena o desatino cômico do cavaleiro errante e a novela sentimental dos amantes separados depois reunidos. Uma peça fundada sobre Dom Quixote podia ignorar seu herói principal? Ou bem devia ela, como a história publicada em 1605, jogar múltiplos efeitos que produz o encontro entre as loucuras de Dom Quixote e as de Cardenio?5
“Na ausência do Cardenio de 1613”, afirma Chartier, “apenas uma série de hipóteses pode dar conta da decisão que transforma em uma peça teatral essa história de amores contada por vários de seus protagonistas ao longo dos capítulos de Dom Quixote”.6 Mas essa série de hipóteses não é dirigida somente às fontes contemporâneas das encenações realizadas pelos King’s Men; ela estende-se no tempo e no espaço, rastreando as diversas apropriações e, portanto, também as transformações, sofridas pela história de Cardenio.
Logo após o romance de Cervantes ter vindo a público em 1605, o valenciano Guillén de Castro publicou uma peça em três atos intitulada Don Quijote de la Mancha que tratava na verdade da história de Cardenio, desta vez um camponês que se descobre filho de um duque. Os personagens do Quixote não saíam contudo das páginas do livro para entrar somente nas peças teatrais; na Espanha, eles disseminaram-se rapidamente também nas festas, fossem elas nobres ou populares, persistindo como figuras familiares entre um público numeroso e diversificado. Havia, porém, um contraste marcante entre as adaptações teatrais e festivas: se as primeiras interessavam-se sobretudo por Cardenio, este ausentava-se quase completamente das segundas em benefício de D. Quixote e dos demais personagens da trama principal. “A história escrita por Cervantes”, explica o autor, “permitia as duas apropriações porque ela propunha, em um mesmo livro, figuras cômicas que podiam ser destacadas da trama de suas aventuras, começando com o próprio D. Quixote; e uma intriga dramática, inicialmente trágica e afortunadamente desatada, que fornecia peripécias, surpresas e disfarces bons para a cena”,7 ou seja, o drama de Cardenio. Desde a publicação de seu primeiro livro, o Quixote não era visto somente como uma paródia dos romances de cavalaria; ele apresentava-se também como uma antologia de novelas, de histórias dentro da história, entre elas a de Cardenio, particularmente propícias, devido as suas reviravoltas inesperadas, à encenação teatral.8 É assim que, ainda no continente, encontram-se em Paris, na primeira metade do século XVII, momento em que a língua e a literatura castelhana eram muito populares entre a elite, estimulando, portanto, a circulação do Quixote, outras adaptações teatrais do infortúnio de Cardenio, uma delas mais libertina que a de Guillén de Castro e atribuída a Pichou, um autor do qual não se sabe quase nada.
Chartier reencontra novamente Cardenio em Londres, em 9 de setembro de 1653. Nessa data, consta na Stationers’ Company, comunidade londrina dos comerciantes e impressores de livros, o registro do livreiro Humphrey Moseley reivindicando o direito exclusivo de reprodução (“right in copy”) de quarenta e uma peças teatrais, entre as quais “The History of Cardenio, by M. Fletcher. & Shakespeare”.9 Quarenta anos após sua encenação pelos King’s Men, a peça perdida e anônima sobre Cardenio foi atribuída a John Fletcher e William Shakespeare. Ainda que essa atribuição seja verossímil, uma vez que os dois dramaturgos haviam colaborado antes, há incerteza, pois Moseley também vinculou ao bardo obras que não lhe são reconhecidas; além disso, a peça nunca entrou nas edições das obras de nenhum desses autores. Se John Heminges e Henry Condell, editores em 1623 do primeiro fólio, possuíam um manuscrito de The History of Cardenio, eles não a incluíram aí provavelmente porque a julgaram escrita a quatro mãos; a peça tampouco encontra-se nas edições seguintes do fólio. Segundo o autor, “A razão é simples: a peça não foi jamais impressa, enquanto aquelas que entram pela primeira vez no corpus shakespeareano […] foram todas publicadas em edições in-quarto no começo do século XVIII”.10 Tal afirmação revela um aspecto decisivo do problema, assinalando uma transformação histórica profunda: se a produção teatral na Inglaterra quinhentista e seiscentista pautava-se na colaboração entre os dramaturgos, a publicação do fólio assinalou, por meio da “monumentalização de Shakespeare”,11 a nova tendência da singularidade autoral, que se consolidaria nos séculos subsequentes.
O livro avança dessa maneira, rastreando a circulação e as diversas apropriações da história de Cardenio no intuito de discutir, através dessas fontes indiretas, as hipóteses sobre o conteúdo da peça desaparecida. Assim fazendo, Chartier chega até a Inglaterra e os Estados Unidos atuais, onde o interesse pela peça ultrapassou o circuito erudito, tornando-se, segundo suas próprias palavras, “uma febre”12 que resultou em novas encenações teatrais e tornou-se o tema dos registros mais variados, incluindo por exemplo o romance policial, sem dúvida um efeito duradouro do imenso renome de Shakespeare. Seria é claro despropositado reconstruir aqui todo esse percurso; convém, todavia, apresentar um último exemplo, particularmente propício para mostrar, primeiro, como mais uma vez o autor elabora suas hipóteses, segundo, como o problema exige não apenas a leitura de textos, mas também de imagens.
No sexto capítulo, Chartier examina as ilustrações que acompanhavam o texto espanhol do Quixote e, em seguida, aquelas presentes nas edições inglesas, uma provável fonte de inspiração para a redação da peça. Entre as últimas, encontra-se uma das seis estampas que William Hogarth preparou, sendo afinal recusadas ou retiradas por ele mesmo, para a luxuosa edição do romance de Cervantes financiada por lorde Carteret e publicada em 1738 pelos Tonson, uma importante família de editores; ela retrata o primeiro encontro entre Cardenio e D. Quixote, com o cabreiro e Sancho Pança à direita (fig. 1). Diante dessa estampa, o autor escreve:
Distanciando-se da descrição de Cervantes que retrata Cardenio com “uma barba negra e espessa, cabelos frondosos e amarrados”, mas respeitando as indicações quanto aos pés nus do jovem homem e as suas culotes rasgadas, Hogarth torna visível o parentesco dos dois habitantes da Sierra Morena, que faz que o fidalgo abrace Cardenio desde seu primeiro encontro como se ele o conhecesse de longa data. Cardenio é como um duplo de Dom Quixote e ambos oscilam entre entendimento e desvario, entre urbanidade e violência. Ambos tomam a realidade por seus desejos, ou suas obsessões, pois as loucuras de Cardenio fazem-no assaltar os cabreiros identificados ao pérfido Fernando; ambos compartilham leituras e loucuras. Dom Quixote reconhece-o de imediato, assim como Hogarth e, antes dele, Guillén de Castro. Fletcher e Shakespeare em The History of Cardenio privaram-se de um recurso dramático tão poderoso?13
Essa questão não pode realmente ser respondida na ausência do texto da peça; mas ela não visa de fato uma resposta: sua finalidade consiste, na verdade, em elaborar uma hipótese, balizada pelas apropriações feitas por outrem a respeito da história de Cardenio, sobre o que poderá ter sido a peça perdida. O limite assim definido por uma lacuna nas fontes não se apresenta, portanto, como um beco sem saída, um empecilho incontornável diante da vontade de ler a peça, mas como um ponto de partida que se revela afinal bastante promissor para uma discussão sobre a circulação e as apropriações de textos, e consequentemente também sobre a autoria, na Europa do início da Idade Moderna. É a própria ausência da peça, de um texto original ao qual deveriam se remeter todas as suas variantes, que possibilita, e mesmo estimula, as inúmeras revisões, adaptações e reescritas rastreadas por Chartier ao longo de quatro séculos. Mas a multiplicação textual da história de Cardenio, um sinal inequívoco da mobilidade extrema e da instabilidade dos textos, é impensável apartada da estabilização da autoria; isso porque a peça não somente foi atribuída a Shakespeare, um autor de imenso prestígio, como suas apropriações subsequentes remetiam sempre ao bardo, obliterando assim o nome de Fletcher. O autor reconhece nesse caso o problema do anacronismo, designado por ele como “discordância de tempo”, que fornece, entre a encenação da peça pelos King’s Men e hoje, uma continuidade à noção de literatura quando na verdade lida-se com uma dupla descontinuidade: de um lado, uma vez que a literatura não coincidia ainda com as belas-letras, ela não nomeava as obras que hoje reconhecemos como literárias, mas os trabalhos dos eruditos; de outro, a ideia vigente de autoria, pautada na unidade e na coerência de uma obra dependente da singularidade de um autor com direito de propriedade e de responsabilidade sobre seus escritos, surgiu apenas na Inglaterra setecentista. Conforme a história de Cardenio circula e se transforma, as categorias de entendimento aí em jogo também mudam; para apreendê-las em suas respectivas espessuras históricas, é necessário considerar “as relações estabelecidas entre os dispositivos do teatro, a composição do público e as categorias mentais que organizam a possível apropriação do texto”.14 A despeito das diferenças entre todas as suas variantes, a história de Cardenio é sempre reconhecível, apontando um paradoxo que Chartier descreve como “a permanência das obras e a pluralidade dos textos”:15 ainda que se desconheça o texto da peça perdida, sabe-se, ou melhor, supõe-se quem é seu autor, o que lhe confere uma estabilidade capaz de estimular inúmeras apropriações.
Fonte: Banco de imágenes del Quijote, 1605-1915 (www.qbi2005.com), acessado em 26 de novembro de 2015
1. WilliamHogarth, D. Quixote e Sancho Pança encontram Cardenio, 1726-1738, estampa, 228 × 174 mm, Londres
Trata-se enfim de um problema historiográfico formidável, cujo interesse não cabe, contudo, apenas aos historiadores nem tampouco aqueles que lidam, em maior ou menor medida, com fenômenos do passado. Uma das questões fundamentais que todo pesquisador das ciências humanas enfrenta circunscreve-se à tensão entre o que ele se propõe discutir e o que o material empírico permite de fato ser discutido; uma concordância exata entre esses dois extremos é muito improvável e, francamente, desestimulante da perspectiva intelectual; na prática, inúmeros ajustes são necessários, transformando aos poucos a proposta de pesquisa original em outra coisa. Nesse percurso, as lacunas são particularmente desafiadoras, impondo uma reformulação do problema inicial e colocando a pesquisa em movimento. Ao rastrear as transformações da história de Cardenio, Chartier mostra o quanto uma lacuna pode ser estimulante e produtiva, desde que a pergunta certa lhe seja dirigida.
1Cf. CHARTIER, Roger. Écouter les morts avec les yeux. Paris: Collège de France / Fayard, 2008, p. 62-71 especialmente. Ambos os cursos, oferecidos respectivamente em 2007-2008 e 2008-2009, podem ser ouvidos no site do Collège de France (www.college-de-france.fr).
2Essa numeração refere-se à edição definitiva: ver Miguel de Cervantes Saavedra, O engenhoso fidalgo D. Quixote de La Mancha. Primeiro Livro, tr. de Sérgio Molina. São Paulo: Editora 34, 2011, p. 305-320. Na edição original de 1605, impressa em Madri por Juan de la Cuesta e dividida em quatro partes, trata-se do capítulo IX do Terceiro Livro; o segundo livro foi publicado apenas em 1615.
3Ibidem, p. 312.
4O leitor interessado na história completa de Cardenio segundo a versão de Cervantes pode consultar, sobretudo, ibidem, p. 324-329, 374-388, 394-408. Vale observar que tal história conclui-se no capítulo XXXVI, mas seus personagens só saem efetivamente de cena no capítulo XLVII.
5CHARTIER, Roger. Cardenio entre Cervantès et Shakespeare, op. cit., p. 53-54. Salvo indicação contrária, todas as traduções são minhas.
6Ibidem, p. 37.
7Ibidem, p. 68-69.
8No primeiro livro, encontram-se, por exemplo, também a história do curioso impertinente, entre os capítulos XXXIII e XXXV, e a história do cativo, entre os capítulos XXXIX e XLI (cf. M. de Cervantes, O engenhoso fidalgo D. Quixote de La Mancha, op. cit., p. 461-521 e 557-611 respectivamente).
9CHARTIER, Roger. Cardenio entre Cervantès et Shakespeare, op. cit., p. 117.
10Ibidem, p. 141.
11Ibidem, p. 120.
12Ibidem, p. 265-284.
13Ibidem, p. 200.
14Ibidem, p. 288.
15Ibidem, p. 285-289.
Luís Felipe Sobral – Doutor em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas. Pós-Doutorando em Antropologia Social na Universidade de São Paulo, São paulo, SP, Brasil e bolsista da Fapesp. E-mail: [email protected].
Roman Temples, Shrines and Temene in Israel – OVADIAH; TURNHEIM (Topoi)
OVADIAH, Asher; TURNHEIM, Yehudit. Roman Temples, Shrines and Temene in Israel. Roma: Giorgio Bretschneider Editore, 2011. 155páginas e 78 pranchas. Resenha de: BASTOS, Marcio Teixeira. Espaços sagrados na Palestina romana: arqueologia, imperialismo e a multiplicidade ritual no Oriente Médio. Topoi v.17 n.32 Rio de Janeiro Jan./June 2016.
Asher Ovadiah e Yehudit Turnheim oferecem um trabalho pioneiro de pesquisa que contribui amplamente para o estudo da arquitetura e da cultura material associada aos lugares de culto em Israel; assim como para a investigação das distintas manifestações daquilo que foi considerado sagrado no período romano e a ocupação das múltiplas topografias na região. Este é o primeiro livro a tratar da arquitetura dos templos erigidos em Israel e da cultura material associada a ocupação dos templos, santuários e témenos no período romano (em seu contexto maior, a parte sul da extensa Província da Síria Romana e suas consequentes transformações). O estado de conservação dos sítios arqueológicos, o número limitado de escavações e a escassez de publicações sobre templos romanos escavados nessa parte do império são obstáculos que limitam a imagem e abrangência do esforço de abordagem feito pelos dois arqueólogos da Universidade de Tel Aviv na tentativa de reconstrução de práticas e lugares de culto em Israel durante esse período. A faixa cronológica dos templos, santuários e témenos discutidos neste livro se estende ao longo de um período que compreende desde o reinado de Herodes até o início da dinastia Dioleciana (primeiro século AEC até terceiro século EC).
Os autores decidiram não separar a discussão entre santuários e templos, e em alguns casos eles são apresentados conjuntamente. Um olhar apurado sobre a lista apresentada na obra mostra claramente quão variado e diferentes entre si são estes complexos. O livro é dividido em duas partes distintas: na primeira, são abordados onze sítios arqueológicos e seus respectivos santuários e templos; na segunda parte, é apresentada uma discussão de treze outros lugares, baseada essencialmente em fontes históricas, literárias, epigráficas e numismáticas, mais do que em vestígios das edificações nos sítios arqueológicos na região. Convém salientar que alguns dos sítios abordados nunca foram escavados, como é o caso da Caverna de Elijah, no Monte Carmelo; e outros sítios arqueológicos escavados não têm até hoje seus resultados completos de escavação publicados. Esse é o caso do santuário de Paneas (Banias), e dos três templos localizados em Citópolis (Beth Shean), que foram escavados há mais de dez anos e ainda aguardam a publicação completa e resultados finais dos trabalhos executados.
Nesse mesmo sentido, os autores apresentaram crítica ao trabalho desenvolvido pela Universidade de Minnesota no templo de Omrit, na Alta Galileia, salientando que até aquele momento nenhum resultado havia sido publicado sobre o sítio. Contudo, durante o mesmo ano de edição do livro aqui resenhado, Andrew Overman e Daniel Schowalter publicaram os resultados preliminares das escavações no templo de Omrit (J. Andrew Overman e Daniel N. Schowalter, The Roman Temple Complex at Horvat Omrit: An interim report, BAR International Series 2205). A crítica de Ovadiah e Turnheim não ficou sem resposta. Dois anos depois, Andrew Overman em resenha para o Journal of Roman Archaeology (2013, vl. 26, p. 877-878) procurou rebater as assertivas analisando o livro dos autores. Por sua vez, Arthur Segal, da Universidade de Haifa, em resenha publicada em 2011 (Roman Temples, Shrines and Temene in Israel, Israel Exploration Journal, v. 61, n. 2, p. 242-246) já havia alertado para a dificuldade que os autores enfrentaram na tentativa de proporcionar uma imagem balanceada do que foi denominado como “Arquitetura do Culto Romano em Israel”. Apesar de tais críticas, é preciso salientar que, em função do quadro variado e obstáculos de acesso à informação, Ovadiah e Turnheim chegaram à conclusão de que não é aconselhável, para o momento, estabelecer uma tipologia de construção para as edificações dos templos e santuários romanos em Israel.
Na primeira parte do livro (que corresponde a onze sítios arqueológicos) são abordados: 1 – Paneas-Banias / Cesareia Philippi; 2 – Horvat Omrit; 3 – Templo de Baal Shamin, em Kedesh; 4 – Beth Shean / Citópolis; 5 – Caverna de Elijah, Monte Carmelo; 6 – Dor; 7 – Cesareia Marítima; 8 – Samaria-Sebaste; 9 – Templo de Zeus Hypsistos, Monte Gerizim; 10 – Jerusalem / Aelia Capitolina; 11 – Témenos de Elonei Manre e Me’arat Hamachpelah / Tumba dos Patriarcas, em Hebrom. Já na segunda parte os treze lugares que compõem a obra são apresentados sob o título “Varia“. São eles: Keren Naphtali / Khirbet Harrawi; Bethsaida; Hippos / Sussita; Tiberíades; Beset; Acre (Akko) / Ptolemais; Antipátrida (Aphek) / Antipatris; Jaffa / Jope; Beth Guvrin / Eleutheropolis; Ascalon / Askelon; Gaza; e Elusa / Halutza. O Epílogo finaliza o livro e um apêndice sobre as fontes literárias, bem como a reprodução das fotos dos sítios arqueológicos, são providos no final da obra.
Os templos e santuários dedicados a Pan e outros deuses, situado no sopé da caverna de Paneas em Banias, na Alta Galileia, é um local que formou, na Antiguidade, um fascinante complexo religioso. Porém, como referido, poucos resultados das escavações foram publicados em mais de dez anos após o fim das atividades. Nesse sentido, merece destaque o estudo da cerâmica ritual encontrada no sítio. O estudo feito por Andrea Berlin, da Universidade do Minnesota, em The Archaeology of Ritual: The Sanctuary of Pan at Banias/Caesarea Philippi apresenta excelente descrição das possíveis atividades realizadas no local. Nesse contexto de escassez de publicações, a descrição do sítio apresentada por Ovadiah e Tunheim é uma fonte essencial para compreender o espaço, uma vez que tem por base, principalmente, os relatórios preliminares de escavação, além da obra de Zvi Uri Ma’oz, Baniyas in the Graeco-Roman Period: A History Based on the Excavations. No livro é possível encontrar uma análise das fontes escritas, epigráficas e numismáticas relacionadas com o sítio. Os autores procuraram utilizar toda a informação disponível, a fim de proporcionar, na medida do possível, uma imagem objetiva dos templos e santuários descritos nessa obra.
Figura 1 Santuário de Omrit, Alta Galileia (Foto: Marcio Teixeira Bastos)
No santuário de Omrit, que ainda passa por escavações realizadas pela equipe da Universidade de Minnesota (Macalester College), foram descobertos três templos romanos. O templo mais antigo foi erguido no primeiro século AEC, talvez nos tempos de Herodes. O segundo, que teve um plano tetrastilo períptero, foi construído no final do primeiro século AEC ou início do primeiro século EC, enquanto o terceiro templo, com um plano hexastilo períptero, seria uma expansão de seu antecessor e teria sido construído no decorrer do segundo século EC. Mesmo que a escavação ainda esteja em curso, não há dúvidas de que este sítio é um dos mais impressionantes templos romanos encontrados em Israel. A respeito de Horvat Omrit, os autores inferem que possivelmente o sítio serviu como um claro referencial paisagístico, assim como para propósitos eróticos e orgásticos de culto. Contudo, nada em Omrit parece sustentar essa especulação e mais evidências são necessárias para tal inferência.
As escavações no magnífico templo de Hippos/Sussita e algumas recentes publicações têm consideravelmente impactado o modo como tem sido entendido e abordado o leste do mar da Galileia e as cidades da Decápolis, brevemente abordadas pelos autores no livro. Arthur Segal e uma equipe de pesquisa da Universidade de Haifa têm publicado consistentemente sobre o tema nos últimos anos (SEGAL, Arthur et al. Hippos-Sussita of the Decapolis. The first twelve seasons of excavations 2000-2011. v. I, Haifa: The Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa, 2013 ).
Ainda na primeira parte do livro, uma detalhada descrição do Templo de Baal Shamin em Kedesh (escavado por Ovadiah, Fischer e Roll em 1984) é apresentada. Sem dúvida um trabalho de fôlego sobre um templo romano preservado em estado satisfatório (os resultados das escavação desse sítio foram publicados amplamente). A respeito da caverna no Monte Carmelo, o questionamento de Overman sobre a estrutura ali existente é válido: trata-se de templo, santuário ou témenos? Provavelmente nenhuma dessas opções, como Ovadiah e Turnheim afirmam, tendo em vista que não existe evidência da ocupação da caverna em período romano. Assim, as duas páginas sobre esse sítio dependem em maior medida de algumas fontes literárias, notadamente Tácito (Hist. 2.78), que também afirma não haver um templo no lugar, mas considera que a “tradição da Antiguidade” reconhecia no local a presença de um altar e associação sagrada.
Assim, conforme salienta Mircea Eliade em O sagrado e o profano: a essência das religiões, dentro das práticas de consagração dos espaços, a valorização e a desvalorização de locais sagrados organiza uma hierarquização dos lugares e dos territórios. Isto contribui para o fortalecimento e/ou enfraquecimento do referencial de territórios ocupados na composição dos espaços. A seleção e consagração dos lugares depende em maior medida da capacidade que uma dada modalidade do sagrado tem de criar tipos de associação e uma rede de memórias atreladas à irrupção do sagrado naquele determinado contexto. As edificações sagradas e, portanto, os lugares em que elas se encontram, contribuem para a inteligibilidade associativa do que é considerado sacro e do que é considerado profano.
Entre os capítulos VII e VIII, Ovadiah e Turnheim descrevem dois templos erigidos sob a patronagem de Herodes durante o primeiro século AEC em honra e culto ao imperador Augusto. Estes são o Augusteum de Cesareia Marítima e o Augusteum de Samaria-Sebaste. Contudo, as publicações sobre Cesareia Marítima são mais consistentes para os estudiosos que procuram aprofundar o entendimento a respeito do sítio (ver HOLUM, Kenneth et al. Caesarea reports and studies: excavations 1995-2007. Oxford: Archaeopress, 2008 e PATRICH, Joseph. Studies in the archaeology and history of Caesarea Maritima. Leiden; Boston: Brill, 2011). Apesar dos poucos itens de decoração arquitetônica desenterrados e dos comprometidos segmentos das paredes das fundações do templo, o esforço de pesquisa dos autores proporciona uma imagem crível do santuário, construído sobre uma plataforma artificial na costa do Mediterrâneo, a alguns metros do porto da cidade (nominado de Sebastos). Melhor preservado estava o Augusteum em Samaria-Sebaste, localizado no ponto mais alto da cidade, como parte de outro magnífico santuário. Embora escavado na primeira metade do século XX por equipes norte-americanas e britânicas, as pesquisas estão ainda em desacordo a respeito dos estágios de construção e do plano do templo (REISNER, George Andrew; FISHER, Clarence Stanley; LYON, David Gordon. Harvard Excavations at Samaria, 1980-1910. Cambridge: Harvard University Press, 1924, 2v.; CROWFOOT, John Winter; KENYON, Kathleen Mary; SUKENIK, Eleazar Lipa. The Buildings at Samaria I. London, Palestine Exploration Fund, 1942; Netzer, E. The Augusteum at Samaria-Sebaste: A New Outlook. Eretz-Israel, v. 19, 1987, p. 97-105). O livro de Ovadiah e Turnheim oferece aqui um excelente material comparativo e elucidativo para compreender a questão.
Pouco restou do templo de Zeus Hypsistos, escavado em Tell er-Ras em Monte Gerizim. Entretanto, a escavação e a riqueza de informações numismáticas e das fontes históricas permitiram uma reconstrução dos planos do santuário e do templo (MAGEN, Yitzhak. Mount Gerizim; MAGEN, Yitzhak. Flavia-Neapolis, Shekhem in the Roman Period. Jerusalém: Israel Exploration Society, 2005). O templo teria um plano tetrastilo períptero, com o santuário retangular construído em dois níveis. Esse templo contava com uma via de procissão (a via sacra) que consistia basicamente em uma longa escada sobre a íngreme encosta da montanha conduzindo diretamente ao santuário no topo do monte. A via sacra ramificava-se a partir da principal via colunata da cidade. No que diz respeito aos quatro templos erigidos em Jerusalém, após ser refundada e renomeada como Élia Capitolina (Aelia Capitolina) em 130 EC, estes lugares foram dedicados às divindades de Zeus/Júpiter, Aphrodite/Venus, Asclepius/Serapis e Tyche/Fortuna, respectivamente. A informação sobre estes templos deriva essencialmente de fontes históricas, literárias e numismáticas, uma vez que pouquíssimos vestígios arqueológicos restaram destas edificações, em grande medida devido ao processo de cristianização da Palestina a partir do quarto século EC. Nesse sentido, assim como a Caverna de Elijah, no Monte Carmelo, seria mais apropriado alocar estes lugares na segunda parte do livro.
A primeira parte do livro encerra-se com a discussão dos dois témenos encontrados nas imediações de Hebron: o témenos de Elonei Mamre e o de Me’arat Hamachpelah (Tumba dos Patriarcas). As edificações foram construídas no final do primeiro século EC, ao que parece no mesmo período em que foram construídos o Augusteum de Cesareia Marítima (e também o de Samaria-Sebaste). Porém, não existe uma relação objetiva entre estas edificações. Os témenos claramente possuem inspiração Oriental e consistem em duas praças retangulares abertas, formada por paredes com sólidos blocos de rocha. Nestes espaços reuniam-se os participantes das cerimônias comunais e ritualísticas. Novamente se torna pertinente a pergunta: como podemos diferenciar estas estruturas? Basicamente, a origem de témenos está associada à escrita micênica Linear B e seu conceito surge associado a um terreno delimitado e consagrado a um deus, portanto, excluído dos usos seculares. O conceito também pode aplicar-se ao topos do bosque sagrado, ou, de modo genérico, à sacralização de uma dada paisagem (Carl Jung em Psicologia y alquimia associa o termo ao conceito do circulo mágico, que atua como um espécie de “lugar seguro”, onde se pode “trabalhar” mentalmente). Contudo, o sentido atribuído a témenos pelos autores está ligado a uma porção de terra em um domínio oficial, especialmente separada para um basileo (soberano) ou anax (rei supremo). Cabe dizer que tal definição necessitaria estar mais evidente no texto.
Muito foi feito em relação ao estudo dos sítios arqueológicos na transição do período Helenístico para o período romano na região e um número cada vez mais elevado de publicações pode ser consultado pelos estudiosos que se dedicam a este amplo e importante tópico de pesquisa. Bem como todos os que pretendem aprofundar seus conhecimentos no tema. Dessa forma, o livro de Ovadiah e Ternheim fornece uma abordagem holística singular sobre o tema que habilita os estudiosos a traçar seus próprios caminhos de pesquisa. No entanto, entre os importantes sítios não contemplados neste livro, merece menção Sepphoris-Zippori, escavado por Zeev Weiss da Universidade Hebraica de Jerusalém, e a publicação do templo romano From Roman temple to Byzantine church: a preliminar report on Sepphoris in transition.
Na segunda parte do livro, treze lugares são abordados de maneira concisa. Embora breves, todas as descrições são baseadas em evidências históricas, epigráficas e numismáticas, com suas respectivas correspondências nos vestígios das edificações, quando presentes. O livro termina com um epílogo. A importância desta breve conclusão, de apenas seis páginas, reside principalmente na análise dos diferentes tipos de fontes empregadas pelos autores na pesquisa. São listados os nomes das dezoito divindades às quais os santuários e templos foram dedicados em Israel e a bibliografia é acompanhada na sequência pela organização de pranchas com ilustrações dos sítios arqueológicos abordados.
Ao final desta resenha é importante relembrar uma das observações presente no prefácio do livro: os sítios da região passaram por profundas modificações materiais ao longo dos séculos. De fato, a deterioração dos templos e santuários pela erosão e outros agentes naturais (entre os quais terremotos que atingiram a região), e a destruição causada por roubo e pilhagem na Antiguidade, bem como o surgimento e o crescimento do cristianismo, são fatores capitais de mudança. A paisagem da Palestina foi radicalmente transformada com a ascensão do cristianismo no Oriente, apropriando sítios, destruindo e reconstruindo templos e santuários, promovendo, assim, a ressacralização dos lugares. Alguns destes complexos religiosos foram deliberadamente “esquecidos” e/ou destruídos na Antiguidade Tardia (quinto e sexto séculos EC) por ordem das autoridades cristãs e imperadores bizantinos, ou convertidos em igrejas e monastérios. Outros tantos foram demolidos pelas gerações posteriores, ou passaram por distintos processos pós-deposicionais (desastres naturais, incêndios, conquistas etc.). Como afirmou Lucrecio, uma faísca aqui e outra ali provoca um incêndio generalizado.
O número residual de templos romanos sobreviventes em Israel é muito pequeno se comparado à evidência e à preservação dos templos no Líbano, Jordânia e na Síria. A razão para esta discrepância parece ser evidente: as montanhas pouco povoadas e de difícil acesso do Líbano, o tamanho e a distância destas áreas na Síria e Jordânia, além da perda do controle da região durante a Idade Média. No entanto, as fontes literárias, as analogias arqueológico-arquitetônicas e as evidências circunstanciais, fornecem informações suficientes para a compreensão dos contextos e das transformações ocorridas na Antiguidade nessa região. As percepções culturais evidenciadas nestes lugares sagrados e os complexos religiosos do período romano em Israel demonstram como o imperialismo romano atuou eficazmente através da religião e como a veneração e adoração de muitas e variadas divindades dos panteões orientais e greco-romanos foram combinadas e consubstanciadas, fomentando a multiplicidade ritual do período. Além disso, é permitido supor que estes sítios arqueológicos, templos e santuários, demonstram não somente a realidade arquitetônica, mas também a atmosfera religiosa-cultual do período.
Entretanto, não é possível encerrar essa resenha a respeito dos templos romanos em Israel sem a profunda lástima sobre a destruição dos templos de Baal-Shamin (convertido em igreja no quinto século EC) e Baal (Bel) em Palmyra. Assim como sobre o descalabro que foi acometido o arqueólogo sírio Khaled al-Asaad da Universidade de Damasco, brutalmente assasinado pelo extremismo monoteísta islâmico do grupo autodenominado Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) ou Estado Islâmico do Iraque e da Síria (EIIS). O mundo contemporâneo testemunha mais uma onda de destruição de sítios arqueológicos, considerados Patrimônio da Humanidade, e a supressão intencional da memória coletiva. E assim, assistimos mais uma versão escabrosa de extremismo monoteísta e fundamentalismo religioso, que insiste em não saber conviver com a multiplicidade ritual presente em todas as sociedades do globo. Quando o objetivo de um grupo social atenta contra a vida e a memória dos povos, é nesse momento que se tornam mais significativas as palavras de Peter Burke: a função do Historiador (e essencialmente do Arqueólogo) é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer.
Marcio Teixeira Bastos – Doutorando cotutela em Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP), São Paulo, SP, Brasil e da Universidade de Tel Aviv (TAU), Israel, com período de pesquisa na Universidade de Durham, Reino Unido (2013-2014 – bolsa Bepe-Fapesp). Bolsista Fapesp. E-mail: [email protected].
Lições de História: caminho da ciência no longo século XIX- MALERBA (Topoi)
MALERBA, Jurandir. Lições de História: o caminho da ciência no longo século XIX. Rio de Janeiro: FGV Editora, Porto Alegre: EdiPUCRS, 2010. 492pp. MALERBA, Jurandir. Lições de História: da história científica à crítica da razão metódica no limiar do século XX, Rio de Janeiro: FGV Editora, Porto Alegre: EdiPUCRS, 2013. 539pp. Resenha de: FREIXO, Andre de Lemos. Legados da disciplina histórica: experiências na fronteira entre consensos e horizontes. Topoi v.16 n.31 Rio de Janeiro July./Dec. 2015.
Em Lições dos mestres, George Steiner nos apresentou um ensaio sobre relações entre mestres e discípulos, professores e alunos, todos eles “clássicos”, por assim dizer: Sócrates e Platão, Jesus e seus apóstolos, Confúcio e os budistas, Virgílio e Dante, Husserl e Heidegger, entre muitos outros. No cerne de sua reflexão está o problema da educação. E ele indaga sobre essa questão a partir do significado da ideia de “transmissão” e de para quem seria legítimo transmitir saberes, bem como sobre as relações (de continuidade e descontinuidade) entre traditio – “aquilo que se transmite” – e o que os gregos chamavam paradidomena – “aquilo que se transmite agora“.1 Em suma, o que significa passar adiante o patrimônio cultural acumulado e herdado? E como fazê-lo? Em escala mais restrita, pode-se dizer que a coleção Lições de História se coloca na esteira dessas reflexões, mesmo que não as tematize ou confronte diretamente.
A coleção tem dois volumes e foi organizada por Jurandir Malerba, titular livre de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seguindo o modelo clássico das antologias, o resultado final é uma obra de história intelectual cujo “público-alvo” parece ser o de estudantes de história e jovens professores em busca de material de qualidade a respeito dos autores que, segundo o organizador, “deixaram um legado monumental para o pensamento moderno” (I, p. 7),2 em especial para a historiografia.
Deste modo, pode-se pensar em uma questão de educação e transmissão aqui também. Ou, pelo menos, de uma “herança” ou perspectivas nesse sentido, enfeixadas num enredo mais ou menos já conhecido: contar uma parte considerada muito importante da história da formação do campo disciplinar da história. Seja como for, ela precisa ser lida e pensada como uma história possível da história. Como uma leitura para sua formação disciplinar. O que provavelmente é realizado sob as lentes de quem se considera parte constituinte do processo. Que hoje reconhece nesses pioneiros algo do que fazemos (embora não façamos mais da mesma maneira) quando escrevemos história. Nesse sentido, digo que elas seguem um enredo “já conhecido”, ilustrando um relativo consenso.
Evidentemente, toda seleção implica o descarte de outras referências que poderiam igualmente ser consideradas (pelas mesmas razões propostas pela coleção) tão relevantes quanto as elencadas. No entanto, os autores que figuram nos volumes abarcam um recorte longo, que se estende, aproximadamente, entre 1785 até a década de 1930. Assim, cabe ressaltar o mérito em ultrapassar alguns limites do já referido acordo consensual. Isso enriquece nosso quadro não apenas de autores conhecidos (ou apresentados), mas ajuda a complexificar o entendimento, por vezes simplista, esquemático e teleológico, do processo de configuração do campo disciplinar da História, suas idas e vindas, desafios e dilemas. Traduções de textos de Voltaire, Pierre Daunou, Georg G. Gervinus, Thomas B. Macaulay, Louis Bordeau, Ernst Troeltsch, Karl Lamprecht, Wilhelm Windelband, Friedrich Meinecke, Heinrich Rickert, Benedetto Croce, Robin G. Collingwood, Charles Beard, Carl Becker, James Harvey Robinson, entre outros, ampliam o rol de referências e tradições intelectuais disponíveis aos jovens estudiosos brasileiros de História.
Eleito pela Revista Brasileira de História e Ciências Sociais o “Livro do Ano” (2011), o primeiro volume da coleção apresenta, além dos textos dos mestres modernos, introduções às obras desses autores realizadas por quinze profissionais brasileiros de latitudes geográficas bastante distintas. A introdução do volume ficou a cargo de François Dosse. Seu texto é sintético e procura dar tom e diapasão àquele conjunto de referências, que tem por objetivo (re)traçar o caminho da história oitocentista “rumo à ciência”. Caminhos bastante diferentes, como observa Malerba (I, p .8), mas que na introdução de Dosse não se evidenciam em toda sua extensão, uma vez que este prioriza as contribuições francesas para esse desenvolvimento. Os esforços para constituir disciplinarmente qualquer saber necessitam de um relativo consenso sobre quais as referências que devem figurar como incontornáveis para o desenvolvimento da “nova” disciplina. Isso não significa desconsiderar as tensões envolvidas no processo. Erudito e competente, embora por vezes excessivamente simplista, o texto de Dosse destoa um pouco da proposta mais alargada que a coleção promete, mantendo-se fiel ao consenso francês. Seu conceito de historicismo, assim, torna-se restrito, referindo-se quase exclusivamente a uma “história ligada ao particular” que teria “nascido” apenas com Wilhelm von Humboldt (I, p. 25) no seu texto “Sobre a tarefa dos historiadores” (1821).3 Além disso, como se poderá ver nos textos introdutórios assinados por Julio Bentivoglio, Sérgio da Mata, Sérgio Duarte, Arthur Alfaix Assis, entre outros, a historiografia oitocentista alemã formulou propostas inovadoras e originais, amparada em sólida erudição e profunda sensibilidade epistemológica, cujas preocupações envolviam reflexões sobre método, crítica documental, ética, valores, o papel e função social dos historiadores, a problemática da escrita histórica, entre outras. O recurso a comparações entre as historiografias francesa e alemã também figura como fator mais problemático do que propriamente problematizado por Dosse. Com algum exagero, assevera, por exemplo, que a Introduction aux études historiques (1898), de Langlois e Seignobos, seria capaz de concorrer com o Grundriss der Historik (1857-1858) de Johann Gustav Droysen (I, p. 28).4 Tratam-se de textos de naturezas muito diversas. Inclusive, o compêndio de Droysen (outro autor decisivo, porém não contemplado nesta coleção) sintetiza as reflexões de natureza teórica e metodológica que pouco se assemelham à definição das etapas da pesquisa à escrita histórica e à deontologia científica dos historiadores proposta no manual dos franceses.5 Evidentemente, não se trata de criar ou sustentar competições inócuas, mas evidenciar que a historiografia oitocentista e os historicismos foram muito mais ricos e multifacetados do que a já bastante datada dicotomia do “velho” e do “novo” permitem perceber. Na economia do texto introdutório de Dosse, portanto, o conceito de historicismo termina por funcionar como a preparação ideal para a triunfal emergência da Sociologia (durkheimiana) para colocar ordem na “casa de Clio” (I, p. 30). Não há nada de errado nisso, mas apenas conserva-se o já conhecido e tradicionalíssimo consenso historiográfico francês a este respeito.
Quanto aos textos escolhidos para tradução, o primeiro volume nos apresenta belos testemunhos de épocas passadas. Suas perspectivas e sociedades são reveladoras de muitos e distintos aspectos das relações entre tempo e história, passado e presente. Muitos dos autores podem ser caracterizados como filósofos, no sentido pleno da expressão (por sua capacidade de análise conceitual e abstrata), pois refletem sobre história a partir do que julgavam ser o seu caráter, se literatura ou ciência.
Não caberia aqui debater todas essas leituras em filigrana, a maioria delas é composta por traduções de textos inéditos em língua portuguesa. Mas são dignas de nota as palavras de Voltaire em suas meditações sobre história, ou melhor, histórias. Isso pode deixar o leitor contemporâneo relativamente surpreso diante dos muitos sentidos que ele definia o conceito de história, já grafado no singular, mas que podia ser “sagrada ou profana”, “filosófica” ou “pragmática”, com suas certezas possíveis e algumas incertezas também, de utilidades como a ilustração moral dos homens de Estado pela via da exemplaridade e da comparação entre culturas, e suas finalidades universais, assim como dotada de algumas “desvantagens” – como as histórias “satíricas”: que apesar de dever ser sempre verdadeira e nunca omitir-se, não deveria revelar aspectos particulares que afrontam ao bem maior (dos Estados), sendo portanto avessas ao espírito que defendia. O texto ajuda o leitor brasileiro a elucidar alguns pontos relativamente enigmáticos, por exemplo, da dissertação de Carl F. Ph. Von Martius, sem dúvida leitor de Voltaire, acerca do como deveria ser escrita a História do Brasil (1843). Seus comentários sobre método e estilo na escrita, uma arte rara, diziam ambos, que envolvia beleza, elaboração, eloquência, gravidade, acuidade e erudição, sempre tomando por base mestres antigos como Tito Lívio, Tácito e Políbio. No mesmo espírito universal do filósofo da história Voltaire, Pierre Daunou, catedrático de História e Moral no Collège de France, republicano francês de primeira hora (1789) e opositor ferrenho de Robespierre e do Terror, relacionava o valor da história a sua utilidade de ilustrar os homens. Em sua preleção de posse à cátedra citada (em 1819), a história e a instrução da prudência contemporânea assumem lugar central. “Cabe à história começar o que acaba o hábito dos negócios, lançar nos espíritos atentos os primeiros elementos do conhecimento dos homens e os germes dessa verdadeira sabedoria que se compõe de prudência e de probidade {…}” (I, p. 80).
As inspiradoras palavras de Lord Acton, aos “companheiros estudantes”, sobre o poder das ideias de movimento e mudança presentes na perspectiva dos historiadores modernos sobre a chave da “Lei da Estabilidade”, que compele os homens “a compartilhar da existência de sociedades mais amplas que as nossas próximas, a sermos familiares com tipos diferentes e exóticos {…}” (I, p. 265). Ou ainda as instigantes reflexões de Louis Bordeau sobre a necessidade lógico-existencial do progresso para a vida humana: a “lei de um contínuo crescimento, de um porvir sem final previsto” (I, p. 304-305). Isto é, a necessidade da história de educar, de transmitir e de estimular o desenvolvimento da capacidade de aprimoramento humana no seu processo de civilizar-se, ou seja, de aumentar sua capacidade para o bem-estar de todos. As prudentes observações de Ernst Troeltsch sobre a “crise da ciência histórica” (1922) igualmente têm interesse bastante atual. À sua época, e em sua leitura, a crise se inseria entre os muitos rescaldos dos acontecimentos da Guerra Mundial (1914-1918). Nesse sentido, o “gigantesco alimento” espiritual (cultura histórica) produzido pela ciência histórica vigorosa, organizada, especializada e profissional paulatinamente afugentava interesses mais espontâneos da juventude na qual sua geração depositava as esperanças por um futuro melhor. A ciência histórica tornou-se impessoal demais, rígida demais, curiosamente se aproximando daquilo que as ciências naturais faziam há tempos. A juventude, agora acusada de a-histórica, espantava-se diante do monumento de erudição exigido pela ciência da história. Eis o problema: “A opção pela barbárie, que para muitos hoje nos ronda como espectro ameaçador ou como salvação sedutora, é onde se instala a consequência de amplas transformações mundiais, e não a resolução de uma juventude afogada em livros” (I, p. 451). Em uma palavra, a crise dos fundamentos filosóficos gerais, das concepções dos valores históricos e dos elementos constitutivos do pensamento histórico diante dos rumos da humanidade, das necessidades da vida, dos dilemas do presente, que clamam por respostas novas. Fundamentos formulados em tempos “de paz” já não dariam mais conta de embasar uma ciência humana diante das experiências e eventos terríveis como a guerra de trincheiras, por exemplo.
Neste espírito, o segundo volume segue a forma do anterior, igualmente refletindo sobre a natureza da história. Com o texto introdutório a cargo de Allan Megill, tem-se um autor em maior sintonia com o volume que ele apresenta e com o espírito da coleção. A seleção de autores segue a mesma linha analisada anteriormente, porém, prioriza as críticas ao historicismo – ou à “razão metódica” – que emergiram num contexto em que as certezas do progresso e da civilização do mundo liberal burguês europeu do fin-de-siècle: um “em tempo de crise existencial” (II, p. 11). Megill conduz sua introdução seguindo o fio das formulações da “teoria da história”, ou de um “segundo tempo” de teóricos da história que julga decisivo para a reestruturação do lugar e do papel da história como saber científico (moderno) no mundo ocidental.
Primeiramente, cabe destacar que Megill emprega um conceito específico de teoria da história, cuja afinidade maior repousa sobre o grande projeto de Jörn Rüsen, evidentemente ao lado de outros historiadores vinculados ao que se poderia chamar de “Droysen Renaissance“. Assim, teoria da história é aqui compreendida como elaboração de uma reflexão do sujeito do conhecimento sobre si mesmo e sua operação enquanto produção de conhecimento científico. Assim, a teoria da história acontece como autorreflexão incessante do pensamento histórico: que antecede (torna possível), ultrapassa (é intersubjetivo) e, necessariamente, atravessa de uma ponta a outra o trabalho histórico.6 Em uma palavra, para Megill, teoria da história não é mero adereço (ou apêndice) ao trabalho empírico, mas o próprio âmbito reflexivo que constitui e torna exequível e reconhecível a pesquisa e a escrita como sendo históricas a partir da reflexão sobre princípios, conceitos, procedimentos, estratégias e funções daquilo que fazem os historiadores quando fazem história buscando, com isso, compreender criticamente tudo o que está envolvido em tal operação.
É neste sentido que Megill enreda os autores selecionados para o segundo volume a partir do conceito de teoria da história. Ou seja, compreender e distinguir a história de outras ciências ou saberes seria o objetivo ideal que confere coesão a esse grupo. Diante do desafio positivista de formular “a” ciência de uma vez por todas, rejeitando quaisquer outras formas de história como a-científicas, a própria exploração teórica dos projetos historiográficos tornou-se parte do fazer histórico. Nesta análise, a questão fundamental é: “Qual a natureza da disciplina histórica?” (II, p. 19-20). De muitas formas ela é atravessada por antinomias, como a diferenciação entre ciências do espírito (Geisteswissenschaften) das ciências da natureza (Naturwissenschaften). Sob essa luz pode-se entender, por exemplo, a questão do particular e do geral de W. Windelband (II, p. 152-169), K. Lamprecht (II, p. 137-146) e F. Meinecke (II, p. 263-271); a diferenciação entre ciências nomotéticas e idiográficas, presentes no idealismo neokantiano de H. Rickert (II, p. 185-199) e W. Dilthey (II, p.1 24-129); ou ainda as duas éticas de M. Weber (II, p. 226-230), a “ética de convicção” (vida pessoal) e a “ética de responsabilidade” (vida política). Essas últimas figuram como parte da solução weberiana para o crítico debate sobre qual seria o procedimento mais indicado para a produção de conhecimento sobre as coisas humanas. A aliança entre história e sociologia, ambas compreensivas, na proposta de Weber, em que a primeira estaria irremediavelmente atada aos desenvolvimentos conceituais (formulações oriundas de reflexões empíricas de um inventário das diferenças) da segunda, para pensar casos individuais de modo comparativo. Há outras alternativas, é claro.
O nome de um filósofo como Nietzsche não poderia, no entanto, ser facilmente integrado a este conjunto. E se autores como Weber, Collingwood ou Croce podem figurar ali, para Megill a presença do Solitário de Sils Maria entre os eminentes historiadores e teóricos resulta em incômodo. Os primeiros teriam conseguido, como “verdadeiros” teóricos da história, “redefinir a objetividade histórica”, de modo a preservar “sua utilidade como, no mínimo, uma ideia reguladora” (II, p.35). De modo que, se por um lado ele reconheceu o mérito de Nietzsche ter afirmado que tudo passa, “não há fatos eternos” (II, p. 18), por outro, pesa-o como um crítico assaz feroz da cultura moderna e de seu projeto crítico. Não posso deixar de notar em sua crítica o peso de seu posicionamento epistêmico (pró-objetividade, rigor e verdade). Isto é, sua artilharia se volta mais às alternativas teóricas inspiradas no pensamento de Nietzsche, como a meta-história de Hayden White, por exemplo, do que ao filólogo propriamente. Porém, não deixa de estigmatizar como o “santo padroeiro do ataque contra as noções impregnadas de progresso” (II, p. 26) como uma personalidade que “os historiadores poderiam facilmente desprezar – afinal de contas, era um extremista, um louco e um filósofo” (II, p. 27).
Ora, apesar de a coleção ser “de história, sobre historiadores e feito por historiadores”, como esclarece o organizador (I, p. 7), há também espaço para a sempre bem-vinda interdisciplinaridade. Isso prevalece no primeiro volume, com as contribuições da antropóloga Lilia Moritz Schwartz, do filósofo e educador Leandro Konder (1936-2014), da socióloga e cientista política Teresa Cristina Kirschner e da tradutora, mestre e doutora em Letras Daniela Kern. Evidentemente, os historiadores de ofício (Teresa Malatian, Julio Bentivoglio, Sérgio Campos Gonçalves, Marco Antonio Lopes, Temístocles Cezar, Helenice Rodrigues da Silva, Raimundo Barroso Cordeiro Júnior, José Carlos Reis e Sérgio da Mata, além, é claro, de Dosse e do próprio organizador da antologia) prevalecem em número e, sem dúvida, parte decisiva da atividade profissional deles envolve pesquisas sérias em história intelectual, das ideias e/ou da historiografia. O segundo volume é praticamente todo composto por contribuições introdutórias de historiadores profissionais (Cássio Fernandes, Oswaldo Giacoia Jr., José Carlos Reis, Sérgio Duarte, Carlos Oiti Berbert Jr., Sérgio da Mata, René Gertz, Pedro Caldas, Arthur A. Assis, Núncia Santoro de Constantino, Cristiano Arrais, Sérgio Campos Gonçalves, Edgar e Mauro de Decca, Carlos Aguirre Rojas, Raimundo Barroso Cordeiro Jr., além de Allan Megill e Jurandir Malerba). Talvez o recorte disciplinar privilegiado no segundo volume tenha por meta evidenciar a importância e a necessidade do campo histórico como sendo parte de um conjunto de reflexões racionais, mais e mais especializadas, de um projeto crítico do qual o “segundo tempo de teóricos da história” faz parte e ainda poderia ensinar muito, no qual a história se tornou o que de melhor poderia se esperar: uma ciência – como, ao final do volume poderá ser identificada nas palavras de Lucien Febvre (II, p. 488). Ou ainda, como sustenta Megill, que as tarefas do historiador consistiriam somente em conduzir pesquisas históricas, ensinar história e produzir relatos da história – levando em conta os dilemas e desafios da contemporaneidade. Aliás, a questão da contemporaneidade da história pode ser analisada de modo excepcional nas obras daqueles que versaram sobre a relação da história com o presente, como Benedetto Croce, Robin George Collingwood, ou ainda de autores como Charles Beard, James Harvey Robinson e Marc Bloch e Lucien Febvre.
Seria injusto destacar méritos individuais aqui, uma vez que todos os ensaios introdutórios cumprem com sua função de relacionar aspectos importantes da vida e obra do autor apresentado ao texto inédito deste que se segue, tendo os artigos sido realizados por um grupo de profissionais de reconhecida experiência e competência. Alguns desses textos são mais concisos. Outros, contudo, ultrapassam bastante as expectativas, sendo tão analíticos e pormenorizados que, por vezes, ultrapassam os limites dos textos que deveriam apresentar. É o caso, por exemplo, da introdução de “Fado e história”,7 de Nietzsche, de Oswaldo Giacoia Junior. Seu texto aprofunda passo a passo as meditações sobre a utilidade e desvantagens da história (Historie) para a Vida, escrita por Nietzsche quase vinte anos depois de “Fado e história” (1874), assim como seus desenvolvimentos em sua Genealogia da moral e Para além do bem e do mal. Mais do que isso, apresenta claramente ser um leitor de Nietzsche na esteira de Martin Heidegger, para o qual o historicismo, como perspectiva de consideração da história, perderia de vista o essencial:
{…} que o sentido histórico, é antes de tudo, o vetor que se abre no sentido da historicidade da condição humana, cuja natureza essencial se determina em relação ao tempo, à passagem do tempo, nas dimensões do passado, do presente e do futuro, e, portanto, em relação às experiências fundamentais do ser humano com a finitude, o sofrimento e a morte, cujo sentido somente se descerra no horizonte existencial do tempo. (II, p. 93)
Assim, ao terminar a leitura, não posso deixar de lamentar que a coleção se encerre apenas nestes dois volumes. Retomando um pouco a referência ao texto de George Steiner, com a qual escolhi abrir esta resenha, e a diferença entre traditio e paradidomena, é de se lamentar que tenha ficado de fora do projeto todo o debate contemporâneo (de 1945 até os dias de hoje), com autores importantes e questões decisivas da historiografia que, ainda hoje, suscitam debates. Isto renderia alguns volumes interessantíssimos e enormemente enriquecedores nos quais poderiam ser abordadas as reflexões sobre duração (Braudel); a importante História dos Conceitos (Begriffsgeschichte) e as reflexões sobre o tempo histórico (Reinhart Koselleck); a micro-história italiana (Carlo Ginzburg e Giovanni Levi); a problemática da operação historiográfica na sociologia do conhecimento histórico de Michel de Certeau; as contribuições da epistemologia histórica de Michel Foucault, que reconstrói estruturas de regimes discursivos e propõe uma arqueologia do saber (por períodos epistêmicos) na fronteira entre linguagem, economia e vida; o projeto teórico de Jörn Rüsen; as relações entre história e psicanálise (Jan Assmann e Peter Gay); entre história e trauma (Dominick LaCapra, Saul Friedlander); a retomada do debate sobre as relações entre história e literatura (Stephen Greenblatt); o debate sobre ética e poética em historiografia desde o Metahistory de Hayden White (seguido por autores tão diferentes quanto Keith Jenkins, Frank Ankersmit, Herman Paul e outros); as questões e problemas suscitados pelo linguistic turn; a viragem para o tratamento da historicidade na fenomenologia ontológica de Martin Heidegger; a filosofia hermenêutica de Hans-Georg Gadamer; as reflexões de Paul Ricoeur sobre as problemáticas relações entre memória, história e esquecimento (e perdão); a defesa do niilismo (ativo) de Gianni Vattimo; as recentes e promissoras reflexões entre história e filosofia da presença (Hans Ulrich Gumbrecht e Ethan Kleinberg); o giro ético-político, o deslocamento do pensamento de matriz metafísica pela ética e pelo engajamento no mundo (Jacques Derrida); entre tantos outros autores/temas. Tais obras fariam uma enorme diferença no panorama apresentado, pois daria sequência a importantes diálogos presentes nos dois volumes que constituem a coleção.
Inclusive, o aumento exponencial de referências e debates auxiliaria a desfazer o panorama em que o formato “histórico-sociológico-científico” da história (o projeto crítico moderno) – profundamente enraizado no paradigma historicista -, apesar de toda sua autocrítica, autorreflexão e erudição, parece ainda constituir o “sentido” (ou o “fim”) de um desenvolvimento linear e progressivo da disciplina. Avanço retilíneo no qual o tempo dos historiadores (configurado em suas narrativas) se confunde com o tempo “em si” e com a própria história. Ora, está em questão aqui um desejo por transmissão; uma herança captada que se quer patrimônio. Portanto, que reflete algo para o presente. Se este é um dos caminhos possíveis, é desejável supor que outras direções possam se desenhar nos horizontes dos historiadores se e quando o esforço de investigação dos autores e tradições intelectuais, filosóficas e historiográficas for impulsionado por uma força analítica que retire seu vigor de algo além da curiosidade (genealógica), ou da propriedade, de uma “história da história” disciplinar. Exercício que, embora crítico e quase sempre muitíssimo bem feito, muitas vezes termina por restringir nossas perspectivas teóricas e historiográficas no (e ao) presente, em vez de alargá-las. A história da historiografia, hoje talvez mais do que a história intelectual e a das ideias, pode oferecer meios para abrir ainda mais o nosso campo de possibilidades.
Finalmente, a publicação da coleção evidencia o crescimento e o fortalecimento qualitativo do campo de Teoria da História e História da Historiografia nos últimos anos no Brasil. Pode-se perceber isso entre os professores convidados para ambos os volumes, muitos deles figuras de atuação e destaque no campo. Reflete-se aqui o aumento do espaço que as revistas especializadas dedicaram a esse enfoque,8 elevando o rigor analítico e de pesquisa. Isso também é mensurável nas propostas de simpósios temáticos e minicursos oferecidos nos disputadíssimos encontros nacionais e regionais da ANPUH, além de outros eventos, tanto os de caráter local quanto nacional, que se consolidam como parte permanente da agenda dos especialistas desta comunidade.9 Todo professor de história que trabalhe com história da historiografia, história intelectual, história das ideias e teoria da história, ciente de que não se tratam da mesma coisa, sabe das dificuldades de encontrar bom material sobre alguns desses “mestres” e debates do (e no) passado. Temos aqui uma contribuição valiosa à bibliografia sobre história e historiadores modernos. A coleção, sem dúvida, ajuda a dirimir algumas das muitas lacunas nesse sentido, especialmente em língua portuguesa.
Referências
ASSIS, Arthur A. What Is History For? Johann Gustav Droysen and the Functions of Historiography. Nova York: Berghahn Books, 2014. [ Links ]
CALDAS, Pedro S. Que significa pensar historicamente: uma interpretação da teoria da história de Johann Gustav Droysen. Tese (Doutorado) – Departamento de História da PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2004. [ Links ]
DROYSEN, Johann Gustav. Manual de teoria da história. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. [ Links ]
MARTINS, Estevão de Rezende. Historicismo: o útil e o desagradável. In: ARAUJO, Valdei Lopes de… {et al.} (Orgs.). A dinâmica do historicismo: revisitando a historiografia moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008. [ Links ]
MATA, Sérgio da. Elogio do historicismo. In: ARAUJO, Valdei Lopes de… {et al.} (Orgs.). A dinâmica do historicismo: revisitando a historiografia moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008. [ Links ]
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Escritos sobre história. Tradução de Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2005, p. 59-65. [ Links ]
RÜSEN, Jörn. Razão histórica I. Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica. Tradução de Estevão Rezende Martins. Brasília: Editora UnB, 2001. [ Links ]
STEINER, George. Lições dos mestres. Rio de Janeiro: Record, 2005. [ Links ]
1STEINER, George. Lições dos mestres. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 12-13.
2Para economia do texto, citarei apenas “(I, p. x)”, em referência ao primeiro volume, e “(II, p. x)” ao segundo da coleção.
3Como nos ensina Estevão Rezende Martins, o termo “historicismo” deriva de uma tradução de “segunda mão”: Historicism (no inglês) que verteu Historismus, termo inicialmente empregado por Friedrich Schlegel ainda em fins do século XVIII. Ver: MARTINS, Estevão de Rezende. Historicismo: o útil e o desagradável. In: ARAUJO, Valdei Lopes de… {et al.} (Orgs.). A dinâmica do historicismo: revisitando a historiografia moderna. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008, p. 15-48. Ou ainda, Sérgio da Mata, na esteira de A. Wehling, analisou que o historicismo pode também ser definido como uma atitude (espiritual) diante da realidade, da vida e da cultura, mas que emergiu entre fins do XVIII e inícios do século XIX. Pode-se dizer que nesta definição consta um pouco da visão de Herder, lamentavelmente ausente na coletânea, além, sem dúvida, das perspectivas de Ernst Troeltsch e Friedrich Meinecke. Ver: MATA, Sérgio da. Elogio do historicismo. In: ARAUJO, Valdei Lopes de… {et al.} (Orgs.). A dinâmica do historicismo: revisitando a historiografia moderna, op. cit., p. 49-62. Esses dois últimos autores (como poderá ser conferido nas suas respectivas sessões da coletânea) definiram para o impulso historicista alemão em direção à realidade, cada um a sua maneira, a dinâmica da mudança no tempo (desenvolvimento) além, é claro, do caráter irrepetível dos fenômenos humanos, como bem salientou Dosse.
4No Brasil, a obra de Droysen foi lançada sob o título Manual de teoria da história, com tradução de Sara Baldus e Júlio Bentivoglio. Este último contribuiu para a coleção, assinando pelos textos de dois autores seminais do pensamento histórico oitocentista, Leopold von Ranke e G. G. Gervinus, ambos no primeiro volume da Coleção. DROYSEN, Johann Gustav. Manual de teoria da história. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
5Sobre Droysen e o monumental projeto de sua Teoria da História (Historik), ver: CALDAS, Pedro S. Que significa pensar historicamente: uma interpretação da teoria da história de Johann Gustav Droysen. Tese (Doutorado) – Departamento de História da PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2004. Ver também: ASSIS, Arthur A. What Is History For? Johann Gustav Droysen and the Functions of Historiography. Nova York: Berghahn Books, 2014.
6Para Rüsen, a teoria da história apreende os fatores determinantes do conhecimento histórico, aqueles que delimitam o campo inteiro da pesquisa histórica e da historiografia. Identificá-los todos e demonstrar sua interdependência sistemática é o que seu projeto almeja. Esse sistema é dinâmico e o autor assevera que o historiador deve saber articular tais reflexões a uma “matriz disciplinar”, que se caracteriza pelo envolvimento circular de cinco elementos fundamentais: ideias, métodos, formas, funções e interesses. Segundo ele, essa matriz é uma formulação conceitual (teórica), mas subjaz à racionalidade que ele diz estar na base de toda instituição de sentido histórico. Ver: RÜSEN, Jörn. Razão histórica I. Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica. Tradução de Estevão Rezende Martins. Brasília: Editora UnB, 2001.
7A tradução do alemão aqui é inédita, embora este texto não seja inteiramente desconhecido do público brasileiro. Foi traduzido, a partir da versão espanhola, como “Fatum e história” In: NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Escritos sobre história. Tradução de Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2005, p. 59-65.
8O Brasil hoje conta com a História da Historiografia, revista Qualis A1 (de excelência, segundo a Capes) exclusivamente dedicada aos grandes temas e subtemas da Teoria da História e da História da Historiografia.
9Entre outros, pode-se destacar também o Simpósio Brasileiro de História da Historiografia (SNHH), realizado anualmente na cidade de Mariana (MG) desde 2006 pelo Núcleo de Estudos de História da Historiografia e Modernidade baseado no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto (NEHM/ICHS/UFOP), e berço fundador da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia (SBTHH), em 2009.
Andre de Lemos Freixo – Doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Ouro Preto, MG, Brasil. E-mail: [email protected].
As universidades e o regime militar: cultura política brasileira e modernização autoritária | Rodrigo Patto Sá Mota
Entendidas, fundamentalmente, como instâncias de grande potencial para o proselitismo e a formação de quadros destinados às esquerdas, de imediato as universidades entraram na mira de grupos civis e militares deflagradores do golpe de 1964. Vindo logo depois das organizações sindicais e dos trabalhadores do campo na ordem das prioridades do regime que se instalava, os aparatos censores e repressivos mobilizados à época também se estenderam ao espaço acadêmico. Naquele momento, ante o virtual perigo vermelho, tão evidenciado pela retórica do autoritarismo, os usurpadores da legalidade democrática trouxeram à baila o tema da corrupção para atacar seus inimigos junto às instituições de ensino superior.
Frente à falta de credibilidade na temática e de consenso quanto à real necessidade de ênfase nessa questão, mais do que o corpo docente em si, eram os alunos e, em especial, sua representação mor, a União Nacional dos Estudantes (UNE), que se encontrava na linha de fogo do novo governo. Mesmo porque, se os primeiros eram, em sua maior parte, inclinados aos valores conservadores – circunstância esta atingida por grandes alterações ao longo da ditadura -, outro tanto não se poderia dizer sobre os acadêmicos. Afinal de contas, o cenário da representação discente vinha sendo marcado por traços de radicalização desde meados do século, participação nos debates sobre as chamadas reformas de base e paulatino acolhimento de suas reivindicações pelo presidente João Goulart. Leia Mais
História e historiografia: exercícios críticos – REVEL (Topoi)
REVEL, Jacques. História e historiografia: exercícios críticos, Curitiba: Ed. UFPR, 2010. Resenha de PEREIRA, Mateus. Jacques Revel: entre a história da historiografia e a “crise” da história social. Topoi v.16 n.31 Rio de Janeiro July./Dec. 2015.
O livro em questão apresenta uma das mais importantes análises sobre a história da historiografia francesa do século XX. A publicação dos textos de Revel referenda, complementa e complexifica determinadas visões consolidadas sobre aquela que foi (e talvez ainda seja) a principal matriz historiográfica para os historiadores brasileiros.1 O autor é bastante conhecido no Brasil por seus ensaios, suas entrevistas e por suas posições institucionais, em particular por suas atuações junto à revista e ao “grupo” dos Annales.2 O livro pode ser lido como um retrato das diversas “crises” – supostas ou reais – da produção histórica francesa a partir do final do século passado, em especial da história social.3
São nove textos publicados em distintas ocasiões. Sendo que o primeiro, “construções francesas do passado”, ocupa quase cem páginas. Esse primeiro capítulo, publicado originalmente em 1995, pretende “dar conta de uma história da historiografia” (p. 19) francesa após a Segunda Guerra Mundial. Para o autor, os Annales, mais do que uma escola, são e foram um projeto aberto a diversas solicitações de determinados presentes. Segundo Revel, desde o fim da Guerra Franco-Prussiana (1870-1871) o ensino de história ganhou, por um lado, um papel cívico para reanimar a nação humilhada; e, por outro, os historiadores assumiram lugar de destaque na formação e na elaboração da política universitária francesa. Tratava-se de uma história “positivista”, caracterizada pela recusa à interpretação. Para Jacques Revel, essa posição constitui um traço de longa duração ainda presente na historiografia francesa, distinguindo-a, portanto, da tradição alemã.
O autor enfatiza que a proposta levada a cabo pelos primeiros Annales de transformar a história em uma ciência “também propunha um positivismo” (p. 29). Para o autor, o “positivismo” (o termo é utilizado em várias passagens do livro de forma pouco rigorosa), o “marxismo” e o “estruturalismo” podem ser agrupados sob o rótulo de “funcionalismo”. É esse paradigma unificador do campo das ciências sociais “que parece ter pouco a pouco se abatido, sem crise aberta, durante as duas últimas décadas” (p. 79). Tal fato, aliado à dúvida que invadiu as sociedades, contribuiu para o aumento do “ceticismo sobre a ambição de uma inteligibilidade global do social, que fora o credo, implícito ou explícito, das gerações precedentes” (p. 79). Essas “crises” de fundo, que implicaram a revisão do lugar dos historiadores na sociedade francesa, questionaram os pressupostos de um projeto baseado nas “certezas de uma história social” (p. 79).
Revel destaca que os “pais fundadores” dos Annales, Marc Bloch e Lucien Febvre, rejeitaram toda a construção teórica e epistemológica que sustentava o projeto sociológico durkheimiano. É no interior dessa perspectiva e da defesa da prevalência da história em relação às outras ciências sociais que se dá a escolha do conceito de “social” para o primeiro plano de investigação histórica: “o social está na medida das ambições ecumênicas e unificadoras do programa” (p. 33). Com o objetivo de problematizar o conceito, o autor cita uma frase na qual Febvre afirma: “uma palavra tão vaga quanto ‘social’ […] parecia ter sido criada para servir de ensino a uma revista que pretendia não rodear as muralhas” (apud Revelp. 33). O autor destaca que para os primeiros autores dessa “escola” a história permanece essencialmente empírica, em especial pelo fato de que o “social não é jamais o objeto de uma conceituação sistemática, articulada, ele é sobretudo o lugar de um inventário, sempre aberto, de relações que fundam a ‘interdependência dos fenômenos'” (p. 36). Para Jacques Revel, a chamada segunda geração aprofunda esse “novo empirismo” ou “positivismo crítico” (p. 54) onde o “método” ganha primazia em detrimento da teoria e das condições de produção históricas. Porém, desde os anos 1970, assiste-se a um conjunto de interrogações sobre a disciplina e a prática historiográfica levada a cabo a partir desses pressupostos. Desde então surge (não apenas na França) uma série de tentativas para se pensar uma “nova história” do social, crítica e problemática.
O capítulo seguinte pode ser lido como um desdobramento do primeiro. Ele procura fazer uma história da noção de mentalidades na historiografia francesa, bem como dos seus usos. O grande destaque é a análise do “contextualismo” e do organicismo do projeto de uma história das mentalidades em Febvre. Podemos dizer que o argumento principal dos dois textos, em especial “Construções francesas do passado” – o mais importante do livro – é a de que o giro/virada crítica (tournant critique) dos Annales (entre 1988 e 1989) foi uma tentativa de propor uma resposta, um caminho ou uma solução para a “crise” da história social.4 Posição que implicou rever a ideia de interdisciplinaridade, abrindo caminho para a reflexão historiográfica e para perspectivas experimentais. Trata-se, assim, de uma defesa fundamentada das posições políticas, institucionais e epistemológicas do próprio Jacques Revel, já que entre os membros do comitê de direção da revista ele foi um dos principais responsáveis pelo tournant critique dos Annales.5 É bom lembrar que os resultados desse projeto podem ser vistos, em especial, no livro organizado Bernard Lepetit,6 onde se propõe uma outra história social, e em Um percurso crítico: Doze exercícios de história social, do próprio Jacques Revel.7
O livro História e historiografia é composto também por três textos publicados em Um percurso crítico, a saber: “A instituição e o social”, “Máquinas, estratégias e condutas”, “O fardo da memória”. Eles apresentam autores e perspectivas que, do ponto de vista de Revel, ajudam a pensar alternativas à “crise” da história social: as proposições de Michel de Certeau, Michel Foucault, Edward Palmer Thompson (ainda que apareça de forma marginal no livro) e Norbert Elias, além da microanálise, dos jogos de escalas e dos estudos de caso.
O capítulo “A instituição e o social” procura pensar o “social” a partir da instituição a fim de contribuir para os “deslocamentos e as reformulações decorrentes do discurso que os historiadores do social detêm sobre a instituição” (p. 117). Trata-se de criticar diversas perspectivas historiográficas que tendiam à “institucionalização do social” (p. 124) e a “oposição radical entre a instituição e o social” (p. 130). O autor exemplifica sua crítica a partir dos estudos de prosopografia social. Para ele, a maioria desses estudos restringiu-se à análise, à descrição, à uniformização e, em especial, aos estudos estritamente institucionais. Critica-se, também, a utilização de classificações sociais preestabelecidas nesses trabalhos.
Em relação à Michel de Foucault, o autor argumenta que alguns deslocamentos do itinerário do filósofo são representativos: “do modelo da máquina ao tema da ‘governamentabilidade’, do poder às ‘relações de poder'” (p. 132). Sobre a obra desse autor, Revel, em “Máquinas, estratégias e condutas”, afirma que a maioria dos historiadores está satisfeita com uma leitura redutora de sua obra. Apesar disso, ou por isso mesmo, seus textos são lidos com assiduidade e fidelidade pelos historiadores há mais de quarenta anos. Ele sugere que, ao contrário de um uso que pretende restituir o sentido essencial do texto Foucault, dever-se-ia “levar em conta o conjunto dos efeitos, entendidos e mal entendidos que são como a sombra espectral de uma proposta” (p. 175).
Nessa direção, não deixa de chamar atenção uma citação de Siegfried Kracauer no ensaio consagrado a esse autor: “adoro o lado confuso do pensamento dos historiadores; ele é igualmente exato na medida em que permanece inacabado” (apud Revel, p. 184). É bastante interessante também a aproximação que Revel opera entre as perspectivas de Kracauer e as de Paul Ricoeur (Tempo e narrativa), no que se refere à heterogeneidade e incompletude da narrativa histórica. Um dos pontos altos do ensaio é a forma como o autor explora, a partir de Kracauer, a homologia entre história e fotografia. Ricoeur é convocado novamente para acompanhar a reflexão do autor sobre “recursos narrativos e conhecimento histórico”. Além desse filósofo, percebemos, ao longo do livro, como a obra de Reinhart Koselleck foi importante, na França, para a reflexão historiográfica e teórica na passagem do século XX para o XXI. Em especial para criticar a ambição ingênua e simplista de certo realismo e cientificismo da história social francesa do século XX. Revel defenderá a experimentação da narrativa histórica como alternativa a esse tipo de história nos dois breves textos que fecham o livro. O primeiro sobre a questão da biografia; o outro dedicado aos estudos da memória. Ainda que vaga, a ideia de experimentação é utilizada como um elogio à ousadia e, ao mesmo tempo, como uma crítica a ideia de “método”.
Para adensar a heterogeneidade do livro, a condição de testemunha dos movimentos da historiografia francesa, presente em vários textos, ganha forte destaque em “Michel de Certeau historiador: a instituição e seu contrário”. Para Revel, a instituição está presente no trabalho do autor de A escrita da história para “logo ser desmentida” (p. 142), já que Certeau “não deixou de sentir-se atraído pelas produções inclassificáveis, pelas separações, pelo trabalho contínuo de reclassificação que opera a história” (p. 142). Não haveria nas preocupações desse historiador uma separação radical entre a experiência (seja individual ou coletiva) e suas formas institucionais. Para dar conta dessa complexidade emerge no vocabulário certoniano uma constelação conceitual que mobiliza uma argumentação bastante singular. Em busca de cartografias, topografias ou escalas múltiplas, ganham destaque, em sua linguagem, termos como: possibilidades políticas e sociais, confrontação (conflito e negociação), deslocamentos, passagens, perda, falta, mística, operação, criação, legitimação, autoridade, lugar, bricolagem, errância, jogos, alteridade, invenção, outro, cruzamentos, redes, desvio. “A operação historiográfica”, importante texto de Certeau, pode ser lido, assim, como um acontecimento geracional: um “momento em que na disciplina um ‘despertar epistemológico’ atesta, por várias frentes, uma ‘urgência nova'” (p. 144). Na dinâmica entre o lugar ou a errância, a instituição ou seu contrário, o Certeau de Revel é mais complexo e ambíguo: “o que lhe pareceu sempre essencial e, que provavelmente, dá unidade ao seu trabalho, são os usos não institucionais da instituição” (p. 149). Certeau, dessa maneira, “não se satisfazia nem com um regime de evidência compartilhada, nem com um regime de suspeita generalizada” (p. 145). Essa leitura do autor de “A operação historiográfica” nos ajuda a combater abusos do subjetivismo contemporâneo, já que para Michel de Certeau a produção histórica é produto de um lugar essencialmente social. O Certeau de Revel nos recorda que “o historiador se submete aos imperativos de uma profissão pela qual deve fazer conhecer e com a qual ele se encontra em negociação constante por tudo que toca suas maneiras de fazer e de dizer” (p. 145).
A heterogênea coletânea de textos de Jacques Revel nos ajuda a repensar certos passados e conceitos dominantes e estruturadores da nossa prática historiadora. Nessa direção, o livro pode contribuir para pensar questões que o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro talvez tenha formulado de forma mais radical: os conceitos (e suas distinções implícitas) de “social” e “cultural” ainda têm pertinência? Qual a relevância de uma “antropologia [diríamos: história] social ou cultural”? As alternativas para Castro oscilam entre repensar os adjetivos que acompanham a disciplina e/ou na elaboração de uma linguagem conceitual diversa.8
Podemos dizer que a presença explícita e implícita de Michel de Certeau na obra aqui resenhada contribui para que Revel realize o exercício de criticar a historiografia dos antecessores e do seu presente para, ao mesmo tempo, construir espaços e lugares para a emergência do novo. A leitura de História e historiografia nos ajuda, portanto, a pensar nos desafios de ontem e de hoje tanto da história social como da história da historiografia. Em especial, por servir de alerta à tentação que essas subdisciplinas permanentemente vivem: a de ser considerada, por seus praticantes, a melhor – talvez até a mais verdadeira – “forma” de se escrever história. Contra essa sedução, os ensaios de Revel sugerem outros caminhos: a criatividade, a experimentação, o rigor, a erudição e a crítica.
Referências
BOUCHERON, Patrick. O entreter do mundo. In: BOUCHERON, Patrick; DALALANDE, Patrick. Por uma história-mundo. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. [ Links ]
DAHER, Andrea. Entrevista com Jacques Revel. Topoi, Rio de Janeiro, 2009. [ Links ]
DELACROIX, Christian. La falaise et le rivage. Histoire du “tournant critique”. Espaces Temps, n. 59/60/61, p. 86-111, 1995. [ Links ]
FERREIRA, Marieta de Morais. Entrevista com Jacques Revel. Revista Estudos Históricos, v. 10, n. 19, p. 121-140, 1997. [ Links ]
GONDRA, José Gonçalves. Telescópios, microscópios, incertezas – Jacques Revel na História e na História da Educação. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FILHO, Luciano Mendes de Faria (Org.). Pensadores sociais e História da Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. [ Links ]
GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Exercendo um ofício – Entrevista com o historiador Jaques Revel. Revista História Oral, v. 5, p. 189-199, 2002. [ Links ]
LEPETIT, Bernard. Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale. Paris: Albin Michel, 1995. [ Links ]
REVEL, Jacques (Org.). Jogos de escala: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998. [ Links ]
REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Rio de Janeiro: Difel, 1989. [ Links ]
REVEL, Jacques. Micro-história, macro-história: o que as variações de escala ajudam a pensar em um mundo globalizado. Revista Brasileira de Educação, v. 15, n. 45, 2010. [ Links ]
REVEL, Jacques. Un parcours critique. Douze essais d’histoire sociale. Paris: Galaade, 2006. [ Links ]
REVEL, Jacques. Proposições: ensaios de história e historiografia. Rio de Janeiro: Eduerj, 2009. [ Links ]
VIVEIROS DE CASTRO, E. O conceito de “sociedade” em antropologia. In: VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. p. 297-316. [ Links ]
1Ver, também, REVEL, Jaques. Proposições: ensaios de história e historiografia. Rio de Janeiro: Eduerj, 2009.
2Cf., por exemplo, DAHER, Andrea. Entrevista com Jacques Revel. Topoi, Rio de Janeiro, 2009; FERREIRA, Marieta de Morais. Entrevista com Jacques Revel. Revista Estudos Históricos, v. 10, n. 19, p. 121-140, 1997; GONDRA, José Gonçalves. Telescópios, microscópios, incertezas – Jacques Revel na História e na História da Educação. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FILHO, Luciano Mendes de Faria. (Org.). Pensadores sociais e História da Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 81-109. GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Exercendo um ofício – Entrevista com o historiador Jaques Revel. Revista História Oral, v. 5, p. 189-199, 2002. Ver, também, REVEL, Jacques. A invenção da sociedade. Rio de Janeiro: Difel, 1989; REVEL, Jacques (Org.) Jogos de escala: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: FGV, 1998; e REVEL, Jacques. Micro-história, macro-história: o que as variações de escala ajudam a pensar em um mundo globalizado. Revista Brasileira de Educação. v. 15, n. 45, 2010.
3De algum modo, Jacques Revel deixa de lado um importante aspecto que vem sendo destacado por outros autores, a saber: a perda de prestígio e/ou centralidade da historiografia francesa no mundo. A esse respeito, no interior dos debates sobre a história-mundo, Patrick Boucheron, por exemplo, em 2013, afirma: “atolados nas querelas suscitadas pelo embaraçoso legado braudeliano, extraviados pelas sereias da microstoria que fazia a história em migalhas, incapazes de se dar conta do quanto a França encolhera, transformada em potência mediana da historiografia, exportando sua French Theory como outros exportam conhaque ou bolsas (ou seja, como um produto de luxo para elites mundializadas), deixavam, totalmente, de responder ao chamado da Word History“. BOUCHERON, Patrick. O entreter do mundo. In: BOUCHERON, Patrick; DALALANDE, Patrick. Por uma história-mundo. Belo Horizonte: Autêntica, 2015, p. 7.
4Un tournant critique? Annales ESC, Histoire et sciences sociales, n. 2, p. 291-293, 1988; Un tournant critique. Annales ESC, Histoire et sciences sociales, n. 6, p. 1371-1323, 1989.
5DELACROIX, Christian. La falaise et le rivage. Histoire du “tournant critique”. Espaces Temps, n. 59/60/61, p. 86-111, 1995.
6LEPETIT, Bernard. Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale. Paris: Albin Michel, 1995.
7Original francês: REVEL, Jacques. Un parcours critique. Douze essais d’histoire sociale. Paris: Galaade, 2006.
8VIVEIROS DE CASTRO, E. O conceito de “sociedade” em antropologia. In: VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 297-316.
Mateus Henrique de Faria Pereira – Doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e professor na Universidade Federal de Outro Preto (UFOP). Ouro Preto, MG, Brasil. E-mail: [email protected].
Atmosfera, ambiência, stimmung – GUMBRECHT (Topoi)
GUMBRECHT, Hans Ulrich. Atmosfera, ambiência, stimmung: sobre o potencial oculto da literatura. Tradução Ana Isabel Soares, Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC Rio, 2014. Resenha de: VIEIRA, Thaís Leão. Para além do paradigma da representação: o passado-feito-presente por meio de obras literárias. Topoi v.16 n.30 Rio de Janeiro Jan./June 2015.
Desconstrutivismo e estudos culturais são duas perspectivas teóricas e metodológicas bastante conhecidas para quem trabalha com linguagens. De um lado, a presença de um campo que defende a inexistência de qualquer contato entre a linguagem e a realidade e, por outro lado, os estudos culturais, tributários do marxismo, que por sua vez, ao creditarem maior ênfase na dimensão empírica das obras, se despreocupariam com a questão epistemológica. A saída para essas duplas abordagens é proposta por Hans Ulrich Gumbrecht, para quem a leitura das obras literárias deve retomar a vivacidade da literatura. Para que essas leituras se deem para além das representações, o autor propõe encontrar a atmosfera e o ambiente e posteriormente devolvê-las em um novo presente.
“É correto que o ensaísta busque a verdade”, escreveu [Lukács], “mas deve fazê-lo à maneira de Saul. Saul partiu em busca dos burros de seu pai e descobriu um reino; assim será com o ensaísta – aquele que é de fato capaz de procurar a verdade -; encontrar, no final de sua busca, aquilo que não procurava: a própria vida” (p. 29). Dessa forma, Gumbrecht apresenta sua perspectiva que não intenta o alcance da verdade, mas sugere que, ao se concentrar nas atmosferas e ambientes, os estudos literários se dirigem às obras “como parte da vida no presente”. A questão das atmosferas e ambientes, entretanto, deve aparecer mais do que os níveis de representação das obras, no sentido de Gumbrecht. A leitura do stimmung, que não distingue a experiência estética da experiência histórica, permitirá reter a vitalidade da literatura. Ao fazê-lo, o foco incide não apenas na experiência histórica vivenciada pela obra literária no momento de sua produção, ou seja, a obra não torna presente apenas um momento do passado, porém, na perspectiva de Gumbrecht, a análise da obra revela muito da nossa imediatez histórica. Em outras palavras, por que em determinados momentos os ecos de determinadas obras são maiores do que em outros períodos?
A relação entre o olhar voltado ao stimmung e o efeito de presença como um objeto de pesquisa é nítida em Atmosfera, ambiência, stimmung, lançado em 2014 no Brasil. Grumbrecht recupera os sentidos de stimmung em quatro momentos fundamentais: a era moderna, o romantismo, o século XIX na pintura histórica e na arquitetura historicizante e pós-segunda Guerra Mundial. Mais importante para Gumbrecht é a virada na história do conceito, quando stimmung deixa de exercer o papel de harmonia e mediação, pois é justamente aí que se transforma em uma categoria universal – essa dimensão permite ao autor buscar a atmosfera e o ambiente “característico de cada situação, obra ou texto”.
A questão do observador e da “crise da representação”, identificada por Michel de Foucault em As palavras e as coisas, interessa especialmente em dois momentos do livro, ambos no contexto do século XIX. O ato de observar o mundo e se colocar nesse processo de observação coloca o artista Caspar David Friedrich e o escritor Machado de Assis em posição de suma importância para Gumbrecht. Os observadores que se apresentam nas obras de Friedrich, em sua maioria ocupando lugar central no espaço pictórico, são partícipes de certa atmosfera, colocada pelo autor alemão radicado nos Estados Unidos por meio de dois problemas. O primeiro é a relação entre a experiência e a percepção. Contrariamente à tradição herdada dos séculos XVII e XVIII do pensamento racionalista, o observador de segunda ordem deu forma à epistemologia do século XIX ao redescobrir “como a sua relação com as coisas-do-mundo é determinada não só pelas funções conceptualizantes da consciência, mas implica também os sentidos” (p. 86). Outra consequência da função do observador é a referência ao ângulo específico da observação – para cada objeto potencial de referência, uma infinidade de descrições, o que resulta na perda da estabilidade dos objetos de referência. Pelas leituras das obras pictóricas, algo se produz de forma disseminada no final do século XVIII, quando grandes pensadores citados por Gumbrecht, como Goethe e Kant, buscavam a harmonia entre a existência e as coisas do mundo. As imagens que os quadros apresentam remetem ao sublime incompatível com a harmonia, dando ao observador uma sensação de desprazer.
A ideia de temporalidade como elemento constitutivo das atmosferas e ambientes surge no texto sobre Memorial de Aires, de Machado de Assis, que Gumbrecht associa com a dimensão do tempo posta na obra Ser e tempo, de Martin Heidegger. Para Gumbrecht, Memorial de Aires não é um livro apenas sobre tristeza, mas a obra nos diz de que modo a tristeza pode adquirir substância no tempo “entre um futuro existencial sem ‘conteúdo’, um presente vazio e um passado que não desaparece, o tempo tem necessariamente de se mover com lentidão – como que se aproximando do ponto de imobilidade absoluta” (p. 120). Se, no presente, o autor (o conselheiro Aires) encontra um vazio, há algo dessa escrita que Gumbrecht nos revela: que ao dizer sobre nada, ela dá forma a determinada existência, talvez a do mundo colonial e das ilusões perdidas. O diário do autor ficcional Aires é, nesse sentido, um livro sobre nada, que Flaubert objetava como projeto estético. Aires escreve quando não há nada que mereça registro em sua vida. Assim como seus amigos, os Aguiar, são sozinhos, Aires também o é, e ambos possuíam no passado uma felicidade perdida para sempre, combinada com a consciência da perda do presente e do futuro. Outro aspecto trazido por Gumbrecht da obra de Machado é que o autor do memorial, o conselheiro Aires, é um observador de segunda ordem, aquilo que Foucault considerou como a crise da representação, uma vez que o sujeito do conhecimento se torna ele mesmo objeto. E ao serem colocadas dessa forma, “as conquistas do observador de segunda ordem incluem a descoberta de que cada representação do mundo depende da perspectiva” (p. 118), ou seja, da tomada de consciência do observador de que o ponto de onde ele observa define a representação de determinado objeto, no caso específico, o reconhecimento de Aires sobre “a saudade de si mesmos” dos Aguiar, que implica um vazio no presente e uma falta de projeção para o futuro.
Morte em Veneza, de Thomas Mann, marca o encontro da morte em vida do personagem Aschenbach. O clima atmosférico e as condições meteorológicas na narrativa, bem como as mudanças de tempo verbal, apresentam as transições, a impressão do “tempo parado” e o peso da vida à medida que Tadzio não corresponde ao amor de Aschenbach até a partida desse amor idealizado. O alerta de Gumbrecht no começo do livro, na referência à Lukács, faz com que o autor se preocupe mais em encontrar a vivacidade da obra do que suas possíveis verdades. Nesse ponto, “a morte dentro da vida de Aschenbach revela a intensidade da vida, mais do que sua verdade” (p. 105). A presença dessa atmosfera e desse ambiente teria preparado as possibilidades da filosofia existencial.
A atmosfera dos anos 1960 é discutida no capítulo dedicado à Janis Joplin, especialmente à canção Me and Bobby McGee. Com grande eloquência, talvez esse seja o texto de todos os demais na obra em que o sentido do presente esteja mais forte em Gumbrecht: “só hoje, quando nos tornamos uma geração de velhos tantas vezes infantis {…} conseguimos, de fato, perceber quais eram as promessas daqueles meses {…} na voz de Janis Joplin, recordamos uma liberdade que não sentimos no presente do passado” (p. 127). Ao discutir a narrativa da canção, Gumbrecht encontra no casal Joplin e Bobby a ambiência de sua geração, a metáfora para sua juventude. Ao som do verso “liberdade é só outra palavra para ‘não ter nada a perder'”, Gumbrecht exemplifica que, ao conhecer Bobby, Joplin perde para sempre a liberdade de quem nada tem a perder, pois ela trocaria todos os dias do seu futuro por um único de seu passado, numa perspectiva de que a felicidade é oposta à liberdade. Porém, não é só o conhecimento dos versos da canção que faz dela pertencente à substância e torna possível recuperarmos o stimmung dessa juventude de outrora, mas nas variações e modulações da voz de Joplin, no registro e nas gravações de canções que mantêm vivo o stimmung daquela geração que pode ser condensada pela voz delicada, sedutora, desesperada de Joplin de Me and Bobby McGee, que não precisa unicamente dos sentidos das palavras para recuperar as atmosferas e estados de espírito que a voz de Joplin evoca.
Na última parte do livro, com referência à filosofia, especialmente à situação após a Primeira Guerra Mundial, Gumbrecht se volta para o que foi considerado como os “loucos anos 20” e o clima posterior à Grande Guerra. Nesse contexto, o autor indica que esses foram os anos que levaram à morte do sujeito moderno e ao fim do papel do herói, que deveria ter dado leveza ao peso da existência humana, porém, não o fez. O clima desse período foi retratado numa metáfora que deduz, dessa atmosfera de incertezas e profunda desorientação, que “o chão fugira sob nossos pés”. Gumbrecht reconhece na filosofia de Martin Heidegger uma experiência que dá sentido àquela situação histórica, devolvendo à “existência individual humana o ‘chão que havia desaparecido sob os pés'” (p. 151). Identificar a dinâmica que constitui a existência poderia, para Gumbrecht, naquele contexto, apontar o que impedia tais dinâmicas; em outras palavras, poderia indicar o que levaria à incompletude das vidas individuais.
Claramente, Grumbrecht observa uma tensão entre vitalismo e razão nos anos 1920 e o exílio de felicidade como um emblema e sintoma desse tempo. Assim como na filosofia existencial de Heidegger, na obra de Unamuno sobre o sentimento trágico da vida, as possibilidades positivas eram vistas como ilhas dentro do sentido trágico da vida. É nesse ponto que Gumbrecht dá aos leitores a expressão daquilo que ele considera como uma estetização da vida, como parte dessa visão trágica, a partir da tensão entre o que ele chama de “sobriedade” e “êxtase”. Um dos gestos de sobriedade era a busca por experienciar as coisas do mundo na sua coisidade pré-conceitual, que está presente em Heidgger, em artistas da Bauhaus, Paul Klee, em registros do surrealismo e em designers do período. Essa visão busca a sensação pela dimensão corpórea e espacial da nossa existência, voltando-se para posições mais modestas e menos monumentais. Isso justificaria a suposta excitação pela arte primitiva. De outro modo, a década de 1920 também comportou, nas possibilidades de se alcançar a felicidade pela intensidade, perigo e excitação e a alegria de viver poderia ser encontrada nos “topos das montanhas ou dos arranha-céus” (p. 155).
A sensibilidade-chave de Gumbrecht demonstra, aos nossos olhos, uma abordagem interpretativa do passado em que, nesse complexo contexto de exílio da felicidade, experiências históricas como o socialismo, que adiava para o futuro um tempo melhor, e o cristianismo, que deixara para a vida no além a esperança da felicidade, não tiveram o êxito do fascismo, que, com a promessa de satisfação imediata, pode ter se constituído em uma atmosfera e ambiência da busca pela felicidade, no aqui e agora, como a atração fatal dos anos 1920.
Atmosfera, ambiência, stimmung sobre o potencial oculto da literatura é um livro edificante, no sentido de que constrói, por meio do sensível, várias presenças. Erige em nós temporalidades que se transformam continuamente, lendo em busca de stimmung, revelando seu potencial dinâmico. O conceito diz, para além da leitura das obras feitas por Gumbrecht, da própria leitura de Atmosfera… pois esta afeta a nós leitores, dadas a disposição, a sensibilidade e a acuracidade com as quais o autor nos revela múltiplas ambiências e vivifica a literatura em/para nós.
Thaís Leão Vieira – Doutora em História pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Rondonópolis, MT, Brasil. E-mail: [email protected].
Pensando um continente: A Revista Americana e a criação de um projeto cultural para a América do Sul – CASTRO (Topoi)
CASTRO, Fernando Vale. Pensando um continente. A Revista Americana e a criação de um projeto cultural para a América do Sul. Rio de Janeiro: Editora Mauad, 2012. Resenha de: VASQUEZ, Karina. Sintaxis del futuro: el proyecto de una Sudamérica real, posible e imaginada. Topoi v.16 n.30 Rio de Janeiro Jan./June 2015.
En Pensando un continente…, Fernando Vale Castro se propone analizar la Revista Americana, una publicación que surge en las filas de Itamaraty – dirigida por los diplomáticos Araujo Jorge y Delgado de Carvalho, y el periodista Joaquín Viana -, en Río de Janeiro durante la década comprendida entre 1909 y 1919. Contra la perspectiva que reduce este emprendimiento a un simple instrumento de divulgación de los lineamientos de Itamaraty, apenas como un mero reflejo o caja de resonancia de las principales posiciones del Barão de Rio Branco, el autor plantea la necesidad de comprender esta revista como una “comunidad argumentativa”, donde convergen diversas opiniones que sin embargo comparten un objetivo general, ligado al mutuo acercamiento entre las distintas naciones sudamericanas y a la construcción de una estrategia diplomática capaz de garantizar en el continente la solución pacífica de conflictos en un contexto mundial caracterizado por una enorme incertidumbre e inestabilidad. Si, tal como sugiere el autor, toda revista puede ser entendida por la dialéctica entre producción y recepción, en este caso se propone priorizar “a ótica dos produtores“, entendiendo – en la línea de Skinner y Pocock – la producción de los discursos plasmados en la revista como “actos de habla” que, al mismo tiempo, surgen y modifican el contexto lingüístico en el que adquieren sentido e inteligibilidad.
Comprender estos discursos como “actos de habla” implica ponerlos en relación con sus contextos, y en el primer capítulo Vale Castro presenta las principales preocupaciones que atraviesan el contexto de creación de la revista. En este sentido, el autor articula un panorama que va desde las aceleradas transformaciones que permearon de manera general el último tercio del siglo XIX con las particularidades del contexto brasilero, signado por la proclamación de la República, las apuestas, esperanzas y desilusiones de la llamada “generación de 1870” en pos de un proyecto modernizador para el Brasil, y el afianzamiento de una dirección clara en la política exterior, a partir del nombramiento del Barão de Rio Branco en el ministerio de Itamaraty. Esta figura condensa un haz de problemas, entre los cuales el autor destaca conceptualmente dos que van a resultar particularmente relevantes en las reflexiones de la Revista Americana. Por un lado, la cuestión del establecimiento de los límites fronterizos y la unidad territorial, que si ya desde el imperio aparecen asociados al problema de la construcción del Estado, con el establecimiento de la República adquieren un importante rol material y simbólico en la consolidación de un proyecto de nación. Y si el Barão de Rio Branco va a ser la figura que encarne el éxito de la estrategia político-diplomática en la resolución de conflictos fronterizos, convirtiéndose así en el “ícone de um país, ao menos em tese, unido, estável e com visibilidade externa” (p. 37), es a partir de ella que la revista puede plantearse – a través de la problemática de las fronteras – la elaboración de un proyecto que valorice a la diplomacia, como agente cultural capaz de promover el conocimiento mutuo y de llevar a cabo las acciones/negociaciones que contribuyan al establecimiento de un equilibrio geopolítico, garante de la paz en épocas tumultuosas. Por otro lado, la segunda cuestión que va a resultar particularmente relevante en las páginas de la revista es el acercamiento de Itamaraty a EEUU – un proceso que había comenzado durante los últimos años del imperio y se afianza con la República – y la consiguiente adopción del panamericanismo, que va a constituir una de las principales características de la política del Barão -, adopción que parte del reconocimiento del ascenso de EEUU a potencia mundial y que aspira también a posicionar favorablemente a Brasil frente a Europa y al resto de las naciones sudamericanas. Caracterizado el contexto, el autor esboza las diferentes etapas que marcaron a este emprendimiento de larga duración. Así es que, siguiendo las sugerencias de Vale Castro, se pueden distinguir dos etapas, marcadas por sucesivas interrupciones: la primera, desde su creación en 1909 hasta la muerte del Barão de Rio Branco en 1912, momento en que se da la primera interrupción larga de la publicación, debida – entre otras cosas – a dificultades provocadas por la gran guerra con el abastecimiento de papel; la segunda comprende los cuatro números que salieron en 1915, con un perfil más comercial y popular, incorporando incluso un “Suplemento ilustrado” de contenido variado, y los últimos años de la revista (1917-1919), donde se retoma el formato anterior, buscando mantener como eje central de los artículos la problemática de la aproximación intelectual, política, económica y cultural de las naciones de América.
Después de esta presentación general de la revista, Vale Castro aborda en el capítulo 2 la problemática del pan-americanismo en la Revista Americana. Tal vez, sea este capítulo uno de los momentos centrales del libro, dado que la perspicacia analítica del autor permite aprehender a la revista como un emprendimiento plural y complejo que, si bien en líneas generales sostenía una posición afin al acercamiento a EEUU propiciado por Itamaraty, sin embargo acogió en sus páginas el debate, presentando también artículos que expresaron posiciones claramente contrarias a la orientación de la política externa brasilera. El autor analiza, en primer lugar, qué se entendía por esos años por “pan-americanismo” basado en la Doctrina Monroe, un intento de la política externa norteamericana de presentar a América Latina como un área subordinada a sus intereses económicos y políticos. El problema es que, si bien por motivos pragmáticos, el Barão de Rio Branco promovió un acercamiento a EEUU, no fue este el caso mayoritario del resto de los países sudamericanos, y este es un dato relevante a fin de visualizar los presupuestos comunes y los conflictos – explícitos o implícitos – que permearon la construcción de esta “comunidad argumentativa” que constituyó la revista. Así, si a principios del siglo XX, el debate sobre el alineamiento con EEUU, tiene al interior de la intelectualidad brasilera fuertes defensores – como Joaquim Nabuco – y detractores – como es el caso Oliveira Lima -, pareciera que ya para 1910 se produce cierta marginalización de esas posiciones críticas del panamericanismo, a tal punto que, en los primeros años de la revista este debate pareciera dividir, por un lado, a los intelectuales diplomáticos brasileros, ligados directamente a Itamaraty (como el propio Nabuco, Araripe Jr, Helio Lobo), que defienden una posición claramente favorable a la Doctrina Monroe y, por extensión, a la política norteamericana en el continente; y del otro, intelectuales latinoamericanos (el argentino Norberto Piñero, el chileno Macial Martínez, el venezolano Jacinto López, entre otros) que manifiestan más bien sus críticas a las aspiraciones hegemónicas e intervenciones continentales de EEUU, planteando en algunos casos alternativas, como un ibero-americanismo o un pan-iberismo (alternativas que apostaban más bien a un estrechamiento de los vínculos con Europa, más que con EEUU). Ya en el segundo momento de la revista, después de 1915, hay una inflexión provocada mayormente por los efectos de la gran guerra, por la cual ya no hay espacio para posiciones contrarias a la aproximación entre América del Sur y Estados Unidos. En este sentido, los artículos analizados en esta etapa muestran cierta coincidencia en torno a una visión más favorable del panamericanismo. El autor señala que su recorrido por las dos etapas de la revista muestra un cierto redimensionamiento del concepto de monroísmo, que va desde la acérrima defensa de la Doctrina Monroe a una visión más crítica, que deja de lado la perspectiva intervencionista norteamericana, para poner en el énfasis en un discurso basado en un discurso basado en la cooperación, en la integración, en un modelo de pan-americanismo más directamente ligado los intereses de América del Sur.
En el tercer capítulo, Vale Castro plantea un análisis de algunos conceptos centrales que fueron objeto de discusiones y articularon debates en la revista – tales como la necesidad de promover el respeto a los principios del derecho público internacional, intervenciones en torno a los conceptos de soberanía y hegemonía, la cuestión de las fronteras como elemento primordial en la construcción de cualquier proyecto nacional, el debate en torno a la navegabilidad de los ríos – con el objetivo de mostrar cómo, más allá de los desacuerdos, la revista perseguía como objetivo central la elaboración de un “ideário americano, baseado no intercâmbio e na cooperação entre as nações americanas, capitaneadas pela diplomacia do continente” (p. 155). Desde la perspectiva de la revista, es justamente el cuerpo diplomático – entendido como una élite intelectual, relativamente independiente del poder político- aquel sujeto capaz de llevar adelante tanto la construcción de una “moral sudamericana” para las relaciones internacionales, así como también crear las condiciones de un equilibrio continental que debiera servir de ejemplo a otras regiones del planeta. Lejos de pensar la trayectoria de la revista como una simple reflejo de las opiniones del Barão de Rio Branco, este emprendimiento despliega toda una serie de intervenciones que apuntan a reflexionar sobre el papel que la diplomacia brasilera debería jugar – como sostiene Vale Castro – en la elaboración no tanto de un diagnóstico preciso, sino más bien de un pronóstico, “um projeto de futuro que deveria ser construído com uma América muito mais do que real, uma América possível, uma América imaginada” (p. 156). Que esa América posible fuera real, dependía de la acción de los intelectuales – en especial, diplomáticos – en pos del diálogo, la cooperación y el conocimiento mutuo entre naciones diversas, operaciones que la revista pretendió llevar a cabo no sólo a partir de la presentación de distintos argumentos y debates en la sección artículos, sino también a partir de otras secciones, aludidas en el libro, como las “Notas” y “Bibliografía”, donde es posible visualizar una primera tentativa de crear un tejido cultural, que permitiera pensar el continente.
Sin duda, el esfuerzo analítico de Vale Castro ha permitido construir una imagen más rica, compleja y plural de la Revista Americana, que nos invita a reflexionar tanto sobre las nuevas representaciones de América que comienzan a surgir a principios de siglo, como también sobre los diversos roles que los intelectuales imaginan para sí frente a esas representaciones continentales, roles que motivan discursos, acciones, contactos, acercamientos mutuos y la aparición de redes que, en muchas ocasiones, sostuvieron o acompañaron emprendimientos comunes. Desde esta perspectiva, junto a los planteos de Skinner y Pocock, quizás hubiera sido útil incorporar también algunos otros aportes de la historia intelectual, en particular aquellos que proponen abordar las revistas como una “estructura de sociabilidad”, en el sentido que esta noción ha sido definida en los trabajos de Jean-François Sirinelli y Michel Trebisch.1 En este sentido, si bien Vale Castro acota su análisis al espacio escrito y público de la revista (es decir, sabemos muy poco de las condiciones internas en torno a cómo se armaba el sumario, cómo se seleccionaban los artículos, a partir de qué vínculos o redes llegaban las diversas intervenciones de autores latinoamericanos, cómo se contactaba a los autores, etc.), también restringe mayormente su análisis a un aspecto de la revista – aquel asociado directamente a la actividad diplomática -, dejando en un segundo plano el análisis de aquellas intervenciones ligadas a la historia, a la literatura, y a la sociabilidad intelectual. Según refiere el autor, esta publicación contaba con una sección de “Notas”, otra de “Bibliografía” y una dedicada a las “Revistas”: hubiera sido muy útil analizar los libros y las revistas reseñadas, justamente para discernir qué tipo de sociabilidad, ampliada a la escena continental, proponía la Revista Americana. Al final de su texto, el autor nos presenta un índice de los artículos: el problema de este índice es que, si bien resulta útil el panorama general que ofrece al lector en pocas páginas, es un índice trunco, que eclipsa la “sintaxis” de la revista, dado que cada número no se reduce al listado de artículos. Tal como aparece en las fotos que acompañan al libro, en las ediciones de la revista hay intervenciones poéticas, comentarios, reseñas, notas de redacción, etc., en definitiva, textos y discursos – que junto con el formato que asumió cada número- definen de forma activa las estrategias por las cuales este emprendimiento se dirigió a sus diversos públicos. El análisis de Vale Castro complejiza, en muchos sentidos, la relación de la revista con Itamaraty; creo que hubiera sido deseable también visualizar de forma más precisa cómo la revista se construye como un espacio de sociabilidad para los intelectuales y escritores del continente.
Cfr. Sirinelli, Jean-François. Le hasard ou la nécessité? Une histoire en chantier: l’historie des intellectuels. Vigtième siècle. Revue d’histoire, n. 9, janvier-mars, p. 97-108, 1986; Trebitsch, Michel. Avant-propos : la chapelle, le clan et le microcosme; Racine, Nicoli y Trebitsch, Michel. Sociabilites Intellectueles. Lieux, Millieux, Reséaux. Cahiers de L’IHTP, n. 20, CNRS, París, p. 11-21; Pluet-Despatin; Jacqueline. Une contribution a l’histoire des intellectuals: les revues, en Les Cahiers de L’ IHTP, n. 20, marzo de 1999, número especial “Sociabilites intellectuels: lieux, milieux, reseaux”, p. 125-136.
Karina Vasquez – Doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidade de Qulimes (Argentina) y profesora en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Buenos Aires, Argentina. E-mail: [email protected].
Blacks Against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party – BLOOM; MARTIN JR (Topoi)
BLOOM, Joshua; MARTIN JÚNIOR, Waldo E. Blacks Against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party. Berkeley e Los Angeles. University of California Press, 2013. 540p. Resenha de: CHAVES, Wanderson da Silva. O Partido dos Panteras Negras. Topoi v.16 n.30 Rio de Janeiro Jan./June 2015.
Poucos aspectos da história norte-americana do pós-guerra são tão opacos quanto a história do Partido dos Panteras Negras. Sua vertiginosa trajetória de ascensão e queda, entre 1967 e 1971 – e encerramento definitivo das atividades, em 1982, de forma praticamente anônima – vem sendo disputada e fixada por duas narrativas principais, publicamente ainda em disputa, mas que, entretanto, discursivamente tendem a se encontrar. A sustentada pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), mais conhecida por ser a adotada na cobertura jornalística nos EUA desde então, associa ao Partido um programa racista, fascista, sectário e separatista, que justificaria, em razão de ameaças à segurança nacional, a campanha de época pela destruição dos Panteras. A outra narrativa, calcada na fortuna crítica dos chamados “estudos afro-americanos”, e sustentada principalmente pela militância e organizações do nacionalismo negro, vincula o Partido a um projeto de busca da unidade e do orgulho racial, característicos da negritude. O mérito de Blacks Against Empire reside justamente na desconstrução destes dois lugares-comuns. Reconstrói-se, ao longo do livro, a lógica de atuação do Partido a partir de suas principais tensões e ambiguidades: embora decisivas para o programa partidário, essas particularidades eram categoricamente ignoradas no trabalho de memória, e na historiografia.
O trabalho de Joshua Bloom, sociólogo da UCLA, e Waldo E. Martin Jr., historiador da Universidade da Califórnia em Berkeley, e autor experiente – com publicações sobre escravidão, racismo, direitos civis e movimentos sociais – foi árduo. O livro começou a ser escrito em 2000, e no seu curso, mobilizou cerca de 50 pesquisadores e colaboradores diretos, reunindo mais de 12 mil páginas de documentos raros e inéditos, hoje, integrados aos acervos da Biblioteca de Estudos Étnicos e à Bancroft Library, de Berkeley. Quatorze teses acadêmicas foram desenvolvidas sob a cobertura desse projeto, que estendeu sua pesquisa a arquivos nacionais e internacionais, privados e governamentais, e retomou, por meio de entrevistas, e um sério esforço de certificação documental, a massa de testemunhos, memórias e autobiografias que ainda são a principal fonte bibliográfica sobre o Partido e para boa parte das organizações civis dos EUA dos anos 1960 e 1970.
O resultado desse empreendimento: uma boa narrativa factual, comparada ao desastre historiográfico das duas tendências da literatura temática, e que coloca imediatamente questões inquietantes; particularmente, a de que os Panteras Negras, não apenas retoricamente, mas em agenda e estratégias, buscaram ser radical e efetivamente antirracistas.
Comparado às organizações do Movimento dos Direitos Civis dos anos 1960, o Partido parece ter ido fundo e longe: tornaram-se uma organização nacional com forte presença nos grandes centros urbanos, e agindo, principalmente, fora do Deep South e da sua rede de organizações religiosas, estudantis e profissionais negras. O projeto de Martin Luther King Jr., para os anos 1960, de que sindicatos, igrejas e o mainstream liberal colaborassem nas reformas econômicas, sociais e políticas destinadas à definitiva dessegregação – a integração de todos à projetada beloved community – obteve pouco suporte fora das suas bases tradicionais, a classe média negra, e simpatizantes progressistas do Norte. Os colaboradores que não responderam à conclamação de King, todavia, não fizeram falta ao arco de alianças construído pelos Panteras. Profundo conhecedor da organização, o FBI sabia que seu projeto de desmantelamento do Partido passava principalmente por ações de dissuasão aplicadas aos aliados: os órgãos da chamada Nova Esquerda, particularmente os envolvidos na luta contra a Guerra do Vietnã; os “negros moderados”, rescaldo do Movimento dos Direitos Civis; governos de Estados comunistas ou não alinhados; e lideranças, associações e igrejas baseadas nas periferias das cidades, não apenas nos bairros negros. A estratégia: diplomaticamente, romper o suporte internacional; e com medidas policiais secretas, minar as pontes entre os diversos segmentos de classe da comunidade negra, bem como as conexões “inter-raciais”, que eram o grande patrimônio político do Partido.
Os Panteras Negras não eram secessionistas, nem partidários da negritude como projeto, embora a reivindicação à herança de Malcolm X – que era uma meta partidária importante, particularmente o chamado à luta por “todos os meios necessários” contra o Estado e a polícia – tenha sido central para a sua atuação. Com relação a programas, nada de decisivo opôs o Partido à proposta de integração, que caracterizava a agenda pública de King. Curiosamente, ela seguia no sentido do seu aprofundamento, ao destacar mudanças estruturais para destruir – e não apenas reformar – dinâmicas raciais, como condição para tornar os direitos civis realmente efetivos. A diferença em relação a King, sempre afirmada com muita ênfase, era tática: contra a resistência não violenta, advogava-se a autodefesa armada, e, ainda que nunca de forma consensual e programática, também o enfrentamento armado ao Estado como parte da sua atribuída vocação de partido revolucionário. O FBI explorou publicamente essa escolha tática como uma aberta declaração de guerra. E com uma massiva campanha de infiltração, sabotagem e extermínio, na qual buscou vincular o Partido a falsas ações, defrontou os Panteras Negras intermitentemente aos dilemas estratégicos e éticos da instrumentalização política da violência.
A resposta dos autores à historiografia – que concede grande relevância às leituras policiais, ao heroísmo dos testemunhos, e aos atuais Movimentos Negros, que se pretendem herdeiros políticos do Partido – foi estritamente documental. Nela, há um esforço em distinguir as ações secretas de Estado das realizadas pelos Panteras, e em separar a agenda e atuação do Partido daquela das organizações raciais negras, posto que essa diferença tornou-se mais que retórica – tornou-se programática. E compreende-se bem ao longo do livro o porquê.
Fundado em 1966, o Partido dos Panteras Negras era, inicialmente, uma milícia armada, formada integralmente por homens, que atuava na região de Oakland, Califórnia. Suas principais atividades eram o monitoramento da polícia, via obstrução e denúncia da violência dos órgãos de segurança, e a intimidação – física e através de boicotes e mobilizações públicas – de denunciados de racismo e infração aos direitos civis. Os marcos dessa atuação eram inusitadamente legais. Segundo leis estaduais da época, o porte e o transporte de armas carregadas, em locais públicos ou veículos, eram permitidos se o armamento estivesse devidamente exposto, e fora de posição de tiro. Acompanhar ações policiais também era permitido, desde que mantida distância. Huey Newton e Bobby Seale, estudantes de direito, e membros fundadores do Partido, fizeram essa descoberta legal, e nela apoiaram a aplicação da autodefesa armada para além da situação – a invasão de residências sem mandado judicial – que primeiro havia mobilizado seus esforços.
Até 1967, o Partido era mais uma unidade, dentre várias outras, espalhadas pelos EUA, surgidas simultaneamente nessa época, que se autointitulavam Panteras Negras. Todas elas atendiam a um chamamento comum. Usando o animal símbolo do Lowndes County Freedom Organization (LCFO), organização política que o Students Non-Violent Coordinating Committee (SNCC) pretendia transformar em partido no Alabama, os Panteras de Oakland eram mais um grupo que buscava dar forma política ao slogan “Black Power”, de Stokely Carmichael, líder do SNCC. Então, pouco conhecido fora do norte da Califórnia, o grupo de Newton, Seale e do jornalista de Ramparts, Eldridge Cleaver, por volta de outubro de 1968, já havia rapidamente unificado em torno da sua liderança todos os grupos de Panteras, aproximado e emparedado vários setores da esquerda norte-americana, estabelecido uma publicação oficial com tiragem de massa, reunido um orçamento anual milionário, angariado suporte internacional, e dominado o debate pela definição dos sentidos do Poder Negro. Essa ascensão, que se alicerçou na atração dos jovens mobilizados nos confrontos raciais na era dos assassinatos de Malcolm X (1965) e King (1968), foi alcançada com dramáticas e bem-sucedidas ações públicas, e após duras disputas interorganizacionais e partidárias.
Em razão de suas opções táticas, Newton, Seale e Eldridge Cleaver consideravam o Partido o único capaz de exercer algum esforço de politização sobre a massa de jovens negros que escolheu a violência. E graças ao perfil da sua liderança, os únicos que poderiam atrair identificação imediata. De fato, um histórico de pobreza, bom treinamento militar prévio, passagens por prisões, eventuais aproximações ao Nation of Islam (NOI) e um sério esforço de formação intelectual os assemelhava a parte considerável da militância que ingressou nas cerca de 80 sucursais que os Panteras chegaram a ter no país. Inicialmente, o Partido espelhou a retórica racialista e nacionalista que emergiu nos confrontos e protestos, mas das suas proclamações, na qual se declarava vanguarda partidária do “exército de libertação negro”, dificilmente se poderia obter uma agenda nacionalista. Discursivamente difusa, e muito dependente da eficácia performativa das ações e da sua poderosa iconografia, suas metas nem sempre óbvias eram a liberação do racismo, o combate à polícia, a autogestão comunitária e a união tática dos negros como estágio preliminar e preparatório da luta “anticolonial” contra o Estado norte-americano a ser lançada.
Os Panteras eram a mais literalmente “fanonista” dentre as organizações de base negra dos EUA, vinculação que foi pouco destacada pelos próprios autores. Isto significava uma aposta no programa de luta armada exposto em Os condenados da terra (1961), em que se apelava à violência como força liberadora pessoal e militar do domínio colonial. Esse potencial de transgressão, pensado para se dirigir contra o “exército doméstico de ocupação” que seria a polícia, era dirigido também contra o que era considerado, pelo Partido, o grande “maniqueísmo colonial” a ser revertido – a raça. Embora a liderança dos Panteras Negras tivesse bom domínio da literatura marxista e dos textos políticos de Che, Mao e Lênin que fizeram carreira naquela época, era Fanon a principal ferramenta do Partido no rechaço às organizações cujo programa fosse “antibranco” ou que pretendessem disciplinar sua atuação. Por uma ou por ambas as razões, o SNCC, o Congress for Racial Equality (CORE), o braço político do NOI, o Revolutionary Action Movement (RAM) e o Partido Comunista dos Estados Unidos foram asperamente repelidos.
Após o estabelecimento de restrições legais ao uso de armas, em 1969, os Panteras se orientam para a montagem, nas suas sucursais, de clínicas médicas, refeitórios, cursos de formação política e escolas primárias, entre outras iniciativas cujo fim declarado era estabelecer a gratuidade, socialização, criação e a autogestão de serviços públicos dentro das comunidades negras. Sustentada por grande suporte e participação voluntária, a iniciativa afetou o War on Poverty, grande programa federal de reforma urbana, terceirizado para empresas, fundações, igrejas e organizações negras. Publicamente, a política social de governo era ferida, na comparação, por sua atribuída timidez, inoperância e racismo. A essa reorientação, na qual o Partido transferiu para sua liderança “civil” a condução da maioria das ações, coincidiu curiosamente uma brutal ofensiva policial, na qual se prendeu ou executou os principais quadros dos Panteras Negras, sucessivamente, cidade a cidade.
Esse momento também coincidia com a construção de uma sólida aliança do Partido com os movimentos contra a Guerra do Vietnã, da qual os dois segmentos se consideraram beneficiados. Orientando-se parcialmente pelas mudanças no discurso público dos Panteras, os grupos predominantemente estudantis, envolvidos nos protestos, foram acrescentando uma retórica anti-imperialista, e depois, crescentemente antifascista e anticapitalista, a seu próprio discurso antiguerra, inicialmente ligado ao pacifismo dos objetores de consciência. Essa conexão temática veio acompanhada de grande produtividade organizacional. Com apoio do Partido, são criadas, em comunidades de população hispânica, asiática, indígena e de “brancos pobres”, organizações similares às dos Panteras. Apoiados principalmente nestes novos grupos, e com suporte de aliados que incluíam igrejas, ativistas gays e feministas e grupos antirracistas, os Panteras Negras criaram o Comitê Nacional de Combate ao Fascismo, sem restrições de filiação. A emergência do que se designou, por esse comitê, de “Coalizão Arco-Íris”, funcionou como uma correia de transmissão circular: cada grupo assumia sua pauta particular no esforço conjunto de oposição à Guerra no Vietnã, no coletivo de lutas liberatórias globais e domésticas, e na resistência à ofensiva policial.
O FBI mudou sua estratégia de combate aos Panteras em 1971. Naquele momento, embora não contasse com boa parte de seus quadros políticos, já presos, mortos ou exilados, o Partido atingiu seu auge de expansão, filiação e influência. Em um dos pontos altos do livro, Bloom e Martin Jr. descrevem como o Federal Bureau of Investigation, respondendo à guinada do governo Nixon, desarticulou a rede de apoiadores dos Panteras Negras e iniciou o seu declínio. Do isolamento que se produziu, seguiu-se a exposição de diferenças políticas e temáticas, contradições retóricas e tensões internas e com aliados que rapidamente tornaram o Partido politicamente insignificante.
Diplomaticamente, o compromisso de Nixon com a gradual retirada das tropas do Vietnã, o restabelecimento de relações com China e Argélia e a conclusão da maioria das lutas de libertação nacional na África desmobilizou as organizações estudantis antiguerra e inibiu o apoio internacional aos Panteras. Dava-se fim à pauta “anti-imperial” comum. Com a universalização das cotas raciais como política de Estado, bem como a ampla reforma universitária, que tornou os chamados “estudos afro-americanos” item curricular obrigatório, normalmente com dotação orçamentária e suporte departamental próprios, o governo Republicano capturou a atenção e conquistou a confiança da maioria dos aliados dos Panteras nas universidades e entre as classes médias. Alianças e acomodações políticas são estabelecidas com estes setores: após terem sido expelidos ou hostilizados pelo Partido, a velha guarda do Movimento dos Direitos Civis e as jovens organizações negras assumem, já dentro do governo, a implantação dessas medidas que se tornariam, mais que a retomada das políticas sociais de Lyndon B. Johnson, o início da gestação do multiculturalismo como proposta de ordem.
O faccionalismo também destruiu os Panteras. A liderança do Partido, quando desafiada a iniciar a prometida luta armada pela facção – depois conhecida por – Black Liberation Army, optou por tentar preservar aliados politicamente moderados, especialmente entre seus principais patrocinadores. Huey Newton, que então se deslocava para o centro da máquina democrata na Califórnia, e para a gestão de programas de assistência comunitária em nada diferentes daqueles que já vinham sendo realizados nas várias instâncias de governo, desmilitarizou a imagem da organização, abandonou a retórica revolucionária, promoveu expurgos e estabeleceu uma rígida estrutura burocrática de mando. Além disso, estreitou laços com pequenas máfias do submundo de Oakland, dinâmica de despolitização que acabou por afastar, sobretudo, aos aliados e rede de contatos entre a Nova Esquerda. Feministas e gays externos às comunidades negras já haviam retirado seu apoio antes disso, em razão do persistente sexismo que supostamente se definia como traço da atuação dos Panteras.
Desbaratados por sucessivos raids policiais, mais duradouros que sua real relevância, as cisões civis ou armadas do Partido perderam rapidamente, após 1973, a consistência programática que caracterizara sua existência anterior, como pretendida organização de massa. Assim, embevecidos e guiados apenas pelo heroísmo, os membros remanescentes, reduzidos ao terrorismo ou ao gangsterismo, deixaram de existir formalmente como grupo.
Embora tantas referências icônicas dos Panteras, desde a saudação de punhos erguidos à sua particular articulação dos imperativos do Black is beautiful – mais orgulhosa exposição de signos corporais que pesquisa de africanismos – povoem a moda, a cultura pop e o panteão de referências de inúmeros grupos políticos, ninguém seria capaz de reivindicar o espólio deles. Falando principalmente dos Estados Unidos, os autores argumentam que se deve recusar ver qualquer continuidade exatamente onde ela é mais mencionada e reivindicada: entre os advogados da chamada thug life, presentes nas expressões dominantes do rap contemporâneo; e entre os ativistas das políticas raciais de Estado. Os argumentos de Bloom e Martin Jr. me convencem de que estes já seriam outra história, pois suas agendas e métodos eram não apenas diferentes: por defenderem, do centro do espectro político, sobretudo propostas de reforma e reordenamento da ordem racial, suas posições seriam adversárias à posição antirracista, às lutas antiestatais e às táticas de recrutamento e politização do lúmpen criminal que os Panteras praticaram.
Com cuidadoso uso de documentação e crítica aos testemunhos, Blacks Against Empire ajuda a esclarecer o complexo trabalho de memória – que também é esquecimento e encobrimento – que atualmente sustenta (pode-se dizer, também no Brasil) a gestação de políticas ditas antirracistas. Embora não seja evidente, a definição do perfil da ordem democrática como ligado, não à Questão Política (liberdades), mas à resolução da Questão Social (compensação, reparação), envolve, de variadas formas, a história de malogro e sucesso de pessoas como os Panteras.
Wanderson da Silva Chaves – Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), pesquisador do Grupo de Estudos sobre Guerra Fria (USP). São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
Being a Historian: An Introduction to the Professional World of History – BANNER JR (Topoi)
BANNER JÚNIOR, James M. Being a Historian. An Introduction to the Professional World of History. Nova York: Cambridge University Press, 2012. Resenha de: PAIANI, Flavia Renata Machado. Os desafios profissionais do historiador. Topoi v.16 n.30 Rio de Janeiro Jan./June 2015.
Ser historiador significa, certamente, algo mais que estudar o passado e pesquisar em bibliotecas e arquivos. No livro Being a Historian: an Introduction to the Professional World of History, o historiador estadunidense James M. Banner Jr. preocupa-se em mostrar que os historiadores não devem estar circunscritos à carreira acadêmica (preocupação que se explicita, sobretudo, no terceiro e no quinto capítulos). Embora ele analise a realidade profissional do historiador nos Estados Unidos, suas indagações também são pertinentes à realidade brasileira na medida em que compartilhamos muitas das inquietações sobre o futuro de nosso ofício.
Em um primeiro momento, o autor busca diferenciar a disciplina “história” da profissão que se debruça sobre ela. Para ele, a profissão diz respeito à “direção e à maneira com que é utilizado um cabedal de conhecimento, e não ao cabedal de conhecimento em si” (p. 4). Ele destaca que a profissão requer uma educação mais ou menos uniforme no conjunto de conhecimento e protocolos de prática de pesquisa – ou seja, é a formação acadêmica que diferenciará o “historiador profissional” do “historiador amador”. Nesse sentido, o autor assinala que os historiadores profissionais não ficam restritos a uma única profissão, podendo atuar como acadêmicos, editores, consultores, escritores independentes, curadores em museus etc.
O leitor brasileiro talvez estranhe algumas profissões sugeridas por Banner Jr., pois, em linhas gerais, o historiador no Brasil segue majoritariamente a docência – seja na educação básica, seja na educação superior. Ainda nos é recente a luta em torno do projeto de lei (PL) sobre a regulamentação de nossa profissão para que possamos repensar nossos espaços de atuação. Ademais, ainda nos é pouco conhecida a noção de “história pública” – discutida entre os historiadores estadunidenses desde a década de 1970 – que nos permite, do mesmo modo, ampliar nosso leque de atuação e nosso papel na sociedade.
Assim, dividido em oito capítulos, o cerne do livro não é pautado apenas no debate sobre história acadêmica e história pública: seu foco é a redefinição do lugar (profissional e, em certa medida, social) ocupado pelo historiador. Todavia, essa redefinição perpassa os rumos tomados pela disciplina de história, bem como o monopólio que a universidade tende a exercer sobre ela. Ainda assim, o autor ressalta que as mudanças mais significativas pelas quais a disciplina passou nos últimos anos desenvolveram-se precisamente fora do meio acadêmico. Ele destaca, em especial, o papel da American Historical Association (AHA) – “hoje em dia, a maior e mais antiga organização de historiadores profissionais nos Estados Unidos e, indiscutivelmente, a organização histórica mais importante do mundo” – que pode ser igualada a um departamento acadêmico no que concerne à sua influência sobre o modo como a história é ensinada e praticada nos Estados Unidos (p. 42). No caso brasileiro, caberia nos questionarmos o papel historicamente desempenhado pela Associação Nacional de História, cuja sigla – ANPUH – originalmente remete não a uma associação de historiadores, mas a uma associação de professores universitários de história. A ampliação do número de associados, bem como sua relativa heterogeneidade (não são mais os professores universitários exclusivamente), desemboca também na pressão pela regulamentação da profissão de historiador, de que trata o PL 4.699/2012.
Em realidade, o ideal acadêmico impregna a disciplina desde o século XIX, quando de sua profissionalização na Alemanha. Desde então, “aqueles que preparam outros historiadores (…) são eles próprios membros do corpo acadêmico”, tornando-se a aspiração profissional dos jovens ingressantes. Para o autor, “o desafio não é libertar alguém dessa aspiração, mas, antes, libertá-lo de uma resposta automática a essa aspiração”. Nesse sentido, ele também destaca que a quantidade de vagas para docentes nas universidades não comporta o número de doutores em História: em outras palavras, “as carreiras acadêmicas não podem e não irão absorver todos os historiadores disponíveis” (p. 64). De modo semelhante, temos assistido no Brasil ao expressivo aumento do número de recém-titulados em decorrência da expansão dos programas de pós-graduação em História: temos atualmente 69 programas, sendo que 37 contemplam o doutorado.1
Dessa forma, o terceiro capítulo (A Multitude of Opportunites: Sites, Forms, Kinds, and Users of History) nos é interessante à medida que enfoca e problematiza as possibilidades de atuação do historiador fora do meio acadêmico, bem como os públicos que se interessam por história. Banner Jr. assinala o papel que um vasto grupo formado por editores, designers e especialistas em marketing e venda desempenha na circulação do conhecimento histórico, assim como os curadores em mostras de temática histórica, que lidam diretamente com o grande público.
Para além de editoras e museus (para citar apenas dois exemplos), o autor destaca a possibilidade de um historiador atuar de modo independente. Ele aponta para o pequeno número de historiadores que foram bem-sucedidos como escritores de livros de história, em que pesem os desafios enfrentados pela ausência de vínculo institucional. Novamente, se remontarmos ao nosso caso, percebemos uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil: contrariamente aos colegas de lá, nossos principais escritores de livros de história são, em sua maioria, jornalistas (como Laurentino Gomes, Eduardo Bueno e Leandro Narloch) sem formação acadêmica em História. Esse fenômeno, o da “narrativa jornalística da história”, requer um debate mais aprofundado no meio acadêmico brasileiro, embora o pontapé inicial já tenha sido dado pelo historiador Rodrigo Bragio Bonaldo em dissertação defendida em 2010.2
É certo, porém, que existe uma relativa dificuldade em escrever para o grande público, pois essa habilidade requer um treinamento que o historiador, em geral, não tem (seja no Brasil, seja nos Estados Unidos). Banner Jr. percebe que os programas de pós-graduação, assim como a maioria dos departamentos, tendiam (até há pouco tempo) a priorizar o preparo convencional. Mesmo quando havia treinamento e prática formais para desenvolver um repertório mais diversificado de habilidades, “a ausência de incentivos e de reconhecimento para atingir círculos extra-acadêmicos continuava a inibir a disseminação do treinamento na escrita para um público mais amplo” (p. 74).
Ainda assim, o autor reitera que o conhecimento produzido na academia não pode mais ter como único destinatário seus pares acadêmicos, mas deve também abarcar os “cidadãos bem informados”, os “curiosos”, os “aficionados” por determinados temas do passado, o “governo” e outras corporações. Essa constatação não implica, contudo, desconsiderar a importância da academia na produção e legitimidade do conhecimento histórico.
Sem as monografias e os artigos de periódicos escritos por acadêmicos para acadêmicos, sem a especialização e a confiança na obra de outros acadêmicos (que se tornaram visíveis pelo uso da tão ridicularizada nota de rodapé), o conhecimento histórico teria permanecido parte do mundo da especulação amadorística, e não teria se tornado uma parte constitutiva da compreensão humana, baseada na evidência bem fundamentada, na interpretação sujeita à avaliação e à revisão, e nos acréscimos em aberto. Ademais, sem a erudição monográfica, os popularizadores da história – escritores não acadêmicos e cineastas especialmente – não teriam tido à sua disposição o conhecimento que empresta à sua obra a credibilidade que ela possui. (p. 72)
Apesar deste reconhecimento no que concerne ao papel desempenhado pela academia, Banner Jr. insiste nos círculos extra-acadêmicos (em especial, nos diferentes públicos que reivindicam o acesso ao conhecimento histórico), bem como na capacidade de adaptação e de inovação do historiador em atender a essas demandas. Indo além, o autor também critica, no quinto capítulo, a tímida atuação dos departamentos de história no preparo de professores para a própria academia, uma vez que a formação recai sobre a prática da pesquisa, e não sobre a prática do ensino.
A partir do quinto capítulo (History outside the Academy), Banner Jr. desdobra a noção de história pública, destacando que a crise de emprego na década de 1970 entre os novos doutores impulsionou o desenvolvimento da história pública nos Estados Unidos. Nesse contexto, ele explica que “o desejo de permanecer historiador profissional por parte daqueles que se frustraram na procura de uma colocação acadêmica explica muito do crescimento da história pública” (p. 135). Ao mesmo tempo, o autor acrescenta que o aumento da demanda por conhecimento histórico criou não apenas novas práticas e oportunidades para os historiadores, mas também renovou o modo de conceber o significado desse conhecimento. No entanto, ele percebe que a história pública não goza de grande estima no que se refere ao seu nível de autoridade intelectual. Diferentemente da história acadêmica, as práticas históricas públicas são ainda recentes, e sua baixa estima incide no (não) recrutamento das mentes jovens mais brilhantes.
Assim, Banner Jr. ressalta duas diferenças primordiais entre a história acadêmica e a história pública a partir da caracterização desta última. A primeira diferença refere-se à “utilidade direta, mais que a aplicabilidade difusa, do conhecimento histórico aos assuntos humanos” (p. 144). A “utilidade direta” da história pública consiste na resposta aos interesses específicos do público não acadêmico sobre questões do passado, afetando sua compreensão do mundo. Já a segunda diferença relaciona-se, em certa medida, à primeira apontada. A história acadêmica procura, principalmente, avançar o conhecimento humano e integrar o conhecimento novo ao mais antigo em benefício, em sua maioria, dos acadêmicos e dos estudantes” (p. 144). Por seu turno, a história pública procura avançar a compreensão sobre o passado entre o público não acadêmico, fazendo com que a reflexão histórica aconteça fora da sala de aula ao encorajar as pessoas a interpretarem esse passado. Ademais, os materiais e os meios de pesquisa da história pública não se limitam aos livros e aos manuscritos, mas englobam, sobretudo, a comunidade – “seus prédios, seus bairros, seus produtos industriais e outras dimensões de seu passado” (p. 148).
É verdade que o autor torna-se repetitivo em certos pontos do livro em decorrência, em parte, de seu próprio didatismo. Ao mesmo tempo, ele evidencia uma realidade do historiador nos Estados Unidos que suscita questionamentos interessantes também à nossa realidade. Ao apenas tangenciar questões epistemológicas da disciplina, ele enfoca, principalmente, os profissionais que fazem uso dela e que contribuem para a produção e a disseminação do conhecimento histórico dentro da universidade ou fora dela. Desse modo, os públicos da história também entram em pauta no livro, porque eles não são apenas os destinatários do conhecimento produzido, mas são, especialmente, aqueles que demandam e interpretam esse tipo de conhecimento.
Em suma, o livro pode ser o ponto de partida para que o historiador brasileiro reflita sobre diferenças e semelhanças relativas ao exercício de nossa profissão nos dois países. O intento comparativo pode, então, desdobrar-se em uma abordagem mais ampla, que preze pela articulação de novos espaços de atuação profissional com a redefinição de nosso papel na sociedade. Logo, ser historiador no Brasil nos dias de hoje requer o aprofundamento da reflexão acerca do futuro de nosso ofício.
1De acordo com a Relação de Cursos Recomendados e Reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
2BONALDO, Rodrigo Bragio. Presentismo e presentifiação do passado: a narrativa jornalística da história na Coleção Terra Brasilis de Eduardo Bueno. Porto Alegre: UFRGS, 2010. 169 p. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Instituto de Filosofi e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
Flavia Renata Machado Paiani – Doutoranda em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: [email protected].
Assim na terra como no céu: … Paganismo, cristianismo, senhores e camponeses na Alta Idade Média ibérica (séculos IV-VIII) – BASTOS (Topoi)
BASTOS, Mário Jorge da Motta. Assim na terra como no céu… Paganismo, cristianismo, senhores e camponeses na Alta Idade Média ibérica (séculos IV-VIII). São Paulo: EdUSP, 2013. 264 p. Resenha de: COELHO, Maria Filomena Pinto da Costa. Assim na terra como no céu. Topoi v.16 n.30 Rio de Janeiro Jan./June 2015.
Eis um livro que tem uma grande contribuição a dar: é um belo exercício de história. Seu autor, Mário Jorge da Motta Bastos, é professor de História Medieval na Universidade Federal Fluminense e desenvolveu sua trajetória como pesquisador sobre a Idade Média ibérica. Mas, para este historiador, mais importante do que o tempo e o espaço sobre os quais se debruça é a perspectiva da qual se parte. Neste sentido, ele deixa as coisas claras desde o início: a história só é possível a partir do presente, como um problema que se coloca ao passado, no intuito de dar sentido à vida dos homens e mulheres em sociedade. Mário Jorge Bastos aparece em cada palavra que escreve – não apenas nas entrelinhas -, assumindo o protagonismo do texto, e fazendo jus à tradição marxista, com a qual se alinha. Portanto, trata-se de um livro de história que expressa com muita clareza de onde se parte, os caminhos que se pretende percorrer e de que forma se fará esse percurso.
Nos tempos que correm, em que nos vamos acostumando com o “mais ou menos”, não deve passar despercebido o trabalho acadêmico realizado com seriedade e competência e, no que tange à disciplina da História, dentro de parâmetros que permitem acompanhar a construção do objeto de estudo, as interpretações que se tecem sobre o passado e, finalmente, as conclusões a que se chega. Creio que é somente sobre essa base que o trabalho do historiador pode, ou não, ser considerado (julgado?) legítimo. Assim, o livro é um exercício de história, cuja extrema transparência permite ao leitor acessar de forma segura os fundamentos teóricos e os problemas que se entrelaçam no texto e que conduziram o autor em sua leitura dos documentos.
No intuito de prestar tributo à franqueza acadêmica que Mário Jorge Bastos derrama em sua obra, devo dizer que não sou marxista. Entretanto, li Assim na terra como no céu… com o prazer do historiador que encontra um bom livro de história. Na forma como o texto é redigido, todos os aspectos são importantes: desde os desafios de ser marxista no mundo de hoje – com todas as idiossincrasias que a palavra encerra -, passando pelas dificuldades que o historiador enfrenta ao sistematizar de forma compreensível aquilo que desejaria que fosse apreendido por um só golpe de vista, até o hermetismo de algumas fontes primárias. O autor põe tudo a descoberto.
Assim na terra como no céu… parte de um problema que a historiografia dedicada à alta Idade Média do Ocidente entende como fundamental: a conversão ao cristianismo. Portanto, trata-se de um tema que já foi esmiuçado por muitos autores, apoiado por um leque de explicações e de abordagens igualmente vasto. A proposta de Mário Jorge Bastos desenvolve-se em seis capítulos: 1) O processo de senhorialização da sociedade ibérica; 2) A Igreja no quadro da sociedade senhorial; 3) A revelação divina; 4) Continuidade ou transformação?; 5) Caráter, relações e campos de intervenção do poder divino; 6) Os santos e a liturgia. É por meio deste plano que o autor pretende explicar de que maneira se entrelaçam paganismo, cristianismo, senhores e camponeses na Península Ibérica, entre os séculos IV e VIII.
Diferentemente de muitas das interpretações já clássicas da historiografia que versam sobre a temática, o livro apoia-se numa premissa basilar: o estudo do passado só faz sentido se ancorado na vida em sociedade. Portanto, para que a “conversão ao cristianismo” alcance o patamar de um problema de história, na sua totalidade, precisa ser entendido em sociedade, revelando, de uma só vez, suas implicações culturais, políticas e econômicas. São as transformações ocorridas nas relações sociais que explicam a conversão e as características de que ela se reveste. De forma mais ampla,
Qualquer tentativa de enfrentamento, prático e/ou teórico, do “núcleo duro” das abstrações religiosas deve orientar-se pela apreensão da lógica social em meio à qual essas se inscrevem, considerando-se a articulação das abstrações com as relações sociais e os modos de produção historicamente específicos. (p. 19)
Fazer história é desvendar a essência da articulação das globalidades sociais historicamente dadas, nível fundamental de seu conhecimento porque capaz de explicar, num mesmo movimento, o funcionamento real da sociedade e a aparência que a mesma assume para seus integrantes (…), porque permite inscrever a religião nos fluxos históricos globais nos quais a mesma se insere, e não como um elemento secundário, reflexivo ou “epifenomênico” em relação aos processos mais essenciais, porque “mais materiais”, mas como um elemento primário essencial à articulação das sociedades, em especial daquelas historicamente anteriores ao advento do capitalismo. (p. 20)
De um só golpe, Mário Jorge Bastos critica “gregos e troianos”. A religião não pode ser entendida pelos historiadores numa dimensão mágica, capaz de por si mudar a sociedade, nem tampouco como uma manifestação de somenos importância, mais adequada aos estudos sobre a cultura. Ambas as posições, tão comuns na historiografia, e que travaram ruidosas batalhas acadêmicas, fazem exatamente a mesma coisa: retiram a religião da história. O desafio de trazer a religião para dentro da história é complexo, uma vez que, para além de exigir o estudo e interpretação da própria sociedade em análise, supõe ainda o diálogo crítico com os grandes temas da síntese historiográfica, como é o caso da transição/passagem da Antiguidade à Idade Média, na qual os historiadores entendem que a conversão ao cristianismo teve um papel fundamental. Neste caso, o livro apresenta já na introdução a maneira como se pretende enfrentar o problema, além de resumir brevemente as principais correntes e suas implicações. A velha dicotomia “cristianismo × paganismo” ainda é considerada pelo autor como um aspecto importante a ser discutido, uma vez que as soluções propostas nos últimos tempos pelos historiadores não ajudam a explicar a religião em sociedade (“no âmago das relações sociais”). Ora se afirma a vitória do cristianismo, ora a resistência do paganismo, numa lógica de forças monolíticas que se enfrentam, e cujos resultados são interpretados às vezes como virtude, às vezes como desvio. Mensuram-se, até mesmo, os níveis de paganismo e de cristianismo!
A saída, para o autor, encontra-se na possibilidade de atribuir à cultura a dimensão de amálgama, como resultado do sentido que a sociedade constrói sobre suas mudanças na história. Assim, reconhece-se uma aproximação às propostas do historiador inglês marxista Edward P. Thompson, para quem a cultura representava um nível de análise fundamental. Daí deriva também a defesa da utilização do conceito de classe para se estudar a sociedade ibérica, uma vez que não se trataria de “uma categoria estática, o que supõe uma derivação mecânica de classes que surgiriam, imediatamente, das próprias relações de produção, desconsiderando-se as relações sociais de mais amplo teor nas quais estas se inserem” (p. 46). Seguindo a Thompson, consistiria em compreender que “as classes ‘acontecem’ ao viverem, os homens e as mulheres, suas relações de produção, e ao experimentarem suas situações determinantes, dentro de um conjunto de relações sociais com uma cultura e expectativas herdadas, e ao modelarem estas experiências em formas culturais” (p. 46).
Para atingir o objetivo proposto, Mário Jorge Bastos parte, então, da sociedade ibérica. Em seus primórdios, identifica as transformações cruciais que explicam o sentido que o cristianismo alcançou, encontrando-as na constituição da família. Com base num corpus documental rico e variado, e já muito trilhado pelos historiadores, o autor desvela as mudanças que se operaram no seio das famílias senhoriais e camponesas, cujo resultado mais evidente foi a nucleação, em detrimento do modelo da família extensa, acompanhada de um sistema de inter-relações sociais verticais do parentesco, que coloca a aristocracia no vértice dessa relação.
A Igreja, como instituição basilar do período, somente poderá ser compreendida a partir do papel que aquela aristocracia assume, sobretudo ao nível local, na reelaboração social dessas estruturas de parentesco. Portanto, a Igreja, com seu inegável crescimento, é fruto dessa aristocracia e do campesinato, e não uma espécie de guardiã da virtude institucional, que a duras penas sobrevive à ignorância da sociedade e das superstições pagãs. O título do segundo capítulo, “A igreja no quadro da sociedade senhorial”, não deixa dúvidas quanto à posição do autor com relação ao imponente legado jurídico que essa instituição nos deixou para o período visigodo, e que costuma influenciar os historiadores:
É totalmente outra a perspectiva que assumo, tendo em vista que o objeto deste estudo não é a doutrina jurídica da igreja, mas são as práticas e relações sociais efetivas que estruturaram a instituição e a sociedade global na qual a mesma estava inserida. Nesse sentido, a recorrência da afirmação, o ajuste e a ampliação daquele conjunto de normas expressam as tensões e os conflitos característicos do funcionamento contraditório da realidade social ibérica do período, o que explica a incapacidade dos legisladores de promover a sua plena resolução. (p. 104-105)
No que se refere aos níveis inferiores da sociedade, a Igreja faz-se representar nos párocos, cujas condições jurídicas não diferem muito daquelas que atam os camponeses aos senhores. São, portanto, clérigos dependentes no âmbito do senhorio. Neste sentido, a conclusão do autor aponta para o papel primordial que a Igreja alcançou na qualidade de fruto mais visível da sociedade senhorial.
Como dito, as fontes documentais que embasam o livro são aquelas já conhecidas pela historiografia. No quarto capítulo, Mário Jorge Bastos apoia-se num desses famosos documentos, De corretione rusticorum, de Martinho de Braga, no intuito de desvelar os eixos centrais da argumentação cristã, sem deixar de destacar as formas como a historiografia costuma interpretar esse tipo de discurso. Com relação ao primeiro aspecto, é importante compreender que a ortodoxia era atravessada por uma infinidade de interpretações e de disputas eclesiásticas em torno da verdade. Os concílios são reveladores desse ambiente de multiplicidades teológicas, que devem ser explicados também na perspectiva da luta pelo reconhecimento de uma única autoridade que exercesse o poder, e que preservasse a Igreja da total entropia que os particularismos supunham. Assim, é imprescindível que o historiador não perca de vista a fragilidade da fronteira entre heresia e ortodoxia, que se estabelecia ao sabor dessas disputas. O autor sugere que é justamente sobre essa elasticidade que se vai construindo a unidade da Igreja, muito embora se deva afastar completamente aquela surrada ideia de que a instituição virtuosa cede, de forma inteligente e calculada, frente à ignorância e ao paganismo para não perder demasiado terreno, ou, então, aquela outra interpretação de que a Igreja se desvirtua, devido à “paganização” de seus membros. A mensagem mais importante de Martinho de Braga, em seu sermão, incide sobre a forma (súmula) como “vincula os crentes ao projeto global de ordenação social deliberado pelas elites clericais” (p. 123), revelada pela divindade. Ignorar a vontade de Deus é o caminho para a perdição, que só pode ser evitado por meio da submissão àqueles que poderão conduzir à verdade: o clero ortodoxo. Somente este pode identificar o que é sagrado, bem como as práticas corretas de devoção, as quais necessariamente devem ter a sua intermediação. Caso contrário, trata-se de manifestações demoníacas e pagãs que devem ser suprimidas, sob a pena de condenação eterna. A estratégia do discurso de Martinho, para impossibilitar que essas manifestações possam ser vistas como parte de um “sistema religioso concorrente”, é retirar-lhes qualquer conteúdo sagrado, e apresentá-las como práticas laicas e históricas. Trata-se, portanto, de uma proposta religiosa que quer abarcar a realidade total e colocar a Igreja como a única capaz de realizar plenamente a história humana, de acordo com os desígnios de Deus, e a elite clerical como a autoridade cognitiva cristã que interpreta corretamente o mundo.
Do que se disse até aqui, depreende-se um projeto político de hegemonia. Este conceito será apresentado pelo autor de maneira a ressaltar a necessidade de entendê-lo numa perspectiva dinâmica, de constantes transformações, coisa que de resto fez a elite cristã ibérica. Se para os historiadores parece importante decidir se a época era mais de continuidades ou de rupturas, para esses medievais era na tradição que se ancorava o movimento da história. As mudanças que eles propunham eram “uma versão do passado que deve ligar-se ao presente e ratificá-lo, inclusive pelas transformações que se impõem à sua plena adequação” (p. 138). A hegemonia assenta-se no passado, na tradição, e mesmo que o historiador decida tratar-se de ‘reminiscência/sobrevivência’, ela é vivida com o significado que o presente lhe atribui. Ao mesmo tempo, é preciso não esquecer que a hegemonia eficaz precisa contar com o ‘consentimento dos dominados’ – conceito de Maurice Godelier -, o qual se obtém graças à constante reafirmação dos sentidos do poder, que se assenta na “partilha das representações do mundo” (p. 152). Ao desenvolver os argumentos, Mário Jorge Bastos deixa bastante clara a inutilidade das medições sobre o que há de continuidade ou de ruptura; o importante é que o historiador não deixe de explicar de que forma esses aspectos se amalgamam no cotidiano da sociedade. A chave reside em ampliar os horizontes do que se entende por economia na Idade Média, o que permitirá concluir que “toda naturalização das relações sociais de produção desemboca, necessariamente, em sua sobrenaturalização” (p. 158). Portanto, o fenômeno alcança senhores e camponeses que elaboram e dão sentido às relações que estabelecem entre si e com a natureza, por meio da religião. Tal proposta afasta-se daquelas que reduzem a religião ao nível das ideias, como se fosse possível partir unicamente do pensamento para desvendar seu significado. Apoiado em Marx, o autor sublinha que “a religião remete ao quadro geral da estrutura social e a processos sociais concretos (…) isto é, a uma apreensão global da sociedade, uma vez que constitui e expressa suas hierarquias e desigualdades, imiscuindo-se aos processos de dominação e resistência” (p. 164).
A proposta que o cristianismo oferece à sociedade nos primeiros séculos da Idade Média é englobante, de acordo com a máxima de que o poder divino tudo abarca. Tal capacidade de intervenção de Deus na vida dos homens é visível nos escritos de Ambrósio, Agostinho, Isidoro de Sevilha, Aurélio Prudêncio, Ildefonso de Toledo e outros autores a quem recorre Mário Jorge Bastos para fundamentar sua reflexão. Assim, as relações sociais são também uma preocupação da divindade, que se manifesta por meio da sacralização dos laços de dependência, da fidelidade e dos vínculos pessoais. A retórica do cristianismo revela uma profunda interligação entre o plano terrestre e o celestial, não como simples estratégia de legitimação da ordem social, mas como resultado da profunda imbricação entre as relações sociais de produção e o plano religioso. A própria monarquia visigoda constrói-se, como prática e discurso, sobre a concepção do ungido de Deus, senhor de terras e de homens, coisa que não o diferenciava qualitativamente do tipo de poder que era exercido pela aristocracia.
A difusão dos valores sociais da aristocracia cristã assume especial visibilidade com o culto aos santos e às suas relíquias. Criam-se ambientes onde se materializa o modelo e difundem-se narrativas. Por um lado, os lugares de culto povoam-se de provas que avalizam a existência histórica dessas virtudes (os santos) e as hagiografias encarregam-se de disseminar a sua fama. Os mosteiros e as igrejas são os lugares ideais para esse fim, aos quais a própria aristocracia se associa, por meio das fundações, da participação direta no corpo eclesiástico, e dos enterramentos, que compartilham o mesmo espaço físico dos santos. Ao analisar as famosas hagiografias ibéricas do período, o autor mostra como o discurso que lhes dá sentido assenta-se nas relações de patrocínio, fidelidade e dependência, bem como na afirmação da Igreja como a única ordo capaz de guiar os cristãos à salvação. Da mesma forma, os rituais propiciatórios (oferendas) afirmam e revitalizam a “concepção senhorial das relações sociais fundadas na munificência, na liberalidade característica da aristocracia, mas que atuam em prol do fortalecimento de seu prestígio social, de seu poder e, em última análise, de capacidade de impor-se aos seus dependentes” (p. 229). Oferece-se ao senhor (Deus) não porque ele precise, mas para que ele restitua os dons, abençoados e multiplicados.
Mas, ficaria ainda uma pergunta: como interpretar a pertinácia daquilo que a autoridade classificava como heresia?
Ora, a contumácia manifesta nessas concepções e práticas dissonantes, renitentes e heterodoxas parece-nos revelar um processo muito mais complexo, em seu curso, do que o da suposta unificação religiosa atingida com a “conversão do Ocidente ao cristianismo”, complexidade intimamente articulada às contradições sociais intrínsecas à implantação da sociedade senhorial no período, e manifestação vigorosa dos conflitos que matizaram todo seu processo! (p. 233)
Enfim, Mário Jorge Bastos mostrou que assim como as coisas se organizavam na terra, refletiam-se no céu. Para tanto, foi necessário entender que as relações de produção organizavam-se de maneira complexa, sob formas jurídicas, políticas e culturais específicas (tipos de dominação, de coerção, de propriedade e de organização social), presentes desde o início do processo como parte constitutiva e primordial. Portanto, não se trata de apresentar essa dimensão como secundária, ou mero reflexo, o que se afasta completamente da ideia de que a base econômica se reflete mecanicamente na superestrutura. Um exercício de história que permite repensar as maneiras como a historiografia tem explicado a “conversão do Ocidente ao cristianismo”, bem como acompanhar a renovação da abordagem marxista da História. Mas, diante das dificuldades que a Academia tem para conviver com a pluralidade, talvez o livro seja marxista demais para gregos e marxista de menos para troianos…
Maria Filomena Pinto da Costa Coelho – Doutora em História Medieval pela Universidad Complutense de Madri (Espanha) e professora da Universidade de Brasília (UnB). Brasília, DF, Brasil. E-mail: [email protected].
Du diocèse à la paroisse: Évêchés de Rennes Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle – LUNVEN (Topoi)
LUNVEN, Anne. Du diocèse à la paroisse. Évêchés de Rennes Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2014. 432 p. Resenha de: CASTANHO, Gabriel de Carvalho Godoy. Edificar territórios, governar o sagrado: história da espacialização eclesiástica medieval a partir de um caso (supostamente) controverso. Topoi v.16 n.30 Rio de Janeiro Jan./June 2015.
Anne Lunven nos oferece um ótimo exemplo metodológico e analítico dos estudos históricos da Igreja medieval desenvolvidos nesse início de século XXI. Historiadora e arqueóloga, a pesquisadora pratica em seu livro a interdisciplinaridade e a renovação documental largamente defendida e desejada pela Nova História francesa há cerca de 40 anos. Se, por um lado, o uso de material arqueológico se impõe aos pesquisadores da alta Idade Média (período para o qual dispomos de um número insuficiente de testemunhos escritos), por outro, foi preciso a implementação sistemática de escavações de salvamento a partir dos anos 1970 (sobretudo após meados da década seguinte) e a acumulação de dados, provenientes do que se habituou chamar “arquivos do solo”, nas últimas décadas para que passássemos a dispor de informações quantitativamente relevantes e qualitativamente variadas capazes de fornecer bases sólidas para análises históricas do passado nas terras da atual França.
O livro de Lunven nos apresenta toda a riqueza e os limites do estado atual das escavações em três regiões importantes e que constituíam então a fronteira entre o mundo franco e o mundo bretão. Região de transição cultural e política, a área das dioceses de Rennes, Dol e Alet (cuja sede foi transferida para Saint-Malo em meados do século XII) não escapa a uma dificuldade maior dos estudos arqueológicos atuais, a saber, uma identificação certa da natureza dos traços de ocupação humana encontrados no solo. Grosso modo, a dificuldade repousa sobre o fato de que durante muito tempo (até pelo menos o começo do século XI, muitos lugares de culto – capelas, igrejas etc. – não eram construídos em pedras, mas em madeira, como o eram também os locais de habitação – casas). Tal indefinição na identificação da modalidade de ocupação do solo tem como correlata a questão da constituição da diocese e da paróquia.
Por muito tempo tidas pelos historiadores como um dos principais legados romanos para a Idade Média, a paróquia e a diocese compõem, atualmente, uma das frentes de trabalho mais importantes do que podemos chamar de “nova história da Igreja medieval”. De grande importância entre os medievalistas franceses na última década, essa maneira renovada de se estudar a instituição eclesiástica medieval parte de um princípio fundamental bastante simples: conhecer os meios e as etapas de construção dogmática da instituição eclesiástica. Utilizando o termo “dogma” pretendo nomear não apenas as concepções intelectuais da fé cristã ligadas à revelação divina e, portanto, tidas pelos fiéis como um conjunto de verdades incontestes, universais e a-históricas. Pretendo com o uso da palavra “dogma” evidenciar a forma como a própria história da instituição eclesiástica (sua ancoragem espacial, a formação de seu corpo profissional e o exercício de seu poder) está associada aos dogmas da Igreja, fazendo com que aquilo que foi o resultado de uma construção histórica (a presença da Igreja neste mundo) seja tomada como uma realidade atemporal tributária de uma suposta vontade divina. Nesse sentido, e por oposição a uma história confessional que por muito tempo dominou os estudos da Igreja medieval, os historiadores têm recentemente posto em causa a ideia de que o quadro territorial dessa instituição tenha sido marcado por uma inércia temporal responsável pela transferência dos quadros imperiais romanos para a instituição eclesiástica medieval.
Como bem lembra Florian Mazel em um dos prefácios à obra, é apenas no século XVII que o primeiro mapa cartográfico apresentando a disposição espacial das igrejas foi produzido. Para os períodos anteriores dispomos do rol de bispados produzido pela administração imperial entre o final do século IV e início do século V (Notícia das Gálias) e do Provincial Romano produzido pela chancelaria pontifical no século XII sob a forma da listagem universal de províncias e dioceses que compunham a cristandade latina. A somatória dessas listas com a ausência de documentação mais detalhada e contínua entre a Antiguidade tardia e a Idade Média central levou historiadores a defenderem a continuidade entre as cidades e as dioceses antigas e medievais por meio de uma suposta territorialidade das paróquias merovíngias. Trabalhando com um quadro regional preciso e com o jogo de escalas paróquia-diocese, Lunven nos apresenta um panorama bastante diferente em que a relação cidade-diocese não é dada, mas sim construída ao longo do tempo seguindo diferentes vias e ritmos. A autora revela ainda substancial enfraquecimento do referencial territorial na composição dos espaços estudados até pelo menos o século XI.
De fato, seguindo de perto a nova história da Igreja medieval evocada anteriormente, a autora traça uma história da polarização espacial em torno do lugar de culto como elemento estruturante da organização social. Assim, de uma alta Idade Média marcada por uma baixa territorialidade do domínio eclesiástico e por uma alta personalização (sob a tutela de verdadeiras famílias sacerdotais, único elemento de ligação entre os locais de culto) passa-se ao estabelecimento de uma polarização hierarquizada a partir da sede da diocese de onde emana o poder episcopal. Tal poder passará, entre os séculos XII e XIII, a ser exercido localmente por arquidiáconos e deões (cada um responsável por uma rede intermediária de locais de culto e seus dependentes). Entre um momento e outro temos um longo processo histórico de afirmação da diocese que se manifesta semanticamente pela difusão do uso do termo diocesis em detrimento de parrochia ou episcopatus. Período de gestação no qual a autora destaca o esforço dos bispos (desde o século IX e, sobretudo, após o século XI) em conquistar, para sua igreja, as regiões em disputa com outros centros de poder. O aspecto principal desse processo de construção de um território eclesiástico identificado com o que hoje entendemos por diocese teria ocorrido no espaço estudado entre 1050 e 1150 quando os textos escritos passam a diferenciar claramente as terras ligadas ao episcopatus e as áreas dependentes de outros poderes como o pagus.
Ao inserir a Bretanha, tida como uma região sui generis pela historiografia tradicional, na lógica de polarização espacial em torno dos locais de culto por meio do fortalecimento da relação de dominium, a autora demonstra que o caso de Dol, organização episcopal constituída a partir de um antigo mosteiro, é, na verdade, único e não uma regra para a região, como se pensava anteriormente. O livro de Lunven nos indica ainda, e com riqueza de detalhes, o ritmo sob o qual se deu a expansão do poder territorial da Igreja na região: 1) a presença de uma grande quantidade de igrejas em meados do século IX sem que se possa falar propriamente em uma rede (ou seja, conexões entre os locais de culto) hierarquizada ou mesmo de um tecido paroquial constituído sobre a lógica territorial (até o século XI a tendência geral é o aparecimento de igrejas onde já existem habitantes e não o inverso – ver p. 79); 2) a afirmação de um polo eclesiástico que ao mesmo tempo atrai a população (criação do cemitério) e projeta seu poder de dominium (recebimento de tributos) sob uma rede cada vez mais articulada de igrejas dependentes a partir dos séculos XI e XII (é importante notar que essa alteração na organização social da Igreja é contemporânea ao amplo movimento de reconstrução de locais de culto que passaram então a ser construídos em pedra e não mais em madeira, testemunho da importância adquirida pela manifestação terrestre da instituição eclesial); 3) a encarnação do poder da Igreja por meio do estabelecimento de uma hierarquia administrativa responsável por centralizar o recebimento dos tributos e administrar os sacramentos após o século XII.
Rico em gráficos, mapas e contando com mais de duas dúzias de fotografias coloridas dos sítios estudados, bem como uma série de anexos documentais, o livro segue o formato francês tradicional com uma divisão em três partes, cada uma subdividida em dois capítulos. Seguindo uma lógica cronológica, cada parte apresenta uma etapa na formação da paróquia e da diocese medieval na região estudada. Na primeira parte, após analisar as estruturas eclesiásticas da alta Idade Média, a autora defende a impossibilidade de falarmos em diocese ou em paróquia antes do século XI. A segunda parte aborda as mudanças trazidas pelo pensamento dito gregoriano que teria sido o responsável pela associação entre novas práticas de consagração dos espaços e a valorização dos edifícios eclesiásticos, levando a uma concepção hierarquizada dos lugares de culto, locais onde “se encarnava o céu” (p. 28). Por fim o texto termina com um estudo dos mecanismos administrativos necessários para a gestão dos territórios eclesiásticos que se encontram entre os séculos XII e XIII quase totalmente formados.
Os dois primeiros capítulos, amplamente fundados em documentação arqueológica, nos oferecem uma argumentação ímpar contra a ideia corrente entre os historiadores de que as dioceses seriam herdeiras das civitates romanas, enquanto as paróquias seriam tributárias das villae galo-romanas e do vici (terras de uma aglomeração secundária). Contrariamente também à historiografia local que via na plou (vocábulo oriundo do romano plebs usado para nomear a forma bretã dada à paróquia) uma comunidade autônoma, Lunven demonstra que a autoridade eclesiástica tinha um caráter pessoal e local antes de se projetar sobre um território (p. 104-122). O caso de Rennes é bastante revelador da dificuldade em se estabelecer uma relação entre os locais de culto e um território habitado sob seu controle uma vez que esta cidade, capital religiosa segundo a documentação escrita, não possui atualmente, em seus arquivos do solo, nenhum indício arqueológico que testemunhe a vida pública ou a existência de habitações entre os séculos IV e X-XI (entre um período e outro dispomos apenas de material funerário, o que confirma a ocupação perene da cidade ao longo dos séculos – ver p. 43-44).
A argumentação da autora se baseia em uma distinção entre poder e espaço, uma vez que sua leitura da documentação diplomática sugere que a referência episcopal empregada nesses escritos indica “mais o reconhecimento de uma autoridade do que o pertencimento ao território da diocese” (p. 59). Tal distinção pode parecer estranha para o leitor contemporâneo acostumado a associação entre as duas esferas (espaço e poder) subjacente a nossas concepções atuais de espaço público e de Estado. No entanto, do mesmo modo que as noções de “público” e de “Estado” devem ser usadas criticamente quando aplicadas à Idade Média, o uso de “território” deve levar em conta o fato de o período medieval não conceber o espaço (até pelo menos a segunda metade do século XII) como uma entidade homogênea e contínua. A consequência é que o poder medieval se exerce localmente e de um ponto a outro segundo uma economia da salvação cada vez mais centrada na instituição eclesial. Exemplo disso é que uma parcela importante das igrejas que se tornarão centros paroquiais entre os séculos XI e XIII já existia desde a alta Idade Média, ainda que sem projetar seu controle sobre o território. Por outro lado, as igrejas fundadas a partir do século XI por laicos ou decorrentes de desflorestamento (em ambos os casos trata-se de novos locais de culto) não criavam automaticamente novas paróquias (p. 91, 99 e 100).
Os capítulos três e quatro, embora ricos em informações e reflexões a respeito da organização eclesiástica na área estudada, fornecem poucos elementos novos para a discussão mais geral a respeito da polarização do espaço em contexto de fortalecimento do discurso espiritual por parte dos membros da Igreja. Grosso modo, pode-se dizer que a autora compreende os movimentos ditos reformistas dos séculos XI-XII como uma estratégia política mais do que um esforço pela correção das funções eclesiásticas (p. 191). Mesmo assim, a partir da cultura material o livro apresenta elementos interessantes que fortalecem a necessidade da revisão do paradigma historiográfico que defende a existência de uma verdadeira onda de construção de novas igrejas no começo do século XII (na esteira da chamada mutação do ano mil proposta por G. Duby). Material arquitetônico em mãos, Lunven confirma a abertura de diversos canteiros de obras entre os séculos X e XII, mas demonstra não se tratarem de novas construções e sim de reformas. Ou seja, em vez de se falar em multiplicação de locais de culto, devemos falar em mudança na natureza dos prédios já existentes (p. 164 e 176-184). É o que a autora chama de “petrificação da igreja e construção aqui em baixo da Cidade celeste” (p. 176). Tal alteração no continente (igreja) está ligada a uma alteração no conteúdo (comunidade) por meio da revalorização da noção de ecclesia em seu aspecto polissêmico (metafórico e metonímico) estudado, entre outros, por D. Iogna-Prat (p. 179).
Por fim, os dois últimos capítulos abordam a formação administrativa das igrejas, condição fundamental para o estabelecimento e a manutenção das dioceses e das paróquias. No primeiro caso, o século XII aparece novamente como momento capital. Monges e cônegos dispondo de sólida formação intelectual passam a destronar as dinastias episcopais que reinavam na região até então (p. 270-271). A partir daí observamos as chancelarias episcopais de Rennes, Alet e Dol se desenvolverem gradativamente e de forma perene (p. 278-279). Para controlar as igrejas dependentes que se encontram espalhadas, algumas vezes a quilômetros de distância, os bispos passam a empregar uma hierarquia administrativa fundada nos arquidiáconos e nos deões. Estes são responsáveis, entre outras tarefas, pela coleta dos tributos previamente recolhidos pela escala mais baixa deste novo corpo administrativo, os padres em suas paróquias. De fato, a diocese e a paróquia passam, cada vez mais, a se tornar um referencial fiscal: o centro para o qual convergem os tributos. Contudo, ainda que desde o final do século XI o fiel de uma igreja tenha passado a ser identificado como residente de uma paróquia (p. 325), a preocupação com uma delimitação espacial precisa dessa unidade eclesiástica de base era um fenômeno marginal durante a Idade Média. A definição dos limites paroquiais, quando acontecia, se dava nos seguintes contextos de disputas de fronteiras: em torno da clausura monástica; dentro de um sítio castelão; ao longo da formação de novos centros; durante os trabalhos de arroteamento, quando da divisão do dízimo (p. 336). Todo esse sistema parece ter atingido seu ápice na região durante o século XIII, uma vez que algumas paróquias chegaram a ser suprimidas após esse momento (p. 324).
Ao final do livro algumas conclusões regionais se impõem: 1) os séculos XI e XII foram um momento capital da organização territorial eclesiástica; 2) os mundos bretão e franco não se diferem em suas estruturas eclesiais nem em suas baixas territorialidades eclesiásticas; 3) de uma situação de independência existente entre os homens e um local de culto específico durante o período carolíngio passa-se à hierarquização (sacralização) espacial e social entre os séculos XI e XII.
A variada e abundante documentação utilizada não impediu que a autora realizasse uma análise detalhada e articulada de seu material. O livro tem o grande mérito de buscar na realidade histórica estudada a definição dos conceitos analíticos utilizados (diocese e paróquia, por exemplo). No entanto, um olhar conceitual atento às abordagens teóricas contemporâneas (como a ampla discussão de geógrafos e filósofos da segunda metade do século XX a respeito da noção de território) e à organização dos grupos religiosos medievais (cônegos regulares e monges são tidos pela autora como simples equivalentes – p. 115 e 235 – e a incerteza na diferenciação ou na semelhança entre cônegos regulares e o capítulo das catedrais – p. 285-296) poderia esclarecer o propósito de Lunven e evitar confusões desnecessárias. No primeiro caso, a apresentação teórica do conceito contemporâneo de território facilitaria a compreensão da alteridade medieval e sua separação entre espaço e autoridade (elementos hoje profundamente imbricados). No segundo, a confusão entre diferentes grupos sociais de religiosos oblitera a importância da emergência da normalização das práticas espirituais no processo de implantação territorial e administrativa da Igreja.
De todo modo, o livro é uma contribuição importante não apenas para os estudiosos da Bretanha, mas também para os medievalistas em geral e mesmo para os modernistas interessados na história da Igreja. De fato, fica claro ao longo dos capítulos que a instituição eclesiástica é o resultado de uma constante construção administrativa do espaço. Um processo histórico que abarca também o crescente interesse eclesiástico em controlar os principais momentos das vidas dos fiéis mediante o pagamento de tributos. Será sobre essa base administrativa e moral bem assentada localmente que surgirá o Estado moderno calcado no controle de um território, mas isso já é outra história.
Gabriel de Carvalho Godoy Castanho – Doutor em Histoire et Civilisations pela École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected]
A invenção da terra de Israel – SAND (Topoi)
SAND, Shlomo. A invenção da terra de Israel. São Paulo: Benvirá, 2014. Resenha de: TRAUMANN, Andrew Patrick. A Terra Prometida em uma bandeja colonial. Topoi v.15 n.29 Rio de Janeiro July/Dec. 2014.
Shlomo Sand, professor de História Contemporânea da Universidade de Tel Aviv, já havia causado polêmica com o seu livro A invenção do povo judeu, traduzido para mais de 20 idiomas, em que desconstruiu o mito dos judeus como um povo monolítico, eternamente errante e obcecado pelo retorno a Sião. O argumento central, recuperado nesta nova obra A invenção da terra de Israel, é que a base para a criação de Israel é a expulsão dos judeus da Europa no final do século XIX e as restrições à imigração estabelecidas pelos Estados Unidos no início do século XX. Somente a descoberta da real dimensão dos horrores do Holocausto tornaria a criação de um Estado judeu algo inatacável.
Para Sand, a expressão “povo judeu” é tão desprovida de sentido quanto se referir a um povo budista ou baha’i. Ao contrário do que irá ocorrer a partir do medievo, o judaísmo foi uma religião fervorosamente proselitista e este foi um dos principais pontos de atrito com a cultura greco-romana, levando o imperador Adriano a proibir a circuncisão em todo o império, inclusive aos judeus. Seu sucessor, Antonio Pio, revogou a proibição da circuncisão aos judeus, mas passou a punir a conversão ao judaísmo com a morte. Este período proselitista que vai de II a VIII d. C. explica o enorme número de judeus na Europa e posteriormente de cristãos novos em relação com o pequeno povo sob ocupação romana na Judeia dois mil anos antes.
Engenhosamente, o autor ataca a ideia do direito superior de um povo exilado em 73 d.C., em detrimento daqueles que lá viviam há mais de um milênio. Provocativamente, questiona por que também não seria possível um “direito de retorno” dos árabes à Península Ibérica ou dos nativos norte-americanos a Manhattan. O mito do Retorno e da criação de Israel é apenas mais um dos mitos típicos do colonialismo que eram usados para justificar empreendimentos exploratórios no final do século XIX. Afinal, os recém-chegados da Europa Oriental não migravam para a Palestina com o mesmo propósito dos judeus que chegavam como imigrantes a Nova York ou Londres, ou seja, viver em simbiose com os habitantes mais antigos, mas sim tomar a terra como sua, como se algo perdido há muito tempo estivesse sendo restituído a seus legítimos donos, mesmo que pouquíssimo em comum houvesse entre os zelotes que resistiram aos romanos no templo e aquelas famílias polonesas desembarcando na Palestina em 1920.
Theodor Herzl, que com a publicação de Die Judenstadt sistematizou o sionismo, não ignorava a existência dos árabes, mas num exercício mental típico do colonialismo europeu, acreditava que os árabes, mesmo que contrariados no início, acabariam por reconhecer os benefícios materiais do velho binômio imperialista “o progresso e a civilização”. No seu projeto de Estado, Herzl reconhecia que os nativos poderiam ter direitos civis, mas não direitos nacionais. Já Ze’ev Jabotinsky, fundador do sionismo revisionista, que dizia olhar os árabes com “polida indiferença”, reconhecia, assim como Davi Ben Gurion, o apego dos palestinos que lá viviam há 1.400 anos a aquela terra e afirmava que o estabelecimento de Israel teria que vir acompanhado da criação de uma Muralha de Ferro militar, política e econômica que eliminaria qualquer resquício de esperança em resistir ao colonizador e os faria negociar em bons termos com Israel. Entre o idealismo ingênuo de Herzl e a Realpolitik de Jabotinsky, um ponto em comum: a inquestionável “superioridade moral” da ideologia sionista. Para Jabotinsky, se o judeu não tivesse absoluta convicção de que o sionismo era “justo” e “correto”, então o melhor seria abandonar a ideia da criação de Israel.
Logo na introdução de seu livro, o autor se coloca a favor da criação de um Estado de Israel inclusivo a todos os seus cidadãos, sem negar os antigos laços da comunidade judaica com aquela terra. De modo inclusivo, Sand compreende a criação de um estado binacional laico e democrático. O ponto-chave da obra é justamente a crítica ao discurso etnocêntrico da excepcionalidade do povo judeu frente aos demais povos que ocuparam aquela região, como caldeus, persas, helênicos, romanos, árabes, turcos e ingleses. Apesar da meticulosa desconstrução do sionismo como um empreendimento colonial racista e explorador, Sand de forma alguma prega que os ponteiros do relógio da História voltem atrás. Hoje Israel é o lar de milhões de pessoas que vivem suas vidas, trabalham, estudam, criam seus filhos, e qualquer delírio de remoção dessas pessoas só geraria uma nova catástrofe humanitária. O autor assim procura se defender de qualquer ataque de que este se colocaria contra o povo de Israel. Trata-se sim de um autor antissionista, não anti-israelense.
A conexão judaica com a região jamais antes havia se traduzido como imigração em massa para a Palestina com a ideia da criação de um lar nacional, uma vez que a ideia de que cada nação teria direito a um Estado correspondente só toma forma na Europa do século XVIII, portanto, qualquer tentativa de demonstrar nacionalismo judaico na Bíblia como algo semelhante ao que compreendemos como nacionalismo hoje é um anacronismo. Tal anacronismo tem sido conscientemente construído pelo nacionalismo israelense, que tem publicado dezenas de obras sobre a terra de Israel (expressão geográfica entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão) que narram sua história sob a ocupação de vários povos usurpadores, como os romanos, árabes etc. O termo Palestina, comum entre os primeiros sionistas, foi apagado das traduções para o hebraico e substituído por Eretz Israel ou a Grande Israel. Segundo Sand, o fato de nunca ter havido correspondência entre o território atual de Israel e a Grande Israel explica muito sobre a ausência de consciência de fronteiras, típica da maioria da sociedade israelense.
O autor demonstra de forma exaustiva como o sionismo foi visto como sacrílego pelo judaísmo rabínico, apropriando-se de símbolos e mitos religiosos judaicos ao mesmo tempo que “trocava a Torá pela Terra e Deus pelo Estado”. Com a gradual ascensão da direita e sua aproximação com colonos que veem a ocupação de Eretz Israel como uma missão sagrada, atualmente esse tipo de posicionamento se constitui como uma de suas bases eleitorais. Se para o judaísmo a conexão com a Terra Santa não necessariamente se traduzia numa reivindicação de posse da mesma, para o sionismo o exílio se transformou num empreendimento colonial de conquista geográfica e física, sem fronteiras definidas. Em termos conceituais, segundo Sand, o termo “Pátria”, que aparece dezenove vezes na Torá, sempre surge no contexto de origem de uma pessoa ou família, nunca no sentido cultural da polis grega em qualquer acepção moderna. Os sionistas esmagadoramente laicos utilizaram, porém, a Bíblia como uma escritura de propriedade da Palestina e transformaram a narrativa da Torá, de uma coletânea de histórias inspiradoras de fé e elevação moral, para uma saga da conquista de uma Pátria por um povo e seu Deus (cuja existência já era abertamente questionada pelos filósofos europeus no século XIX), que seria o mero narrador desse épico. Ironicamente, Sand pergunta: “Como usar a expressão Terra Prometida, se a Força que havia feito a promessa já tinha, para muitos, falecido?”
Outra problemática reveladora apontada por Sand é que nenhum dos grandes profetas do povo hebreu nasceu em Canaã. Na Torá, Deus os manda constantemente para a terra que indicou, desconsiderando os nativos locais. Impossível não fazer uma relação com a atualidade. Ainda mais perturbador é observar a absoluta impiedade dos hebreus em relação aos nativos da terra a qual Deus lhes havia prometido. Em Deuteronômio e principalmente no livro de Josué, Deus ordena a destruição de “tudo na cidade com a espada, todo homem e toda mulher, tanto jovem quanto velho, e todo boi, ovelha e jumento (Josué 6:21). O Livro de Josué é ensinado nas escolas israelenses como a verdade factual da História de Israel sem filtros racionalistas ou interpretativos. É de se pensar que, se houvesse por parte dos meios de comunicação a disposição de se procurar “versículos da espada” na Torá como se faz com o Alcorão, se o judaísmo também não sofreria com o estigma de religião violenta e militarista.
Uma das principais fontes hebraicas não bíblicas, Flávio Josefo, também foi instrumentalizada pelo sionismo. Sua narrativa do levante contra os romanos e da queda de Massada com seu épico suicídio coletivo se transformou hoje num espetáculo de som e luzes que iluminam a velha fortaleza, reafirmando a lenda nacionalista. Na verdade, a luta (cujo desfecho trágico não tem comprovação histórica) nada tinha de nacionalista, mas foi sim fruto de uma crescente tensão entre o monoteísmo fervoroso e messiânico dos hebreus e o politeísmo de seus vizinhos no período proselitista do judaísmo.
Com a queda do Segundo Templo e o exílio ocorre uma espécie de idealização e romantização de Jerusalém, porém, nunca como um local para se apossar ou conquistar, mas para peregrinar ou para passar seus últimos dias. Enquanto aguardavam o Messias e a Redenção, duas religiões mais novas e mais pragmáticas, o cristianismo e o islamismo, dominaram a Palestina de facto. A partir do século III começam a ocorrer as primeiras peregrinações cristãs a Jerusalém e a outras cidades mencionadas na Bíblia. Segundo o autor, tais peregrinações, ao contrário do que ocorre, por exemplo, no islamismo, não configuram pilares da fé, mas manifestações voluntárias e individuais que se revestiam de um caráter investigatório típico dos gregos e que se tornam moda entre pessoas cultas e de posses. Tornaram-se alvo de grande curiosidade na Europa os diários de viajantes que iam ver com seus próprios olhos cidades como Nazaré, Jericó, Belém e, obviamente, Jerusalém. Via de regra esses viajantes ignoravam sumariamente os nativos numa atitude bastante semelhante a que será adotada pelos orientalistas do século XIX. O objetivo principal dessas viagens era comprovar a veracidade do texto canônico, no melhor estilo “…e a Bíblia tinha razão”. Para muitos desses viajantes a mera comprovação da existência física das cidades citadas nos textos bíblicos já era considerada uma “prova” da autenticidade de suas histórias. Essas peregrinações serão interrompidas com a conquista de Jerusalém pelos turcos, que transformará as Cruzadas em, antes de mais nada, peregrinações armadas.
Com a retomada de Jerusalém por Saladino, a memória da cidade como centro espiritual cristão ficará adormecida até o surgimento de um fervoroso movimento de renovação espiritual que criticava a venda de indulgências e o estilo de vida nada monástico da alta cúpula do clero: a Reforma Protestante. Nas regiões alcançadas pela Reforma, a Bíblia substitui o Papa como autoridade divina. No caso da Inglaterra, a identificação entre a nação que desafiava a Igreja, que havia se designado conquistadora de novas terras e que era intransigente na defesa de sua fé com os reis e juízes hebreus, sua obstinação e seu estado de guerra permanente, foi imediata e profunda. Crianças inglesas aprendiam sobre os feitos de Sansão antes de conhecer a história de seu país, e a Bíblia era vista como um compêndio de fatos históricos irrefutáveis. Em sua interpretação, e isso é crucial para que se compreenda a simpatia dos evangélicos por Israel nos dias atuais, o retorno dos judeus a Terra Prometida era condição sine qua non para o retorno de Jesus Cristo e, quando isso ocorresse, os judeus que sobrevivessem ao armagedon se converteriam ao cristianismo. Ou seja, paradoxalmente, a defesa absoluta que os neopentecostais nos Estados Unidos ou no Brasil fazem de Israel decorre de uma crença cujo resultado final será a extinção do judaísmo.
Durante a expansão do império britânico ainda era muito comum relacionar fatos históricos a profecias bíblicas e muitos se viam imbuídos do desejo de cooperar, digamos assim, para que as profecias se realizassem. Eis que é criada então em 1809 a Associação Palestina, cujo objetivo era convencer judeus a voltarem para a “sua terra”. Lorde Shaftesbury, segundo Sand, pode ser considerado o Herzl anglicano e criador do famoso slogan “uma terra sem povo para um povo sem terra”. Shaftesbury, no entanto, não aceitava a eleição de judeus para o Parlamento inglês nem acreditava que estes deveriam ter um Estado Próprio. O aristocrata acreditava que os judeus eram membros de uma raça (conceito comumente usado na época) ancestral e especial, que uma vez que aceitassem Jesus como seu salvador se tornariam parceiros dos britânicos. Embora a ideia de migração judaica em massa para a Palestina se tornasse popular no Parlamento, não podemos esquecer que aquela região na época tinha dono: o Império Turco-Otomano, “o Gigante Enfermo do Oriente” e que portanto, por mais que inúmeros levantes nacionalistas comprovariam a pouca autoridade que restara ao sultanato, a Inglaterra, aliada dos turcos, precisava convencer os otomanos da importância dessa leva imigratória para a economia do império.
Concomitantemente, a Grã-Bretanha tentava deter a onda migratória do leste europeu percebida pelo cidadão médio como maciçamente judaica, o que levou a uma onda de xenofobia na ilha. Nesse contexto, Theodor Herzl consegue uma audiência com Joseph Chamberlain, secretário colonial do Reino Unido. Procurando contornar a questão imigratória e fascinado com o empreendimento sionista, Chamberlain ofereceu como alternativa Uganda, Chipre ou a Península do Sinai como locais de criação do futuro Estado. Apesar do fato de que só a criação de um lar nacional judaico ser levado a sério já fosse para Herzl uma vitória, convencê-los a migrar para Uganda seria ainda mais difícil que para a Palestina, já vista como um destino de apelo muito menor que Estados Unidos ou Europa Ocidental.
No início do século XX Lorde Balfour, que se torna um mito com a declaração emitida em 1917 que leva seu nome, assume o cargo de primeiro-ministro. Balfour ironicamente começa seu mandato restringindo a entrada de judeus na Inglaterra, vistos como um povo que não se integrava à sociedade. No entanto, dono de um sentimento cristão que via com gratidão as agruras que o “povo eleito” passou até a vinda de Jesus, procurou alternativas (bem longe de Londres) para que aquele povo especial pudesse desenvolver seu talento. A Declaração Balfour também tinha objetivos políticos: angariar a simpatia da influente comunidade judaica nos Estados Unidos para que esta pressionassem os Estados Unidos a entrarem na Primeira Guerra Mundial em auxílio dos ingleses, e por outro lado fazer com que os judeus russos pressionassem seu governo a fazer o oposto, ou seja, não deixar a guerra, apoiando franceses e britânicos em troca da criação do prometido lar nacional judaico.
A partir deste momento histórico a Palestina passa a ser uma via de escoamento dessa leva imigratória impedida de entrar nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, e isso levaria aos primeiros enfrentamentos com a população árabe que vivia na tal “terra sem povo”.
No capítulo final do livro Sand reafirma a oposição judaísmo × sionismo e cita o rompimento entre o líder do Rabinato de Viena Moritz Guddermann com Herzl, pois o primeiro afirmava que o judaísmo nunca dependera de tempo ou lugar e que o nacionalismo em voga naquele fin-de-siècle contradizia o espírito universalista do judaísmo. A tese de Sand é que com o Holocausto o sionismo venceu o judaísmo e, com exceção dos ultraortodoxos, em maior ou menor grau, toda a comunidade judaica abraçou o sionismo. Assim, um movimento que visou o extermínio do povo judeu será a mola propulsora da concretização do sonho de Herzl mais de cinco décadas após a publicação de O Estado judeu.
No início do século XX a presença judaica na Palestina já se intensificava, com a criação dos primeiros kibbutzim, propriedades comunais fechadas a não judeus e com um senso coletivo bastante arraigado e exclusivista, que impedia a participação árabe, mesmo estes sendo mão de obra barata. Este sistema subsistirá até a Guerra dos Seis Dias em 1967, quando os assentamentos familiares financiados pelo governo substituirão os assentamentos comunais de influência socialista.
A criação de Israel levará à expulsão de cerca de 700 mil palestinos, numa política de limpeza étnica (há controvérsias sobre se foi premeditada ou se foi um resultado da guerra) que levou hoje os palestinos a formarem o maior grupo de refugiados do mundo. A historiografia sionista diz que as famílias árabes não foram expulsas, mas atenderam a um pedido dos líderes árabes invasores para que saíssem e voltasse após estes terem atirado os judeus ao mar. Essa versão hoje é desmentida por veteranos da guerra de 1948, que se dizem arrependidos pelos excessos cometidos, mas que confirmam a expulsão, embora tentem aliviar sua consciência com a justificativa de que sem a remoção dos árabes o Estado judeu seria inviável.
Ao fim da guerra Israel desobedece a resolução 194 da ONU que ordena o retorno dos refugiados, mas em 1950, um ano após o armistício com os árabes, aprova a Lei do Retorno, que concede cidadania a judeus do mundo todo dispostos a “retornar” à terra ancestral. Ou seja, se nega o direito dos vivos da atualidade e se celebra o direito a se “herdar” uma terra que na época pertencia aos romanos e que supostamente era propriedade legítima de pessoas mortas há mais de dois mil anos. No mesmo ano Israel desapropria 40% de todas as terras árabes em seu território. Em 1967, na “guerra que ninguém queria” segundo Avi Shlaim, Israel captura Jerusalém, Colinas de Golã, Monte Sinai, Gaza e Cisjordânia. Conquistou, mas não poderia mais agir como antes. Sand lembra que uma nova expulsão em massa não seria facilmente aceita num mundo pós-colonial e Israel se viu ocupando militarmente mais de um milhão de árabes.
A ascensão da direita sionista, impulsionada pela “quase derrota” na Guerra do Yom Kippur, em 1973, levou a uma aceleração dos assentamentos nos territórios ocupados. Nem todos porém são sionistas fervorosos. Muitos compram terras como investimento, outros se beneficiam dos subsídios governamentais oferecidos para quem se habilita a viver na Cisjordânia. Suas casas são construídas por palestinos sob ocupação necessitados de emprego, e levaram, segundo o autor, a um adiamento de vinte anos na primeira revolta genuinamente palestina, a Intifada. A situação, que parecia controlada para quem não a acompanhava de perto, levou a um levante sem precedentes que culminou nos Acordos de Oslo de 1993, quando finalmente Israel e OLP se reconheceram mutuamente. De lá para cá todos os chanceleres de Israel só ofereceram aos palestinos viverem em bantustões cercados por assentamentos judaicos e controle militar israelense. Os dois lados se encontram cansados. A expansão ininterrupta cada vez mais inviabiliza a criação de um Estado Palestino e a ideia de um Estado Binacional se confronta com a identidade de um Estado judeu. A mitologia da Terra já não convence tantos israelenses e a rotina de humilhações decorrentes dos checkpoints e da demolição de casas leva muitos palestinos a não crerem em solução diplomática. A situação e o crescente isolamento diplomático de Israel não parecem incomodar os últimos governos israelenses, que em média a cada três anos têm invadido Gaza para enfraquecer a infraestrutura do Hamas. Resta a Israel o apoio incondicional de seu lobby no congresso norte-americano, especialmente de congressistas evangélicos que veem Israel não como um Estado normal que deva responder perante seus atos a comunidade internacional, mas como um Estado sagrado no qual cada primeiro-ministro parece automaticamente imbuído da infalibilidade papal, estando acima de críticas simplesmente por se tratar do país do “povo eleito”. Enquanto tal mentalidade que dá a Israel carta branca para agir como quiser persistir, qualquer solução racional parecerá cada vez mais distante.
Andrew Patrick Traumann – Doutor em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e professor do Centro Universitário Curitiba (UniCuritiba). Curitiba, PR, Brasil. E-mail: [email protected].
História da Inquisição portuguesa (1536-1821) – MARCOCCI.; PAIVA (Topoi)
MARCOCCI, Giuseppe; PAIVA, José Pedro. História da Inquisição portuguesa (1536-1821). Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013. Resenha de: SOUZA, Evergton Sales. Uma história da Inquisição em Portugal e no seu império. Topoi v.15 n.29 Rio de Janeiro July/Dec. 2014.
A produção historiográfica sobre a Inquisição portuguesa, em particular aquela relativa a diferentes aspectos da ação inquisitorial, não tem parado de crescer nas últimas três décadas. Contudo, até o presente momento, nenhuma verdadeira tentativa de síntese da história dessa instituição havia sido tentada. Talvez a massa bibliográfica e documental a ser necessariamente manuseada numa tal empresa fosse um dos motivos que concorriam para que especialistas não encarassem esse desafio. Mas, ao mesmo tempo, os estudos publicados nos últimos vinte anos sobre a estrutura e organização da Inquisição portuguesa também proporcionaram um melhor conhecimento de vários aspectos sem os quais seria temerária a realização do ambicioso projeto de escrever uma síntese de sua história. Dois importantes historiadores do mundo português moderno, José Pedro Paiva, professor da Universidade de Coimbra, e Giuseppe Marcocci, professor da Università degli Studi della Tuscia, em Viterbo, encararam o desafio e uniram seus esforços a fim de escrever uma primeira história da Inquisição portuguesa desde sua fundação, em 1536, ao ocaso, em 1821.
O livro contém dezoito capítulos que estão distribuídos em cinco partes, cada uma delas correspondendo a um período da história da Inquisição portuguesa. Assim, vislumbra-se uma proposta de periodização que principia em 1536, com a fundação definitiva do Tribunal, e vai até 1605, com a primeira grande crise enfrentada pela Inquisição. Crise que atinge seu clímax com a concessão do perdão geral aos cristãos-novos, dado pelo papa em breve de 23 de agosto de 1604 – o qual só viria a ser publicado em Goa no ano de 1705. A Inquisição sofreu grande derrota nesse episódio, tanto mais que o breve era fruto dos esforços de famílias cristãs-novas que denunciaram em Roma as arbitrariedades cometidas pelo Tribunal português e conseguiram convencer – a custo, inclusive, de promessas de vultosas somas – a coroa espanhola a apoiar suas demandas junto à cúria romana. O segundo período se estende de 1605 a 1681 e configura-se como época de apogeu do Tribunal que, recuperado da derrota de 1604, intensificaria e ampliaria seu raio de ação na sociedade portuguesa até novamente estalar uma grave crise que culminaria com a sua suspensão pelo papa, em 1674. O restabelecimento do Tribunal, em 1681, é a página final de um período e a abertura de outro que seria marcado pela “busca de um novo caminho”, no qual estão ainda patentes os traços distintivos que denotam o prestígio da instituição na sociedade portuguesa, bem como sua estratégia de se fazer admirar, respeitar e temer pelo teatro do poder e pelo espetáculo do castigo. Entretanto, ao avançar do século XVIII, alguns problemas irão mostrar os limites do novo caminho. A crise aberta pela querela do sigilismo, na década de 1740, deixaria marcas profundas na história das relações entre a Inquisição e o episcopado, solapando uma das bases do seu poder e legitimidade. Esta fase que os autores chamaram de “Inquisição barroca” se estendeu até 1755, quando após o terremoto e com Sebastião José de Carvalho e Melo a ganhar mais e mais poder no seio do governo, inaugura-se uma nova época na qual o arrefecimento à perseguição aos cristãos novos e o declínio do poder e prestígio do Tribunal vão se tornando uma realidade palpável. Do nosso ponto de vista, esta data se configura como a que coloca mais problemas nesse esforço de periodização empreendido por Marcocci e Paiva. Enquanto as outras datas marcam momentos críticos ligados à própria história da instituição, aqui se trata de um evento maior, o terremoto, mas que não tem ligação direta à instituição, a não ser, evidentemente, pelo fato de os Estaus terem vindo abaixo com o terremoto. Poderíamos indagar, por exemplo, por que não fazer terminar a fase barroca em 1750, ano da morte de d. Nuno da Cunha e fim do longo reinado de d. João V? Mas, deve-se convir que, no presente caso, avançar ou recuar cinco anos é um problema menor frente ao trabalho desenvolvido por esses autores. O certo é que a nova fase será marcada pelo signo de sua dominação pelo Estado. Com efeito, a instituição submeteu-se inteiramente, como nunca antes o fizera, aos objetivos do centro de poder político. Despojada de seus inimigos de sempre, os cristãos-novos, ela definha até sua extinção, em 1821. É verdade que os autores optaram por tratar do fim do Tribunal na quinta e última parte da obra. Fizeram-no, contudo, observando uma lógica particular à exposição do texto, estabelecendo uma ligação coerente entre a extinção da instituição, que àquela altura já não era mais do que um corpo moribundo, e a sua emergência como objeto de memória e história estudado e debatido desde então.
Ao conhecimento da bibliografia atinente ao tema os autores desta obra aliaram o das fontes documentais. Aqui repousa uma de suas características distintivas: trata-se de síntese que não abre mão da construção de um conhecimento histórico largamente fundamentado na documentação disponível. Isto faz com que o livro seja lido com muito proveito tanto pelo público não especialista quanto por aquele especializado, pois ao tempo em que condensa num único volume um conhecimento esparso em múltiplos livros e artigos, apresenta também novos problemas e novas conclusões retiradas de um conhecimento imediato das fontes. Daqui também se origina uma compreensão da história da Inquisição que consegue manter um distanciamento benéfico ao exame desse objeto tão complexo e que desperta, por vezes, discursos e análises eivados de passionalidades. Marcocci e Paiva levam ao pé da letra o ensinamento de Marc Bloch sobre o ofício do historiador e seu dever de compreensão – e não julgamento – dos fatos estudados. Não se trata de adotar uma atitude complacente em relação ao significado dessa instituição na história da humanidade, mas de procurar compreendê-la no seu devido contexto. Os autores explicitam isto ao afirmarem que:
a Inquisição é, sem dúvida, um símbolo dos excessos de desumanidade a que se pode chegar em nome da religião e do que se considerava a verdade. Ainda assim, representa também uma instituição filha do seu tempo que, para ser seriamente compreendida, precisa de ser estudada no seu contexto e nas suas consequências concretas. (p. 14)
Apresentar a Inquisição como “filha do seu tempo” pode, à primeira vista, parecer uma fórmula fácil, mas sua real profundidade revela-se na medida em que os autores vão desenvolvendo uma das ideias centrais do livro e que se encontra magistralmente exposta no capítulo 6, “O medo de uma sociedade impura”. Evidencia-se que uma lógica de intolerância e ideais de pureza de sangue estavam difusos na sociedade. Esses elementos explicam muito da origem e do desenvolvimento do Tribunal do Santo Ofício em Portugal. Compreende-se, assim, que a instituição não foi imposta, mas desejada por amplos setores da sociedade tomados por uma obsessão antijudaica. Esses mesmos setores, com o passar do tempo, pressionaram a coroa a adotar políticas cada vez mais discriminatórias em relação aos cristãos-novos. Aqui se descortina mais uma linha de força deste livro que ao contar a história da Inquisição não o faz a partir de um olhar circunscrito à instituição, mas procurando observar sua inserção no – e sua interação com o – contexto social, cultural, político e econômico de seu tempo.
Para Paiva e Marcocci a Inquisição foi, sobretudo, um tribunal eclesiástico que tinha seu lugar junto a outras instâncias que formavam o complexo ordenamento jurídico português da época moderna, mas também foi um lugar de poder (p. 15). Ao longo da obra, nota-se como o tribunal português, cuja rápida ascensão se deveu ao apoio da coroa, mas também aos ventos da contrarreforma, adaptou-se aos jogos de poder na busca de construir e manter sua relativa independência vis-à-vis do poder monárquico e, embora subordinada ao papa, procurando não se dobrar inteiramente ao seu poder. Nesse sentido, a dinâmica das relações entre Inquisição, monarquia e Roma apontada na obra pode nos fazer pensar no dilema do clero galicano em sua vontade de autonomia em relação ao rei e ao papa. Contudo, a similitude fica restrita a este campo, pois do ponto de vista eclesiológico a Inquisição portuguesa jamais flertou com as ideias galicanas, demasiado episcopalistas e pouco favoráveis à instituição inquisitorial.
Esta História da Inquisição portuguesa exprime uma constante preocupação em descrever e analisar a ação inquisitorial numa escala geográfica que extrapola os limites do Portugal continental. Além da necessária atenção dada ao tribunal de Goa, é dispensado especial cuidado ao exame da ação do tribunal em todo o ultramar português, e particularmente no Brasil. O peso conferido ao império ultramarino ao longo do livro, com quatro capítulos inteiramente consagrados ao seu estudo, revela não só a visão abrangente que os autores têm do objeto estudado, mas também uma escolha que transcende as fronteiras de um campo historiográfico específico, refletindo uma tendência compartilhada por diversos historiadores, entre os quais me incluo. Nesse sentido, a obra é mais uma excelente prova de que o conhecimento histórico sobre o mundo português moderno tem muito a ganhar quando estendemos o campo de visão para além dos limites do Portugal continental ou de uma área específica de seu império.
Escrito em muito bom estilo, o livro deixa-se ler facilmente. Ao longo de suas 607 páginas identificamos poucas gralhas, todas facilmente corrigíveis e que não comprometem a qualidade do texto. A título de exemplo pode-se mencionar o caso do breve Inter luculenta, de 1737, que iliba d. Inácio de Santa Teresa das suspeitas de jansenismo que haviam sido lançadas contra si em Goa, grafado “Inter iuculenta” (p. 300). À página 296, em passagem sobre o cristão-novo Francisco de Sá, há erro no século apontado para o seu anterior encarceramento. Por fim, nota-se um problema no gancho do parágrafo final do capítulo 11 (p. 304) que remete o leitor não para o imediatamente seguinte, mas para o capítulo 13, que discorre sobre a Inquisição nos tempos de Pombal.
Também são bastante raras as imprecisões pontuais que notamos na obra. É o caso da menção feita a Bossuet (p. 235). Ali deveria ser dito que seria, em 1677, “futuro bispo” de Meaux, pois ele já havia sido bispo de Condom, entre 1670 e 1671, antes de renunciar àquela mitra a fim de se tornar preceptor do príncipe herdeiro francês. Menos marginal ao objeto da obra é a inexistência de uma advertência ao leitor quanto à composição étnica da Congregação do Oratório em Goa. Trata-se de um aspecto importante a salientar, ainda mais num passo em que são abordados problemas relativos às tensões locais e ao prestígio social conferido pela participação em atividades relacionadas com o Santo Ofício (p. 319). Por fim, há uma ou outra ausência a lamentar na bibliografia, como a do excelente Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil (Rio de Janeiro: Editora Bertrand do Brasil, 1993), de Luiz Mott, e a do recente Domingos Álvares, african healing, and the intellectual history of the Atlantic world (Chapel Hill: The University of Carolina Press, 2011), de James H. Sweet.
Os poucos problemas assinalados aqui terminam por confirmar a solidez da obra em tela, sem nada ofuscar do seu brilho. Talvez a palavra que melhor a defina seja “equilíbrio”. Equilíbrio para não ceder ao mero discurso condenatório, nem à complacência em relação à instituição e à sociedade estudada; para dosar cuidadosamente o uso da bibliografia existente e a imprescindível consulta direta às fontes documentais; para construir um texto suficientemente fluido que agrade ao público em geral e rigoroso, inovador e instigante o bastante para tornar-se indispensável aos especialistas.
Por suas muitas qualidades, por seu equilíbrio, esta História da Inquisição Portuguesa, de José Pedro Paiva e Giuseppe Marcocci constitui um marco na historiografia sobre o tema. Uma obra verdadeiramente incontornável.
Evergton Sales Souza – Doutor em História Moderna e Contemporânea pela Université Paris-Sorbonne, PARIS 1, e professor adjunto da Universidade Federal da Bahia. Salvador, BA, Brasil. E-mail: [email protected].
BRIZUELA N. Fotografia e império (Topoi)
BRIZUELA, Natalia, Fotografia e império: paisagens para um Brasil moderno. Tradução de Marcos Bagno, São Paulo: Companhia das Letras; Instituto Moreira Salles, 2012. Resenha de: LOSADA, Janaina Zito. A figuração do longínquo: natureza, fotografia e sujeitos no Brasil nas fronteiras do século XIX. Topoi v.15 n.29 Rio de Janeiro July/Dec. 2014.
A obra Fotografia e império: paisagens para um Brasil moderno conta as histórias controversas da formação da nação, real ou imaginada, representadas nas visualidades e nas invisibilidades das fotografias imperiais e republicanas. Balizas de um longo e intenso processo de figuração e de invenção de um país, cuja complexa inserção na modernidade traz em si o índice das distâncias, do longínquo no tempo ou no espaço.
Como as fotografias que apresenta ao início de cada capítulo, a professora da Universidade de Berkeley, Natália Brizuela, natural da Argentina, realiza a arte mimética de registrar experiências históricas. Por meio de um texto elegante e bem elaborado, deixa na memória do leitor três grandes imagem-força: a floresta, a vendedora negra e o monge sertanejo morto. Seriam estas as três grandes imagens da constituição de nossa identidade nacional às avessas? Seriam elas as imagens que buscamos para entender nossa história? Ou seriam as imagens das quais fugimos na leitura da nação? Seriam elas parte de nosso desencantamento ou re-encantamento com o próprio passado e os seus fragmentos luminares? Essas questões feitas a partir da leitura da obra instigam ao questionamento do projeto da autora sobre a figuração dos territórios, dos espaços e dos sujeitos, objetos ao mesmo tempo da história da representação e da história da cultura.
A fotografia constitui para ela o elemento fundamental da nação. Ao fotografar a natureza, o indivíduo permitia um re-encantamento com o mundo natural, há muito perdido pelo sujeito moderno. Mas a fotografia constitui parte do arco de processos de construção das imagens da modernidade, onde figuram também litografias, gravuras, óleos, aquarelas etc.
Na apresentação da obra, escrita por Flora Sussekind, destaca-se o exercício deste re-encantamento através da seleção de Brizuela ao apresentar a análise da obra Zoophonia, de Hercule Florence. Como os pontos de fuga das telas da arte moderna, a autora acrescenta um elemento que, ao desconcertar o leitor, conduz o seu olhar. Em uma obra sobre imagens esse desconforto vem da exploração das representações dos sons da natureza. Tudo na obra é fotografia, mesmo quando é som!
Desde o desejo do grandioso e da imaginação poética do sublime até a real crueza da guerra e do assassinato, a autora apresenta um diorama no qual o leitor desavisado pode sentir a vertigem provocada pela sensação da fragmentação e da drástica mudança de cenário. Acostumados com as altas tecnologias televisivas e as realidades virtuais e holográficas, estamos a pensar as fotografias, no campo das ciências humanas, de forma geral e, da história, de forma particular, um desafio que tem sempre como marca a ideia da origem. Trata-se da origem de nossos desejos de imortalizar a nossa própria existência, de registrar o vivido, de divulgar um determinado enquadramento de nós mesmos, nossas experiências, nossas sociedades e nossos tempos. A história das fotografias é essencial para o entendimento dessas vontades que nos legaram os indivíduos do século XIX. Vontade de ver, emoldurar, enquadrar, registrar e expor.
A obra contrasta e sobrepõe a imaginação e as representações do espaço, do tempo e dos outros. Organizado em quatro capítulos, o livro versa sobre as experiências de homens e mulheres que viveram os limites dos séculos XIX e XX e as experiências com a jovem arte da fotografia. O seu arco temporal engloba o império de d. Pedro II (1840-1889) e a guerra de Canudos (1896/97). A linha explicativa adotada se dá pela autorrepresentação do império nas fotografias selecionadas. Esta história mescla fotografias de paisagem e de retratos, partituras musicais, mapas, descrições; falas sobre o mundo e os espaços vazios, os distantes territórios e as suas representações; apresenta os fotógrafos, os viajantes, os cientistas e o impacto neles causado pela luz e pelo calor dos trópicos. A iluminação excessiva privilegiava o olhar fotográfico; além dela havia o exótico na forma de homens e feras. O exótico que foi também o da fome e o da guerra. Aquele que se transformou em trágico na exposição da própria tragédia. As fotografias constituiriam os luminares de uma época, os objetos únicos de figuração de uma realidade distante que podem ser encontradas hoje em arquivos e museus, em exposição ou guardadas em baús ou em antigos álbuns. Aqui, as encontramos na trama do texto de Brizuela, que se destaca por trazer o trágico, muitas vezes silenciado pela historiografia.
No capítulo 1, “Para cada dia um mapa: d. Pedro II, os românticos, o IHGB e a visualização do Brasil”, a autora destaca a importância da imaginação geográfica, da arte cartográfica e do uso da fotografia de paisagem na constituição do Atlas do Brasil. Obra cujos enquadramentos e recortes da paisagem constituíram uma memória imagética do Brasil que muito fomentou os referenciais das identidades nacionais. Para tanto, a autora lança mão de fotografias e litografias de Vitor Frond e Marc Ferrez, que enquadram uma natureza idílica, descrevem montanhas e florestas, envoltas em névoas, mares que refletem as praias, jardins, baías e palmeiras que denotam grandiosidade, que colocam em tela o selvagem e o domesticado, o intocado, o reproduzido. A missão romântica muito difundida no interior dos quadros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro buscou dar à vista do segundo império um país através da sistematização e recuperação da memória. O pitoresco como forma de inscrição no mundo, essencial para a retórica histórica, comprovada pelos diários e fotografias, codificada nos registros das experiências, tornou visíveis o tropos da viagem, da saudade e do naturalista.
No capítulo 2, “O som da natureza, ou escrevendo com luz nos trópicos: Hercule Florence”, a autora versa sobre os elementos da tropicalidade, promovendo um inventário sonoro a partir do texto Zoophonia, de Florence. A natureza descrita com a requintada maestria dos sons que, bem inventariados, ajudariam a configurar as paisagens, registrando a vida, seus “sentimentos e emoções”, mas seria possível registrar os sentimentos dos animais traduzindo seus urros e pios em uma pauta musical? Seria o inventário de Florence mais que um empreendimento fracassado e um tanto pitoresco de um inventor diletante? A autora aponta que tal empreendimento possibilitou uma forma de reencantamento com a natureza. Ao registrar os sons emitidos pelos animais em escalas musicais, com seus muitos graves e agudos, Florence lhes dá sentimentos humanos – os cacarejares eram alegres, alguns pios eram melancólicos, a gaivota gritava ansiosa e o gorjeio do jaú ressaltava o silêncio das trevas. Publicado em 1876, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro como uma contribuição anônima, o documento não passou despercebido pela historiografia. Em Brizuela ele vem compor o quadro da cartografia simbólica e visual dos trópicos, o mapa de notas mínimas e semínimas em mi, fa, sol, si, dó pelo qual o império deixa ver os seus animais, os seus indivíduos e a si mesmo. A história dos trópicos impressa pelo som e pela luz, ou pela fotografia e pela música, faz lembrar a estética arquetípica de Goethe e os sons dos quadros da natureza de Humboldt que tanto marcaram o romantismo made in Brazil.
No terceiro capítulo, “Lembranças da raça”, a autora entra no mundo dos retratos e nas formas de visualização dos tipos locais, indígenas, negros, mestiços, crianças. Através das lentes obsessivas dos naturalistas europeus, entre eles Louis Agassiz, e do seu ímpeto científico pela coleção de exemplares do mundo, sejam cenas, crânios ou redes de pesca, as ciências naturais mesclavam-se ao missionarismo romântico. Desta forma conferiram certo sentido ao mundo, produzindo uma imensa gama de materiais pictóricos, aquarelas, óleos e, por fim, fotografias. Ora reproduzindo as tradições de visualidade existentes em seu tempo, ora criando novas formas de a sociedade se relacionar consigo mesma, a captura das imagens buscava realizar um mapeamento dos indivíduos, dos referenciais raciais, da tipificação das atividades e dos indivíduos, dos cidadãos e dos escravos, inventariando diferenças e estranhamentos, medos e saberes.
No último capítulo da obra, “A fotografia às margens da história: os sertões”, a autora explora as terras arruinadas pelas guerras e pelos massacres. As ruínas e as feras selvagens, o deserto de Canudos, o clima sufocante retratado no álbum do fotógrafo Flávio Barros, que acompanhou uma das expedições do exército àquelas terras sertanejas. Nele, o destaque é o vazio, é a imagem do campo de batalha, da natureza decaída, profanada, da morte em um território longínquo que se impõe à nação. Faz com que as imagens de mulheres e crianças sertanejas famélicas, à beira do assassinato, figurem de forma incômoda no panorama da modernidade brasílica. A recém-república se consolidou pela força de vencer em Canudos, a morte dos sertanejos foi o símbolo da morte da monarquia. Para a autora, a última batalha de Canudos foi o confronto final entre civilização e barbárie. As fotografias de Barros e o relato de Euclides da Cunha falam dessas mortes e do espetáculo trágico que ciência, artes e técnica registraram para a posteridade. A melancolia informada pela experiência com o território e com os eventos históricos é atravessada pelo terror, pelo assombro, pela catástrofe. Na leitura de Brizuela, fantasmas pré-modernos de vários tipos figuram no imaginário euclidiano.
As duas fotografias finais da obra exemplificam as duas tropicalidades presentes no pensamento oitocentista e novecentista nacional e em suas autorrepresentações. Antonio Conselheiro, morto em meio a ruínas de um chão agreste, e o velho d. Pedro II em estúdio, envolto por uma mata cenográfica, são exemplares; registram o que, em meados do século XX, já não existia mais. São a lembrança triste e, por vezes, trágica de um país no passado. Assim, a República marcava a sua originalidade, se construía das cinzas de uma modernidade imperial e esmagava todo o frescor que o passado pudesse ter tido.
A formulação literária e a composição dos ensaios trazem leveza à história contada. Mas, é a pertinência nas leituras sobre a construção da nação e sobre as ideias produzidas e veiculadas no império e no início da república que marca a obra. A autora estuda as visibilidades de uma época de transição, cenas de um país no passado, foco de disputas imagéticas e simbólicas que desde aqueles tempos atravessam os indivíduos, os poderes e as sociedades. No mundo contemporâneo, os possíveis simulacros das imagens já foram desvendados, mas as fotografias dos passados continuam a instigar reflexões sobre a pitoresca modernidade que essas gerações de homens legaram ao futuro.
Para Jacques Aumont (2004) a fotografia, ponto de encontro entre a pintura e o cinema, traz em si três aspectos que são comuns a essas três artes: o impalpável (luz), o irrepresentável (técnica) e o fugidio (tempo). Imposições e limites que delinearam as épocas nas quais as imagens foram produzidas. Resgato aqui esses elementos para ler a história das imagens de Brizuela. O impalpável, que pode ser percebido nos cartões de visita e na taxonomia dos indivíduos que esses artefatos promovem, imobilizando os sujeitos em suvenires turísticos. O irrepresentável, sugerido nos ruídos e nas memórias fragmentadas das tensões cotidianas e dos embates experimentados em uma sociedade tão desigual e violenta. O fugidio, que na fotografia é percebido no deslocamento do foco, que sugere imagens em borrões e manchas, que destacam o particular e único momento que já não existe e assim se deixa marcar no tempo que já não é.
O desejo pela coleção de imagens e as histórias das quais elas são artefatos mesclam esses universos e produzem uma exposição do país para si mesmo e para os outros. Tal exposição fixa-se nas leituras da história e das identidades nacionais. A apresentação das fotografias, ao final da obra, traz requinte e conta, por meio das imagens, a história que a autora narrou anteriormente por meio do texto. É uma obra que merece figurar nas estantes e bibliotecas dos amantes e estudiosos da fotografia e da história no Brasil.
Janaina Zito Losada – Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná e professora da Universidade Federal de Uberlândia – campus Pontal. Ituiutaba, MG, Brasil. E-mail: [email protected].
Nas sombras da libertinagem: Francisco de Mello Franco (1757-1822) entre Luzes e Censura no mundo luso-brasileiro – NUNES (Topoi)
NUNES, Rossana Agostinho. Nas sombras da libertinagem: Francisco de Mello Franco (1757-1822) entre Luzes e Censura no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 2013. Resenha de: FERREIRA, Breno Ferraz Leal. Um Iluminismo libertino. Topoi v.15 n.29 Rio de Janeiro July/Dec. 2014.
Aquele que comprar o livro de Rossana Agostinho Nunes esperando encontrar um simples trabalho sobre Francisco Mello Franco (1757-Paracatu – 1822-Ubatuba) cometerá um equívoco. Nas sombras da libertinagem: Francisco de Mello Franco (1757-1822) entre Luzes e Censura no mundo luso–brasileiro, mais do que uma obra sobre o polêmico médico luso-brasileiro, é uma reflexão acerca da sociedade e do mundo intelectual em que o personagem em questão estava inserido.
Resultado da publicação de sua dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal Fluminense (2011) sob orientação de Guilherme Pereira das Neves, o livro traz nove capítulos divididos em três partes que esquadrinham uma série de problemáticas relacionadas com a cultura das Luzes portuguesas a partir da análise das polêmicas que envolveram o nome de Mello Franco entre as últimas décadas do século XVIII e o início do XIX. Baseada em extensa pesquisa de fontes e bibliografia, a obra é muito bem escrita e coloca de maneira bastante clara os problemas levantados.
Embora se trate de uma obra que vai muito além da vida e dos escritos de Mello Franco, é necessário que se adiante aqui alguns traços de sua biografia. Tendo nascido em Paracatu, Minas Gerais, e emigrado para Portugal ainda jovem, formou-se médico na Universidade de Coimbra, onde foi também condenado e preso pela Inquisição sob a acusação de libertinagem. Foi autor de obras como Tratado da educação física dos meninos(1790) e Elementos de higiene(1814), entre outras. Teve quatro obras cuja autoria lhe foi atribuída, entre as quais a Medicina teológica(1794), escrito sobre o qual se trata o livro de Rossana Nunes.
Antes de chegar propriamente às polêmicas em torno da obra Medicina teológica, analisada na terceira parte da obra, Nunes optou por discutir aspectos necessários para fundamentar seus argumentos a respeito desta obra nas duas primeiras: a questão da libertinagem no Iluminismo português, na primeira, e a estratégia do anonimato necessária para a publicização de determinadas ideias naquele contexto envolto pela censura, na segunda.
A primeira parte, denominada “Contra a revolução doutrinária e doutrinal: o imaginário de uma repressão”, tem entre seus objetivos analisar a razão pela qual entre os personagens das últimas décadas do século XVIII estabeleceu-se uma relação de causa e efeito entre ideias libertinas e revolução, num nexo que era compreendido praticamente como uma fatalidade. Nesse sentido, a autora se detém sobre o conceito de libertinagem (entendido em geral como relacionado com a ideia de irreligião) e livros de autores considerados libertinos daquele contexto. São elencados autores acusados à época como libertinos, como o dicionarista António de Morais Silva (1755-1824) e o matemático José Anastácio da Cunha (1744-1787), além do próprio Mello Franco. Ao mesmo tempo, são relacionadas tanto leis que, desde o período pombalino, proibiam a circulação de obras consideradas libertinas, quanto depoimentos de personagens que condenaram ideias consideradas heterodoxas, especialmente as provindas da França.
Chega-se, assim, à questão que norteia o pensamento da autora: por qual motivo e como se formou no imaginário de alguns indivíduos a conexão entre libertinagem e revolução? Trata-se de um imaginário constituído antes mesmo da irrupção da Revolução na França. Nos dizeres de Nunes, “a eclosão da Revolução Francesa e seus desdobramentos, interpretadas por muitos como um dos efeitos da difusão das novas ideias filosóficas do século, trouxe ao primeiro plano a associação entre livre-pensamento, irreligiosidade e sedição” (p. 53). Em outras palavras, a Revolução consolidou essa associação já anteriormente existente.
Nesse ponto entra a discussão em torno de uma das obras atribuídas a Francisco de Mello Franco. Em 1794, veio à luz anonimamente a obra Medicina teológica, que apesar de ter recebido o aval para publicação por parte da censura, causou alvoroço e queixas por parte do público e por isso foi retirada de circulação. Logo depois, optou-se por uma reformulação do sistema de censura então em vigor, extinguindo-se a Real Mesa da Comissão Geral sobre Exame e Censura de Livros (criada em 1787) e estabelecendo–se um retorno, com essa medida, ao antigo sistema de censura tríplice (Santo Ofício, Desembargo do Paço e episcopado). Coincidentemente ou não, no mesmo dia em que essa mudança foi instituída, o Intendente de Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique (1733-1805), emitiu um relatório sobre o livro, no qual se referia a ele como uma ameaça à religião e ao trono. Manique pensava que o combate às ideias libertinas seria uma condição para a preservação da ordem calcada na Igreja e no Estado.
Autor anteriormente condenado à prisão por libertinagem quando estudante de medicina da Universidade de Coimbra, Mello Franco foi acusado de ser o responsável pela obra, muito embora nunca tivesse assumido sua autoria. É o que a autora mostra na segunda parte do livro, intitulada “Sob o véu do segredo: leituras anônimas de um suposto autor”.
Sem poder garantir ser Mello Franco o verdadeiro autor de tais obras, a autora acertadamente opta por fazer nesta parte do livro uma discussão sobre a circulação de obras anônimas e de estratégias utilizadas, supostamente ou não, por Mello Franco, tanto para fugir à censura quanto para ascender socialmente na sociedade portuguesa de finais de Antigo Regime.
Dessa forma, Nunes apresenta as quatro obras que foram atribuídas a Mello Franco: O reino da estupidez(1785), Resposta ao filósofo solitário(1787), Resposta segunda ao filósofo solitário(1787) e Medicina teológica(1794). Confrontando os argumentos presentes em todas elas com os argumentos desenvolvidos por ele em suas obras autorais, a autora nos deixa praticamente convencidos de que ele é mesmo o verdadeiro autor, já que não foram encontradas contradições quanto às suas ideias. De maneira geral, nas obras são defendidos princípios em comum, que podem ser entendidos como modernos, isto é, a “defesa das ciências naturais, do experimentalismo, do racionalismo e a crítica a um pensamento baseado na autoridade e na superstição” (p. 106), além de outros temas específicos tipicamente ilustrados como a sociabilidade natural do homem e a perfectibilidade. Mais importante ainda, as concepções médicas apresentadas estão afinadas com o pensamento médico estrangeiro da época.
Mas mesmo se a hipótese de o polêmico médico não ter sido o verdadeiro autor de tais obras for verdadeira, em nada se invalida as reflexões da autora. O anonimato é uma estratégia para fugir aos órgãos de censura e compartilhar na esfera pública ideias tidas como perigosas, que muitas vezes eram bastante aceitas pelo público letrado naquele contexto. Ao mesmo tempo, é analisada a trajetória de Mello Franco, que embora anteriormente condenado como autor libertino, galgou importantes cargos dentro daquela sociedade que ainda operava de acordo com a lógica da distribuição de mercês. Ele foi médico do rei, deputado extraordinário da Real Junta do Proto-Medicato e chegou a vice-secretário da Academia das Ciências de Lisboa (e membro ativo de sua instituição vacínica, relativa à pesquisa sobre a vacina contra a varíola). Em 1817, foi escolhido para acompanhar a princesa D. Leopoldina ao Brasil, como médico particular. Em função de seus serviços prestados, conseguiu, a seu pedido, que fosse dado o hábito da Ordem de Cristo com a respectiva tença para o seu filho primogênito, também médico, e outros privilégios para o seu segundo filho. No período final de sua vida, no Brasil, o médico parece ter vivido uma situação precária em função da perda de sua fortuna, o que possivelmente tem a ver com um suposto envolvimento numa conspiração contra o rei (sinal de libertinagem?), como aponta parte da bibliografia, mas que pela ausência de documentos a respeito não pôde ser confirmado pela autora. Teria vivido em uma situação de precariedade até a sua morte, em 1822.
Analisada a trajetória de Mello Franco como autor (real e suposto), coube a Nunes fazer a conexão entre as discussões presentes nas duas primeiras partes, na terceira parte da obra, denominada “Diálogos em torno da obra Medicina Theologica”. É nesse momento que fica explicado todo o rebuliço que se deu entorno dessa publicação. A autora descortina as reações que a obra suscitou, inclusive a de Pina Manique, à qual já nos referimos. As outras vieram do viajante francês Carrère (1740-1802), que a entendeu a Medicina teológicacomo libertina (“impregnada de materialismo”, “de proposições equívocas”, “livro verdadeiramente perigoso”); e do frei Manuel de Santa Anna, que publicou uma resposta à mesma obra chamada Dissertações teológicas medicinais(1799), na qual o seu autor é condenado por “dogmatismo”.
Para explicar tais reações, a autora busca identificar as influências literárias na composição da obra analisada. A partir de uma pesquisa de fôlego, a autora mostra uma série de semelhanças da Medicina teológica com importantes livros de médicos estrangeiros: os franceses Le Camus (1722-1772) e Le-Cat (1700-1768) e o suíço Tissot (1728-1797). Fica claro que o autor, além de estar atualizado com a literatura médica da época (estando boa parte dela contida nos programas da faculdade de medicina da reformada Universidade de Coimbra), incorporou tais influências de maneira criativa, inserindo reflexões próprias que constituem, na verdade, a própria causa da reação negativa que recebeu.
A chave para a compreensão da polêmica é que ela altera a maneira como, dentro do quadro intelectual das Luzes portuguesas, está equacionada a relação entre ciência e religião. Mostrando como a obra está inserida num matiz de pensamento que não opera segundo a concepção consagrada pela historiografia de Iluminismo católico, o autor da Medicina teológica, ainda que não fosse assumidamente um autor não católico, nem mesmo irreligioso, argumentava que distúrbios físicos e corporais como a cólera e a lascívia (responsável pela luxúria) somente poderiam ser curados por remédios prescritos pelos médicos. Os padres deveriam ter conhecimentos médicos para prescrevê-los no ato da confissão. Ou seja, como muito bem interpreta Nunes, tratava-se de uma tentativa de “racionalizar o sacramento da confissão” (p. 144), o que transformava o autor em “dogmatista”, acusação que já anteriormente fora imputada a Mello Franco, na ocasião do processo inquisitorial que o levou à prisão.
Dado, portanto, que os pecados não passavam de doenças corporais, caía por terra a importância da graça divina e o ensinamento do Evangelho. Podendo ser identificado como um autor deísta, o autor anônimo minimizava a importância do sobrenatural, não só dando soluções basicamente imanentes para remediar problemas físicos, mas também afirmando que os próprios confessores deveriam avançar no conhecimento desse domínio da razão. Dessa forma, Nunes propõe que a obra altera a maneira como tradicionalmente a razão era entendida dentro do pensamento setecentista português, citando, como exemplo, o padre oratoriano Teodoro de Almeida (1722-1804), grande valorizador da filosofia experimental em Portugal na segunda metade do século XVIII, mas para quem o conhecimento do mundo físico era uma “prova da omnipotência de Deus” (p. 119). Para o autor da Medicina teológica, os atributos divinos da razão deixam de ser uma questão.
Por se tratar de uma obra sobre medicina, talvez tivesse sido o caso de a autora ter inserido a Medicina teológicano contexto mais amplo do pensamento médico ilustrado português mais detidamente. Pensamos particularmente nas concepções de Antônio Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783), formulador de uma concepção de saber médico que, entre outras características, entendia as paixões humanas como parte da natureza. Nesse sentido, parece haver um leque de sentidos comuns entre suas obras, as de Mello Franco e a obra em questão. Não custa lembrar que os novos Estatutos da Universidade(1772), os quais instituíram uma concepção de saberes secularizados, i.e., baseados na razão, foram, em larga medida, influenciados pelas ideias modernizantes de Ribeiro Sanches.
Outra crítica que pode ser feita à obra é que poderia ficar mais bem explicitado no desenvolvimento do livro o que exatamente mudou na política do Estado português em relação às obras consideradas heterodoxas após a Revolução Francesa. Como a autora deixa bem claro, anteriormente já havia uma política repressiva empregada pelo aparelho estatal que buscava coibir a circulação de obras consideradas perigosas. Diz Nunes: “Neste novo cenário [da morte do rei francês], posturas consideradas incrédulas e críticas em relação à religião não podiam mais ser toleradas” (p. 124). Ora, mas para além do retorno à censura tríplice, do relatório de Pina Manique e da ordem de retirada de circulação da Medicina teológica, em 1794, não são apresentados mais dados que corroborem a ideia de uma mudança de política. Enriquecer-se-ia ainda mais a obra se fossem apresentadas mais informações sobre a ação repressiva às ideias consideradas libertinas, não só no período de Pina Manique enquanto intendente geral de polícia, mas durante toda a vida de Mello Franco, que inclui, não custa lembrar, a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, a ida da Corte ao Brasil e a Revolução de 1820.
Ainda sobre a formação de um imaginário que relacionava a difusão de ideias libertinas à ruptura da ordem institucional, existente em Portugal já anteriormente a 1789 – questão essa muito bem elaborada pela autora e com a qual concordamos -, pensamos que a tese poderia ser mais bem corroborada pela documentação arrolada nas fontes se utilizasse mais o livro do frade franciscano José Mayne (1723-1792), Dissertação sobre a alma racional(1778), pouco usado pela autora. O livro de Mayne, além de se tratar de possivelmente a obra mais incisiva escrita contra a libertinagem em Portugal setecentista, constitui um dos melhores exemplos, senão o melhor, de obras que relacionam as ideias libertinas como perigosas ao mesmo tempo à religião e ao Estado, e isso cerca de onze anos antes da eclosão da sedição na França.
Por fim, dado que o impacto da Revolução Francesa no patrulhamento às ideias ditas libertinas (e muitas vezes associadas à expressão “jacobinas” na documentação portuguesa) é um dos temas centrais da dissertação, cabe fazer uma pequena correção factual. Afirma-se à página 21 que a morte do rei Luís XVI foi conduzida pelo terror jacobino, informação repetida à página 57. Na verdade, os jacobinos ascenderam ao poder em meados de 1793, quando o rei francês já havia sido guilhotinado (janeiro do mesmo ano). Porém, isso em nada diminui os méritos de uma publicação que capta muito bem os sentidos e os caminhos de uma sociedade e do mundo intelectual português e luso-brasileiro de uma época de profundas transformações.
Em suma, pode-se dizer que a obra de Rossana Agostinho Nunes discute, de forma muito bem escrita, problemas que contribuem de maneira importante, mais do que para a compreensão da trajetória e do sentido da obra de Francisco de Mello Franco, para a compreensão das Luzes luso-brasileiras setecentistas. São examinadas, entre outros aspectos, a presença e a função de obras libertinas nos contextos anterior e posterior à Revolução Francesa, a questão da necessidade do anonimato para a emergência das mesmas ideias, as condições que permitiam a mobilidade em uma sociedade na qual ainda persistia uma lógica baseada na distribuição de mercês (embora em profunda transformação) e, talvez o que seja o mais importante, a formação de um Iluminismo secularizado, no qual a razão, se desprendendo de uma tutela religiosa, atingia maior autonomia.
Breno Ferraz Leal Ferreira – Doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected].
History, literature, critical theory – LACAPRA (Topoi)
LACAPRA, Dominick. History, Literature, Critical Theory. Ithaca, Nova York: Cornell University Press, 2013. Resenha de: FELIPPE, Eduardo Ferraz. Sobre fronteiras e permeamentos. Topoi v.15 n.29 Rio de Janeiro July/Dec. 2014.
Mais conhecida por aqueles que lidam com discussões que tangenciam história, filosofia e literatura, a obra de Dominick LaCapra ainda não obteve uma tradução de fôlego no Brasil. Por mais que entendamos essa lacuna como uma entre muitas, o agora professor emérito da universidade de Cornell propõe uma obra que impõe problemas destacáveis para a historiografia e alça sua reflexão a uma das mais necessárias do cenário universitário contemporâneo. Pode-se conceber que as variações propostas em seus diversos livros, desde as abordagens voltadas à história intelectual, do início da década de oitenta do século passado, até aquelas direcionadas à análise de alguns ficcionistas contemporâneos, tenham sido variações de um problema central da historiografia: os limites e possibilidades da história intelectual. Seus livros dialogam entre si ao mesmo tempo que apresentam uma distinção sensível entre eles; girando sobre seus próprios passos, LaCapra permanece em diálogo com um temário vivo desde os primeiros livros, enquanto joga luzes a um novo horizonte de sentido.
Em tempos de predominância do estruturalismo, LaCapra começou sua carreira acadêmica ao interrogar-se acerca da tese hegemônica da submissão do intelectual ao edifício da história. Nesse instante, percebeu a necessidade de reforma e deslocamento da história intelectual de seu lugar de sinopse de ideias e sistemas de grandes pensadores ou da autoconsideração enquanto história da filosofia. LaCapra dialoga com o cânon ocidental, discutindo e ampliando-o, por meio da crítica aguda a autores contemporâneos seus, como Derrida e Foucault, até autores que o marcaram, como Marx e Benjamin. Inicialmente aposta em uma perspectiva interdisciplinar, de modo que seu ataque às teorias totalizantes não implicou o embarque em propostas pós-modernas pouco atentas à historicidade do texto. Já em Soundings in Critical Theory (1989) o marxismo, a psicanálise e o pós-estruturalismo são articulados à historiografia em sua dimensão crítica e autocrítica. Desse modo, o caminho da história intelectual, em sua diferenciação frente à história social, se bifurca com o caminho da historiografia, sendo a dupla face de uma mesma proposta intelectual sustentada pelo professor de Cornell.
A interdisciplinaridade do início da carreira pode ser detectada nas suas considerações sobre os limites da noção de contexto que impõe a autores como Flaubert e Baudelaire. Essa questão será alvo de uma avaliação específica de Hayden White em “The context in the text: Method and Ideology in Intellectual History” em seu The Content of Form: Narrative Discourse and Historical Representation (1990) em que dialoga com a obra prévia do autor de History, Literature, Critical Theory. O problema do contexto já está presente no início na tese de livre-docência de LaCapra, ao ponderar que Durkheim não deve ser compreendido somente como uma metodologia de pesquisa, mas um texto a ser lido e articulado dentro do contexto. A partir dele, critica algumas análises que o submetem a esse contexto pela utilização de argumentos firmes, postos em contradição com algumas considerações do próprio Durkheim. Essa perspectiva de um ataque ao “historicismo” na leitura dos textos enfatiza sua perspectiva dialógica de relacionamento com o passado. Não se trata de recusar completamente os protocolos de análise, e sim complementá-los e superá-los.
Longe está LaCapra de um subjetivismo relativista que apresenta os textos como desligados do contexto. Afirma, de modo incisivo, em seu History and Criticism (1985), manter uma distância preventiva do chamado “fetichismo de arquivo” (p. 92). A questão central para LaCapra é a recusa explícita de um empirismo radical, utilizado muitas das vezes como “recusa a se ler os textos”, como pondera em Rethinking Intellectual History (1983) (p. 14). A noção de leitura como interpretação é central em toda a sua trajetória intelectual, especialmente aquela enfatizada na década de 1980. O historiador deve evitar uma acumulação neopositivista de informação com o fito de empreender leituras novas que não se resumam a descobrir novas fontes.
Esse percurso levou Dominick LaCapra a entrar em contato com as propostas do “linguistic turn”; contudo, não se deve afirmar, pelo menos de modo tão imediato, que LaCapra deve ser considerado um “historiador derrideano”. Creio que LaCapra não concordaria plenamente com a noção de que não há nada fora do texto; pelo contrário, há uma leitura apropriativa e altamente seletiva voltada a criticar oposições binárias sustentadas por opções historiográficas pouco atentas ao texto. Transcender a análise binária não implica o desconhecimento da sua importância em processos históricos ou no presente, em outro viés, considera que periodização histórica é um tema destacável ao historiador. A desconstrução é incorporada, mas não adotada de forma plena; Derrida e Heidegger estão entre outros autores, como Marx, Freud e Bakhtin, que, por fim, valorizam a intertextualidade como procedimento de escrita, tendo como centro a dimensão retórica dos textos. A estratégia da história intelectual combina investigação empírica com vozes do presente e do passado, que incluem o autor e suas fontes em uma temporalidade marcada por deslocamentos, continuidades e rupturas.
Já em seu History, Literature, Critical Theory (2013), Dominick LaCapra continua sua exploração acerca das relações complexas entre história e literatura, entendendo a história como processo e representação. Trata-se, como sempre fez questão de deixar claro, da incorporação atenciosa da obra de Hayden White, especialmente de seu livro mais famoso, Metahistória (1973). Em termos gerais, seu livro se divide entre um ensaio inicial, três capítulos de análise específica de alguns autores contemporâneos, como W. G. Sebald e J. M. Coetzee, e termina com um epílogo acerca da questão da violência em Slavoj Žižek. Um motivo recorrente do livro é a questão do sagrado, a relação problemática estabelecida com o sacrifício e sua virulenta manifestação como violência política e social.
O foco da discussão acerca da história está na questão da violência, com atenção particular a tema que já se dedicou anteriormente: a “solução final”. Em termos gerais, o autor está atento ao contato entre o sublime, o sagrado, o “pós-secular” e a questão da redenção absoluta, assim como as possíveis implicações da procura pela violência e, por vezes, sacrificial ou as práticas quase-sacrificiais envolvendo transgressão radical, vitimização e a expiação (p. 1). Por diversas vezes, LaCapra deriva o argumento para a reflexão acerca do que chama de “pós-secular”, a época atual. O termo provém de sua leitura de Hans Blumenberg, especialmente de duas obras, The Legitimacy of modern age (1986) e Work on Mith (1985). LaCapra destaca que, para Hans Blumenberg, a descontinuidade entre o mundo pré-moderno e o mundo moderno fundamenta o termo “legitimidade da época moderna”. Esse argumento torna-se mais claro quando propõe a aproximação entre Blumenberg e Jürgen Habermas em seu “Notes on a Postsecular society” (2008), por meio de uma abordagem que valoriza a tradição filosófica e a sociologia.
Em seu livro mais recente, é a questão do trauma e do genocídio nazi o disparador da escrita e dos paradoxos nela enredados. A leitura feita de Coetzee e Sebald, as soluções narrativas levantadas por Jonathan Littell, o fechamento da proposta com Slavoj Žižek, a conexão com a violência, tem no tópico do trauma o porto onde se ancoram afirmativas e de onde partem novos rumos. Está posta, de modo inexorável, a questão da narrativa em nossa lida com o passado. “A abordagem do trauma, mormente sua expressão narrativa, tem sido acompanhada por um paradoxo ou um duplo enlace: o indizível ainda clama por um discurso sem fim” (p. 33). Por vezes um processo de intensificação, por outras um ato de abrandamento, as semelhanças e diferenças entre os testemunhos e todas as tentativas de “representar as experiências traumáticas e eventos” são determinadas por meio da forma com que esse paradoxo é negociado na narrativa.
O temário do trauma ganhou tessitura consistente em seus argumentos ao longo das décadas de 1990 e 2000. A empreitada mais significativa nessa direção foi Writing History, Writing Trauma (2001). A adaptação de conceitos psicanalíticos para a análise histórica está associada ao emprego da crítica sociocultural e política para elucidar o trauma e seus efeitos na cultura. Writing History, Writing Trauma (2001) também marca a tentativa explícita de LaCapra de se diferenciar de Hayden White, por mais que concorde em muitos aspectos, especialmente os dedicados à narração. Atento à leitura que White faz de Roland Barthes, LaCapra enfatiza o vínculo entre o autor de Metahistória e o livro Escrever, verbo intransitivo, especialmente no debate levantado quando da publicação do livro Probing the Limits of Representation: Nazism and the “Final Solution” (1992), de Saul Friedländer.
Especialmente J. M. Coetzee (Elisabeth Costello e Desonra) e W. G. Sebald (Anéis de Saturno) são os ficcionistas atrelados às principais considerações de LaCapra. Além da semelhança por pseudônimos, a escolha por emigrarem de suas terras natais, e a atenção dada pelo primeiro ao segundo, destaca-se a sofisticação da questão da linguagem e a combinação entre análise crítica de outros autores (especialmente de Kafka e Flaubert) com uma autorreflexão profunda ou um “diálogo interno”, nos termos de Mikhail Bakhtin. LaCapra percebe que o Holocausto representa para Sebald aquilo que o apartheid e o colonialismo significam para Coetzee: a questão do mal e o abusivo tratamento de humanos e não humanos. A presença da pesquisa de arquivo, notória em W. G. Sebald, mas também presente em J. M. Coetzee, e a questão da memória estão coligadas ao problema do realismo, especialmente do traumático realismo, em relação à técnica formal de ambos.
O tema do trauma, enquanto modalidade do sublime, permite a LaCapra outros voos associados aos limites e às possibilidades da narrativa. Na verdade, um deslocamento. Passa a estar em jogo o tema da dimensão ética do historiador. Para tanto, a entrada em cena do romance de Jonathan Littell e as questões postas por Saul Friedländer auxiliam no entendimento da questão. Especialmente atento às preocupações do autor de As Benevolentes (2006), de modo destacado por sua atenção ao discurso dos agressores, LaCapra considera que “entender os agressores é importante epistemologicamente, eticamente e politicamente”. Antes, lembra-nos do valor do reconhecimento empático ao inveterar em acontecimentos extremos. Há um duplo caminho sendo percorrido por veredas nem sempre coincidentes ao longo do livro: por um lado, admitir a nossa própria possibilidade de envolvimento no crime, posto que nenhum de nós está plenamente cônscio em suas respostas e, por outro lado, propiciar nossa autocompreensão por meio da tentativa de imputar sentido a Max Aue, personagem principal, como um homem qualquer.
Littell discorda de que seu romance deveria ser chamado de um novo Guerra e paz. A leitura que fez de Maurice Blanchot e Georges Bataille, duas de suas preferências, fundamenta a “zona cinzenta” da escrita na qual todo escritor repousa – o espaço literário que necessita para criar e lapidar o seu Max Aue. A natureza da relação entre agressor e vítima em As benevolentes é confusa e marcada pela ambiguidade do personagem central. O que constitui a “verdade romanesca” para Littell permanece em sombras, mas há a busca por ir além de uma “verdade histórica” sem necessariamente transcendê-la ou falsificá-la. “As benevolentes transcendem a verdade histórica (…) em sua tentativa de amalgamar ou reverter a relação entre agressor e vítima” (p. 116).
O último capítulo e o epílogo deslocam a atenção para a obra de Slavoj Žižek. Ao destacar sua recente exposição midiática, o gosto pelo choque e a presença do paradoxo em sua escrita, LaCapra vai tecendo, com calma e sem grande densidade, seu aproveitamento e crítica da obra de Žižek. O rápido exemplo é quando avalia que o autor de Violência proporciona sempre a “overdose do antídoto” por vezes o “extremo” (p. 154). Sem deter-me em demasia no argumento, LaCapra destaca a busca pelo sublime de Žižek, com sua particular mistura de Lacan e Marx. Enfatiza que a violência é intrínseca à linguagem, especialmente quando pergunta se “os humanos excedem os animais em sua capacidade de violência?” (p. 120). Sua rápida análise de Žižek é concluída com a ponderação de que “para Žižek a essência do humano é o monstruoso, o excesso inumano que marca a incursão do real a possuir uma saída política…” (p. 125)
O texto de LaCapra merece leitura atenta. Tendo sido a coletânea de alguns escritos publicados anteriormente, esse livro tem a marca de um fechamento, não conclusão, de uma carreira de um professor dedicado a pensar Teoria da História e Historiografia. Se esse novo livro dá pouca atenção a alguns temas da década de 1980, como a questão da retórica, tão presente em Rethinking Intellectual History (1983), marca o desaguar de suas reflexões sobre o trauma e algumas ponderações acerca da importância do sublime para a escrita da História.
Sem a preocupação de detalhamentos excessivos acerca da História, ficção ou filosofia, como fez por vezes Hayden White, LaCapra termina por reafirmar o valor do texto, em sua singularidade e historicidade. Evita cair, desse modo, em considerações, por vezes descomedidas, do caráter inovador de alguns projetos intelectuais que, apenas com o título, propõem a reformulação de um campo. De forma sutil, LaCapra coloca interrogações à identidade do historiador sem excessivo alarde, sem demasiado estrondo; contribui, enfim, para novas reflexões para a História sem reduzi-la completamente ao seu nível discursivo, não somente nas cátedras de teoria ou história da historiografia.
Eduardo Ferraz Felippe – Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), professor da Escola SESC de ensino médio e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
From history to theory – KLEIN (Topoi)
KLEIN, Kerwin Lee. From history to theory. Berkeley: University of California Press, 2011. Resenha de: AVILA, Arthur Lima. Os (des)caminhos de Clio em terras norte-americanas: episódios de uma história da história nos Estados Unidos. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.
Como escrever uma história da história nos Estados Unidos? Como dar conta das inúmeras e conturbadas mudanças epistemológicas, disciplinares e linguísticas ocorridas na historiografia daquele país? Como vinculá-las ao mundo extra-acadêmico? From history to theory, mais recente obra de Kerwin Lee Klein, professor da Universidade da Califórnia, Berkeley, busca dar conta dessas questões. Autor de um magistral livro sobre a imaginação histórica estadunidense nos séculos XIX e XX, Frontiers of historical imagination (Berkeley, 1997), o historiador agora se volta, segundo suas próprias palavras, para uma “história episódica da história e teoria” (p. 5) nos Estados Unidos da última centúria. Nesse sentido, From history to theory é menos uma monografia do que uma coleção de ensaios que transitam por temas diversos, do declínio da palavra “historiografia” no discurso histórico norte-americano à ascensão da direita cristã no país, todos tendo um norte comum: traçar a genealogia de momentos discursivos importantes nos âmbitos acadêmicos e públicos estadunidenses. Em outras palavras, Klein pratica algo próximo à história conceitual alemã, mas sem possuir as mesmas ambições filosóficas da Begriffsgeschichte, tratando de historicizar certas palavras-chave, vinculando-as a tradições narrativas e práticas linguísticas mais amplas. Trata-se, portanto, de um livro sobre as instáveis, cambiantes e problemáticas relações entre termos diversos, dos quais “história” e “teoria” são os principais, em vários contextos dos Estados Unidos do século XX, mas, especialmente, os das suas duas ou três últimas décadas – anos das notórias “guerras teóricas” em torno da virada linguística, da nova história cultural e do famigerado “pós-modernismo”.
Para Klein (p. 12), dois momentos foram cruciais para as mudanças ocorridas no discurso histórico estadunidense daquele período: a busca quase obsessiva, mas extremamente ilusória, por um status científico para a disciplina, com suas inúmeras justificações filosóficas, e a descolonização dos continentes africano e asiático, que forçou os historiadores norte-americanos a lidar com diferenças culturais de maneira muito mais profunda do que antes. É sob esse pano de fundo que Klein constrói sua narrativa, como ele mesmo a chama (p. 5), buscando, contudo, não repetir aquelas histórias da história tradicionalmente progressistas e whiggish, que enredavam o desenvolvimento da historiografia como uma marcha constante em direção a estágios mais científicos e, por isso, melhores do que os anteriores. Não há aqui aquela ingenuidade que estipula aos “pós-modernos”, por exemplo, a “destruição” dos pilares da historiografia “científica”, tão comum a certas análises, ou, de outra maneira, a louvação acrítica de “novas” histórias que, com todos os seus “radicalismos” e “inovações”, seriam necessariamente melhores do que as anteriores. O plot é deveras mais complicado do que um simples enredo de ascendência ou decadência.
Isso fica claro na análise que Klein faz da ascensão e queda dos conceitos de “historiografia” e “filosofia da história” no discurso histórico norte-americano, bastante reveladoras acerca da memória disciplinar que se constituiu naquele país. No primeiro caso, nos anos que se seguiram à profissionalização da história, o termo “historiografia” possuía um significado ambíguo e era justamente essa falta de claridade que lhe dava crédito no mercado conceitual dos historiadores. “Historiografia” podia significar a “escrita da história” propriamente dita, o “estudo crítico da escrita da história”, como defendido por nomes como Carl Becker e Charles Beard, e, finalmente, um corpus textual sobre algum tema específico (p. 19). Mais do que isso, o conceito podia combinar tanto uma reflexão filosófica sobre a prática histórica quanto uma narrativa da evolução do discurso histórico, o que o tornava essencial para aqueles que, como o pioneiro Frederick Jackson Turner, imaginavam a disciplina como algo mais do que a simples coleta de fatos e sua exposição “científica” numa narrativa “objetiva”. Dessa maneira, “historiografia” harmonizava os âmbitos teóricos e práticos da história, não os separando em formas estanques, como passaria a ocorrer a partir das décadas de 1950 e 1960. A partir dessas décadas, a burocratização e a superespecialização profissional, já analisadas por nomes como Ian Tyrrell (The great historical Jeremiad. The History Teacher, p. 371-393, May 2000) e Peter Novick (That noble dream. Cambridge, 1988), levaram a uma separação entre a reflexão teórica sobre a história e suas práticas disciplinares. Tal ruptura resultou no abandono dos cursos de “historiografia” oferecidos país afora e numa cada vez mais disseminada aversão à teoria, que se tornaria característica entre os historiadores norte-americanos da segunda metade do século XX. Além disso, para os dois lados do espectro político disciplinar, “historiografia” significava algo condenável ou realmente perigoso: para os conservadores, servia como porta de entrada para ataques teóricos à “história real”; para os radicais, ela funcionava como uma reafirmação do cânone e da preservação do establishment profissional. Não conseguindo convencer ninguém, “historiografia”, entendida principalmente como uma reflexão crítica sobre a disciplina, se tornou um termo virtualmente desacreditado nos Estados Unidos, em que pesem esforços recentes de autores como Eileen Ka-May Cheng (Historiography: a field in search of a historian. History and Theory, p. 278-289, May 2013), Ian Tyrrell (Historians in public. Chicago, 2005), Ellen Fitzpatrick (History’s memory. Cambridge, 2002), além do próprio Klein, em reabilitar a palavra.
Ao mesmo tempo que o termo “historiografia” caía em desgraça entre os historiadores, “filosofia da história” emergia como um conceito importante. Aqui, as preocupações de Klein com práticas linguísticas mais amplas entram em cena, com a hábil construção dos argumentos extradisciplinares que levaram à popularização do termo em terras estadunidenses. De acordo com ele (p. 45), “filosofia da história” encontrou eco especialmente entre dois grupos: aqueles acadêmicos vinculados à política e ao governo, interessados em encontrar um sentido metafísico mais amplo para o conflito entre “liberdade” (capitalismo) e “totalitarismo” (comunismo), e aqueles filósofos dispostos a perscrutar a tão propalada cientificidade da disciplina histórica e a encontrar uma linguagem verdadeiramente compatível com ela. Em ambos os casos, entretanto, os filósofos falharam não só em convencer seus próprios colegas da legitimidade de suas colocações, com os grandes departamentos de filosofia norte-americanos virtualmente ignorando “filosofia da história” enquanto uma disciplina passível de investimentos, como em alcançar os historiadores. Um exemplo de tal fracasso é o amplo debate da filosofia analítica envolvendo positivistas lógicos, como Carl Hempel e os defensores da covering law theory, e aqueles que rejeitavam tais argumentos, ainda que nos termos propostos pelos primeiros. Como demonstra Klein (p. 51-53), apenas um fraco eco de tais discussões alcançou os dedicados servidores de Clio. O pano de fundo de tal surdez, por assim dizer, é o mesmo que levou à decadência do conceito “historiografia”: a pronunciada e cada vez mais agressiva rejeição dos historiadores em empreender grandes debates teóricos, entendidos como irrelevantes para aquilo que os historiadores (supostamente) faziam realmente: ir aos arquivos e, como dizem os norte-americanos, get the story straight.
Ainda assim, a despeito da opinião dos “historiadores reais” sobre elas, as discussões continuaram. O engessado cientificismo professado pelos defensores da covering law theory, e não atacado de frente por seus opositores, levou a uma consequência que, a partir dos anos 1960, teria efeitos duradouros nos Estados Unidos: a reavaliação da história como uma arte, a ars historica, cujo lócus mais adequado de análise seria a crítica literária e não a filosofia analítica. Tal reação, melhor exemplificada nos trabalhos de Hayden White, especialmente no artigo “The burden of history” (1966) e no posterior livro clássico Metahistory (1973), significou uma virada em direção à estética para o julgamento crítico dos textos historiográficos e abriu o caminho para a linguistic turn das décadas de 1970 e 1980 (p. 56). Com tal mudança, pregou-se um dos últimos pregos no caixão da “filosofia da história”, substituída pelo termo “teoria”, mais “neutro” e sem tantas conotações metafísicas – simbolizado na fundação daquele que, até os dias de hoje, é o principal journal sobre teoria e, apesar dos pesares, filosofia da história em língua inglesa, History and Theory, em 1966.
Isso leva à pergunta sobre o que, afinal de contas, foi a tal “virada linguística”, ocorrida no esteio das transformações linguísticas e disciplinares descritas acima. Para Klein, a narrativa é deveras mais complicada do que a habitual história, já contada inúmeras vezes, da invasão dos Estados Unidos pela “teoria francesa”, que, dependendo de quem relata, poderia tanto ser a redenção de todos os males historiográficos ou, pelo contrário, a destruição dos pilares da disciplina. Chegamos ao segundo ponto crucial da análise de Klein: o papel da diferença cultural e, especialmente, da descolonização na emergência da linguistic turn, explorado nos dois capítulos seguintes. Seguindo um percurso pouco transitado por alguns analistas, como Gabrielle Spiegel (The past as text. Baltimore, 1997. p. 29-43) e Ethan Kleinberg (Haunting history: deconstruction and the spirit of revision. History and Theory, p. 113-143, Dec. 2007), o autor busca uma das origens, mas não a única, da virada linguística nos vínculos da antropologia geertziana com a etnolinguística norte-americana da primeira metade do século XX. Ao contrário da linguística europeia, preocupada em encontrar constâncias e uma gênese comum às línguas do Velho Mundo, a etnolinguística estadunidense lidou desde seu início com o choque cultural entre indígenas e europeus e euro-americanos, como demonstrariam os trabalhos pioneiros de Suzanne Langer e Edward Sapir (p. 69-71). O resultado foi uma apreciação da cultura como um fenômeno da linguagem e, por isso, relativa ao lugar daquele que fala, não existindo, portanto, posições universais que pudessem arbitrar entre culturas diversas. Dessa forma, por exemplo, a própria ciência ocidental seria apenas um dos diversos discursos possíveis sobre a realidade, mas não o único. Com a conjugação entre “cultura” e “linguagem”, deram-se, assim, as possibilidades semânticas para a emergência da antropologia geertziana e, por conseguinte, para uma das raízes da virada linguística nos Estados Unidos. Mesmo não desprezando em momento algum o papel de textos franceses e alemães para o surgimento da linguistic turn, Klein (p. 82-83) chega a duas importantes conclusões: em primeiro lugar, a de que os textos europeus tradicionalmente considerados os propulsores da virada linguística em terras norte-americanas são apenas uma parte de um corpus textual muito maior; em segundo lugar, a inferência de que o vocabulário da etnolinguística estadunidense moldou a tradução das “revoluções linguísticas do maio de 68 francês” (p. 83) no outro lado do Atlântico, que não pode ser devidamente entendida sem esse diálogo entre essas duas tradições.
No entanto, quando menos se espera, o fantasma de Hegel e sua “história universal” surgem novamente no horizonte. Para Klein, o pós-modernismo, ao menos em seu formato norte-americano, pode também ser entendido como uma refiguração do velho dictum hegeliano acerca dos “povos sem história”. Agora, contudo, não ter história era algo a ser celebrado e desejado pelos subalternos, como propõe Klein a partir da análise de uma série de autores, como James Clifford, Richard Rorty, Jean François Lyotard e, claro, Claude Lévi-Strauss. No que talvez seja uma das melhores análises do livro, Klein demonstra como, para os intelectuais acima mencionados, a história podia ser compreendida como um discurso colonizador e imperialista e imposto à força aos povos conquistados pelos europeus. A manutenção dessa antinomia, com a reificação de velhos binarismos entre “mito” e “história”, “metanarrativas” e “narrativas locais”, “histórico” e “não histórico”, é algo que assombra o “pós-modernismo” como seu “outro reacionário” (p. 101-102). Ao invés da celebração acrítica das narrativas subalternas, sejam elas quais forem, como resistência a uma todo-poderosa “história”, é necessário ter em mente o constante processo de reinvenção cultural pelo qual passam as narrativas, que incluem tanto aquelas grandes narrativas herdeiras de Hegel quanto as histórias locais tomadas como oposição àqueles desígnios globais, para usar a expressão de Walter Mignolo (Local histories/global designs. Princeton, 2001). As posições que determinadas histórias ocupam social e culturalmente são sempre contingentes; nada garante que a história subalterna de hoje não se transformará na grande narrativa “opressora” de amanhã (p. 110-111). Nesse sentido, ao invés de imaginarmos a “história” como algo que os europeus inventaram e depois impuseram ao resto do globo a ferro, fogo e livros, seria melhor imaginarmos o mundo como contendo uma profusão de histórias e tradições narrativas em diálogo e conflito, já que só isso permitiria, na visão de Klein, um discurso histórico global realmente democrático e desprovido de essencialismos e antinomias de todo o tipo. Diante das forças homogenizadoras do capitalismo contemporâneo, que fazem tabula rasa das diferenças planetárias para nos transformar em felizes consumidores pertencentes a uma “aldeia global” amorfa e indistinta, realizando o velho sonho neoliberal do “fim da história”, a exortação de Klein se faz, assim, essencial para a manutenção da história enquanto um discurso crítico, e não celebrador, do presente.
É esse potencial crítico que leva Klein a fazer, nos capítulos finais do livro, uma genealogia do conceito de “memória” em dois âmbitos diferentes e quase antagônicos, o do discurso histórico profissional e o do discurso da direita cristã que emergiu com força nos Estados Unidos dos anos 1970 e 1980. Para Klein, a emergência de “memória” como um conceito marcou uma mudança dramática nas práticas linguísticas das Humanidades contemporâneas, principalmente porque se tratou de um câmbio muito rápido e intenso. Em uma década, aproximadamente, as ciências humanas foram inundadas com o que pode ser corretamente chamado de uma “indústria de memória”, com o surgimento de periódicos especializados (History and Memory e Memory Studies, por exemplo) e a publicação de um sem-número de livros sobre o tema (p. 113-114). No entanto, se a memory turn pode ser entendida como uma reação compreensível à virada linguística e seu antifundacionalismo, a ideia de “memória” acabou canibalizando outros conceitos, muitas vezes imprimindo uma confusão linguística e conceitual à história bastante condenável, ao menos sob o ponto de vista de Klein. “Memória” passou, assim, a ser considerada, dentre outras coisas, uma antítese subalterna à “história” imperialista; algo quase místico encarnado em objetos e corpos; um agente histórico em si mesmo; uma resposta aos grandes traumas da modernidade, especialmente o Holocausto; e, finalmente, uma forma de discurso pretensamente científico, emprestado à psicanálise, e com aspirações curativas dificilmente concretizáveis (p. 116-128). O que todos esses usos têm em comum é justamente a sacralização da memória como uma alternativa terapêutica à história, transparecendo inclusive em autores pouco dados a visões “místicas” da história, como Dominick LaCapra e Saul Friedlander. No final das contas, a ampla, e às vezes exagerada, utilização do conceito refletiria, nos Estados Unidos, ao menos, uma vontade de “reencantar nossa relação com o mundo e encher o passado com presença” (p. 137), especialmente diante da “ameaça” da “virada linguística” e da suposta falta de sentido do mundo pós-pós-moderno, para parafrasear Nancy Partner.
Tais usos não seriam tão perigosos em disciplinas que se pretendem críticas e seculares, se, por outro lado, no mundo extra-acadêmico eles não estivessem avalizando e legitimando a emergência de forças políticas antidemocráticas e antisseculares. Estamos aqui falando do surgimento da direita cristã a partir dos anos 1970 e sua consolidação como uma personagem política importante na década seguinte, quando Ronald Reagan, de forma muito hábil, reuniu a cruz (os fundamentalistas cristãos) e o dinheiro (os fundamentalistas neoliberais de Wall Street) debaixo da asa do Partido Republicano. Três fenômenos intelectuais caminharam de mãos dadas com esse fato: a utilização de um vocabulário memorialístico pelos conservadores cristãos, que entendiam o “abandono” do cristianismo pelos estadunidenses como o “trauma” maior da história do país e urgiam, assim, um retorno às raízes religiosas nacionais; o desenvolvimento de uma teologia da história que incentivava a releitura do passado norte-americano a partir de uma ótica fundamentalista, que entendia a história do país como a luta literal entre o Bem e o Mal, isto é, entre os seguidores de Jeová e as hostes satânicas que haviam sequestrado o país; e, finalmente, a formulação de uma ideologia política cristã que rejeitava os valores liberais e republicanos comumente associados com o sistema político norte-americano e que defendia o fim do secularismo como essencial para a reconstrução cristã da América. Desta forma, Klein (p. 159) identifica a “memory talk” predominante nos Estados Unidos contemporâneos, inclusive em alguns de seus usos acadêmicos supostamente críticos, como um sintoma da ressacralização da vida pública em seu país, com consequências mais amplas bastante preocupantes (e justificadas, diante do avanço tremendo da extrema direita cristã na última década – cujos efeitos, sabemos, já começam a ser sentidos no Brasil…). Uma das possíveis respostas a isso, para ele, é justamente o restabelecimento da história como uma disciplina crítica, secular e em constante interrogação dos conceitos e narrativas que a sustentam, na academia e fora dela, e, por isso, capaz de responder ao avanço dessas forças antidemocráticas.
No fim, a mensagem de From history to theory é relativamente simples, mas poderosa: a história, para ter algum poder efetivo de crítica sobre o presente, precisa necessariamente se historicizar constantemente e compreender as tradições linguísticas e narrativas nas quais se insere, pois, sabemos, a disciplina não existe no vácuo. O que falamos e como falamos diz respeito tanto ao que herdamos do passado quanto aos diálogos que mantemos no presente. Por isso, o livro de Klein é uma leitura recomendada não só para aqueles que querem aprender sobre os controversos caminhos da história estadunidense no século XX, mas para todos que compreendem que, sem uma constante autorreflexão teórica e crítica maior, a disciplina está fadada a ser apenas algo feito por acadêmicos para acadêmicos, sem qualquer relevância pública maior. Aqui, concordo com Klein: tal coisa não é só indesejável, é perigosa.
Arthur Lima de Avila – Doutor em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor adjunto da mesma universidade. Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: [email protected].
Fictions of Embassy: literature and diplomacy in early modern Europe – HAMPTON (Topoi)
HAMPTON, Timothy. Fictions of Embassy: literature and diplomacy in early modern Europe. Ithaca: Cornell University Press, 2012. Resenha de: DUARTE, João de Azevedo e Dias. Em busca de uma “poética diplomática”. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.
A trama de um dos últimos romances publicados em vida de Henry James, Os embaixadores (1903), gira em torno de uma missão “diplomática” frustrada. Lambert Strether, um norte-americano de meia-idade, é incumbido por sua noiva, a autoritária e rica viúva de Woolet, Nova Inglaterra, mrs. Newsome, de viajar a Paris para resgatar seu futuro enteado, o herdeiro Chad, supostamente envolvido em uma relação indecorosa com uma aristocrata europeia. Previsivelmente, o tiro sai pela culatra e é o “embaixador” Strether quem acaba seduzido pelos encantos do velho mundo, numa reviravolta que põe em risco suas pretensões matrimoniais originais. Metaforicamente empregando aspectos da cultura política da diplomacia na construção do enredo de sua narrativa de ficção, Henry James, talvez inadvertidamente, dava continuidade a uma tradição de diálogo entre duas formas simbólicas iniciada na primeira modernidade, entre os séculos XV e XVII, na Europa.
A “interseção entre a história diplomática e a história da literatura” (p. 1), durante esse período, é precisamente o tema de Fictions of Embassy, terceiro livro de Timothy Hampton, professor de literatura francesa e comparada da Universidade de Califórnia, Berkeley. Imerso na disciplina do novo historicismo, Hampton dedicou-se, em ensaios e livros anteriores, a explorar as relações entre história, política e literatura no Renascimento europeu. Esse seu último livro – uma reedição do original publicado em 2009 – continua no mesmo caminho, examinando as implicações culturais da emergência de uma nova prática política, a diplomacia moderna.
Ainda que o termo “diplomacia” só tenha sido cunhado no século XVIII, a atividade diplomática precede em muito a primeira modernidade, remontando à Antiguidade. No entanto, “durante os séculos XV, XVI e XVII na Europa, a diplomacia sofreu uma série de transformações sem precedentes, tanto práticas quanto teóricas, que fizeram dela um poderoso e importante elemento na política de Estado (statecraft)” (p. 1). A moldura mais geral na qual se encerraram essas inovações – entre as quais se destacam a instituição do embaixador profissional, fixo ou “residente”, e da negociação contínua em lugar dos “favoritos” reais e das embaixadas ad hoc medievais – foi o longo processo de constituição do sistema europeu de Estados soberanos. Tendo como marco histórico a chamada Paz de Westfalia de 1648, acordo que deu fim aos conflitos civil-religiosos no continente europeu, a nova ordem estatal emergente tanto requereu para sua conformação como tornou necessária para sua manutenção subsequente inéditos esforços sistemáticos de diplomacia. Esses requisitos práticos, por sua vez, geraram uma série de problemas – relativos à extraterritorialidade, aos limites da imunidade, às dinâmicas de delegação, representação e ratificação de acordos etc. -, cujas soluções teóricas, extrapolando a cultura retórica e moral do humanismo renascentista, ajudaram a delimitar, nos séculos XVII e XVIII, o campo das “relações internacionais”, um espaço jurídico regido por negociações contingentes entre Estados soberanos que se reconhecem como inimigos potenciais.
Fictions of Embassy não é, contudo, uma “história da diplomacia”. Para as minúcias relativas à constituição da diplomacia moderna, Hampton apoia-se em uma vasta bibliografia, devidamente referida nas notas de rodapé. Como já afirmei, Fictions of Embassy ocupa-se antes da relação entre literatura e diplomacia – “meu foco é menos nos detalhes da história diplomática do que nos discursos que modelam a ação pública” (p. 7). Uma forma de compreender o objeto desse livro é visualizar a diplomacia “como um contexto para o estudo de uma série de grandes obras literárias” (p. 5). Desnecessário dizer que “contexto”, neste caso, não é um dado sólido e fixo (uma “infraestrutura” rígida) do qual se deduz o texto literário, mas sim, ele próprio, um “texto”, até certo ponto aberto, requerendo também uma leitura, da mesma forma que o seu análogo literário. À maneira novo-historicista, Hampton interessa-se pelos processos dinâmicos de conflito e negociação entre formas simbólicas que informam a cultura; o que faz dele, o analista e crítico literário, também uma espécie de diplomata, em busca do que ele mesmo define – ecoando a formulação de Stephen Greenblatt do new historicism como uma “poética da cultura” – como uma “poética diplomática”, i.e.: “tanto uma maneira de ler literatura que seja sensível (attuned) à sombra do Outro na fronteira da comunidade nacional, quanto uma maneira de ler a diplomacia que leve em consideração as suas dimensões fictícias e linguísticas” (p. 2-3).
Vista de uma tal perspectiva, a relação entre literatura e diplomacia na primeira modernidade aparece não como meramente temática ou unidirecional, mas sim como uma relação estrutural e de mão dupla. Mais do que simplesmente fornecer um repertório de materiais (cenas, personagens e tópicos) a escritores de peças, poemas e ensaios (o que não deixava de fazer), a diplomacia oferecia à literatura imaginativa um análogo discursivo, com consequências importantes para ambas. Há semelhanças entre a palavra do diplomata e a palavra do poeta, sugere Hampton, que insiste ser “a diplomacia […] o ato político simbólico por excelência” (p. 5 – ênfase no original), tanto por sua natureza semiótica (sua relação íntima com a produção e a interpretação de signos, gestos e palavras), como pelo fato de que é também uma prática escrita, conscientemente envolvida com questões de representação, narrativa, retórica e autoridade textual. Ademais, na medida em que depende da invenção de “ficções jurídicas” – tal como aquela que determina a “imunidade” do diplomata em missão, como se ele estivesse em seu próprio país -, a diplomacia implica ainda, à semelhança de textos literários, atos de “produção de ficção” (fiction making) – “por ‘produção de ficção’ eu entendo a criação de textos que definem para si mesmos um modo de representação que não pretende um acesso direto à verdade teológica ou epistemológica” (p. 10). Sendo, então, “uma forma de ação política […] profundamente estruturada pela dinâmica da significação”, conclui Hampton, “a diplomacia oferece uma analogia poderosa para com a prática de construção de sentido a que chamamos literatura” (p. 10).
Hampton não está dizendo que a diplomacia e a literatura sejam práticas de representação indistintas, mas sim que, nesse período crítico da modernidade europeia, elas se articulavam de maneiras variadas e complexas, modelando-se mutuamente. “A nova ferramenta política da diplomacia e a cultura emergente da literatura secular modelam-se uma a outra de maneiras importantes”: de um lado, “os textos literários fornecem um terreno único e privilegiado para estudar as linguagens da diplomacia”, dando voz a certas ansiedades e tensões não explícitas da política diplomática, do outro, “a cultura diplomática desempenha um papel dinâmico na história literária, na invenção de novas formas, convenções e gêneros literários” (p. 2). Uma das conclusões importantes do livro é que, exatamente por causa de sua proximidade, a diplomacia acabou por servir como um contramodelo para a literatura de ficção, ajudando-a, por oposição, a definir sua própria voz.
Os capítulos – cuja sucessão segue frouxamente a ordem cronológica, iniciando-se ao final do século XV e terminando ao final do século XVII, com uma coda sobre o século XIX – dividem-se em três seções, cada uma abordando questões em torno a algum tema ligado à atividade diplomática, respectivamente: negociação, mediação e representação. Com leituras de Guicciardini, Maquiavel, Thomas Morus, Rabelais, Tasso e Montaigne, os capítulos 1 e 2 examinam a relação entre a diplomacia e a cultura do humanismo renascentista, no âmbito da qual aquela recebe as suas primeiras formulações teóricas, explorando as tensões entre as expectativas éticas do humanismo e as contingências práticas, nem sempre “honoráveis”, das “úteis” negociações diplomáticas. Esses capítulos iniciais estabelecem também um padrão analítico para a interpretação da interseção entre teoria diplomática e literatura de ficção. De início, delimita-se um conjunto específico de problemas ligados à atividade diplomática (nesse caso, questões relativas ao caráter do embaixador e à extensão de sua liberdade no uso da linguagem no contexto da negociação diplomática) a partir de textos de teoria política e diplomática para, em seguida, discutir o modo como tais problemas são tratados em textos de caráter ficcional, com atenção para seus aspectos linguísticos e retóricos e para tensões ideológicas ocultas.
Já nos primeiros capítulos, Hampton chama a atenção para uma tensão crescente entre os mundos da política e da literatura de ficção; uma tensão que emerge, nos textos, por meio da representação de cenas de diplomacia frustrada, uma recorrência nas obras analisadas no livro. Na leitura de Hampton, a representação literária da diplomacia (e de seu fracasso) serve como um momento crítico, um momento privilegiado não apenas para a reflexão sobre ansiedades e conflitos político-sociais não explícitos, mas também para uma autorreflexão, da qual se origina um estranhamento em relação à política. Na medida em que “a negociação diplomática é vista como a sinédoque da retórica política pública”, argumenta Hampton, então, “é mostrando o colapso da diplomacia que as obras literárias podem reivindicar sua própria autoridade linguística e genérica” (p. 34). Esse movimento duplo de representação dos limites da diplomacia e de autoafirmação discursiva, envolvendo, com frequência, a invenção (ou reinvenção) de novas formas literárias, repete-se ao longo dos capítulos – “por meio do fracasso diplomático, a literatura cria o espaço de seu desdobramento” (p. 186).
Os capítulos 3 e 4 abordam a épica, um dos gêneros narrativos mais importantes do período, a partir de questões relativas ao espaço: deslocamento, extraterritorialidade e encontros entre europeus e não europeus. Por meio de leituras originais de Jerusalem libertada, de Torquato Tasso, e Os lusíadas, de Luís de Camões, Hampton explora a tensão entre as convenções diplomáticas e os ideais heroicos que informavam o gênero. Escrevendo no final do século XVI, num momento em que a cultura retórica e moral do humanismo encontrava-se sob a pressão da nova Igreja militante da Contrarreforma, ambos os autores empregaram a linguagem diplomática para repensar o gênero épico. Negociando uma identidade poética e epistemológica com as formas rivais da épica clássica, da historiografia e das narrativas romanescas, Jerusalém libertada e Os lusíadas tematizam a caducidade dos códigos cavalheirescos medievais e a emergência de um mundo pós-heroico – o mundo do direito internacional, do mercantilismo e das burocracias diplomáticas.
Finalmente, os três últimos capítulos dão conta de questões ligadas ao papel da nova ferramenta política da diplomacia no processo concomitante de constituição dos Estados nacionais e do estabelecimento de um sistema jurídico internacional, tais como: o reconhecimento político da soberania de novas entidades políticas por meio da recepção e do envio de embaixadas; a transição do antigo quadro teológico-moral do ius gentium (a lei das nações) para o novo quadro secular do direito codificado, ius inter gentes (a lei entre nações) nas relações internacionais; e a “domesticação” da aristocracia por meio de sua conversão em uma casta burocrática de diplomatas profissionais. A forma literária escolhida para a discussão dessas questões é o drama, a forma privilegiada nas cortes europeias do século XVII. As análises de Hampton de três grandes tragédias, Nicomède, de Pierre Corneille, Hamlet, de William Shakespeare, e Andromaque, de Jean Racine, mostram como a tragédia, mais do que qualquer outro gênero, tematizou a diplomacia de modo a expor o caráter instável e frágil da nova ordem política. Ao mesmo tempo que projeta uma modernidade pós-heroica – de paz e negociação civilizada entre nações em lugar do amor obsessivo e da violência privada pré-estatal -, a tragédia conjura essa imagem, trazendo ao palco o desejo e a vingança recalcados que põem em risco as próprias instituições que vislumbra.
Fictions of Embassy é, sem dúvida, um livro inovador e instigante, que enriquece e complexifica nosso entendimento de um período crítico da história ocidental, por meio de uma abordagem audaciosa que combina enorme erudição histórica e sensibilidade crítica para explorar o cânon literário da primeira modernidade. Trata-se de um livro denso que, a despeito de seu tamanho diminuto (230 páginas), é capaz de cobrir uma extensão impressionante de tópicos, oferecendo leituras originais de um conjunto não menos impressionante de obras. No entanto, é possível que, ao fim da leitura, o leitor se sinta um tanto ou quanto frustrado com o resultado final de um projeto que lhe parecia de início tão promissor e excitante. É que, em seu afã para persuadir o leitor do papel histórico da diplomacia como o agente decisivo de inovação na história literária, Hampton acaba por, em certos momentos, forçar demais seu material, gerando conclusões apressadas que produzem no leitor o efeito contrário ao esperado. Tenho dúvidas, por exemplo, se “a poética de Tasso e o autorretrato de Montaigne” são mesmo “os subprodutos de suas próprias tentativas de reinventar (reimagine) a ação política por meio de uma reflexão sobre a diplomacia” (p. 71), como Hampton sugere; ou se “a diplomacia é um elemento estruturante central no poema” de Camões (p. 101) ou no Hamlet, de Shakespeare (p. 144-162); ou ainda se “Corneille é o primeiro grande dramaturgo da geopolítica” (p. 122). Eis alguns casos nos quais menos entusiasmo e mais prudência seriam recomendáveis. Ademais, para alguém tão interessado na intersecção e mútua influência entre diplomacia e literatura, Hampton dá pouca atenção aos tratados diplomáticos, utilizando-os apenas de forma subsidiária à leitura das obras de ficção, e nem sequer aborda a carta diplomática, provavelmente o gênero mais importante para a prática da diplomacia na primeira modernidade. Faz falta também uma abordagem mais cuidadosa acerca das transformações ocorridas na diplomacia ao longo do tempo, em especial, na transição da Idade Média à primeira modernidade. Por fim, um diálogo com obras que trataram de usos mais metafóricos e menos literais da diplomacia na literatura, como o brilhante La diplomatie de l’esprit, de Marc Fumaroli, poderia ter sido interessante, sobretudo para a compreensão da influência da cultura diplomática sobre o gênero maior da modernidade, o romance. Em que pesem essas ressalvas, Fictions of Embassy é ainda um livro altamente recomendável a todos aqueles interessados na literatura ou história intelectual da primeira modernidade.
O livro é concluído com um breve posfácio, contendo um comentário sobre O vermelho e o negro, de Stendhal, com o intuito de apontar para a continuidade da história traçada até ali. Se a história narrada em Ficitons of Embassy foi “primordialmente uma história da cultura aristocrática”, a conclusão volta-se rapidamente para “uma consideração acerca de como os temas diplomáticos são transmutados quando apropriados pelo gênero dominante da modernidade burguesa – o romance” (p. 190). Numa leitura perspicaz, ainda que breve, Hampton argumenta que é na obra de Stendhal que a carreira literária moderna da diplomacia toma um rumo decisivo (é possível, porém, que uma leitura do livro supracitado de Marc Fumaroli o desmentisse, antecipando essa virada). O vermelho e o negro, sugere ele, marca o momento em que a diplomacia deixa de ser “a sinédoque da retórica política pública” – ao mesmo tempo o modelo dialógico rival e prenúncio da política burocrática moderna – que havia sido para a literatura imaginativa durante a primeira modernidade. Aliviada de seu peso político, apartada do mundo dos grandes dramas da negociação entre as nações, a diplomacia converte-se numa metáfora social para negociar as intrigas que dão forma aos pequenos (porém profundos) dramas cotidianos, dos costumes, da consciência moral, do refinamento estético e da felicidade (ou infelicidade) conjugal, nos quais estão envolvidos os Julien Sorel, Lambert Strether e as mrs. Newsome, de Woolet, Nova Inglaterra.
João de Azevedo e Dias Duarte – Doutor em história social da cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, bolsista de pós-doutorado pelo PNPD Capes. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
O adeus à Europa: a América Latina e a Grande Guerra – COMPAGNON (Topoi)
COMPAGNON, Olivier. O adeus à Europa: a América Latina e a Grande Guerra. Rio de Janeiro: Rocco, 2014. Resenha de: PARADA, Mauricio Barreto Alvarez. O espelho quebrado. Topoi v.l.15 n.29 Rio de Janeiro July/Dec. 2014.
Lançado no Brasil neste ano de rememorações dos cem anos da Grande Guerra, o livro O adeus à Europa: A América Latina e a Grande Guerra, do historiador francês Olivier Compagnon, contribui de forma muito instigante para os estudos sobre o conflito de 1914, pois o situa em um cenário pouco frequentado pelas pesquisas sobre o tema: a América Latina. Orginalmente um pesquisador do pensamento católico latino-americano, Compagnon estudou as relações entre os intelectuais cristãos da Argentina e Brasil com os trabalhos de Maritain e Maurras. Assim sendo, seu olhar como historiador se formou com extrema sensibilidade para perceber a circulação de ideias, projetos e pessoas. Compangnon nos oferece, portanto, a possibilidade de adentrarmos no mundo das histórias conectadas e da história comparada.
É nesse registro que ele apresenta seu trabalho sobre a Grande Guerra. Como tese geral, ele nos oferece a inversão de perspectiva, “latinoamericanizando” o conflito. Ao traçar o impacto da guerra de 1914 na América Latina – na verdade suas fontes estão concentradas no Brasil e na Argentina -, o autor pretende estender a geografia imaginativa que ronda as teses sobre os eventos do conflito mundial do início do século XX. Compagnon afasta-se, claramente, dos argumentos que pensam o desastre de 1914 como uma “guerra civil europeia”, sua proposta é levar avante a ideia de estudar um evento efetivamente mundial.
A presença da América Latina na historiografia da Primeira Grande Guerra é modesta, limitando-se a estudos de história militar, especialmente as poucas batalhas navais travadas na região, ou aos estudos que se referem ao telegrama Zimmermann no que concerne a sua importância para a adesão dos Estados Unidos à guerra em abril de 1917. Segundo Compagnon: “Tudo se passa como se, afinal, a América Latina (…) tivesse naturalmente escapado do sismo da primeira guerra total da história simplesmente por estar-lhe à margem”( p. 15).
O historiador francês destaca que, apesar de o conflito ter sido um acontecimento matricial para a história contemporânea, é muito curioso que raros pesquisadores levaram a fundo a hipótese de que a Primeira Guerra Mundial poderia ser algo além de um nebuloso pano de fundo para a história latino-americana do século XX. Seu argumento é que a Grande Guerra não foi um evento marginal na história brasileira ou argentina e que o esquecimento que envolve a historiografia contrasta com a eloquência das fontes disponíveis.
A grande imprensa, os debates políticos, a produção intelectual, entre outros materiais documentais, demonstram o quanto a opinião pública da América Latina manteve-se atenta à evolução do conflito entre agosto de 1914 até a redefinição da configuração política decorrente dos tratados de paz e da criação da Liga das Nações. Além disso, a questão da neutralidade ou do apoio militar, os efeitos nas relações econômicas e, mesmo, a nova posição internacional dos Estados Unidos a partir de 1917 tornariam impossível que os anos 1914-1918 passassem despercebidos na história do “extremo Ocidente latino-americano”(p. 18).
Para sustentar sua argumentação, Compagnon divide seu livro em três partes, em cada uma delas ele procura desenvolver uma tese específica que se relaciona com a ideia geral do livro. A costura do trabalho está sustentada pelo recurso a uma expressiva diversidade de fontes. Textos de jornais, correspondência diplomática, mensagens presidenciais, textos literários são citados em todos os capítulos criando uma tessitura que torna a leitura fluida.
O autor inicia a obra com três capítulos reunidos em uma unidade intitulada “Da guerra europeia à guerra americana”. O grande tema dessa passagem é a recepção da guerra na América, momento em que o autor avalia os diversos posicionamentos frente à eclosão do conflito. O debate principal gira em torno das contendas entre germanófilos e aliadófilos acerca do posicionamento dos países americanos. Afinal, observa Compagnon, a neutralidade ou a adesão a um dos lados mobilizou diplomatas, juristas e repercutiu sobre a grande população de imigrantes europeus que constituiu um fluxo constante para a América Latina desde o século XIX.
Assim sendo, a mobilização dos diversos grupos que pertenciam às complexas sociedades latino-americanas constituiu “uma primeira etapa no duplo processo de mobilização das sociedades e de nacionalização do conflito” (p. 65). As fontes apresentadas por Compagnon apontam para uma tendência latino-americana favorável aos aliados da Enténte, mas o próprio autor entende que essas vozes hegemônicas devem ser relativizadas.
Mais interessante do que isso, as fontes mostram uma forte solidariedade à França. As imagens mobilizadas nesses primeiros momentos da guerra colocariam de um lado a civilização francesa e de outro a bárbarie alemã, mostrando assim a tradicional face da aliança entre a América ibérica e a latinidade cristã francesa. Uma francofilia que apontaria para a ideia de que, portanto, o “destino da França na guerra seria uma metonímia do destino da humanidade” (p. 86).
O segundo grupo de capítulos, reunidos na segunda parte do livro e nomeados de “Europa Bárbara”, é um ponto forte do livro. Compagnon argumenta que o imaginário latino-americano formou-se tendo como referência os conceitos europeus de civilização, cultura e modernidade – sejam eles de matriz inglesa, alemã ou francesa. O relato diário narrado nos jornais sobre os horrores da guerra realiza uma “forma de desilusão com relação à Europa que, metodicamente, parece ter orquestrado seu próprio fim” (p. 166). A imagem inicial, cheia de dissonâncias, mas hegemônica, de uma luta entre a civilização latina representada pela França contra o bárbaro alemão “é progressivamente substituída pela imagem de um desmoronamento da civilização europeia em seu conjunto” (p. 166).
Citando Leopoldo Lugones e Afrânio de Mello Franco, o autor observa que ambos se referem a esse período em termos semelhantes: o crepúsculo de uma civilização. Nesse quadro, a Grande Guerra se apresenta com a marca da desilusão, uma sociedade “desatinada ao sacrificar milhões de indivíduos, imoral ao trair suas promessas [e] mentirosa ao falsificar a verdade que o cientificismo e o positivismo haviam (…) erigido em valor supremo da humanidade” (p. 208). Daí decorre, na análise de Compagnon, que os modelos europeus de modernidade se tornaram obsoletos e inválidos para a América Latina.
Os anos de 1914-1918 foram, então, o momento de uma grande inversão de paradigma nas relações entre a Europa e a América Latina. A guerra bárbara seria um sintoma do fracasso europeu e as “nações latino-americanas não poderiam continuar a tirar das fontes do outro lado do oceano as condições e modalidades de sua própria modernidade” (p. 223). A Primeira Grande Guerra Mundial seria o momento de uma renovação cultural da América Latina, uma segunda independência – “trata-se agora de levar a efeito uma emancipação intelectual […] e de redescobrir as virtudes próprias a cada uma das nações do subcontinente” (p. 225).
Os três capítulos reunidos na terceira parte nomeada de “A Grande Guerra, a nação, a identidade” fecham o livro. Compagnon desdobra o argumento da crise do paradigma civilizacional europeu para a América Latina. Segundo ele, a crise cultural proporcionada pela Grande Guerra é um convite para repensar os elementos definidores da identidade das nações latino-americanas. Além disso, a desconstrução do eurocentrismo e a reavaliação das nacionalidades abrem caminho para novas concepções de modernidade no Brasil e na Argentina. Trata-se, no dizer do historiador francês, de uma “virada cultural’ que merece ser avaliada com atenção. O deslocamento da “Europa como referência universal da modernidade e produtora de modelos destinados a suas periferias, convida a um sobressalto identitário” (p. 284). A Grande Guerra contribuiria decisivamente, no caso do Brasil, para gênese do modernismo de 1922, para formação do modelo teórico da democracia racial e para a modernização autoritária implementada pelo Estado Novo.
Assim exposto, o texto de “O adeus à Europa” nos coloca uma série de questionamentos. É inegável a qualidade da pesquisa empreendida por Compagnon, o uso das fontes mostra sua maturidade como historiador. No entanto, como um exercício de uma “história conectada” ele esbarra continuamente nas diferenças entre Brasil e Argentina. Mesmo ressaltando a forte circulação de ideias e intelectuais entre Rio de Janeiro e Buenos Aires – um exemplo sempre citado foi o discurso de Rui Barbosa em Buenos Aires em 1916 -, o autor não consegue evitar a disparidade das posições dos dois países frente ao conflito. O neutralismo do Governo Yrigoyen não encontra eco nas posições brasileiras a favor dos franceses e seus aliados.
Bloqueado pelas diferenças regionais, o autor de O adeus à Europa realiza um excelente trabalho de história comparada, mas a expectativa de uma história que explore redes e conexões funcionais fica em parte frustrada.
A inserção da América Latina na historiografia da Grande Guerra e a “crise do paradigma europeu” são propostas que abrem possibilidades para muitas pesquisas futuras, no entanto, a terceira parte do livro parece forçar o argumento para além de suas possibilidades. Compagnon tem o cuidado de relativizar algumas de suas conclusões, mas fazer da desilusão provocada pela Primeira Grande Guerra Mundial o gatilho para entender as grandes mudanças das décadas de 1920 e 1930 ocorridas nos países da América Latina é dar início a uma argumentação que tem dificuldades para ser levada a frente.
A grande desilusão com a Europa deve ser considerada um fator para entender uma “guinada identitária”, mas é difícil perceber na profundidade dessa ruptura os desdobramentos que sugere Compagnon. Afinal, temos que observar que os movimentos modernistas no Brasil e na Argentina dialogaram intensa e diversamente com as vanguardas europeias do entreguerras. Como entender o Estado Novo brasileiro sem a experiência política de Portugal e da Itália?
As questões surgem, no entanto, como demonstração da qualidade da obra. O texto de O adeus à Europa ocupa um importante lugar na historiografia recente sobre a Grande Guerra e também na historiografia latino-americana.
Mauricio Barreto Alvarez Parada – Doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
The history of Syria: 1900-2012 – HALL (Topoi)
HALL, Clement M. The history of Syria: 1900-2012. Boston: Charles River Editors, 2013. Resenha de: OMRAN, Muna. As marcas da história na guerra civil síria. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.
Escrito por M. Clement Hall, publicado em 2013, The history of Syria: 1900-2012 pretende ser uma leitura instigante por sugerir uma análise dos elementos constitutivos da história da Síria e por indicar que fornecerá subsídios para uma melhor compreensão da atual e conturbada guerra civil, iniciada em 2011. Em suas palavras: “People may know what’s going on in Syria today, but how did Syria get to where it is today, at the forefront of The Arabic Sprig?” (p. 2).
Apesar de Hall escrever para um público acadêmico e leigo, o que vemos nos 73 capítulos distribuídos em 34 partes é um inventário de fatos e datas. A narrativa é iniciada com a ascensão e queda do Império Otomano e se conclui relatando os atuais conflitos internos no país.
Segundo o autor, no último século, a história síria foi marcada pela violência, e uma das causas disso se encontra no sectarismo religioso que interfere nas relações sociais e políticas do país: “Within that narrative are a number of sensitive issues, including sectarian strife between the majority Sunni population and the Alawites, not to mention Christians” (p. 2). A contextualização sugerida, assim como o mapeamento e a descrição dos fatos que antecederam o conflito são fundamentais para que o leitor possa avaliar melhor os caminhos da guerra. Hall acredita que seu texto seja capaz de indicar e analisar as diversas variantes políticas do país, já que estas afetam toda a região: “(…) was a toxic and twisted mess that has precipitoulsy affected the entire region, from Israel and Lebanon to Iran and Iraq” (p. 2).
O primeiro capítulo, “The Ottoman Empire”, faz uma brevíssima apresentação acerca das origens do mesmo até sua derrocada. Todos os demais capítulos iniciais da primeira parte, “Before nationhood”, dedicam-se a descrever a administração do governo otomano na região e a fornecer datas que culminariam com a sua queda, no final da Grande Guerra.
Em “Dividing the spoils after the Ottoman collapse”, segunda parte do livro, é feita uma comparação crítica da divisão do referido Império com a que foi realizada pelas potências ocidentais após a queda de Saddam Hussein, no Iraque, em 2003. De acordo com o autor: “A major criticism of the invasion of Iraq and overthrow of Saddam Hussein was the apparent absence of planning for what would follow, specifically how Iraq was to be governed. 85 years earlier, the Great Powers were severely criticized for their plans to divide the Ottoman spoils of war” (p. 7). Ainda nesta parte, faz um mapeamento dos acordos que dividiram o Império Otomano a partir de 1861 e, finalmente, na terceira parte, começa um relato da história síria no século XX, que se mistura à narrativa de todos os povos do mundo árabe.
Hall destaca, como parte da história do país, o Protocolo de Damasco. Esse documento, datado de 1914, declarava o apoio de vários grupos árabes a Faisal Hussein Bin Hussein contra o Império Otomano e definia a criação de um Estado Árabe independente. Se na introdução do livro o autor afirmava que apresentaria mapas, “Along with maps showing how the modern state of Syria came to be formed (…)” (p. 2), já no capítulo “1914: Damascus Protocol”, deixou de fazê-lo, embora a apresentação desse mapa fosse importante para que se pudesse melhor compreender o espaço geográfico que o Estado Árabe preconizado pelo Protocolo ocuparia.
Em todos os demais acordos listados por Hall e que nomeiam os capítulos, vê-se, apenas, uma breve descrição dos fatos e dos personagens do Ocidente envolvidos; nesse aspecto, o livro atinge seu objetivo para um público leigo, mas não para o acadêmico, pois deixa de citar nomes como o do coronel T. E. Lawrence, o lendário Lawrence da Arábia, figura importante na articulação da Revolta Árabe de 1916-1918 contra os otomanos, ou ainda o de Muhamad Sharif Al Faruqi, um dos mais importantes membros das sociedades secretas árabes. Sharif teve papel importante no Protocolo de Damasco assim como, mais tarde, na formação do nacionalismo árabe.
No capítulo “And the French came”, explicitam-se a queda do rei Faysal, em 1920, a consequente derrota das tropas sírias e a divisão do país pelos mandatários em seis entidades territoriais de acordo com a confissão religiosa. O início do Mandato Francês na Grande Síria (atuais Síria, Líbano, Palestina e Jordânia) é narrado por Hall como a grande vitória europeia na região. Em suas palavras: “France was determined to assert what they saw as their rights in Lebanon and Syria, based on history (…)” (p. 13), mas o autor passa ao largo dos levantes contra os franceses durante o período, como também da utilização da ideia de Grande Síria pelos nacionalistas para justificar a criação de um grande Estado Árabe.
O autor recorreu aos 112 anos da história síria para reforçar uma visão eurocêntrica de um país do conturbado Oriente Médio, preocupando-se em listar os acontecimentos e construir um discurso em que a dominação europeia tinha “uma missão civilizatória e apaziguadora”. Tal posicionamento de Hall ilustra-se não apenas na já observada omissão de nomes de personagens árabes como também na descrição da reação dos sírios ao Mandato Francês: “However, nearly all the Syrian sects were hostil to the French Mandate and to the division it created” (p.17), ou, ainda, quando se refere ao período pós-independência do país, no capítulo “French bomb Damascus”, afirmando que foram tempos de muita instabilidade no local, mas não oferecendo nenhuma justificativa para sua afirmativa. Nesse período (1946), a Síria foi palco de diferentes sublevações, portanto, para um livro que se propõe a analisar os fatos históricos, a informação fica incompleta. O capítulo se encerra com a frase “The early years of independence were marked by political instability” (p. 26). O que poderia ser uma sentença de efeito para introduzir um próximo capítulo adquire um caráter conclusivo, mas insuficiente, pois somente o seguinte, “1947: United Nations partition plan for Palestine”, apresentará detalhes acerca da resolução da ONU sobre a criação do Estado de Israel e a reação negativa da Liga Árabe. Assim, na visão ocidental, a Síria é vista como motivadora dos ataques contra Israel – ”Armed bands of irregulars from Syria’s fledgling armed forces began to raid Jewish settlements near the Syrian border” (p. 28).
Dessa forma, desde o ponto de partida do livro, “Before nationhood”, há indícios de que as diversas expressões do nacionalismo sírio, mais adiante, seriam discutidas com a profundidade por um estudioso do assunto, o que não acontece. Fatos sobre a formação desse nacionalismo são apresentados, mas distantes de questões levantadas pelo Partido Socialista Nacionalista Sírio ou pelo Partido Socialista Ba’ath (que está no poder há quarenta anos), e tampouco se apontam as interseções nem as diferenças entre eles.
No capítulo “Arabs losses”, o autor dedica-se em apresentar o número de árabes mortos na guerra contra Israel e o de palestinos expulsos de suas casas. Aqui apenas são listadas as perdas árabes no conflito contra Israel; já no capítulo “Military Cops of 1949 and colonel Adib Shishakli”, Hall detalha a ascensão e derrocada de vários presidentes num espaço de um ano. Embora assuma que o presidente Hosni Za’im tenha chegado ao poder mediante um golpe de Estado promovido pelos EUA, governando por apenas cinco meses, o autor não informa ao seu leitor que, em seu brevíssimo governo, Za’im aumentou os impostos, prendeu nacionalistas sírios, executou Antoun Sa’ade, presidente do Partido Socialista Nacionalista Sírio, com a ajuda do israelense Ben Gurion, e fez um acordo de paz com Israel, recebendo em torno de 300 mil refugiados palestinos na Síria; por conseguinte, setores militares insatisfeitos o depuseram. Essa foi a primeira consequência da Catástrofe da Palestina (a Nakba – a catástrofe que se abateu sobre o povo palestino e os demais países árabes em decorrência da criação do Estado de Israel em 1948) na região. O conhecimento desse fato ajudaria a compreender o porquê do discurso de apoio aos palestinos ser a bandeira dos nacionalistas e poderia explicar o alinhamento da Síria à URSS durante a Guerra Fria, por exemplo.
Em “Alawite State”, capítulo dedicado aos alauítas, grupo muçulmano ao qual pertence a família do atual presidente Assad, o autor dedica um espaço maior, explicando sua origem religiosa. No entanto, traz informações discutíveis e equivocadas sobre eles, por exemplo, ao afirmar que “Their practices are considered unusual, as they do not follow the rules on prayer, fasting and wine, and a doctrine called taqiya permits them to make false declarations about their beliefs should the circunstances demand it to avoid persecution” (p. 18). Certamente, Hall se baseou numa bibliografia muito usada por europeus do início do século passado, que partiam de registros apresentados por outros grupos muçulmanos, já que os alauítas, ainda hoje, pouco divulgam suas ações de caráter esotérico e são poucos os estudiosos que conseguem ter acesso a algumas dessas práticas.
Se, por um lado, o Mandato Francês foi violento na repressão, por outro, na visão eurocêntrica, foi salvador para os alauítas, pois lhes garantia a liberdade de culto. Nas palavras do autor: “One of the terms of the mandate was that all persons in the territory given under French control should be allowed to follow their own religious practice (…)” (p. 18). A possibilidade de poderem praticar seus ritos sem serem repreendidos seduziu os alauítas, que passaram a ver os franceses com mais simpatia. Embora o sentimento de construir a Grande Nação Síria estivesse sedimentado em sua cultura, a estabilidade religiosa sobrepunha-se ao nacionalismo. Apresenta-se, assim, a motivação que aproximou os alauítas dos franceses, mas não se explicita a que aproximou os franceses dos alauítas, nem o porquê da criação do Estado, em “1924” (envolvendo as montanhas da costa do Mediterrâneo, as cidades de Latakia e Tartus, curiosamente poupadas pela atual guerra civil, e o norte do Líbano – Trípoli e Akkar), só para eles. Uma barganha que envolvia ambas as partes foi feita; por um lado, os alauítas apoiariam os franceses para a expulsão dos otomanos da região e, por outro, ganhariam um Estado só para eles, o que os livraria das perseguições religiosas e lhes daria uma estabilidade econômica, já que viviam em extrema pobreza. Entretanto, a administração política e econômica, obviamente, seria feita pelos franceses. A liberdade de expressão prometida pelos franceses foi uma estratégia, não apenas para angariar apoio e força, mas, principalmente, sob esse pretexto, aplicou-se o método imperial utilizado em outras colônias: dividir para melhor dominar.
No tocante a esse tema, Hall comete alguns equívocos, pois, além de se basear em fontes ideologicamente comprometidas contra os alauítas, erra na data da criação do seu Estado, que foi 1920, e não 1924, como o autor afirma. Em 1920, houve a delimitação do espaço da comunidade, entre 1921 e 1924, as fronteiras foram retificadas pelos mandatários, incluindo, então, os cantões de Baer, Bassi e Akkrad, de população sunita. De 1924 a 1936 o Estado sobreviveu, nunca com a tranquilidade esperada, já que a anexação dos cantões de maioria sunita aumentava a instabilidade na região. Novamente algumas omissões de personagens, como as lideranças do nacionalista Zaki Al ‘Arsuzy, ou ainda de seguidores de Saleh Al Ali, chefe religioso dos alauítas e nacionalista sírio, que liderou os Levantes de 1919 e 1921, e, mesmo exilado, mantinha sua influência no grupo, pois era inimigo declarado dos mandatários, por perceber que a criação de um Estado Alauíta não mudaria as relações de dominação da França. Os franceses integraram todas as regiões sob um único governo, em 1936, em nome de seu domínio e pressionados pela elite sunita, visto que também temiam mais um Levante Druzo (grupo religioso que se inscreve no islã).
A visão imperialista de Clement Hall, que serviu à Força Aérea Britânica na região, não aponta o uso da força militar na Grande Síria, durante o Mandato Francês. Os fatos se referem às reações contra os mandatários como pequenos levantes e às soluções encontradas em gabinetes franceses ou por meio de conchavos com as lideranças locais.
Algumas perguntas sobre a chegada do partido Ba’ath ao poder, o nascimento do partido na Síria, os primeiros anos deste na presidência, o golpe dado pelos militares liderados por Hafez al-Assad e a relação que há entre a atual perseguição aos alauítas e ações do governo Bashar desde a sua posse não são respondidas, fornecendo-se ao leitor apenas as datas dos eventos.
Em 1982, acontece um dos maiores massacres contra a população civil na Síria. A Irmandade Muçulmana, grupo ativista político sunita que luta pela implantação das Leis Islâmicas (shari’a) nos países árabes e muçulmanos, organizava-se, no país, desde 1976. A ascensão do Partido Ba’ath ao poder, que implantava um Estado laico, a chegada de Hafez Al-Assad à presidência, um alauíta, grupo historicamente adverso aos sunitas, o exército sob comando de alauítas, em especial, e o desejo de unificar os países sob a bandeira do Islã, levaram esses sunitas a um processo de luta pela derrubada de Assad e do seu Partido. Um período de terror se instaura no país, com perseguições, prisões, torturas e mortes de membros da Irmandade Muçulmana, que teve sua culminância com o Massacre de Hamas, em 1982. Tropas do exército sírio eliminaram entre 10 mil e 40 mil pessoas, na cidade de Hamas, bem como muitas foram presos. Ao mesmo tempo que a opressão às manifestações contrárias ao regime é narrada, Hall explica, encerrando o capítulo, entre parênteses, como se fosse uma informação não essencial, que Assad libertou alguns nos anos 1990: “During the rest of Hafez al-Assad´s reign, there were only a few public manifestations of anti-regime activity. (Having suppressed all opposition, Hafez al-Assad released some imprisoned members of the Brotherhood in the mid-1990s)” (p. 48).
De todas as rebeliões que o governo de Assad, pai, sofreu, desde sua ascensão, Hall dedica dois longos capítulos, “Muslim brotherhood and Hama” e “Muslim brotherhood”, às promovidas pela Irmandade Muçulmana. Chama a atenção o silêncio absoluto do autor em relação às prisões e aos massacres de comunistas promovidas pelo governo de Hafez Al-Assad. Entretanto, não é de se estranhar, essa atitude pode ser justificada, pois Hall é um ex-membro do serviço secreto das forças aéreas britânicas.
Um dos pontos mais sensíveis da história recente da Síria é a Guerra Civil Libanesa (1975-1990). O regime político do Líbano é regido pelo confessionalismo, em que cada comunidade religiosa se transformou num órgão político, incompatibilizando, assim, os interesses do Estado Libanês. O capítulo que trata sobre a guerra libanesa, “Intervention in Lebanon”, é mais um relato de datas, lembrando um diário de bordo, sem justificar a participação da Síria na referida Guerra e sua posterior retirada, nem aprofundar as relações da Síria com o Líbano no “pré” e no pós-guerra.
Em 2000, com a morte do presidente Hafez al-Assad, ao contrário do que ocorre no presidencialismo democrático do Ocidente, não foi o vice-presidente Abdul Hamid Khadem quem assumiu, e sim o filho de Hafez. Após uma manobra política do partido Ba’ath para pôr fim a uma exigência constitucional que limitava a idade mínima de quarenta anos, Bashar é referendado como presidente da República aos 34 anos, pelo Parlamento, em julho de 2000.
Novamente, a ascensão de Bashar ao poder é contemplada por Hall apenas com a apresentação de algumas datas e ações que marcaram sua política inicial. Lembra que o presidente sírio, assim que assumiu, libertou seiscentos presos políticos, entre eles, islamitas da Irmandade Muçulmana, mas deixa o leitor sem resposta diante da questão sobre a motivação que o líder sírio teve para promover tais reformas, qual é o interesse do Ocidente por elas e que relação tem o não cumprimento das propostas de abertura política com o inicial apoio americano e europeu às rebeliões de 2011. Reconhece os fracassos das tímidas tentativas de mudanças apresentadas pelo atual presidente, mas não discute por que tal regime não foi capaz nem de democratizar e muito menos de reformar o Estado.
Passados três anos de guerra civil, a despeito de todas as expectativas ocidentais, Bashar Al-Assad continua no poder, ao contrário dos presidentes Saddam Hussein (Iraque), Hosni Mubarak (Egito) e Muammar Kadafi (Líbia). Na parte final do livro, “The situation in Syria”, embora o autor reconheça que o presidente continue a governar, deixa em suspenso para o leitor o que motivou o apoio de outros países da região ao conflito local e como Bashar ainda se mantém na presidência, com aval popular. Hall fornece apenas o número de mortos e refugiados e informa sobre a posição das grandes potências do Ocidente. Em nenhuma passagem do livro o autor estabelece relações entre os fatos formadores da história da Síria desde 1900 e a situação atual ou faz uma avaliação mais aprofundada da conjuntura, o que seria extremamente esclarecedor em um ano eleitoral.
Sabendo-se que Clement Hall serviu à Força Aérea Britânica, esperava-se que uma análise sob o ponto de vista das estratégias militares fosse adotada e assim, pelo menos, seria possível compreender a história do país a partir de uma perspectiva militar. Mas a arabofobia de Hall o impediu de refletir tanto sobre a história política e social quanto sobre o aspecto militar. A lacuna sobre a história da Síria contemporânea continua em aberto.
Muna Omran – Doutora em teoria e história literária pela Universidade Estadual de Campinas, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Leitura e Fruição da Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
El culto mariano en Luján y San Nicolás: eligiosidad e historia regional. Buenos Aires – FOGELMAN (Topoi)
FOGELMAN, Patricia; CEVA, Mariela, TOURIS, Claudia. El culto mariano en Luján y San Nicolás: religiosidad e historia regional. Buenos Aires: Biblos, 2013. Resenha de: MARTINS, William de Souza. Santuários e romarias na Argentina: dinâmicas sociais, políticas e culturais. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.
A recente contribuição trazida por um conjunto de estudiosos argentinos deve merecer a maior atenção da comunidade de historiadores interessada no estudo das práticas e das representações religiosas. Ligando-se ao Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet), à Universidad de Buenos Aires (UBA), à Universidad Nacional de Luján (Unlu) e a outras instituições de pesquisa, os organizadores e demais autores publicaram uma coletânea que traz a marca do trabalho coletivo de pesquisa e do esforço conjunto de reflexão metodológica. Devido a tais características, a importância da obra vai além do estudo específico da dinâmica social e das apropriações políticas construídas em torno aos santuários marianos localizados em Luján e em San Nicolás, trazendo também hipóteses e reflexões que podem servir de ponto de partida para a análise do culto à Virgem Maria em outros contextos da ibero-américa.
Na introdução, de autoria das três organizadoras do volume, estão delineadas as principais diretrizes de interpretação da devoção mariana irradiada dos dois locais de peregrinação selecionados. Superando o enfoque meramente institucional, as autoras/organizadoras amparam-se em uma abordagem interdisciplinar para dar conta da complexidade dos fenômenos religiosos em foco. De acordo com tal perspectiva, a ação institucional da Igreja é apenas um elemento no interior de um conjunto mais vasto que compõe o campo religioso. Nesse, o imaginário mariano e os modelos de santidade emanados da instituição eclesiástica interagem com as identidades coletivas de romeiros, devotos e demais agentes sociais, adquirindo aqueles, a partir da referida interação, novos conteúdos e significados. Situando-se entre a história social e a cultural da religião, o conjunto dos estudos procura igualmente inserir-se no campo da história regional. Superando uma concepção estritamente geográfica do conceito de região, compreendido como práticas sociais inseridas no âmbito de determinado território, as pesquisadoras procuram defini-lo como “um espaço cultual e relacional”, que não é estritamente físico, econômico ou geográfico. A escala média de observação priorizada nos estudos afasta-se, como explicam as autoras, da perspectiva da microanálise, que enfatiza as tramas, as incertezas e os horizontes de expectativa de agentes individuais. A escala intermediária de observação foi escolhida como a mais adequada para: analisar a interação entre as práticas devocionais marianas produzidas em escala local e os agentes sociais que operam em cada região; compreender as estratégias políticas de construção de identidades nacionais a partir dos âmbitos local e regional; e estudar em uma perspectiva apropriada o modus operandi de uma instituição cujos agentes e doutrinas seguem diretrizes de um centro supranacional.
Os três objetivos mencionados são trabalhados nos cinco textos da coletânea que abordam, em diferentes perspectivas e temporalidades, o templo dedicado à Imaculada Concepção da Virgem Maria, em Luján, e o santuário construído em homenagem a Nossa Senhora do Rosário em San Nicolás. Seguindo uma sequência cronológica, aparece em primeiro lugar o estudo que Patricia A. Fogelman dedicou ao primeiro santuário. Em uma pesquisa minuciosa que abarca um período de dois séculos, o texto desvela diferentes estratégias sociais e políticas de construção de memórias e identidades coletivas. No primeiro plano da análise, encontra-se o padre Jorge María Salvaire, clérigo da Congregação da Missão, que em 1885 publicou em Buenos Aires a Historia de Nuestra Señora de Luján, su origen, su Santuario, su Villa, sus milagros y su culto. Em um período marcado pela forte ação secularizadora do Estado sobre a vida pública – em que aparecem medidas como a educação obrigatória e laica, a instituição do casamento civil, a ruptura de relações com o Vaticano -, a obra de Salvaire está inserida na estratégia da Igreja de reagir à política de caráter liberal. O início da construção da Basílica Nacional de Luján, templo edificado em estilo neogótico, cuja primeira pedra foi lançada em 1887, também aparece como parte desse movimento de reação. De maneira engenhosa, a autora propõe que tanto a obra de Salvaire quanto a nova basílica podem ser compreendidas como ex-votos ofertados à Virgem em retribuição a favores alcançados pelos protagonistas de tais realizações.
Analisando tanto o texto como as imagens presentes na obra de Salvaire, a autora investiga a operação seletiva de memória conduzida pelo sacerdote lazarista, que busca fortalecer o culto da Virgem de Luján, valorizando agentes que tiveram um papel-chave na promoção da devoção mariana. Foi o caso do rico devoto leigo don Juan de Lezica y Torrezuri, que em meados do século XVIII reconstruiu o templo da Virgem de Luján então em ruínas, e o cardeal Juan Mastai Ferreti, que em 1824 havia visitado o santuário argentino. Mais tarde, o mesmo cardeal sagrou-se como papa Pio IX, o mesmo que aprovou o dogma da Imaculada Conceição e que arquitetou a reação da Igreja à modernidade, no movimento conhecido como ultramontanismo.
Nos textos de Mariela G. Ceva e Silvina M. Olaechea estão presentes as tensões entre, de um lado, o nacional e o estrangeiro e, de outro, o nacional e o regional. A primeira autora destaca as peregrinações efetuadas pelos imigrantes italianos em Luján, no período da comemoração do centenário da independência argentina, em 1910. Mariela Ceva se preocupa primeiramente em contextualizar a ação que a Igreja Católica vinha desenvolvendo, desde aproximadamente 1870, no sentido de atrair e integrar aquele segmento da população por meio de rituais e atividades sociais. As peregrinações faziam parte, portanto, de um movimento mais amplo de inserção social e de evangelização. O santuário da Imaculada Concepção de Luján, para onde se destinavam aqueles imigrantes, há décadas já vinha acolhendo muitas levas de romeiros argentinos, sob o patrocínio de algumas autoridades civis e do clero, que buscavam conferir ao santuário uma projeção nacional. A inauguração da basílica de Luján em 1910, durante as comemorações do centenário da independência, e a elevação da Virgem de Luján à condição de padroeira da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, em 1930, podem ser vistas como desdobramentos das iniciativas anteriores de promoção do culto mariano. Desfilando sob as bandeiras argentina e italiana, devotos provenientes de diferentes regiões da Itália encontravam durante a peregrinação ao santuário oportunidades de reviverem antigas identidades, agora redefinidas pela condição comum de imigrantes. Tais romarias foram efetuadas até a década de 1940.
O texto de Silvina Olaechea, dedicado às peregrinações de bolivianos e gaúchos em Luján, traz à luz questões ligadas à afirmação de identidades nacionais e regionais. Os primeiros chegaram à Argentina a partir da década de 1950, para atuar principalmente como trabalhadores agrícolas. Cerca de trinta anos depois, as romarias de bolivianos a Luján foram organizadas pela ação pastoral da Igreja. Ao colocar em prática diretrizes, que foram mais tarde sistematizadas no Documento de Aparecida (2007), a instituição eclesiástica buscou promover a realização de romarias, vistas como instrumento de evangelização. A peregrinação anual dos bolivianos a Luján tem lugar no dia 5 de agosto, em que é venerada Nossa Senhora da Candelária de Copacabana, a padroeira da Bolívia. Na data assinalada, a imagem da Virgem de Copacabana vem ocupar um lugar de destaque no palco dos festejos principais defronte à basílica de Luján. O encontro das duas devoções marianas exibe novamente o caráter plástico do culto à Virgem, cuja multiplicidade de significados é proporcional à variedade de agentes sociais, etnias e grupos profissionais que atrai. O patrocínio da Virgem de Luján ao Movimento Tradicionalista Argentino é também sintomático a esse respeito. Desde a década de 1940, centenas e até milhares de peregrinos a cavalo, vestidos com a indumentária tradicionalmente associada a sua região, são atraídos para o lugar de romaria em foco.
O estudo de Claudia F. Touris introduz os leitores na efervescente conjuntura política e religiosa do final da década de 1960 e princípios dos anos 1970. Sob o impulso das transformações introduzidas pela Igreja Católica no Concílio Vaticano II, setores do clero argentino engajaram-se em ações pastorais de caráter acentuadamente popular. A autora analisa de modo específico a atuação do Movimento de Sacerdotes para o Terceiro Mundo (MSTM). Fundado em 1967, o Movimento em questão atuou nas periferias de centros urbanos, em especial, na região metropolitana de Buenos Aires. Nesse espaço, os locais preferenciais de participação foram as villas, assentamentos populacionais caracterizados pela informalidade e pela precariedade das condições de moradia. Sob a liderança de Carlos Mugica, os sacerdotes villeros denunciavam a instrumentalização do catolicismo por parte da elite e do episcopado tradicional, ao utilizarem a religião para sacralizar e legitimar relações de poder. Em 1969, na primeira peregrinação organizada pelos sacerdotes villeros ao santuário de Luján, os folhetos distribuídos na romaria continham súplicas à Virgem por trabalho e salário justos para a população das villas.
Sob o ponto de vista teológico, o movimento do clero villero abraçava as diretrizes da Teologia do Povo ou Pastoral Popular, uma das correntes da Teologia da Libertação. Considerava-se que as camadas populares eram portadoras de um catolicismo mais autêntico do que o das elites, devendo por isso ser qualificado como uma concreta encarnação do cristianismo. Carecia de legitimação considerar “evangelho degradado ou magia disfarçada” tal forma de religiosidade. Partindo desses pressupostos quase culturalistas, os sacerdotes villeros procuraram valorizar os rituais e as manifestações sacramentais próprias do catolicismo popular. Ainda que procurassem despertar a conscientização dos fiéis em face das demandas cotidianas, o clero já referido não sobrevalorizou os aspectos sociopolíticos, como praticaram outras vertentes da Teologia da Libertação. Não obstante, no início dos anos 1970, o movimento villero experimentou uma crescente politização, aproximando-se do peronismo e dos montoneros.
O último artigo da coletânea, de autoria do geógrafo Fabián C. Flores, analisa a emergência do culto mariano na cidade de S. Nicolás, um porto fluvial localizado às margens do rio Paraná, a cerca de 240 quilômetros de Buenos Aires. No pós-guerra, e de modo acentuado a partir de 1960, com a inauguração oficial da siderúrgica Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (Somisa), a localidade de San Nicolás atraiu grande contingente de trabalhadores para atuar no setor de transformação. O processo de industrialização foi capaz de redefinir a identidade local, pois San Nicolás passou a ser representada como a “cidade do aço”. Uma parte da mão de obra se fixou no bairro operário da Somisa, no interior do qual os trabalhadores estabeleciam relações de pertencimento coletivo à “comunidade do aço”. Outra parte se estabeleceu em villas precárias nos subúrbios de San Nicolás. Nessas villas periféricas, predominavam trabalhadores provenientes das províncias do noroeste argentino, e inclusive do Paraguai.
A política de afastamento do Estado do setor de transformação, que se esboçou ao longo da década de 1980, se intensificou em 1991, com a privatização da Somisa. Logo, na cidade de San Nicolás, se tornaram visíveis os efeitos da desindustrialização, sendo um dos mais evidentes a redução do contingente de trabalhadores, cujas vagas foram substituídas por precárias ocupações no setor de serviços. Em 1983, em meio a tal processo, se verificaram as primeiras aparições da Virgem Maria em San Nicolás. Gladys Quiroga da Motta, uma mulher que vivia em uma das villas periféricas, considerava-se portadora de diversas mensagens enviadas pela Virgem, que lhe teria revelado inclusive o local onde seria construído um novo santuário em sua homenagem. O apoio da municipalidade à cessão dos terrenos para a construção do templo e a atração exercida sobre a população local pelas aparições foram responsáveis, em duas décadas, por substantivas redefinições das identidades locais. A antiga representação da “cidade do aço” cedeu aos poucos espaço para a emergência de uma nova imagem local, “a cidade de Maria”. O templo sob o patrocínio da Virgem do Rosário de San Nicolás tornou-se lugar de peregrinação, ocupando uma parte da população local na atividade do turismo religioso.
Um dos méritos trazidos pelo enfoque metodológico da história regional aplicado aos estudos mencionados diz respeito à superação da escala local para a observação dos processos em análise. Os estudos de santuários locais, sob o ponto de vista da pesquisa histórica1 ou antropológica2 priorizaram as trocas simbólicas estabelecidas entre os fiéis e as imagens sagradas. Isto é, a oferta de dons materiais e a realização de promessas por parte dos romeiros corresponderia à realização de milagres e intercessões efetuadas pelos advogados celestes. Nesse tipo de análise, não se torna muito visível a operação de determinados grupos de interesses e de instituições, que se apropriam do conteúdo simbólico das imagens e das aparições, conferindo-lhes novos significados. Sob este ponto de vista, a coletânea aqui resenhada se aproxima do estudo de Carlos Alberto Steil,3 no qual a base local de observação leva em conta a ação da instituição eclesiástica que, dirigindo-se por objetivos mais universais, redefine e atribui novos significados ao catolicismo dos devotos da região.
Não obstante, a obra coletiva aqui resenhada poderia ganhar mais fôlego aproximando-se de outras contribuições historiográficas dirigidas à análise do culto mariano na ibero-américa, particularmente as obras de Jacques Lafaye e de David Brading.4 Ainda que não estejam inseridas no campo da história regional, as duas obras mencionadas contemplam questões que emergem nas análises acerca do santuário de Luján, em especial as identidades étnicas e o problema comum da identidade nacional. No que tange à América portuguesa e ao Brasil independente, os estudos acerca da devoção mariana se encontram ainda em patamar mais incipiente, apesar de Nossa Senhora da Conceição ter sido considerada, em 1640, padroeira do Reino de Portugal e, mais tarde, do Império brasileiro. Nesse sentido, os estudos reunidos na coletânea podem fornecer novos subsídios a comparações entre diferentes formas de devoção mariana na ibero-américa. Em particular, as análises que Juliana Beatriz Almeida de Souza dedicou à Virgem da Conceição Aparecida,5 cuja imagem lembrava as características da Virgem de Guadalupe mexicana; assim como o estabelecimento de Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira do Brasil em 1931, segundo a análise de Rubem César Fernandes,6 praticamente na mesma época em que a Virgem de Luján recebera idêntica honraria em relação à Argentina, ao Uruguai e ao Paraguai.
1 Ver, por exemplo, CHRISTIAN JR., William. Local religion in sixteenth century Spain. Princeton: Princeton University Press, 1981.
2 Ver SANTALÓ, C. Álvarez; BUXÓ, Maria Jesús e BECERRA, S. Rodríguez (Coords.). La religiosidad popular: hermandades, romerías y santuarios. Madri: Anthopos, 1989.
3 STEIL, Carlos Alberto. O sertão das romarias: um estudo antropológico sobre o santuário de Bom Jesus da Lapa – Bahia. Petrópolis: Vozes, 1996.
4 LAFAYE, Jacques. Quetzalcóatl et Guadalupe. La formation de la conscience nationale au Mexique (1531-1813). Paris: Gallimard, 1974; BRADING, David. La virgen de Guadalupe. Imagen y tradición. México: Taurus, 2002.
5 SOUZA, Juliana Beatriz de Almeida. Virgem mestiça: devoção à Nossa Senhora na colonização do Novo Mundo. Tempo: Revista do Departamento de História da UFF, Niterói, v. 6, n. 11, p. 77-92, jul. 2001.
6 FERNANDES, Rubem César. Romarias da paixão. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
Wiliam de Souza Martins – Doutor em história social pela Universidade de São Paulo, professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
O patrimônio em questão: antologia para um combate – CHOAY (Topoi)
CHOAY, Françoise. O patrimônio em questão: antologia para um combate. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011. Resenha de: LANARI, Raul Amaro de Oliveira. Um combate em dois fronts. Topoi v.15 n.28 Rio de Janeiro Jan./June 2014.
Lançado no Brasil no ano de 2011, o livro O patrimônio em questão: antologia para um combate, da pesquisadora francesa Françoise Choay, integra um campo de investigação já consolidado nas áreas da história, antropologia e arquitetura/urbanismo: o patrimônio cultural. Autora de A alegoria do patrimônio (1992), Choay possui uma visão crítica do processo de expansão da “cultura do patrimônio” nos tempos da cultura de massas, o que pode ser percebido pelo título de seu novo livro. Seu combate pode ser resumido como a luta contra o esvaziamento da função memorial dos monumentos no contexto urbano e, assim, trata-se de uma discussão que interessa aos estudiosos da história das cidades, bem como da história das políticas públicas na área da cultura.
Choay não se encontra sozinha neste combate. A “questão urbana” é objeto de estudo de uma série de estudiosos franceses, desde Henri Lefebvre (1920-1991), autor de O direito à cidade (1968), até Henri- Pierre Jeudy, autor de Espelho das cidades (2005). Da publicação do célebre livro de Choay em 1992 aos dias atuais observaram-se diversos esforços para o aprofundamento das temáticas abordadas pela autora. No caso brasileiro, é necessário citar os estudos de José Reginaldo Santos Gonçalves, Antônio Gilberto Ramos Nogueira, Ulpiano Bezerra Toledo de Meneses, Márcia Regina Chuva, Silvana Rubino, Maria Cecília Londres Fonseca, Rogério Proença Leite e Myriam Sepúlveda dos Santos. Percebe-se, portanto, que a contribuição atual de Choay encontra ampla receptividade na comunidade acadêmica brasileira e mundial.
Seria de se esperar, dada a importância da autora no debate sobre o patrimônio e as cidades, que seu novo livro trouxesse novidades analíticas, pontos de aprofundamento de suas hipóteses. Não é isso o que se percebe após a leitura do mesmo. O patrimônio em questão: antologia para um combate sintetiza ideias já consagradas, possui generalizações, por vezes apresenta uma visão esquemática do processo histórico que procura identificar. O livro é dividido em três partes: um Prefácio, uma Introdução e uma Antologia de Textos. Dedicaremos as próximas páginas à análise dessas seções.
A autora inicia a obra com um pequeno prefácio, no qual explica as condições de sua elaboração – disciplinas ministradas na universidade para futuros arquitetos e urbanistas e cursos destinados a profissionais interessados pela história ou gestão do patrimônio. Apresenta seu combate contra as confusões terminológicas que apagaram a profundidade da preservação do patrimônio, retirando dele a função de evocar a memória viva, e propõe uma tomada de consciência. Trata-se de um livro destinado a um público duplo, formado por acadêmicos e pesquisadores, mas também pelo “público não especializado e não informado dos cidadãos” (p. 10). Para atingir seu fim, Choay admite que realizou algumas generalizações para condensar conteúdos já explorados em A alegoria do patrimônio. Percebe-se então que o caráter generalizante e por vezes pouco denso da exposição decorre de uma escolha de Choay, que sinaliza uma tentativa de alargamento do debate público sobre o patrimônio e as cidades. Talvez a inovação maior da obra, portanto, seja seu caráter de um “combate bifronte” e não o aprofundamento da reflexão teórica.
A introdução do livro parte da análise genealógica do conceito de patrimônio. Choay recupera inicialmente a distinção entre monumentos e monumentos históricos, raízes lexicais do conceito difundido mundialmente nos dias atuais. Os primeiros são construídos com clara intenção de evocar a lembrança e ligam-se à memória viva. Já os segundos são elaborações de determinado saber sobre a realidade, escolhas efetuadas entre um vasto conjunto de monumentos de acordo com os valores históricos, artísticos, políticos, dentre outros. Para Choay, os monumentos têm longa existência, com presença marcante nas sociedades humanas desde tempos muito remotos, enquanto os monumentos históricos são característicos da sociedade europeia pelo menos desde a Alta Idade Média. A despeito da importância dada a ambos, a autora ressalta que a ação destruidora esteve presente e foi até predominante na maioria dos períodos históricos, principalmente no continente europeu. Sacudida por revoluções culturais, a Europa gestou o culto moderno dos monumentos, a partir da Renascença e da Revolução Industrial, em diferentes graus de amplitude, de acordo com as regiões.
A autora argumenta que a evolução do monumento ao monumento histórico ocorreu de forma lenta entre os séculos XV e XIX e mais rapidamente na virada do século XIX para o XX, com consequências importantes. Três revoluções culturais europeias teriam impulsionado estas mudanças. A primeira, na Renascença, caracterizou-se pelo afrouxamento do teocentrismo medieval. O ser humano deixou de ser considerado mera criatura e a ele passou a ser atribuída uma capacidade criadora, o que levou ao interesse nas manifestações da atividade humana em diferentes épocas. Novos tipos profissionais urbanos como o arquiteto e o artista plástico se destacaram por desempenharem atividades relacionadas ao apuro técnico, ao deleite estético e à história dos homens. Arte e técnica andavam juntas e garantiam a legitimidade de um novo saber, histórico. As obras da Antiguidade, em muitos casos utilizadas como fontes para a confirmação ou negação dos textos antigos, foram as primeiras a receber a atenção desses novos homens de artes e saberes – os eruditos antiquários. As cidades italianas foram precursoras dessa primeira revolução cultural no século XV, que se estendeu aos reinos vizinhos a partir do século seguinte. Segundo a autora, “os antiquários e suas Antiguidades” caracterizaram uma nova forma de se relacionar com o passado humano por intermédio do ambiente construído (p. 16-17).
O desenvolvimento desse culto às Antiguidades pela ação dos antiquários seguiu uma linha evolutiva irregular até o começo do século XIX. Porém, o saber erudito desses novos homens de letras foi responsável por uma “tomada de consciência da unidade europeia” (p. 18). Três teriam sido os momentos dessa evolução. Até o século XVII predominou a ação dos antiquários na catalogação dos monumentos e na defesa de métodos para sua reconstrução e inserção nas cidades antigas. No século XVIII os estudos passaram a apresentar vasta documentação iconográfica. Entretanto, esse saber mais livresco, calcado na leitura dos textos clássicos e que já se fazia presente no período anterior, não logrou preservar as Antiguidades. No final do século XVIII e no início do XIX, as mutações nos saberes existentes, com a ascensão das ciências naturais, as obras dos antiquários, historiadores da arte ou antropólogos se tornaram mais pretensamente científicas, o que influenciou a valorização da relação entre texto e imagem.
Entre fins do século XIX e início do XX, a segunda revolução cultural europeia, a Revolução Industrial, introduziu o maquinismo na cultura ocidental, com o paulatino predomínio da técnica e da ciência. Foi essa a época do surgimento dos monumentos históricos, amparado por políticas oficiais de proteção que desenvolveram procedimentos diversos de conservação e restauro. Como no Renascimento, essa segunda revolução teve grandes impactos nas relações sociais, divididos, pela autora, em quatro grupos: 1. os campos do saber, com a ascensão da história e sua unificação em torno de diversas subdisciplinas; 2. a sensibilidade estética, com o romantismo e atribuição de uma importância praticamente transcendente, religiosa à obra de arte; 3. a revolução das técnicas, com a fotografia, a imprensa e os estudos físico-químicos; 4. o êxodo rural, a desordem dos modos de vida tradicionais e, principalmente, a inauguração de uma nova relação com o tempo. A velocidade da sociedade da máquina levou a mudanças bruscas nas cidades, o que deu margem a uma nova nostalgia característica do século XIX, o século da história. Essa nostalgia arrebatou as elites nacionais mais abastadas (p. 21-22).
O desenvolvimento desse sentimento nostálgico também teve forte impulso dos nacionalismos que vicejaram na Europa no último quartel do século XIX até pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial. O leque espacial e temporal dos monumentos – agora históricos e nacionais – foi ampliado e ultrapassou as construções da Antiguidade e do Medievo para adentrar no ambiente construído pré-industrial. A prática preservacionista chegou a alguns países da Ásia e das Américas, como o Brasil, onde as primeiras políticas de preservação do patrimônio foram implementadas na década de 1930. Foram elaborados complexos aparatos teóricos e jurídicos para a proteção dos monumentos e a aferição de seus valores. Algumas diferenças eram marcantes e caracterizaram escolas de pensamento que influenciam até hoje os pontos de vista nacionais sobre as políticas de preservação. Enquanto na França houve ênfase maior na construção de categorias jurídicas por parte do Estado, dentre as quais a do “tombamento” foi a mais importante, nos países de língua inglesa a preservação ficou a cargo de associações particulares de estudiosos e colecionadores. O modelo francês previa uma reconstituição dos edifícios significativos e isolados em um estado de completude ideal. O modelo inglês afastava-se dessas proposições, valorizando a ruína e conferindo a ela um caráter quase sagrado. A escola italiana, por sua vez, pensou as técnicas de restauro e ensaiou uma proposta de reutilização dos edifícios antigos. A tradição alemã, da qual fez parte Alöis Riegl, foi a primeira responsável por uma análise fundada nos valores contraditórios dos quais todo monumento é portador (p. 22-26).
O último ciclo de mudanças que teria contribuído para a atual valoração do patrimônio é situado após a Segunda Guerra Mundial, no contexto de internacionalização da cultura ocidental e da organização dos organismos multilaterais, como a ONU, a Unesco, a OMC e outros. Introduziu também as inovações tecnológicas da computação e dos ambientes virtuais, das próteses urbanas enxertadas a partir de concepções de cultura globalizantes. Essa terceira revolução cultural não foi apenas europeia, se caracterizou por seu aspecto mundial. Foi o período no qual surgiu a noção de “Patrimônio Cultural da Humanidade”, responsável por uma profunda modificação na relação da sociedade com seus monumentos, históricos ou não. A existência de uma suposta cultura mundial, apoiada pelos grandes grupos de comunicações e pelas estratégias de marketing cultural, trouxe em seu bojo a planificação dessa mesma cultura, a perda de suas especificidades e dos valores que definiram a existência dos monumentos e monumentos históricos em sua evolução no tempo. A autora constata que as diferenças entre estes dois últimos são cada vez mais apagadas por essa nova concepção globalizante de cultura, e que ambos se mostram cada vez mais esvaziados de valor simbólico e participantes de ações de estilização urbana. Os edifícios e os processos de restauro, por sua vez, são cada vez mais frutos dos softwares, e o arquiteto limitou sua atividade à boa operação desses programas.
A autora não ignora a mercantilização desse patrimônio, que serve bem a estratégias políticas e empresariais de “responsabilidade social”. Tratado como um produto cultural, o patrimônio passa a ser um pastiche, ou uma casca sem conteúdo (p. 34-38). O esvaziamento simbólico do patrimônio foi acompanhado por um boom de consumo dos bens culturais. Cultura passou a ser sinônimo de entretenimento, e as políticas de preservação se aproximaram das de turismo, muitas vezes confundidas com elas. Assistiu-se a um processo de reconstrução de monumentos com a retirada das populações originais e a adequação a padrões cada vez mais homogêneos de visitação por pessoas de alto poder aquisitivo. Choay termina sua Introdução com duras críticas ao panorama descrito, e conclama não somente os estudiosos, mas sobretudo os cidadãos, à tomada de consciência do apagamento daquilo que caracteriza a vida humana no espaço, a diferença e a ação do próprio homem. Ela refuta as soluções padronizadas em assuntos de preservação do patrimônio edificado e recupera exemplos franceses, italianos e colombianos para mostrar que ainda é possível revitalizar sítios ouvindo a comunidade e pensando estratégias inusitadas para vencer o formalismo reinante na prática patrimonial. Ao mesmo tempo, exalta o Homo sapiens sapiens em detrimento do Homo protheticus, artificial, mecanizado e estanque.
A segunda parte do livro é constituída por 21 seleções de textos significativos para ilustrar a evolução apresentada pela autora em sua introdução. Os textos são precedidos de comentários explicativos, nos quais a obra do autor é contextualizada no tempo e no espaço em que foi produzida. Os autores selecionados são: Abade Suger, Poggio Bracciolini, Pio II Piccolomini, Baldassare Castiglione, Raffaello Sanzio, Leão X, Jacob Spon, Bernard de Montfaucon, Aubin-Louis Millin, Félix de Vicq D’azyr, Quatremère de Quincy, Victor Hugo, John Ruskin, Eugène Violet-Le-Duc, Karl Marx, Alöis Riegl, Gustavo Giovanoni, André Malraux, além de excertos da Carta de Atenas (1931), da Carta de Veneza (1964) e do documento resultante da Convenção pela Proteção do Patrimônio Mundial, organizada pela Unesco em 1975. Os textos são provenientes, em sua totalidade, da Europa, e a autora justifica a escolha pelo fato de se tratar de uma obra nascida dentro das salas de aula europeias, por mais que a problemática seja mundial. Na maioria dos textos as seleções privilegiam pontos considerados positivos. Os comentários críticos da autora se aprofundam na medida em que os textos vão se tornando contemporâneos. Dentre todos, os mais incisivos são os destinados às proposições de André Malraux, primeiro-ministro da Cultura francês e principal defensor da noção de “patrimônio cultural”, e às propostas da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, de 1975.
Choay explica que prefere combater por algo a combater contra algo. Seu combate é pela capacidade criadora, pela defesa da humanidade fundada na diferença, pela desmercantilização do patrimônio e a reapropriação dos bens imóveis legados pelo passado a partir de usos contemporâneos. Ela advoga a participação das comunidades locais, associações civis de moradores, em substituição ao modelo estatista de preservação dos monumentos, argumentando que somente os primeiros podem buscar soluções não artificiais, enraizadas espacial e temporalmente.
O historiador dedicado a trabalhos técnicos ou acadêmicos na área do patrimônio pode terminar o livro se perguntando sobre a ausência do patrimônio imaterial nas análises de Françoise Choay, o que não seria desmedido. Pelo menos desde o início do século XXI, uma noção mais antropológica passou a ser considerada, ainda que sua aplicabilidade seja restrita em diversos países, sendo o Brasil um desses exemplos. Porém, como já frisado no início do texto, as diferenças entre os olhares de historiadores e arquitetos são partes constitutivas do campo de pesquisa e trabalho aqui abordado. As provocações aguerridas de Françoise Choay em O patrimônio em questão: antologia para um combate fornecem armas poderosas a uma crítica consistente do processo de intervenção arbitrária ocorrido nas grandes cidades, inclusive as brasileiras, supostas “revitalizações” de espaços que na verdade não passam de uma mercantilização do patrimônio, uma estilização cultural urbana com a finalidade de entreter. Isso não seria aplicável também à proteção do patrimônio imaterial? Não padecemos hoje de um fascínio pelo retro, pelo vintage esvaziado de valor memorial e cheio de valor de troca? A cultura não vem sendo constantemente tratada por governos como mera organização de eventos? Nesse sentido, o livro de Françoise Choay é muito enriquecedor e pertinente. Ele cumpre com o propósito de atender a dois públicos distintos, de especialistas e leigos, incentivando ambos a pensar além da obra.
Agradecimentos
Esta resenha foi produzida como atividade da disciplina “Produção e circulação do conhecimento histórico nos periódicos científicos”, ministrada pela professora Regina Horta Duarte no Programa de Pós-Graduação em História da UFMG durante o primeiro semestre de 2013. Agradeço à professora e aos colegas pelas discussões que deram origem ao texto final.
Raul Amaro de Oliveira Lanari – Doutorando em história pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor de história do Centro Universitário de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG, Brasil. E-mail: [email protected].


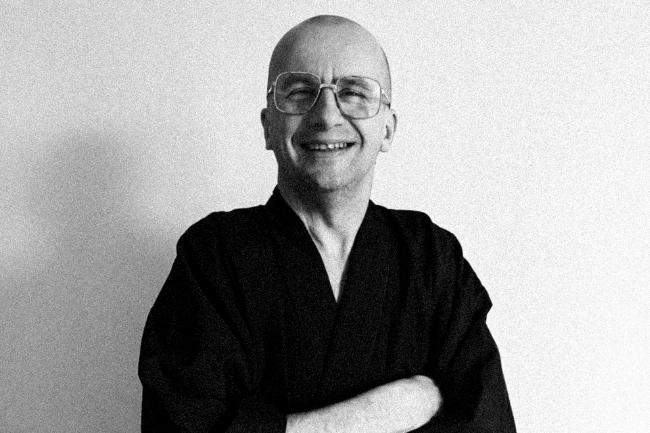









 Aby Warburg. Retrato-montagem de “Let’s Talk about Aby Warburg / youtube.com
Aby Warburg. Retrato-montagem de “Let’s Talk about Aby Warburg / youtube.com
