Posts com a Tag ‘RODRIGUES Jaime (Res)’
The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution | Julius S. Scott (R)
Julius Sherrard Scott / Foto: Scholars and Publics /
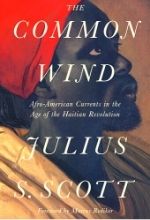
É difícil entender o intervalo de mais de trinta anos entre a defesa da tese e a impressão do livro, sobretudo porque o conteúdo manteve-se praticamente inalterado, porque o assunto é relevante e a narrativa é bem construída. Desinteresse editorial, desejo do autor em rever sua obra ou espera por um momento oportuno para reavivar a lembrança coletiva de que o Haiti ainda existe, como o terremoto de 2010, talvez possam ser elencados como hipóteses possíveis para essa longa espera. A bibliografia sobre o Haiti e, de forma mais ampla, o Grande Caribe, como Scott aborda no livro, não é extensa em inglês e é praticamente inexistente em português. [2] Por isso, talvez o primeiro ponto a ser destacado nesta resenha seja a necessária iniciativa de traduzir esse livro no Brasil, sem esperar a passagem de outras três décadas para que os leitores possam acessar uma experiência tão próxima à história colonial e imperial do país e tão inspiradora para os estudos históricos sobre a formação cultural brasileira e a história marítima ainda pouco praticada por aqui.
Chama a atenção a profusão e diversidade de materiais de que Scott se valeu para a escrita de sua história da circulação de ideias revolucionárias no Caribe setecentista: manuscritos oficiais de agentes da Coroa em arquivos espanhóis e cubanos, o mesmo tipo de fontes para a administração britânica em Londres e nas Índias Ocidentais, documentos de fundos privados em coleções estadunidenses, baladas cantadas por marinheiros negros e brancos em circulação por aquelas águas, narrativas de viajantes, propaganda abolicionista e jornais editados na América do Norte, nas Antilhas, no Reino Unido e na França. Exceto por periódicos que circularam em Portau-Prince e Cap Français, as fontes haitianas são praticamente ausentes do estudo, sinal de seu desaparecimento ou inacessibilidade ao longo da conturbada história humana e natural do país desde o século XVIII. “Pandora’s Box: The Masterless Caribbean at The End of the 18th Century”, o capítulo inicial, anuncia o contexto da ação revolucionária no Caribe. A perspectiva não é exatamente comparativa, mas leva em conta a diversidade de experiências coloniais e a grande expansão econômica baseada no boom da produção de açúcar na região. Aqui são consideradas também as formas de dominação oriundas de diferentes autoridades europeias a partir da vitória contra os piratas, bucaneiros e renegados que ocupavam aquelas ilhas e se organizavam por meio de regras próprias. Foi ao longo do século XVIII que a presença de escravizados africanos passou a se dar no Caribe de forma massiva – o que, se veio a transformar substantivamente a região, ao mesmo tempo manteve a imagem daquelas ilhas como lugares atrativos para desertores, escravos fugidos e toda a multidão de gente espoliada que pretendia viver sem obedecer às ordens de senhores.
O capítulo 2, “Negroes in Foreign Bottoms’: Sailors, Slaves, and Communication”, remete à visão de mundo de escravizados e seus senhores. Ambos reconheciam o potencial transformador do conhecimento das técnicas e formas de navegação. Tratava-se de algo perigoso e que criava homens insolentes, na visão senhorial, e que tendia para a construção de uma igualdade, no entendimento dos escravos. Olaudah Equiano, escravo marinheiro em meados do século XVIII e autor de uma celebrada autobiografia que parece guiar o capítulo, percebeu claramente que a mobilidade advinda dessa ocupação permitia certa igualdade com seus senhores, e não hesitou em “dizê-lo para sua mente”. Desgraçadamente para os senhores, muitos escravos com dificuldades de aceitar a disciplina que se lhes queria impor se engajaram no mundo do trabalho marítimo, inclusive porque seus senhores queriam se ver livres deles justamente por serem indisciplinados.
O terceiro capítulo, “The Suspense Is Dangerous in a Thousand Shapes’: News, Rumor, and Politics on the Eve of the Haitian Revolution”, pretende dar um aporte maior ao entendimento da revolucionária década de 1790 considerando seus antecedentes. O foco está dirigido à mobilidade de escravos, homens livres de cor e desertores militares e da marinha mercante que circulavam entre uma propriedade e outra, entre o campo e as cidades e entre as diversas ilhas, colocando em questão o controle social e a autoridade imperial. Ao fazer isso, alimentaram uma tradição de “resistência móvel” construída ao longo do Setecentos e que se radicalizaria nas décadas finais daquele século e no início do Oitocentos. As reações e tentativas de controle social mais severo por parte de autoridades metropolitanas e coloniais inglesas, espanholas e francesas são apresentadas nesse capítulo.
O capítulo 4, “Ideas of Liberty Have Sunk So Deep’: Communication and Revolution, 1789-93”, lança novas luzes sobre a repercussão da Revolução no Haiti nas demais ilhas. Ideias revolucionárias circularam não apenas em busca de adeptos, mas também como estratégia das autoridades imperiais em interação repressiva. Além de informações, oficiais baseados em uma ilha trocavam, com seus homólogos de outras Coroas, ajuda de todo tipo, militar inclusive. Os da Martinica pediram tropas ao governador de Cuba em 1790, diante das desordens que enfrentavam naquela colônia e da confusão revolucionária em que a própria metrópole francesa mergulhara em 1789, inviabilizando o envio de qualquer apoio. A causa da manutenção do controle social ultrapassava fronteiras linguísticas, imperiais e senhoriais. Mas os acontecimentos de 1789 e 1790 no Caribe, como afirma Scott, também ativaram as redes de comunicação afro-americanas. Se autoridades e proprietários ingleses, espanhóis e franceses construíram diálogos e articularam ações para se autopreservarem no Caribe ao longo do tempo, os escravos e homens livres de cor fizeram o mesmo.
O quinto capítulo, “Knows Your Interests’: Saint-Domingue and the Americas, 1793-1800”, concentra-se no impacto pós- -revolucionário nos impérios coloniais remanescentes e nos Estados Unidos. Porém, a amplitude geográfica do capítulo é menor do que o título promete. Houve mobilização militar nas colônias, num esforço para manter a ordem. Os escravos, por sua vez, mobilizaram- se e articularam ações que não foram apenas respostas ao aumento da severidade e da vigilância, mas que diziam respeito às suas próprias tradições organizativas. Esse processo foi intenso em Cuba [3], na porção oriental de Hispaniola, na Venezuela, em Curaçao e na Luisiana, apenas para mencionar algumas colônias em que a escravidão era a base da exploração dos trabalhadores. Desafortunadamente, a América portuguesa, maior colônia escravista do continente, ficou fora do quadro comparativo, decerto pela falta de domínio da língua portuguesa por parte do autor e pela reduzida bibliografia sobre a repercussão da Revolução Haitiana produzida no Brasil e em Portugal.
A circulação ou mobilidade espacial é o grande tema do livro. Negros africanos ou nascidos no Caribe e mestiços iam de uma colônia às outras, navegando distâncias que, embora relativamente curtas, lhes davam acesso a comunidades estrangeiras, com diferentes línguas e experiências de escravização e resistência. As oportunidades de disseminar conhecimentos e ideias e trocar informações objetivas não foram perdidas por aqueles escravos que se ganharam o mar e o mundo além do horizonte. O movimento dos navios e dos marinheiros oferecia não só oportunidades de desenvolver habilidades ou viabilizar fugas, mas criava formas de comunicação de longa distância e permitia que os afro-americanos transportassem, física e simbolicamente, seus modos de enfrentar as adversidades do cativeiro a outras partes, construindo resistências e concepções de liberdade globais.
A cultura marítima no Caribe era multirracial e multinacional. Escravos africanos ou nascidos nas colônias americanas eram partes importantes do contingente de trabalhadores do mar, mas o “submundo dos marinheiros” na região ao fim do século XVIII era formado também por milhares de britânicos e franceses. Tratava-se de uma população instável e que, por vezes, em razão de questões de mercado de trabalho ou de saúde, se estabelecia em alguma ilha à espera de melhores condições, enraizando- -se na cultura local de transitoriedade e de exposição às informações que circulavam rapidamente para os padrões daqueles tempos. No Caribe sabia-se dos acontecimentos das ilhas vizinhas, da Europa e da América do Norte: ali era a encruzilhada do mundo Ocidental, mais especificamente do hemisfério Norte, graças às correntes de comunicação estimuladas pela relativa proximidade, pelas facilidades da navegação e pelo aumento da atividade agroexportadora caribenha ao longo do século XVIII.
O axioma segundo o qual marinheiros eram desordeiros em terra encontrava plena comprovação no Caribe. Milhares de homens em trânsito representavam um problema para as autoridades locais responsáveis pela manutenção da ordem. Inúmeras leis foram postas em vigor para discipliná-los, do mesmo modo como se fazia para tentar regular a conduta dos escravos. Em tempos mais explicitamente conflituosos, como na Guerra dos Dez Anos (1780-1790), chegou-se a proibir que marujos britânicos nas Índias Ocidentais servissem a príncipes ou Estados estrangeiros. A proibição mostrou-se ineficaz.
A comparação entre escravos e marinheiros não é aleatória no trabalho de Scott. Ele nos deixa ver como ambos tiveram experiências em comum e causas pelas quais militavam juntos: o engajamento compulsório independentemente da condição, a submissão a punições arbitrárias, a pressão para embarcarem em navios mercantes contra sua vontade e a visão sobre ambos como perturbadores da ordem pública. Bom exemplo foi um ato policial de 1789, em Granada, prevendo penalizar escravos, mestiços livres e marinheiros que atentassem contra a própria saúde e a moral, porque seus comportamentos, vistos como dissolutos, eventualmente seduziam pessoas de outras condições.
Escravos e marinheiros conviviam a bordo, como tripulantes dos mesmos navios, mas a experiência também replicava em terra. Marinheiros eram os consumidores naturais das roças escravas caribenhas e, apesar do empenho policial, era difícil impedir que escravos lavradores ou em fuga fizessem comércio com marinheiros famintos e fragilizados depois de uma longa viagem, ávidos sobretudo por frutas e outros alimentos frescos. O contato e o convívio entre marinheiros e negros naquelas ilhas não tiveram apenas consequências econômicas, mas também forjaram elementos da cultura: muitas canções de trabalho populares no mar, disseminadas por marujos britânicos pelo mundo afora no século XIX, têm extraordinária semelhança com as canções escravas do Caribe. Scott afirma haver evidências consideráveis de que muitas canções podem ter se originado da interação de marinheiros e negros nas docas das Índias Ocidentais e que a teoria da origem e desenvolvimento das línguas crioulas no Caribe enfatiza o contato entre marinheiros europeus e escravos africanos e africano-americanos.
O ponto de intersecção de toda essa gente trabalhando em trânsito era Saint-Domingue, lugar de extraordinária diversidade de grupos de marinheiros europeus, a julgar pelos relatos do próprio ministério da Marinha francês na década de 1790. Mesmo com os monopólios coloniais e suas diferentes nomenclaturas (a flota espanhola, o exclusif francês, o British Navigation Act inglês), o contrabando grassava por ali, pondo em contato colonos europeus, marinheiros de diferentes metrópoles e escravos caribenhos e de variadas origens africanas. A razão dessa diversidade também entre os escravos, para além do tráfico direto com a África, era a sede por mão de obra em Saint-Domingue, o que fazia daquela colônia francesa um repositório de escravos fugidos a partir de 1770, vindos de Jamaica, Curaçao e, a julgar pela língua de alguns deles, também do Brasil. Muitos desses escravos em fuga se engajaram ativamente em rebeliões antes mesmo de 1789 e desempenharam papéis relevantes nos anos revolucionários – por exemplo Henry Christophe, segundo presidente do Haiti independente, nascido em St. Kitts, nas Índias Ocidentais britânicas.
O comércio e a circulação de marinheiros por aquelas bandas não só traziam notícias de fora como transmitiam ao resto do mundo o que se passava em Saint-Domingue. Scott reconhece que as revoltas de negros no Caribe em fins do século XVIII inspiraram os escravos nos Estados Unidos e em muitas das Antilhas. Em termos materiais, a afirmação encontra base no volume comercial entre Estados Unidos e Saint-Domingue em 1790: o montante das trocas, nessa altura, excedia aquelas feitas com todo o restante do continente americano, e era superado apenas pelo comércio com a Grã-Bretanha.
Scott foi um dos primeiros historiadores a identificar na mobilidade espacial advinda da navegação um importante indicador de autonomia e, eventualmente, liberdade para os cativos que conseguissem trilhar esse caminho. Os navios carregados de açúcar e rum circulando pelo Caribe possibilitavam escapar do rigoroso controle social existente nas sociedades escravistas e principalmente os navios menores eram vistos como instrumentos de fuga. Problemas diplomáticos e policiais decorriam dessa mobilidade não autorizada, mas o foco do autor se firma nos marinheiros e escravos desertores que elegeram as ilhas caribenhas como seus locais preferidos.
No Atlântico, mais do que em outros oceanos, e no Caribe, de forma concentrada, o comércio marítimo de longa distância e de cabotagem envolvia homens escravos e livres de cor. No caso dos escravos, envolvia também perspectivas de autonomia e liberdade dadas não só pela mobilidade como também pelas chances de se diluir em meio à multidão reunida nos portos, formada por indivíduos que, ao serem observados, não podiam ser definidos como livres ou cativos apenas pela cor de suas peles. Os mesmos jornais jamaicanos que publicavam anúncios de senhores vendendo negros especializados em trabalhos marítimos também publicavam anúncios de fuga de gente que certamente usara o mar como rota para desaparecer das vistas de seus senhores. Scott interpreta a “mística do mar” nas sociedades escravistas insulares do Caribe, ao salientar a vida a bordo de um pequeno navio de cabotagem ou do comércio intercolonial como uma alternativa atrativa à vida marcada pela hierarquia severa nas lavouras açucareiras. Mesmo escravos sem experiência marítima podiam conhecer alguns termos náuticos graças aos versos das canções populares e fingirem serem marinheiros livres. Ávidos por força de trabalho, os capitães dos navios quase nunca inquiriam cuidadosamente cada marinheiro engajado. Durante a década de 1790, antes e depois da Revolução de Saint-Domingue, sujeitos envolvidos no mundo do trabalho marítimo – marinheiros da navegação de longa distância, de pequenos navios de cabotagem no comércio intercolonial, escravos fugidos, marujos desertores brancos e negros – assumiram o centro do palco. No mar ou em terra, homens e mulheres sem senhores desempenharam um papel vital, espalhando rumores, reportando notícias e atuando como correia de transmissão de movimentos antiescravistas e, finalmente, da revolução republicana em curso na Europa.
A Revolução do Haiti tornou-se lendária não só porque foi a primeira experiência de liberdade coletiva e de construção de uma nação por ex-escravizados que retiraram à força seus senhores de cena, mas também pelo que representou como possibilidade na imaginação de escravos e senhores espalhados pelo mundo ocidental onde a escravidão era a base da acumulação de riquezas. A crença na determinação histórica, fruto da autocondescendência pela suposta descoberta de modelos explicativos eficazes, encontra nesta encruzilhada do Ocidente um incômodo para os historiadores mais seguros de suas opções teóricas. O passado torna-se sempre mais complexo quando é considerado da perspectiva de seus agentes.
Referências
ANDRADE, Everaldo de Oliveira. Haiti, dois séculos de história. São Paulo: Alameda, 2019.
FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana e a Revolução Haitiana. Almanack, n. 3, p.37-53, jun. 2012.
FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana na época da Revolução Haitiana. In: CUNHA, Olívia Maria Gomes da.
Outras ilhas: espaços, temporalidades e transformações em Cuba. Rio de Janeiro: Aeropolano/FAPERJ, 2010. p. 37-64.
GRONDIN, Marcelo. Haiti. Col. Tudo é História. São Paulo: Brasiliense, 1985.
JAMES, Cyril Lionel Robert [1938]. Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos. São Paulo: Boitempo, 2000.
REDIKER, Marcus. O navio negreiro: uma história humana. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
REDIKER, Marcus; LINEBAUGH, Peter. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
SCOTT, Julius S. The Common Wind: Afro- American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Londres; Nova York: Verso, 2018.
Notas
- Autor de A hidra de muitas cabeças: marinheiros, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário (em parceria com Peter Linebaugh) (2008) e O navio negreiro: uma história humana (2011).
- Exceções são os livros de Grondin (1985); de Andrade (2019) e, é claro, a tradução muito tardia de James (2000), editada pela primeira vez em 1938.
- O impacto da Revolução do Haiti em Cuba pode ser conhecido pelo leitor brasileiro com mais detalhes pelos trabalhos já traduzidos de Ada Ferrer (2010 e 2012).
Jaime Rodrigues – Professor da Universidade Federal de São Paulo / Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas / Departamento de História, Guarulhos/SP – Brasil. E-mail: [email protected].
SCOTT, Julius S. The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Londres; Nova York: Verso, 2018. 246p. Resenha de: RODRIGUES, Jaime. Uma encruzilhada do Ocidente: o Caribe setecentista como espaço histórico Topoi. Rio de Janeiro, v.22, n.46, jan./abr. 2021. Acessar publicação original [IF].
O urucungo de Cassange: um ensaio sobre o arco musical no espaço atlântico (Angola e Brasil) | Josivaldo Pires de Oliveira
Ao escrever as palavras urucungo e Cassange no programa de edição de textos, o corretor ortográfico as sinaliza como grafadas de forma errada. O mesmo não ocorre quando escrevemos violoncelo ou Paris usando o mesmo editor de textos. O erro deve estar justamente aí, na programação dos computadores e na nossa formatação como historiadores. Palavras de origem africana soam estranhas no português no Brasil, no português dos intelectuais do Brasil, mas a outros estrangeirismos estamos acostumados e os naturalizamos.
O professor da Universidade do Estado da Bahia e mestre de capoeira Josivaldo Pires de Oliveira escreveu um ensaio intitulado O urucungo de Cassange. O livro decorre justamente de sua experiência como intelectual acadêmico e profundo conhecedor do corpo, da musicalidade e dos instrumentos como fontes para a historiografia e como objetos do interesse do historiador. Josivaldo tem clareza sobre como desempenhar uma das funções que poucas vezes cumprimos a contento neste ofício: dialogar com públicos mais amplos e oferecer materiais de qualidade para uso nas escolas por estudantes e professores atuantes na rede de ensino básico. Quando endereçamos publicações a esses leitores, nem por isso o rigor deve ser deixado de lado – e, neste caso, o rigor foi conjugado a uma linguagem apropriada. Esse é o primeiro ponto do livro que quero destacar.
Urucungo ou barimbau é o arco musical usado na capoeira. Josivaldo encontra evidências do uso desse instrumento antes da sua popularização, graças às rodas de capoeira. O último quartel do século XIX e a primeira metade do século XX são os marcos temporais da obra e o Cassange do título não é exatamente a região da Angola atual de onde vieram milhares de escravizados pelo Atlântico até o Brasil, mas sim um tocador de berimbau e personagem do folhetim oitocentista Ataliba, o vaqueiro, do diplomata e escritor piauiense Francisco Gil Castelo Branco. O formato em arco e a referência à África e ao Brasil funcionam como metáforas da diáspora africana em suas múltiplas expressões.
O ensaio divide-se em três capítulos. No primeiro, intitulado “Cassange e seu arco musical”, a epígrafe recupera a descrição da personagem do folhetim (mais tarde republicado em livro) e, em meio a uma fisionomia eivada dos preconceitos comuns no século XIX, informa-se que Cassange, homem nessa altura já encanecido, “fora importado da África ainda moleque e conservava o nome de sua terra natal”. A terra e o homem, unidos em um mesmo nome, já nos alertam para a tentativa de transformar seres humanos em simples elementos da natureza. Essa era uma leitura de sabor oitocentista que incluía, entre outras coisas, nomear os africanos escravizados conforme a região ou o porto de origem, inventando etnônimos que pouco definiam as origens e a cultura. Tendo por guia o homem chamado Cassange, Josivaldo vai em busca de uma história do arco musical no Brasil.
Para isso, ele percorre o interior e o litoral da África Centro-Ocidental, o Atlântico e a província do Piauí, tradicionalmente ocupada desde a colonização pela pecuária extensiva no sentido sertão-litoral. Vaqueiro inseparável do arco musical que carregou consigo desde os tempos de liberdade na terra natal até ter por volta de oitenta anos de idade, Cassange é o representante dos tocadores desse instrumento no Brasil. Imbangala, como outros em sua terra, o africano dominava o arco de uma corda só usado no pastoreio e que os viajantes que conheceram aquela região africana denominaram “violam”, por analogia, como faziam todos os viajantes para aproximar os lugares exóticos e as coisas estranhas aos leitores brancos e europeus que pretendiam alcançar. No Brasil e no Congo/Zaire dos séculos XIX e XX, outros literatos, estudiosos e folcloristas foram unânimes ao apontar a origem bantu do berimbau, que não deve ser confundido com marimbau, e a importância dele para a música e a dança brasileiras. Berimbau, urucungo, hungo, rucumbo ou mbulumbumba são sinônimos encontrados por Josivaldo em fontes dos dois lados do oceano para designar esse instrumento feito de corda metálica, vara de madeira e cabaça. A circulação das palavras, do instrumento e das personagens literárias simbólicas pelas margens atlânticas leva a pensar que ficção e História têm vários pontos de intersecção. O nome disso é verossimilhança.
No capítulo 2, “Os parentes de Cassange ou os arcos musicais em Angola”, somos levados ao outro lado do oceano: estamos na Angola que nos civilizou, nas palavras recuperadas por Luiz Filipe de Alencastro. O ensaio de Josivaldo dá mais lastro à ideia de civilização, na medida em que, além da força de trabalho, agrega o saber musical ao rol dos inúmeros saberes que os brasileiros receberam como herança dos povos africanos trazidos compulsoriamente para a América portuguesa e o Brasil imperial. Mas ver no urucungo apenas um legado aos brasileiros seria uma apropriação simplista e incompleta: o instrumento tem uma história que antecede sua vinda ao Brasil na bagagem literal e cultural dos escravizados e que continuou a existir na Lunda, terra dos imbangala que mantiveram trajetórias históricas em seu próprio continente. A se fiar nas narrativas dos viajantes europeus do século XIX que por ali passaram, o uso do instrumento era recreativo – “tocam-no quando passeiam e também quando estão deitados nas cubatas”, afirmou Henrique Dias de Carvalho em 1890 – e suas formas eram idênticas às que já se conhecia no Brasil, ou seja, a cabaça como caixa de ressonância e o contato com a pele nua na criação da musicalidade. Todavia, nos relatos dos viajantes, o urucungo não aparecia compassar o movimento dos corpos. Pequenas variações e especificidades, como o berimbau de boca e o toque por mulheres, também foram registradas lá e cá, em Angola e no Brasil.
O arco musical espalhou-se por arcos territoriais amplos, em lugares de cultura bantu para além do nordeste de Angola. As fontes de Josivaldo, neste capítulo, são basicamente os registros de viagens e a etnografia feita por portugueses, no afã de construir conhecimentos acerca das regiões sobre as quais se pretendia legitimar a conquista, nos termos acordados na Conferência de Berlim. Não por acaso, são escritos do último quartel do século XIX – indício seguro de que o urucungo existia desde antes disso e que a ausência do registro não deve ser lida como inexistência do objeto descrito. Afinal, como Josivaldo revela, saiu da pena do padre Fernão Cardim, no século XVI, a primeira menção ao termo “berimbau”.
O capítulo 3 faz o percurso de volta. “Do outro lado do Atlântico: tocadores de urucungo no Brasil” é um exercício de boas práticas em História Social. Mesmo quando a fonte não é de próprio punho e não se pode nomear os sujeitos, como nas histórias de viés político mais tradicionais, o coletivo e os indivíduos ganham corpo e voz (som, no caso). Artes plásticas, jornais e outras fontes dos séculos XIX e XX são visitadas em busca da a(tua)ção dos tocadores. As confusões de significado em crônicas e anúncios de jornais desde fins do século XIX, que faziam a gaita ser definida como berimbau, são esclarecidas neste capítulo. Não por acaso, Edison Carneiro já anotava a expressão “berimbau não é gaita”, usada de norte a sul do país, com o sentido de alertar o ouvinte para uma situação absurda e, assim, satirizá-la.
O binômio “origem africana como atraso” e “origem europeia como civilidade” não é novo nos estudos sobre a cultura brasileira, especialmente no que se refere ao início do século XX e às pretensões modernizantes da recém-instaurada República. Soaria divertido, se não fosse um sintoma do preconceito, o esforço em europeizar o berimbau como corruptela do francês “berimbele”, ainda que se tratasse de instrumentos diferentes (o barimbau de corda e o de sopro).
Fazer desaparecer a Pequena África no Rio de Janeiro planejado como cartão postal era um ideal republicano. Nesse processo, o arco musical tinha seu lugar, manuseado como era por negros presentes na cena musical popular das ruas da capital federal. Mas o urucungo não estava só ali nem só naquele momento: José de Alencar em seus romances rurais, Luiz Gama em sua obra poética, Antônio Ferrigno em óleo sobre tela e as páginas de jornais de diferentes províncias do Império exemplificaram a dispersão territorial do instrumento, como que unificando o Brasil de matriz africana.
A partir da vasta gama de fontes compilada para a escrita do ensaio, Josivaldo Oliveira encerra o terceiro capítulo em coautoria com Gabriel Ferreira, artista plástico que transformou em dez desenhos as descrições contidas nas evidências históricas. O resultado são páginas com representações iconográficas contemporâneas e legendas-textos informativas, tudo composto com grande liberdade criativa. A Bahia, como é justo, dá o desfecho à história do urucungo/berimbau. Folcloristas de meados do século XX afirmavam que o instrumento era quase desconhecido fora daquele estado, dando corpo à hipótese de que foi o uso do berimbau na capoeira que garantiu sua permanência. O livro aqui resenhado deixado claro que a história é bem mais complexa.
Áfricas transplantadas, ressignificadas, perseguidas e persistentes. Áfricas que ainda são o nosso outro, mesmo que sejam tão fortemente parte de nós. É dessa história que trata Josivaldo, por meio de um indício da cultura material e imaterial, ao mesmo tempo um objeto de madeira biriba, corda e cabaça e um saber-fazer transmitido corporal e musicalmente ao longo de gerações.
O livro traz ainda dois anexos. O primeiro reproduz um texto de Edison Carneiro sobre o berimbau, originalmente publicado em 1968. O segundo cumpre, de forma competente, o que determina a legislação conquistada pelos movimentos negros e que se refere ao ensino de História da África e da Cultura africana e afro-brasileira. Ali, são sugeridas formas de trabalhar O urucungo de Cassange com estudantes do ensino básico.
Terminada a leitura deste ensaio, não será mais possível adotar a postura do assistente passivo de uma roda de capoeira apenas pelo fascínio do movimento dos corpos ou por contemplação desinteressada do conjunto de sons e gentes ali reunidos. Sem perder isso de vista, o assistente verá o arco vertical se horizontalizar, ligando os dois lados do Atlântico numa história única, secular, sul-sul e do tempo presente. A sugestão do berimbau como ponte entre dois continentes foi feita por Enrique Abranches e, mesmo não sendo original, funciona bem para exprimir a sensação de leigos diante de práticas que, embora admire, não deve praticar sem iniciação correta. Por isso, a condução pelo historiador e mestre Josivaldo Oliveira traz uma sensação de segurança na narrativa sobre o percurso de um instrumento tão emblemático.
Referência
OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. O urucungo de Cassange: um ensaio sobre o arco musical no espaço atlântico (Angola e Brasil). Itabuna: Mondrongo, 2019.
Jaime Rodrigues – Universidade Federal de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. O urucungo de Cassange: um ensaio sobre o arco musical no espaço atlântico (Angola e Brasil). Itabuna: Mondrongo, 2019. Resenha de: RODRIGUES, Jaime. Ancestralidade na história e na música: o berimbau/urucungo nos séculos XIX e XX no Brasil e em Angola. Almanack, Guarulhos, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
Historia de las clases populares en la Argentina desde 1516 hasta 1880 | Gabriel di Meglio
O livro em tela partiu de um projeto iniciado em parceria com Eduardo Adamovsky, cuja intenção era lidar com o tema em um recorte que iria até os primeiros anos do século XXI. Desdobrado em dois, o primeiro volume foi elaborado por Gabriel di Meglio, e aborda a ação das classes populares na Argentina entre os séculos XVI e XIX. É a obra de Meglio, doutor pela Universidad de Buenos Aires, onde também leciona História Argentina do século XIX, que vou apresentar ao leitor.
As duas questões centrais o livro são anunciadas no próprio título. Com qual noção de classes populares se está lidando? E o que é a Argentina antes da unificação sob um Estado nacional? Embora anunciada, a segunda questão não foi enfrentada. É o tema das classes populares na História que norteia o livro.
No ensaio bibliográfico, o autor lista e comenta as obras que subsidiaram sua reflexão. Ali, temos uma ideia do vigor da produção historiográfica argentina, sobretudo a de tempos mais recentes, e também encontramos uma referência que serve de pista para as opções de interlocução feitas por Meglio no desenvolvimento da obra. Ao remeter a denominação “classes populares” primeiramente a um artigo de Eric Hobsbawm, parece estabelecer-se um parentesco entre esta obra e a História Social praticada pelo grupo de historiadores marxistas ingleses dos quais Hobsbawm foi um expoente, particularmente por lidar com longas periodizações e pelo seu interesse em história dos camponeses e dos operários. Mas creio estarmos mais próximos de um parentesco com a chamada História Popular, na qual a agência das classes populares é definida prioritariamente a partir do Estado e das instituições afeitas a ele.
O recorte temporal, da chegada dos primeiros europeus ao surgimento da “Argentina moderna” em 1880, abrange um território que hoje denomina-se Argentina, mas que eventualmente inclui também outras regiões platinas, como Uruguai e Paraguai, reunidos no Vice-Reinado do Rio da Prata no tempo da colonização. O uso do termo para lidar com essa periodização cumpre funções didáticas: trata-se de uma Argentina antes da Argentina, o que pressupõe um pacto com o leitor para que a leitura possa fluir. Meglio quer tratar, aqui, da “história da gente comum, a que formava a base da pirâmide social, daqueles cujas recordações se perderam ou são difíceis de recuperar, de quem não tem ruas que levem seus nomes”. O resultado disso é apresentado cronologicamente e em duas partes.
Na primeira parte, dividida em quatro capítulos, é abordado o período colonial, entre 1516 e 1810. A segunda parte debruça-se sobre o século XIX (1810-1880), e conta com três capítulos sobre o período pós-independência.
O fato inaugural do primeiro capítulo é a expedição de Juan Díaz de Solís, em 1516, marcada pelo confronto com os charruas que levaria Solís à morte em território hoje pertencente ao Uruguai. O fato não é inaugural apenas cronologicamente, mas demarca simbolicamente como seriam as relações entre os invasores europeus e os nativos americanos. Esse é o objeto do capítulo, tendo como personagens os guaranis, os guaicurus, os ava e outros povos, bem como a centralidade de Assunção e do Peru para os estabelecimentos coloniais posteriores na bacia platina (Santa Fé, Buenos Aires e Tucumán, entre outros). Em que pesem as alianças (nem sempre cumpridas) firmadas com os índios, os espanhóis tiveram dificuldades em ocupar terras, em especial as mais elevadas. O empenho destes últimos não foi tão decidido como ocorreu nas áreas mineradoras do México e do Peru, o que tornaria o Rio da Prata uma região marginal no contexto do Império castelhano na América até o fim do período colonial. Ainda assim, a divisão da sociedade em dois grandes grupos – os espanhóis que mandavam e os “índios” que obedeciam – “foi a origem da sociedade hispano-criolla da qual provem a Argentina. E, também, foi a origem de suas classes populares”. No decorrer do século XVI, essa sociedade se tornaria mais complexa, com a chegada de mais colonos vindos da península e a criação das “repúblicas” estratificadas de índios e de espanhóis, permitindo o acesso dos colonos à mão de obra indígena. Logo, os mestiços entenderiam que seu lugar naquela sociedade não era definido facilmente.
Desiguais ante à lei, o segundo capítulo, define as dificuldades enfrentadas pelas classes populares nos séculos XVII e XVIII, nessa altura compostas por “um variado conjunto integrado por indígenas, africanos e seus descendentes – escravos ou livres – e distintos tipos de mestiços”. Na relação com os indígenas, tentava-se impor a transformação deles de membros de uma sociedade nativa em camponeses individuais. O tempo é a primeira metade do século XVII, quando boa parte da região de Tucumán ainda estava fora do controle colonial e prestes a se tornar cenário de uma guerra na qual a ação do aventureiro espanhol e falso inca Pedro Bohorques acabou amplificando a resistência indígena, o que levou à destruição das missões jesuítas na região. Desde fins do século XVI, a tendência era a da extinção da organização tradicional dos povos nativos, com as exceções de Jujuy e Santiago del Estero, cujos habitantes conseguiram utilizar as leis e justiça a seu favor contra a obrigação de prestar serviços pessoais aos invasores. Censos do século XVIII indicam a recuperação numérica da população indígena num quadro de reforma da tributação, abarcando um número maior de moradores, sobretudo índios que vivessem ou não em seus lugares de origem. Enquanto em Buenos Aires a população indígena declinava rapidamente, ao longo dos outros rios da bacia platina a Companhia de Jesus ampliava sua ação missioneira entre os guaranis, inclusive para fixar limites com os domínios portugueses. Fugas e rebeliões eram comuns nas missões, onde a rigidez das normas, os ataques de colonos vindos da América portuguesa, as epidemias e a fome tornavam a vida ainda mais dura. Ao mesmo tempo, grupos de indígenas não reduzidos ocupavam o Chaco, o Pampa e a Patagônia, evitando “serem convertidos em parte das classes populares do sistema colonial” e dominando as técnicas da guerra com cavalaria. A escravidão era central nessa sociedade, e a ela foram submetidos guaranis, araucanos e africanos introduzidos em Buenos Aires desde o tempo da união das Coroas ibéricas, e mais tarde vindos de Colônia do Sacramento, tanto por via direta como a partir de portos do Brasil. Os números não são exatos, mas milhares de africanos escravizados chegaram ao Rio da Prata entre 1580 e 1777. Por sua vez, os mestiços não tinham uma identidade precisa: eram filhos ilegítimos, frutos de uniões não consagradas. Mas além de biológica, a mestiçagem era também cultural, sendo alvo de diferentes tentativas de controle.
O capítulo 3, Trabalhadores, define o trabalho como experiência vital das classes populares. Assim, o texto privilegia as formas de exploração do trabalho e os fatores afeitos a ela, tais como a encomienda, o declínio demográfico, os usos da mão de obra na agricultura, na manufatura e no transporte. Uma das categorias de trabalhadores, os camponeses, dividia-se entre os que trabalhavam para fazendeiros e os que lidavam nas terras comunais. Os primeiros ligaram-se à pecuária, à produção de vinho e ao cultivo do arroz, setores produtivos onde se misturavam peões assalariados, escravos, agregados e índios encomendados em lugares como Tucumãn, San Juan e Mendoza. Nas cidades (Buenos Aires, Córdoba, Salta, San Miguel de Tucumán e outras), os trabalhadores eram em sua maioria artesãos, muitos deles mestres e donos de escravos, além de homens contratados por jornada nas construções, serviços de alimentação e abastecimento de água.
Costume e conflito, o quarto capítulo, traz ao leitor o universo da pobreza e da cultura de resistência das classes populares. Além da origem e da cor da pele, as classes populares eram definidas pelas autoridades a partir de seu grau de letramento e da forma como constituíam redes de pertencimento a grupos corporativos. A adesão ao catolicismo era central, e o capítulo nos diz algo sobre a vivência religiosa entre os populares: suas festas e diversões (rinhas de galo, bailes, touradas, corridas de cavalos), seus conceitos de honra e comportamento sexual (com destaque para as mulheres “plebeias”, com circulação mais livre nas cidades do que a desfrutada pelas mulheres da elite). Tudo isso permeado pelas tentativas de controle por parte das autoridades, ocasionando conflitos e tensões.
A segunda parte do livro inicia-se com A tempestade revolucionária (cap. 5), tendo como ponto de partida um dado da história política que demarca certa mudança na experiência das classes populares: a Revolução de Maio de 1810. Cerca de mil indivíduos (em uma cidade de 45 mil habitantes) apresentaram-se para reclamar umcabildo aberto em Buenos Aires com o objetivo de remover o vice rei e formar uma junta de governo. Mas, em outros lugares, a adesão popular não foi da mesma monta: no Alto Peru, em Córdoba, Montevidéu e Assunção, grupos pretendiam a fidelidade à regência estabelecida em Cádis. Em Salta e Jujuy, o recrutamento militar a princípio não se constituiu em problema, mas a partir da decisão de Belgrano de exigir contribuições materiais, criaram-se tensões com os populares. Como em outras partes da América do Sul, o uso do léxico revolucionário – independência, liberdade – chamou a atenção dos escravos para as contradições dos dirigentes do movimento. Por vezes, as contradições marcaram também as atitudes das classes populares, como os guaranis que, ao aceitarem a junta governativa portenha, o fizeram sob gritos de vivas a Fernando VII… Maio de 1810 também afetou os povos indígenas até então quase sem contatos com o regime colonial, ou aqueles cujas missões foram abandonadas e que se empregaram nas propriedades existentes. Em meio a diversos conflitos no interior do grupo dirigente da Revolução de 1810, faz-se a entrada da plebe portenha na política. Política institucional, Meglio não diz, mas é disso que se trata aqui: afinal, os quatro capítulos anteriores deixaram claro que a atuação dos populares era política ao menos desde o século XVI. Em todo caso, o autor entende a participação popular como uma das chaves da Revolução, com diferenças regionais sensíveis. De forma geral, alguns aspectos abarcaram a todos: o fim da era colonial, o poder das elites locais e a possibilidade de participação do “povo” no governo, agora na perspectiva da construção de algo que não existia na experiência prévia, colonial.
O livro deixa claro que a revolução, no território que em breve seria conhecido como Argentina, trazia consigo a questão da ordem. É esse o tema do sexto capítulo,Uma nova ordem. Diante de poderes atomizados, a tarefa dos dirigentes no quarto de século seguinte seria a reorganização institucional – o que teria implicações para as classes populares ao menos até meados do século XIX. Conflitos internos mesclam-se a guerras com os vizinhos, especialmente com o Brasil e Peru-Bolívia entre os anos 1820 e 1830, e a Guerra do Paraguai nos anos 1860. A experiência bélica traria consequências para a ação política dos camponeses e trabalhadores urbanos. O Estado e as elites tornaram-se cada vez mais “pesados” para as classes populares, oneradas com novos impostos para sustentar as formas armadas, com as leis visando a compelir os pobres ao trabalho ou ao recrutamento militar e os regulamentos do direito de propriedade. Ainda que os novos Estados e as novas elites fossem débeis, suas demonstrações de força se fariam sentir sobre os populares. A reconstrução do aparato produtivo, a recomposição de estruturas fundiárias que mantinham a ordem anterior ou introduziam novidades que beneficiavam muito poucos (como o arrendamento), a manutenção da tradicional manufatura de lã frente à concorrência dos tecidos ingleses de algodão: tudo isso afetou sobremaneira o modo de vida dos mais pobres. No âmbito da política, as autonomias regionais passaram a sofrer questionamentos e fortaleceu-se o processo de imposição do poder provincial único, seguido da unidade do Estado nacional. Nas diferentes províncias, os processos foram específicos. Em Buenos Aires, por exemplo, enquanto mantinha-se a politização da “plebe” na cidade, no campo as convulsões tornaram-se mais intensas do que no período revolucionário. Em todos os lugares, porém, é difícil clarear as razões da ação popular e deixar de considerar a inexistência de plena autonomia: havia os interesse dos caudilhos e as lealdades pessoais. Algumas razões são mais visíveis, como as lutas pela desmobilização militar, contra a religião oficial e pela tolerância de culto, contra o governo que não garantia o bem comum – na esteira de uma certa tradição política europeia não nomeada, mas que poderíamos comparar à economia moral.
A obra encerra-se com A era das mudanças, o sétimo capítulo. Tradicionalmente, a historiografia elenca a formação do Estado nacional e a expansão capitalista como os processos mais relevantes do período entre a independência e 1880. Aqui, não é diferente: constata-se o crescimento econômico argentino desde a década de 1840 e, com ele, o aumento da repressão estatal diante das ações políticas das classes populares. Ao longo de décadas, a criação de gado tornar-se-ia a grande atividade econômica argentina, ao mesmo tempo em que o preço das terras e os salários também sofreriam aumentos. Sistemas de remuneração seriam criados para diminuir a autonomia dos peões: parte era pago em dinheiro, parte era descontado para o pagamento de despesas de manutenção, sem um controle estrito por parte do trabalhador. O sistema de parcerias teve seu apogeu entre os anos 1850 e 1860, enquanto a camada de pequenos produtores, rendeiros e pequenos proprietários se reduzia. De fins da década de 1840 ao início da de 1880, consolidou-se o Estado e a identidade nacional, inclusive com a ocupação de territórios habitados por indígenas independentes e cuja autonomia fora pactuada anteriormente. Ao mesmo tempo, mudaram outras coisas. A introdução de mão de obra estrangeira começaria a transformar o perfil da força de trabalho: “em 1854 os estrangeiros era 8% dos trabalhadores de Buenos Aires e em 1870 já superavam 20%”, assim como começava um engajamento mais efetivo das mulheres das classes populares no mundo do trabalho assalariado. A introdução de um Código Rural não facilitou as vida dos “pobres pastores”, como aqueles que, em 1854, queixavam-se de ser caçados como avestruzes nos campos e diziam ser republicanos, embora fossem tratados como mulas sem direito à liberdade individual, a ficar com suas famílias, a evitar os abusos do recrutamento e a receber os benefícios sociais que as leis concediam aos estrangeiros. A hierarquia social acentuou-se, introduziram-se novas formas de consumo à europeia, melhorou a condição material de vida das classes populares urbanas, enquanto no campo tudo continuava precário. A Argentina tinha, então, apenas cerca de 13% de sua população vivendo em centros urbanos. No campo, havia o básico para a subsistência: casas de tijolos, tetos de palha e piso de terra, pouco mobiliário, instrumentos de trabalho rudimentares e vestuário diminuto. Entre os velhos e os novos trabalhadores, incrementou-se a ação das sociedades de socorros mútuos, notadamente em meio aos espanhóis, italianos e descendentes de africanos escravizados.
O livro de Meglio não cria uma nova história da Argentina. Os fatos e processos já conhecidos dos leitores, especialistas ou não, estão todos lá. O que muda, aqui, é o ponto de vista: sem descuidar da História Política, a abordagem do processo de formação nacional pelo prisma das possibilidades de ação das classes populares é o que diferencia esta obra de síntese. E ela é bem vinda por muitas razões, algumas das quais podem ser enumeradas.
O autor correu riscos, e é louvável que os tenha corrido. Primeiramente, ao anunciar a elaboração de uma História Popular, sem distingui-la da História Social ou dar-lhe uma definição mais precisa. Em segundo lugar, pela disposição em enfrentar uma periodização tão larga, o que não é comum entre historiadores, normalmente apegados ao conforto de lidar com suas especialidades temporais. Depois, por utilizar sem medo a noção declasses populares e, ao mesmo tempo, fazê-lo com rigor. Conta-se, ainda, a linguagem e a forma da escrita historiográfica, capazes de atrair historiadores de ofício e também um público mais amplo e interessado nas questões do passado.
Historia de las clases populares en la Argentina serve de estímulo para que historiadores brasileiros também se atrevam a empreitadas semelhantes, atingindo um público ávido e que, hoje, acessa a escrita da História pelo texto de jornalistas ou escritores descompromissados com o método e o rigor da pesquisa histórica. Se esses autores o fazem, entre outras razões, é porque os historiadores e as agências de fomento não entendem o texto de divulgação como um trabalho que lhes compete. E é preciso cumprir essa função com competência, razão pela qual a obra de Meglio, repito, é exemplar e vem em boa hora.
Jaime Rodrigues – Professor no Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH / UNIFESP – Guarulhos-SP / Brasil). E-mail: [email protected]
MEGLIO, Gabriel di. Historia de las clases populares en la Argentina desde 1516 hasta 1880. Buenos Aires: Sudamericana, 2012. Resenha de: RODRIGUES, Jaime. História Social, História Popular: o caso argentino. Almanack, Guarulhos, n.9, p. 203-207, jan./abr., 2015.


