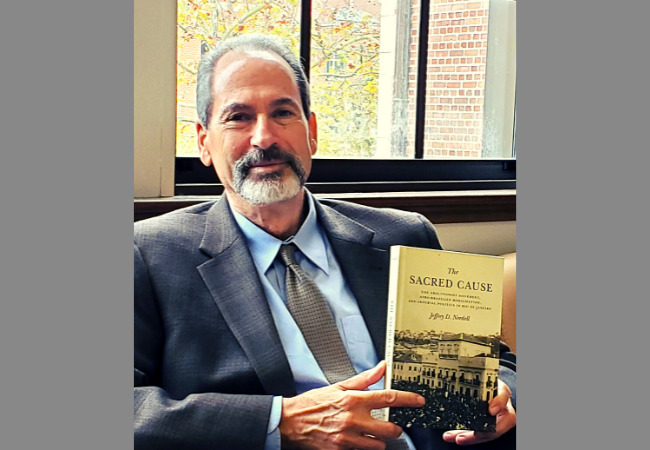Posts com a Tag ‘Almanack (Amr)’
Y dejó de ser colonia. Una historia de la independencia de Brasil | João Paulo Pimenta
João Paulo Pimenta | Imagem: Instituto CPFL
A obra Y dejó de ser colónia. Una historia de la Independencia de Brasil foi recentemente publicada pela editora espanhola Sílex Ultramar. Organizado por João Paulo Garrido Pimenta, o livro se destina a um público europeu não necessariamente familiarizado com o tema da independência, o que explica a escolha de alguns autores em apresentar textos informativos, abrangentes e mesmo factuais.
No Brasil, a obra poderá ser recebida como parte de um esforço da comunidade acadêmica por discutir criticamente o “7 de Setembro” como marco decisivo da independência do país. Destacam-se, nesse sentido, as ações realizadas pela ANPUH (Associação Nacional de História), os fóruns da Revista Almanack, a programação do Portal do Bicentenário e, finalmente, a agenda da SEO (Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos). Em todas elas estão presentes a compreensão de que se tratou de um processo plural, diverso e violento, afinal não foi tarefa fácil transformar as “várias independências”5 na “mesma independência”6. Leia Mais
Los juegos de la política. Las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución | Marcela Ternavasio
Marcela Tervanasio | Imagem: Arquivo da autora/CONICET
Reinhard Koselleck registrou em seu livro Passado Futuro que o neologismo contrarrevolucionário surgiu na França por volta de 1800. Uma irrupção tímida num contexto marcado pela presença avassaladora do conceito de revolução – de adoção nem de longe unívoca –, sempre referido à experiência francesa de 1789. O novo vocábulo, na acepção apresentada por Koselleck, não trazia apenas, se é que trazia, a ideia de defesa da tradição e do antigo regime. A contrarrevolução não seria o conceito antitético, por excelência, de revolução. Na tradução para o alemão, pouco tempo depois, contrarrevolucionário passa a identificar o “inimigo do Estado”. Revolucionário, portanto, designa aquele que respeita o Estado. 3
A ocorrência do tema na literatura4 e na historiografia, desde então, tem refletido essa disparidade entre contrarrevolução e revolução, o que inclui os estudos sobre crise dos impérios modernos no fim do século XVIII e início do XIX. Uma resposta, dentre outras, às razões pelas quais os estudos sobre a contrarrevolução estão longe de se igualar àqueles sobre a revolução é a de que a derrota de tais movimentos teria diminuído o interesse dos historiadores por estudá-los “Ciertamente no fue ese pensamiento antiliberal y contrarrevolucionario el que acabó imponiéndose, y quizá por ello ha sido objeto de un interés menor”.5 O quadro, porém, vem se alterando nos últimos anos, o que se explica, dentre outros fatores, pela conclusão a que chegaram alguns dos estudiosos de que “no se puede separar el estúdio de las revoluciones basadas en los princípios del liberalismo del de las fuerzas antiliberales, fuerán éstas reacionarias o no”.6 Leia Mais
Tiempos críticos: historia, revolución y temporalidad en el mundo iberoamericano: sieglos XVIII y XIX | Fabio Wasserman
Fabi Wasserman | Foto: Rodrigo Lorett/Perfil
Se durante boa parte de sua história o tempo foi considerado apenas como uma das premissas implícitas ao ofício da historiografia, capaz de evidenciar por si próprio suas formas de recortá-lo, periodizá-lo e datá- -lo, nesta última metade de século a situação é outra. Uma breve vista aos índices das principais revistas acadêmicas dedicadas à teoria e prática historiográfica revela que nas últimas décadas a problemática das temporalidades tem ganhado espaço cada vez mais relevante nas discussões sobre a história e suas formas de escrevê-la. Vivemos uma crise temporal.3
Evidencia essa tendência não só o fator quantitativo, mas também o qualitativo, expresso nos debates que vêm sendo travados, em escala global, acerca das formas de conceituar e abordar o tempo como elemento central para qualquer narrativa histórica. Mesmo com o recente crescimento no número de estudos que elegem a temporalidade enquanto objeto de análise, ainda não se foi capaz de sanar a escassez de diálogo que afasta dois tipos de história: uma mais voltada à investigação dos eventos e das estruturas sociais, que por vezes considera o tempo simplesmente como dado ou data; e outra, intelectual, que encara a temporalidade como problemática final de sua investigação (por vezes desencarnada). Encontrar meios de aproximação e cruzamento entre as duas tem sido um dos desafios de nossa geração. Leia Mais
Press, power and culture in imperial Brazil | Hendrik Kraay, Celso Thomas Castilho e Teresa Cribelli
Teresa Cribelli | Imagem: University of Alabama
De forma bem-humorada, os organizadores deste livro incluíram no prefácio o comentário de um historiador-blogueiro ironizando o título que deram ao painel que deu origem à obra. O título era, em tradução livre para o português: “A hemeroteca digital brasileira e a pesquisa histórica: contexto, conteúdo e pesquisa em arquivos digitais”. Disse o maldoso comentarista que seria difícil até mesmo para um historiador ficar excitado diante da expectativa de assistir a três ou quatro apresentações sob esse título.
Talvez para o expectador de um país em que os recursos digitais estão avançadíssimos, a existência de uma hemeroteca como a da Biblioteca Nacional não seja um fato notável. Mas, quem, como a autora destas linhas, trabalhou com os periódicos da Independência usando aquelas carroças que são as máquinas de ler microfilme, sacrificando a vista diante das idas e vindas dos olhos da tela negra do filme para o papel branco em que fazia suas anotações, ergue a todo momento graças e louvores à hemeroteca da Biblioteca Nacional, cuja pane que a deixou fora do ar há poucos meses, apavorou o meio acadêmico. Leia Mais
A coleção Adandozan do Museu Nacional Brasil Daomé/ 1818-2018 | Mariza de Carvalho Soares
Os primeiros anos de graduação são tempos de intensas paixões. A cada semestre, elegemos alguns autores com os quais passamos anos a fio, sempre citando e revisitando, como se sua obra se tornasse uma régua de qualidade que será usada para tudo que vier depois. Então, por força de currículos eurocêntricos, que ainda predominam em muitas universidades, os primeiros a terem este amor são os europeus, muitos destes medievalistas; e assim, com suas abordagens, eles se tornam, também, o paradigma de sucesso a ser alcançado. Leia Mais
International Recognition. A Historical and Political Perspective | Warren Pezé, Daniel R. Rojas
Mao Tsé-Tung e Henry Kissinger se cumprimentando sorridentes ilustram a capa do interessante e provocativo livro International recognition: a historical and political perspective, organizado por Warren Pezé e Daniel R. Rojas. A histórica fotografia registrou o momento em que o governo dos EUA, em plena Guerra Fria, reconheceu o governo comunista da China e estabeleceu relações diplomáticas. Esta escolha editorial sistematiza as principais questões levantadas pela obra: como se dão os esforços de um novo país, ou de um novo regime, para se inserir no sistema internacional? Como se dá o processo de reconhecimento pelos outros atores internacionais? Sob quais condições? Como este processo se alterou ao longo do tempo? Quais características de longa duração podem ser observadas? Leia Mais
Brasil em projetos. História dos sucessos políticos e planos de melhoramento do reino. Da ilustração portuguesa à Independência do Brasil | Jurandir Malerba
Na noite de 22 de agosto de 2022, a pouco mais de 40 dias para a eleição presidencial no Brasil, o pior presidente que o país já teve em toda a sua história participou de uma entrevista no Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, para falar sobre sua candidatura à reeleição. À parte o fato nada desprezível de que deveria estar respondendo política e judicialmente pelos seus desmandos e não em campanha, a entrevista mostrou exatamente aquilo que dele se esperava após quatro anos de desgoverno: uma enxurrada de mentiras, distorções e dissimulações, ouvida por uma dupla de entrevistadores passivos que em momento algum confrontou de modo sério e efetivo a absurda realidade paralela desenhada à sua frente em tempo real. Ainda assim, a costumeira fala balbuciante, desconexa e destemperada do pior presidente-candidato que o Brasil jamais mereceu, quando examinada com atenção, demonstra algo que parece não existir, mas está ali, pulsando com força e, literalmente, brutalidade: um projeto para o país Leia Mais
Entre rios e impérios: a navegação fluvial na América do Sul | Francismar Alex Lopes
Cena do documentário “Porto das Monções”, de Vicentini Gomez | Imagem: Cidade de São Paulo/Cultura
Fruto da dissertação de mestrado de Francismar Alex Lopes de Carvalho, defendida na Universidade Estadual de Maringá em 2006, Entre rios e impérios analisa, com abordagem renovada, as relações interculturais entre as populações envolvidas nas rotas das monções. Confrontada com o texto que lhe deu origem, a redação do livro, publicado em 2019 pela Editora Unifesp, apresenta a incorporação de reflexões, documentos e referências bibliográficas acumulados ao longo dos anos.
A obra está dividida em 3 partes e 10 capítulos. Na primeira, Itinerários do Extremo Oeste, Carvalho, hoje professor de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), focaliza os caminhos fluviais e terrestres que levavam à fronteira oeste da América portuguesa desde o século XVII, com destaque para as ações dos grupos nativos no controle das rotas. Na segunda, Os práticos da navegação fluvial, ressalta o protagonismo dos mareantes mamelucos no movimento monçoeiro. Na última, Os senhores dos rios, problematiza as guerras e alianças entre as populações indígenas e os adventícios na disputa pelo domínio do rio Paraguai, sobretudo durante a primeira metade do Setecentos, encerrando com a discussão sobre a nova correlação de forças estabelecida a partir da instalação dos fortes fronteiriços no contexto dos tratados de limites. Leia Mais
Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past | Ana Lucia Araujo
Em fevereiro de 2020, perto da capital dos Estados Unidos da América, visitando a plantation Mount Vernon – que pertenceu a George Washington -, a historiadora Ana Lucia Araujo encontrou à venda um ímã de geladeira que reproduzia uma dentadura do ex-presidente feita com dentes de escravizados. Fez disso um elemento da análise sobre como a plantation apresenta seu passado escravista; contrapôs o prosaico objeto ao fato de a propriedade realçar a face de “senhor benevolente” de George Washington ao mostrar como ele deixou manifesta no testamento a vontade de libertar seus escravos. O esdrúxulo da dentadura num íma de geladeira – que consiste em grave ofensa aos cativos e seus descendentes – e a libertação dos escravos em testamento poderiam render muita reflexão sobre as práticas escravistas; aqui, no entanto, são amostra das minúcias da análise de Ana Lucia Araujo no livro Slavery in the Age of Memory: Engaging the Past, publicado meses depois de esta professora da Howard University ter se espantado com aquele artefato à venda.
É crescente a velocidade com que se sucedem episódios de conflito e de memorialização em torno da escravidão e do tráfico de africanos, mas Ana Lucia Araujo é ágil. A atualidade dos acontecimentos mobilizados no livro admira o leitor. A lojinha em Mount Vernon foi visitada em fevereiro de 2020, mas a autora examina muitos outros fatos recentes, como a discussão da troca de nome de um mercado construído no século XVIII em Boston (p.91-93) e as iniciativas oficiais de memorialização da escravidão na França (p.66). Leia Mais
Cidadãos e Contribuintes | Wilma Peres Costa
Cidadãos e Contribuintes: Estudos de História Fiscal, de Wilma Peres Costa, mais do que uma compilação de textos importantes da autora, é o retrato da sua trajetória acadêmica engajada com questões de fundo sobre a história do Brasil. A obra retoma artigos de peso para os debates em que foram inseridos, que se apresentam revisitados e com atualização das suas discussões. Os textos nesta edição, que veio à luz no outono de 2020, ganham mais em profundidade e importância, reunindo a pesquisa desenvolvida no campo de estudos desde sua publicação original. Como todo esforço de pensamento, pertence ao seu tempo e responde a questões centrais para a realidade brasileira vivida, porém sempre relacionada com os desejos da sociedade que se quer construir. Não apenas os textos refletem uma agenda de pesquisa, mas, nas palavras da autora, “reverberam também o forte engajamento político que nos animava, pois tratava-se da democracia que procurávamos reinventar e das desigualdades sociais que urgíamos combater” (p.15).
Mais uma vez, uma grande tragédia nos interpõe questões à realidade vivida. Para os autores que estimularam as discussões contidas nos trabalhos da autora – Marx, Schumpeter, Weber e Keynes – a realidade do início da Era da Catástrofe impunha um debruçar sobre as crises e a estrutura do Estado no passado. Hoje, em 2021, a pandemia do COVID19 ainda desafia a compreensão de suas proporções.3 O pleno entendimento desse fenômeno parece distante e como já habitual do debate nas últimas décadas – e mais nos últimos anos -, o papel do Estado retoma lugar no debate público. A interação com as crises e as formas de norteamento dos dispositivos de arrecadação estão mais uma vez colocadas à prova. Aprender com as crises só é possível a partir do momento em que o entendimento do passado se coloca, de fato, como um pré-requisito, algo que não parece nortear os poderes centrais deste Brasil em que (sobre)vivemos. Quais lições e de quais momentos poderíamos retirar perguntas para construir um futuro? Leia Mais
As ações de liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no período entre 1871 e 1888 | Carlos Henrique Antunes da Silva
Muito se discute atualmente sobre o papel do Poder Judiciário no Brasil. Em fins do século XIX, permearam as instâncias e as decisões judiciais ações cíveis cujo objeto era a liberdade de escravos. Sem os meios de comunicação de que hoje dispomos, ainda assim parte da sociedade estava atenta ao assunto. Para além da opinião pública e dos movimentos sociais de então, o trabalho que temos em mãos tem como ponto de partida um elemento bastante presente nas fontes utilizadas para o estudo da escravidão, mas nem sempre em evidência nas investigações relacionadas ao tema: o Estado. De que modo os agentes atuantes na estrutura judiciária do Império lidaram com os processos impetrados pela liberdade de homens e mulheres na condição de escravos? Que instrumental advogados e desembargadores operaram em suas argumentações e decisões?
O livro que nos coloca essas e outras questões é resultado de uma pesquisa de mestrado em História defendida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em 2015. Seu autor, Carlos Henrique Antunes da Silva, é formado em Direito, História e Filosofia, adentrando também a Sociologia do Direito neste estudo. O referencial teórico adotado por ele está na obra do sociólogo Pierre Bourdieu, em sua reflexão sobre as representações e relações simbólicas de poder. A noção “campo jurídico”, particularmente, busca dar a ver o movimento de definição do Poder Judiciário durante o Brasil Império, sem deixar de lado as especificidades da época, como a vigência da escravidão de africanos e descendentes. Leia Mais
The War on Sugar: forced labor, commodity production and the origins of the Haitian peasantry, 1791-1843 | Johnhanry Gonzalez
Pesquisas sobre a Revolução Haitiana se desenvolveram em ritmo surpreendente na academia nas últimas décadas, diversificando a discussão com variadas perspectivas de análise que muito contribuíram para o amadurecimento deste campo de estudo. Interpretações políticas, econômicas e sociais da antiga colônia de Saint-Domingue se somaram à avaliação dos impactos da revolução escrava em diversos espaços do mundo atlântico. É dentro deste movimento de renovação que se insere a obra de Johnhenry Gonzalez, Maroon Nation: A History of Revolutionary Haiti, adaptação de sua tese de doutorado3.
Publicado em 2019 pela editora da Universidade de Yale, o livro se propõe, antes de tudo, como uma introdução à história inicial do Haiti no século XIX. Preocupado em compreender as persistentes crises de subdesenvolvimento e dependência que atingem este país há décadas, Gonzalez volta à era revolucionária para analisar a emergência do campesinato haitiano, cerne da organização econômica e social do Haiti contemporâneo. Recorrendo a relatos de viajantes, relatórios de países estrangeiros, documentos militares, judiciais e políticos encontrados no Haiti, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, o autor concebe dois caminhos de análise relacionados e centrais para a originalidade da obra: a interpretação alargada da Revolução Haitiana e a tese da nação maroon. Leia Mais
La prensa de Montevideo, 1814-1825. Imprentas/ periódicos y debates públicos en tiempos de revolución | Wilson González Demuro
Neste livro, Wilson González Demuro analisa o papel da imprensa na criação de um espaço moderno de opinião pública em Montevidéu, integrado ao processo de desconstrução do Antigo Regime na América por suas independências e construção de Estados nacionais, assentados em governos representativos, baseados princípios liberais.
Um dos alvos de Demuro são as abordagens que consideram os meios de comunicação apenas como fontes ou testemunhos, e não objetos de análise. Colocando-se ao lado de outros historiadores como Noemí Goldman, Fabio Ares, Renán Silva e Fabio Wasserman, Demuro junta-se ao esforço por valorizar “la prensa como fuente histórica” e encará-la como “campo disciplinario”3. Leia Mais
As ações de liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no período entre 1871 e 1888 | Carlos Henrique Antunes da Silva
Primeira sede da Relação do Rio de Janeiro, prédio que abrigava a cadeia e o Senado | Imagem: Migalhas.com
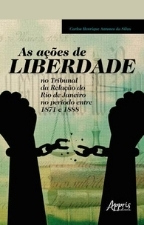
O livro que nos coloca essas e outras questões é resultado de uma pesquisa de mestrado em História defendida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) em 2015. Seu autor, Carlos Henrique Antunes da Silva, é formado em Direito, História e Filosofia, adentrando também a Sociologia do Direito neste estudo. O referencial teórico adotado por ele está na obra do sociólogo Pierre Bourdieu, em sua reflexão sobre as representações e relações simbólicas de poder. A noção “campo jurídico”, particularmente, busca dar a ver o movimento de definição do Poder Judiciário durante o Brasil Império, sem deixar de lado as especificidades da época, como a vigência da escravidão de africanos e descendentes. Leia Mais
The War on Sugar: forced labor, commodity production and the origins of the Haitian peasantry, 1791-1843 | Johnhanry Gonzalez
Battle of San Domingo, also known as the Battle for Palm Tree Hill | Pintura de January Suchodolski
Pesquisas sobre a Revolução Haitiana se desenvolveram em ritmo surpreendente na academia nas últimas décadas, diversificando a discussão com variadas perspectivas de análise que muito contribuíram para o amadurecimento deste campo de estudo. Interpretações políticas, econômicas e sociais da antiga colônia de Saint-Domingue se somaram à avaliação dos impactos da revolução escrava em diversos espaços do mundo atlântico. É dentro deste movimento de renovação que se insere a obra de Johnhenry Gonzalez, Maroon Nation: A History of Revolutionary Haiti, adaptação de sua tese de doutorado3.
Publicado em 2019 pela editora da Universidade de Yale, o livro se propõe, antes de tudo, como uma introdução à história inicial do Haiti no século XIX. Preocupado em compreender as persistentes crises de subdesenvolvimento e dependência que atingem este país há décadas, Gonzalez volta à era revolucionária para analisar a emergência do campesinato haitiano, cerne da organização econômica e social do Haiti contemporâneo. Recorrendo a relatos de viajantes, relatórios de países estrangeiros, documentos militares, judiciais e políticos encontrados no Haiti, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, o autor concebe dois caminhos de análise relacionados e centrais para a originalidade da obra: a interpretação alargada da Revolução Haitiana e a tese da nação maroon. Leia Mais
La prensa de Montevideo, 1814-1825 | Wilson González Demuro
Wilson González Demuro | Foto: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad de la República

Um dos alvos de Demuro são as abordagens que consideram os meios de comunicação apenas como fontes ou testemunhos, e não objetos de análise. Colocando-se ao lado de outros historiadores como Noemí Goldman, Fabio Ares, Renán Silva e Fabio Wasserman, Demuro junta-se ao esforço por valorizar “la prensa como fuente histórica” e encará-la como “campo disciplinario”[3].
Para essa renovação da área, Demuro debruça-se sobre uma rica documentação formada sobretudo por periódicos, mas também por memórias, correspondência e documentos oficiais com o propósito de contestar análises anacrônicas e atemporais de “tipos ideais” sobre o tema [4]. Ao tratar a imprensa como objeto de análise, e não um meio ou instrumento, o autor amplia a visão sobre esses veículos, incluindo a análise de sociabilidades associadas à imprensa, presente em sociedades literárias e tipografias, e leva em conta as formas de comunicação escritas e orais que incrementavam o impacto político e social das publicações periódicas. Nesta empreitada, dialoga com a Escola de Cambridge, a História Conceitual de Reinhart Koselleck, as análises de papéis públicos de Roger Chartier e o esquema de perguntas de Harold Lasswell para a definição de uma técnica filológica qualitativa que também tem função quantitativa [5]. Para o contexto ibero-americano, particularmente, os estudos de Fernández Sebastián lhe fornecem bases fundamentais para suas análises, não se esquiva de contribuir com a construção do conhecimento sobre os conceitos políticos publicado nos tomos do Diccionario político y social del mundo ibero-americano [6]. Leia Mais
Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil | Yuko Miki
Yuko Miki | Foto: Fordham News |
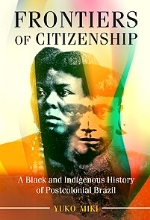
Frontiers of Citizenship, de Yuko Miki, já mereceria ser saudado por explorar essa primeira “fronteira”: a que separa a história de afro-brasileiros e de indígenas no Império do Brasil. Mais uma vez, o olhar estrangeiro nos ajuda a questionar os cânones da história nacional. Miki nascida em Tóquio, mas há muitos anos radicada nos Estados Unidos, onde é professora da Fordham University (NY), conta ao longo do livro o seu estranhamento em ver a história desses dois grupos tão apartada. Por outro lado, o livro – e especialmente seus comentários de contracapa – lhe atribuem muitas vezes uma originalidade que não é verdadeira. Muitos pontos – sobretudo em relação à história dos povos indígenas – podem ser pouco conhecidos do público estrangeiro, mas são absolutamente sabidos entre os historiadores brasileiros. A despeito disso, o esforço em buscar uma única interpretação, ou mesmo pontos de encontros, para a história de indígenas e afro-brasileiros escravizados é um ganho real.
Desde o início o livro chama a atenção por essa fusão que não está apenas na capa – uma bela arte de sobreposição de imagens de indígenas e afro-brasileiros – mas por se tratar de um volume da “Afro-Latin America” da Cambridge que tem como recorte espacial o vasto território conhecido na historiografia por ser aquele que foi alvo de D. João, em 1808, para se fazer guerra aos indígenas botocudos. Poucos territórios têm tão marcadamente um tema e uma cronologia: a guerra justa contra os botocudos e o período de 1808 a 1831, quando esta prática é extinta pelo Parlamento. Quase que exclusivamente tratado pela historiografia sobre os povos indígenas, é centro de discussão para as políticas indigenistas e as modalidades de trabalho imposta a estes povos. [4]
Miki implode esses parâmetros. Em primeiro lugar, avança a análise até o final do Império, permitindo revelar um quadro de mudanças muito mais complexo do que aquilo que se vê apenas até 1831, passando inclusive pelo Regulamento das Missões (1845) [5], o movimento abolicionista e a própria abolição. Ainda mais importante, Miki tenta enxergar essa região – que ela chama de “Fronteira Atlântica”, algo que problematizaremos adiante – como uma espécie de síntese, de um laboratório do Império. Afinal, foi ali que se abriu no começo do século XIX uma política generalizada de extermínio indígena. É verdade que isto jamais foi suprimido no Império português, mas especialmente depois de Pombal as políticas que tentavam transformar os indígenas em portugueses tornaram-se centro da estratégia do Império na disputa por territórios com Madri.
Ao mesmo tempo, o espaço colonial é o símbolo de uma mudança política com a vinda da Corte, Corte que não valorizava mais “zonas tampão” – papel que o território e os botocudos tinham ocupado até 1808 para impedir o desvio de pedras preciosas. Ao invés disso, o que se precisava era expandir-se “para dentro”, feliz expressão de Ilmar Mattos que fará ainda mais sentido já no Império do Brasil. [6] A expansão agrícola na “Fronteira Atlântica” é acompanhada de tentativas de implementação de novas alternativas de propriedade e trabalho. A mais famosa dessas iniciativas é a Colônia Leopoldina, incentivada pela própria Coroa através da vinda imigrantes e a distribuição de pequenas propriedades. A rápida transformação dessa experiência em apenas mais uma grande monocultura tocada com braços de escravizados afro-brasileiros, somada ao fato de ter se tornado um dos símbolos da resistência escravista, é extremamente destacado pela autora. Em alguma medida, o tom pessimista de toda a obra é sintetizado no “fracasso” da Colônia Leopoldina em manter-se com o trabalho livre.
Ainda que não dito explicitamente, Miki parece descrever um processo de mudança que nunca ocorre totalmente, como se o peso do passado fosse intransponível. A polissemia da palavra fronteira é habilmente explorada pela autora. A “Fronteira Atlântica” é a região que estuda. Os indígenas e afro-brasileiros estão fisicamente nesta fronteira, mas a sua cidadania também está em uma fronteira mais intangível, em uma área difícil de saber com clareza quem está dentro e quem está fora. Ainda que se valendo de análises já bastante conhecidas – sobretudo, de Sposito e Slemian [7] – Miki faz uma problematização dessa questão, lembrando que a constituição brasileira não era racializada. Ou seja, não era a cor da pele que determinava os direitos políticos. Por outro lado, condições jurídicas intrinsicamente ligadas à condição de homens e mulheres não brancos – como ser escravo ou considerado “selvagem” no caso dos indígenas – excluíam essas pessoas do “pacto político”. É apenas no final do livro – já discutindo o abolicionismo e o final do Império – que Miki deixa explícito que a negativa de direitos políticos para indígenas e negros era um projeto e não uma deficiência do sistema. Nesse ponto, há uma perfeita sintonia entre os projetos que analisa para indígenas e para os escravos após a abolição: em todos esses casos jamais se pensa em entregar terras e autonomia a esses povos. Ao contrário, a condição de subordinados, tutelados por fazendeiros ou religiosos é vendida como a única forma para impedir que ex-escravizados ou indígenas se entregassem ao ócio. Um discurso que se sustentou por décadas – e no caso dos indígenas, por séculos – e que ela registrou ecoar até mesmo entre os mais radicais abolicionistas da “Fronteira Atlântica”.
Se ao discutir a extensão da condição de cidadãos para indígenas e afro-brasileiros, Miki consegue uma análise mais integrada, o mesmo não acontece a respeito de outros aspectos. O exemplo mais evidente nesse sentido é o uso desses homens como mão de obra. Há, evidentemente, a demonstração de que em todo esse território havia o emprego significativo de indígenas e afro-brasileiros. No entanto, este são universos que estavam no mesmo território, mas que a narrativa organiza em sistemas produtivos bastante distintos. Ou seja, o enfoque para os indígenas está, de modo geral, nas missões e os escravizados afro-brasileiros nas fazendas. A pureza dessas separações tão estanques é difícil de acreditar em um território como esse. Bezerra Neto já mostrou que as fazendas monocultoras do Pará, por exemplo, sempre foram tidas como tocadas por mão de obra exclusivamente escravizada afro-brasileira, mas na verdade dividia os campos com indígenas. [8]
Antes que se diga que se trata das “excentricidades” do Cabo Norte, Marco Morel, em belíssimo e recente trabalho sobre os botocudos, justamente mostra como a sua mão de obra era frequentemente requisitada para os mais diferentes tipos de trabalho, ocupando frentes inclusive no entorno da Corte. Além do trabalho em obras públicas, Morel dá vários exemplos de como eram recorrentes as denúncias do emprego de indígenas em fazendas em toda essa região, muitas vezes desviados de instituições públicas sob a alegação de que era um método de civilização mais barato. [9] Para além disso, Miki passa ao largo da discussão mais interessante da historiografia recente: aquela que implode a visão dicotômica que separava todo o trabalho no Brasil do século XIX nas categorias de trabalho livre ou trabalho escravo. Em vez disso, há uma gigantesca zona cinzenta – não só no Brasil, mas em todo o mundo – em que homens livres são obrigados a trabalhar sob as mais diferentes formas de coerção, inclusive físicas. [10] Indígenas e afro-brasileiros eram especialmente alvo dessas ações que Miki totalmente ignora no livro.
Por fim, há ainda uma última consideração geral: a ideia de classificar esta região de ataque aos botocudos como “Fronteira Atlântica”. Miki insiste muito na ideia da fronteira, certamente influenciada pela tradição americana e critica o pouco uso desse termo na historiografia brasileira. No entanto, esta designação parece ter muitas fragilidades: no Império do Brasil, no processo de “expansão para dentro”, a fronteira é o recorrente e não a exceção. Nesse sentido, a região estudada por Miki parece estar longe de ser algo particularmente singular.
Mais especificamente sobre a distribuição dos capítulos é importante salientar que as suas divisões são temáticas, ainda que de modo geral a evolução dos capítulos também siga em alguma medida um avanço cronológico. Assim, o primeiro capítulo explora as “fronteiras da cidadania”, enquanto o segundo busca dar uma interpretação ao que ela chama de “política popular” (em tradução livre). Nos capítulos seguintes, outros temas giram em torno de tópicos como a mestiçagem, a violência, os “campos negros” e o abolicionismo. Os capítulos podem ser lidos separadamente, quase sem prejuízo do seu entendimento, o que por sua vez revela um problema de coesão da obra no seu conjunto. Também é peculiar a mistura de abordagens mais “estruturais” – como as discussões da cidadania a partir de documentos do centro político do Império – com narrativas totalmente focadas na “agência”. Especialmente nesse último ponto a obra encontra mais dificuldades. Há alguns insights maravilhosos, mas custa enxergar que alguns eventos possam ser usados para generalizações reiteradamente feitas.
Apesar das críticas, Frontiers of Citizenship é um livro que provoca muitas reflexões e incomoda ao buscar análises de ângulos inusuais. Isso por si só já basta para merecer a sua leitura.
Notas
3. Entre outras novas evidências, percebe-se o uso da mão de obra indígena mesmo em regiões irrigadas com escravizados afro-brasileiros, como São Paulo ou mesmo a região do Vale do Paraíba, pelo menos até um determinado período. Entre outros, veja LEMOS, Marcelo Sant’ana. O índio virou pó de Café? Resistência indígena frente à expansão cafeeira no Vale do Paraíba. Jundiaí: Paco Editorial, 2016; DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsório e escravidão indígena no Brasil imperial: reflexões a partir da província paulista. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 38, nº 79, 2018.
4. Para uma síntese, SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime português. Análise da política indigenista de D. João VI. Revista de História (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.
5. Trata-se da primeira lei para os povos indígenas como validade em todo o território do Império.
6. MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade política. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.
7. SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-45). São Paulo: Alameda, 2012; SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadãos? Os impasses na construção da cidadania nos primórdios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSÓ, István (org.). Independência: História e historiografia. São Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.
8. BEZERRA NETO, José Maia. Escravidão Negra no Grão Pará (séculos XVIII-XIX). Belém: Paka-tatu, 2012.
9. MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistência indígena. São Paulo: Hucitec, 2018.
10. Entre outros, MACHADO, André Roberto de A. O trabalho indígena no Brasil durante a primeira metade do século XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Ré, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). História e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.São Paulo: Publicações BBM / Alameda, 2020; Mamigonian, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017; LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma história global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013; STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991.
Referências
BEZERRA NETO, Jose Maia. Escravidao Negra no Grao Para (seculos XVIII-XIX). Belem: Paka-tatu, 2012.
DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsorio e escravidao indigena no Brasil imperial: reflexoes a partir da provincia paulista. Revista Brasileira de Historia. Sao Paulo, v. 38, nº 79, 2018.
LEMOS, Marcelo Sant’ana. O indio virou po de Cafe? Resistencia indigena frente a expansao cafeeira no Vale do Paraiba. Jundiai: Paco Editorial, 2016.
LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma historia global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013.
MACHADO, Andre Roberto de A. O trabalho indigena no Brasil durante a primeira metade do seculo XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Re, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). Historia e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.Sao Paulo: Publicacoes BBM / Alameda, 2020.
MAMIGONIAN, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construcao da unidade politica. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.
MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistencia indigena. Sao Paulo: Hucitec, 2018.
Resenha de MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018.
SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadaos? Os impasses na construcao da cidadania nos primordios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSO, Istvan (org.). Independencia: Historia e historiografia. Sao Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.
SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime portugues. Analise da politica indigenista de D. Joao VI. Revista de Historia (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.
SPOSITO, Fernanda. Nem cidadaos, nem brasileiros. Indigenas na formacao do Estado nacional brasileiro e conflitos na provincia de Sao Paulo (1822-45). Sao Paulo: Alameda, 2012.
STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991
André Roberto de A. Machado – Universidade Federal de São Paulo, Departamento de História. Guarulhos – São Paulo – Brasil. Professor do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. É graduado e doutor em História pela Universidade de São Paulo e realizou pós-doutorados no CEBRAP e nas universidades de Brown e Harvard. E-mail: andre. [email protected]
MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018. Resenha de: MACHADO, André Roberto de A. Construindo fronteiras dentro das fronteiras do Império do Brasil. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021.
The Sacred Cause: The Abolitionist Movement – Afro-Brazilian Mobilization and Imperial Politics in Rio de Janeiro | Jeffrey Needell
Jeffrey Needell | Foto: University of Florida |
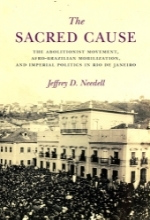
Jeffrey D. Needell , professor na Universidade da Flórida e também autor de A Tropical Belle Epoque (1987) e The Party of Order (2006), reorientou em The Sacred Cause sua já costumeira análise a partir das elites políticas, de modo a avaliar o Treze de Maio na perspectiva das inter-relações entre o movimento abolicionista, pelo baixo, e a vida parlamentar, pelo alto. Na complexidade multidimensional da escravidão, Needell autonomizou três variáveis e as aplicou a um espaço apenas, a Corte, porque julgada berço e cova do abolicionismo. O recorte temático e espacial atravessa o texto por inteiro e dá o tom dos porquês do Treze de Maio. À pergunta como foi possível a abolição quando o Estado era dominado por escravocratas? Needell responde: por obra de duas forças congraçadas – a saber, a solidariedade afro-brasileira e o movimento abolicionista – contra um reduto parlamentar, pelo resto, também pressionado pela Coroa.
Com o estilo ríspido que por vezes lhe é característico, Needell põe em xeque boa parte da historiografia que tratou do movimento abolicionista. Emília Viotti da Costa (1966), Robert Conrad (1972) e Robert Toplin (1972) não teriam logrado integrar o abolicionismo às urdiduras da alta política. Com os olhos voltados para os oprimidos e respaldados por interpretações materialistas, o que nem sempre foi o caso, não teriam compreendido, o que talvez não seja de todo justo, como o regime verdadeiramente funcionava. Seria esse o mesmo – e suposto – defeito de Angela Alonso (2015), malgrado o mérito de procurar entender o movimento abolicionista em escala nacional. A historiografia mais recente que se albergou na ideia de agência escrava, quer Needell, tampouco teria feito melhor, porque, calcada nos indivíduos, não teria assimilado o movimento em seu conjunto – mas foi essa a vocação dos agenciais?
Desejoso do inédito, Needell dividiu seu texto em sete capítulos, que, à exceção do quadro de socialização afro-brasileira composto no primeiro, seguem a ordem cronológica dos acontecimentos. O segundo traça o advento do movimento abolicionista, logo após a edição da Lei do Ventre Livre em 1871, até sua primeira derrota em 1881. Vislumbrando fases rápidas e movediças, Needell propõe no terceiro capítulo o soerguimento do movimento entre 1882 e 1883, particularmente em suas feições populares e suas solidariedades racialmente amplas. No quarto, discute o governo de Sousa Dantas, a posição agora mais contida, porque atenta à radicalização, de um monarca de claras tendências emancipacionistas e a saída paliativa da Lei dos Sexagenários, editada em 1885, com o retorno dos conservadores ao poder.
Daí em diante Needell presta-se à análise da resposta abolicionista à lei de 1885, procurando seu objeto – como nos outros capítulos – na imprensa, nos diários, nas memórias, nos relatórios oficiais e na troca de correspondências. Conclui o quinto capítulo com a implosão do bloco conservador e a decorrente intervenção abolicionista do Imperador, articulada de maneira a preservar o país de uma desestabilização final. Diferentemente dos Estados Unidos, onde a abolição ocorreu após severa guerra civil, Needell sugere uma saída relativamente pacífica para o trabalho livre no Brasil- implicitamente também por obra de um poder pessoal do monarca. Discutida a abolição propriamente dita no sexto capítulo, Needell argumenta no sétimo o resultante colapso da monarquia e, sobremaneira, o fracasso do movimento em lidar com a inserção do negro na sociedade de classes, malgrado ter sido transversalmente afro-brasileiro.
Porque permanentes no relato, são as três variáveis de Needell que interessam a esta resenha, e começaremos pela que talvez seja a mais polêmica: a solidariedade afro-brasileira na formação, na radicalização e nos estertores do movimento abolicionista.
Desde cedo, propõe Needell, escravos de diferentes nações encontraram meios para fazer suas próprias comunidades. Angolas, benguelas, cabindas, congos ou moçambiques importaram divisões étnicas que somente se desfizeram com o tempo, mas especialmente após o término do tráfico transatlântico em 1850. Socializados em irmandades religiosas e em confrarias políticas, os cativos moldaram progressivamente uma identidade afro-brasileira, em primeira instância, por oposição a outrem e, em segunda, pela partilha de experiências comuns – conceito que Needell, sem levá-lo até suas últimas consequências, parece tomar emprestado de E. P. Thompson. Transitando por uma Corte que não formou guetos, pelo menos para o autor, os escravos relacionavam-se com o operariado em constituição, também de origem negra. A troca teria amadurecido após a Lei Eusébio de Queirós (1850), não apenas em razão da diversificação da malha societária, mas sobretudo em consequência do aumento no preço do escravo. Sem recursos para diferenciar-se pela posse cativa, a classe popular encontrou-se tão desamparada quanto a igualmente afrodescendente classe média em suas expectativas de ascensão social, o que, sugere Needell, teria apenas redobrado a solidariedade racial.
Nesse enredo e à contracorrente do usualmente acreditado, o movimento abolicionista teria surgido afro-brasileiro desde o começo. A historiografia não teria suficientemente percebido – sequer Rebecca Bergstresser, cuja tese sobre a participação da classe média no movimento Needell apadrinha – um protocolo relacional do Império moldado para acobertar origens raciais, quando necessário. As plateias abolicionistas eram afro-brasileiras, argumenta o brasilianista norte-americano, e a inclemência das fontes quanto a isso apenas ratifica uma etiqueta que impunha mudez sobre a descendência negra de homens e mulheres de maior envergadura social – ou de potenciais lideranças abolicionistas, ainda que populares. É desses silêncios que emergem na análise de Needell novas figuras abolicionistas, pouco ou nada conhecidas do público especializado. Para além dos famigerados André Rebouças, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, tratados com rigor e à exaustão no texto, Vicente Ferreira de Souza e Miguel Antônio Dias teriam sido lideranças de proa, porque orgânicas – para retomar um conceito de Antonio Gramsci, ao qual Needell não recorre. Entre a novidade historiográfica e o embasamento material, o equilíbrio é por momentos imperfeito, visto que, especialmente no caso de Miguel Antônio Dias, as fontes parecem não ser satisfatórias o bastante para lhe dar o mérito que parece ter. O problema, no entanto, é pó de traque perto da imaginação que o bom historiador conduz entre as frestas dos documentos.
Mais quebradiço é o imediato pós-abolição de um autor que viu tanta solidariedade racial entre afro-brasileiros. Em parte, o movimento abolicionista teria fracassado em promover uma sociedade menos segregada após o Treze de Maio, porque, contrariamente à percepção corrente, o racismo não era vislumbrado pelos abolicionistas como barreira à mobilidade social ou como tema relevante em seu tempo. Se consentirmos com a interpretação, como pôde então a raça, na avaliação do próprio Needell, ser tão matricial na formação do movimento abolicionista? A incoerência, nos parece, poderia eventualmente ser melhor resolvida pela perspectiva de classes, que o autor realça e embaça, a depender do instante argumentativo. Por todas as evidências dadas no próprio texto, numa sociedade em que a imbricação das relações sociais nas econômicas, para recuperar um conceito de Karl Polanyi, expressava os pródromos da formação capitalista brasileira, raça e classe, assim como geração e gênero, combinaram-se nas hierarquias coletivas daquele tempo – muito largamente constituídas pela renda. Sintomaticamente, o negro que enriquecia embranquecia, o jovem que fazia fortuna amadurecia e a mulher que trabalhava empobrecia. Se afro-brasileiros como Rebouças, Vicente de Sousa e Patrocínio, na recomendação de Needell, agitaram-se contra a pobreza e a opressão, urbana e rural, no lugar de se apegarem ao racismo, foi porque os silêncios sobre a raça estavam encastelados na renda – que, antes de ser um critério, é um reflexo de um determinado lugar nas relações sociais que mercadorias produzidas e consumidas materialmente expõem.
Disso sucederia a necessidade de reposicionar as classes imperiais, melhor revisitando suas respectivas instâncias de integração e interação social. Caberia também avaliar seus espaços organizativos, como as entidades mutualistas que fundaram e as sociedades políticas que compuseram. Assim a identidade racial expressaria sobremodo uma condição material que serviu de fundamento para uma coligação abolicionista socialmente larga. Parece-nos, pois, que a solidariedade do movimento não foi racial, mas antes socioeconômica e, efêmera como se mostrou, autorizada apenas pela associação popularmente ressentida entre os que possuíam escravos e os que dirigiam a economia política do Império. Nesses termos, a proposta conceitual de identidade afro-brasileira, para o Oitocentos, guarda menos relevância do que a equivalente norte-americana, mais rigorosa para uma sociedade amplamente menos miscigenada e juridicamente, naquele então, mais obstrutiva.
Se o fracasso do movimento, após o Treze de Maio, não se deveu ao suposto não-tema racial, consideramos mais oportuna a hipótese de Needell que enxerga os tolhimentos ao reformismo do pós-abolição no advento de um regime de ambição política e composição social, malgrado os ajustes, semelhantes às do derrocado. Ocorre que, e assim passamos às variáveis parlamentar e real, Needell tendeu a omitir as forças que – também abolicionistas, não obstante agendas e intensidades diferentes – remodelaram o país. Atento à atividade parlamentar e aos impactos determinantes de movimento no desfecho da abolição, traçando paulatina e seguramente as pressões abolicionistas sobre o gabinete de Paranaguá, as alianças com o de Sousa Dantas e a radicalização posterior à Lei dos Sexagenários, Needell inclinou-se a ver nos debates legislativos a vida de todo o Império. Emascaradas em fontes oficiais que não as delatam por inteiro, as movimentações dos cafeicultores paulistas, o calor da caserna e as apostas financeiras dos principais bancos do Império empalideceram frente a um decisivo movimento abolicionista. Quiçá excesso historiográfico de nosso tempo, a análise das estruturas produtivas e financeiras, assim como as alianças esporádicas e arrivistas do grande capital com a tropa, costumam cheirar a naftalina. Ganham toda a atenção em consequência os movimentos subalternos, quando em última instância não são variáveis relativamente autônomas, mas exteriorizações das contradições políticas, sociais e econômicas que os constituem.
Um pouco pelas mesmas razões, a Coroa como variável emerge com suas volições independentes na obra de Needell. Já havia sido o caso em The Party of Order, quando o autor se amparou na retórica dos conservadores, nomeadamente dos ortodoxos, para sugerir que eles teriam hostilizado o Ventre Livre devido a sua suposta inconstitucionalidade. Seria a lei, nessa leitura, obra da ingerência imperial. Needell estendeu a proposta de um poder pessoal do Imperador à década de 1880, matizando-o com as agitações abolicionistas, porém ao fim sem tirar-lhe o brilho. Na raiz da fórmula estão talvez as principais inspirações do autor: em linhas superpostas de influência, Roderick J. Barman (1999), Sérgio Buarque de Holanda (1972), Heitor Lyra (1938) e Joaquim Nabuco (1897), cuja história do pai, não à toa uma biografia, se presta em boa medida à ideia da força pessoal do monarca. Teria tido tanta influência emancipacionista o Imperador, sem as contradições que caracterizam o mundo escravista posterior à Guerra de Secessão (1861-1865) ou, ainda, sem àquelas que remodelaram os eixos econômicos nacionais, produtivo e financeiro, subsequentes à Guerra do Paraguai (1864-1870)? Quais os termos do poder imperial, se Needell viu o monarca avançar e recuar, tanto em função do movimento abolicionista quanto em razão, num exame provavelmente mais próximo de Ilmar Rohloff de Mattos (1987), da constante representação latifundiária na Assembleia Geral do Império?
Seja como for, o caso é que certamente, para o endosso ou a crítica, será custoso de agora em diante produzir relato qualquer sobre a abolição sem recorrer ao último livro de Jeffrey D. Needell – e a todos os outros que lhe serviram de fundamento ou ponto de partida. É uma obra de méritos, que, também voltada para o público norte-americano ou simplesmente estrangeiro, deverá encontrar no Brasil boa tradução.
Referências
ALONSO, Angela. Flores, votos, balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). Sao Paulo: Companhia das Letras, 2015.
BARMAN, Roderick J. Imperador cidadao. Sao Paulo: Editora UNESP, 2012.
CASTILHO, Celso Thomas. Slave Emancipation and Transformations in Brazilian Political Citizenship. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016.
CONRAD, Robert. The Destruction of Brazilian Slavery, 1850-1888. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1972.
COSTA, Emilia Viotti da. Da senzala a colonia. Sao Paulo: Editora UNESP, 2012.
GOYENA SOARES, Rodrigo. “Estratificacao profissional, desigualdade economica e classes sociais na crise do Imperio. Notas preliminares sobre as classes imperiais”. Topoi, Rio de Janeiro, vol. 20, n. 41, pp. 446-489, 2019. http://dx.doi.org/10.1590/2237-101×02004108
GOYENA SOARES, Rodrigo. Racionalidade economica, transicao para o trabalho livre e economia politica da abolicao. A estrategia campineira (1870-1889). Historia (Sao Paulo), Sao Paulo, vol. 39, 2020. http://dx.doi.org/10.1590/1980-4369e2020032
HOLANDA, Sergio Buarque de (org.). Historia Geral da Civilizacao Brasileira. Tomo II: O Brasil monarquico. Vol. 5: Do Imperio a Republica. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992.
LYRA, Heitor. Dom Pedro II. Belo Horizonte: Editora Garnier – Itatiaia, 2020.
MARQUESE, Rafael e SALLES, Ricardo(orgs.). Escravidao e capitalismo historico no seculo XIX. Cuba, Brasil, Estados Unidos. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2016.
NABUCO, Joaquim. Um estadista do Imperio. Nabuco de Araujo: sua vida, suas opinioes, sua epoca. Paris, Rio de Janeiro: H. Garnier, Livreiro-Editor, 1898.
TOPLIN, Robert. The Abolition of Slavery in Brazil. New York: Atheneum, 1972.
YOUSSEF, Alain El. O Imperio do Brasil na segunda era da abolicao, 1861-1880. Tese (Doutorado em Historia Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2019
Rodrigo Goyena Soares – Universidade de São Paulo (USP). São Paulo – São Paulo – Brasil. Professor colaborador no Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP), onde também realiza estágio pós-doutoral com apoio da FAPESP (processo n. 2017/12748-0), instituição à qual o autor agradece. Doutor e mestre em História pela UNIRIO, formou-se em Ciências Políticas na Sciences Po Paris, onde igualmente obteve mestrado em Relações Internacionais. Pesquisa atualmente a Proclamação da República no âmbito do pós-doutorado na USP.
NEEDELL, Jeffrey D. The Sacred Cause: The Abolitionist Movement, Afro-Brazilian Mobilization, and Imperial Politics in Rio de Janeiro. Stanford: Stanford University Press, 2020. Resenha de: SOARES, Rodrigo Goyena. Um solidário treze de maio os afro-brasileiros e o término da escravidão. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]
Escrevendo a história do futuro: a leitura do passado no processo de independência do Brasil | Cristiane A. C. dos Santos
Cristiane Alves Camacho dos Santos | Foto: LabMundi-USP |
O livro de Cristiane Camacho dos Santos, adaptação de sua dissertação de mestrado (SANTOS, 2010), se propõe a identificar e analisar a utilização política de leituras sobre o passado da colonização portuguesa da América mobilizadas nos debates travados na imprensa luso-americana, entre 1821 e 1822. A autora argumenta que dentre os diversos sentidos atribuídos à colonização portuguesa da América, seu entendimento como empresa “exploradora” e “opressiva” balizou algumas das alternativas disponíveis aos agentes políticos durante o esfacelamento da unidade da monarquia portuguesa. E, em sendo assim, delineou os limites daquilo que era percebido como possível para alguns dos projetos políticos voltados ao futuro da América portuguesa, dentre os quais a ruptura política com Portugal e a independência do Brasil. Essa experiência do tempo, prossegue a autora, ocorreu concomitantemente à politização da identidade coletiva daqueles entendidos, gradualmente, como “brasileiros”. Em suma, trata-se da conversão do passado da colonização portuguesa da América em instrumento político de sustentação de projetos que inseriram a independência do Brasil no horizonte do possível, dando os contornos para a politização de uma nova identidade coletiva.
O livro é estruturado em três capítulos balizados por uma introdução e um epílogo. O primeiro capítulo versa sobre a experiência do tempo durante a crise do Antigo Regime em Portugal vivenciada por diferentes identidades políticas da América portuguesa. Nesse capítulo, ressalta a constituição da história luso-americana como uma parte específica e complementar da monarquia lusa, entre os séculos XVI e XVIII, a nova dignidade adquirida pelo território português da América com a transferência da Coroa em 1808 e sua correspondente inauguração de novas expectativas. No bojo dos acontecimentos ensejados pelo início da dissolução dos impérios ibéricos, constitui-se uma oposição semântica entre “colônia” e “nação” que encontrava respaldo concreto nas experiências engendradas a partir de 1808 e que delineavam a percepção de um “novo tempo” (SANTOS, 2017, 151-152). O capítulo dois debruça-se sobre as disputas semânticas acerca da presença portuguesa na América, cuja lógica de complementariedade, vigente no reformismo ilustrado, perde sua estabilidade na percepção contemporânea da valorização dos territórios americanos no início do século XIX. Neste capítulo analisa, a partir de cotejamento historiográfico, a importância da imprensa periódica na delimitação dos espaços públicos em 1821, seu potencial para investigações sobre identidades políticas em período de profunda transformação e, por fim, como a colonização portuguesa da América subsidiou a representação de certa unidade desses territórios, embora fosse cenário para disputas semânticas ambíguas. O terceiro e último capítulo, baseado em sólida análise documental, fornece respaldo à hipótese do uso político do passado durante o esfacelamento das condições de reciprocidade e compatibilidade entre Portugal e a América portuguesa, sobretudo a partir da conjuntura ensejada pelos decretos das Cortes de Lisboa de setembro de 1821. Aponta que o mês de dezembro daquele ano demarcou, nos periódicos analisados, a conversão do topos dos “trezentos anos de opressão” em leitura difundida do passado da colonização portuguesa da América como denúncia das arbitrariedades associadas à condição colonial (SANTOS, 2017, 199). Essa significação da experiência, exprimida nos jornais, tensionava identidades coletivas divididas entre “metropolitanos” e “colonos”, desdobradas, posteriormente, na oposição entre “portugueses” e “brasileiros”. Essa forma discursiva, portanto, sintetizava trezentos anos de história – sinal de encurtamento da experiência – sobre o denominador comum da “opressão” vinculada à condição colonial, cuja manutenção era, paulatinamente, associada aos interesses de portugueses peninsulares.
Em termos de método, Santos procede a uma análise de evocações do passado mobilizadas por diferentes impressos das províncias do Rio de Janeiro, Pará, Bahia e Pernambuco – com ênfase na primeira – que deram os contornos a diferentes características e aspectos dos usos políticos do passado pelos periodistas. A intenção da autora é inferir uma experiência do tempo a partir de elaborações e interpretações do passado que, exprimidas em jornais, integraram o debate político de múltiplos grupos e indivíduos da América portuguesa. Do ponto de vista teórico, Santos qualifica essas formulações sobre o passado como fontes capazes de indicar a tensão entre a experiência e a expectativa dos atores políticos, ou seja, permitem diagnosticar um certo passado e futuro presentes que desempenharam a função de guias parciais das atuações políticas. Além disso, concebe que a organização da tensão entre um conjunto de sentidos atribuídos a um passado e às perspectivas abertas de um futuro parcialmente novo contribuíram para a definição e politização de uma nova identidade coletiva, a “brasileira”, e a recomposição de outras preexistentes.
Por essas razões, Santos articula-se a diferentes campos historiográficos reunidos, principalmente, sob o escopo de uma teoria do tempo histórico e das identidades políticas coletivas. A principal teoria a subsidiar atualmente pesquisas sobre a experiência do tempo histórico é, direta ou indiretamente, tributária dos escritos do historiador alemão Reinhart Koselleck. De acordo com Koselleck, o tempo histórico é o produto da tensão, estabelecida na modernidade, entre experiência e expectativa, tensão que permite interpretar o entrelaçamento interno entre o passado e o futuro cuja dinâmica baliza as histórias vislumbradas pelos agentes sociais como sendo possíveis (KOSELLECK, 2006, 305-327). Em segundo lugar, outra tradição historiográfica à qual a autora se vincula refere-se à consolidada utilização de periódicos, ou jornais, como fontes históricas capazes de traduzir e produzir fenômenos políticos no passado (MOREL; BARROS, 2003, 11-50). Em terceiro lugar, Santos parte de premissas acerca da criação e transformação de diferentes identidades políticas elaboradas por autores como Tulio Halperín Donghi (DONGHI, 2015), José Carlos Chiaramonte (CHIARAMONTE, 1997), István Jancsó (JANCSÓ; PIMENTA, 2000) e João Paulo G. Pimenta (PIMENTA, 2015). Por fim, no relativo ao debate sobre as diferenças entre o Estado e a nação, adere às perspectivas adotadas por Anthony Smith (SMITH, 1997), em oposição à Eric J. Hobsbawm (HOBSBAWM, 1990), ao definir que o Estado não teria sido um demiurgo da nação, esta última seria o resultado da recombinação de elementos preexistentes – recordações históricas partilhadas, mitos de origem comuns, elementos culturais diversos, associação a um determinado território e etc. – que, em determinado momento histórico, teriam sido “outorgados” como sinais diferenciadores de uma nacionalidade (SANTOS, 2017, 210-213).
Essa arquitetura teórica e metodológica, informada por ampla historiografia, permitiu que os periódicos fossem considerados como vetores simbólicos das disputas políticas, portadores de discursos sobre o passado que, ao organizar seus significados, delimitaram o futuro possível da ação política, então conduzida por agentes cuja identidade coletiva era simultaneamente reposicionada mediante a sua experiência temporal. Esse complexo processo correspondia às dialéticas conflituosas da formação do Estado e da nação concomitantes à modificação do estatuto e da qualidade da História, doravante entendida como capaz de legitimar projetos políticos. Observando-se a sua trajetória de pesquisa, Santos associa-se diretamente ao ambiente intelectual ensejado pelo projeto coletivo denominado Formação do Estado e da nação, organizado no início dos anos 2000 e coordenado pelo Prof. Dr. István Jancsó, no Departamento de História da Universidade de São Paulo.
Embora o resultado atingido pela autora seja louvável, sobretudo em função de seu rigor teórico e analítico, algumas questões permaneceram irresolutas. A primeira delas refere-se a um aspecto cronológico relativo à dialética entre Estado e nação. De acordo com Santos, a independência do Brasil inaugurou o período de construção do Estado nacional, o qual, segundo afirma, prolongou-se de modo conflituoso até a década de 1850 (SANTOS, 2017, 208). Qual teria sido, então, o marco histórico a delimitar o fim do caráter “conflituoso” da relação entre o Estado e a nação? A importante demonstração de que a história colonial não foi o desenvolvimento natural da nação – ou de que a independência não foi seu resultado obrigatório -, mas sim parcialmente produto do manejo político do tempo, uma construção simbólica durante o acirramento das incompatibilidades de grupos da monarquia portuguesa, deixa em aberto a questão do corpo social. Noutros termos, os contornos iniciais da identidade política coletiva nacional “brasileira”, delineada nas trepidações políticas dos anos de 1821 e 1822, não buscou integrar a totalidade da população e, desse modo, aponta para uma das condições de compatibilidade entre a formação dos “brasileiros” e a manutenção reinventada da escravidão após a independência. Seria pertinente especificar os conjuntos sociais abarcados por esse uso político do tempo para, assim, diagnosticar os excluídos de uma identidade seletiva emergente que provavelmente condicionaria diversos conflitos entre o Estado e a nação. Por fim, observo que a ausência da incorporação da dissertação de mestrado de Rafael Fanni (FANNI, 2015), elaborada após a dissertação de Santos e antes de sua readaptação em livro – e que é abertamente tributária da interpretação de Cristiane Camacho dos Santos -, prejudicou a possibilidade de aprofundar o rigor e expandir a envergadura das constatações da autora.
Teórica e metodologicamente bem estruturado, o livro de Cristiane Camacho dos Santos representa uma contribuição historiográfica importante aos estudiosos da história social do tempo e da formação do Estado e da nação do Brasil. Um estudo acadêmico que, embora concentrado em cronologia curta, é capaz de demonstrar a espessura temporal subjacente aos discursos políticos veiculados em jornais durante o processo de independência do Brasil. Em suma, e utilizando o vocabulário de Koselleck, trata-se de uma boa demonstração acadêmica da interrelação entre a temporalização da política e politização do tempo devidamente mediadas por identidades políticas coletivas, cuja investigação é plenamente realizável através de periódicos contemporâneos.[1]
Nota
1. Esta resenha foi concebida durante os debates do núcleo de pesquisa “História do Tempo: teoria e metodologia”. <http://labmundi.fflch.usp.br/historia-do-tempo> Agradeço a Edú T. Levati pela correspondência das citações.
Referências
CHIARAMONTE, Jose Carlos. “La formacion de los Estados nacionales en Iberoamerica”. In: Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 3ª serie, 1º semestre de 1997.
DONGHI, Tulio Halperin. Revolucao e guerra: formacao de uma elite dirigente na Argentina criolla. Sao Paulo: Hucitec, 2015.
FANNI, Rafael. Temporalizacao dos discursos politicos no processo de Independencia do Brasil (1820-1822). 164 p. 2015. Dissertacao (Mestrado em Historia Social) – FFLCH, USP, Sao Paulo.
HOBSBAWM, Eric J. Nacoes e nacionalismos desde 1780. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 1990.
JANCSO, Istvan; PIMENTA, Joao Paulo G. “Pecas de um mosaico: ou apontamentos para o estudo da emergencia da identidade nacional brasileira”. In: Revista de Historia da Ideias. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, v. 21, 2000, p.389-440.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuicao a semântica dos tempos historicos. Rio de Janeiro: PUC-Rio, Contraponto, 2006.
MOREL, Marco; BARROS, Mariana Monteiro de. “O raiar da imprensa no horizonte do Brasil”. In: Palavra, imagem e poder: o surgimento da imprensa no Brasil do seculo XIX. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p.11-50.
PIMENTA, Joao Paulo G. A independencia do Brasil e a experiencia hispano-americana (1808-1822). Sao Paulo: Hucitec , 2015.
SANTOS, Cristiane Alves Camacho dos. Escrevendo a historia do futuro: a leitura do passado no processo de independencia do Brasil. Sao Paulo: Alameda, 2017.
SANTOS, Cristiane Alves Camacho dos. Escrevendo a historia do futuro: a leitura do passado no processo de independencia do Brasil. 186 p. 2010. Dissertacao (Mestrado em Historia Social) – FFLCH, USP, Sao Paulo.
SMITH, Anthony. A identidade nacional. Lisboa: Gradiva, 1997.
Thomáz Fortunato – Departamento de História da Universidade de São Paulo – São Paulo, SP, Brasil. Mestrando em História Social pela Universidade de São Paulo. Membro do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial e do grupo Temporalidad (Iberconceptos). Pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E-mail: [email protected]
SANTOS, Cristiane Alves Camacho dos. Escrevendo a história do futuro: a leitura do passado no processo de independência do Brasil. São Paulo: Alameda, 2017. Resenha de: FORTUNATO, Thomáz. A politização do tempo histórico na Independência do Brasil1. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]
Becoming Free – Becoming Black: Race Freedom and Law in Cuba – Virginia and Louisiana | Alejandro de la Fuente e Ariela J. Gross
Ariela J. Gross e Alejandro de la Fuente | Foto: Medium |
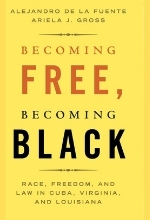
De partida, Gross e de la Fuente fazem de Frank Tannenbaum seu antagonista e, também, em menor grau, uma inspiração. Assim como em artigos publicados anteriormente, eles reforçam as críticas a Slave and Citizen, em especial às premissas teóricas, que atribuíram às normas escritas nas metrópoles um papel determinante dos rumos das sociedades coloniais. Igualmente contestada foi a projeção das diferenças raciais entre os Estados Unidos e a América Latina ao passado, como se decorressem de um devir inevitável, fundado pelos regimes jurídicos anglo-saxão e ibéricos. Por outro lado, tanto a historiografia revisionista (que preteriu o direito e a religião pela economia e a demografia) quanto os estudos recentes no campo da cultura legal, se limitaram a demolir o modelo de Tannenbaum, sem oferecer uma interpretação definitiva sobre as origens das diferenças raciais nas Américas. Assumindo o desafio, Gross e de la Fuente resumiram ainda na introdução seu postulado: não foi o direito da escravidão, mas o direito da liberdade o elemento crucial para a constituição dos regimes raciais no continente.[4]
Embora a maioria dos homens e mulheres escravizados jamais tenha rompido as correntes do cativeiro, a minoria que conquistou a alforria, constituindo comunidades negras livres, teria sido a chave para a construção da raça nas Américas. Gross e de la Fuente convidam o leitor a embarcar em uma longa jornada, que se inicia na travessia atlântica e na colonização de Cuba, Louisiana e Virgínia, perpassa as águas turbulentas da Era das revoluções, para enfim desembarcar nos regimes raciais do século XIX, cujos legados se estendem até hoje. Antecipando suas conclusões, os autores sustentam que as diferenças entre as três regiões não decorreram do reconhecimento da humanidade dos escravizados e tampouco da fluidez racial. O fator determinante teria sido o grau de sucesso das elites escravistas na imposição da relação entre branquitude e liberdade, e entre negritude e escravidão. O enunciado contém um dos principais manifestos políticos do livro, mas deixa uma questão em aberto-que será retomada adiante.
Os dois capítulos iniciais transitam pelas sociedades coloniais de Cuba, Virgínia e Louisiana, partindo do regime jurídico e da experiência espanhola das Américas. Embora as Siete Partidas reconhecessem a humanidade das pessoas escravizadas, o efeito prático do precedente social e legal dos ibéricos foi a definição prévia das distinções raciais por lei. A inversão do pressuposto de Tannenbaum é radical. A escravidão em Portugal e o princípio da limpeza de sangre na Espanha ofereceram aos ibéricos as pré-condições para o pioneirismo na criação de regimes legais racializados na América. Nesse ponto, os autores cederam em parte a Tannenbaum, identificando, na raiz romanista do direito ibérico, a alforria como instituição sólida. Mas incorporando as contribuições da historiografia recente, eles avançaram ao demonstrar como, em solo americano, foram os escravizados-no caso, os da ilha de Cuba-que fizeram da norma uma tradição e, por conseguinte, um direito.
Em paralelo, o colonialismo francês constituiu seu próprio regime no Caribe por meio das diferentes versões do Code Noir, que progressivamente restringiram tanto a alforria e os direitos das comunidades negras livres. À época da ocupação da Louisiana, a experiência e os precedentes normativos serviram à constituição do regime mais excludente do Império francês, mas que ainda assim não cerceou em absoluto a liberdade e o direito de negros livres, especialmente em Nova Orleans. A Virgínia, por sua vez não contou com precedentes legais ou experiências coloniais prévias. Sem incorporar os precedentes de Barbados e da Carolina do Sul, a colônia inglesa se converteu em uma espécie de laboratório, onde as diferenças raciais não estavam pré-determinadas jurídica ou socialmente. Invertendo mais uma vez as premissas de Tannenbaum, Gross e de la Fuente desvelam uma Virgínia relativamente aberta à prática da alforria e à formação de comunidades de negros livres no início do século XVII.
Privilegiando as fontes jurídicas, com destaque para as ações de liberdade, os autores esbanjam rigor metodológico sem comprometer a fluidez da narrativa de pessoas escravizadas que recorriam à justiça. Embora esse procedimento fosse comum nas três regiões no século XVII, ela se manteve constante em Cuba, enquanto rareou na Virgínia e na Louisiana no século XVIII, onde também aumentaram as restrições aos casamentos inter-raciais. De acordo com Gross e de la Fuente, essa progressiva distinção na trajetória das sociedades escravistas em questão não foi o resultado da pretensa benevolência ibérica, mas de razões econômicas, demográficas e de gênero. Eram principalmente as mulheres que conquistavam a alforria, predominantemente de forma onerosa, e consequentemente serviam à reprodução das comunidades negras livres. Os franceses precocemente haviam fechado o cerco às manumissões, embora incapazes de pôr fim à presença de negros livres em Nova Orleans. Enquanto isso, a Virgínia transitou gradualmente de uma sociedade desregulada para a mais restritiva das três, especialmente após a Rebelião de Bacon, em 1676.
Recuperando a interpretação de Edmund Morgan, segundo o qual as restrições visavam à solidariedade branca contra a aliança entre servos brancos, indígenas e negros, os autores acrescentam argumentos econômicos e políticos. A conversão da Virgínia em uma sociedade escravista começara antes mesmo da revolta, por conta do barateamento do preço de africanos em relação ao custo da servidão. Fortalecida, a elite virginiana conseguiu a um só tempo restringir as alforrias e solidificar a solidariedade branca na colônia, diferentemente de seus pares de Louisiana e de Cuba, que foram incapazes de abolir um precedente jurídico estabelecido. A consequência foi a formação de comunidades negras livres e miscigenadas de diferentes tamanhos nas três regiões, e não favorecidas pelas elites, mas maiores ou menores de acordo com sua capacidade de resistir aos esforços para evitá-las. No final do segundo capítulo, Gross e de la Fuente retomam sua hipótese, insistindo que as elites de Cuba, Virgínia e Louisiana tentaram igualar a raça negra à escravidão, pois enxergavam nos negros livres uma ameaça à ordem. As diferenças, contudo, não decorreram do precedente legal, mas das diferentes realidades sociais e demográficas que permitiram o maior sucesso na Virgínia e na Louisiana, e o menor em Cuba.[5]
Tema do terceiro capítulo, a Era das Revoluções consistiu no período de maior aproximação entre as três regiões, onde tanto as alforrias quanto as comunidades negras livres cresceram. Ao mesmo tempo, a escravidão avançou nos territórios, respondendo aos estímulos do mercado mundial. Em Cuba e na Louisiana, o paradoxo era apenas aparente, pois a alforria era uma tradição jurídica e socialmente vinculada ao cativeiro. Já na Virgínia a libertação de escravizados se associou ao ideário da independência. Enquanto as comunidades negras livres de Havana e de Nova Orleans eram fruto do Antigo Regime, a de Richmond respirava os ares da revolução. Consequentemente, as elites virginianas reagiram ao horizonte que se abria, seguidos por seus pares do Vale do Mississippi, recentemente integrados aos Estados Unidos e movidos pelos interesses açucareiros e algodoeiros. Entre 1806 e 1807, a promulgação do Black Code da Louisiana e de uma série de leis na Virgínia restringiram a alforria e os direitos dos negros livres, dando o tom de um regime racial que chegaria à maturidade em meados do século XIX, apartando em definitivo o modelo estadunidense do cubano.
O movimento esboçado nos Estados Unidos se agravou entre as décadas de 1830 e de 1860, das quais tratam os capítulos finais do livro. Neles, Gross e de la Fuente esboçam uma guinada metodológica, organizando-os a partir de eixos temáticos, em vez de compararem pormenorizadamente as ações de liberdade em cada um dos espaços. Nas páginas que seguem, os autores descrevem o recrudescimento das forças e discursos escravistas nos Estados Unidos, como reação ao avanço do abolicionismo e de revoltas como a de Nat Turner. A elite cubana enfrentou seus próprios inimigos, pressionada pela campanha da Inglaterra contra o tráfico de africanos e ameaçada frontalmente por um ciclo de resistência dos escravizados, que se estendeu da revolta de Aponte, em 1812, à de la Escalera, em 1844. As três elites compartilharam do temor de que se formassem alianças entre negros livres e escravizados, como ensaiado mais propriamente em Cuba. Por meio de leis restritivas à alforria, além de políticas de remoção das populações negras livres, para fora dos estados ou do país, as elites da Virgínia e da Louisiana deram passos largos no sentido da construção de um regime racial pleno, em que a negritude fosse sinônimo não apenas de degradação, mas do cativeiro. De acordo com os autores, houve esforços similares em Cuba, assim como ataques às comunidades negras livres, mas estes não foram sistêmicos ou capazes de cindir as mesmas linhas raciais dos Estados Unidos.
Na década de 1850, Cuba, Virgínia e Louisiana eram sociedades escravistas maduras, nas quais os negros eram tidos como social e legalmente inferiores. No entanto, o processo de destituição de direitos foi muito além nos Estados Unidos, dando forma a um regime racial particular, que destoava daqueles desenvolvidos na América Latina. Retomando o debate com Tannenbaum na conclusão do livro, Gross e de la Fuente, arrolaram as variáveis que incidiram sobre a diferenciação dos regimes nos três territórios. As tradições legais teriam tido o seu peso, embora não nos termos propostos em Slave and Citizen. Os ibéricos teriam sido pioneiros na criação de legislações raciais, mas o reconhecimento jurídico da alforria cindiu a brecha por onde mulheres e homens escravizados encontraram seus tortuosos caminhos para a liberdade. A agência dessas pessoas e a mobilização do direito “de baixo para cima”, portanto, teria cumprido um papel central, tão ou mais importante que o precedente normativo. Consequentemente, os negros livres de Cuba fizeram da tradição um direito e de suas comunidades uma realidade incontornável para a elite da ilha.
Nesse sentido, o fator determinante na formação dos diferentes regimes raciais, segundo os autores, foi o tamanho das comunidades negras livres, que pressionavam pelo reconhecimento de direitos e dificultavam o cerceamento das alforrias. Um segundo ponto levantado pelos autores foram os diferentes regimes políticos. A constituição de uma democracia liberal nos Estados Unidos entrelaçou os princípios da liberdade, da igualdade e da cidadania, tendo por contrapartida os esforços reacionários que negaram seu acesso à população negra. Enquanto a democracia branca se consolidava ao Norte, Cuba preservou sua condição colonial, assim como as hierarquias políticas locais. A liberdade de uma parcela minoritária de negros respondia antes a uma tradição do Antigo Regime do que à extensão da cidadania. Não havia necessidade de uma ideologia supremacista racial onde sequer vigia o pressuposto da igualdade.
Na conclusão, Gross e de la Fuente reforçam o postulado de abertura, segundo o qual as elites de Cuba, da Virgínia, da Louisiana buscaram constituir a dicotomia perfeita entre raça e escravidão. Frente à resistência das comunidades negras livres, nenhuma delas obteve o êxito pleno, mas as estadunidenses foram mais bem sucedidas. Não há dúvidas de que na Virgínia, na Louisiana e em grande parte do sul dos Estados Unidos, prevaleceram esforços nesse sentido. Mas a despeito de discursos e medidas legais apresentados pelos autores, não se depreende da narrativa e das fontes que a elite cubana tenha se dedicado à questão com o mesmo afinco. Em mais de uma passagem, Gross de la Fuente relativizam seu próprio enunciado, reconhecendo que as autoridades de Cuba preferiram não se contrapor à tradição legal e aos direitos de comunidades estabelecidas. Seguindo os passos dos próprios autores, é possível levar a questão além.
Se como dizem Gross e de la Fuente, os ibéricos foram pioneiros da constituição de regimes raciais legalizados, eles também foram os primeiros a conhecer os efeitos da alforria na escravidão negra nas Américas. A formação de comunidades negras livres não foi resultado de um projeto, mas das condições demográficas e da ação dos próprios escravizados. Por conseguinte, os ibéricos foram também os primeiros a usufruir desse arranjo social e racial que, na maior parte do tempo, contribuiu para a preservação do cativeiro. A proximidade entre negros livres e escravizados era um risco real, mas a experiência histórica revela que na maior parte das vezes, a aliança entre os livres de diferentes cores prevaleceu sobre a solidariedade racial, ainda mais em sociedades marcadas por um alto grau de miscigenação. O sucesso das elites estadunidenses em cindir as raças também conteve em si a chave de seu fracasso, reforçando a identidade e a solidariedade negra, que se voltaram contra a supremacia branca durante a Guerra Civil e tantas vezes após a abolição. Em contrapartida, o suposto fracasso da elite cubana, nos termos dos autores, conteve o segredo de seu sucesso. Afinal, o escravismo experimentado pelos ibéricos não foi apenas pioneiro nas Américas, mas o mais longevo, tendo perdurado em Cuba e no Brasil até o último quartel do século XIX. Não à toa, as elites desses países tantas vezes se valeram dos Estados Unidos como contraponto, para preservar suas próprias hierarquias sob o mito das “democracias raciais”.[6]
São os próprios autores que fornecem os dados e argumentos para esse breve contraponto. Em mais de uma passagem, eles descrevem a alforria como instituição escravista em Cuba, assim como reconhecem a hesitação das elites em cerceá-la. Ao enunciarem na introdução e na conclusão que as três elites escravistas compartilharam de um mesmo horizonte racial, Gross e de la Fuente miraram dois alvos. A crítica se voltou tanto às elites do passado, quanto aos discursos mais recentes que, na política e na historiografia, ainda se valem da escravidão e do racismo explícito nos Estados Unidos como um contraexemplo, a fim de sustentar a suposta benevolência do cativeiro e a pretensa harmonia das relações raciais na América Latina. A posição dos autores no debate público é mais do que bem-vinda, e contribui para a desmistificação do tema. De todo modo, o próprio livro revela como Cuba antecedeu e sucedeu o cativeiro na América do Norte, e como sua elite constituiu o seu próprio regime racial. Sem cindir a ilha entre o branco e o negro, ela preservou por mais tempo a escravidão valendo-se de um racismo velado, tão eficaz e talvez mais perverso que o estadunidense.
Nas derradeiras páginas do livro, Gross e de la Fuente alçam voo sobre os anos que se seguiram à abolição, contrastando os Black Codes e as Leis Jim Crow no Sul dos Estados Unidos com o relativo reconhecimento dos direitos dos negros em Cuba. Em seus termos, a transição da escravidão à cidadania resultou das lutas políticas dos negros de cada região. Nas entrelinhas, os historiadores convidam seus pares a desbravar o campo das relações raciais nas sociedades do pós-abolição, à luz de suas importantes contribuições. Trazendo mais uma vez Tannenbaum ao debate, Gross e de la Fuente concluem que o tecido de conexão entre o negro escravizado e o cidadão negro, no pós-abolição, não decorreu da relação entre “slave and citizen” mas de “black to black”. Como enunciado no título e na introdução, não teria sido o direito da escravidão, mas a mobilização do direito à liberdade pelos próprios sujeitos escravizados que selou o caminho para a construção, não só dos regimes, mas das identidades raciais. É possível questionar se o direito à liberdade existiria senão como contradição interna do direito da escravidão, em uma relação dialética. No entanto, foi por meio dessa inversão do prisma que Gross e de la Fuente miraram um velho debate sob um ângulo novo, trazendo à luz outros sujeitos e respostas.
Becoming Free, Becoming Black coroa os resultados de uma tradição historiográfica que trouxe à luz a complexidade da escravidão e das disputas sobre os sentidos da liberdade e da justiça nas Américas. Reivindicando os ganhos metodológicos e políticos da história “de baixo para cima”, e preservando no centro da narrativa os sujeitos escravizados e sua agência, Gross e de la Fuente deram um passo além. Instigados pelos debates postos no presente, ousaram revisitar os clássicos para oferecer respostas e questionamentos originais. Em tempos de crise das representações e de revisionismos históricos, Becoming Free, Becoming Black nos reabre uma janela ao passado, exibindo as raízes pérfidas de mazelas que ainda nos assolam. No entrepasso do caminhar de tantos homens e mulheres, os autores nos lembram das lutas pretéritas, e quiçá nos apontam possíveis caminhos para os embates que se anunciam no horizonte.
Notas
1. Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
2. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
3. Apenas para citar a principal referência dos autores, ver Rebecca J. Scott, Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005; e mais recentemente Scott, R., & Hébrard, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
4. Frank Tannenbaum, Slave and Citizen. Boston, 1992). Sobre as publicações anteriores de Gross e de la Fuente, ver De la Fuente, Alejandro, & Gross, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485. Gross, Ariela, & De la Fuente, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699. De la Fuente, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173. De la Fuente, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369.
5. Morgan, Edmund. American slavery, American freedom: The ordeal of colonial Virginia. New York: W.W. Norton &, 2003.
6. A título de exemplo, ver os discursos de representantes de Cuba e do Brasil sobre a questão dos negros livres, assim como suas divergências, em Berbel, Marcia., Marquese, Rafael, & Parron, Tamis. Escravidão e política: Brasil e Cuba, c. 1790-1850. São Paulo: Editora Hucitec: FAPESP, 2010. Sobre o racismo em Cuba no século XX, é o próprio Alejandro de la Fuente que sustenta a interpretação aqui esboçada. Ver Fuente, Alejandro de la. A Nation for All: Envisioning Cuba. The University of North Carolina Press, 2011.
Referências
DE LA FUENTE, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173.
DE LA FUENTE, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369
DE LA FUENTE, Alejandro, & GROSS, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485.
GROSS, Ariela, & DE LA FUENTE, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699.
SCOTT, Rebecca. Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005;
SCOTT, R., & HÉBRARD, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
TANNENBAUM, Frank. Slave and Citizen. Boston, 1992).
Marcelo Rosanova Ferraro – Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
DE LA FUENTE, Alejandro; GROSS, Ariela J. Becoming Free, Becoming Black: Race, Freedom, and Law in Cuba, Virginia and Louisiana. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Resenha de: FERRARO, Marcelo Rosanova. O direito à liberdade e a dialética das raças nas Américas. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]
Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico 1450-1850 | Marcello Carmagnani
As conexões mundiais e o Atlântico: título sugestivo para um livro que se propõe a tratar de tema tão amplo. Como fazê-lo, contudo, é questão proeminente. O percurso escolhido nos é explicitado na introdução:
Será necessária uma profunda revisão dos instrumentos analíticos, elaborando os dados históricos até então utilizados apenas descritivamente, para traçar os modelos, os esquemas e as constantes do processo histórico. Fernand Braudel dizia que a história é a representante de todas as ciências sociais no passado: a ampliação da visão de história atlântica aqui proposta depende também da capacidade de elaborar conceitos analíticos que considerem os processos históricos em âmbito econômico, sociológico, político e cultural, sem os quais a história não pode ser nada além de uma mera coleção de conhecimentos [3].
Portanto, como ambicionado, a abordagem das esferas de existência histórica do mundo atlântico depende de uma elaboração conceitual e de uma revisão dos instrumentos analíticos que dê conta das constantes de seu processo formativo. O que, dentro da produção italiana sobre o tema, é de grande significado. Como em países europeus e americanos, os estudos atlânticos ganharam relevo nos últimos anos dentro dos cursos de graduação e pós-graduação. A publicação deste livro, por exemplo, vem cinco anos depois do ótimo Il Mondo Atlantico: una storia senza confini (secoli XV-XIX), de Federica Morelli. Porém, em muitos casos, o Atlântico acaba sendo fortemente concebido como um prolongamento temporal da ordem geopolítica norte-atlântica pós-1945, sendo representado pelos países membros da OTAN (deixando pouco ou nenhum espaço para o Leste Europeu e a Península Ibérica), e excluindo em grande medida o Atlântico Sul, concebendo o ocidente a partir de um interesse que projeta uma interpretação de escopo reduzido.
Portanto, a tarefa assumida requer não apenas amplo conhecimento bibliográfico e documental, como também uma perspectiva metodológica que seja totalizante, por adição ou por relação. Neste campo historiográfico, Bernard Bailyn afirmara que fazer uma história atlântica implica a agregação do conhecimento de histórias locais e suas extensões ultramarinas, bem como as relações desse agregado, operando no campo da descrição de suas dinâmicas e elementos fundamentais e processuais [4]. Apresentando estes aspectos, o presente livro, além de vir em boa hora, é também fruto de uma carreira construída a partir de pesquisas de fôlego sobre a Europa e as Américas. Nos últimos anos, os estudos de Marcello Carmagnani vão da relação intrínseca entre o consumo de produtos extra-europeus e as transformações materiais e imateriais em suas sociedades [5] à formação e plena inserção da América Latina nas sendas do mundo ocidental [6]. E neste livro, como bem descrito, o enquadramento atlântico dos processos históricos e suas relações são delineados plenamente.
Dividindo a obra em cinco capítulos, Carmagnani inicia explorando seus pontos de partida. Pontos que não necessariamente levaram desde o princípio à sua formação, mas que foram determinantes para a estruturação de suas dinâmicas. Neste quesito, as técnicas de navegação e o delineamento das primeiras ocupações atlânticas merecem destaque. Encontramo-nos diante de um processo definido pela experiência e apresentado do seguinte modo: a adoção de técnicas originárias de contatos anteriores, em especial com a Ásia, são, junto com as técnicas locais, adaptadas para a uma realidade que posteriormente se transforma a partir da experiência prática adquirida. No que se refere à busca e ocupação de pontos intermédios no oceano Atlântico, verdadeiras pontes oceânicas, seus papéis são salientados pelas potencialidades como locais de troca e abastecimento/restauração de embarcações, e como primeira experiência de povoamento no além-mar. Com a instalação de estruturas produtivas baseadas no uso do trabalho escravo africano que engendrariam posteriormente o comércio e produção das colônias europeias na América, é ressaltado o desenvolvimento de uma rede mercantil europeia em torno do comércio açucareiro. Juntando estes dois fatores ressaltados, o desafio representado pelo Atlântico vê um número reduzido de agentes envolvidos e possui como seus mecanismos de propulsão a busca de ouro africano e o início do tráfico negreiro em direção às ilhas produtoras de açúcar, que acenavam à conexão entre comércio, técnica e experiência que simbolizam um círculo vicioso.
No segundo capítulo, os efeitos da conquista e o processo de territorialização de espaços americanos são centrais. A catástrofe demográfica americana, o consequente repovoamento e a transposição integral do tráfico negreiro ao mundo atlântico são ressaltadas por duas razões. A primeira diz respeito ao nascimento da articulação entre a costa, o interior e a fronteira aberta, ligando o comércio, as estruturas produtivas e político-jurídicas instaladas na América, tendo a prata e o açúcar como eixos indissociáveis. A segunda é a formação de sociedades específicas, que apesar das divergências locais, eram marcadas por conflitos e violências que visavam a dominação e subordinação da mão de obra. Deste modo, o repovoamento e a instalação produtiva nas Américas representa o nascimento de conflitualidades que levam os poderes coloniais a criarem mecanismos de limitação de contestações e perda de controle sobre o tecido social e produtivos cujas estruturas ainda reverberam.
O terceiro e quarto capítulos devem ser abordados em conjunto, pois enquanto dedica o primeiro à consolidação deste mundo, no outro descreve minuciosamente as plantações, a “originalidade atlântica”. Taxativamente, Carmagnani nos diz que o período entre 1650-1850 é o da afirmação atlântica como principal ator das conexões mundiais. O que era delineado anteriormente passa à concretude: não mais momentos fundamentais e de processos socioeconômicos formativos, mas de ação e projeção dos agentes históricos dentro e a partir deste mundo. Assim ocorre a mudança nos padrões de consumo dentro da Europa, com a oferta maciça de produtos extra-europeus, como café, tabaco, cacau e açúcar. Igualmente, a renda e acumulação de capital dos países europeus norte-atlânticos neste período atingiu índices de crescimento inimagináveis, levando-o, em referência à Eric Williams, a afirmar que o fluxo de capitais ingleses derivantes do comércio mundial, gerado no mundo atlântico e posteriormente na Ásia, permitiu em boa medida os investimentos à Revolução Industrial. Na África, o vínculo entre os mercadores locais e a ampla rede atlântica impulsiona a monetização das regiões costeiras. No Daomé, o equilíbrio entre sociedade, mercados locais e a administração monárquica nos ajuda a compreender por que o comércio atlântico em determinadas localidades africanas podia coexistir com as vicissitudes locais sem criar um mercado único, mas sim uma forte vinculação. No caso da Senegâmbia, o poder local foi ainda mais fortalecido por meio do comércio negreiro.
Tema que merece maior atenção, pois Carmagnani afirma que a expansão do trato transatlântico de escravos é conectada com as mudanças ocorridas não apenas na Europa, mas também na África, e com as estruturas produtivas americanas. Com isso, em um período de queda na oferta europeia de mão de obra, concomitante com a expansão produtiva nas Américas, o comércio de escravos, responsável por uma catástrofe demográfica na África, adquire amplas proporções e desencadeia um fenômeno de grandes dimensões. Diversas redes de comércio se aderiam aos portos de trato que leva ao incremento na demanda africana de tecidos, tabaco, e cachaça, ligando as economias ao ponto de, em determinados períodos do século XVIII, 40% dos produtos ingleses desembarcados na África serem usado para este comércio, enquanto no mundo português foi a sua quase totalidade, inclusive mudando profundamente seu circuito atlântico responsável por 41,8% do escravos desembarcados na América, quando o controle passa de mercadores não mais estabelecidos na Europa, mas sim no Rio de Janeiro e Bahia. Concomitante a essas redes de comércio, o incremento da produção de açúcar após a entrada em cena dos impérios do noroeste europeu aumenta a concorrência produtiva, levando áreas até então açucareiras a diversificarem suas produções.
Por fim, no que se refere ao trabalho e à produção, à parte as importantes considerações sobre as técnicas que favorecem o incremento produtivo, como o sistema de irrigação adotado em meados do século XVIII em Saint-Domingue e investimentos em vias de comunicação e meios de produção que permitiram o aumento da produtividade na Baía de Chesapeake, há um aspecto contraditório originado por uma questão semântica. Em uma passagem, o autor nos diz que escravos africanos, uma vez nas plantações, tinham um duro período de adaptação ao trabalho e de ambientação, aliado às parcas condições materiais, em sociedades que se formavam a partir de pressupostos raciais, dando vida a um sistema produtivo dividido entre um horizonte hierárquico e outro orientado ao lucro. Essa organização do trabalho apresentava tensões latentes, devido ao ritmo e ao controle produtivo. A formação de quilombos e comunidades maroons são exemplos de que esta adaptação não ocorria de fato. A busca de regulamentações e de controle por parte das sociedades coloniais nos leva a pontuar um fator que, em um leitor desatento, pode induzir a um erro de compreensão.
No último capítulo, dedicado às revoluções, a abordagem se baseia principalmente na recente produção historiográfica, dividindo-a em fases ascendente e descendente: a primeira compreende o período entre 1763 e 1815, e a segunda, até 1848. Analisemos as linhas gerais. Sobre a Revolução Americana, Carmagnani reitera que, diferentemente do que afirmam outros autores no cotejo dos eventos revolucionários nos Estados Unidos e na França, sugerindo certo disciplinamento e moderação na história norte-americana, ocorreram sim conflitos civis de monta e também se intensificou o massacre indígena. Ao mesmo tempo, parte significativa dos escravos participou diretamente no conflito, fato que influenciou aspirações de liberdade alhures, formando parte do processo que desembocou na grande rebelião escrava de 1791 na colônia francesa de Saint-Domingue (atual Haiti).
Na Revolução Francesa, se ressaltam suas idas e vindas bem como a leitura da situação política norte-americana. As relações com Saint-Domingue e o papel dos representantes caribenhos na abolição da escravidão em 1794 são cruciais pois sua inserção dentro da política revolucionária demonstra que, diferentemente da Jamaica, a contestação alcançou outra dimensão: não houve apenas uma influência advinda do processo francês, mas esta foi uma experiência que contribuiu ativamente na liberdade dos escravos e na superação, com a declaração de independência de 1804, do restabelecimento escravista decidido pelo governo imperial.
O êxito haitiano, contudo, é em parte responsável pelo caráter mais contido de diversas revoluções liberais posteriores. A moderação se deveu aos temores da classe proprietária e às revoltas eclodidas nas áreas escravistas atlânticas, sem abrir mão, contudo, dos ideais de cidadania e de governo representativo, como se vê na América ibérica, onde as classes dirigentes eram favoráveis à ampliação das reformas que ampliassem a participação política da elite colonial. Como exemplo, a independência brasileira deu luz à uma constituição liberal que centrou mais na organização do Estado que nos direitos dos cidadãos, reiterando o máximo possível a dinâmica da organização social advinda da ordem colonial. Portanto, Carmagnani é cético em afirmar que dessas revoluções nasce a democracia moderna: a representação não dependia da vontade direta da maioria dos cidadãos, e o peso dos interesses das elites foi preservado.
À guisa de conclusão, a obra faz um apanhado bibliográfico geral suficiente e amplo, apresentando os leitores a produção dos últimos 40 anos e instigando um campo de pesquisa promissor em âmbito italiano – os minúsculos erros de digitação na bibliografia não impedem a compreensão da citação, como A Costruçao do Orden. Em Connessioni Mondiali, Marcello Carmagnani, estudioso de projeção internacional, dá um passo importante em direção à “atlantização” da historiografia europeia em geral e italiana em particular.
Notas
1. Università degli studi di Torino. Turim – Itália.
2. Mestrando em Scienze Storiche na Università degli studi di Torino, Torino (TO), Italia. E-mail para contato: [email protected].
3. CARMAGNANI, Marcello. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018, p.5.
4. BAILYN, Bernard. Atlantic History: concepts and contours. Cambridge: Harvard University Press, 2005, pp.60-61.
5. CARMAGNANI, Marcello. Le Isole del Lusso: prodotti esotici, nuovi consumi e cultura economica europea, 1650-1800. Torino: Utet, 2010.
6. CARMAGNANI, Marcello. L’Altro Occidente: l’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio. Torino: Einaudi, 2003.
Referências
BAILYN, Bernard. Atlantic History: concepts and contours. Cambridge: Harvard University Press, 2005.
CARMAGNANI, Marcello. L’Altro Occidente: l’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio. Torino: Einaudi, 2003.
_____. Le Isole del Lusso: prodotti esotici, nuovi consumi e cultura economica europea, 1650-1800. Torino: Utet, 2010.
_____. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018.
MORELLI, Federica. Il Mondo Atlantico: una storia senza confini (secoli XV- -XIX). Roma: Carocci, 2013.
João Gabriel Covolan Silva1;2 – Università degli studi di Torino. Turim – Itália. Mestrando em Scienze Storiche na Università degli studi di Torino, Torino (TO), Italia. E-mail para contato: [email protected]
CARMAGNANI, Marcello. Le Connessioni Mondiali e l’Atlantico, 1450-1850. Torino: Einaudi, 2018. Resenha de: SILVA, João Gabriel Covolan. A afirmação do Atlântico na historiografia italiana. Almanack, Guarulhos, n.26, 2020. Acessar publicação original [DR]
The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884–1935): Faith – Workers and Race before Liberation Theology | Ricardo Cubas Ramacciotti
O livro “The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884-1935): Faith, Workers, and Race before Liberation Theology”, deRicardo D. Cubas Ramacciotti, publicado em 2018, chegou em boa hora. Abrange uma temática importante para o campo dos estudos sobre a história do catolicismo na América Latina na virada do século XIX para o XX.
Destacamos, ainda, a alta relevância que os temas relacionados à relação entre religião e política têm tido nas últimas décadas. Não se trata mais tão somente de conflitos localizados, na Irlanda, na Palestina, nos Balcãs, como o noticiário internacional tornara rotineiros no último quartel do século XX. Para compreender e analisar a conjuntura política internacional, nacional ou regional tornou-se indispensável nos despirmos das fantasias iluministas. As interpretações iluministas consideraram os espectros da irracionalidade produzidos por séculos de predominância da dominação religiosa e da sacralização do poder como superados, dado o avanço do desencantamento do mundo.
À relevância da obra que apresentamos aos leitores de Almanack, junte-se a qualidade de sua edição, publicado na coleção Religion in the Americas Series da prestigiada editora Brill, criada em 1683 em Lieden, nos Países Baixos, e que tem sede também em Boston, nos EUA [3]. Em português tem por título: “A política da religião e a ascensão do catolicismo social no Peru (1884-1935): Fé, Operários e Raça antes da Teologia da Libertação”. Tendo realizado estudos de mestrado e doutorado na Universidade de Cambridge na Inglaterra, o historiador havia feito sua graduação em História na Universidade Católica do Peru. Atualmente, é professor associado na Universidad de los Andes, em Santiago do Chile.
Ricardo Cubas optou pela metodologia e pelas técnicas de pesquisa da história das ideias (selecionando e organizando conteúdos temáticos). Estamos diante de um livro potente, que cobre uma lacuna para os estudos da história do pensamento católico na América Latina. E, diga-se de passagem, “Latina”, porque constituía a América que rezava em latim, na percepção dos maçons das lojas de Londres e da Filadélfia, tão atuantes que foram nos processos de independência dos países ao Sul do rio Grande (do México até a Patagônia). A nosso ver, mais importante do que destacar as disputas entre Inglaterra e França pelo espólio dos impérios ibéricos no século XIX, convém atentar para o olhar colonial dos agentes dos novos impérios, que levou os franceses a proclamarem suas afinidades com a latinidade para justificar suas ambições imperialistas. Entretanto, as associações entre a catolicidade da América Latina e o “atraso” e outras desqualificações intelectuais e morais se apresentaram no palco destas disputas e estão a produzir efeitos políticos e ideológicos que ecoam até o tempo presente. [4]
O livro aborda a problemática da relação entre religião e política no contexto mais amplo do conflito entre o catolicismo e os movimentos de secularização da sociedade peruana. Analisa o processo de renovação do mundo católico, face às transformações socioeconômicas da expansão global do capitalismo industrial a partir da década de 1860. A temporalidade enfocada vai de o fim da Guerra do Pacífico (1879-1884) até os anos imediatamente posteriores a crise mundial de 1929 e a queda do regime de Augusto B. Leguía em 1930. Neste período, a formação histórica peruana iniciou um processo de reconstrução nacional caracterizada pela aplicação de novos modelos de crescimento econômico e desenvolvimento urbano.
Entretanto, os processos históricos transnacionais não implicaram tão somente questões referidas à expansão econômica e modernização urbano-industrial. Em toda esta temporalidade abrangida pelo livro em tela, ocorreram disputas entre a reação conservadora (do fundamentalismo católico ultramontano) e o processo de modernização e reforma do catolicismo. Durante o papado de Pio IX (entre 1846-1878) ocorreu uma forte reação conservadora que promoveu a devoção ao Sagrado Coração e estimulou a revivificação [5] da teologia tomista, atualizando o neotomismo das reformas religiosas do século XVI (também conhecido como segunda escolástica). No papado seguinte, Leão XIII promulgou a encíclica Aeterni Patris que, mais do que qualquer outro documento, forneceu uma carta para a atualização histórica do tomismo – o sistema teológico medieval baseado no pensamento de Tomás de Aquino (século XIII) que fora atualizado no século XVI; e que se tornou oficial e tido como sistema filosófico e teológico da Igreja Católica na virada para o século XX. Deveria ser normativo não apenas no treinamento de padres nos seminários da igreja, mas também na educação dos leigos nas universidades. Por outro lado, introduziu na igreja de Roma, através da encíclica Rerum Novarum (de 1891), a reflexão sobre a “questão social”, que convocou os católicos a pensarem e agirem diante do avanço do movimento operário organizado internacionalmente (Associação Internacional dos Trabalhadores, de 1864, e II Internacional Socialista, de 1889, marcada pela reorganização após a forte repressão política aos movimentos operários depois da Comuna de Paris, de 1871). Estavam dadas as condições históricas de avanço e consolidação das duas posições políticas que dividem o campo político do catolicismo romano desde o último quartel do século XIX: o integrismo e o solidarismo.
Temos no livro de Ricardo Cubas um enquadramento da circulação de ideias entre Europa e América Latina, que foi tratada em sua complexidade e abrangência, envolvendo tanto um processo de expansão da internacionalização do capitalismo, quanto uma retomada vigorosa do catolicismo e do tomismo [6], que constitui também um processo inscrito no plano internacional. Afinal, “católico” é sinônimo de “universal”.
O livro de Cubas Ramacciotti analisa como ocorreram mudanças no catolicismo em termos globais e como manifestaram-se no caso peruano, onde a secularização do poder implicou um processo de transição de um governo confessional que proibia a culto público de credos não católicos ao reconhecimento legal de diferentes religiões, especialmente a partir de 1915, e, posterior à separação entre igreja e Estado. Também implicou uma influência eclesiástica decrescente sobre a legislação peruana, especialmente sobre temas relacionados à educação pública e à concepção católica de direito natural, família e casamento. O capítulo dedicado a estas questões está muito bem construído.[7] Ocorreram, ainda, a eliminação de tribunais corporativos especiais para o clero e o deslocamento gradual da Igreja de funções que passaram para o controle estatal, como o registro civil, o bem-estar social e a saúde pública. Outra característica, que não é o foco principal de estudo neste livro, mas está bem colocado no livro, foi a transformação das relações econômicas entre igreja e Estado, incluindo uma expropriação antecipada de algumas propriedades eclesiásticas e uma redução gradual – embora não a eliminação – de certos privilégios fiscais e subsídios públicos à Igreja.
Do ponto de vista sociopolítico, a secularização foi caracterizada pela influência de novos atores: liberais, maçons e positivistas, que, por razões muito diferentes, desafiaram a hegemonia cultural e social do catolicismo no Peru. Por outro lado, os protestantes visavam alcançar maior tolerância religiosa para expandir seus projetos pastorais e educacionais. Marxistas e apristas questionaram as estruturas econômicas e sociais do país como um todo e defendiam uma revolução radical. O livro aborda, portanto, um universo de três tópicos interconectados: a resposta eclesiástica à secularização da política, a revitalização interna da Igreja no Peru e a ascensão do catolicismo social. Paradoxalmente, essa situação permitiu à Igreja promover várias iniciativas pastorais, sociais, educacionais e políticas que, por sua vez, foram fundamentais para preservar e expandir a presença católica na sociedade peruana.
A interpretação de Ricardo Cubas é de que a aplicação do pensamento social católico no Peru teve que ser adaptada à realidade específica do país e apresentou respostas distintas daquelas implementadas na Europa. O livro analisa, assim, uma tendência dentro do catolicismo peruano algumas décadas antes do surgimento da Teologia da Libertação, que foi moldada por diferentes paradigmas teológicos e políticos. Tal situação avançou com uma agenda reformista, mas anti-revolucionária, que abordava a nova política social, incluindo os trabalhadores urbanos e as populações indígenas. Essa agenda englobava uma defesa dos direitos individuais e corporativos de trabalhadores e dos índios contra seus detratores e exploradores. Demandava também mudanças legais e institucionais para proteger esses direitos; iniciativas de bem-estar; uma reavaliação de culturas e línguas nativas; e esforços para integrar as populações indígenas.
Na organização dos capítulos, o livro inicia com informações históricas sobre o regalismo no mundo hispano-americano, de fins do século XVIII, que deu suporte à monarquia católica. Situou o Absolutismo Ilustrado e suas reformas até a independência política, provocando uma crise eclesial que ficou sujeita às pressões da Santa Aliança e tudo que implicou de afirmação da reação conservadora, na América Latina, tanto quanto na Europa.
As Parte II e III do livro são as melhores que o autor nos apresenta, seja pela pesquisa que aparece em sua plenitude na narrativa histórica empreendia pelo autor, seja pelas novidades que aporta. Nelas o livro se desprende da formatação de pesquisa de tese de doutorado que deixava transparecer até então. Os subtítulos são sugestivos: A revivificação católica (The Catholic Revival) [8] e Catolicismo Social (Social Catholicism) [9]. Nesta parte III, não podemos deixar de ressaltar o tratamento dado à criação dos círculos operários [10], uma estratégia global da igreja romana. Paralelamente à formação intelectual do laicato através de uma política educacional, o catolicismo social voltou-se para o operariado dos centros urbanos latino-americanos (no Peru, e no Brasil). [11]
Entre os pontos altos do livro está a forma como Ricardo Cubas pontua numa cadência bem distribuídas as forças políticas divergentes no interior do catolicismo romano. Analisa, por exemplo, o renascimento da educação católica, e aqui estamos traduzindo literalmente a expressão utilizada no original do texto de tese: “The rebirth of Catholic Education”.[12] No Brasil, a historiografia tem usado outra terminologia para referir-se à reforma católica do final do século XIX: recristianização pelo novo esforço de evangelização e repovoamento das diferentes regiões que compõem o país. A nosso ver, esta outra conceituação é mais adequada, pois, de fato, os episódios analisados envolvem a evangelização promovida durante o período colonial e a estratégia de conversão abrangente através dos colégios dos jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas da Europa (que atingiu também as áreas colonizadas nas Américas), no século XVIII, e com o avanço do processo de secularização produzido pela radicalidade da revolução burguesa na França, mas não só, seria demasiado e historicamente impróprio denominar a reforma religiosa de modernização do catolicismo em fins do século XIX de “renascimento da Educação católica”. No Peru, como também no Brasil, ocorreu, desde então, uma pregação religiosa de que o Estado não é capaz de manter escolas públicas de qualidade [13]. De fato, a estratégia tão bem descrita por Ricardo Cubas, para o caso do Peru, mas que também ocorre em outras formações históricas da América Latina, foi o “repovoamento da Igreja”, com a vinda de educadores missionários para criação de colégios confessionais católicos, com motivações claras na direção de formação do laicato urbano, letrado e moderno.[14]
Para o caso do Peru, Ricardo Cubas destaca a força política da Educação católica, tendo em vista uma atuação política diante da separação entre igreja e Estado. Muitos colégios foram criados (tal como no Brasil), e ressalta a importância da Congregação dos Sagrados Corações (de Jesus e de Maria), que chegou no Peru em 188815, sendo muito prestigiada pela elite católica peruana. A Congregação havia sido criada em Paris, na Rue Picpus, em 1800.
Não por acaso, a efervescência política e excelência da produção intelectual peruana neste período é notável, pelas possibilidades de elaboração de uma reflexão marxista original e de peso teórico na pena de José Carlos Mariátegui (em seu livro, “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”, de 1924); tanto quanto a criação de condições históricas para a elaboração mais acabada da Teologia da Libertação de Gustavo Gutiérrez, monge dominicano de ascendência quéchua. Tanto o revolucionário, quanto o teólogo estudaram na mais antiga universidade das Américas, a Universidad Nacional de San Marcos. O livro mais conhecido de Gutiérrez, “A Teologia da Libertação: História, Política e Salvação”, de 1971, responde ao movimento mais amplo emergido no Segundo Pós-Guerra (décadas de 1950-60) que resultou na convocação das conferências episcopais latino-americanas16, cujos primeiros resultados influíram diretamente na inclusão da pauta de justiça social e opção preferencial pelos pobres.
Notas
3. CUBAS RAMACCIOTTI, Ricardo D. The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884–1935): Faith, Workers, and Race before Liberation Theology, Lieden/ Boston: Brill, 2018, 311 p.
4. NEDER, Gizlene; CERQUEIRA FILHO, Gisálio. Sobre o Conceito de América Latina: Uma Proposta para Repercutir nos Festejos do Bicentenário. Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales, v. XII, p. 1-7, 2010.
5. Empregamos aqui a expressão “revivificação” retirada do livro de Carl Schorske: SHCORSKE, Carl. A revivificação medieval e seu conteúdo moderno: Coleridge, Pugin e Disraeli, In Pensando com a História. Indagações na Passagens para o Modernismo, São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 88-107.
6. Temos referido a este movimento de revigoramento do tomismo que avança pelo século XX, como “terceira escolástica”. Nem tanto pela “revivificação” neotomista do medievalismo da reação conservadora e do conservadorismo romântico, mas, sobretudo, pela reforma religiosa de modernização e inclusão da “questão social” no pensamento católico, em sua incidência sobre o campo jurídico. NEDER, Gizlene. Duas Margens. Ideias Jurídicas e Sentimentos Políticos na Passagem à Modernidade no Brasil e em Portugal, Rio de Janeiro: Revan, 2011.
7. Parte I, capítulo 2: The Secularisation Process during the Aristocratic Republic (1884–1919), p. 49-68. O tema é importantíssimo. O debate sobre o casamento civil no Brasil arrastou-se por longos anos onde a confrontação entre o catolicismo ultramontano (que concebia o casamento como um sacramento, indissolúvel) e o catolicismo ilustrado (defensor da modernização do direito de família) criou impasse que resultou no uso dos dispositivos legais das Ordenações do Reino (livro IV, Ordenações Filipinas de 1603) por quase um século depois da independência do país de Portugal (1822) e 27 anos depois da república proclamada. NEDER, Gizlene; CERQUEIRA FILHO, Gisálio. Ideias Jurídicas e Autoridade na Família, Rio de Janeiro: Revan, 2007.
8. CUBAS RAMACCIOTTI, Ricardo D. The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884–1935): Faith, Workers, and Race before Liberation Theology, Parte II, p. 99-168.
9. Ibidem, Parte III, p. 169-200.
10. Ibidem, p. 184.
11. Os círculos operários no Brasil foram pesquisados e interpretados no trabalho pioneiro de Jessie Jane de Sousa Vieira. SOUSA, Jessie Jane Vieira de. Círculos Operários- a Igreja Católica e o mundo do trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: EdUFRJ, 2002.
12. Ibidem, p. 144-145.
13. Ibidem, p. 145.
14. GOMES, Francisco José. Le projet de néo-chrétienté dans le diocèse de Rio de Janeiro de 1869 à 1915. Tese de Doutorado. Toulouse: UTM, 1991. GOMES, Francisco José Silva. De súdito a cidadão: os católicos no Império e na República,.In: MARTINS, Ismênia de Lima; IOKOI, Zilda Márcia Grícoli e SÁ, Rodrigo Patto de. (Orgs.). História e Cidadania. São Paulo: Humanitas Publicações/FFLCH-USP, ANPUH, 1998. pp. 315-326.
15. No Brasil, a Congregação dos Sagrados Corações chegou em 1911.
16. Rio de Janeiro (1955), seguida da de Medellín, Colômbia (1968) e Puebla, no México (1979), as mais importantes.
Referências
CUBAS RAMACCIOTTI, Ricardo D. The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884-1935): Faith, Workers, and Race before Liberation Theology, Lieden/ Boston: Brill, 2018, 311 p.
GOMES, Francisco Jose Silva. De sudito a cidadao: os catolicos no Imperio e na Republica, In: MARTINS, Ismenia de Lima; IOKOI, Zilda Marcia Gricoli e SA, Rodrigo Patto de. (Orgs.). Historia e Cidadania. Sao Paulo: Humanitas Publicacoes/FFLCH-USP, ANPUH, 1998. pp. 315-326.
GOMES, Francisco Jose. Le projet de neo-chretiente dans le diocese de Rio de Janeiro de 1869 a 1915. Tese de Doutorado. Toulouse: UTM, 1991.
NEDER, Gizlene. Duas Margens. Ideias Juridicas e Sentimentos Politicos na Passagem a Modernidade no Brasil e em Portugal, Rio de Janeiro: Revan, 2011.
NEDER, Gizlene; CERQUEIRA FILHO FILHO, Gisalio. Ideias Juridicas e Autoridade na Familia, Rio de Janeiro: Revan, 2007.
NEDER, Gizlene; CERQUEIRA FILHO, Gisalio. Sobre o Conceito de America Latina: Uma Proposta para Repercutir nos Festejos do Bicentenário. Revista Pilquen. Seccion Ciencias Sociales, v. XII, p. 1-7, 2010.
SHCORSKE, Carl. A revivificacao medieval e seu conteudo moderno: Coleridge, Pugin e Disraeli, In Pensando com a Historia. Indagacoes na Passagens para o Modernismo, Sao Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 88-107.
SOUSA, Jessie Jane Vieira de. Circulos Operarios- a Igreja Catolica e o mundo do trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: EdUFRJ, 2002
Gizlene Neder1;2 – Universidade Federal Fluminense (UFF). Niterói – Rio de Janeiro – Brasil. Professora Titular de História da Universidade Federal Fluminense. Pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). E-mail: [email protected]
CUBAS RAMACCIOTTI, Ricardo D. The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884–1935): Faith, Workers, and Race before Liberation Theology. Lieden/ Boston: Brill, 2018. Resenha de: NEDER, Gizlene. Secularização e reforma católica no Peru na virada para o século XX. Almanack, Guarulhos, n.26, 2020. Acessar publicação original [DR]
El Trienio Liberal. Revolución e independencia (1820-1823)
O bicentenário do triênio liberal (1820-1823-2020-2023) espanhol ensejou comemorações e lançamentos menores do que o impacto dos eventos de duzentos anos atrás. Se ninguém mais afirma, como Menéndez Pelayo, que foi um tempo “patológico” na história espanhola [3], a atenção concedida ainda é pequena, principalmente se comparada aos conflitos atlânticos da década anterior.
A “Espanha de Fernando VII” voltou a ser estudada com afinco ao menos desde a célebre obra de Artola, [4] mas o triênio liberal ainda tinha como seu livro mais conhecido um opúsculo do começo da década de 80, a síntese de Alberto Gil Novales [5]. Desde então, houve uma renovação historiográfica gigantesca, principalmente na história política. Ganharam maior fôlego os estudos sobre territórios específicos, sobre a imprensa, novas sociabilidades e, principalmente, aqueles que “desnacionalizavam” os episódios [6].
Dentro dessa perspectiva “internacionalista”, o triênio liberal tem dois atrativos únicos. O primeiro é seu inegável impacto europeu, pois o levantamiento de Riego foi feito numa Europa que, no começo de 1820, era dominada pela Santa Aliança e pelas monarquias restauradas. Ao impulso espanhol, houve também revoluções importantes em Portugal e nos territórios italianos. O segundo é sua faceta atlântica. Se no começo da década de 20 se concretizaram as independências na América, também foi naqueles anos que mais uma vez se colocou em jogo a possibilidade de uma nação atlântica, experiência fundamental tanto para o mundo hispânico quanto para oportuguês [7]:
La revolución española de 1820 tuvo desde el inicio una repercusión que trascendía al espacio peninsular. En primer lugar, porque habiendo estallado en el seno de las tropas reunidas en Andalucía para combatir la insurrección de los territorios de ultramar, su triunfo supuso la paralización de la política de expediciones militares que pretendía devolver los territorios de América a la obediencia de la monarquía española. (…) Y, en segundo lugar, porque el triunfo del movimiento en España colocó en el primer plano de la actualidad el valor de la Constitución de 1812 como instrumento para transformar las monarquías en regímenes liberales. (p. 155)
É justamente no esforço de desnacionalizar o período que a nova obra de Pedro Rújula e Manuel Chust faz sua maior contribuição ao condensar em poucas páginas um apanhado das últimas contribuições historiográficas dos dois lados do Atlântico. A envergadura espacial da obra também resulta, em parte, das trajetórias individuais dos dois autores. Ao passo que Chust tem enveredado pelo tema americano, Rújula é especialista nas questões aragonesas entre o triênio liberal e as guerras carlistas [8].
O resultado é um livro único que atualiza o objetivo de Gil Novales nos anos 80, o de fazer uma obra de referência para os estudos do triênio liberal, agora juntando a questão americana, antes ausente. De fato, não apenas adiciona o tema das independências, mas o toma como um dos mais importantes para definir os rumos do Triênio.
Há um esforço de distanciamento dos antigos preconceitos acerca do Triênio, de ter sido um intervalo liberal de pouca profundidade, com baixa popularidade entre as classes populares e tomado pelo caos das facções. Para isso, enfatiza principalmente a experiência política que significou, extrapolando o caráter parlamentar e difundindo novas culturas políticas tanto entre os liberais – exaltados e moderados [9] – como entre os absolutistas:
el marco constitucional establecido por la revolución de 1820 permitió la aparición de una esfera pública donde los ciudadanos comenzaron a participar según sus posibilidades y sus intereses. El Gobierno moderado hubiera deseado que la política se hiciera en el seno de las instituciones, pero existían otros actores que habían experimentado la posibilidad de actuar en el terreno político y que no estaban dispuestos a renunciar a potenciales parcelas de poder. El debate fue muy intenso. (p. 46)
Como é negada a tese reacionária de que a Constituição de 12 e o primeiro liberalismo eram ideias importadas, exógenas à Espanha, resta aos autores pincelar respostas a questões inevitáveis para o triênio. Por que fracassou? Qual a relação entre os liberais e as independências na América?
A resposta que os autores oferecem para explicar o “fracasso liberal” passa pela atuação do rei Fernando VII e pela reação estrangeira. A tentativa liberal de reformar a monarquia, desde as propostas moderadas de instituir uma segunda câmara, tendo os exemplos ingleses e franceses como mote, até as mais revolucionárias, com as Sociedades Patrióticas e a diminuição do poder da nobreza e da Igreja, criava uma ameaça institucional permanente às monarquias mais absolutistas. Daí que foi justamente a Rússia a dar maior apoio a Fernando VII para abolir qualquer tipo de Constituição. Ao mesmo tempo, a invasão francesa de 1823 servia para reposicionar a monarquia bourbônica na balança internacional de poder, enfraquecida como estava após as derrotas napoleônicas.
É perceptível que a resposta de Chust e Rújula nega a própria ideia de “fracasso liberal”. O triênio acabou não por seus erros internos, mas por um verdadeiro golpe reacionário europeu. A inversão procedida pelos autores também é uma negação da historiografia que visava mais as questões socioeconômicas da época, muitas vezes crítica à ineficiência prática das medidas liberais. [10]
Quanto à questão americana, os autores também se alinham com a nova história política, principalmente na negação das nacionalidades pré-existentes [11]. Logo, não se poderia explicar as independências como luta da nação mexicana para se libertar da Espanha. Com a tomada do poder pelos liberais, os autores também negam que houvesse uma arbitrariedade por parte da Espanha em relação aos americanos, visto que a igualdade estava concedida pela Constituição, que transformava o Império num gigantesco Estado-Nação. Essa tese igualitária tem mais oponentes historiográficos, como Portillo Váldes.[12]
Recusando as explicações tradicionais, os autores mais uma vez se voltam às questões políticas, pensando principalmente o caso novohispano, o de maior repercussão ao longo do Triênio e também aquele sobre o qual Manuel Chust tem mais familiaridade.[13] Com base na análise do Plano de Iguala [14], a conclusão do livro é que um dos principais motivos para a independência foi o caráter revolucionário da Constituição de Cádis, que tirava poder da elite Criolla para distribuir a outros setores sociais, com destaque para o voto indígena. Sendo assim, a independência ganhava contornos moderados e até reacionários, em perspectiva já ensaiada também para o caso brasileiro:
Para la insurgencia fue mucho más difícil enfrentarse políticamente al liberalismo doceañista que al monarquismo absolutista, dado que ahora podían participar de los mismos presupuestos ideológicos, pero no políticos ni nacionales. Y además estaban los intereses particulares de las diversas fracciones del criollismo, cada vez más proclives a la independencia. No porque esta solo estaba ganando por las armas, sino porque su creciente moderantismo le podía asegurar un control social y político que el liberalismo doceañista podía poner en duda al ser más progresista en bastantes medidas políticas y sociales como, por ejemplo, dar voto a los indígenas universalmente (p. 112).
Livro de entrada nos estudos do período e de síntese de uma nova perspectiva política, El Trienio Liberal é uma defesa do período do liberalismo espanhol do início do século XIX. É notável a simpatia dos autores com os protagonistas estudados, como se escrever a história deles fosse também escrever a defesa de sua luta. Poucas épocas hispânicas foram vividas tão passionalmente quanto aqueles anos, daí que esse resgate histórico não deixa de ser um tributo àqueles sonhos e ilusões.
Notas
3MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino. Historia de los heterodoxos españoles. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003, p. 1362. Vide DURÁN LÓPEZ, Fernando. “Menéndez Pelayo contra Blanco White, o la heterodoxia como patología.” TEJA, Ramón; ACERBI, Silvia. (org.). “Historia de los heterodoxos Españoles”. Estudios. Santander: PubliCan, Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2012.
4. ARTOLA, Miguel. La España de Fernando VII. Madri: Espasa, 1999 [1968].
5. GIL NOVALES, Alberto. El trienio liberal. Madri: Siglo XXI, 1980.
6. ROCA VERNET, Jordi. Política, liberalisme i revolució. Barcelona, 1820-1823. 840 f. Tese (Doutorado em História Moderna e Contemporânea). Universitat autònoma de Barcelona, Barcelona, 2007; El argonauta español, nº 17, 2020. Exemplar dedicado a “El trienio liberal en la prensa contemporánea (1820-1823); RUIZ JIMÉNEZ, Marta. El liberalismo exaltado. La confederación de comuneros españoles durante el trienio liberal. Madri: Fundamentos, 2007. LA PARRA, Emílio. RAMÍREZ ALEDÓN, Germán (coord.) El primer liberalismo: España y Europa, una perspectiva comparada. Valencia: Colección literaria, 2003.
7. BERBEL, Márcia Regina. “A constituição espanhola no mundo luso-americano (1820-1823). Revista de Indias, vol. LXVIII, nº 242, 2008.
8. HUST, Manuel. La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz. Valencia: Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia. Fundación Instituto Historia Social/ Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1999; Pedro Victor Rújula. Constitución o muerte: el Trienio Liberal y los levantamientos realistas en Aragón (1820-1823). Zaragoza: Edizións de l’Astral, 2000.
9. pesar dos nomes já consagrados, os estudos específicos sobre cada um desses “liberalismos”, inclusive para apontar seus muitos pontos de fricção internos, são bastante recentes. Vide MORANGE, Claude. En los Orígenes del moderantismo decimonónico. El Censor (1820-1822): promotores, doctrina e índice. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2019; e BUSTOS, Sophie. La nación no es patrimonio de nadie. El liberalismo exaltado en el Madrid del trienio liberal (1820-1823): Cortes, Gobierno y Opinión Pública. Tese (Doutorado em História). Universidad Autónoma de Madrid, Madri, 2017.
10. A crítica vinha desde os próprios liberais exilados, passando depois por Marx e sua famosa análise: “en la época de las Cortes, España se encontró dividida en dos partes. En la Isla de León, ideas sin acción; en el resto de España, acción sin ideas”. New York Daily Tribune, 27/10/1854. Disponível em MARX, Karl; ENGELES, Friederich. La Revolución española. Artículos y crónicas, 1854-1873. Madri: AKAL, 2017. A crítica foi atualizada para os termos mais técnicos da historiografia na influente visão de FONTANA, Josep. La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1823. Barcelona: Crítica, 1979.
11. As referências para o assunto, por vezes em vieses muito diferentes, são GUERRA, François-Xavier. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Cidade do México: Fondo de Cultura Económica e Fundación MAPFRE, 1992; e RODRÍGUEZ, Jaime. The independence of Spanish America. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
12. PORTILLO VÁLDES, José María. Crisis Atlántica – Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía. Madri: Marcial Pons Historia, 2006.
13. Embora Chust tenha organizado livros sobre a independência em toda a América, nos artigos costuma trabalhar mais com a do México, como emCHUST, Manuel; SERRANO, José Antonio. “El ocaso de la monarquía: conflictos, guerra y liberalismo en Nueva España. Veracruz, 1750-1820”. Ayer, nº 74, 2009.
14. Sobre o Plan de Iguala, em abordagem também bi-hemisférica, vide FRASQUET, Ivan. Las caras del águila. Del liberalismo gaditano a la república federal mexicana. Castellón: Universitat Jaume I – Instituto Mora – Universidad Autónoma de México – Universidad Veracruzana, 2008.
Referências
ARTOLA, Miguel. La Espana de Fernando VII. Madri: Espasa, 1999.
BERBEL, Marcia Regina. “A constituicao espanhola no mundo luso-americano (1820-1823). Revista de Indias, vol. LXVIII, nº 242, 2008.
BUSTOS, Sophie. La nacion no es patrimonio de nadie. El liberalismo exaltado en el Madrid del trienio liberal (1820-1823): Cortes, Gobierno y Opinion Publica. Tese (Doutorado em Historia). Universidad Autonoma de Madrid, Madri, 2017.
FONTANA, Josep. La crisis del Antiguo Regimen, 1808-1823. Barcelona: Critica, 1979.
GIL NOVALES, Alberto. El trienio liberal. Madri: Siglo XXI, 1980.
GUERRA, Francois-Xavier. Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispanicas. Cidade do Mexico: Fondo de Cultura Economica e Fundacion MAPFRE, 1992;
LA PARRA, Emílio RAMIREZ, ALEDON, German(coord.) El primer liberalismo: Espana y Europa, una perspectiva comparada. Valencia: Coleccion literaria, 2003.
MORANGE, Claude. En los Origenes del moderantismo decimononico. El Censor (1820-1822): promotores, doctrina e indice. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2019.
PORTILLO VALDES, Jose Maria. Crisis Atlantica – Autonomia e independencia en la crisis de la monarquía. Madri: Marcial Pons Historia, 2006.
ROCA VERNET, Jordi. Política, liberalisme i revolucio. Barcelona, 1820-1823. 840 f. Tese (Doutorado em Historia Moderna e Contemporanea). Universitat autonoma de Barcelona, Barcelona, 2007.
RODRIGUEZ, Jaime. The independence of Spanish America. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
RUIZ JIMENEZ, Marta. El liberalismo exaltado. La confederacion de comuneros espanoles durante el trienio liberal. Madri: Fundamentos, 2007.
Lucas Soares Chnaiderman1;2 – Possui graduação em História – Universidade de São Paulo, mestrado em história pela mesma universidade (2015) e atualmente cursa o doutorado. Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
RÚJULA, Pedro; CHUST, Manuel. El Trienio Liberal. Revolución e independencia (1820-1823). Madri: Catarata, 2020. Resenha de: CHNAIDERMAN, Lucas Soares. Em defesa da experiência liberal. Almanack, Guarulhos, n.25, 2020. Acessar publicação original [DR]
Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930) | Ana Beatriz D. Barel e Wilma P. Costa
O livro Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930), organizado pelas historiadoras Ana Beatriz Demarchi Barel e Wilma Peres Costa, é uma coletânea de trabalhos que pesquisadores de diferentes instituições do país apresentaram durante o “Seminário Internacional de Estado, cultura e elites (1822-1930)”, na Fundação Casa de Rui Barbosa, em 2014. A obra tem como recorte cronológico o chamado “longo século XIX” no Brasil, que, segundo as próprias organizadoras, foi marcado pela “intensidade das transformações que atravessaram a experiência humana no Velho e no Novo Mundo” (p. 7).
Através da análise de objetos variados e trajetórias individuais, o livro apresenta as disputas travadas no interior do processo de definição da identidade nacional brasileira, um itinerário complexo marcado pela construção do Estado e pela consolidação da nação. Para a elite letrada brasileira, o desafio consistia em estabelecer símbolos que fossem importantes para o público interno letrado do país e para os leitores do velho continente. Seu objetivo era integrar o Brasil no sistema cultural das nações europeias, ao mesmo tempo que era necessário distingui-lo das demais nações do Novo Mundo.
Os projetos nacionais para o Brasil, a fundação de instituições culturais, a composição da sociedade letrada, a relação entre Estado e cultura, tudo isso está presente ao longo dos doze capítulos que compõem as duas partes da obra. Os da primeira parte abordam especialmente a propagação da cultura escrita no país, destacando-se algumas figuras importantes que conduziram os debates sobre a nação através da produção de obras, organizações literárias e disputas dentro das próprias instituições do país. Na segunda parte do livro, observamos a importância e o impacto da difusão da imagem, em particular dos retratos e da fotografia nas décadas que compreendem a segunda metade do século oitocentista até o início da república brasileira. Em ambas as partes, as disputas pela construção de narrativas para o país, bem como a relação tensa entre cultura e poder, constituem o eixo de análise dos capítulos.
O primeiro capítulo da obra, “Espaço público, homens de letras e revolução da leitura”, do historiador Roger Chartier, fornece a chave para compreender as tensões entre o Estado, as elites e a constituição da cultura nacional exploradas em diferentes momentos do livro. Chartier desenvolve aí a genealogia de três noções, a de espaço público, a de circulação de impressos e a de constituição do conceito de intelectual. Desenvolvidas durante o movimento iluminista, essas noções apresentaram variações no desenrolar do mundo contemporâneo e influíram decisivamente nas nações a surgir nas Américas, entre elas o Brasil.
A construção de um imaginário para a nação a partir do olhar estrangeiro do viajante, tema clássico mas sempre atual nas discussões sobre o Novo Mundo, é apresentado no segundo capítulo do livro, de Luiz Barros Montez Barros. O texto analisa os objetivos da produção dos relatos do alemão Johann Natterer a respeito de sua viagem ao Brasil entre os anos de 1817 a 1835. Como sugere Barros, conhecer novas terras possibilitava a elaboração reflexiva sobre a cultura dos países de origem dos próprios viajantes. Essa produção, além de prezar pela objetividade científica das informações, resultava em avaliações eurocêntricas que ressaltavam a “afirmação da supremacia do modelo civilizacional e técnico” dos países capitalistas emergentes (p. 49).
O estudo de Wilma Peres Costa sobre a figura de um dos intelectuais mais importantes do século XIX brasileiro, Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899), também explora a temática da construção da identidade nacional brasileira em sua complexa relação com o Velho Mundo. A autora observa a complexidade de um personagem que pertencia à linhagem francesa e vivenciava o contexto desafiador de criação de um campo literário e artístico no Brasil oitocentista. Através da análise do processo de mudança do próprio nome do literato, aponta que Taunay, em oposição à maioria dos intelectuais brasileiros, buscava se distanciar das referências francesas e se aproximar das de Portugal e do nativismo brasileiro. Assumindo a condição de uma “dupla cidadania intelectual”, o letrado revelava em suas obras, com destaque para A Floresta da Tijuca, o projeto de construção de uma memória e história vinculadas ao poder do Imperador e da monarquia no Brasil.
O esforço pela construção do Estado e pela busca da estabilidade política monárquica no Brasil também se materializou na fundação das instituições literárias na primeira metade do século XIX, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), criado em 1838. Naquele momento, a elite letrada do Brasil se inspirava nas instituições francesas – o Instituto Histórico de Paris havia sido fundado alguns anos antes (1834) e contava com a presença de representantes do Império brasileiro em suas sessões iniciais. A preocupação do homem do século XIX, dos dois lados do Atlântico, era com o registro histórico para a composição e conformação da memória nacional.
Dois capítulos do livro se ocupam dos temas relacionados à composição social dos membros do IHGB e às escolhas de temas nas publicações de sua Revista, na primeira metade do século XIX. A historiadora Lucia Maria Paschoal Guimarães analisa como a seleção de acontecimentos históricos e suas respectivas narrativas, junto à composição social dos membros do IHGB desde a sua fundação até o ano de 1850, apontam para o esforço considerável de construir um passado nacional legitimador do Estado monárquico. A defesa da monarquia e da figura do Imperador era necessária diante das conturbações e pressões vividas naquele momento. “O passado acabaria então por converter-se em ferramenta para legitimar as ações do presente.” (p. 62).
Tamanho esforço também poderia ser observado na busca pelo estabelecimento dos cânones literários brasileiros na Revista do IHGB, dado que os escritores nacionais a figurar entre as referências literárias também foram definidos no interior do próprio Instituto. Conforme nos indica Ana Beatriz Demarchi Barel, a seção da revista intitulada “Biographia dos Brasileiros Distintos por Letras, Armas, Virtudes, &” tinha a finalidade de apresentar ao público os nomes de personalidades nacionais (escritores, advogados, diplomatas, navegadores, inquisidores) dignas de elogios, e dentre elas é possível observar a indicação de quais nomes deveriam pertencer ao panteão dos escritores da literatura nacional, em diálogo com as referências europeias. Assim, “a RIHGB conforma-se como instrumento de propaganda da política alavancada pelas elites e do poder de um monarca ilustrado nos trópicos” (p. 83).
O historiador Avelino Romero Pereira abordou a música no Império como um campo de prospecção e definição de um projeto cultural nacional. Propondo refletir sobre suas características “aproximando-a da literatura e das artes visuais” (p. 100), o autor destaca que, a exemplo dos gêneros literários, a produção, a circulação e o consumo musical estiveram permeados de tensões. O mecenato exercido pelo imperador nessa área não reduziu a música a um caráter meramente oficialista do Império, como se os artistas fossem “marionetes a serviço do poder pessoal do Imperador e da construção de um projeto exótico de Império nos trópicos”. (p. 93) Araújo Porto Alegre seria um dos representantes da multiplicidade de ideias contrapostas à visão de unicidade nacional.
As trajetórias individuais iluminam as contradições, oposições e alianças estabelecidas no processo de formação de campos discursivos culturais no Brasil, como se pode ver no capítulo de Letícia Squeff. A autora nos apresenta o caso do pintor Estevão Silva, negro, que se indignou ao receber a medalha de prata como artista das mãos do Imperador, em 1879, Academia Imperial de Belas Artes. Squeff aponta a tensão que esse episódio gerou, intensificando, inclusive, o momento de crise vivido dentro da instituição e, também, acentuando ainda mais o descrédito público da figura do Imperador. “Foi percebido como atitude potencialmente revolucionária, numa monarquia que já vinha sendo sacudida por debates e discursos republicanos” (p. 294).
Ricardo Souza de Carvalho também traz à tona uma importante trajetória individual ao analisar a atuação do abolicionista e monarquista Joaquim Nabuco em duas instituições de peso, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Academia Brasileira de Letras. Como dito, o IHGB se vinculou, durante todo o período do Império, à figura do Imperador e à Monarquia, enquanto a Academia Brasileira de Letras, fundada na última década do século XIX, marcou as necessidades relacionadas aos dilemas da construção do início da República no Brasil. Carvalho estuda a presença de Nabuco nessas instituições para mapear as relações tensas entre instituições culturais e política no fim do Império.
A relevância social das imagens na segunda metade do século XIX aparece no capítulo de Heloisa Barbuy, dedicado à organização de uma galeria de retratos na Faculdade de Direito de São Paulo no século XIX. O retrato ganhava ares de prestígio no momento em que a fotografia ainda não era tão glorificada. Retratar significava eternizar uma memória, dando início a uma “cultura de exposições” na segunda metade do século XIX que se ligava à construção de narrativas nacionais e, também, ao estabelecimento de personalidades como figuras de referência. Barbuy indica a relação entre a formação do Estado Nacional, em particular o seu sistema jurídico, e a escolha de determinadas trajetórias de “homens públicos-estadistas e governantes” para figurar uma sala de retratos. “Homenagear alguém com o seu retrato em pintura, em telas de grandes dimensões, era a expressão máxima da admiração reverencial que se desejava marcar.” (p. 223).
O capítulo de Ana Luiza Martins aborda a importância da iconografia para demarcar a preponderância do café na economia imperial brasileira. A ideia de que o “café dava para tudo” é problematizada através da análise de inventários e das obras literárias sobre os cafeicultores do Vale do Paraíba. As dificuldades encontradas com o declínio do tráfico negreiro e as oscilações do mercado ficaram, durante muito tempo, submersas na imagem do poder que a economia cafeeira proporcionava, imagem construída em grande medida pela iconografia. Os casarões dos proprietários das fazendas de café estavam retratados em telas pintadas por artistas de renomes da corte, o que representava o “poderio econômico e político” dos cafeicultores mesmo no momento em que a produção da região já não estava em seu auge.
Analisando a arquitetura do Vale do Paraíba, Carlos Lemos aponta para as transformações da cultura material nas residências da região. Lemos salienta que o material para construção das residências não variava e que o Estado não teve influência na constituição de suas características. As questões estéticas das casas, ao longo do Paraíba no século XIX, não eram primordiais. O tamanho das casas era o fator que diferenciava a classe social e econômica e é nesse aspecto que podemos perceber o esforço de diferenciação social que ocorreu através da monumentalidade dos casarões dos cafeicultores. “O que interessava aos ricaços era unicamente o tamanho de suas casas de dezenas de janelas” (p. 168).
O simbolismo de poder existente nas construções grandiosas, nas imagens e em suas exposições também ganharam aspectos novos com o advento e difusão da fotografia no Brasil. A chegada de fotógrafos europeus, a partir da segunda metade do século, possibilitou que aspectos da nossa sociedade fossem retratados com base em uma nova materialidade. Ao analisar a trajetória do fotógrafo alemão judeu Alberto Henschel, Cláudia Heynemann observa que, no momento em que o retrato a óleo ainda se restringia a uma minoria economicamente favorecida, a fotografia, através do desenvolvimento do formato carte de visite, possibilitou que outros setores da sociedade também tivessem acesso ao consumo de suas próprias imagens. O álbum privado, que trazia imagens de “famílias brasileiras, abastadas, das camadas médias em ascensão, de libertos, de escravizados, gente de todas as origens”, se tornou uma febre social (p. 258). A respeito de Alberto Henschel, a autora ainda destaca a diversidade de seus trabalhos, inclusive inúmeras fotografias que retratava os negros brasileiros, marcando um novo momento da história visual do Império e da sociedade escravista.
A diversidade de abordagens apresentada nos capítulos que compõe Cultura e poder entre o Império e a República nos permite compreender, com mais acuidade, o panorama múltiplo das relações entre as elites brasileiras e o Estado Nacional ao longo de mais de cem anos. A leitura de cada capítulo dá densidade a esse relevante tema de investigação. À medida que nos detemos em um determinado personagem ou em algum contexto mais específico, nos aproximamos das mais variadas formas de produção e circulação de ideias que fizeram parte da construção do imaginário nacional de um país monárquico cercado de repúblicas e profundamente marcado pela herança da escravidão.
Referência
BAREL, Ana Beatriz Demarchi; COSTA, Wilma Peres. (Orgs). Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930). São Paulo: Alameda, 2018.
Lilian M. Silva – Universidade Federal de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
BAREL, Ana Beatriz Demarchi; COSTA, Wilma Peres. (Orgs). Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930). São Paulo: Alameda, 2018. Resenha de: SILVA, Lilian M. Relações de poder na cultura escrita e visual no “longo século XIX” brasileiro. Almanack, Guarulhos, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
O urucungo de Cassange: um ensaio sobre o arco musical no espaço atlântico (Angola e Brasil) | Josivaldo Pires de Oliveira
Ao escrever as palavras urucungo e Cassange no programa de edição de textos, o corretor ortográfico as sinaliza como grafadas de forma errada. O mesmo não ocorre quando escrevemos violoncelo ou Paris usando o mesmo editor de textos. O erro deve estar justamente aí, na programação dos computadores e na nossa formatação como historiadores. Palavras de origem africana soam estranhas no português no Brasil, no português dos intelectuais do Brasil, mas a outros estrangeirismos estamos acostumados e os naturalizamos.
O professor da Universidade do Estado da Bahia e mestre de capoeira Josivaldo Pires de Oliveira escreveu um ensaio intitulado O urucungo de Cassange. O livro decorre justamente de sua experiência como intelectual acadêmico e profundo conhecedor do corpo, da musicalidade e dos instrumentos como fontes para a historiografia e como objetos do interesse do historiador. Josivaldo tem clareza sobre como desempenhar uma das funções que poucas vezes cumprimos a contento neste ofício: dialogar com públicos mais amplos e oferecer materiais de qualidade para uso nas escolas por estudantes e professores atuantes na rede de ensino básico. Quando endereçamos publicações a esses leitores, nem por isso o rigor deve ser deixado de lado – e, neste caso, o rigor foi conjugado a uma linguagem apropriada. Esse é o primeiro ponto do livro que quero destacar.
Urucungo ou barimbau é o arco musical usado na capoeira. Josivaldo encontra evidências do uso desse instrumento antes da sua popularização, graças às rodas de capoeira. O último quartel do século XIX e a primeira metade do século XX são os marcos temporais da obra e o Cassange do título não é exatamente a região da Angola atual de onde vieram milhares de escravizados pelo Atlântico até o Brasil, mas sim um tocador de berimbau e personagem do folhetim oitocentista Ataliba, o vaqueiro, do diplomata e escritor piauiense Francisco Gil Castelo Branco. O formato em arco e a referência à África e ao Brasil funcionam como metáforas da diáspora africana em suas múltiplas expressões.
O ensaio divide-se em três capítulos. No primeiro, intitulado “Cassange e seu arco musical”, a epígrafe recupera a descrição da personagem do folhetim (mais tarde republicado em livro) e, em meio a uma fisionomia eivada dos preconceitos comuns no século XIX, informa-se que Cassange, homem nessa altura já encanecido, “fora importado da África ainda moleque e conservava o nome de sua terra natal”. A terra e o homem, unidos em um mesmo nome, já nos alertam para a tentativa de transformar seres humanos em simples elementos da natureza. Essa era uma leitura de sabor oitocentista que incluía, entre outras coisas, nomear os africanos escravizados conforme a região ou o porto de origem, inventando etnônimos que pouco definiam as origens e a cultura. Tendo por guia o homem chamado Cassange, Josivaldo vai em busca de uma história do arco musical no Brasil.
Para isso, ele percorre o interior e o litoral da África Centro-Ocidental, o Atlântico e a província do Piauí, tradicionalmente ocupada desde a colonização pela pecuária extensiva no sentido sertão-litoral. Vaqueiro inseparável do arco musical que carregou consigo desde os tempos de liberdade na terra natal até ter por volta de oitenta anos de idade, Cassange é o representante dos tocadores desse instrumento no Brasil. Imbangala, como outros em sua terra, o africano dominava o arco de uma corda só usado no pastoreio e que os viajantes que conheceram aquela região africana denominaram “violam”, por analogia, como faziam todos os viajantes para aproximar os lugares exóticos e as coisas estranhas aos leitores brancos e europeus que pretendiam alcançar. No Brasil e no Congo/Zaire dos séculos XIX e XX, outros literatos, estudiosos e folcloristas foram unânimes ao apontar a origem bantu do berimbau, que não deve ser confundido com marimbau, e a importância dele para a música e a dança brasileiras. Berimbau, urucungo, hungo, rucumbo ou mbulumbumba são sinônimos encontrados por Josivaldo em fontes dos dois lados do oceano para designar esse instrumento feito de corda metálica, vara de madeira e cabaça. A circulação das palavras, do instrumento e das personagens literárias simbólicas pelas margens atlânticas leva a pensar que ficção e História têm vários pontos de intersecção. O nome disso é verossimilhança.
No capítulo 2, “Os parentes de Cassange ou os arcos musicais em Angola”, somos levados ao outro lado do oceano: estamos na Angola que nos civilizou, nas palavras recuperadas por Luiz Filipe de Alencastro. O ensaio de Josivaldo dá mais lastro à ideia de civilização, na medida em que, além da força de trabalho, agrega o saber musical ao rol dos inúmeros saberes que os brasileiros receberam como herança dos povos africanos trazidos compulsoriamente para a América portuguesa e o Brasil imperial. Mas ver no urucungo apenas um legado aos brasileiros seria uma apropriação simplista e incompleta: o instrumento tem uma história que antecede sua vinda ao Brasil na bagagem literal e cultural dos escravizados e que continuou a existir na Lunda, terra dos imbangala que mantiveram trajetórias históricas em seu próprio continente. A se fiar nas narrativas dos viajantes europeus do século XIX que por ali passaram, o uso do instrumento era recreativo – “tocam-no quando passeiam e também quando estão deitados nas cubatas”, afirmou Henrique Dias de Carvalho em 1890 – e suas formas eram idênticas às que já se conhecia no Brasil, ou seja, a cabaça como caixa de ressonância e o contato com a pele nua na criação da musicalidade. Todavia, nos relatos dos viajantes, o urucungo não aparecia compassar o movimento dos corpos. Pequenas variações e especificidades, como o berimbau de boca e o toque por mulheres, também foram registradas lá e cá, em Angola e no Brasil.
O arco musical espalhou-se por arcos territoriais amplos, em lugares de cultura bantu para além do nordeste de Angola. As fontes de Josivaldo, neste capítulo, são basicamente os registros de viagens e a etnografia feita por portugueses, no afã de construir conhecimentos acerca das regiões sobre as quais se pretendia legitimar a conquista, nos termos acordados na Conferência de Berlim. Não por acaso, são escritos do último quartel do século XIX – indício seguro de que o urucungo existia desde antes disso e que a ausência do registro não deve ser lida como inexistência do objeto descrito. Afinal, como Josivaldo revela, saiu da pena do padre Fernão Cardim, no século XVI, a primeira menção ao termo “berimbau”.
O capítulo 3 faz o percurso de volta. “Do outro lado do Atlântico: tocadores de urucungo no Brasil” é um exercício de boas práticas em História Social. Mesmo quando a fonte não é de próprio punho e não se pode nomear os sujeitos, como nas histórias de viés político mais tradicionais, o coletivo e os indivíduos ganham corpo e voz (som, no caso). Artes plásticas, jornais e outras fontes dos séculos XIX e XX são visitadas em busca da a(tua)ção dos tocadores. As confusões de significado em crônicas e anúncios de jornais desde fins do século XIX, que faziam a gaita ser definida como berimbau, são esclarecidas neste capítulo. Não por acaso, Edison Carneiro já anotava a expressão “berimbau não é gaita”, usada de norte a sul do país, com o sentido de alertar o ouvinte para uma situação absurda e, assim, satirizá-la.
O binômio “origem africana como atraso” e “origem europeia como civilidade” não é novo nos estudos sobre a cultura brasileira, especialmente no que se refere ao início do século XX e às pretensões modernizantes da recém-instaurada República. Soaria divertido, se não fosse um sintoma do preconceito, o esforço em europeizar o berimbau como corruptela do francês “berimbele”, ainda que se tratasse de instrumentos diferentes (o barimbau de corda e o de sopro).
Fazer desaparecer a Pequena África no Rio de Janeiro planejado como cartão postal era um ideal republicano. Nesse processo, o arco musical tinha seu lugar, manuseado como era por negros presentes na cena musical popular das ruas da capital federal. Mas o urucungo não estava só ali nem só naquele momento: José de Alencar em seus romances rurais, Luiz Gama em sua obra poética, Antônio Ferrigno em óleo sobre tela e as páginas de jornais de diferentes províncias do Império exemplificaram a dispersão territorial do instrumento, como que unificando o Brasil de matriz africana.
A partir da vasta gama de fontes compilada para a escrita do ensaio, Josivaldo Oliveira encerra o terceiro capítulo em coautoria com Gabriel Ferreira, artista plástico que transformou em dez desenhos as descrições contidas nas evidências históricas. O resultado são páginas com representações iconográficas contemporâneas e legendas-textos informativas, tudo composto com grande liberdade criativa. A Bahia, como é justo, dá o desfecho à história do urucungo/berimbau. Folcloristas de meados do século XX afirmavam que o instrumento era quase desconhecido fora daquele estado, dando corpo à hipótese de que foi o uso do berimbau na capoeira que garantiu sua permanência. O livro aqui resenhado deixado claro que a história é bem mais complexa.
Áfricas transplantadas, ressignificadas, perseguidas e persistentes. Áfricas que ainda são o nosso outro, mesmo que sejam tão fortemente parte de nós. É dessa história que trata Josivaldo, por meio de um indício da cultura material e imaterial, ao mesmo tempo um objeto de madeira biriba, corda e cabaça e um saber-fazer transmitido corporal e musicalmente ao longo de gerações.
O livro traz ainda dois anexos. O primeiro reproduz um texto de Edison Carneiro sobre o berimbau, originalmente publicado em 1968. O segundo cumpre, de forma competente, o que determina a legislação conquistada pelos movimentos negros e que se refere ao ensino de História da África e da Cultura africana e afro-brasileira. Ali, são sugeridas formas de trabalhar O urucungo de Cassange com estudantes do ensino básico.
Terminada a leitura deste ensaio, não será mais possível adotar a postura do assistente passivo de uma roda de capoeira apenas pelo fascínio do movimento dos corpos ou por contemplação desinteressada do conjunto de sons e gentes ali reunidos. Sem perder isso de vista, o assistente verá o arco vertical se horizontalizar, ligando os dois lados do Atlântico numa história única, secular, sul-sul e do tempo presente. A sugestão do berimbau como ponte entre dois continentes foi feita por Enrique Abranches e, mesmo não sendo original, funciona bem para exprimir a sensação de leigos diante de práticas que, embora admire, não deve praticar sem iniciação correta. Por isso, a condução pelo historiador e mestre Josivaldo Oliveira traz uma sensação de segurança na narrativa sobre o percurso de um instrumento tão emblemático.
Referência
OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. O urucungo de Cassange: um ensaio sobre o arco musical no espaço atlântico (Angola e Brasil). Itabuna: Mondrongo, 2019.
Jaime Rodrigues – Universidade Federal de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. O urucungo de Cassange: um ensaio sobre o arco musical no espaço atlântico (Angola e Brasil). Itabuna: Mondrongo, 2019. Resenha de: RODRIGUES, Jaime. Ancestralidade na história e na música: o berimbau/urucungo nos séculos XIX e XX no Brasil e em Angola. Almanack, Guarulhos, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
Reinventando a autonomia: Liberdade – propriedade – autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo 1535-1822 | Vania M. L. Moreira
A recopilação Legislação indigenista no século XIX, publicada por Manuela Carneiro da Cunha em 1992, ofereceu um importante quadro referencial de onde partir para estudar a problemática indígena durante o século de consolidação da independência política brasileira. A partir de então, os comentários da autora abriram duas importantes linhas de frente, e de crítica, para os estudos indigenistas relativos ao período. A primeira delas – a afirmação de que a política indigenista passou, durante o século XIX, de uma política de mão de obra para uma política de terras – vem sendo contestada por inúmeros autores que destacam a dimensão do trabalho compulsório e o apagamento da identidade indígena durante o período em questão. A segunda, por sua vez, refere-se ao escopo temporal, anotando que a revogação do Diretório pombalino em 1798 abriu um período de vazio legislativo durante o qual o Diretório teria sido aplicado, de maneira oficiosa, até a aprovação do Regulamento das Missões em 1845.
Sem gastar tempo refutando essas afirmações, Vânia Moreira aborda em Reinventado a Autonomia (2019) todos os temas centrais das observações de Carneiro da Cunha: a identidade indígena, as questões de terras e mão de obra, as particularidades do período pombalino e as mudanças ocorridas durante o século XIX, passando, ademais, por questões de gênero e família e conectando-as de forma convincente com as demais temáticas tratadas. Ainda que o foco geográfico seja o território específico do Espírito Santo, a autora trata de vincular as suas conclusões com as de outros autores que estudaram diferentes regiões brasileiras, oferecendo uma visão mais ampla do contexto no qual se inserem.
Apesar de enunciar uma temporalidade muito mais ampla (1535-1822), a maior riqueza documental do trabalho encontra-se precisamente no estudo do período pombalino em diante (capítulos 3 a 6), foco de pesquisa da autora durante os últimos anos. Quem está familiarizado com o trabalho de Vânia Moreira pode experimentar uma sensação de déjà vu ao ler o livro. De fato, a obra recolhe o conteúdo tratado nos seus principais artigos sobre os indígenas no território do atual Espírito Santo, organizados de forma mais temática que cronológica, voltando e avançando as datas para contextualizar devidamente cada um dos temas tratados. Porém, não se trata de mera coletânea de artigos publicados. A autora estabelece um diálogo entre seus próprios textos, devidamente referenciados para aqueles que queiram aprofundar em questões específicas, o que acaba convertendo o livro numa espécie de quadro geral de parte da sua produção acadêmica dos últimos quinze anos. Acrescente-se, finalmente, o cuidado em anexar fotografias, mapas e gráficos ao longo da obra, elementos normalmente mais limitados no espaço dos artigos científicos, e que contribuem para reforçar esse caráter estrutural da obra.
No primeiro capítulo, intitulado “Tupis, tapuias e índios”, a autora se vale de uma extensa bibliografia para abordar os caracteres da população que habitava a costa leste do continente antes da chegada dos europeus. Os vestígios das suas etnias, troncos linguísticos, organizações políticas, cultura material e demografia são abordados de forma probabilista, valendo-se de forma convincente dos trabalhos sobre as fontes disponíveis a respeito. No mesmo capítulo, a autora também reconstrói os impactos dos primeiros conflitos com os europeus, ressaltando que a escravização dos prisioneiros de guerra afetou significativamente os valores que presidiam a guerra ameríndia, dando lugar a uma perspectiva promissora para os colonos da região no final do século XVI. Não obstante, a autora enumera uma série de razões pelas quais em meados do século seguinte a escravidão de africanos teria substituído, na capitania, a aposta pelos “negros da terra”. Apesar da perda de protagonismo econômico da região a partir desse momento, a autora anota a sua importância geopolítica, dado que se configurava como fronteira tanto para o mar como para o interior do continente, especialmente a partir da descoberta do ouro na região das Minas. Essa importância se traduziu em diferentes tensões entre indígenas, moradores e jesuítas, relatadas com detalhe por Moreira. Finalmente, o capítulo encerra adentrando-se em questões jurídicas. A autora define a posição jurídica indígena, nomeadamente dos aldeados, como status específico no contexto do Antigo Regime, status que se traduzia na obrigação de prestar serviços, tendo como principal contraprestação a garantia de permanência em terras coletivas (p. 89). Para falar do status no Antigo Regime, não obstante, a autora referencia o conhecido livro de António Manuel Hespanha (2010) dedicado ao estatuto jurídico de coletivos atípicos no Antigo Regime. Nesse espaço, sente-se falta de uma citação direta ao trabalho de Bartolomé Clavero (autor citado, não obstante, ao falar da estrutura de poder do Antigo Regime ibérico, nas páginas 275-276), pois, pertencendo ambos a uma mesma corrente historiográfica, o trabalho do autor espanhol é muito mais incisivo que o de Hespanha no relativo à posição específica atribuída à humanidade indígena na cultura jurídica do Antigo Regime (CLAVERO, 1994, 11-19).
O capítulo seguinte trata sobre os processos históricos que pouco a pouco foram desembocando na consolidação territorial de certos grupos indígenas e sua conversão em aldeamentos. A autora repassa as guerras e migrações mais significativas, assim como dinâmicas particulares que surgiram nesse processo (por exemplo, o curioso fato de que grandes guerreiros aldeados recebessem nomes portugueses idênticos aos dos principais líderes portugueses da terra, fato que exige portanto uma especial atenção dos historiadores na análise das fontes). À continuação, são descritos os principais aldeamentos da capitania, as etnias que os compunham e a importância do trabalho jesuítico na fixação desses grupos ao território. Moreira define três tipos de aldeias administradas pelos jesuítas: (1) as aldeias de serviço do Colégio, (2) as aldeias do serviço Real e (3) as aldeias de repartição (130-131). Por outro lado, destaca-se a importância paramilitar dos indígenas aldeados, que protegiam o território dos ataques de outros povos guerreiros (europeus ou americanos). Os inacianos são descritos como destacados mediadores entre a Coroa e os povos indígenas, encarregando-se da evangelização como fase sucessiva e necessária da conquista mediante a guerra. Por outro lado, a autora destaca o trabalho dos religiosos em aprender as línguas locais e interpretar a cultura dos indígenas, dando a entender que, nesse processo de contato, “escolhiam determinados códigos em detrimento de outros e procuravam neutralizar o processo de conquista e subordinação” (113). Para a autora, isso caracterizaria a presença de uma verdadeira relação intercultural entre os indígenas e os inacianos das aldeias do Espírito Santo.
Do terceiro capítulo em diante, a autora entra definitivamente na cronologia pós-Pombal, tratando as diversas vicissitudes inauguradas com a legislação indigenista aprovada a partir de 1750. O capítulo terceiro trata de uma das principais consequências políticas do Diretório dos Índios – a capacidade de autonomia e autogoverno – ilustradas na conversão das duas maiores aldeias da capitania (Nossa Senhora da Assunção de Reritiba e Santo Inácio e Reis Magos) em Vilas (Nova Benevente e Nova Almeida). Vânia Moreira repassa os debates da Segunda Escolástica relativos à liberdade das pessoas e bens dos aborígenes e, analisando as leis pombalinas, considera que “o que a legislação efetivamente reconheceu e prometia garantir aos índios era a posse e o domínio das terras de seus aldeamentos” (144). A Lei de 6 de junho de 1755 teria especialmente assegurado sua liberdade, propriedade e autogoverno mediante sua equiparação aos demais vassalos da Coroa. Essas medidas foram limitadas pela restituição da tutela mediante o Diretório dos Índios, analisado pela autora neste capítulo (151-158). Em seguida, é explicado o processo de implantação do Diretório no território do Espírito Santo, destacando aspectos como a relação econômica das novas vilas indígenas com o resto de vilas da capitania, os processos eletivos que garantiam a preeminência indígena nas Câmaras, os atos de gestão local do patrimônio e as medidas de controle dos costumes levadas a cabo pelas autoridades – especialmente em relação com as mulheres indígenas.
O capítulo 4 recupera a Lei de 4 de abril de 1755, que incentivava o casamento entre indígenas e brancos como forma de assimilar aqueles à sociedade colonial. A autora destaca o assimilacionismo das políticas pombalinas, interpretando como eminentemente cultural a discriminação no período, e adotando, portanto, as posições que preferem reservar o termo “racismo” para os processos de racismo biologicamente fundamentado (210). Recuperando a argumentação dos inícios da colonização, que caracterizou os indígenas como sujeitos que viviam no “estado natural”, a autora percebe uma continuidade entre essa concepção e as ideias que presidem a abertura do século XIX, onde os indígenas eram acusados de carecer de “vida civil”, continuidade que só seria quebrada com a irrupção do racismo biologicista na segunda metade do século XIX. Para falar sobre políticas matrimoniais, a autora retorna uma vez mais aos relatos dos primeiros missionários no continente, tratando de reconstruir os costumes dos indígenas no relativo às práticas sexuais, alianças afetivas, vestimenta etc. A autora recorda o papel histórico da instituição do matrimônio para a consolidação do poder da Igreja desde as reformas gregorianas, destacando que também na América essa intervenção na organização familiar indígena foi uma política de longa duração (236). Na última seção do capítulo, a autora recupera os seus trabalhos sobre a interpretação que os indígenas da vila de Benevente fizeram das políticas matrimoniais e territoriais contidas no Diretório pombalino. Através de um estudo específico de caso, ela mostra que esses índios interpretaram que o aforamento de terras a moradores brancos, permitido no artigo 80 do Diretório, estava condicionado à sua união em matrimônio com alguma índia da aldeia.
Vânia Moreira volta a tratado desse tema no capítulo seguinte, dedicado às questões de luta pela terra coletiva. A autora destaca que durante a vigência do Diretório os ouvidores de comarca se encarregavam da administração dos bens dos índios, enquanto os diretores eram os responsáveis pela administração das suas pessoas. Para Moreira, as críticas da historiografia à figura dos diretores devem ser tomadas com cautela, pois ela observa que nas duas vilas de índios do Espírito Santo os conflitos entre índios e diretores eram habituais, e que na prática estes acabavam tendo um poder de mando relativo (271). Ela destaca, além do mais, que durante esse período os indígenas foram efetivamente preferidos para os cargos de governo municipal, o que inclusive propiciou a consolidação de uma elite indígena muito ativa na cena política local. Essa situação começou a mudar no fim do século XVIII, com o aumento das intrusões de brancos e pardos nas terras indígenas, garantidas pelo aval das autoridades chamadas, em princípio, a proteger os interesses indígenas (neste caso, os ouvidores de comarca). Assim, ao mesmo tempo que os indígenas eram cada vez menos preferidos para os cargos municipais, as terras eram cada vez mais aforadas a brancos e pardos pelos mesmos poderes municipais. Segundo a autora, essa situação se manteve até o século XIX, pois ela documenta um conflito ocorrido na vila de Nova Almeida em 1847, no qual a Câmara municipal argumentara que levava ao menos 79 anos aforando as terras indígenas a brancos. Em alguns momentos, essas incursões em períodos muito anteriores ou muito posteriores aos fatos narrados podem conduzir a interpretações por vezes anacrônicas, que não tomam em conta o contexto do momento de produção do documento. Em relação ao documento de 1847, por exemplo, Moreira critica a afirmação da Câmara de que os índios eram somente usufrutuários das terras, e não os seus donos. Para a autora, a afirmação é criticável porque as terras não pertenciam ao município, mas sim aos índios, e deveriam ser protegidas segundo as leis específicas que regulavam o patrimônio indígena. Não obstante, segundo o Regulamento das Missões, aprovado dois anos antes do conflito, os índios aldeados eram somente usufrutuários das terras que ocupavam, ainda que contassem com a garantia de não ser expulsos e com a possibilidade de converter-se em proprietários após 12 anos de cultivo ininterrupto (BRASIL, 1845, art. 1.15º). O capítulo conclui, em qualquer caso, retornando ao final do século XVIII e sugerindo que esses episódios de traição por parte das autoridades chamadas a protegê-los permaneceram na memória coletiva dos moradores indígenas. Mais de vinte anos depois dos episódios, os nativos continuavam narrando aos viajantes a pouca confiança que depositavam na justiça institucional.
O último capítulo adentra no processo de subalternização dos indígenas que se abriu com o século XIX e a chegada da família real ao Brasil. Para a autora, um dos fatores que contribuiu para a progressiva exclusão dos índios dos cargos municipais foi a revogação do Diretório em 1798, porque implicou a eliminação dos privilégios dos índios e a sua equiparação jurídica ao status dos brancos. A autora conta que, ao mesmo tempo, essa equiparação só foi efetiva naqueles pontos prejudiciais à autonomia indígena, pois na prática o cargo de Diretor foi recriado, por exemplo, na vila de Nova Almeida em 1806, com o adendo de que esses novos Diretores exerciam funções mais restritas e coercitivas do que os antigos escrivães-diretores, e respondiam a uma configuração diversa do poder. Moreira conta como o sistema de trabalho compulsório foi se tornando muito mais pesado, marcado pela violência e validado pela “escola severa” do período joanino. Nesse sentido, a autora sugere que as Cartas Régias de 1808 que voltavam a permitir a “guerra justa” tinham também como objetivo reencenar a potência da monarquia, que se encontrava num contexto de crise após a fuga da Casa Real sob a ameaça de invasão napoleônica (318). No processo, reforça-se a noção de menoridade jurídica do indígena, e a subsequente submissão à tutela. Moreira conta que no Espírito Santo essa tutela foi exercida especialmente por particulares que eram encarregados de educá-los, cristianizá-los e civilizá-los. Outra faceta da menoridade jurídica era a tutela pública, que se traduzia em uma série de mecanismos que em última instância visavam ao controle social e ao trabalho coercitivo. Assim, muitos indígenas foram recrutados para o serviço militar, especialmente quando mantinham meios de vida diferenciados da cultura do trabalho nos termos europeus. Destarte, os índios que viviam da caça, pesca, roça e atividade madeireira eram os mais vulneráveis a recrutamentos forçados. Este caráter forçoso do recrutamento foi especialmente evidente porque a prestação de serviços militares à Coroa deixou de ter como contraprestação as tradicionais garantias de direito à terra, proteção e direitos específicos. O resultado, segundo Moreira, foi um significativo movimento diaspórico de indígenas aos sertões cada vez mais distantes do controle institucional, muitas vezes com as trágicas consequências de perda de laços com as suas antigas comunidades de origem, além da perda dos privilégios jurídicos reconhecidos aos índios aldeados.
Ao narrar os acontecimentos ao longo do livro, Vânia Moreira se esforça por destacar as estratégias dos indígenas para conseguir manter suas posições no contexto da conquista, esforço que se inserta numa agenda indigenista que vem buscando identificar o seu agenciamento e protagonismo como sujeitos da história. É uma tarefa que durante os últimos vinte anos vem rendendo prolíficos resultados, ainda que sejam insuficientes para situar os indígenas como agentes nos relatos não-indigenistas da história brasileira, como destacou a própria autora alguns anos atrás (MOREIRA, 2012). Por outro lado, talvez seja necessária certa cautela ao referir-se à relação entre indígenas e missionários como uma relação intercultural. Especialmente porque dentro dos estudos culturalistas a noção de diálogo intercultural vem sendo criticada por partir de um pressuposto de igualdade entre as partes que não leva em consideração a problemática da violência intrínseca à noção de universal que a cristandade e a modernidade europeia carregam, o que torna essa noção, portanto, inaplicável nos casos de identidades culturais ou reivindicações particularistas que desafiam os pressupostos do liberalismo econômico e do capitalismo mundializado – como ocorre, atualmente, com as demandas territoriais dos diferentes povos indígenas brasileiros (ÁLVAREZ, 2010).
Por momentos fica a sensação de que os jesuítas eram um mal menor no contexto da colonização, já que com eles era possível o diálogo, enquanto que com os poderes locais só imperava a força. A mesma autora, porém, frisa que a evangelização era um braço necessário da conquista violenta, que serviu para legitimá-la num momento no qual a Coroa não exercia nenhum tipo de controle efetivo sobre o território. Também é perigoso, nesse sentido, afirmar que a expulsão jesuítica acarreou uma política laica de civilização (88), já que no Diretório dos Índios o Reino reclamava para si a jurisdição temporal sobre os aldeados, mas continuava a encarregar a tarefa de evangelização e jurisdição espiritual aos representantes da igreja católica.
Tudo indica, portanto, que se existiu algum nível de diálogo prolífico entre jesuítas e indígenas, esse só foi possível pela existência de uma conjuntura em que também havia outros interesses em disputa, como os dos moradores e representantes do poder régio. Como a própria autora mostra em seu trabalho, a expulsão dos jesuítas abriu um período em que os indígenas conseguiram conservar e inclusive reforçar uma efetiva dimensão de autogoverno, que começou a desmoronar definitivamente com a mudança drástica de conjuntura aberta pelas revoluções liberais na Europa e a necessidade de reafirmação e consolidação do poder por parte das Coroas portuguesa e, posteriormente, brasileira.
Referências
ALVAREZ, Luciana. Mas alla del multiculturalismo: Critica de la universalidad (concreta) abstracta. Filosofia Unisinos n. 11, v. 2, p. 176-95, setembro 2010.
BRASIL. Decreto n. 426 – de 24 de julho de 1845 que contem o Regulamento acerca das Missoes de catechese, e civilisacao dos Indios. In Colleccao das leis do Imperio do Brasil de 1845. Tomo VIII, parte II, p. 86-96. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1846.
CLAVERO, Bartolome. Derecho indigena y cultura constitucional en America. Mexico: Siglo Veintiuno Editores, 1994.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Legislacao Indigenista no Seculo XIX. Sao Paulo: Edusp, 1992.
HESPANHA, Antonio Manuel. Imbecillitas. As bem-aventurancas da inferioridade nas sociedades do Antigo Regime. Sao Paulo: Annablume, 2010.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Reinventando a autonomia: Liberdade, propriedade, autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo, 1535-1822. São Paulo: Humanitas, 2019.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Os indios na historia politica do Imperio: avancos, resistencias e tropecos. Revista Historia Hoje n. 1, v. 2, p. 269-74, 2012.
Camilla de Freitas Macedo – Universidad del País Vasco. Bilbao – País Vasco – España.
MOREIRA, Vania Maria Losada. Reinventando a autonomia: Liberdade, propriedade, autogoverno e novas identidades na capitania do Espirito Santo, 1535-1822. São Paulo: Humanitas, 2019. Resenha de: MACEDO, Camilla de Freitas. Autonomia como agência: o caráter polifacetado da história de luta indígena no Espírito Santo. Almanack, Guarulhos, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
The Second American Revolution: The Civil War-Era Struggle over Cuba and the Rebirth of the American Republic | Gregory P. Downs
On April 17th, 1888, Frederick Douglass addressed a crowd that had gathered in honor of the twenty-sixth anniversary of emancipation in the District of Columbia. Douglass, the most prominent black abolitionist of the century, had recently turned seventy. He might, at this age, have been expected to look back proudly on a career that had helped bring about the liberation of four million slaves. Instead, he despaired. On that day, he described in stark terms what he had witnessed on a recent tour of the Southern States. In the South, “the landholder imposes his price, exacts his conditions, and the landless Negro must comply or starve…we shall find him a deserted, a defrauded, a swindled, and an outcast man-in law free, in fact a slave; in law a citizen, in fact an alien; in law a voter, in fact, a disfranchised man.” Emancipation, Douglass concluded, was “a stupendous fraud-a fraud upon him, a fraud upon the world.”
This scene-and others like it-have dominated the recent historiography of Reconstruction in the United States. Over the past two decades, scholars have engaged in what Carole Emberton calls “Unwriting the Freedom Narrative”-challenging a standard historical synthesis that still focuses on Lincoln’s Emancipation Proclamation as the moment when the Civil War transformed into a war for freedom.3 These narratives have also laid siege to the foundational text in Reconstruction literature-Eric Foner’s Reconstruction: America’s Unfinished Revolution 1863-1877. In 1988, Foner argued that the end of slavery marked a moment of revolutionary possibility for interracial democracy in the United States. For a brief time, a significant number of Southern whites “were willing to link their political fortunes to those of blacks,” in a massive democratic experiment “without precedent in the history of this or any other country that abolished slavery in the nineteenth century.”4 Since then, historians including Amy Dru Stanley, Stephen Kantrowitz, Ari Kelman and many others have questioned the revolutionary potential of Reconstruction. Their work has exposed the deep continuities between slavery and freedom, whether by revealing the roots of contract labor in white anti-slavery ideology, by highlighting the ambiguous meaning of freedom for black abolitionists, or by centering the devastating consequences of Northern victory for indigenous people across the continent.
In The Second American Revolution: The Civil-War Era Struggle Over Cuba and the Rebirth of the American Republic, Gregory P . Downs seeks to restore the revolutionary possibility of Reconstruction. The first part of his story points to the forceful, extralegal transformation of the U.S. Constitution between the years 1865 and 1870 as proof of the revolutionary nature of the times. During these years, the Radical Republicans in Congress relied on military force to compel Southern states to ratify three amendments that radically altered the Constitution. The 13th, 14th, and 15th amendments-which destroyed slavery and granted freedmen full citizenship rights-were only passed because Congress extended its war powers past the date of surrender. This story, largely familiar to U.S. historians, has one important analytical twist. Downs characterizes the Radical Republicans in Congress as “bloody constitutionalists.” In moments of bloody constitutionalism, he argues, “managerial revolutionaries temporarily turn to violence to implement new political systems, then try to return to peace.”5 After the U.S. Civil War, Republican congressmen did not want to enter a state of permanent revolution. Rather, they sought to force through a specific legal transformation-emancipation-and then return to “banal, normal time.”6 To Downs, this category can help explain why Americans so frequently overlook the radical “re-founding” that took place during Reconstruction, and instead hold on to a comforting idea that the Civil War saved the nation.
The second part of Downs’ story moves U.S. Reconstruction out into the Atlantic World. Here, he argues that U.S. Reconstruction was part of a series of “revolutionary waves” that began in Cuba and Mexico, reverberated into the United States, and eventually swept back out again into the Spanish-speaking Atlantic World.7 In order to support this claim, Downs begins chapter two by exploring the role that Cuba played in U.S. antebellum politics. He argues that Cuban annexationists, slaves, and revolutionaries all helped push the questions of Cuban slavery and annexation into center stage in the United States, deepening the divide over slavery that culminated in the secession crisis of 1861. In chapter three, he turns to the revolutionary possibilities that U.S. Reconstruction opened up in Cuba and Spain. Here, he argues that U.S. Reconstruction created widespread, international expectations for the end of slavery and the triumph of democracy.8 In the late 1860s, Cuban and Spanish revolutionaries both embraced these possibilities to launch republican revolutions. In Spain, these men toppled a monarchy; in Cuba, they launched a ten-year war for national independence. In Downs’ telling, the failure of Radical Reconstruction in the United States undermined Cuban independence. In 1870, President Grant refused to intervene on behalf of the Cuban insurgency. As a result, slavery “limped along” in Cuba for another twenty years.
One aspect of this story represents a remarkable challenge to the existing literature on Reconstruction. Throughout The Second American Revolution, Downs sidelines the question of whether Reconstruction marked a moment of lost “promise” for American democracy. Instead, he claims, Reconstruction history demonstrates the likely need for a third re-founding of the United States. “It may be safer to pretend that we live in a self-governing and perhaps self-correcting political machine,” Downs writes. “But the past does not confirm to our wishes. Nor does the future.”9 This stance marks a sharp break with Foner, who has recently suggested that the Reconstruction-era Constitution provided civil rights activists with the foundation for success during the twentieth century.
Yet, the role of Cuba in this argument is never entirely clear. According to Downs, the outcome of Reconstruction was determined by “managerial revolutionaries.”10 These men operated within the boundaries of the U.S. Congress or the U.S. military. Actors outside of the nation-state bear no causal force in bringing about the radicalism of Reconstruction, or its demise; rather, Cuba appears in the narrative as a new way to highlight the revolutionary nature of Reconstruction. As he puts it, “once we see the Civil War within international events, it no longer looks moderate or restorative, in its leaders’ intentions, in its methods, or in its effects.”11
This disconnect is the result of a major omission. In more than a hundred pages, Downs barely mentions the tens of thousands of Republican voters who did desire permanent revolution: the freedpeople themselves. The Republican Party only triumphed as a coalition. Northern industrialists depended on abolitionists and former slaves to destroy the planter class in the United States. Cuban revolutionaries understood this. In 1868, at the height of Radical Reconstruction, liberal elites launched the first war for Cuban independence. Within three months, they had declared all slaves behind enemy lines free. As in the United States, it was the slaves who transformed a conservative war for the nation into a radical war for abolition and democracy.
The radicalism of this moment, then, was rooted in black politics across the Atlantic World. While The Second American Revolution breaks new ground by calling for revolutionary change based on the historical experience of Reconstruction, Downs misses an opportunity to explore the roots of this revolution in a transnational struggle for black freedom. Still, as Downs explains, “this book is less a finished argument about the outcome” of Reconstruction than an invitation to engage in new explorations of transnational history.12 In this respect, the book will certainly succeed.
Notas
3. Carole Emberton, “Unwriting the Freedom Narrative: A Review Essay,” Journal of Southern History 82, no. 3 (May 2016): 377-394.
4. Eric Foner, Reconstruction: America’s Unfinished Revolution (New York: Harper & Row, 1988), xxiv.
5. Downs, The Second American Revolution: The Civil War-Era Struggle over Cuba and the Rebirth of the American Republic (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2019), 6.
6. Downs, The Second American Revolution, 6.
7. Downs, The Second American Revolution, 7.
8. Downs, The Second American Revolution, 97.
9. Downs, The Second American Revolution, 54.
10. Downs, The Second American Revolution, 6.
11. Downs, The Second American Revolution, 57.
12. Downs, The Second American Revolution, 10.
Referência
DOWNS, Gregory P. The Second American Revolution: The Civil War-Era Struggle over Cuba and the Rebirth of the American Republic. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 2019. 232p. Eric Foner, Reconstruction: America’s Unfinished Revolution (New York: Harper & Row, 1988), xxiv.
Samantha Payne – Harvard University. Cambridge – Massachusetts – United States of America. Samantha entered the PhD program at Harvard’s University Department of History in 2015. Her research interests include the comparative history of slavery and emancipation, race, and the history of capitalism.
DOWNS, Gregory P. The Second American Revolution: The Civil War-Era Struggle over Cuba and the Rebirth of the American Republic. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2019. Resenha de: PAYNE, Samantha. The place of cuba in the global history of reconstruction. Almanack, Guarulhos, n.23, p. 509-513, set./dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão | Romário S. Basílio e Marcelo C. Galves
Em tempos em que o obscurantismo rodeia a percepção sobre a prática do historiador, o livro Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão, dos historiadores Marcelo Cheche Galves, Romário Sampaio Basílio e Lucas Gomes Carvalho Pinto, expõe as vísceras do métier, de forma a salientar o aspecto crucial da pesquisa e do trabalho em grupo, bem como a importância das agências que ainda financiam pesquisas no país.
Resultado do projeto de pesquisa “Posse, comércio e circulação de impressos na cidade de São Luís”, desenvolvida pelo Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista (NEMO), da Universidade Estadual do Maranhão, sob orientação do professor Marcelo Cheche Galves, a obra tem como premissa o reconhecimento de uma efetiva circulação de impressos na capitania e, posteriormente, província do Maranhão, entre o final do século XVIII e o ano de 1834. O livro resgata a existência de um comércio ativo envolvendo impressos, pouco explorado até então. O objetivo da obra é relacionar os impressos que circulavam em São Luís com importantes transformações sociais e econômicas pelas quais passava a cidade.
Ancorada em arquivos brasileiros e portugueses, a pesquisa recolheu, para identificar práticas comerciais e circulação ligadas aos impressos, informações sobre trânsito de alunos entre universidades de Lisboa e a cidade de São Luís, de funcionários régios, de autoridades eclesiásticas e de súditos buscando colocações melhores na máquina administrativa ou condições de sobrevivência. A existência de uma demanda por impressos está ligada ao que os autores definem como “razões práticas” para se ler. Nessa tipologia de impressos práticos, os historiadores elencam bíblias, gramáticas, dicionários e manuais de comércio e de Direito.
A obra faz oposição às produções que articulavam desenvolvimento econômico com desenvolvimento cultural que, segundo os autores, imprimiram sobre os estudos acerca dos impressos um tom elitista e europeizado. Com posições marcadas, os historiadores frisam a emergência de uma cultura escrita que é componente de uma São Luís em movimento.
Para os autores, o conceito de cultura escrita é o oposto do defendido pela historiografia que relacionou tal cultura à erudição. No caso dos estudos do tema no Maranhão, podemos citar Jerônimo Viveiros, que defendeu a quase nulidade de comércio de impressos na região, atrelando a ideia de atraso intelectual à “tardia” adesão da província do Maranhão ao projeto de independência do Rio de Janeiro. Caminhando em sentido totalmente oposto, os autores entendem cultura escrita como uma série de práticas amplas, funcionais e dinâmicas, que não necessariamente são eruditas.
Nesse sentido, a obra está no campo das proposições de Maria Beatriz Nizza da Silva (1973) que estudando a produção, distribuição e consumo de impressos no Rio de Janeiro a partir de 1808, propôs a “dessacralização” do livro, frisando a necessidade de fazer um contraponto aos campos dos estudos sociais e historiográficos que o entendiam de forma presa à ideia de grande obra. Essa abordagem, criticada por Silva e pelos autores de Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão, negligenciou o aspecto comercial dos impressos. Em suma, trata-se da necessidade de se fazer “uma sociologia da leitura” e encarar os livros e os folhetos como objeto comercial.
Sob a influência explícita de estudiosos que trabalharam o livro em sua dimensão social, a obra se propôs fazer uma pesquisa que encarasse o tema de forma pragmática e materialista, centralizando aspectos econômicos e sociológicos que não podem deixar de figurar nessa área de estudos. Encarar de forma materialista os impressos é ter em mente o aspecto de realidade que envolve tais documentos e poder acessar um cenário de transformações de ordem demográfica, social e econômica. A cultura escrita é aqui entendida como um componente de uma cidade em movimento.
Alguns estudos apontaram pistas acerca de fontes que seriam importantes para o desenvolvimento do livro. Márcia Abreu, em Os caminhos dos livros, apontou para a potencialidade da documentação da Real Mesa Censória ao localizar, no período de 1796 a 1826, 350 pedidos de autorizações para envio de livros vindo de Portugal para o Maranhão, número que seria inferior somente aos destinados para o Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Os números levantados por Abreu corroboram, segundo os autores, com a pertinência de atrelar crescimento populacional e cultura escrita. Além das colaborações importantes de Abreu para o campo, os autores citam ainda as contribuições do estudo de Iara Lis Carvalho Souza, que no livro Pátria coroada: o Brasil como corpo político autônomo (1780-1831), apontou para o ano de 1800 a vinda de vários exemplares de “Direito natural”, de Burlamaqui, e da pesquisa de Geraldo Mártires Coelho que, estudando o Grão-Pará na época colonial, referiu-se a remessas de obras de Voltaire e Montesquieu ao Maranhão nos anos de 1813 e 1816.
O livro é dividido em duas partes, sendo que a primeira, “Impressos, mercadores e autores na cidade do Maranhão”, abarca os capítulos “O Maranhão nos quadros do reformismo ilustrado português: a livraria da Casa do Correio”, “António Manuel e Manuel António, mercadores de livros – atuação dos mercadores de livros”, “O Piolho Viajante no Maranhão, seus leitores e movimentos – a recepção dos escritos”, “Gramáticas e dicionários em circulação pelo Maranhão no início dos Oitocentos – a demanda por determinada literatura, por vezes captada pela oferta” e “O Conciliador do Maranhão: produção, difusão e comercialização de literatura política em tempos de Revolução do Porto”; já a segunda parte, “O que se anuncia e o que se lê: impressos nos jornais de São Luís”, oferece aos leitores os capítulos “’Vendem-se a preços cômodos’: os impressos anunciados em São Luís” e “Catálogo dos impressos anunciados em jornais ludovicenses (1821-1834), precedido de texto com considerações acerca do catálogo.
O capítulo 1estabelece como um lugar privilegiado para observação do comércio de impressos em São Luís a Casa do Correio, que permitia o recebimento, a venda e o envio de impressos na cidade por meio de uma política de distribuição do conhecimento. As principais obras identificadas refletiam o projeto ilustrado português à época, cabendo ressaltar o predomínio de obras ligadas ao aperfeiçoamento técnico da agricultura. Assim, o principal objetivo dos autores no capítulo é discutir a materialidade da ideia de que a sociedade maranhense era, nesse momento, pouco afeita ao letramento e ao projeto de desenvolvimento de Dom Rodrigo de Souza Coutinho.
Ainda no contexto do Reformismo ilustrado, o capítulo 2 investiga a ação de dois mercadores importantes na composição de uma rede de comércio de livros nos espaços luso-brasileiros. O objetivo dos autores aí é entender o comércio no exclusivo comercial da metrópole com a colônia, não no sentido de encarar a relação como sendo parte de um entendimento acerca do conceito de periferia consumidora, mas de mapear e procurar entender dinâmicas estruturais da relação metrópole-colônia. Assim, temos no capítulo algumas considerações acerca da atuação de António Manuel Policarpo da Silva, livreiro em Lisboa e possível autor da obra, que será estudada no capítulo seguinte, O piolho viajante, do comerciante de livros no Maranhão Manuel António Teixeira e da relação que os dois estabeleceram entre si no contexto da Era Pombalina. A documentação trabalhada no capítulo é referente à Real Casa Censória e do Desembargo do Paço. A obra O piolho viajante e seu possível autor, António Manuel Policarpo da Silva é o tema do capítulo 3. Nesse cenário, os autores se esforçam por traçar o movimento de uma obra popular, concluindo que junto a clássicos de literatura religiosa, manuais mercantis, dicionários, gramáticas, literatura jurídica e política, as novelas populares tiveram espaço privilegiado naquele momento.
O capítulo 4 traz um estudo sobre a demanda por determinado tipo de literatura que pôde, segundo os autores, ser captada pela oferta. Além da documentação da Real Mesa Censória e do Desembargo do Paço, privilegiada nos dois capítulos anteriores, os autores se debruçaram sobre os anúncios impressos em jornais que circulavam em São Luís entre os anos de 1821 e 1834. O objetivo do capítulo é captar a movimentação contínua desses títulos na cidade. Na tipologia de livros ofertados, e algumas vezes requeridos pelos anúncios, há o predomínio de dicionários e gramáticas e essa tendência deve-se, de acordo com a hipótese dos autores, ao projeto de imposição da língua portuguesa posto em prática no início dos oitocentos.
Os jornais, que começam a ser fontes privilegiadas, sobretudo após a reunião das cortes de Lisboa, aparecem no capítulo 5 como principal objeto de análise. Segundo os autores, o movimento constitucional e a liberdade de imprensa potencializaram o interesse por certa tipologia de títulos. Assim, o mote do livro, que é o reconhecimento de uma efetiva circulação de impressos na capitania\província do Maranhão, pode ser observado nas páginas do jornal que os pesquisadores colocam em tela neste capítulo, uma vez que a publicização de um comércio de impressos era anunciada no Conciliador de Maranhão.
Já na segunda parte do livro, os historiadores trazem, no capítulo 6, uma análise dos anúncios de livros nos periódicos maranhenses, com o intuito de apreender o gosto literário e prático do público consumidor à época. A identificação de grupos temáticos feita pelos pesquisadores, que indicam maior interesse por publicações a respeito de Direito e Política, estão diretamente relacionadas com o momento de transformações pelas quais passava a sociedade maranhense. Por fim, no capítulo 7, os autores oferecem ao leitor a transcrição de 126 extratos de anúncios de impressos observados nos jornais da cidade entre os anos de 1821 e 1834. Trata-se sem dúvida de um repertório importante para novas pesquisas na área.
Apoiado em vasta pesquisa em arquivos situados em Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo e São Luís, Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão ilumina um cenário de mudanças de ordem social e econômica, oferecendo uma análise que conjuga a ideia de dimensão social dos impressos com o contexto de transformações pela qual passava a sociedade ludovicense entre o final do século XVIII e o começo do XIX. Sua leitura deixa a sensação de que os tempos de mudanças – no passado como no presente – são particularmente preciosos para os historiadores.
Referência
BASÍLIO, Romário Sampaio; GALVES, Marcelo Cheche; PINTO, Lucas Gomes Carvalho. Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão. São Luís: Editora UEMA, 2019
Danielly Telles – Universidade Federal de São Paulo. Guarulhos – São Paulo – Brasil.
BASÍLIO, Romário Sampaio; GALVES, Marcelo Cheche; PINTO, Lucas Gomes Carvalho. Vendem-se impressos a preços cômodos na cidade do Maranhão. São Luís: Editora UEMA, 2019. Resenha de: TELLES, Danielly. Impressos e sua dimensão prática. Almanack, Guarulhos, n.23, p. 514-519, set./dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano | Edward E. Baptist
Não há dúvidas de que a escravidão moderna tornou-se um tema clássico dos debates historiográficos, sobre o qual foram produzidos um sem-número de obras, e que atualmente segue como tema de dissenso de livros, teses e pesquisas. O que é incomum em A metade que nunca foi contada, do norte-americano Edward Baptist, são os debates que este livro gerou para além da esfera acadêmica. Lançado em 2014 nos Estados Unidos, um ano depois da estreia do filme 12 Anos de Escravidão, a obra recebeu uma resenha negativa no jornal The Economist, por não ser uma “história objetiva”, ou científica o suficiente, pois caracterizava senhores de escravos sulistas do século XIX – e outros brancos que lucraram com a escravidão nesse período – como “vilões”, e os negros como “vítimas”. A resenha gerou tamanha polêmica que fez o jornal publicar uma nota de desculpas em uma tentativa de retratação. No entanto, esse foi apenas o epicentro de uma série de debates subsequentes que levaram Baptist e sua obra ao centro das atenções nas discussões sobre o escravismo estadunidense. Não por acaso: o formato escolhido por Baptist para a construção de seu argumento gerou debates historiográficos, os quais comentarei mais adiante, e também atingiu noções consolidadas da memória nacional dos Estados Unidos, assim como da memória sobre a expansão do capitalismo industrial.
Utilizando como fio condutor relatos biográficos de pessoas escravizadas, e cruzando estes relatos com uma variedade de fontes e dados (como cadernos de contabilidade, jornais, debates parlamentares e dados quantitativos mais amplos), Baptist constrói uma narrativa sobre o fenômeno do acirramento da escravidão produtora de algodão no sul nos Estados Unidos após sua independência. Esse acirramento caracteriza um novo tipo de escravidão, uma segunda escravidão [2], moldada para a extração exitosa de excedentes cada vez maiores desse trabalho, que por sua vez, argumenta Baptist, tiveram um papel central na expansão territorial do país, em seu desenvolvimento e no fortalecimento de investimentos e lucros. Em um escopo mais amplo, a nova forma de escravidão algodoeira foi também um pilar fundamental para o surgimento do complexo industrial têxtil da Inglaterra.
A escolha por enfatizar relatos biográficos expõe uma face dura da produção exponencial de algodão oitocentista: as técnicas de tortura, o desmembramento de relações familiares em migrações forçadas e a transfiguração de pessoas negras em mercadorias foram métodos integrantes do desenvolvimento econômico e do progresso da nação das liberdades individuais. Tais relatos se assemelham à narrativa do filme 12 Anos de Escravidão, baseado nas memórias de Solomon Northup, homem livre que foi sequestrado para trabalhar como escravo na Luisiana, cuja história também é citada na obra de Baptist. O livro adentra linhas teóricas e temas clássicos da história econômica, como trabalho e capitalismo, com recursos da história oral e debates sobre temas socialmente vivos [3], como relações raciais e de gênero. Torna-se evidente também a habilidade do autor em trabalhar com a esfera das relações políticas intrincadas, as disputas e pactos entre grupos políticos do norte e do sul dos Estados Unidos. É provável que a opção do autor por esse formato científico-narrativo, junto ao conteúdo chocante dos relatos de escravizados, tenham suscitado a acusação de falta de objetividade por parte da resenha do The Economist. Ou talvez, a crítica tenha partido da ideia de que eventos tão significativos na trajetória do capitalismo, como o desenvolvimento dos Estados Unidos e a Revolução Industrial, só se concretizaram por meio da acumulação gerada pela crueldade do trabalho escravo. Essa ideia, no entanto, não pode ser vista como alheia ao âmbito científico, constituindo um tema de extensos debates acadêmicos.
Existe um argumento central em A metade que nunca foi contada: a relação simbiótica entre a exploração dos corpos negros – e as formas de tortura desenvolvidas para tal – e a ascensão do capitalismo estadunidense de fins do século XVIII até a Guerra Civil, na segunda metade dos oitocentos. Tal argumento implica em dois pontos a serem analisados à luz da produção científica sobre o tema. O primeiro, no nível nacional, diz respeito ao papel do escravismo sulista na expansão do território e no desenvolvimento econômico do país como um todo. O segundo ponto é a relevância deste escravismo para a expansão industrial inglesa, seguido da pergunta: esta escravidão é capitalista? Tais questões colocam o livro de Baptist no âmbito da chamada Nova História do Capitalismo (NHC), que propõe a revisão dos padrões da história do capitalismo a partir das relações políticas e das experiências dos grupos subalternizados. Outros trabalhos semelhantes da NHC, lançados na mesma época, são Empire of cotton de Sven Beckert (2014) e River of dark dreams de Walter Johnson (2013). [4] Estes três livros foram, por vezes, criticados conjuntamente, por partirem de premissas semelhantes e por terem construído o campo em torno da tríade algodão-escravidão-capitalismo. A maior parte das críticas ao campo atinge um ponto em comum: influenciados pelo trabalho de Eric Williams, bem como pelas reinterpretações de Kenneth Pomeranz e Joseph Inikori, os trabalhos da NHC, especialmente A metade que nunca foi contada, teriam ignorado os argumentos da Nova História Econômica baseados em estudos cliométricos e dados empíricos. [5]
As críticas de Alan Olmstead e Paul Rhode aos aspectos empíricos do livro são das mais extensas. [6] Baptist cita a afirmação de Olmstead e Rhode sobre a quadruplicação da produtividade das fazendas de algodão entre 1800 e 1860, porém invalida a importância da inovação biológica das novas sementes nesse aumento, argumento central dos autores. A calibragem da violência por meio de um sistema de cotas crescentes, que punia escravos por não manterem seu ritmo de colheita, seria o principal motivo da produtividade crescente. O papel da violência foi questionado não apenas por Olmstead e Rhode, mas também por James Oakes, que afirma que Baptist generaliza um cotidiano de torturas que não corresponde à realidade, mas nem por isso as relações do escravismo foram menos cruéis.[7]
Baptist teria também negligenciado que a tese da centralidade do algodão já estava presente no trabalho de Douglass North, e que a Nova História Econômica (NHE) já teria apresentado argumentos contrários: a baixa relevância das exportações de algodão para o PIB, a menor lucratividade em relação ao milho, entre outros.[8] No geral, os números de que Baptist lança mão para sedimentar suas afirmações sobre a centralidade do algodão no desenvolvimento dos Estados Unidos são superdimensionados ou de origem incerta. Ainda que as críticas da cliometria não levem em consideração a complexidade política ou as relações sistêmicas do capitalismo, um engajamento maior com a produção historiográfica deste campo fortaleceria os argumentos do livro.
Um outro ponto de análise em A metade que nunca foi contada é o caráter capitalista da escravidão, especificamente da segunda escravidão do sul estadunidense. Em uma leitura mais tradicional de modos de produção, Eric Hilt questiona a existência de uma relação de dependência do norte em relação ao sul, e Oakes aponta para uma ambiguidade entre a escravidão e o trabalho livre, entre o atraso e a modernidade.[9] Tal ambiguidade dentro das mesmas fronteiras, afirma Oakes, teria sido o próprio estopim da Guerra Civil. Já para John Clegg, a escravidão da qual Baptist fala é capitalista, mas em razão das motivações e mentalidade dos senhores (razões endógenas), e não pela vitalidade de sua produção para a industrialização.[10]
Na realidade, Baptist não se preocupa em definir o capitalismo, mas em mostrar o quanto a escravidão foi necessária para o seu desenvolvimento. Ainda que primordialmente sua leitura seja delimitada por um Estado-nação, é importante levar em consideração a relação subjacente do escravismo algodoeiro com a Revolução Industrial. Gavin Wright aponta que, no período pré-Guerra Civil, as exportações do algodão sulista foram de grande importância para alimentar a indústria têxtil britânica, mas após a abolição tal demanda foi atendida por exportações da Índia, Egito e Brasil e, posteriormente, pela produção do trabalho livre estadunidense. Wright afirma que a relevância da escravidão foi caindo no quadro do capitalismo global, aproximando-se da segunda tese de Williams.[11] Isto significa que a perspectiva de causalidade entre escravidão e Revolução Industrial é frágil. Nas palavras de Dale Tomich: “Essa ‘segunda escravidão’ se desenvolveu não como uma premissa histórica do capital produtivo, mas pressupondo sua existência como condição para sua reprodução”[12]. Aqui surge outra questão: se a escravidão foi relevante, mas findou não por ambiguidades internas, e sim porque perdeu espaço no quadro mais amplo do capital, como ocorreu essa virada?
Algo que tanto Baptist quanto seus críticos podem considerar para responder esta e outras questões é a literatura da segunda escravidão brasileira, além dos trabalhos que se centram na presença imperial britânica na Índia e no comércio oriental. Oakes questiona se as plantations de algodão seriam o melhor lugar para analisar o capitalismo; mas se apenas analisarmos o capitalismo oitocentista em condições “ideais”, nitidamente lucrativas, explicitamente modernizantes e criadoras de tecnologia, não há espaço para entendermos as desigualdades produzidas pelo sistema em nível global. Para Baptist, a segunda escravidão nos Estados Unidos é um fenômeno observado no âmbito nacional e referente à demanda inglesa. Mas se considerarmos os estudos da Segunda Escravidão de Rafael Marquese e Tâmis Parron, o fenômeno da escravidão oitocentista não pode ser compreendido apenas nos Estados Unidos: sua integração com os escravismos cubano e brasileiro formam uma unidade, uma nova divisão do trabalho. Consequentemente, a íntima relação entre o escravismo norte-americano e o escravismo cafeeiro brasileiro moldou preços, gerou impactos recíprocos e formou alianças e conflitos que auxiliam a compreensão da abolição nos Estados Unidos.[13] Tanto a questão do caráter capitalista da escravidão quanto a conjuntura do escravismo sulista ganham novas nuances a partir destes debates.
Em relação à empreitada britânica no Oriente, John Darwin afirma que o desenvolvimento do Império Britânico origina-se na diversidade de relações estabelecidas em diferentes regiões de influência e domínio. Em um quadro de pressões geopolíticas em que a Inglaterra não era hegemônica, a busca pela inserção no comércio com a Índia, China, a antiga Anatólia e o Cáucaso permitiram que o Império Britânico se consolidasse como o entreposto “do comércio do Novo Mundo com o Velho – assim como para o comércio transoceânico entre Europa e Ásia até a abertura do Canal de Suez em 1869” [14]. Assim, a expressividade do fornecimento de matéria-prima estadunidense para as indústrias inglesas deve ser colocada em perspectiva para pensarmos o êxito da Revolução Industrial, já que a presença do Império no Oriente reconfigura o papel dos Estados Unidos para os ingleses.
A importância da escravidão algodoeira do século XIX para a formação dos Estados Unidos e sua integração aos interesses do capitalismo industrial em expansão são pontos importantes trazidos por Baptist e, ainda que sejam necessários ajustes e considerações mais consistentes, sua tese não pode ser descartada tão facilmente. A força de seus argumentos não está apenas nas narrativas e no alcance de sua obra para além dos limites do público acadêmico. Sua exposição traz à tona as contradições de estudiosos liberais, que acreditavam que o fim da escravidão norte-americana era inevitável frente ao progresso, e expõe a falta de diálogo entre as esferas econômica e política em estudos historiográficos prévios. A ampliação dos horizontes de sua obra para além do nacionalismo metodológico será um passo importante para revelar outras partes da história que ainda não foram contadas.
Notas
2. O autor faz menção ao conceito de Segunda Escravidão, de Dale Tomich, sem se aprofundar no mérito de suas premissas teóricas. No entanto, a influência do trabalho de Tomich se faz presente no livro. TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.
3. O termo faz alusão ao conceito de “questões socialmente vivas”, relativo a temas relevantes socialmente, assim como no campo de estudo historiográfico. LEGARDEZ, Alain; SIMONNEAUX, Laurence. L’école à l’épreuve de l’actualité: enseigner les questions vives. Paris: ESF, 2006.
4. BECKERT, Sven. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014; JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
5. Referência a tese sobre a centralidade do escravismo para a industrialização britânica em WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012; e suas atualizações em POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the Modern world economy. Princeton: Princeton University Press, 2000; e INIKORI, Joseph. Africans and the Industrial Revolution in England: a study in international trade and economic development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
6. OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul. “Cotton, slavery, and the New History of Capitalism”. Explorations in Economic History, v. 67, jan. 2018, pp. 1-17.
7. OAKES, James. “Capitalism and slavery and the Civil War”. International Labor and Working-Class History, n. 89, mar.-jun. 2016, pp. 195-220.
8. OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul, op. cit.
9. OAKES, James, op. cit.; HILT, Eric. “Economic history, historical analysis, and the ‘New History of Capitalism’”. The Journal of Economic History, v. 77, n. 2, jun. 2017, pp. 511-536.
10. CLEGG, John. “Capitalism and slavery”. Critical Historical Studies, set.-dez. 2015, pp. 281-304.
11. WRIGHT, Gavin. “Slavery and Anglo-American capitalism revisited”. In: EHS Annual Conference. Belfast, 2019. Disponível em <http://www.ehs.org.uk/multimedia/tawney-lecture-2019-slavery-and-anglo-american-capitalism-revisited>.
12. TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004, p. 87.
13. MARQUESE, Rafael Bivar de; PARRON, Tâmis. “Internacional escravista: a política da Segunda Escravidão”. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, 2011, pp. 97-117; e MARQUESE, Rafael Bivar de. “Estados Unidos, Segunda Escravidão e a economia cafeeira do Império do Brasil”. Almanack, Guarulhos, n. 5, 2013, pp. 51-60; PARRON, Tâmis. A escravidão na era da liberdade: Estados unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. FFLCH-USP, 2015.
14. DARWIN, John. The Empire Project: the rise and fall of the British world-system, 1830-1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 37.
Referências
BAPTIST, Edward E. A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano. São Paulo: Paz e Terra, 2019.
BECKERT, Sven. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014.
CLEGG, John. “Capitalism and slavery”. Critical Historical Studies, set.-dez. 2015, pp. 281-304.
DARWIN, John. The Empire Project: the rise and fall of the British world-system, 1830-1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
HILT, Eric. “Economic history, historical analysis, and the ‘New History of Capitalism’”. The Journal of Economic History, v. 77, n. 2, jun. 2017, pp. 511-536.
INIKORI, Joseph. Africans and the Industrial Revolution in England: a study in international trade and economic development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
LEGARDEZ, Alain; SIMONNEAUX, Laurence. L’école à l’épreuve de l’actualité: enseigner les questions vives. Paris: ESF, 2006.
MARQUESE, Rafael Bivar de. “Estados Unidos, Segunda Escravidão e a economia cafeeira do Império do Brasil”. Almanack, Guarulhos, n. 5, 2013, pp. 51-60.
MARQUESE, Rafael Bivar de; PARRON, Tâmis. “Internacional escravista: a política da Segunda Escravidão”. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, 2011, pp. 97-117.
OAKES, James. “Capitalism and slavery and the Civil War”. International Labor and Working-Class History, n. 89, mar.-jun. 2016, pp. 195-220.
OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul. “Cotton, slavery, and the New History of Capitalism”. Explorations in Economic History, v. 67, jan. 2018, pp. 1-17.
PARRON, Tâmis Peixoto. A escravidão na era da liberdade: Estados unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. FFLCH-USP, 2015.
POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the Modern world economy. Princeton: Princeton University Press, 2000.
TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.
WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
WRIGHT, Gavin. “Slavery and Anglo-American capitalism revisited”. In: EHS Annual Conference. Belfast, 2019. Disponível em <http://www.ehs.org.uk/multimedia/tawney-lecture-2019-slavery-and-anglo-american-capitalism-revisited>.
Fernanda Novaes – Universidade Federal Fluminense. Niterói – Rio de Janeiro – Brasil.
BAPTIST, Edward E. A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano. São Paulo: Paz e Terra, 2019. Resenha de: NOVAES, Fernanda. O capitalismo no quadro escravista dos EUA e a modernidade industrial. Almanack, Guarulhos, n.23, p. 500-508, set./dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
Escravos da Nação: o público e o privado na escravidão brasileira 1760-1876 | Ilana Peliciari Rocha
De que maneira o Estado brasileiro atuou como senhor de escravos? A questão é colocada pelo livro “Escravos da Nação”, da historiadora Ilana Peliciari Rocha. O estudo é oriundo de sua tese de doutorado, defendida em 2012. A autora, que tem experiência em história demográfica, já desenvolveu pesquisas sobre a população escrava do município de Franca (SP) no século XIX e a respeito do fluxo imigratório para São Paulo no período republicano. Atualmente, Rocha é professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e tem publicado artigos que abordam a trajetória de escravos e escravas da nação na história brasileira.
No livro em questão, Rocha investiga uma peculiaridade: a condição pública atribuída a alguns escravos no Brasil. Já de início a autora explica que os “escravos da nação” se tornaram uma categoria específica no Brasil após a expulsão e o confisco dos bens da Companhia de Jesus pela Coroa portuguesa, o que se deu em 1760. De acordo com ela, a partir desse evento é possível traçar, por meio da análise de documentação coeva (como cartas e ofícios, relatórios dos ministérios do Império, legislação e recortes de jornal), as formas de tratamento direcionadas aos “escravos públicos” espalhados em fazendas e outros estabelecimentos localizados em distintas regiões do Brasil. A administração desses cativos coube, no século XIX, às instituições vinculadas ao Estado imperial e perdurou até, precisamente, o ano de 1876, quando expirou o prazo que, segundo a legislação, era necessário para que tais cativos entrassem em posse de suas liberdades.
Segundo a avaliação de Rocha, os estudos historiográficos sobre a presença de escravos da nação nas fazendas e fábricas do Brasil mostraram, de maneira isolada para cada estabelecimento e localidade, que a administração desses cativos teria acompanhado o modelo da escravidão privada ou tradicional. A autora buscou acrescentar a esses trabalhos um olhar mais atento para o caráter público de tais escravos, com destaque para aqueles mantidos na Fazenda de Santa Cruz, na província do Rio de Janeiro, e na Fábrica de Ferro São João de Ipanema, na província de São Paulo. Sua proposta principal é compreender em que medida a administração desses escravos permite apreender o significado de “coisa pública” no Brasil entre o final do século XVIII e o último quartel do século XIX. Para isso, a pesquisadora leva em conta o conceito de “patrimonialismo” e dialoga com as obras de Raimundo Faoro, Fernando Uricoechea e José Murilo de Carvalho.
A estrutura do livro, inteligentemente pensada, colabora para o entendimento do estudo. A obra é composta por três partes bem articuladas, nas quais são abordados, respectivamente, os percursos dos escravos após a expulsão dos jesuítas, as concepções compartilhadas a cada época sobre tais cativos e os aspectos das experiências cotidianas desses escravos nos estabelecimentos do Estado. Ao longo dos capítulos, Ilana Peliciari Rocha compara o tratamento destinado a esses cativos com outras experiências ocorridas entre senhores e escravos, no âmbito do que chamou de “escravidão privada ou tradicional”, de modo que seja possível empreender o “significado de ser público para o escravo e também para o Estado” (p. 20). Os argumentos estão bem fundamentados tanto nas narrativas produzidas pelos contemporâneos quanto na projeção de dados quantitativos que auxiliam o leitor a visualizar os perfis dos escravos nacionais e as características da escravidão pública.
Na primeira parte do livro, em que é identificado o início de um cativeiro “público” no Brasil, Rocha discorre sobre os caminhos dos escravos após o confisco dos bens dos jesuítas, em 1760. Segundo ela, os escravos adquiridos pela Coroa portuguesa, então chamados “escravos do Real Fisco”, tornaram-se “patrimônio público” sem que houvesse legislação uniforme para o seu tratamento. Seja pela dificuldade de estabelecer um regimento homogêneo para estabelecimentos distintos, seja pela eficácia do controle administrativo desenvolvido pelos religiosos inacianos, a manutenção das propriedades e dos cativos confiscados deu continuidade – ao longo de todo o período colonial – ao modelo adotado pelos jesuítas.
Em seguida, a segunda parte apresenta as concepções e, sobretudo, as dificuldades enfrentadas pelos membros do governo imperial no trato dos escravos da nação. Aqui, a análise concentra-se em meados do século XIX – período em que a documentação oficial permitiu perceber, com maior recorrência, a presença de cativos “públicos”. A autora mostra que houve a tentativa inicial de vender tais escravos a particulares, mas que o governo imperial acabou adaptando-se à condição de proprietário. Havia um sistema de trocas entre as fazendas e fábricas para suprir as necessidades de mão de obra, além de regulamentos para o controle e a manutenção da rotina produtiva nesses estabelecimentos públicos.
Quanto a esta segunda parte do livro, cabe destacar o capítulo que aborda a “visão oficial” sobre os escravos nacionais. Nele, Rocha busca dimensionar o impacto da escravidão pública nos debates políticos de meados do século XIX brasileiro e perpassa alguns temas caros ao período, como abolicionismo, patrimonialismo e liberalismo. De acordo com seu entendimento, a administração dos cativos “públicos” pelo Estado imperial teve um papel relevante na época, pois intensificou as discussões em torno da manutenção da escravidão “privada” na década de 1860. Segundo ela, “[…] como sancionadora da escravidão, a presença deles [dos escravos da nação] não gerava incômodos, mas no momento em que o Estado passou a ter uma nova atitude e as questões emancipacionistas ganharam vulto, isso influenciou as políticas públicas para com eles” (p. 171).
Entretanto, Ilana Peliciari Rocha também expõe os limites dos posicionamentos que questionaram a escravidão e o uso de escravos pelo governo imperial nesse período. Ao analisar os discursos do Parlamento do Império e um embate entre o periódico Opinião Liberal e a Mordomia-mor – repartição responsável pelos escravos da Fazenda de Santa Cruz -, ela identifica que a defesa da liberdade dos escravos da nação sofreu reveses devido à preocupação de que o assunto se estendesse à abolição do sistema escravista. Na compreensão da autora, tais discussões mostram que houve uma contradição entre o discurso liberal e as práticas do governo imperial, bem como o uso dos escravos nacionais no âmbito privado – o patrimonialismo. Juntos, tais aspectos teriam dificultado a aprovação de medidas favoráveis à alforria dos escravos da nação e, ao mesmo tempo, postergado o fim da escravidão particular no Brasil.
Especificamente sobre o “patrimonialismo”, Rocha acompanha a perspectiva de José Murilo de Carvalho e entende que a escravidão pública esteve relacionada à “administração patrimonial” empreendida pela burocracia nascente do século XIX brasileiro. Ela avalia, por meio da historiografia e das fontes, a complexidade que envolveu o uso de cativos pelo Estado: de um lado, o uso de escravos da nação para fins privados era admitido porque foi recorrente e não foi “efetivamente combatido” (p. 188); de outro lado, em alguns locais, como a Real Fábrica de Pólvora da Estrela, tal prática foi repreendida. A dificuldade do tratamento de tal patrimônio público esteve associada, ainda segundo sua leitura, à proximidade dos estabelecimentos com a sede do governo imperial e do Imperador, o qual teria influenciado uma postura “paternalista” em relação aos cativos. Para a autora, é possível afirmar que o Estado imperial, quando atuava como proprietário de escravos, foi patrimonialista, pois prevaleceu a confusão entre as esferas pública e privada na administração dos escravos da nação.
Vale observar que a “visão oficial”, tal como disposta por Rocha neste capítulo, dá centralidade aos embates entre liberais e conservadores no Brasil do Oitocentos. De certa forma, as atividades administrativas das instâncias do Estado e das instituições que mantiveram os escravos da nação, apresentadas ao longo de todo o estudo, ficaram em segundo plano nessa análise. Assim, é preciso sublinhar que não apenas as discussões no Parlamento e na imprensa, mas as diferentes medidas direcionadas aos escravos – presente nos regimentos, ofícios e relatórios – compõem a “visão” que o Império brasileiro pôde revelar sobre a escravidão pública e os escravos nacionais na época.
A última parte do livro de Ilana Peliciari Rocha é dedicada às ocupações e às experiências dos cativos mantidos na Fazenda de Santa Cruz, que foi usada como residência de passeio do imperador, e daqueles que se encontravam na Fábrica de Ferro de Ipanema. A autora conta que nesses estabelecimentos houve grande diversidade quanto às funções desempenhadas pelos escravos e que as oficinas manufatureiras permitiram que alguns deles se especializassem. Motivadas mais pelas demandas casuais dos administradores do que pela orientação de um regimento geral, a profissionalização e a diversificação das atividades nem sempre eram vantajosas para os cativos, os quais muitas vezes foram deslocados dos estabelecimentos em que viviam com suas famílias para trabalhar em outros locais, inclusive em propriedades particulares.
Nesta terceira parte, Rocha elenca ainda tópicos conhecidos na historiografia da escravidão, como a resistência escrava e a obtenção de alforrias, e aponta que os escravos da nação também recorreram às fugas ou aos pedidos de liberdade, mas de maneira distinta dos cativos “privados”. Enquanto as dificuldades de supervisionar a rotina de trabalho nos estabelecimentos favoreceram as fugas, a condição pública contribuiu, em muitos casos, para obtenção de alforrias. Aliás, apesar das ponderações feitas na segunda parte do livro, a autora conclui que a discussão parlamentar sobre a liberdade dos escravos da nação, iniciada na década de 1860, teve grande impacto na vigência da escravidão privada no Brasil. Segundo sua perspectiva, o debate que culminou na Lei do Elemento Servil, de 1871, teria impulsionado o discurso abolicionista e, até mesmo, “antecipado” a abolição aprovada em 1888.
Em suma, pode-se dizer com a investigação de Rocha que “ser público” para o Estado imperial brasileiro teve como característica o problema de “ser possuidor” de escravos para manter o funcionamento de seus estabelecimentos e de ter que lidar com um patrimônio disputado na sociedade oitocentista. Para os escravos da nação, “ser público” era estar sob o controle de um senhor disperso, algumas vezes favorável à liberdade, mas de qualquer forma presente em sua rotina e seus percursos. Os aspectos abordados indicam que este estudo contribui para ampliar as indagações, os debates historiográficos e a compreensão, entre os leitores interessados de hoje, sobre uma faceta pouco conhecida da história da escravidão e do Estado senhor de escravos no Brasil.
Referências
ROCHA, Ilana Peliciari. Escravos da Nação: O Público e o Privado na Escravidão Brasileira, 1760-1876. São Paulo: Edusp, 2018.
ROCHA, Ilana Peliciari. O escravo da nação Florencio Calabar: da Fábrica de Pólvora da Estrela para a Fábrica de Ferro São João de Ipanema. Nucleus (Ituverava), v. 15, n. 2, p. 7-2-13, 2018. Disponível em: <Disponível em: http://nucleus.feituverava.com.br/index.php/nucleus/article/view/3011 >. Acesso em: 29 abr. 2019.
ROCHA, Ilana Peliciari. ‘Escravas da nação’ no Brasil Imperial. História, histórias, Brasília-DF, v. 4, n. 8, p. 44-61, 2016. Disponível em: <Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/view/10944 >. Acesso em: 29 abr. 2019.
ROCHA, Ilana Peliciari. Imigração Internacional em São Paulo: retorno e reemigração, 1890-1920. Novas Edições Acadêmicas, 2013.
ROCHA, Ilana Peliciari. Demografia escrava em Franca: 1824-1829. Franca: UNESP-FHDSS, 2004
Larissa Biato Azevedo – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – UNESP/Câmpus de Franca. Mestre em História e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da UNESP/Câmpus de Franca. Bolsista CAPES. E-mail: [email protected]
ROCHA, Ilana Peliciari. Escravos da Nação: o público e o privado na escravidão brasileira, 1760-1876. São Paulo: Edusp, 2018. Resenha de: AZEVEDO, Larissa Biato. O estado imperial: um senhor de escravos “pouco definido”. Almanack, Guarulhos, n.22, p. 612-618, maio/ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
Construtores do Império – defensores da província: São Paulo e Minas Gerais na formação do Estado nacional e dos poderes locais 1823-1834
Dentre os estudos mais recentes que se debruçam sobre o processo de construção do Estado nacional no Brasil, a obra de Carlos Eduardo França de Oliveira – vencedora do 5º Prêmio de Teses da Anpuh – se destaca como inovadora e polêmica. Resultado de Doutorado defendido em 2014, ela desconfia, como escreve Cecília Helena Salles de Oliveira no prefácio, do “saber já sabido” e das certezas prévias. Isso pelo motivo de se inscrever em um movimento de renovação historiográfica que, sobretudo nas últimas duas décadas, amparando-se em exaustiva exploração de fontes e referenciais teórico-metodológicos diversos, tem contribuído para o esclarecimento de aspectos fundamentais da sociedade brasileira no século XIX.
Durante muitas décadas, a história do período imperial brasileiro foi pensada a partir de duas temáticas essenciais: a revolução liberal como projeto inacabado e a escravidão. Resguardadas suas especificidades, as leituras tradicionais sobre as origens, as instituições e o percurso do Brasil independente, baseando-se em paradigmas do ideário liberal formulados no Oitocentos e (re)configurados à luz das interpretações posteriores, apontavam ao menos para três grandes assertivas: a conservação de uma incômoda herança colonial que impossibilitou o efetivo desenvolvimento de cidadãos; o profundo desarranjo das ideias e práticas políticas europeia e estadunidense aplicadas à dinâmica do liberalismo brasileiro, marcado pelo cativeiro de africanos; e, por último, porém não menos importante, a fase imperial do Brasil como momento desprovido de perfil próprio, sendo mera etapa entre a época colonial e a republicana de sua história.[3]
Ao propor uma análise da ascensão de políticos paulistas e mineiros no processo de formação do Estado nacional brasileiro entre 1823 a 1834, enfatizando-se a criação das esferas do poder provincial em São Paulo e Minas Gerais, bem como a projeção desses agentes no cenário político da Corte fluminense, Oliveira vincula-se a um conjunto maior de estudos renovados sobre a formação do Império do Brasil. Essas interpretações, inspiradas por questões contemporâneas e pelas crescentes análises desenvolvidas nos programas de pós-graduação das universidades brasileiras a partir da segunda metade do século XX, vêm repensando a supremacia do “econômico” sobre as práticas e o imaginário dos agentes históricos, fazendo cair por terra conclusões que sublinham o suposto “atraso” da sociedade brasileira em relação à modernidade, sua intangibilidade e inconsistência no século XIX, como também a incompatibilidade entre liberalismo e a lógica escravista.[4]
Desse modo, unindo-se ao rol de análises que revalorizaram os estudos políticos em uma ampla variedade de temas, da cultura política ao constitucionalismo, da formação dos espaços públicos e formas de sociabilidades às identidades e às transformações das mentalidades dos agentes que experienciaram as rupturas entre os séculos XVIII e XIX, [5] o autor coloca em outra ordem de importância o papel da cultura e das iniciativas dos indivíduos, especialmente de paulistas e mineiros, na formação da sociedade brasileira e consolidação do projeto liberal moderado. Baseando-se em repertório amplo de fontes variadas, como documentos oficiais e periódicos, assim como em uma bibliografia abrangente e atualizada, Oliveira joga luz sobre o arranjo de relações que envolveram instituições e homens, marcando a consolidação da província como novo lócus de poder.
No primeiro capítulo, Oliveira explora os vínculos entre política e economia nas províncias de São Paulo e Minas Gerais nos primeiros anos do Império, chamando a atenção para os grupos e sua incorporação no processo de construção da nova ordem monárquica-constitucional com sede no Rio de Janeiro. Esse processo, de um lado, assumiu lugar primordial ao assegurar a integridade do novo Estado e, de outro, permitiu a esses mesmos círculos a conquista de participação política na Corte. Problematizando a tese decadentista (segundo a qual as dinâmicas das duas províncias estagnou após o declínio da produção aurífera mineira), o autor defende que, mais do que redutos de nomes consagrados no processo de Independência, São Paulo e Ouro Preto foram importantes arenas de disputa e articulação política em que parcelas socioeconômicas plurais, vindas de variadas partes das províncias, batalhavam pelo poder.
Evitando intepretações rígidas que unem segmentos socioeconômicos específicos a orientações políticas particulares seguindo um fio único de interesses, o autor convida o leitor a olhar para a diversidade de situações e fidelidades que coloriam um quadro mais amplo de relações políticas, econômicas e sociais da época. Assim, como contraponto à vertente mais tradicional, Oliveira implode categorias como “centro” e “província”, “interesse nacional” e “interesse local”, enfocando as formas negociadas com que mineiros e paulistas foram concebendo suas províncias como espaços essenciais de articulação política e poder.
No segundo capítulo, o autor detém-se na exposição pormenorizada dos principais aspectos dos conselhos provinciais – Conselho da Presidência e Conselho Geral – em São Paulo e Minas Gerais, principalmente seu funcionamento, ação política e participação na composição do poder nessas regiões. Oliveira trata, primeiro, da dinâmica do Conselho da Presidência e da atuação dos presidentes de província, relativizando a historiografia que caracteriza o Primeiro Reinado como momento “centralizador”, no qual os chefes do Executivo provincial seriam meros “delegados” a serviço de D. Pedro. O autor tece sua problematização com perícia, apontando como a atuação dos vice-presidentes – sujeitos escolhidos nas próprias localidades – e do Conselho da Presidência serviram de contrapeso ao poder dos presidentes. Ademais, o autor afirma que os Conselhos da Presidência paulista e mineiro, ultrapassando o papel de órgãos consultivos a serviço dos presidentes de província, se elevaram a âmbito privilegiado de prática política, seguindo os moldes de um regime representativo preocupado com a defesa dos preceitos monárquico-constitucionais.
Na segunda parte, Oliveira apresenta o processo de instalação dos Conselhos Gerais nas províncias de Minas Gerais e São Paulo, conforme previsto na Carta de 1824. A partir da exposição da relação entre esses órgãos, câmaras municipais e finanças provinciais, o autor delineia um panorama em que aponta como o aparelhamento político-administrativo das províncias, ligado às realidades locais e certa margem de autonomia para geri-lo, foi chave para a manutenção e consolidação do Estado monárquico-constitucional.
Para dar conta das formas como políticos paulistas e mineiros ocuparam o Legislativo do Império a partir de 1826, Oliveira apresenta e discute os aspectos fundamentais da representação e do encaminhamento dos assuntos provinciais na Câmara dos Deputados e no Senado. Na primeira parte, ele aborda a composição das bancadas mineira e paulista na Câmara dos Deputados. Explanando uma temática pouco explorada, o autor matiza o enfrentamento que ocorreu no Parlamento, especialmente na câmara baixa, como simples embate entre os herdeiros de um suposto conflito entre “portugueses” e “brasileiros” na Independência. Afirma que o âmbito da Câmara dos Deputados se configurou como espaço de matizes e nuances, no qual a distinção entre os grupos políticos não pode ser compreendida como elemento preexistente à luta política. Tampouco havia uma simetria entre inserção econômica e posicionamento político, como também uma dicotomia entre províncias e Corte.
Há que mencionar ainda que o autor aborda um dado importante não desenvolvido por muitos estudos: o de como os grupos políticos parlamentares teriam se inserido no sistema eleitoral das províncias paulista e mineira, forjando-se no espaço local para, a partir dele, se rearticular na Câmara dos Deputados. Longe de estabelecer uma simplificadora correspondência entre fidelidades de origem, representação e aprovação de pautas provinciais, baseada em uma relação de causa e efeito, Oliveira põe em exibição uma realidade mais cambiante, em que a composição das bancadas paulista e mineira nas três legislaturas da câmara baixa dependeram da convergência de um emaranhado de fatores como distintas concepções de representação e projeto de Estado, questões político-institucionais, alianças (inter)provinciais, rivalidades entre os grupos políticos, tensões sobre perspectivas diversas a respeito dos negócios e de ocupações dos espaços administrativos. Portanto, conclui que o encaminhamento das necessidades provinciais na Câmara dos Deputados foi um processo complexo que não se diluía na transposição automática das demandas das províncias para o Legislativo.
Dando prosseguimento à discussão sobre a maneira como os representantes provinciais deram vazão às demandas das suas províncias, um segundo movimento, ainda relacionado à primeira parte, dá conta da análise do engajamento do Senado no tocante às demandas que partiam de São Paulo e Minas Gerais. De novo, o autor rompe com afirmações prévias, relativizando a ideia de um Senado fechado em si mesmo, atento apenas às estratégias de contenção da câmara baixa. Pelo contrário, Oliveira assume que tais assertivas desembocaram em deduções simplistas e perigosas. Apesar do envolvimento menor do Senado com as propostas dos Conselhos Gerais, não se pode dizer que a casa vitalícia era desalinhada das causas provinciais. Mesmo diante da sua maior autonomia frente às bases eleitorais das províncias, perceber o Senado superficialmente como instrumento político em prol do monarca e de seus ministros, provoca o autor, seria cair no jogo retórico dos liberais, produzido especialmente pelos moderados da época.
Na segunda parte, o autor tematiza a questão do comprometimento dos deputados com as propostas dos Conselhos Gerais, sobretudo daqueles que ocuparam as duas instituições, a fim de encarar se eles eram “homens da província”, ou seja, seus representantes no Parlamento. No fim da análise, o autor conclui que as pautas dos Conselhos Gerais serviram para os parlamentares como instrumento de luta e negociação política, no qual assegurar os interesses provinciais nem sempre foi o objetivo final. Além do mais, essa dinâmica teria sido permeada por um encadeamento complexo de relações entre os eleitores, conselheiros-gerais, deputados e senadores, perpassado por outros fatores como enfrentamentos políticos, heterogeneidade das bancadas provinciais, autonomia dos legisladores em relação às bases eleitorais e existência de tópicos considerados mais relevantes do ponto de vista nacional. Nesse sentido, Oliveira esvazia categorias como “interesse local” e “interesse nacional”, já que para esses legisladores ao fazer política provincial, direta ou indiretamente, eles estavam dando conta também da política nacional e vice-versa.
Dividido em cinco partes, o quarto e último capítulo é o maior do livro. Na primeira parte, o autor apresenta em linhas gerais o clima de tensão e redefinição de forças que caracterizou o contexto político após a saída de D. Pedro, um quadro marcado pelas discussões em torno de uma reforma constitucional do país nascente. O autor faz uma ponderação metodológica relevante, recomendando ao especialista que evite descrições estanques, tendo em vista a fluidez que os termos “moderados”, “exaltados” e “caramurus” possuem. A coerência programática desses grupos, forjada pelos próprios coevos, pesava menos do que sua função política influenciada pelas tensões em jogo.
Na segunda parte, Oliveira sugere que a elaboração de um movimento de reforma constitucional atrelou-se à intensificação da investida liberal contra o governo pedrino no Primeiro Reinado, o que também gerou uma fratura entre os grupos liberais, particularmente acerca das relações entre Legislativo e Executivo. Nessa lógica, os debates sobre a reforma da Carta de 1824 travados depois da abdicação de D. Pedro I, em 1831, retomariam, sob nova luz, questões já presentes no triênio de 1821 a 1823, sobretudo as relações entre centro e província, as atribuições que caberiam ao Poder Moderador, a existência do Conselho de Estado e a vitaliciedade dos senadores, solapadas com o fechamento da Constituinte por D. Pedro. Toda essa discussão não se restringiu só aos setores oficiais da luta política. Ela alargou o espectro social de ação política, como aponta o autor na terceira parte, percebida nos debates levados a cabo pelos círculos dos alunos do Curso Jurídico de São Paulo e vários periódicos mineiros e paulistas. Toda a tensão em torno da reforma constitucional desencadeou uma restruturação do campo de luta política.
Na penúltima parte, o autor não economiza esforços para demonstrar que as discussões em torno do projeto de reforma constitucional propunham mudanças radicais na estrutura política do Império, permeada pelas ideias de federação que seriam exploradas a fundo pela imprensa e pelos heterogêneos grupos políticos. Com o adensamento da inevitabilidade da reforma, tanto ela quanto o sistema federativo em si acabaram ganhando uma conotação positiva em meio à então resistente ala moderada, que via na ampliação dos poderes provinciais, especialmente de cunho legislativo e fiscal, uma maneira para se garantir no poder, resguardando a continuidade da monarquia-constitucional. Na última parte, o autor apresenta as discussões que culminaram no Ato Adicional, apontando que as maiores polêmicas em relação à reforma constitucional repousaram nas atribuições das Assembleias Legislativas. Aqui o pesquisador, mais uma vez, assume uma postura revisionista, amparando-se em autoras como Miriam Dolhnikoff e Maria de Fátima Gouvêa, encarando a execução da reforma como parte de um arcabouço legal maior que vinha sendo gestado anteriormente.
Baseado em uma bibliografia vasta e atualizada, como também em variedade de fontes de natureza diversas, Carlos Eduardo França de Oliveira tece apontamentos e questionamentos pertinentes sobre um momento complexo da história do estabelecimento do Estado nacional brasileiro. Sem se deter em um único segmento social em São Paulo e Minas Gerais e, muitas vezes, apontando o que acontecia em outras províncias do Império, o autor esboça o emaranhado de relações múltiplas e cambiantes que esses indivíduos teceram, sem que tal dinâmica se restringisse à cooptação de forças pelo poder central na Corte ou outras associações unilaterais. Desse modo, ancorado nesse processo de ampla complexidade, o autor ressignifica episódios importantes do período, fazendo cair por terra ideias pouco fluídas como “centro” vs. “província” e “interesse nacional” vs. “interesse provincial”.
Notas
1. Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Guarulhos – São Paulo.
2. Graduada em História e mestranda do Departamento de Pós-graduação em História pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Bolsista FAPESP, processo nº 2018/11696-0. E-mail: [email protected]
3. MARSON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles. Liberalismo, monarquia e negócios: laços de origem. In: ______ (orgs.) Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013, p. 10-11.
4. Ibidem, p. 11.
5. GARRIGA, Carlos; SLEMIAN, Andréa. “Em trajes brasileiros”: justiça e constituição na América ibérica (c. 1750-1850). Revista de História, São Paulo, n. 169, p. 183, 2. Semestre 2013.
Referências
GARRIGA, Carlos; SLEMIAN, Andréa. “Em trajes brasileiros”: justiça e constituição na América ibérica (c. 1750-1850). Revista de História, São Paulo, n. 169, p. 183, 2. Semestre 2013.
MARSON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles. Liberalismo, monarquia e negócios: laços de origem. In: MARSON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles (orgs.) Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013.
OLIVEIRA, Carlos Eduardo França de. Construtores do Império, defensores da província: São Paulo e Minas Gerais na formação do Estado nacional e dos poderes locais, 1823-1834 [recurso eletrônico]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017.
Claudia de Andrade1-2 – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Guarulhos – São Paulo. Graduada em História e mestranda do Departamento de Pós-graduação em História pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Bolsista FAPESP, processo nº 2018/11696-0. E-mail: [email protected]
OLIVEIRA, Carlos Eduardo França de. Construtores do Império, defensores da província: São Paulo e Minas Gerais na formação do Estado nacional e dos poderes locais, 1823-1834 [recurso eletrônico]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2017. Resenha de: ANDRADE, Claudia de. O império negociado: agentes provinciais no ajuste da ordem no Brasil independente. Almanack, Guarulhos, n.22, p. 619-626, maio/ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá – Minas Gerais século XIX) | Juliano Custódio Sobrinho
Localizada no sul da Mantiqueira, no sul da Capitania de Minas G, no sul da Capitania de Minas Gerais e próxima ao nordeste da Capitania de São Paulo, a Freguesia de Itajubá se configura como uma região fronteiriça, local de passagem e de rotas comerciais, mas também de habitação e permanência. Seu povoamento data do início do século XVIII, decorrente dos fluxos migratórios ocasionados pela busca por ouro na região que, aparentemente, não prosperaram. Seu núcleo populacional se deslocou no início do século XIX, precisamente em 1819 e, em 1862, foi elevada à categoria de cidade, consolidando-se onde se localiza atualmente. Em Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá, Minas Gerais, século XIX), Juliano Custódio Sobrinho aborda a dinâmica interna da Freguesia de Itajubá, suas estruturas produtivas, bem como sua inserção no circuito mercantil do sudeste brasileiro, especialmente na primeira metade do século XIX.
Com base no levantamento, identificação e caracterização do perfil socioeconômico da freguesia, o autor revela uma dinâmica rede de abastecimento interno, impulsionada sobretudo pela agropecuária voltada ao mercado local e regional, bem como ao consumo das unidades produtivas internas. Mercadorias como gado bovino, gado suíno e seus produtos derivados associavam-se a uma crescente produção de bens de raiz e investimentos em escravaria. Valendo-se do método analítico da história serial e da perspectiva da História Social, o autor, podemos dizer, contribui para o crescente campo da “História Social da escravidão”.
Dentre as fontes consultadas, privilegia a investigação de inventários post mortem pertencentes ao Fórum Wenceslau Braz (Itajubá, MG). Menciona também o uso de Listas Nominativas e Mapas de População, para os anos compreendidos entre 1831 e 1835, disponíveis no banco de dados do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR/UFMG), além de visitar outros acervos paulistanos e mineiros, como o Arquivo Público do Estado de São Paulo, a Cúria Metropolitana de São Paulo, o Centro de Estudos Campanhense Monsenhor Lefort, e o Banco de Dados do Arquivo Histórico Ultramarino. O estudo das fontes se volta não só para uma abordagem quantitativa, senão também qualitativa dos dados, buscando compreendê-los em conjunto.
Segundo Custódio Sobrinho, até a década de 1970 a historiografia pouco se debruçou sobre a dinâmica interna das sociedades coloniais, secundarizando as especificidades regionais e o funcionamento do mercado interno. Trata-se de uma perspectiva historiográfica que não está superada e segue ancorada em um modelo explicativo que compreende as sociedades coloniais a partir das relações externas, invisibilizando suas próprias dinâmicas e especificidades. Não obstante, muitos são os estudos que protagonizam a economia mineira e a vertente historiográfica que privilegia os estudos regionais tem se ampliado, especialmente a partir da década de 1970, quando houve uma inflexão historiográfica no viés interpretativo, protagonizando novos agentes e abarcando novas fontes.
O autor é Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e atualmente é professor da Universidade Nove de Julho (Uninove). O livro é resultante de sua dissertação de mestrado, apresentada em 2009 à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) sob orientação da Profa. Dra. Carla M. Carvalho de Almeida, que assina o generoso prefácio. Com 193 páginas, o livro divide-se em quatro capítulos: I – Povoamento e riqueza na capitania do ouro, II – Poder e privilégios entre os “melhores da terra”, III – Escravizados nas páginas dos inventários e IV – Produção agropecuária e perspectivas de mercado.
O primeiro capítulo, “Povoamento e riqueza na capitania do ouro” é subdivido em três tópicos: “A economia colonial nas Minas”, “Mercado interno e a historiografia revisitada” e “A freguesia de Itajubá”. Nele, o autor descreve a formação da freguesia de Itajubá dentro de um panorama mais amplo e discute como o seu desenvolvimento é abordado nos debates sobre a economia colonial mineira. Grosso modo, pode-se dizer que a produção historiográfica define a extração aurífera como determinante da economia mineira e descreve um cenário, a partir do declínio da mineração, em que a extrema estagnação econômica invisibilizou todo um circuito mercantil dedicado à produção interna, em especial a agropecuária.
É inegável que a história de Minas Gerais está intimamente ligada às atividades de mineração, no entanto seu declínio não deve ser compreendido como estagnação econômica, como se houvesse simplesmente engessado dali por diante. Trata-se de um processo importante cujo decaimento resultou em uma dinamização da economia voltada ao mercado interno, inclusive decorrente da necessidade de rearticulação dessa mesma economia diante das transformações do contexto. Para o caso de Itajubá esses rearranjos são verificáveis, por exemplo, na produção agropecuária, e o autor demonstrou que o fortalecimento do mercado interno estava plenamente em consonância com a lógica escravista da sociedade em que se circunscrevia. Nesse sentido, os estudos regionais ampliam o debate no sentido de evidenciar as especificidades locais, demonstrando uma complexidade socioeconômica muito maior inerente às suas próprias lógicas de organização. É a partir desse método interpretativo que Custódio Sobrinho se debruça, como que por uma lupa, fugindo a homogeinizações e generalizações que desapercebem toda uma rede de relações que se articulava internamente.
O segundo capítulo, intitulado “Poder e privilégios entre os ‘melhores da terra’”, também se organiza em três subtítulos: “Percepções demográficas”, “Indivíduos e relações sociais” e “Vida material e hierarquia na freguesia”. Aqui, podemos conferir uma melhor explanação e cotejamento de informações acerca da demografia e do perfil socioeconômico da região em estudo, compreendendo as hierarquias, distribuição de riquezas e vida material por meio da análise em conjunto dos inventários post mortem com os dados levantados por meio do Banco de Dados Populacional do CEDEPLAR-UFMG. A partir de 125 inventários, Listas Nominativas e Mapas de População, o autor evidencia uma sociedade extremamente estratificada, cujos privilégios se expressam, por exemplo, nos bens de herança. Mais que um levantamento quantitativo, Custódio Sobrinho qualifica esses dados, revelando questões sociais em dimensões mais amplas.
O terceiro capítulo, “Escravizados nas páginas dos inventários”, versa sobre a participação dos negros escravizados nas atividades produtivas de Itajubá (suas partes são “Posse de cativos na freguesia”, “A participação escrava” e “Sujeitos, ações e identidades”). O autor procurou traçar o perfil destes sujeitos e compreendê-los enquanto agentes, buscando lançar luzes em suas formas de agir, reagir e resistir. Compreendidos enquanto posse, o levantamento de escravos foi feito também a partir dos inventários post mortem. Nesse caso, as limitações inerentes a esse tipo documental deixam dúvidas acerca de sua suficiência para compreendermos efetivamente a participação dos negros nas unidades produtivas e na própria consolidação da Freguesia de Itajubá. Um arrolamento maior de outras espécies documentais contribuiria melhor para o propósito. De todo modo, Custódio Sobrinho deixa claro não se tratar do objetivo central da pesquisa e sua contribuição se verifica ao demonstrar o quão expressiva foi a participação de pessoas escravizadas nas atividades voltadas ao abastecimento interno em uma freguesia da província que, segundo o autor, deteve o maior contingente de escravos do Império em sua estrutura produtiva.
Pode-se inferir, ainda, que a expressiva importação de cativos para a região deve-se, fundamentalmente, à expansão e diversificação socioeconômica, especialmente a partir do declínio da mineração que impôs a rearticulação da economia. O autor menciona que a província de Minas Gerais se tornou a maior detentora de escravos e assim permaneceu até a abolição da escravidão, em 1888. A produção de alimentos na região também atende à manutenção dos afluxos na importação de escravos durante todo o século XIX e se intensifica com a chegada da Corte ao Rio de Janeiro. Para além disso, constata em Itajubá uma situação não rara no Brasil oitocentista, mas ainda pouco tratada pela historiografia, em que a mão de obra escrava trabalhava lado a lado com a mão de obra familiar, no caso das pequenas propriedades. De forma mais ampla, Custódio Sobrinho se vale do mapeamento da posse de cativos como indicativo para melhor compreender a estratificação social e a hierarquização das unidades produtivas.
Por fim, o quarto e último capítulo, “Produção agropecuária e perspectivas de mercado”, é também o mais extenso. Dividido em quatro partes (“Produção mercantil”, “Composição dos bens nos inventários”, “Padrões de riqueza e utilização da terra” e “Terras de cultivo, campos de criar: a agropecuária na freguesia”), esse é o capítulo que, talvez, melhor situe o autor dentro de sua própria obra. São oito tópicos que se preocupam em discutir a participação de Itajubá no contexto regional, isto é, sua inserção na produção mercantil sul mineira e sua relação com o Rio de Janeiro. Aqui, o autor se volta a uma caracterização das unidades produtivas, rurais e urbanas, a fim de evidenciar a diversidade econômica da região. Reafirma, ainda, o expressivo envolvimento dessas unidades com o abastecimento interno e a massiva participação das pessoas escravizadas, composta sobretudo por cativos nascidos na região (crioulos).
A partir de um estudo de caso, Juliano Custódio Sobrinho nos apresenta um trabalho pertinente e pormenorizado acerca das estruturas econômicas na Freguesia de Itajubá no Brasil oitocentista. Voltada fundamentalmente ao mercado interno, a pesquisa é provocativa na medida em que demonstra uma complexa rede de relações econômicas e sociais, mais ampla e diversa que a imagem estanque que se pressupunha pela historiografia até a década de 1970. Uma narrativa que se consagrou entre os historiadores que centravam o argumento da dependência econômica externa enquanto modelo explicativo para as colônias e sob um viés que se sedimentava no pressuposto de um capitalismo comercial. Neste sentido, ao passo em que se privilegiava territórios voltados à macroeconomia escravista e de exportação, invisibilizou-se todo um mercado interno do sudeste brasileiro, seus agentes e suas dinâmicas próprias de organização.
Para além dos interessados no caso específico de Itajubá, o livro é indicado àqueles que almejam compreender melhor como se engendram as relações econômicas e sociais que envolvem o sudeste brasileiro no século XIX, bem como os distintos grupos que aí se verificam e se conformam. Por meio da Demografia Histórica enquanto método analítico, o autor buscou caracterizar e compreender as estruturas daquela sociedade, as práticas que a orientam e os agentes que a organizam, para além da dicotomia senhor-escravo. Nesse sentido, nos informa sobre uma sociedade altamente estratificada e hierarquizada, envolvida em uma dinâmica rede de abastecimento interno e que se fundamentava sobretudo na diversidade agropecuária. Ao longo de seu livro, o autor nos revela o entrecruzamento de histórias de uma elite local, emaranhada por relações de parentesco, conflitos por heranças e articulações pela manutenção do patrimônio, junto às diversas formas de cotidiano e resistência dos sujeitos subalternos, sobretudo a população negra escravizada. A obra confere um espectro mais plural para a compreensão de economia e sociedade do centro-sul do Brasil.
Referência
CUSTÓDIO SOBRINHO, Juliano. Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá, Minas Gerais, século XIX). São Paulo: Universidade Nove de Julho – UNINOVE, 2017.
Karina Oliveira Morais dos Santos – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Graduada em História pela Universidade Federal de São Paulo; Mestranda em História Social pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH-UNIFESP) e bolsista FAPESP. Atualmente em mobilidade internacional enquanto aluna visitante na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL). E-mail: [email protected]
CUSTÓDIO SOBRINHO, Juliano. Negócios internos: economia e sociedade escravista no Brasil do oitocentos (Freguesia de Itajubá, Minas Gerais, século XIX). São Paulo: Universidade Nove de Julho – UNINOVE, 2017. Resenha de: SANTOS, Karina Oliveira Morais dos. História serial e economia de abastecimento no Sul de Minas. Almanack, Guarulhos, n.22, p. 627-633, maio/ago., 2019. Acessar publicação original [DR]
The Cause of All Nations. An International History of the American Civil War | Don H. Doyle
“You cannot see, because
it is your everyday life, (…) the
magnitude of the events through
which you are passing in the
light of their influence on the rest of the world”.
We are now sufficiently familiar with the idea of a global and transatlantic history to understand the importance of The Cause of All Nations to this field in general history and U.S. history in particular. What we still might not be completely familiar with is the idea that the American Civil War was an event of international proportions in many senses: economic, social, political, and ideological. Therefore, its outcomes can no longer be constricted to U.S. formation, reinforcing the idea that this was a “fratricide” accident within the narrative of national formation in the United States, but that its influence has reached places far beyond the U.S. and can also be considered a breaking point in a global scope. And, although the question of how to produce a transatlantic, Atlantic, or global history is still object of debate and questioning by its own scholars, in this book we will find that the author masters it: he is able to use local, regional, national and transnational lens throughout his narrative, making it look like an easy enterprise.
The importance of the Civil War as an international event of great proportions is what the American historian Don Doyle, the McCausland Professor of History at the University of South Carolina, demonstrates in his book. He has developed the theme of secession in a comparative perspective for many years (Nations Divided: America, Italy, and the Southern Question; Nationalism in the New World, co-edited with Marco Pamplona; Secession as an International Phenomenon, a collection of essays) and teaches American history, nationalism, and Southern History. With broad experience in the U.S. and other countries such as Italy and Brazil, he has demonstrated American and non-American historians that, far from being an event “as American as apple pie”,the American Civil War not only can be seen from an international and Atlantic perspective, but that this outlook is necessary, especially from the point of viewof the American continent.
Parting from the idea that the Civil War is inserted in a much broader moment of history, “the crisis of the 1860s”, we are able to understand international reactions, fears, expectancies and politics that surrounded one of the most, if not the most studied theme in American history. Don H. Doyle’s main thesis is that the Civil War mattered a great deal to the Western world in the second half of the nineteenth century. And it mattered because it was not simply an intestinal war, fought only by American soldiers on American soil, but it represented a struggle over fundamental themes of the time, such as republicanism, freedom, national sovereignty, and slavery. It is in that sense that the Civil War can be perceived as “the cause of all nations”. And, although we all acknowledge the outcomes of the war, and the growth of the United States as a world potency, the future of the war was not defined at the time, and the international community of states and nations in the nineteenth century had a close eye on what was going on in the U.S.
Thus, rather than imposing an international framingof the conflict, Doyle asserts that this work actually “retrieves a commonplace understanding of the time”. This idea has already been brought by other historians that have affirmed the importance of the issues at stake in the “Civil War Era”, such as nationalism, democracy, liberty, equality, race, majority rule and minority rights, central authority and local self-government, the use and abuse of power, and the horrors of an all-out-war – are as alive in the early twenty-first century as they were in the mid-nineteenth century.
This is demonstrated in a fluid, exciting, and coherent narrative that follows the chronological events of the war engaged through different topics, characters and diplomatic disputes distributed throughout 12 chapters and based on an extensive variety of sources: diplomatic and personal correspondences, newspapers, pamphlets, translations, images, posters, and official documents from several nations.
One of the main issues pointed out by Prof. Doyle is that the United States was not only viewed as a nation growing in size and importance, but it virtually represented the major successful republican experiment to the world. In face of the failure of the republican movements of 1848 in Europe, it is not surprising that a government of the people and by the people, and a republic of such large dimensions (the only other example was Switzerland) was seen as doomed to failure. Conservatives in Europe expected this failure to assert that Monarchy was, as it had always been, the best method of government. On the other hand, the remains of the republican and liberal movements in Europe and the successfully republican, but very troubled governments, in Latin America looked at the U.S. with the hope they would one day thrive as theirneighbor, and counted on its protection from European incursions, in thesis guaranteed by the Monroe doctrine.
We are reminded of the great power that the press had gained by the 1860s, especially due to “print technology and the expansion of literacy, which made cheap publications and mass-audience possible” (p.3), which contributed to the understanding of the war and to the debates over it. As an event that has been analyzed from so many perspectives, the author chooses here to demonstrate that not only it mattered economically to the world (the relationship of the western world with the American cotton has been very well stablished), but its struggle over republicanism, freedom, and slavery was a central issue, especially through the eyes of the world and the need of international recognition from both the Union and the Confederate sides. The author also affirms that in its need of diplomacy and international support, the American Civil War pioneered what we now call public diplomacy, “the first, deliberate, sustained, state-sponsored programs aimed at influencing the public mind abroad” (p.3). From that perspective he sets himself apart from a strictly diplomatic history of the Civil War, building his arguments upon how an international public opinion was built over the war, and how it influenced and was influenced by the events, debates, and particular matters in their own nations.
Divided in three parts, “Only a Civil War”, “The American Question”, and “Liberty’s War”, we are guidedthrough the definition of the Civil War on both sides, its international scope and outcomes. In the first part, composed of 3 chapters, we are drawn to understand onemain question: what was the United States fighting for?The question issued by Garibaldi about whether the war was being fought over slavery or not, expressed the “moral confusion over just what the Union was fighting for” (p.24).How the Union and the Confederacy placed themselves internationally to guarantee, on one side, that governments did not recognize the CSA (Confederate States of America), and, on the other, to be recognized as a belligerent state is the main question in this part of the book. That is, the ideological and discursive dispute based on the idea of a “right” to secession in the realm of international law and within the American Constitution. Doyle affirms, nonetheless that this “legal quarrel (…) obscured a far more salient question as to the reason for secession” (p.29). That reason was being questioned by the international community and it was being answered through public diplomacy as Union and CSA struggled for support. And, although both sides initially tried to elude it, “every one of South Carolina’s grievances centered on slavery” (p.30). British, Spanish, and French declarations of neutrality threatened the Union and gave strength to the Confederacy, a diplomatic battle that would be stretched by the military victories of the CSA. Lincoln’s inaugural address in 1861 sought to place the Civil War as an international conflict, based on the principle of international law and the perpetuity of the union, and placed, once again, the extinction of slavery as a secondary matter: “the main issue before the public was already ‘Union or Disunion’, not slavery or abolition” (p.65). Apparently, however, Europeans were not at all concerned with local politics and the rights to secession. In that sense, it would be better to place the war upon “a higher moral basis”, and Europeans from different social sectors began to answer Garibaldi’s questions for themselves.
The second part of the book – The American Question – shows how the conflict was growing in the minds of the world as a global struggle, particularly as a crisis of life and death to the republican experiment “within the context of alternating swells of revolutionary hope and reactionary oppression that radiated through the Atlantic world in the Age of Revolution” (p.85). Republicanism, democracy, natural rights, and slavery, social change and structure, the delights of the conservatives in Europe and the fears of the liberals in view of the War:all that came to earth in the eyes of international observers of the conflict. Extreme democracy was at its death bed and the Empire powers, Britain, Spain, and France resurged and believed it possible to restore their authority. The imbrications of European politics concerning the Americas and their old colonies, as well as the role of foreign views on the conflict, which made their way to the U.S. through important translations of books and pamphlets, demonstrated how intellectuals were elaborating their own meaning of the conflict, helping to place the Civil War as an ideological conflict between slavery and freedom, monarchy and republicanism. It became definitely a global matter. The last chapter of Part II demonstrates how the Civil War became an internationalized conflict not only intellectually, but also in the battle front. Don H. Doyle brings to light the “Foreign Legions” that added up the military layers of the Union army, constituting among immigrants and sons of immigrants “well over 40 percent of the Union’s foreign-born soldiers” (p.159). Although this is not an unprecedented theme in the studies of the Civil War, Don H. Doyle is able to place their participation in a broad understanding of why these immigrants were so willing to fight for America within the international understanding of the Civil War and the construction of the American nation.
In the final part of the book, “Liberty’s War”, the author demonstrates how the war was defined not only as a war over slavery, but also as a struggle between democratic and monarchical governments and ideals, that is, the struggle for the people’s freedom. In that sense, he unveils the “Confederacy’s shift to the right” (p.186), referring to the support from the French sought by the CSA. This meant that not only was the South fighting for slavery, but to do so it was willing to support and negotiate with conservative European governments and to accept their interference in the American continent, including by offering what “can only be described as a magnificent bribe” (p.203) in the form of a very advantageous and long-term commercial treaty, in exchange for Napoleon III’s declared support of the South. The year of 1862 represented the greatest threat of foreign intervention in the Americas, and in that sense, a threat to all republican governments. The Union’s soft power was also directed at broadening the idea of “national preservation” to all governments by the people in the world, “the outcome of the American contest would decide nothing less than the fate of democracy” (p.215).
How the Union and CSA continuously fought in the field of public diplomacy for this narrative is one of the main points placed by DonH. Doyle, arguing that, considering all the military and political world powers engaged and interested in the outcomes of the American conflict, this diplomatic war was as important as the battlefields in American soil. Throughout the last part of the book, the author is able to discuss the significant changes occurring in Europe, not only towards the American Civil War and slavery, but also towards republicanism, particularly in face of the movement for national consolidation in Italy, leaded by Garibaldi and Mazzini, up to what he calls a “Republican Risorgimento”, which again altered the ideological frames of Europe and the Americas.
This book is not an attempt to account for the Civil War in its totality, it is not a new book on what was the Civil War, its causes and consequences, or how its main events and battles developed. Rather, it offers the opportunity to envision it as an international event that was part of a much broader crisis, which carried beneath it fundamental struggles, problems, and dilemmas that regarded the Western world at the second half of the nineteenth century. The American Civil War had a profound impact on the international relations of the early 1860s and high economic, social and ideological issues were at stake: a “struggle that shook the Atlantic world and decided the fate of slavery and democracy” (p.313). This book places the U.S. among other nations that, to survive as a unified national state, depended upon the support and approval of European and American nations. In this sense, it relates the future of the United States to that of other transatlantic relations and vice-versa. In doing this, not only he helps to give one step further towards the rupture with the idea of exceptionalism in American history, he also goes past its traditional links with Europe, including Latin America as part of the world being built in the 1860s, with its own contradictions and expectations. For Brazilian historians, it gives the opportunity to also step back from our own ideas of exceptionalism in the history of Brazil, understanding the political, economic, and ideological interconnections among the American continent, and that transatlantic history is a possible and fruitful path to do so.
Referência
DOYLE, Don H. The Cause of All Nations.An International History of the American Civil War. New York: Basic Books, a member of the Perseus Books Group, 2015.
Juliana Jardim de Oliveira – Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto – Minas Gerais – Brasil. Licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal de Viçosa (2007), mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (2010), doutoranda do programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Ênfase em História da construção dos Estados Nacionais na América, particularmente Argentina, Brasil e Estados Unidos. Atualmente pesquisa a Guerra Civil dos EUA como evento internacional e seu impacto nos debates parlamentares brasileiros.
DOYLE, Don H. The Cause of All Nations.An International History of the American Civil War. New York: Basic Books, a member of the Perseus Books Group, 2015. Resenha de: OLIVEIRA, Juliana Jardim de. The war of brothers that changed the world: the U.S. civil war and the 1860s. Almanack, Guarulhos, n.21, p. 609-616, jan./abr., 2019. Acessar publicação original [DR]
The Cultural Revolution of the Nineteenth Century: Theatre – the Book-Trade and Reading in the Transatlantic World. I. B. | Márcia Abreu e Ana Cláudia S. Silva
É recorrente a ideia, trazida especialmente pelos clássicos estudos sociológicos, de que a intensa conexão entre as nações ocorreu devido aos avanços técnicos e informacionais desenvolvidos durante o século XX, sobretudo em seu último quartel. Graças à rede mundial de computadores, os fluxos de deslocamentos de pessoas e a comunicação online favorecem a troca de informações e conhecimentos entre os vários países do globo, além de promover a ampliação das fronteiras no campo econômico e despertar novas modalidades de conflitos políticos. E se parte desses processos de fluxos mundiais já estivessem – para usar uma metáfora da época – a pleno vapor no século 19? Foi com base em indagações como essa que Márcia Abreu (Universidade Estadual de Campinas) e Ana Cláudia Suriani (University College London) organizaram The Cultural Revolution of the Nineteenth Century: Theatre, the Book-Trade and Reading in the Transatlantic World. Sua ideia central é que ao longo do século XIX havia fortes indícios da formação de uma “Aldeia Global” como conhecemos hoje.
Segundo o argumento geral do livro, as decisivas transformações socioculturais do Oitocentos puderam correr o mundo graças às Revoluções Atlânticas do final do século XVIII, ao crescimento demográfico sem precedentes na história humana e ao avanço tecnológico visível nas chamadas linhas de conexão (estradas de ferro, navios a vapor, cabos telegráficos). O encurtamento da distância e o maior contingente populacional aceleraram a circulação de símbolos e ideais culturais, entre eles o dos impressos. Circulando com muito maior liberdade e alcance através do Atlântico, jornais, livros, magazines, circulares, panfletos e folhas volantes se tornaram mercadorias internacionais e vetores das trocas culturais entre as nações. No século XIX era possível a manutenção do que, hoje, intitula-se globalização cultural.
The Cultural Revolution é resultado do projeto temático “A circulação transatlântica de impressos: a globalização da cultura no século XIX”, que reúne uma série de pesquisas, inseridas no campo da micro-história, que pretendem compreender a “revolução cultural silenciosa”, para utilizar a noção de Jean-Yves Mollier (Université Saint-Quentin Yvelines). O objetivo do grupo foi o de analisar os impressos e a circulação de ideias entre Brasil e demais países da Europa entre 1789 e 1914, intervalo inspirado no clássico de Eric Hobsbawm, A Era dos Impérios. Com características transnacionais, The Cultural Revolution reúne trabalhos de cientistas nacionais e estrangeiros de diversas áreas como a história, a sociologia, a antropologia e a literatura. Tal ponto denota a intenção de interdisciplinarizar as Ciências Humanas, passo fundamental para responder à questão que motivou a pesquisa: como se deram as transferências culturais entre a Europa e a América do Sul no século 19?
O livro possui quatro partes, e a primeira delas, Methodology Issues, como o próprio nome indica, consiste em analisar as questões metodológicas. Os três capítulos dessa parte tratam da análise dos agentes, do suporte, da materialidade e dos textos a partir das perspectivas da história do livro, ou da imprensa periódica, e da história da leitura. O primeiro capítulo, de Roger Chartier (École des Hautes Études en Sciences Sociales), analisa simultaneamente o texto para publicação e a fabricação do livro, dado que os escritos estariam sujeitos a mudanças de acordo com a produção editorial. “What is at stake here is not only the production of the book, but of the text itself in its material and graphic forms” (p. 17). Tal noção já se encontra em trabalhos anteriores do autor. Entretanto, a questão amplia-se agora às mercadorias ideológicas transnacionais, uma vez que é possível abordar como ocorreram as apropriações de livros e impressos confeccionados em determinado espaço e adaptadas para outra realidade.
No segundo capítulo, Jean-Yves Mollier (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) preocupa-se com a história da formação da casa editorial e da profissionalização do editor, analisados segundo aspectos socioeconômicos, ideológicos e políticos. Além da construção cultural dos objetos, Mollier considera o aspecto material e lucrativo da elaboração dos impressos. Esse espaço de produção e concorrência gerou o início da profissionalização do editor, que, não apenas empenhado em disseminar a cultura, também almejou a obtenção de lucros quando adequou conteúdos, fossem textos ou gravuras, para livros e outros suportes impressos, a fim de fazer circular as obras dentro de um espaço transnacional.
Após abordagens sobre o livro, a leitura e o editor, encontra-se o trabalho de Tania Regina de Luca (Universidade Estadual Paulista). A autora debruçou-se sobre o gênero impresso periódico, principalmente jornais e revistas. O texto abordou dois aspectos do fazer historiográfico em torno dessas publicações. O primeiro disserta sobre o universo mais amplo do uso de documentos para a pesquisa histórica que surgiu, sobretudo, com a renovação teórica e metodológica. O segundo ocupa-se com a metodologia aplicada ao estudo da imprensa, em particular a revista, como forma de analisar os problemas históricos de uma época que vão além das transferências culturais.
Com a primeira parte dedicada ao tratamento metodológico dos livros, editores e periódicos, as demais partes de The Cultural Revolution discorrem sobre os três seguimentos inseridos em contextos históricos específicos. A segunda, intitulada “Editing, selling and reading books between Europe and Brazil”, aborda pesquisas em torno de suportes de impressos, livros e periódicos, com foco nas casas editoriais e “editores” em formação.
À luz da abordagem de Mollier, João Luís Lisboa (Universidade Nova de Lisboa) tratou da profissionalização do editor em Portugal. Se num primeiro momento a elaboração de impressos tinha o intuito de informar sobre a política ou disseminar entretenimento, a partir da segunda metade do século 19 iniciou-se o processo de vulgarização de conteúdos variados, principalmente por meio de revistas. Tal mudança necessitou de maior demanda de trabalho e maior agilidade, o que ocasionou o início da profissão de editor na virada para o século XX. Por sua vez, Lúcia Granja (Universidade Estadual Paulista) versou sobre a expansão do mercado livreiro e do desenvolvimento da impressão de livros no Brasil do Oitocentos. Assim como Lisboa, Granja também observou com atenção os agentes em torno do comércio de livros e suas vinculações políticas com os episódios do país. Sua análise destaca Baptiste-Louis Garnier (1823-1893), elo crucial na corrente de circulação de impressos entre Europa e América do Sul. A segunda parte da obra encerra-se com o artigo de Claudie Ponciani (Université Sorbonne Nouvelle), dedicado à figura do engenheiro francês Louis-Léger Vauthier (1815-1901). Vauthier fora pela reforma infraestrutural de Pernambuco, além de vendedor de livros franceses sobre questões técnicas de engenharia e sobre ideais do “socialismo romântico”. O texto inseriu Vauthier na legenda passeur (mediador), noção discutida por Michel de Espagne, que também trouxe à tona a problemática das transferências culturais. Atualmente, a noção de mediação tem sido trabalhada pela historiadora Diana Cooper-Richet, integrante do projeto Transfopress que visa à análise de periódicos em língua estrangeira publicados na França.
Com o título “Cultural exchanges through periodicals”, a terceira parte do livro dedica-se à investigação dos periódicos pela perspectiva das trocas culturais. Eliana de Freitas Dutra (Universidade Federal de Minas Gerais) analisou, sob o ponto de vista da materialidade, como sugere Tania de Luca, a Revue des Deux Mondes (1829-), editada na Cidade Luz e, a título de curiosidade, a preferida de D. Pedro II. Recortando sua análise entre os anos 1870 e 1930, a autora observou o aumento de colaboradores e uma maior discussão sobre diversos países. Na época, o Brasil figurou em várias páginas como alvo de debates que o exibiam como país não desenvolvido por possuir natureza tropical abundante. Os textos de Ana Claudia Suriani da Silva, bem como de Adelaide Machado (Universidade Nova de Lisboa) e Júlio Rodrigues da Silva (Universidade Nova de Lisboa), tomaram os periódicos como fonte de pesquisa. Suriani trabalhou com a moda francesa difundida por impressos franceses e pelos brasileiros Correio das Modas, Novo Correio das Modas e A Estação; e Adelaide Machado e Júlio Silva, com problemáticas mais amplas resultantes da integração cultural, como a imigração entre Brasil e Portugal, ponto discutido nas folhas ilustradas Jornal do Brasil (1897-8) e Portugal-Brasil (1899-1914), ambos de Lisboa.
A quarta e última parte do livro, “Plays and novel between Europe and Brazil”, volta-se para a análise ideológica dos teatros e romances modernos, difundidos no século XIX pelos autores ingleses Ann Radcliffe (1767-1823) e Sir Walter Scott (1771-1832). Com o objetivo de comparar e intersectar os diversos interesses de leitores do Brasil, França e Portugal, Márcia Abreu analisou trabalhos de ficção que circularam entre o Rio de Janeiro e Paris. Daniel Melo (Universidade Nova de Lisboa) também se debruçou sobre o gosto dos novos públicos-leitores brasileiro e português, porém com o intuito de examinar o desenvolvimento da leitura em distintos grupos sociais. Por fim, dois artigos examinaram a difusão da produção teatral francesa (tanto a dramática como a lírica). Jean-Claude Yon (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) abordou a disseminação dos espetáculos em diversos espaços nacionais ao longo do século XIX, a fim de demonstrar o apogeu do teatro francês no início do século e o seu declínio no desfecho do Oitocentos. Orna Messer Levin (Universidade Estadual de Campinas) associou as peças teatrais no Brasil aos impressos periódicos com a finalidade de demonstrar que ambos revelaram a predominância da cultura francesa no país. Levin ainda chamou a atenção para a produção de outras nacionalidades em convívio com a francesa, pois, apesar da hegemonia da língua de Voltaire, a competitividade teria aberto espaço para a expansão do mercado e a profissionalização de editores e de profissionais do teatro no início do século XX.
Ao abordar a circulação de objetos e ideias através de um mercado em expansão entre o Brasil e a Europa, a obra The Cultural Revolution of the Nineteenth Century evidenciou encontros culturais transatlânticos de primeira grandeza. Do ponto de vista da escrita da história, o livro é um contraponto à historiografia nacionalista-desenvolvimentista que suprimiu documentos e fontes de origem estrangeira em detrimento de produções vernaculares. Graças à história do livro e da leitura, em consonância com a história cultural, os historiadores e outros estudiosos das Ciências Sociais vêm demonstrando que a flexibilização das fronteiras nacionais é muito mais antiga do que se pensa. A “Aldeia Global” de hoje teve suas próprias formas de existir antes da internet, seus bits e bytes.
Referência
ABREU, Márcia; SILVA, Ana Cláudia Suriani. The Cultural Revolution of the Nineteenth Century: Theatre, the Book-Trade and Reading in the Transatlantic World. I. B. Tauris: London, New York, 2016.
Helen de Oliveira Silva – Universidade Estadual de São Paulo (UNESP). Assis – São Paulo – Brasil. Graduada em História e Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus de Assis. Bolsista Fapesp, processo nº 2017-20828-4. E-mail: [email protected]
ABREU, Márcia; SILVA, Ana Cláudia Suriani. The Cultural Revolution of the Nineteenth Century: Theatre, the Book-Trade and Reading in the Transatlantic World. I. B. London, New York: Tauris, 2016. Resenha de: SILVA, Helen de Oliveira. Entre Brasil e Europa: a Revolução Cultural do século XIX. Almanack, Guarulhos, n.21, p. 617-622, jan./abr., 2019. Acessar publicação original [DR]
Political ecology – food regimes and food sovereignty: crisis – resistance and resilience | Mark Tilzey
In 1998, Giovanni Arrighi wrote an article with a curious subtitle: “Rethinking the non-debates of the 1970’s”. [3] He was referring to the “non-debates” between Immanuel Wallerstein, Robert Brenner, Fernand Braudel and Theda Skocpol, that remained undeveloped. These “non-debates” of the 70’s, especially the one between Wallerstein (with his world-system perspective) and Brenner (with his “Political Marxism” stance), now reemerge in Tilzey’s book, with Tilzey in the role of the “political Marxist” challenging the conceptions of Jason W. Moore and the proposals of his “world-ecology”, as well as Philip McMichael and Harriett Friedman’s conceptions of “food regime” (both developments of Wallerstein’s “world-system” perspective). [4] This is not simply a repetition, to be sure: the return to thematic and methodological questions derives from the rise and intensification of problems and questions in the present, specifically, how to treat ecology/nature and crisis in our historical and theoretical concepts of capitalism in the Anthropocene/Capitalocene era, characterized by repeated economic crashes. These new questions and problems motivate Tilzey’s timely effort. Nevertheless, many “non-debates” remain undebated, including Arrighi’s intervention in them.
The first chapters of Tilzey’s book condense his ontological and methodological premises. Tilzey tries to build an ontology on which his propositions on political ecology and food regimes would be based. In chapter 2, he criticizes Jason W. Moore’s “world-ecology”, claiming that his notion of “double internality” of society and nature is a “flat ontology”. Tilzey opposed a four-level stratification of ontological relations to this: a non-hybrid, extra-human reality, nature (level 1); a hybrid, socio-natural level of trans-historical use-values (level 2); an “allocative” hybrid level, related to class-mediated distribution and historically-specific technologies (level 3); a non-hybrid “authoritative” level, the underlying political dimension in class dynamics in which to seek “structural causality” (level 4) (p. 28). Tilzey claims that the ontology he proposes is better equipped to deal with class relations and the “authoritative dimension” than Moore’s is. This ontology sets the tone of the rest of the book. Despite his critique of Moore’s general approach, Tilzey recognizes his contributions related to the capital’s dependency on “cheap natures” and commodity frontiers.
It is worth it then to make some critical observations on this foundational first chapter. Tilzey’s assertion that Moore proposes a “flat ontology” is problematic. For starters, Moore denies it explicitly.[5] Moore also asserts the differentiation of humans in that “humans relate to nature as a whole from within, not from the outside. Undoubtedly, humans are an especially powerful environment-making species. But this hardly exempts human activity from the rest of nature”.[6] Finally, Moore distances himself from a “flat ontology” by qualifying Nature and Society as “real abstractions”, the “real historical power of ontologic and epistemic dualisms” that are in contradiction with the co-production of humans and nature.[7] Tilzey’s argument on the “flat ontology” of Moore could have been more convincing if he had addressed and criticized these elements of Moore’s work, but they are left untouched, and so his critique appears to be one-sided. Moore uses “value as method”, in which capital, class and nature conflate in a peculiar, historically-specific way, operating in the formation of classes and concomitant organization of historical natures. Sharply separating or hierarchizing them would be a “violent abstraction”, according to this perspective.[8]
Additionally, Tilzey’s conception of dialectics is not very clear. Both Lucio Colletti and Levins and Lewontin are known to support his position (p. 19-29), references that are at opposite ends regarding the methodological and historical statute of dialectics. For Levins and Lewontin, dialectics is trans-historical and imputed to nature itself (like in Engels’ “dialectics of nature”), while for Colletti it is historically-specific to capitalist modernity, including relations with nature but not extended to nature itself and neither to history as such.9 The assertion that Tilzey’s ontology entails “principles that are not specific to capitalism but to all social systems” (p. 24) clearly indicates the adherence to a trans-historical conception of dialectics, though it is not clear whether it is extended to nature as such or not.
In the next chapter, Tilzey uses his proposed ontology to discuss the origins of agrarian capitalism, “combined and uneven development” and the first agricultural revolution in Britain. Regarding the origins of agrarian capitalism, Tilzey defends a Brennerian position of a British origin of capitalism with specific “social-property relations” (with fully commodified land and labor), contrasting with the world-system perspective which proposes a West European (and American) origin based on for-profit production of commodities under different labor regimes in a world market, the “commodification of everything”.[10] The presentation of world-systemic perspectives on the origins of capitalism is oversimplified as the “Braudel-Wallerstein-Arrighi school”, when actually there are significant differences between these three authors’ view on the transition from feudalism to capitalism (p. 48-9). A discussion of these differences would have been important, especially because Arrighi claims to have incorporated Brenner’s critique of Wallerstein in his version of the theory of transition.[11] Though Tilzey rejects the world-systemic conception of core-periphery relations, he recognizes the crucial importance of cotton plantations in the American South for the Industrial Revolution (or, more generally, the interaction between English capitalism and the “external arena”). To conciliate both positions, he uses a theory of “combined and uneven development” based on Trotsky and more specifically on Anievas and Niasanciglu. It should be noted that what Anievas and Niasanciglu propose as “combined and uneven development” is a trans-historical ontology that is projected back to the time of hunter-gatherers.[12]
The combination of the reference to Levins and Lewontin when referring to dialectics and Anievas and Niasanciglu in relation to uneven and combined development indicate that there seems to be a tension in Tilzey’s theoretical framework: on the one hand, an attempt to specify capitalism in such a way that only England would initially comply; on the other, the use of analytical methods that lack historical specificity to deal with “nature” and the “external”, non-capitalist world. Contrasting with this trans-historical methodological choices, for example, Moishe Postone and Lucio Colletti would argue that dialectics and the dialectical method are historically-specific to capitalist modernity; and in the world-system perspective, core-periphery relations are historically-specific to a capitalist world-economy (which is not necessarily coincident with the whole globe, but comprises the states that are integrated in a single, large-scale market) that arose in the sixteenth century and will become extinct in the future. This world-economy would constitute an integrated market comprised of several states, with a scale and level of integration that characterize it as qualitatively very different from any exchange that might have occurred between groups of hunter-gatherers [13].
One passage reveals this difficulty in using a combination of historically-specific and trans-historical categories: “through the institution of slave plantation in the colonies, capitalists were able to reduce significantly the costs of constant capital in the form of raw materials” (p. 71, emphasis mine). The reader should note that while “constant capital” is a historically-specific category, “raw materials” is trans-historic; the historically-specific category would be “circulating capital”. There is no difficulty here for the world-system perspective, especially if considering Dale Tomich’s concept of “second slavery”. [14] But for the “social-property relations” approach, characterizing slave-produced cotton as “circulating capital” might be inconsistent, as that would mean that slave production was already subsumed under the law of value and the dynamics of the organic composition of capital. But if it was not produced as circulating capital from the beginning (which is difficult to accept, as the relation between Mississippi Valley plantations and English factories was systematic, instead of contingent) then we remain with the difficult question of defining where, between the plantation in the American South and the factory in Britain, this trans-historical “raw material” was converted into a historically-specific “circulating capital”, thus mediating the organic composition of capital and counteracting the profit rate’s falling tendency (a mediation that Tilzey correctly admits as being key for the Industrial Revolution). The problem does not seem to be solved by attributing this “raw material” to level 3 in Tilzey’s ontology, as “class” is still a historically indeterminate category (contrary to value).
The rest of the book is an “application” of the ontological premises presented in the first two chapters. Chapters 4 to 6 are dedicated to the discussion of food regimes. Tilzey characterizes them as the first or British liberal regime (1840-1870), the second or imperial regime (1870-1930), the third or “political productivist” regime (1930-1980) and the neoliberal regime. Tilzey proposed the first regime as a complement to the others that were previously proposed by Friedmann and McMichael. Here, in accordance with his proposed ontology, the emphasis is on class politics, class fractions and how they shape what he calls the “capital-State nexus”. For Tilzey, the “Polanyian” approach of Friedmann and McMichael regarding the State (the “double movement”) obliterates the “state as comprising the condensation of the balance of class forces in society” (p. 113). One of the best moments of the book is the explanation of the different interests of American corn, cotton and wheat famers and how this class-fractional struggle shaped state policies and food regimes (ch. 5).
In Part 2 (chapters 7 and 8), Tilzey discusses “crisis and resistance”. Tilzey’s previously defined ontology implies that crises are always “political” or legitimacy crises; an objective crisis of capitalism is out of question a priori (as well as the possible transition to a less democratic social order). In this respect, he distances himself from other authors for whom alienation plays a central role in crisis theory and that do consider the possibility of some kind of “regressive” transition, such as Moishe Postone or Robert Kurz, and is at least in this regard (crisis necessarily as crisis of legitimacy) in agreement with a non-Marxist scholar like Wolfgang Streeck.[15] In his exposition in chapter 7, Tilzey identifies as contradictions of neoliberalism the general falling rate of profit due to the rising organic composition of capital and the rising cost of raw materials. It should be noted that he characterizes the falling rate of profit with the “power of capital over labor” (p. 200), in line with the posited priority of the “authoritative” level of his ontology. But here, perhaps this ontology produces another one-sided result. The falling rate of profit is the result of mechanization not only in a struggle of capitalists against workers but also in a struggle among capitalists (competition for efficiency); besides, the tendency itself is an objectified outcome that is not “authoritatively” planned. This is part of a dialectic of subjectivity and objectivity peculiar to capitalism that seems to be obliterated by Tilzey’s ontology. In relation to the food regime in particular, Tilzey develops the idea that food and financial crises are different manifestations of the neoliberal social disarticulation, which combines a crisis of under-consumption (level 4 of the ontology) with increasing costs of raw materials (levels 3 and 4).
Again following his ontologies of class and combined and uneven development, Tilzey analyzes peasant “resistance” movements as assuming three different forms: what he calls “sub-hegemonic” (reformist), “alter-hegemonic” (progressive) and “counter-hegemonic” (radical). The sub-hegemonic movement is represented by the “Pink Tide” in South America and its focus on the combination of extractivism and social policies, with peasants appealing to indigenous identities. Alter-hegemonic movements are represented by small commercial farmers, mostly in core countries, that demand regulation and protection against the market. Peasant movements, mostly those in the “global South” and among subaltern classes whose demands include the socialization of means of production (land), are counter hegemonic. It can be seen that the existence of, or potential for, reactionary movements is overlooked, as the ontology does not seem to be equipped with the necessary analytical tools.[16]
Part 3 (chapters 9-13) is dedicated to country case studies, which includes Bolivia, Ecuador, Nepal and China, in which the author tries to trace the commonalities and differences between them (Brazil is not included). Some of the best moments of the book appear here, such as when Tilzey explains the difference between recent peasant movements in Bolivia and Ecuador, on the one hand, and their weakness in Chile and Peru, on the other, based on their different class structures and histories. The last chapter is political-normative, advocating a “food sovereignty” based on peasant communal production using a “resilient” food production system grounded on agroecological methods.
It is clear throughout the book that Tilzey makes great effort to be consistent with his proposed ontology of “Political Marxism”. Nevertheless, the one-sidedness of this ontology (despite the inclusion of “ecology” in lower hierarchical levels), which one could characterize as an extreme form of politicism (or a “violent abstraction”), might produce one-sided analyses, like a critique of Moore that ignores his use of “real abstractions” and a theory of crises that overlooks objectified tendencies (or is inconsistent by taking them into account). Additionally, the trans-historical elements of the ontology used to conciliate the supposed exceptionality of Britain and the intense relations with the “external arena” might generate problems of consistency and historical specification. But the approach can also produce useful sociological and class dynamics analyses and insights. The reader’s evaluation of this ontology will ultimately shape his or her broad evaluation of the book. Hopefully Tilzey’s book will be only the first of many to address the many “non-debates” that are still untouched, some of them barely scratched in this review and that include vitally important questions such as the concept of capitalism, its historical origins and its future demise.
Notas
3. ARRIGHI, Giovanni. Capitalism and the modern world-system: rethinking the non-debates of the 1970s. Review, 21, n. 1, 113-29, 1998.
4. WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world-system I: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Berkeley: University of California Press, 2011 [1974]; BRENNER, Robert. The origins of capitalist development: a critique of neo-Smithean Marxism. New Left Review, I, 104, p. 25-92, July-August 1977; MOORE, Jason W. Capitalism in the web of life: ecology and the accumulation of capital. New York: Verso, 2015; FRIEDMANN, Harriet; MCMICHAEL, Philip. Agriculture and the state system. Sociologia Ruralis, XXIX, no. 2, p. 93-117, 1989.
5. MOORE, Jason W. op. cit, p. 39.
6. Ibid., p. 46. Emphasis mine.
7. Ibid., p. 47.
8. Ibid., ch. 2. SAYER, Dereck. The violence of abstraction: the analytical foundations of historical materialism. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
9. LEVINS, Richard; LEWONTIN, Richard. The dialectical biologist. Harvard: Harvard UP, 1985. COLLETTI, Lucio. Marxism and Hegel. Trans. R. Garner. New York: Verso, 1973.
10. WALLERSTEIN, Immanuel. Historical capitalism. New York: Verso, 2011.
11. Inspired by Braudel, Arrighi proposes an interstitial transition based on Italian city-states, which would include competition for mobile capital, thus addressing Brenner’s critique that competition was not a part of Wallerstein’s model. See ARRIGHI, op. cit.
12. ANIEVAS, Alexander; NISANCIOGLU, Kerem. How the West came to rule: the geopolitical origins of capitalism. London: Pluto Press, 2015, p. 46-7.
13. COLLETTI, op. cit. POSTONE, Moishe and REINICKE, Helmut. On Nicholaus’ “Introduction” to the Grundrisse. Telos, 22, 130-148. WALLERSTEIN, Immanuel. Op. cit.
14. On “second slavery”, see TOMICH, Dale W. Through the prism of slavery: labor, capital and world-economy. Lanham: Roman & Littlefield, 2004.
15. POSTONE, Moishe. The current crisis and the anachronism of value: a Marxian reading. Continental Thought and Theory, 1, no. 4, p. 38-54, 2017. KURZ, Robert. The crisis of exchange value: science as productivity, productive labor and capitalist reproduction. In Marxism and the critique of value, ed. N. Larsen et al, p. 17-76. Chicago: MCM’, 2014 {1986}; STREECK, Wolfgang. How will capitalism end? New Left Review 87, p. 35-64, May-June, 2014.
16. Critical Theory could be helpful, but it seems to be far from Tilzey’s theoretical commitments
Referências
TILZEY, Mark. Political ecology, food regimes, and food sovereignty: crisis, resistance, and resilience. Cham: Palgrave MacMillan, 2018. 394 pp.
ARRIGHI, Giovanni. Capitalism and the modern world-system: rethinking the non-debates of the 1970’s. Review, 21, n. 1, 113-29, 1998.
WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world-system I: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Berkeley: University of California Press, 2011{1974}; BRENNER, Robert. The origins of capitalist development: a critique of neo-Smithean Marxism. New Left Review, I, 104, p. 25-92, July-August 1977; MOORE, Jason W. Capitalism in the web of life: ecology and the accumulation of capital. New York: Verso, 2015; FRIEDMANN, Harriet; MCMICHAEL, Philip. Agriculture and the state system. Sociologia Ruralis, XXIX, no. 2, p. 93-117, 1989.SAYER, Dereck. The violence of abstraction: the analytical foundations of historical materialism. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
LEVINS, Richard; LEWONTIN, Richard. The dialectical biologist. Harvard: Harvard UP, 1985. COLLETTI, Lucio. Marxism and Hegel. Trans. R. Garner. New York: Verso, 1973.
WALLERSTEIN, Immanuel. Historical capitalism. New York: Verso, 2011.
ANIEVAS, Alexander; NISANCIOGLU, Kerem. How the West came to rule: the geopolitical origins of capitalism. London: Pluto Press, 2015, p. 46-7.
COLLETTI, op. cit. POSTONE, Moisheand REINICKE, Helmut. On Nicholaus’ “Introduction” to the Grundrisse. Telos, 22, 130-148. WALLERSTEIN, Immanuel. Op. cit.
TOMICH, Dale W. Through the prism of slavery: labor, capital and world-economy. Lanham: Roman & Littlefield, 2004.
POSTONE, Moishe. The current crisis and the anachronism of value: a Marxian reading. Continental Thought and Theory, 1, no. 4, p. 38-54, 2017. KURZ, Robert. The crisis of exchange value: science as productivity, productive labor and capitalist reproduction. In Marxism and the critique of value, ed. N. Larsen et al, p. 17-76. Chicago: MCM’, 2014 [1986]; STREECK, Wolfgang. How will capitalism end? New Left Review 87, p. 35-64, May-June, 2014.
Daniel Cunha – Binghamton University. Binghamton – New York – United States of America. PhD candidate in Sociology under the supervision of Jason Moore, in Sociology, Binghamton University. Email: [email protected]
TILZEY, Mark. Political ecology, food regimes, and food sovereignty: crisis, resistance, and resilience. Cham: Palgrave MacMillan, 2018. Resenha de: CUNHA, Daniel. Nature, Food, Crisis: New Problems, Old Debates. Almanack, Guarulhos, n.20, p. 282-286, set./dez., 2018. Acessar publicação original [DR]
A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito | Marco Morel
O livro, como todos eles, tem um itinerário que extrapola em muito o tempo consumido em sua escrita. Marco Morel começou a pensar na temática ainda muito jovem, em 1989, quando apresentou um trabalho nas comemorações do bicentenário da Revolução Francesa organizadas por Michel Vovelle na Sorbonne. Naquela oportunidade, o historiador expôs uma hipótese original, a de que a revolução Haitiana tinha influenciado mais o Brasil que a própria Revolução Francesa. Vinte e sete anos depois, Morel permite que o público conheça os desdobramentos daquela primeira inquietação.
A Revolução do Haiti e o Brasil escravista se inscreve em um conjunto maior de publicações que aborda os “rumores”, influências, conexões e ecos da Revolução de Saint-Domingue no espaço do Caribe ou do continente americano. Revolução que se desenvolveu entre 1791 e 1804, quando finalmente foi declarada a independência, e a porção ocidental da ilha, que tinha sido chamada por Cristóvão Colombo de “La Española”, tomou o nome de Haiti [3]. Embora balizada entre esses dois anos, os desdobramentos da Revolução e do abolicionismo se estenderam por muitos mais. O livro propõe uma dupla temporalidade: a de 1791-1825 para o Haiti e a de 1791-1840 para o Império do Brasil. No primeiro caso, o período se delimita entre o início da Revolução no território insular e o reconhecimento francês da independência. No segundo, entre o mesmo início e o fim do período regencial.
Apesar de a perspectiva da conexão Haiti-Brasil ter uma longa tradição na história do pensamento social brasileiro, o viés “positivado” da Revolução foi muito menos explorado que o do temor senhorial ou administrativo ao chamado haitianismo [4]. O próprio vocábulo, neologismo do século XIX, surgiu carregado de negatividade, como sinônimo de anarquia, subversão (inversão da ordem), “governo dos negros”.
Morel inscreve seu livro na perspectiva do acolhimento dos acontecimentos caribenhos, mas o ponto de vista é o da história do Brasil.
A admissão/adoção do ideário haitiano no Brasil como modelo social (igualitarismo racial, abolicionismo, direitos de cidadania, redistribuição da terra) ultrapassa, segundo o autor, o âmbito da escravidão, incluindo sectores letrados e não letrados livres. Como se propõe a tratar da recepção da Revolução de Saint-Domingue, principalmente de sua aceitação, já não no formato de artigos, como tinha feito antes, mas numa obra de maior fôlego, o autor estrutura o livro em três capítulos: “A Revolução do Haiti – breve apresentação”, “Entre batinas e revoluções” e “Os fios de uma teia”.
No primeiro, é-nos advertida sua necessidade. Apesar de não ser um livro sobre o Haiti, considera o autor que uma introdução à Revolução é fundamental como protocolo ou pré-requisito de leitura, para o qual adota uma morfologia pouco frequente em livros acadêmicos: uma cronologia de 16 páginas exposta em forma de tabela; breves biografias das lideranças revolucionárias; um apanhado do vocabulário de época; uma descrição de ocupação e exploração da parte ocidental da ilha; a análise de um projeto de classificação racial do fazendeiro e escritor colonial Médéric Louis Élie Moreau de Saint Méry publicado em 1796, comparando-o com o do maranhense Raimundo José de Souza Gayoso, que em seu Compêndio histórico-político dos princípios da lavoura do Maranhão propunha uma classificação adotando a de Saint Méry; e, por último, uma tabela comparando as diferentes constituições desde 1801 – ainda como colônia autônoma – até 1816.
Um primeiro capítulo tão heterodoxo em sua composição nos lembra o romance de Daniel Maximin, L’Isolé soleil, analisado por Laurent Dubois. A personagem Marie Gabriel tenta escrever a história da ilha, Guadalupe, para a qual utiliza o diário de Jonathan, peça elaborada e abandonada por um antepassado seu – o texto não é um diário propriamente dito, mas um álbum de recortes de distintas fontes [5]. Para escrever a história dessa outra ilha, Haiti, Morel recorre a esse gênero constituído por recortes, fragmentos que são necessários para a recomposição do todo.
O segundo capítulo busca tecer as relações entre a França revolucionária, Saint- Domingue e o Brasil a partir dos escritos de três abades: Raynal, Grégoire e de Pradt. Nas páginas do livro, vemos surgir um Raynal idealizado: antiescravista, anticolonialista. As predições do abade sobre o futuro da escravidão africana podem ser interpretadas mais como advertência do que como condenação. Ou, nas palavras de Trouillot, como um “projeto de administração colonial. De fato [o pensamento de Raynal] incluía a abolição da escravidão, mas a longo prazo e como parte de um processo que aspirava a um melhor controle das colônias” [6]. O mesmo pode ser dito da apresentação do abade Grégoire. De qualquer forma, os três funcionam como mediadores letrados das revoluções atlânticas. Os três mantêm algum tipo de relação com o Brasil, presente em seus escritos sobre a escravidão/situação colonial. A busca de Grégoire por um escritor negro em língua portuguesa para sua obra De la Littérature des nègres (1808) o levou a estabelecer contatos no Brasil com Monsenhor Miranda, com quem manteve relação epistolar. A segunda parte do capítulo reconstitui certa formalização de ideias sobre o Haiti e sobre a Revolução do ponto de vista de letrados brasileiros. Afora os três abades, um punhado de escritos locais serve ao autor para evidenciar as conexões revolucionárias atlânticas, sobretudo no nível das ideias.
É no final deste capítulo e a partir da fala do terceiro abade, de Pradt, que Morel nos introduz no subtítulo do livro: “o que não deve ser dito”. Morel atribui a de Pradt a autoria sobre as estratégias comunicativas a respeito da Revolução do Haiti assentadas sobre dois eixos: “a rejeição dos horrores de São Domingos e a ocultação da densidade e das múltiplas possibilidades de seu exemplo histórico” [7]. Para Morel, esses dois eixos podem ser sintetizados como “o maldito e o não dito”.
Embora os silêncios e as ausências tenham nas ciências sociais uma base sólida de conceitualização e análise, foi o antropólogo Michel-Rolph Trouillot quem lhe deu a forma mais acabada em relação ao Haiti com seu livro Silencing the past: “a revolução era impensável no Ocidente embora tampouco fosse verbalizada entre os próprios escravos”, em grande medida porque as reivindicações seriam radicais demais para se expressar em palavras: abolição, expropriação, distribuição da propriedade etc. Esses princípios “só poderiam reivindicar-se quando impostos pelos fatos”. Nesse sentido, diz, “a revolução estava realmente nos limites do concebível” [8]. Mas Trouillot consegue romper o silêncio e encher o livro de alocuções.
O terceiro capítulo começa com a instigante frase: “Poucos personagens encarnam no Brasil a proximidade com o exemplo da Revolução do Haiti como Emiliano Felipe Benício Mundurucu”. O documento principal para apresentar Mundurucu é o texto autobiográfico breve que o brasileiro publicara em Caracas em 1826, mas, para certa decepção de Morel, Mundurucu não fala nada sobre o que seria uma pauta haitiana, senão da pauta do momento nas repúblicas americanas: republicanismo, liberdade, antidespotismo. Utiliza metáforas como “algemas do despotismo” para referir-se aos presos de 1817. Com isso, ele não foi mais longe do que a filosofia política ocidental. Disse Susan Buck-Morss que, no século XVIII, a escravidão havia se tornado a metáfora fundamental da filosofia política ocidental, enquanto a liberdade era considerada o valor político fundamental [9].
Mundurucu foi major do batalhão de pardos durante a Confederação do Equador. Como o autor diz, seu nome se apresenta em fugazes registros na historiografia, vinculado a uns versos sediciosos naquele contexto da revolta:
Marinheiros e caiados
Todos devem se acabar
Porque só pardos e pretos
O país hão de habitar
{…}
Qual eu imito Cristóvão
Esse Imortal haitiano
Eia! Imitai o seu povo
Oh meu povo soberano.
O capítulo traz outra trajetória singular, a do pastor negro, protestante, Agostinho José Pereira, “que alfabetizava negros e pregava contra o catolicismo na década de 1840” e, nessa tarefa, introduzia algumas ideias favoráveis ao Haiti. Nesse caso, como no anterior, trata-se de um haitianismo (no sentido positivo) difuso, próximo daquele que assumia o republicanismo hispano-americano. Um caráter difuso análogo ao da enunciação “mata caiados” para lembrar (timidamente) dos milhares de espanhóis mortos pelo Padre Hidalgo e seus seguidores na sua jornada. É provável que Mundurucu tenha refinado ainda mais sua pauta haitiana em sua estadia na Venezuela, onde o “haitianimo” teve forte influência desde o final do século XVIII.
Como evidencia Morel na última parte do livro, no século XIX fica difícil pensar num único Haiti. As divisões internas entre o Reino de Henri Christophe (1807-1820) ao norte e a República mulata de Alexandre Pétion (1807-1818) ao sul, posteriormente liderada por Jean-Pierre Boyer, deixam patente a complexidade de ecoar, refletir ou se conectar com uma realidade haitiana, sem falar na pertinência de se referir a um único haitianismo.
Escrito de maneira didática e clara, o livro é leitura obrigatória para os alunos de graduação em história que queiram ter uma primeira aproximação à Revolução do Haiti e suas conexões com o Brasil do século XIX.
Notas
3. FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana e a Revolução Haitiana. Almanack, Guarulhos, n. 3, p. 37-53, jan./jun. 2012; GÓMEZ, Alejandro. La Revolución Haitiana y la Tierra Firme hispana. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 17 février 2006, Disponível em: <http://journals.openedition.org/nuevomundo/211>. Acesso em: 7 nov. 2018; GONZÁLEZ-RIPOLL, María Dolores Navarro et al. El rumor de Haití en Cuba: Temor, raza y rebeldía (1789-1844). Madri: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004, entre outros.
4. SILVA, Luiz Gerardo. El impacto de la revolución de Saint-Domingue y los afrodescendientes libres de Brasil. Esclavitud, libertad, configuración social y perspectiva atlántica (1780-1825). Historia, Santiago, v. 49, n. 1, p. 209-233, jun. 2016. NASCIMENTO, Washington Santos. São Domingos, o grande São Domingos: repercussões e representações da Revolução Haitiana no Brasil escravista. Dimensões, Vitória, v. 21, p. 125-142, 2008; SOARES, Carlos Eugênio Líbano; GOMES, Flávio. Sedições, haitianismo e conexões no Brasil escravista: outras margens do atlântico negro. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 63, p. 131-144, jul. 2002; REIS, João José. Quilombos e revoltas escravas no Brasil. Revista USP, São Paulo, v. 28, p. 14-39, dez./fev. 1995/1996.
5. DUBOIS, Laurent. Los cimarrones en los archivos: los usos del pasado en el Caribe Francés. JBLA, [S.l.], v. 46, n. 5. p. 60-82, 2009.
6. TROUILLOT, Michel-Rolph. Silenciado el pasado. El poder y la producción de la história, Granada: Comares, 2017, p. 68
7. MOREL, Marco. Op. cit., p. 160.
8. TROUILLOT, Michel-Rolph. Op. cit., p. 74.
9. BUCK-MORSS, Susan. Hegel e Haiti. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, v. 90, p. 131, jul. 2011.
Referências
BUCK-MORSS, Susan. Hegel e Haiti. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, v. 90, p. 131, jul. 2011.
DUBOIS, Laurent. Los cimarrones en los archivos: los usos del pasado en el Caribe Francés. JBLA, {S.l.}, v. 46, n.5. p. 60-82, 2009.
FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana e a Revolução Haitiana. Almanack, Guarulhos, n. 3, p. 37-53, jan./jun. 2012.
GÓMEZ, Alejandro. La Revolución Haitiana y la Tierra Firme hispana. Nuevo Mundo Mundos Nuevos {En ligne}, Débats, mis en ligne le 17 février 2006, Disponível em:<Disponível em:http://journals.openedition.org/nuevomundo/211 >. Acesso em:7 nov. 2018.
GONZÁLEZ-RIPOLL, María Dolores Navarro et al. El rumor de Haití en Cuba: Temor, raza y rebeldía (1789-1844). Madri: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2004.
MOREL, Marco. A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito. Jundiaí: Paco, 2017.
NASCIMENTO, Washington Santos. São Domingos, o grande São Domingos: repercussões e representações da Revolução Haitiana no Brasil escravista. Dimensões, Vitória, v. 21, p. 125-142, 2008.
REIS, João José, Quilombos e revoltas escravas no Brasil. Revista USP, São Paulo, (28), 14-39, dez. fev.1995/1996.
SILVA, Luiz Gerardo. El impacto de la revolución de Saint-Domingue y los afrodescendientes libres de Brasil. Esclavitud, libertad, configuración social y perspectiva atlántica (1780-1825). Historia, Santiago, v. 49, n. 1, p. 209-233, jun. 2016.
SOARES, Carlos Eugênio Líbano; GOMES, Flávio. Sedições, haitianismo e conexões no Brasil escravista: outras margens do atlântico negro. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 63, p. 131-144, jul. 2002.
TROUILLOT, Michel-Rolph. Silenciado el pasado. El poder y la producción de la história, Granada: Comares, 2017.
María Verónica Secreto – Universidade Federal Fluminense. Niterói – Rio de Janeiro – Brasil. Possui graduação em História – Universidad Nacional de Mar Del Plata – Argentina (1991), mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense (1995) e doutorado em Ciência Econômica/História Econômica pela Universidade Estadual de Campinas (2001). Foi professora efetiva na Universidade Federal do Ceará (2002-2004) e na Federal Rural do Rio de Janeiro (2004-2008), atuando nessa última no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Agricultura e Sociedade. Atualmente é professora Associada da Universidade Federal Fluminense, atuando na graduação em História da América e no Programa de Pós-graduação.
MOREL, Marco. A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito. Jundiaí: Paco, 2017. Resenha de: SECRETO, María Verónica. A Revolução de Saint-Domingue e sua conexão continental: de Toussaint a Mundurucu. Almanack, Guarulhos, n.20, p. 287-290, set./dez., 2018. Acessar publicação original [DR]
Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (1822-1850) | Alain El Youssef
Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (1822-1850) é resultado da dissertação de mestrado de Alain El Youssef, defendida em 2010, no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de São Paulo. Na obra, o autor analisa como a temática do tráfico negreiro foi abordada nos periódicos do Rio de Janeiro desde o ano de 1822, marco da proclamação da independência do Brasil, até a década de 1850, quando houve a aprovação da Lei Eusébio de Queirós e o tráfico no Império brasileiro foi legalmente abolido. Ao eleger o tráfico negreiro e a escravidão nos periódicos como seu objeto de estudo, Youssef se contrapõe a autores da historiografia brasileira que postularam a ausência de debates relativos a esses temas na imprensa do Rio de Janeiro até a década de 1870 [1]. A obra é, portanto, historiograficamente, uma afirmação desta presença.
Além de constatar essa existência, o autor procura demonstrar como diferentes grupos políticos se utilizaram da imprensa, desde o Primeiro Reinado, como estratégia e instrumento para a formação de uma “opinião pública” sobre questões, entre outras matérias, relativas ao fim do tráfico negreiro para o Império do Brasil. Segundo Youssef, essa estratégia tinha como intuito “preparar o terreno” para a discussão pública de determinados temas que estavam ou entrariam em voga no parlamento imperial. Por outro lado, o autor busca evidenciar como esses mesmos grupos políticos recorriam ao argumento da “opinião pública” para legitimar suas pautas.
Neste sentido, são importantes para a construção do argumento de Youssef as categorias de espaço público e opinião pública, adotadas a partir das perspectivas de François-Xavier Guerra [2] e Marco Morel [3]. Aqui, a imprensa é vista como um espaço público na medida em que se constituía como um lugar no qual ocorriam interações de diversas naturezas entre agentes históricos. Por sua vez, a opinião pública é “tratada como um conceito que os coevos dos séculos XVIII e XIX utilizavam para legitimar suas práticas políticas, principalmente aquelas que visavam influir a administração pública” (p. 30).
Embora a imprensa não seja apresentada na obra enquanto uma espécie de partido propriamente dito, menos ainda nos termos empregados no século XXI, Youssef procura chamar a atenção dos leitores para a importância que os periódicos, muito dos quais explicitamente partidários, tiveram na propagação dos ideais de moderados, exaltados e restauradores, luzias e saquaremas, liberais e conservadores, na complexa conjuntura política imperial. No que se refere ao tráfico negreiro em específico, o autor procura demonstrar como a imprensa teve um papel de suma importância na consolidação da política do contrabando negreiro no Brasil, empreendida pelos conservadores.
Segundo o autor, com o avanço do regresso, os conservadores passaram a fazer uma intensa campanha de defesa da reabertura do comércio negreiro em periódicos, tanto apresentando as vantagens econômicas da continuidade do negócio como publicizando as propostas de reabertura do tráfico transatlântico apresentadas ao parlamento brasileiro. Assim, para Youssef, a imprensa funcionou como uma espécie de elo de comunicação entre os políticos e proprietários de escravos interessados na continuidade do comércio negreiro, dando uma poderosa contribuição ao fortalecimento do contrabando e, consequentemente, ao aumento das cifras relacionadas a essa atividade.
Sobre a política do contrabando negreiro, é explícito o diálogo de Alain El Youssef com a leitura feita sobre o fim do tráfico por Tâmis Parron em suas produções recentes. Em certa medida, o livro de Youssef é complementar à dissertação de mestrado de Parron, reformulada em livro com o título A política da escravidão no Império do Brasil (1826-1865) [4] em 2011. Ambos buscam analisar o fim do contrabando negreiro através da história política, a partir das perspectivas de segunda escravidão de Dale Tomich [5], e de economia-mundo/sistema-mundo, de Immanuel Wallerstein [6], e procuram entender como os debates e interesses político-econômicos em torno da (des)continuidade do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil estavam inseridos dentro de um contexto maior de transformações socioeconômicas mundiais no período. Partindo de tantos pontos em comum, é principalmente nas fontes que Youssef e Parron tomam caminhos diferentes. Enquanto os discursos parlamentares são os principais documentos históricos empregados na análise da narrativa de Parron, Youssef constrói sua narrativa a partir dos periódicos cariocas – o que confere complementaridade às duas obras.
Por pensar seu objeto a partir de uma perspectiva ampliada, Youssef procura entender a imprensa (assim como o tráfico negreiro) dentro das transformações ocorridas no mercado e na sociedade mundial no período. Dessa maneira, o autor busca demonstrar como a expansão do capitalismo, a queda de monarquias absolutistas, as revoluções de independência no Novo Mundo e a reconfiguração das áreas fornecedoras de importantes commodities para o mercado mundial, entre outros fatores, também contribuíram para a difusão de novas (ou modernas) formas de sociabilidades, que passam a conviver com as do Antigo Regime. No caso da imprensa, essas transformações teriam oportunizado a proliferação de impressos, a abolição/diminuição da censura, o surgimento de espaços de leitura e sociabilização das ideias presentes nestes impressos, e, como consequência, possibilitado a emissão de julgamentos por parte do público aos acontecimentos a ele contemporâneos.
Em termos de leitura histórica, outra produção historiográfica cuja influência sobre o livro de Youssef é notável é O Tempo Saquarema, de Ilmar Mattos [7]. Obra de referência sobre a história do Brasil Império, publicada pela primeira vez em fins da década de 1980, O Tempo Saquarema aborda elementos centrais contidos no livro de Youssef, como a relação entre expansão cafeeira, formação de projeto político imperial centralizador, continuidade do tráfico negreiro e o papel político-econômico britânico neste contexto. No entanto, Youssef distancia-se de Mattos em dois aspectos centrais do seu trabalho, a imprensa e a pressão inglesa. Enquanto Mattos, na perspectiva gramsciana, entende como secundário o papel da imprensa e das organizações civis consideradas privadas na construção da coalização entre proprietários do centro-sul e o grupo conservador na política imperial, Youssef apresenta a imprensa como tendo um papel central neste processo. Segundo o autor, a imprensa foi uma das principais responsáveis para que essa aliança, assim como a política do contrabando negreiro, tenha alcançado êxito.
Sobre o papel britânico nesse contexto, enquanto para Mattos os interesses internos da classe dirigente são vistos como predominantes, embora a pressão externa não seja ignorada, Youssef atribui protagonismo à pressão externa sobre as decisões relativas ao tráfico negreiro adotadas pelo governo imperial. Para o autor, a intensificação da pressão britânica pelo fim do comércio negreiro para o Brasil em meados da década de 1840 – e, inclusive, a iminência de um conflito armado entre as duas nações – por exemplo, não deixou alternativas aos Saquaremas senão a defesa do fim do contrabando. O grupo retornaria aos periódicos para preparar o terreno, desta vez para a abolição do tráfico.
A respeito disso, observa-se que Youssef também se distancia de recentes produções historiográficas brasileiras sobre o fim do tráfico negreiro que, embora não desprezem a importância que a pressão britânica teve sobre os rumos tomados por esta atividade, têm repensado como outros fatores influenciaram o fim do comércio proibido de escravos [8]. O autor procura demonstrar que fatores como o haitianismo, para citar um dos aspectos apontados recentemente pela historiografia, que também é mencionado pelo autor, não teve grande peso sobre o fim do tráfico transatlântico de africanos escravizados para o Brasil. Youssef avalia que o haitianismo foi utilizado na imprensa do Rio de Janeiro muito mais como argumento retórico do que como um temor real.
Na obra de Alain El Youssef, a imprensa é, ao mesmo tempo, fonte e objeto histórico, informações que o autor deixa explícitas já no princípio da obra. Sobre isso, nota-se que, ao adotar a imprensa também como objeto, o autor consegue ir além do texto publicado. Investigando, por exemplo, as vinculações partidárias dos editores dos periódicos que consultou, é capaz de acessar alguns dos interesses existentes por trás das notícias veiculadas. Assim, o autor não deixa de chamar atenção para o modo como parte da historiografia brasileira tem utilizado a imprensa. Ao analisar os periódicos pontualmente, muitas vezes sem levar em consideração as vinculações das publicações, a historiografia acaba por reproduzir um discurso enviesado. Neste sentido, chama a atenção para a necessidade de se observar o enviesamento existente nas publicações.
Ao fazer a leitura deste livro no ano de 2018, período indubitavelmente conturbado da política brasileira, não poderia deixar de mencionar a atualidade da obra. Através do livro de Youssef verificamos como o argumento político da “opinião pública” e a construção politicamente enviesada da “opinião pública” pela imprensa têm sido empregados ao longo do tempo para conformar os rumos da história do Brasil.
Notas
1. Cf. KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. SOUZA, Christiane Laidler de. Mentalidade escravista e abolicionismo entre os letrados da Corte (1808-1850). Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1994.
2. GUERRA, François-Xavier. Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. México: Mapfre/Fondo de Cultura Económica, 1992.
3. MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
4. PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
5. Cf. TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
6. Cf. WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world system: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Nova York: Academic Press, 1974. vol. 1. Idem. The capitalist world-economy. Nova York: Cambridge University Press, 1979. Idem. The modern world-system: mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750. Nova York: Academic Press, 1980. vol. 2.
7. MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. São Paulo: Hucitec; Brasília: INL, 1987.
8. Dentre as produções que repensaram o papel da pressão britânica destacamos os estudos de Sidney Chalhoub, Flávio Gomes, João José Reis, Jaime Rodrigues e Robert Slenes. Cf.: CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, século XIX, ed. rev. e ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835, ed. rev. e ampl., 1ª reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas, SP: Editora da Unicamp, Cecult, 2000. SLENES, Robert. “Malungu, Ngoma vem!”: África coberta e descoberta no Brasil. Revista USP, n. 12, 1992.
Referências
CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
GOMES, Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, século XIX, ed. rev. e ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
GUERRA, François-Xavier. Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. México: Mapfre/Fondo de Cultura Económica, 1992.
KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. São Paulo: Hucitec; Brasília: INL, 1987.
MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835, ed. rev. e ampl., 1ª reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas, SP: Editora da Unicamp, Cecult, 2000.
SOUZA, Christiane Laidler de. Mentalidade escravista e abolicionismo entre os letrados da Corte (1808-1850). Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1994.
SLENES, Robert. “Malungo, Ngoma vem”: África coberta e descoberta no Brasil. Revista USP, n. 12, 1992.
TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world system: capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Nova York: Academic Press, 1974. vol. 1.
WALLERSTEIN, Immanuel. The capitalist world-economy. Nova York: Cambridge University Press, 1979.
WALLERSTEIN, Immanuel. The modern world-system: mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750. Nova York: Academic Press, 1980. vol. 2.
YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: Intermeiros; Fapesp, 2016.
Silvana Andrade dos Santos – Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói – Rio de Janeiro – Brasil. Doutoranda, PPGH-UFF, bolsista do CNPq. E-mail: [email protected]
YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (1822-1850). São Paulo: Intermeios; Fapesp, 2016. Resenha de: SANTOS, Silvana Andrade dos. Imprensa como partido: “opinião pública” e tráfico negreiro em periódicos cariocas. Almanack, Guarulhos, n.19, p. 331-337, maio/ago., 2018. Acessar publicação original [DR]
The reinvention of Atlantic slavery: technology – labor – race and capitalism in the Greater Caribbean | Daniel B. Rood
There has been a revival of the capitalism in the United States since the great recession of 2008. The New Historians of Capitalism (NHC) have created new academic programs and departments at Harvard, Cornell, Brown and the New School for Social Research. This is welcome relief from the “linguistic turn”, returning historical inquiry to the systematic investigation of social and economic structures. However, the New Historians insist that in order to reinvent the study of capitalism, they must abandon any attempt to specify what they mean by capitalism [3]. However, as Althusser argued – “silences are not innocent” -, the New Historians do have an implicit conceptualization of capitalism. Essentially, they adapt Adam Smith’s notion of “commercial society” [4], where capitalism is any economy geared toward profit maximization through productive specialization and market exchange. They also include among capitalism’s features as warfare, finance and legal-physical coercion in the appropriation of surplus labor. Put another way, the New History of Capitalism identifies capitalism with social processes like trade, finance and violence, which have existed for most of the last eight to ten thousand years.
This implicit understanding of capitalism contrasts with most Marxian accounts which view capitalism as a distinctive set of social property relations (social relations of production) with specific rules of reproduction (laws of motion) [5]. From this perspective, capitalism is the first form of social labor in which both non-producers (capitalists) and producers (workers) reproduce themselves through market competition. Capitalists are thus compelled to specialize output, continually introduce labor-saving technology, and accumulate capital in order to reduce costs and maximize profits in a competitive “war of all against all.”
Not surprisingly, the New History of Capitalism has radically altered the study of new world plantation slavery. Walter Johnson, Edward Baptist and Sven Beckert [6] argue that new world slavery was not some atavistic throwback to pre-capitalist societies, but a thoroughly capitalist form that was the foundation to the development of industrial capitalism in both Britain and the United States in the late eighteenth and early nineteenth century. Despite their commonalities, there is considerable debate among these historians about the respective role of physical coercion and technological innovation in the increases in productivity of slave labor, in particular in the harvesting of cotton in the antebellum United States [7]. Daniel Rood’s The reinvention of Atlantic slavery clearly situates itself in the emerging cannon of the New History of Capitalism on plantation slavery, while coming down clearly on the side of those who argue that the master-slave relation was no obstacle to the introduction of labor-saving technology during the “second slavery” of the nineteenth century.
The “second slavery” refers to the revival of plantation slavery in the nineteenth century, after the “colonial slavery” of the seventeenth and eighteenth centuries ended with the Haitian Revolution, the British attempt to suppress the Atlantic slave trade, and the gradual emancipation of slaves in the Jamaica and other British colonies. Most studies of the “second slavery” focus on the US slave produced cotton providing the raw material for British industrialization [8] and Cuban and Louisiana plantations providing the sugar that began to substitute for other, more nutritious and expensive foods in the diets of British workers [9] Rood broadens this discussion by incorporating the “Great Caribbean” nexus between Cuba, Brazil and the upper US South, in particular Virginia.
Faced with sharpening competition from European beat sugar producers and US and British tariffs, Cuban cane sugar planters “responded by adapting European industrial technologies, combining planting with finance, taking control of modern transport infrastructure, and vanquishing small landholders to grab a larger share of the market” (p. 2). The transformation of Cuban slavery forged new connections with the upper US South, which provided extensive engineering and technical expertise to build mills and railways and slave cultivated wheat to feed the island. Simultaneously, the shift in Brazilian slavery from declining sugar plantations in the northeast to more dynamic coffee cultivation in the southeast created new ties with Virginia wheat planters and railway engineers. Throughout this “Great Caribbean” nexus, new labor-saving technology was applied to both production and transportation, and the “race management” of labor was transformed as African slaves’ practical knowledge was appropriated to “creolize” new machinery, and planters began to use new forms of coerced labor, in particular Chinese indentured servants.
Rood begins by retelling the now familiar story of the transformation of the Cuban sugar refining mills and the construction of railroads during the 1830s and 1840s [10]. Faced with increased global competition, Cuban sugar planters built railroads to quickly transport cut cane to the mills from their ever expanding plantations before it spoiled, introduced steam powered crushing of the cane, and replaced the labor-intensive Jamaica train with the vacuum pan in the refining of white sugar. Rood breaks new ground with his investigation of innovations in the preservation of white sugar, where racially ‘tinged” science that assigned manual labor to “darker” people is linked to the struggle to preserve the “purity” of sugar for the US and European markets. His discussion of the transformation of the port of Havana is especially insightful. Havana had experienced a shift from the dominance of middling merchants, whose profits depended upon storage fees, and sales commissions, to a “new generation of Spanish-born elite merchant-planters” whose income came “from buying and selling sugar on the world market, financing illegal slaving voyages, and underwriting sugar-mill operations” (p. 67). To facilitate their new role in the global sugar trade, these merchant planters rebuilt the ports in Havana, introducing railway depots, constructing new warehouses and mechanizing the ports in order to keep “sugar in gentle but unceasing movement” (p. 67). While profiting from the increased speed of circulation, the merchants also remade the port work force replacing black (free and slave) workers with Europeans and Chinese laborers.
Railroad construction in both Cuba and Brazil in the mid-nineteenth century created new connections with the upper South. Rood details how Virginia construction engineers and their slaves were essential to the construction and operation of railroads in new, tropical terrains in the “Great Caribbean”. Skilled slaves were crucial, in the upper US South, Cuba and Brazil in constructing rail lines and operating them – despite widespread planter and merchant fear of relying upon these bonded, racialized workers. The spread of railways also created a new, modern iron industry in the upper South. The Tredgar Iron Mills in Richmond, Virginia was one of the largest and most technologically advanced iron producers in the US, relying on the labor of slaves leased by the mill owners from their owners.
The mid-nineteenth century also saw the shift in the center of Brazilian slavery from the increasingly uncompetitive sugar plantations in the northeast to the highly profitable coffee plantations in the southeast, the hinterland of Rio de Janeiro. Again, railroad construction, often by US trained engineers, was central to the expansion of the coffee frontier. As the population of Rio grew, and more and more lands were shifted from the production of foodstuffs for domestic consumption to the cultivation of coffee for export, a new market emerged for the fine white flour produced in Virginia. In the early nineteenth century, Virginia planters began to shift from tobacco to wheat, breaking up their plantations and selling off excess slaves to the booming cotton frontier of the US southwest. By the 1840s and 1850s, the growing Brazilian demand for high quality white flour transformed both flour-milling technology and the preservation and storage of white flour in the Richmond area. The Richmond mills continued to rely on water-power but were relatively capital-intensive and utilized the labor of skilled, leased slaves.
The deepening Virginia-Rio nexus also transformed the harvesting of wheat in Virginia. Rood reveals how the expanding wheat farms of the Shenandoah Valley were the incubator for Cyrus McCormick development of his mechanized grain reaper in the 1830s and 1840s. Ripened wheat has an especially short window before it spoils, placing tremendous pressure on wheat producers to harvest and thresh the wheat as quickly as possible. Rood outlines how McCormick relied on the labor of skilled slave black smiths, wheat cradlers, and carpenters in the development of the harvesting machine that would radically transform US small grain agriculture in the mid-nineteenth century.
Rood’s book bring important new insights to the history of the “second slavery” by broadening its scope beyond the US cotton-Cuban sugar-British textile industry node, to include the “Great Caribbean” nexus of Cuban sugar-upper South technical expertise, iron and wheat-Brazilian coffee. His accounts of the transformation of the port of Havana, and of wheat cultivation and processing in Virginia are important additions to our historical knowledge. However, the book suffers from a number of conceptual and historical problems.
First, Rood uses the term “creolization” to discuss the adaptation of technologies to specific production processes in specific geographic-ecological locations. While Rood reestablishes the role of slaves in the adaptation of existing techniques in railroad construction, flour milling and farm implement construction, he sometimes implies that there is something unique about the pragmatic sharing of experimental information on technology among agricultural and industrial producers. This was actually quite typical of technical innovation before the late nineteenth century, when miners, skilled artisans and midwives were often the most important figures in the development and application of scientific knowledge [11]. It was only during the second industrial revolution (steel, chemicals, electrical power-machinery) of the 1890s, that capital took control of scientific research with the proliferation of “research and development” departments in major corporations.
Rood’s use of “race management” is also problematic. As developed by David Roediger and Elizabeth Esch [12], race management referred to the pragmatic way in which the ideological notion of race (the division of humanity into groups with distinct and unchangeable characteristics) is used to classify and distribute workers into various positions in the production of commodities. These categories were highly flexible in light of the ever-changing demands of the market-driven production of commodities. Rood tends to emphasize the racial anxieties experienced by slave owners as technology changed labor-requirements, but has little to say about how they adapted their “racial theories” to meet the new requirements of production. This often goes hand in hand with important errors in analyzing the impact of new techniques on labor requirements. Specifically, Rood reiterates Moreno Fraginals’ claim that the introduction of the vacuum pan raised the level of skill and knowledge required in the refining of sugar, creating a crisis of “racial management.” As Dale Tomich points out [13], it was the earlier technology – the Jamaica Train – that relied heavily on the intelligence and experience of skilled slaves. The vacuum pan, by automating the process of sugar refining, actually deskilled labor in that phase of sugar production.
The greatest problems with Rood’s analysis flow from his uncritical acceptance of the New Historians’ common sense that slavery was a capitalist form of production. There is no question that slave-owners in the US were, for the most part, subject to “market compulsion.” Slave holders throughout the new world had to borrow capital to purchase their basic means of production – land and slaves. In the British colonies and most of the southern United States faced the loss of land and slaves if they failed to pay these debts. Put in another way, they were subject to what John Clegg has called “credit market discipline” [14] – they had to successfully compete in the global market in order to preserve (no less expand) their ownership of land and slaves. Rood never makes the case that Cuban planters faced these constraints, or whether, like French colonial planters, they were exempt from the loss of land and slaves for the failure to pay debts [15] Clearly, those planters subject to “credit market discipline” sought to cut costs in order to remain competitive – they sought to adapt the most up to date innovations in crop varieties, fertilizers, tools and methods.
The master-slave social property relation, however, prevented the planters from continually adapting the latest, labor-saving tools and methods [16]. The obstacle to the continuous adaptation of labor-saving techniques was not any lack of motivation or skill on the part of their bonded laborers. Instead, it was the reality that slave-holders did not purchase the labor-power of the slaves (their ability to work for a set period of time), but the laborers as “means of production in human form”. Put in another way, the slave was a form of fixed capital – a constant element of the production process that could not easily be expelled from production in order to facilitate the relatively continuous introduction of techniques that improved labor productivity. So, if planters introduced cost-cutting techniques that saved labor, they would not be able, like their capitalist counterparts, to simply lay that labor off. They would be stuck with continuing ownership of the laborer(s), having to keep them around until they could find purchasers for their surplus slaves.
It is true that, like other non-capitalist forms of social labor, slavery did bring about episodic improvements in productivity. However, unlike under capitalism, which tends to spur more or less ongoing technical change, innovation under slavery had a “once and for all” character [17]. Thus, the introduction of labor-saving techniques in Cuban sugar production and shipping, or in Virginia wheat cultivation did not set off a process of continuous technical innovation. Like other technical innovations under slavery, they corresponded to the introduction of new products or the movement of production to a new frontier. Once established, these new labor-processes remained relatively unchanged until new products were introduced, new geographic regions were brought under production, or slavery as a form of social labor was abolished. Those industries where there was continuous technical innovation, Virginia’s iron works and Rio’s bakeries, utilized leased slaves. Leased slaves were, like indentured servants, a form of legally coerced wage labor. Those who leased slaves essentially purchased their labor-power for a set period of time, and could easily expel that labor when new, more productive tools and methods became available.
The limitations the master-slave social property relation on continuous technical innovation is most evident in the case of the mechanized reaper. While Rood’s discussion of how McCormick’s initial motivation was to revolutionize Virginia’s wheat harvests is quite insightful, he never poses the question of why McCormick abandoned Virginia for Chicago when he turned to mass producing his mechanical reaper. Rood recognizes that there were serious obstacles to the diffusion and generalized adaptation of the reaper in Virginia’s slave based agriculture. Rood acknowledges that two large wheat planters who adapted the reaper found themselves “burdened by the presence of too many workers” (p. 189). Unlike wage laborers who could easily be laid-off when they were no longer needed, slave owners had to maintain their slaves in order to preserve their value as “means of production in human form”. While the wheat producers of Virginia were a relatively narrow market for the mechanical reaper, the petty-capitalist family farmers of north were an ever expanding market for the reaper and other labor-saving tools and machinery18. Not surprisingly, despite his personal sympathy for slavery, McCormick relocated his factory to be closer to his customers in the dynamic capitalist north.
Referência
ROOD, Daniel B. The reinvention of Atlantic slavery: technology, labor, race and capitalism in the Greater Caribbean. New York: Oxford University Press, 2017
Notas
3. ROCKHMAN, Seth. What makes the history of capitalism newsworthy? Journal of the Early Republic, n. 34, p. 442, Fall 2014. Similar arguments are made by most of the participants, including BECKERT, Sven. Interchange: the history of capitalism. Journal of American History, 101, n. 2, p. 503-36, September 2014.
4. SMITH, Adam An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. New York: Modern Library, 1937 [1776].
5. The concepts of social-property relations and rules of reproduction are derived from the work of BRENNER, Robert. Property and progress: where Adam Smith went wrong. In: WICKHAM, Chris (ed.). Marxist history-writing for the twenty-first century. London: British Academy/Oxford University Press, 2007. p. 49-111. Brenner’s work, of course, is rooted in Marx’s mature work in the three volumes of Capital.
6. JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013; BAPTIST, Edward. The half has never been told: slavery and the making of American capitalism. New York: Basic Books, 2014; BECKERT, Sven Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014. For a lengthy discussion of the strengths and weaknesses of these works, see POST, Charles. Slavery and the New History of Capitalism. Catalyst, 1, n. 1, p. 173-192, Spring 2017.
7. Baptist (2014) is the most articulate exponent of the physical coercion/torture thesis, while Alan J. Olmstead and Paul W. Rhode make a convincing case for the role of technical innovation in raising the productivity of slave labor in cotton harvests, in OLMSTEAD, Alan J.; RHODE, Paul W. Biological innovation and productivity growth in the antebellum cotton south. Journal of Economic History, 68, n. 4, p. 1123–71, 2008.
8. Beckert (2014) summarizes this literature.
9. MINTZ, Sidney. Sweetness and power: the place of sugar in modern history. Harmondsworth: Penguin Books, 1985.
10. FRAGINAL, Manuel Moreno. The sugarmill: the socioeconomic complex of sugar in Cuba, 1760- 1860. New York: Monthly Review Press, 1976.
11. CONNOR, Clifford D. A people’s history of science: miners, midwives, and low mechanicks. New York: Nation Books, 2005.
12. ROEDIGER, David; ESCH, Elizabeth. The production of difference: race and the management of labor in U.S. history. New York: Oxford University Press, 2012.
13. TOMICH, Dale. Slavery in the circuit of sugar: Martinique in the world economy, 1830-1848. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990. p. 199-201, 221-225.
14. CLEGG, John J. Credit market discipline and capitalist slavery in antebellum south Carolina. Social Science History 42, n. 2, p. 343-376, 2018. As it will become clear, I do not believe that market dependence made slaveholders capitalists.
15. BLACKBURN, Robin. The making of new world slavery: from the baroque to the modern. London: Verso, 1997. p. 282-83, 444-45.
16. The following is a summary of my argument in POST, Charles. The American road to capitalism: studies in class structure, economic development and political conflict, 1620-1877. Chicago: Haymarket Books, 2012. Chapter 2.
17. BRENNER, Robert P. The origins of capitalist development: a critique of neo-smithian Marxism. New Left Review 104, p. 36-37, July–August 1977.
18. POST, Charles, 2012. p. 94-97.
Charles Post – University of New York – New York – United States of America. Professor, Sociology, borough of Manhattan Community College and the Graduate Center-City University of New York. E-mail: [email protected]
ROOD, Daniel B. The reinvention of Atlantic slavery: technology, labor, race and capitalism in the Greater Caribbean. New York: Oxford University Press, 2017. Resenha de: POST, Charles. Capitalist slavery in the great Caribbean? Almanack, Guarulhos, n.19, p. 321-330, maio/ago., 2018. Acessar publicação original [DR]
Geografia da escravidão no Vale do Paraíba cafeeiro: Bananal 1850-1888 | Mrco Aurélio dos Santos
Geografia da escravidão no Vale do Paraíba cafeeiro: Bananal, 1850-1888, do historiador Marco Aurélio dos Santos, é mais uma das recentes contribuições para a historiografia brasileira que estuda a escravidão. Originário da tese de doutorado do autor, defendida no ano de 2014 no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, o trabalho revisita temas clássicos do debate acerca do passado escravista brasileiro. Autonomia escrava, roças cultivadas pelos cativos, formação de comunidades solidárias que uniam escravizados na luta contra as agruras do cativeiro e, em sentido mais geral, a oposição entre possibilidades e constrangimentos estruturais para a agência escrava são alguns dos aspectos retomados pelo historiador e que perpassam o texto.
O município de Bananal já foi bastante estudado, visto que se constituiu em um dos principais produtores de café do Brasil das primeiras décadas do século XIX.[1] No decênio de 1850 a localidade passou a ser a maior produtora de café da província de São Paulo, tendo alcançado o ápice de sua produção na década seguinte. A participação dos escravizados na composição total da população da localidade foi a maior entre os principais municípios do Vale do Paraíba Paulista, alcançando percentual de 53% (p. 35-37). Dessa forma, a chegada da rubiácea na região alterou profundamente a demografia da localidade. As relações sociais e políticas, pautadas pelas assimetrias características do escravismo, também sofreram mudanças drásticas em curto espaço de tempo. Isso sem mencionar toda a carga cultural trazida pelas levas de africanos introduzidos abruptamente na região via tráfico internacional ou interno de escravos.
O recorte cronológico privilegiado pelo autor é outro ponto bastante recorrente na historiografia da escravidão, na medida em que suas balizas marcam dois momentos centrais do passado escravista brasileiro. O livro aborda o intervalo temporal compreendido entre o final do tráfico internacional de escravos (1850) e o colapso da escravidão no Brasil (1888).
Se os pontos acima destacados, recortes geográfico e cronológico, não são propriamente inovadores, Marco Aurélio dos Santos agrega ao debate sobre escravidão e resistência cativa o estudo do elemento espaço. Mais precisamente, o autor estuda a espacialidade das fazendas cafeeiras escravistas. Por espacialidade entende a soma da cultura material (espaço material), das relações sociais (espaço social) e das interpretações e apropriações dos espaços (espaço cognitivo). (p. 26-28).
Subsidiado pela concepção acima, o argumento central que o autor sustenta é que, a um só tempo, o espaço agrário das zonas de produção cafeeira constituiu-se tanto em instrumento de dominação senhorial como em estratégia para resistência escrava. No primeiro sentido os senhores escravistas pensaram e utilizaram a espacialidade como mecanismo de imposição e de facilitação da ordem. No segundo viés os espaços foram ressignificados pelos cativos, que fizeram usos alternativos diferentes daqueles para os quais foram projetados. É fundamental para o entendimento do argumento a concepção, explicitada desde a introdução do trabalho e frequentemente retomada pelo autor, de que os espaços não são estáticos nem neutros. Muito pelo contrário, ganham sentido e significado por meio dos usos que os seres humanos fazem deles. Dessa forma, a espacialidade é entendida como somatória dos diversos espaços e como campo de ação. No caso em questão das fazendas de produção cafeeira de Bananal, puderam servir tanto para dominar quanto para resistir, a depender das intencionalidades dos indivíduos que atuaram e que interagiram com os espaços (p.21-28).
Marco Aurélio dos Santos construiu seu objeto de pesquisa proposto – a utilização plural dos espaços agrários de Bananal – primordialmente por via de uma série de processos criminais que envolveram cativos, independentemente da forma como apareceram: réus, vítimas, informantes ou testemunhas. Foram utilizados 146 processos distribuídos de forma desigual pelas décadas contempladas, com prejuízo para o decênio 1850, com apenas 4 processos.[2] Embora tenha trabalhado com documentação criminal, os crimes propriamente ditos não foram o aspecto central objeto da atenção do autor. A leitura e análise das fontes focou a interação dos personagens com a espacialidade: “A criminalidade de escravos e homens livres terá interesse apenas circunstancial. Partindo do par de conceitos controle/resistência, realizou-se uma leitura das fontes documentais que priorizou a análise da ação dos sujeitos no espaço” (p. 24).
Geografia da Escravidão está organizado em 3 capítulos, muito bem demarcados e antecedidos por uma consistente introdução na qual o autor apresenta e discute seus pressupostos teóricos, suas fontes e metodologia, com as ressalvas feitas acima, seus objetivos e argumentos centrais e específicos. Finaliza a introdução um breve histórico da localidade de Bananal no período selecionado, justificando os recortes temporais e espaciais da pesquisa.
No primeiro capítulo Marco Aurélio dos Santos se dedica ao estudo da espacialidade pelo viés dos proprietários escravistas, a geografia senhorial. Toda a constituição da arquitetura das fazendas cafeiculturas fora pensada com o intuito de favorecer o controle, a ordem, a otimização da produção, a fiscalização e a redução da mobilidade dos cativos. O livro traz no capítulo imagens e fotografias que contribuem para a argumentação do autor. Via de regra, as fazendas eram projetadas em quadriláteros funcionais que objetivavam o controle sobre o interior do quadrado. Todos os edifícios (senzalas, casas de vivenda e espaços de armazenamento e beneficiamento da produção) ficavam dispostos em quadra. Os demais espaços que as fazendas continham também seguiam o mesmo propósito de controle e disciplina: a enfermaria sempre trancada e de acesso restrito, o portão da fazenda que delimitava o espaço de mobilidade dos escravizados, o sino que disciplinava o tempo, as roupas que caracterizavam a condição cativa, os investimentos dos senhores sobre o corpo dos escravos (ferros no pescoço, por exemplo) contribuíram para a composição da geografia senhorial. O autor argumenta ainda que nos espaços públicos fora das fazendas, a movimentação e o tempo dos escravos eram disciplinados pelos Códigos de Posturas Municipais. A mecânica do funcionamento de todo este aparato foi percebida nos processos criminais utilizados.
No segundo capítulo, Marco Aurélio dos Santos destaca a noção de vizinhança como espaço social paulatinamente construído e como ação social articulada em espaço mais amplo, para além das fazendas. Importante também a abordagem ampliada sobre as redes de relacionamentos constituídas pelos escravizados. Durante muito tempo vistas pela historiografia como sinônimo de solidariedade, Marco Aurélio dos Santos amplia o olhar sobre as redes de relacionamentos entre os escravos. A solidariedade poderia ser apenas uma das possibilidades. No entanto, não raramente, as redes congregavam elementos contraditórios e foram também potencialmente conflituosas. O autor cita eventos que ilustram as possibilidades de mobilidade dos escravos, algumas consentidas pelos senhores, outras não. Constituíam assim redes de relacionamentos com escravizados de outros plantéis, passavam por caminhos que cruzavam outras fazendas e se relacionavam com homens livres, alforriados, comerciantes e demais personagens do mundo agrário e urbano da localidade de Bananal no período analisado.
No último capítulo de Geografia da Escravidão, Marco Aurélio dos Santos lança mão de forma mais abundante da documentação para estudar a “geografia dos escravos”, composta de usos alternativos dos espaços de plantação e do tempo. São vários os casos relatados de escravos que se apropriaram de uma espacialidade aparentemente hostil para encontrar alternativas para suavizar, resistir e até mesmo questionar a condição servil. Bastante elucidativo é o caso do escravo Constantino, cativo de Braz Barboza da Silva. Constantino foi libertado pelo Fundo de Emancipação em 1883. Porém, o senhor omitiu-lhe a informação. O detalhe interessante é que Constantino tinha mobilidade consentida para fora dos limites da fazenda para realizar tarefas demandas por seu senhor. Em uma dessas andanças ficou sabendo da própria ao entrar em contato com um indivíduo livre. O caso exemplifica uma das formas de lidar com a espacialidade projetada para controle e disciplina. Nas palavras do autor “Malgrado o funcionamento rotineiro da mecânica do poder senhorial, foi possível perceber que os escravos construíram uma geografia própria a partir dos conhecimentos de suas movimentações autorizadas para além do espaço de plantação” (p.30). O capítulo ainda aborda as fugas do cativeiro, definindo-as como o momento mais emblemático dos usos alternativos dos espaços de plantação. Não obstante a eficácia da geografia senhorial por todos os seus aparatos disciplinares, o capítulo demonstra claramente que os recursos para controlar e disciplinar os cativos não foram suficientes para conter movimentações e usos alternativos pelos próprios cativos.
Talvez caibam duas ponderações sobre a forma como Marco Aurélio dos Santos apresenta as fontes selecionadas. A primeira, de ordem metodológica e a segunda, de estética. A documentação utilizada não é alvo de uma apreciação crítica, visto que o autor não discute seus limites e possibilidades. Algumas reflexões seriam pertinentes. Por exemplo: quais os contextos de produção da documentação? Os escravos falam por si mesmo ou têm representantes? Quem eles seriam e quais suas intencionalidades? Em que medida tomar a utilização da espacialidade por meio dos processos criminais é representativo do cenário que o autor buscou retratar? Trazer para o texto essas e outras questões, que muito provavelmente acometeram o autor em algum momento da pesquisa, não invalidariam de forma nenhuma os resultados do trabalho. Somente lançariam luz sobre os limites e as possibilidades que o historiador encontra na relação com o passado e com seu objeto de pesquisa, além de esclarecer os métodos empregados.
Outra ponderação importante diz respeito à organização do trabalho. A forma como Marco Aurélio dos Santos optou por estruturar a narrativa deixa os capítulos compartimentados, talvez excessivamente esquemáticos. As partes acabaram por ser tornar demasiadamente estanques. O primeiro capítulo trata da espacialidade do ponto de vista senhorial, ao passo que o terceiro o faz da perspectiva dos cativos. Caso o autor tivesse feito uma opção mais dialógica, o texto se tornaria mais fluído, dinâmico e, principalmente, mais condizente com a realidade dialética que se propôs abordar, visto que os embates entre a geografia senhorial e a geografia escrava se davam de forma imbricada e emaranhada, não em tempos e formas separadas. Por mais que tenha sido uma opção didática perfeitamente compreensível, a organização do livro torna os capítulos 1 e 3 completamente independentes um do outro.
Um último ponto que causa estranheza no texto de Marco Aurélio dos Santos é a ausência de uma discussão que tem sido bastante recorrente e profícua entre os pesquisadores da escravidão que tomam por base o trabalho de Dale Tomich.[3] Este autor considera que a escravidão e o tráfico atlântico do século XIX não foram meras continuidades dos séculos anteriores. Nos Oitocentos assumiram características diversas, constituindo na verdade uma Segunda Escravidão. O trabalho cativo teria se reconfigurado de modo ainda mais potente, em alinhamento com a nova fase de desenvolvimento da economia mundial, sob égide da hegemonia britânica. Algumas das características apontadas por Tomich nessa nova fase das relações escravistas guardam íntima relação com o objeto de pesquisa proposto em Geografia da Escravidão. Entre outros elementos, a dinâmica peculiar do século XIX foi trazida pela expansão de zonas produtoras de artigos tropicais que tinham elevada e crescente demanda nos países centrais da Europa e nos EUA: o café (com grande participação da produção brasileira), o algodão e o açúcar. Ao negligenciar estranhamente esta discussão, visto que o autor dialoga frequentemente com historiadores que levam em conta as formulações de Tomich [4], o livro deixa de incorporar e conectar seu objeto de pesquisa com dinâmicas mais amplas da política e das relações internacionais, exercício recente e profícuo entre os pesquisadores da escravidão.
No entanto, transcorridas as páginas de Geografia da Escravidão, fica a certeza de que o autor cumpriu muito bem a árdua tarefa de trazer novos e originais elementos para um dos mais ricos debates da historiografia brasileira.
Notas
1. Marco Aurélio dos Santos dialoga com vários trabalhos sobre a localidade. A título de exemplo da produção historiográfica que privilegiou o recorte espacial de Bananal, somente no âmbito da história demográfica dois importantes trabalhos que abordaram a localidade em diferentes momentos do desenvolvimento da lavoura cafeeira foram: MOTTA, José Flávio. Corpos escravos, vontades livres: posse de cativos e família escrava no Brasil (1801-1829). São Paulo: Fapesp, Annablume, 1999. MORENO, Breno Aparecido Servidone. Demografia e trabalho escravo nas propriedades rurais cafeeiras de Bananal, 1830-1860. Dissertação (Mestrado em História Social) FFLCH/USP, São Paulo, 2013.
2. Conforme mencionado, a série de processos criminais constitui a fonte principal da pesquisa. De forma episódica foram utilizados pelo autor outras fontes: 27 inventários post-mortem, Códigos de Postura da Câmara Municipal de Bananal (1865 e 1886), livro do Fundo para Emancipação de escravos, ofícios diversos, Livro de Casamento de escravos, periódicos, relatos de viajante etc.
3. Embora o autor cite entre suas referências bibliográficas um dos trabalhos de Tomich na versão em língua inglesa e mencione o conceito na página 19 da introdução, a discussão sobre a Segunda Escravidão está ausente do texto, bem como a referência a versão em português do livro do autor. TOMICH, Dale W. Pelo Prisma da Escravidão: Trabalho, Capital e Economia Mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
4. Por exemplo: BERBEL, M., MARQUESE, R. B. e PARRON, T. Escravidão e política: Brasil e Cuba, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2011. MARQUESE, R. B.; SALLES, (orgs.). Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
Referências
BERBEL, M., MARQUESE, R. B. e PARRON, T. Escravidão e política: Brasil e Cuba, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2011. MARQUESE, R; B., SALLES, (orgs.). Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
MORENO, Breno Aparecido Servidone. Demografia e trabalho escravo nas propriedades rurais cafeeiras de Bananal,1830-1860. Dissertação (Mestrado em História Social) – FFLCH/USP, São Paulo, 2013.
MOTTA, José Flávio. Corpos escravos, vontades livres: posse de cativos e família escrava no Brasil (1801-1829). São Paulo: Fapesp, Annablume, 1999.
TOMICH, Dale W. Pelo Prisma da Escravidão: Trabalho, Capital e Economia Mundial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.
Fernando Antonio Alves da Costa – Doutor em História Econômica pelo PPGHE da FFLCH-USP. E-mail: [email protected]
SANTOS, Marco Aurélio dos. Geografia da escravidão no Vale do Paraíba cafeeiro: Bananal, 1850-1888. São Paulo: Alameda Editorial, 2016. Resenha de: COSTA, Fernando Antonio Alves da. A Resistência escrava revisitada: a espacialidade como elemento central. Almanack, Guarulhos, n.18, p. 517-524, jan./abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
Historias Conceptuales | Guillermo Zermeño Padilla
Com um título que reitera as contribuições do historiador mexicano Guillermo Zermeño Padilla para os estudos das linguagens políticas nas últimas décadas, a obra Historias Conceptuales reúne um conjunto de dez artigos originalmente publicados de 2005 a 2014 que, apresentados em versões modificadas, encerram, de acordo com o autor, um ciclo de investigações dedicado à crítica histórica baseada em análises de conceitos. Sendo uma “obra aberta”, na medida em que não pretende explorar exaustivamente cada um dos assuntos tratados, mas sim mostrar traços essenciais do processo de transformação e sedimentação de certas palavras em conceitos modernos, Historias Conceptuales revela como diversos vocábulos e conceitos comumente utilizados em descrições históricas e sociológicas são, em seu cerne, invenções, transformações, ressignificações ou reapropriações linguísticas da chamada “modernidade” – entidade semântica discutida pelo historiador na introdução de sua obra.
Em “El ‘espacio público’ como concepto histórico: Habermas y la nueva história política”, Zermeño Padilla recria o contexto histórico-filosófico do projeto habermasiano, discutindo sua penetração na dimensão historiográfica hispano-americana e enfatizando suas contribuições para a obra de François-Xavier Guerra. Percorrendo especialmente o conceito de “público” ou “espaço público”, o autor aborda o impacto do modelo de Jürgen Habermas na obra coletiva Los espacios públicos en Iberoamerica (1998), coordenada por Guerra e Annick Lempérière. Ao fazê-lo, Zermeño Padilla pontua apropriações da tipologia habermasiana – como a utilização do conceito de “espaço público” para esclarecer as peculiaridades da incorporação dos países iberoamericanos à modernidade (p.51) -, bem como críticas a essa tipologia – dentre outras, as dificuldades em descobrir a formação de um espaço burguês de opinião pública na gênese das nações iberoamericanas (p.55). Zermeño Padilla inclui, também, considerações de especialistas europeus sobre a obra de Habermas, em particular a periodização por ele estabelecida, o emprego de um modelo marxista convencional e a conotação teleológica inerente ao termo “burguês”. Zermeño conclui o capítulo indicando que o espaço público não deve ser reduzido à opinião pública, e que o distintivo desta modernidade a que se referem Habermas e Guerra consiste no privilégio que ela confere ao âmbito da escrita e a suas formas de circulação, viabilizadas pela liberdade de imprensa e pela materialidade do impresso (p.62). Clamando pela tradição como principal sustento da modernidade e por uma reformulação desse conceito, Zermeño Padilla sugere que é preciso compreendê-lo como um conceito de temporalidade, sem confundi-la com o que pode ser uma forma “aparente” de modernidade (p.65).
Em “De la historia como un arte a la historia como una ciencia”, o autor discute a transformação semântica da voz “história” no período de transição do regime político e intelectual da Nova Espanha para o mexicano ou republicano (p.67). Ao montar seu argumento, Zermeño Padilla parte da distinção entre “voz” e “palavra”, bem como de alguns preceitos de Reinhart Koselleck quanto à conjunção das histórias sincrônica e diacrônica na segunda metade do século XVIII, quando um novo sentido de temporalidade atravessou o vocabulário político e social da época (p.69). Percorrendo as diversas instâncias de ressignificação conceitual e epistemológica de “história”, Zermeño evoca o período em que esta era concebida fundamentalmente como “um saber dirigido a entreter, instruir e ilustrar”(p.75), uma “arte” a ser ensinada e aprendida mediante métodos instruídos, como se vê nas Gacetas do México e nos escritos de José Ignacio Bartolache, José Antonio Alzate y Ramírez e Francisco Xavier Clavijero. O autor trata, ainda, do processo de politização da voz “história”, bem como da consagração do neologismo “história contemporânea”, processo no qual “história” se tornou entidade filosófica e científica, passível de incorporação aos processos de Independência e às posteriores discussões sobre os trezentos anos de opressão colonizadora espanhola.
No seguinte artigo, “Los usos políticos de América/americanos (1750 – 1850)”, Zermeño Padilla refaz a trajetória das vozes que dão título ao texto, centrando-se no período compreendido entre a crise do Antigo Regime e a emergência de formas constitucionais das nações modernas. Procedendo de publicações periódicas como fontes primárias, o historiador contempla os distintos estágios de transformação semântica das vozes “América” e “americanos”. De acordo com o autor, o período entre 1750 e 1850 permite vislumbrar uma progressão semântica que atravessa os dois termos, percurso que vai do geográfico ao político e que retorna do político ao cultural como resultado da impossibilidade de conformar uma unidade política continental após as emancipações (p.147). Para tanto, Zermeño Padilla trata da possível percepção de certo sentido de orfandade e isolamento por parte dos habitantes da geografia americana em relação à Espanha nas três primeiras décadas do século XIX, o que teria ocorrido em concomitância com o desenvolvimento de um sentimento nacionalista não mais fundado no contraste secular entre americanos e europeus, mas sim na contraposição das nações americanas entre si, num contexto de autorreivindicações das identidades nacionais emergentes.
O texto seguinte, escrito em co-autoria com Peer Schmidt, se intitula “De las ‘libertades’ a la Libertad”. Segundo Zermeño e Schmidt, o sentido das palavras muda conforme os espaços de experiência ou de contato comunicativo em que se inserem. Dessa maneira, o vocábulo liberdade não possui a mesma conotação se aplicado a um contexto prisional (em que o indivíduo é castigado com a privação da liberdade) ou a um contexto de escravidão (no qual se anula o direito de ser livre por meio de uma obrigação laboral imposta) (p.149). Centrando suas análises no longo século XIX, os autores tratam dos vários sentidos que o termo e alguns vocábulos dele derivados, como “livre”, “libertador” ou “liberal”, possuíra no longo século XIX. As situações analisadas são diversas: desde que Miguel Hidalgo y Costilla utilizara a expressão “liberdade política” em 1810, passando pela reivindicação da liberdade de imprensa e opinião presentes no texto do Decreto Constitucional para la Libertad de la América mexicana, sancionado em Apatzingán em outubro de 1814, até o episódio em que o jovem general Porfírio Díaz, combatente das forças antiimperialistas, levantou-se em armas contra Benito Juárez e exigiu respeito à “la libertad del sufragio popular” em 1871, bem como quando em 1910 Francisco Madero empreendera, em nome da “libertad electoral”, a deposição do mesmo Porfírio Díaz da Presidência do México. Evidentemente, Hidalgo y Costilla, o Decreto de Apatzingán, Porfírio Díaz e Francisco Madero – bem como as outras personagens do capítulo – não estão tratando da mesma “liberdade”, uma vez que cada uma das vozes evocadas, representadas pelo mesmo signo terminológico mas não sendo jamais a mesma voz, sofreu diversas transformações semânticas durante o longo século XIX mexicano.
Em “De las ‘revoluciones’ a la Revolución”, Zermeño Padilla se pauta nas “consequências sistêmicas” da Revolução Francesa para tratar dos efeitos linguísticos da crise de 1808 no território da Nova Espanha. Partindo do chamado Grito de Dolores de 1810, cujo adensamento semântico fora amparado pelo estabelecimento da Constituição de Cádiz, o historiador percorre as diversas instâncias de apropriação, adequação, desvalorização ou ressignificação em que se inscreveu o termo “revolução” ao longo do século XIX mexicano. Zermeño Padilla menciona aqui diversas contribuições epistemológicas, tais como a de Carlos María de Bustamante, cronista cujo “Diario histórico de México” fora escrito num período de depreciação do termo; de José María Luís Mora, que inserido no contexto de 1836 alegava que até o conquistador Hernán Cortés deveria ser considerado precursor da luta da Nova Espanha por sua independência (p.184); e de Lorenzo de Zavala, para quem o termo “revolução” implicava uma noção de temporalidade consciente que segregava a História em dois momentos cuja dobradiça era o ano de 1808. O historiador conclui o sexto capítulo da obra sugerindo que a Revolução de Ayutla e a nova Constituição de 1857 teriam encerrado o ciclo revolucionário mexicano inaugurado em 1808, e que um novo ciclo se iniciaria em 1876 com a expedição do Plan de Tuxtepec por Porfírio Díaz.
De acordo com Zermeño, “civilização” é um neologismo setecentista legado do francês e não se encontra em léxicos anteriores a 1780 (p.193). A partir daí, o autor acompanha a trajetória do vocábulo, tratando de sua estabilização como conceito e abordando as transformações semânticas que o permearam no século XIX, contemplando não apenas o contexto da Nova Espanha e do México, mas também a dimensão peruana no subitem “Emancipación y Dilemas Políticos”. Ao longo do capítulo, Zermeño trata de uma primeira mutação sofrida pelo vocábulo, entre a Revolução Francesa e o período napoleônico, perseguindo seus vestígios semânticos em circunstâncias pautadas por temas como liberalismo e ilustração, a própria concepção de “civilização moderna”, a questão das subalternidades, e as discussões referentes a sua associação aos termos “ordem” e “progresso” nas últimas décadas do XIX.
“Pobreza: historia de un concepto” é o mais dissonante dos capítulos no que diz respeito ao recorte temporal da obra. Isso porque Zermeño escapa ao chamado “umbral clássico da história conceitual” (1750 a 1850) e estuda a genealogia da voz a partir de indícios legados pela Antiguidade Cristã e Medieval, bem como por noções elaboradas no seio do cristianismo primitivo. Considerando que a partir da segunda metade dos setecentos a pobreza desgarrou-se paulatinamente da carga religiosa que sempre a engendrara, Zermeño aborda temas como mendicância, esmola, indigência, até situar a voz como problema de Estado e discutir algumas de suas implicações no léxico contemporâneo. Objetivando “desnaturalizar” a noção de “pobreza”, o historiador alega que mesmo quando a voz se manteve associada a seu sentido comum e geral – que designa uma situação de carência ou incapacidades básicas (p.213) -, sua semântica foi modelada por diversas operações de incorporação ou descartes de sentidos. Tanto o que se incorporou quanto o que se descartou iluminam a utilização do conceito nos dias de hoje.
Em “Del mestizo al mestizaje: arqueología de un concepto”, Zermeño Padilla trata da aparição histórica da mestiçagem como uma noção que “aspira a descrever a identidade nacional do México” (p.261). Sua hipótese é de que “a invenção da mestiçagem como princípio regulador da identidade nacional moderna [mexicana] teve um efeito negativo (no nível das representações) em relação à população ‘indígena’ (denominada assim a partir do século XIX)” (p.263). Situando leitores e leitoras em relação a diversas figuras relevantes para a compreensão tanto do fenômeno como do processo histórico mais amplo, Guillermo Zermeño atribui a José Vasconcelos a competência de ter convertido uma noção singular sociológica (“mestiço”) em um conceito universal de caráter filosófico (“mestiçagem”) (p.266), destacando neste decurso a importância da Revolução de Ayutla e do triunfo da reforma de Benito Juárez para a transição de uma a outro – processo que culmina com a celebração do chamado Día de la Raza em 12 de Outubro de 1917. A conversão de “mestiço” a “mestiçagem” encabeçada por Vasconcelos teria, de acordo com Zermeño, inserido o debate numa pauta biologicista da evolução humana, o que leva o autor a reivindicar que um dos aspectos mais problemáticos no estabelecimento do conceito “mestiçagem” esteja no fato de que sua construção tenha se dado com base na subjugação e desvalorização das populações indígenas.
No capítulo sobre os conceitos de “cacique”, “caciquismo” e “caudillismo”, o penúltimo da obra, Guillermo Zermeño percorre o legado histórico-semântico do termo “cacique” e de seus derivados, tomado originalmente das línguas caribenhas e empregado inicialmente no contexto do Império espanhol para designar “certas formas político-administrativas e certos intermediários entre o poder espanhol e as populações indianas” (p.298). No artigo, Zermeño mostra como a reinvenção dos termos – atentando-se de modo menos enfático a “caudillismo”, o que traz certa carência à totalidade da proposta do capítulo – se forjou em contextos específicos. Uma de suas intenções aqui, com base na aparição e evolução do termo na imprensa mexicana ao longo dos séculos XIX e XX, é esclarecer por quais razões e de que modo o termo “cacique” se transformou numa instância catalisadora das múltiplas características do regime político mexicano (p.317).
O último capítulo de Guillermo Zermeño Padilla intitula-se “La invención del intelectual y su crisis”. Dada a amplitude do tema, o historiador contempla a formação do campo intelectual no México do século XX, partindo da premissa geral de que o Antigo Regime pré-industrial hispano-americano, com ou sem revolução social, teria gerado as condições necessárias para o desenvolvimento de um novo tipo de “sábio” definido pela criação de um espaço comunicativo específico. Considerando as contribuições de figuras tais como Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Gómez Morin, José Vasconcelos e Octavio Paz, o historiador trata da paulatina consumação identitária do intelectual em âmbito mexicano, explicitando algumas das diferenças entre a mencionada geração e a anterior. Para Zermeño, assim como o período pré-industrial teria outorgado aos “filósofos” positivistas – no caso mexicano, chamados “científicos” – o papel de “questionar o velho inventário do saber coletivo”, o século XX teria delegado à figura do “intelectual” mexicano a missão de conformar um novo saber crítico que estivesse consciente de sua capacidade de imiscuir-se na História (p.325).
Além de confirmar as fecundas colaborações de Guillermo Zermeño Padilla para o campo investigativo das linguagens políticas, Historias Conceptuales convida-nos a refletir, enhorabuena, sobre algumas das instâncias que engendram as experiências discursivas ao longo da história, propondo aos leitores e leitoras uma série de percursos fundamentais acerca dos vocábulos e conceitos em distintos cenários da modernidade. Se, de acordo com Zermeño, “a história conceitual é apenas a porta de entrada para questões apaixonantes acerca do significado e do sentido que existe em escrever histórias no umbral mutante em que nos encontramos na atualidade, relacionado com a crise do tempo histórico especificamente moderno” (p.20), Historias Conceptuales cumpre o papel de bússola no âmago deste umbral, que, apesar de permeado por múltiplos desafios, pode ser traduzido e decodificado na medida em que nos empoderamos, especialmente como historiadores e historiadoras, do magistral artifício político que é a consciência histórica da e sobre a linguagem.
Referência
ZERMEÑO PADILLA, Guillermo. Historias Conceptuales. Ciudad de México: El Colegio de México/Centro de Estudios Históricos, 2017.
Mariana Ferraz Paulino – Mestranda em História Social (USP) E-mail: [email protected]
ZERMEÑO PADILLA, Guillermo. Historias Conceptuales. Ciudad de México: El Colegio de México/Centro de Estudios Históricos, 2017. Resenha de: PAULINO, Mariana Ferraz. História Conceitual: sentidos da modernidade hispano-americana. Almanack, Guarulhos, n.18, p. 489-495, jan./abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento político do Marquês de Caravelas (1821-1836) | C. E. C. Lynch
Seria possível conciliar um Estado forte e centralizado ao ideário liberal moderno na prática política oitocentista brasileira? A leitura de Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento do Marquês de Caravelas nos revela que sim. Defensor tanto da soberania do rei quanto do constitucionalismo moderno, José Joaquim Carneiro de Campos – o marquês de Caravelas – foi personagem fundamental, de acordo com Christian Lynch, no processo de recepção e aclimatação do discurso liberal durante o estabelecimento do Estado de direitos no Brasil.
Prevalecente na Constituição de 1824, o projeto monárquico e estatizante dos coimbrãos contou com a participação ativa de José Joaquim Carneiro de Campos. Segundo Lynch, Caravelas foi responsável por aperfeiçoar o projeto constitucional dos Andradas, caracterizado pelo bicameralismo, por uma rigorosa centralização política-administrativa e pelo veto quase absoluto do Imperador. Sua principal contribuição foi a criação do Poder Moderador e a institucionalização de alguma descentralização político-administrativa a partir da criação dos conselhos gerais de províncias. Para ele, esse arranjo seria o ideal pois garantia “uma monarquia sem despotismo e uma liberdade sem anarquia”, expressão definidora do seu pensamento político (p. 53).
Lynch relacionou a teoria das formas de governo de Caravelas com a tradição clássica aristotélica. Segundo esta, as formas de governos existentes – monarquia, aristocracia e a democracia – eram instáveis e oscilavam constantemente entre bons e maus governos, a monarquia corrompida se degeneraria em tirania, a aristocracia em oligarquia e a democracia em demagogia. No entanto, havia uma maneira de evitar a corrupção e estabilizar esses governos: uma composição mista entre monarquia, aristocracia e democracia. Assim como Aristóteles, Carneiro Campos considerava que a melhor maneira de tornar as instituições políticas brasileiras duráveis seria por meio de um governo misto. Em sua opinião, a forma moderna que permitia o equilíbrio entre os elementos governamentais seria a monarquia constitucional representativa temperada ou limitada. Se o fundamento conceitual de Caravelas estava em Aristóteles, sua sociologia política se apoiava em Montesquieu. Isso porque sua principal preocupação, como mostrou o autor, era conciliar o governo constitucional representativo – necessidade dos tempos modernos – com a preservação da ordem e das hierarquias coloniais por meio da criação de uma legislação que respeitasse as tradições e os costumes do povo brasileiro.
O estudo sobre o pensamento político de homens como Caravelas faz parte de um longo debate historiográfico a respeito do lugar do liberalismo no processo de formação do Brasil independente. Debate longo, mas necessário, foi iniciado por obras clássicas – como a de Roberto Schwarz – que defenderam que as ideias estavam fora do lugar. De lá para cá, muito se avançou no tema. Surgiram diversos trabalhos que discutiram, de perspectivas diferentes, a formação do Brasil independente mostrando que as ideias estavam sim no lugar, a exemplo de Maria Sylvia de Carvalho, Alfredo Bosi, Lúcia Maria B. Pereira das Neves, Maria Emilia Prado, Antonio Carlos Peixoto, entre outros.
A análise instigante empreendida por Lynch nos evidenciou que, embora antigo, este debate está longe de ser esgotado. Interessado na história constitucional brasileira – graças à graduação e ao mestrado na área do Direito – bem como no seu desenvolvimento pela perspectiva daquilo que o historiador alemão Reinhart Koselleck chamou de Sattelzeit, Lynch redimensionou o lugar do conservadorismo no Brasil oitocentista por meio do resgate desse importante personagem político da independência brasileira do limbo em que se encontrava.
Nesse sentido, suas reflexões sobre a composição de um campo conservador no Brasil e sobre as construções historiográficas a esse respeito garantem uma análise provocante do processo de formação das instituições políticas brasileiras. Segundo Lynch, o marquês de Caravelas, ao sustentar um projeto liberal que conciliava a implantação de um governo constitucional representativo com a garantia de um Estado monárquico forte, seria o primeiro de uma linhagem de juristas constitucionais, na qual se entronca o visconde de Uruguai, a defender a construção e o fortalecimento do Estado como instância incubadora adequada da Nação.
Embora a obra escrita por Lynch tenha José Carneiro de Campos como objeto de pesquisa, nunca foi preocupação do autor a descrição e o acompanhamento de seus feitos como fazem diversos trabalhos biográficos. Na realidade, todo seu empenho se concentrou na reconstituição do pensamento teórico e sociológico do marquês de Caravelas e sua aplicação prática ao longo dos seus trabalhos enquanto deputado e relator do projeto constitucional de 1824. Tendo em vista esse objetivo, Lynch estruturou seu livro em duas partes: a primeira destinada a um estudo do pensamento político-constitucional do marquês de Caravelas – dividida ainda em cinco capítulos – e uma segunda reservada para a compilação de seus discursos parlamentares mais importantes, fontes que serviram de base para sua pesquisa.
Os discursos parlamentares do marquês de Caravelas foram analisados com base em duas frentes metodológicas: o contextualismo linguístico de John Pocock e a história dos conceitos de Koselleck. Na primeira frente, estes discursos foram entendidos como “atos de fala” elaborados durante a disputa política visando um espaço de atuação e de poder. Na segunda frente, o autor carioca identificou os conceitos presentes nesses discursos examinando os novos significados assumidos por eles de acordo com as circunstâncias, as necessidades e as contingências do Brasil recém-independente.
É em seu primeiro capítulo – “Os desafios da política constitucional oitocentista na Europa e na América ibérica” – que Lynch conseguiu brilhantemente conciliar essas duas frentes metodológicas, procedendo a uma bela análise relacional de texto e contexto. Infelizmente, nos outros capítulos, principalmente os três últimos, nos quais há uma reflexão sobre os elementos constitutivos do pensamento de Caravelas, a análise se concentrou apenas no texto e nos conceitos presentes nele. Apesar disso, suas reflexões sobre o enquadramento ideológico de Carneiro de Campos presentes no primeiro capítulo e as razões historiográficas responsáveis por seu esquecimento, apresentadas no segundo, são de grande relevância para os pesquisadores na área da história política brasileira.
Se a maioria dos trabalhos historiográficos explicam o processo de construção do nosso Estado a partir do liberalismo moderno, Lynch o faz baseado no conservadorismo. Ele defendeu a conservação como elo indispensável tanto para compreensão do pensamento de Caravelas quanto para o entendimento do desenvolvimento das instituições políticas brasileiras das quais ele fez parte. Ao fazer isso, o autor acabou redimensionando o sentido e o papel desempenhado pelo conservadorismo na América Ibérica.
Até hoje relacionamos o conservadorismo a posicionamentos tradicionais e, portanto, contrários a mudanças. De acordo com Lynch, isso acontece devido a conotação negativa que este conceito possuí no Brasil graças ao legado da tradição marxista de intelectuais do século XX, a exemplo de Caio Prado Jr. e Nelson Werneck Sodré, que relacionaram o conservadorismo a uma visão hierárquica de mundo, defensora de privilégios, contrária à democratização e ao reconhecimento das minorias. Inclusive, o autor associou também o esquecimento historiográfico de Carneiro de Campos, bem como sua associação apressada ao absolutismo, a essa visão negativa dos conservadores.
Depois de realizar uma síntese das principais correntes conservadoras – passando por Hume, Burke e Guizot – Lynch afirmou que elas eram equivalentes no Brasil às reflexões dos conselheiros de Estado de D. Pedro I que, baseados no modelo monarquiano do barão Malouet e de Jean Joseph Mounier, defenderam um projeto de governo constitucional e representativo no qual o rei, não a Assembleia, seria o representante da soberania nacional. A implantação desse sistema permitiu a conciliação entre o ideal modernizador ordeiro do despotismo esclarecido com o estabelecimento de um governo constitucional. Por isso, Lynch afirmou que o conservadorismo é uma espécie de liberalismo de direita, de caráter reformista e antirrevolucionário. Nesse sentido, ao invés de se apresentar em oposição total aos liberais, os conservadores teriam uma postura realista da modernidade, aceitando a inevitabilidade do progresso, embora tentassem guiá-lo de forma prudente e gradual, os adequando a cultura histórica de cada sociedade na tentativa de preservar o tecido social e evitar as rupturas revolucionárias.
No entanto, ao longo de todo o processo de independência, do primeiro reinado e dos anos iniciais das regências, o discurso daqueles que orbitavam em torno de D. Pedro I, a exemplo de Caravelas, foram associados ao absolutismo e ao autoritarismo por seus adversários políticos que desejavam um espaço de atuação e de participação no Estado brasileiro.
Somente com os saquaremas, na segunda metade do século XIX, o termo conservador passa a ser empregado na caracterização de um grupo político, apesar de seus projetos existirem desde a época da independência. De acordo com Lynch, diferentemente do Partido Liberal, que reivindicou o grupo brasiliense como primeiro embrião de seu partido, o mesmo não aconteceu com os conservadores, que preferiram venerar a memória de Bernardo Pereira de Vasconcelos e o Regresso como verdadeiro fundador do partido durante as regências. Logo, a imagem de homens como Caravelas sofreu um desgaste duplo. Ao mesmo tempo em que eram desqualificados pela historiografia luzia que os retratava como absolutistas, não tiveram sua imagem resgatada pela historiografia saquarema e ficaram sem uma posteridade política que os reivindicasse positivamente.
Mais uma vez vemos a influência do historiador inglês J. G. A. Pocock em Monarquia sem despotismo e Liberdade sem anarquia. Baseado em suas ideias, o autor buscou compreender a história como choques de discursos antagônicos. Durante muito tempo, a historiografia brasileira vem comprando a versão de autores saquaremas que localizaram o surgimento do conservadorismo no Brasil no movimento regressista. É importante entender que os saquaremas não queriam ter sua imagem pública associada ao grupo “coimbrão” devido a sua fama negativa ligada ao absolutismo.
Ao longo do livro, Cristian Lynch conseguiu demonstrar que o pensamento político de José Carneiro de Campos não tinha nada de absolutista. Muito pelo contrário, partilhava semelhanças com as doutrinas conservadoras do tempo. Isso implica reconhecer, a despeito das afirmações historiográficas, que o conservadorismo aos moldes regressistas e saquaremas existiam de alguma forma no Brasil muito antes do período regencial, sendo esta ao meu ver a principal contribuição da obra. O resgate do marquês de Caravelas do limbo do esquecimento e sua inserção num campo conservador em formação durante todo o processo de construção do Estado brasileiro nos ajuda a redimensionar a própria concepção do conservadorismo na constituição do Brasil independente.
Referência
Lynch, C. E. C. Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento político do Marquês de Caravelas (1821-1836). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
Luaia da Silva Rodrigues – Doutoranda em história pela UFF. E-mail: [email protected]
LYNCH, C. E. C. Monarquia sem despotismo e liberdade sem anarquia: o pensamento político do Marquês de Caravelas (1821-1836). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. Resenha de: RODRIGUES, Luaia da Silva. O pensamento conservador do marquês de Caravelas e a construção do Estado Brasileiro. Almanack, Guarulhos, n.18, p. 496-501, jan./abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos | Tâni Bessone, Gladys S. Ribeiro, Monique S. Gonçalves e Beatriz Momesso
O diálogo da historiografia do Brasil Império com a Nova História Cultural costuma produzir bons frutos, e Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos não foge à regra. O propósito do livro é interpretar a consolidação da palavra impressa como parte do processo de formação do Estado nacional no longo século XIX, sugerindo que o desenvolvimento de jornais, revistas e livros possibilitaram a circulação de ideias, o estabelecimento de espaços de sociabilidade e a edificação de trajetórias individuais num movimento de condicionamento recíproco entre história política e história cultural.
Organizado pelas especialistas Tânia Bessone (UERJ) e Gladys Sabina Ribeiro (UFF) – cujos percursos intelectuais privilegiaram respectivamente a história dos livros e a história política do Brasil oitocentista – em conjunto com as pós-doutorandas Monique de Siqueira Gonçalves (UERJ) e Beatriz Momesso (UFF), o livro é o resultado de uma ampla empreitada de trabalho intelectual colaborativo. Com a participação de pesquisadores de diferentes instituições do país, ele amplia a discussão dos projetos de pesquisa desenvolvidos desde 2012 no Centro de Estudos do Oitocentos (CEO-UFF), no Laboratório Redes de Poder e Relações Culturais (REDES-UERJ) e, recentemente, na Sociedade Brasileira de Estudo do Oitocentos (SEO), desdobrando, assim, o debate ensejado por coletânea anterior, O Oitocentos entre livros, livreiros, missivas e bibliotecas (Alameda, 2013).
Dividido em quatro seções temáticas, Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos esteia-se na premissa de Robert Darnton e Daniel Roche de reconhecer a palavra impressa como “força ativa na história”, um “ingrediente dos acontecimentos” capaz de desempenhar não só o papel de fonte de informação, mas também o de intermediação da prática política e social oitocentista.
Em sua primeira seção, “Impressos políticos”, o livro apresenta análises sobre o significado do pensamento liberal no reordenamento da cultura política e na construção de identidades sociais. Destaca como distintos projetos políticos para o Brasil circularam em jornais, a exemplo das propostas de revisão do Antigo Regime possibilitadas pela Revolução do Porto nas províncias da Cisplatina e Bahia e o embate discursivo entre republicanos liberais quando da crise da monarquia.
Opondo-se à tese que considera o processo de independência do Uruguai como resultado de um “Estado-tampão”, Murillo Winter (capítulo 1) expõe os distintos movimentos políticos e identitários na região. Explorando a imprensa cisplatina, ressalta a repercussão dos periódicos na politização da população e na mudança da conotação da identidade oriental, inicialmente associada aos anos de guerra civil e ao projeto confederado de José Gervásio Artigas. De igual maneira, salienta as particularidades do discurso político veiculado na Banda Oriental, focalizando a construção da “orientalidade”, elemento de diferenciação que negava tanto o domínio colonial quanto outras formas de sujeição.
Moisés Frutuoso (capítulo 2), em pesquisa sobre a produção jornalística na vila baiana de Rio de Contas, expõe como os periódicos publicados na Bahia e no Rio de Janeiro foram determinantes para a constituição da Junta Temporária de Governo e para o recrudescimento do antilusitanismo na localidade. Demonstra a atuação dos periódicos como veículos de propaganda de projetos políticos, especialmente liberais, e consequentemente como espaço de debate que confrontava distintos grupos da sociedade em torno da edificação do Estado Imperial, o que pôde ser caracterizado com primazia na Guerra dos Mata-marotos (1831), fruto de intensos conflitos que opunham “portugueses americanos” e “portugueses europeus”.
Ainda na primeira seção, o texto de Daiane Lopes Elias (capítulo 3) privilegia o Segundo Reinado e a atividade dos republicanos liberais a partir da publicação do Manifesto de 1870. Analisando sua composição discursiva, esclarece como a prática vencedora fundamentava-se na adaptação de doutrinas estrangeiras (no modelo americano de República) para “encontrar nelas as ferramentas capazes de instrumentalizá-las na ação de deslegitimação das instituições, práticas e valores imperiais” (p.64), e, por conseguinte, na reinvenção da elite política brasileira.
A segunda seção do livro, “Impressos periódicos”, enfoca o debate sobre caminhos políticos e artísticos embasados nas ideias liberais que se formataram no país na crise do Império. Para tanto, reúne estudos que, valendo-se da investigação de dois importantes periódicos publicados nas décadas de 1870 e 1880, analisam críticas ao governo e a específicas esferas da sociedade imperial visando reconhecer os obstáculos à chegada da modernidade ao Brasil.
Alexandre Raicevich de Medeiros (capítulo 4) empenha-se no reconhecimento das redes de sociabilidade proporcionadas pela Casa Arthur Napoleão & Miguez, responsável pela publicação da Revista Musical e de Bellas Artes e pela venda de instrumentos e edição de partituras. Destaca a especificidade do público leitor da revista – o que incidiu em sua curta trajetória – e as distintas temáticas que explorava dentro do campo cultural, como resumos de história da arte, notícias estrangeiras, comentários de obras literárias e de peças de teatro. Igualmente, salienta o tom crítico e de denúncia ensejado em seus textos, como a defesa do Theatro Imperial, cuja situação de penúria era atribuída ao descaso do governo, e o debate sobre a evolução das artes plásticas no Brasil.
Também explorando a crítica e o enfrentamento, desta feita por intermédio do humor engajado a surgir das páginas do caricato O Mosquito, Arnaldo Lucas Pires Junior (capítulo 5) estuda as denúncias das ilustrações veiculadas no periódico à chegada da modernidade ao Brasil. Explica como as caricaturas representavam o imaginário social de uma parcela da elite ilustrada que se identificava com o modo de vida europeu, mas que se via emperrada pelas barreiras da realidade nacional, a exemplo da escravidão, do posicionamento dos políticos e das relações entre Estado e Igreja.
Na terceira seção, “Impressos e trajetórias biográficas”, o livro contempla pesquisas dedicadas a percursos individuais de importantes figuras políticas do Império, demonstrando as possibilidades do fazer biográfico oportunizada pela palavra impressa.
Vislumbrando o reconhecimento de ideias antiescravistas no pensamento do escritor e político liberal Joaquim Manuel de Macedo, Martha Victor Vieira (capítulo 6), analisa a obra As Vítimas-Algozes: quadros da escravidão (1869) para caracterizar o empenho de uma parcela da elite política na superação do trabalho escravo e o consequente receio enunciado pelos senhores escravocratas. Com base nos argumentos evocados por Macedo, que objetivavam convencer o público a alinhar-se com a proposta de abolição gradual, a pesquisadora identifica em seu texto “indícios de um traço comum com outros escritos dos homens de letras da primeira geração do romantismo e do IHGB, os quais concebiam a história como ‘mestra da vida’” (p.137).
Utilizando manuscritos e impressos do final do século XIX e início do XX, Samuel Albuquerque (capítulo 7) dedica-se à figura de Antônio Dias Coelho e Mello, barão da Estância, visando à reconstituição de viagem empreendida pelo político sergipano entre Aracaju e o Rio de Janeiro. Tendo por base esse caso, analisa as distâncias percorridas pelos políticos do Império entre as províncias e a Corte para demonstrar as transformações no modelo familiar, a divulgação do padrão de civilização europeu no seio da elite e os espaços de sociabilidade da alta sociedade na capital do Império, em destaque a rua do Ouvidor.
O texto de Rafael Cupello (capítulo 8) investiga as distintas representações existentes sobre Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira e Horta, marquês de Barbacena, renomado político do Primeiro Reinado. No intuito de reconhecer quais artifícios foram utilizados na edificação de suas memórias, reconstrói a trajetória social do personagem, bem como suas redes de sociabilidade, esclarecendo, por meio de vasta pesquisa, quais elementos foram privilegiados nas biografias do marquês e como eles instituíram sua identidade histórica.
Na última seção, “Impressos e espaços de sociabilidade: as bibliotecas”, a obra se debruça sobre a circulação de ideias proporcionada pelos “espaços de saber” em diferentes momentos do Oitocentos. Enfatiza o papel das bibliotecas e clubes literários na construção do conhecimento escrito, na consolidação da cultura leitora no Brasil e na manifestação do pensamento político.
Juliana Gesuelli Meirelles (capítulo 9), em estudo sobre a Impressão Régia e a Real Biblioteca do Rio de Janeiro, privilegia as transformações da cidade ao longo do governo joanino. Enfatiza a diversidade de publicações do período – de anúncios a obras de História Natural – e o papel do bibliotecário na circulação dos impressos. Retrata também o processo de edição das publicações, além de sugerir que a implantação da tipografia foi determinante para a firmação da prática de leitura no período, momento em que o espaço público era marcado pela oralidade. De igual maneira, destaca a função desempenhada pela Biblioteca e seu acervo: espaço de saber e status da Idade Moderna.
Karulliny Silverol Siqueira Vianna (capítulo 10), empenha-se em pesquisa sobre a cultura impressa na província do Espírito Santo nos anos de 1880. A autora lança luz sobre a criação de clubes literários e bibliotecas, locais caracterizados não apenas enquanto espaço de leitura, mas também de intenso debate político e científico. Explorando o conteúdo de exemplares de periódicos e de relatórios, Vianna mostra que a construção de redes intelectuais que discutiam e propagavam ideais de novas correntes políticas no Espírito Santo, como no caso da propaganda republicana, ajudou a operar “a exclusão política de alguns grupos na província” (p.216).
Por fim, Carlos André Lopes Silva (capítulo 11) analisa a biblioteca da Academia dos Guardas-Marinha, vinda ao Brasil com a Real Família Portuguesa em 1808. Seu estudo demonstra como a organização de um corpo de livros pode fornecer ao historiador rico instrumento para apreender a sistematização do saber institucional. Privilegiando a atuação de seu organizador, o capitão de fragata José Maria Dantas Pereira, Lopes Silva estuda o papel dos manuscritos e impressos na instrução dos alunos da Academia, atendo-se aos volumes que compunham a biblioteca e à estrutura de funcionamento dela. Em sua análise, é fácil perceber que livros raros de distintas áreas do conhecimento, como matemática, química, botânica e história natural, constituíram referências relevantes para a ciência militar e para divulgação do conhecimento.
Ao abordar de maneira meticulosa as possibilidades da utilização de impressos como fontes ou objetos de pesquisa, Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos contribui com o importante debate historiográfico sobre as práticas de leitura e escrita e sua imbricação com a formação nacional, enriquecendo o conjunto de estudos que se dedicam aos aspectos políticos e culturais do Oitocentos. Outrossim, ao compor-se de textos de pesquisadores de diferentes níveis de formação e diversas instituições universitárias do país, indica o importante diálogo aberto pelos grupos de trabalho que se empenham no reconhecimento da palavra impressa como instrumento de manifestação da cultura política escrita no Brasil. Ainda, ao abordar as variadas dimensões do universo da imprensa, Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos evidencia como a divulgação de ideias, valores e costumes estava associada à circulação de jornais, revistas e livros, ou ao “fogo do céu” e à “fórmula da nova ideia” (p.7) evocadas por Machado de Assis.
Referência
BESSONE, Tânia; RIBEIRO, Gladys Sabi-na; GONÇALVES, Monique de Siquei-ra; MOMESSO, Beatriz (Orgs.). Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos. 1.ed. São Paulo: Alameda, 2016.
Eduardo José Neves Santos – Mestrando. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). E-mail: [email protected]
BESSONE, Tânia; RIBEIRO, Gladys Sabina; GONÇALVES, Monique de Siqueira; MOMESSO, Beatriz (Orgs.). Cultura escrita e circulação de impressos no Oitocentos. São Paulo: Alameda, 2016. Resenha de: SANTOS, Eduardo José Neves. “O fogo do céu” e a “fórmula da nova ideia”: escrita, leitura e impressos no Brasil oitocentista. Almanack, Guarulhos, n.18, p. 502-507, jan./abr., 2018. Acessar publicação original [DR]
Seeds of Empire: Cotton, Slavery, and the Transformation of the Texas Borderlands 1800-1850 | Andrew Torget
Three enslaved people – Richard, Tivi, and Marian – fled enslavement in Louisiana in 1819, seeking relief from the brutality of slavery in the United States in the northern borderlands of New Spain. At this time, the Mexican province of Tejas was home to a small population of ethnic Mexicans, known as Tejanos, along with a larger indigenous population, including the powerful Comanche. Less than thirty years later, this area would be the state of Texas within the United States and home to the fastest-growing enslaved population in the slaveholding republic. In his meticulously-researched book, Andrew Torget follows the emergence of an Anglo-Texan society, nation, and, eventually, state. The book takes a firmly political and economic approach to history, which makes for a propulsive and clear narrative, but Richard, Tivi, and Marian aside, keeps that narrative largely the preserve of economically and politically powerful individuals and groups – legislators, empresarios, generals, and merchants. Torget masterfully integrates an intricate explanation of the politics of New Spain and Mexico with a more familiar narrative of the expansion of the United States cotton frontier into Texas. The advancing cotton frontier, however, appears mostly in the form of increasing numbers of cotton bales leaving Texas and the growth of migration of enslavers to the region, bringing with them enslaved people. Seeds of Empire thus occupies an interesting place, both linked to recent scholarship on the connections between slavery and capitalism in the nineteenth-century United States and circum-Caribbean world, like Walter Johnson’s River of Dark Dreams, but also employing different methods and narrative strategies than much of that scholarship.
Seeds of Empire tells the history of the Texas borderlands in three sections, beginning with an introductory chapter on the region “on the eve of Mexican independence,” continuing to a second part on the tension between the extension of the United States’ cotton frontier into Mexico and increasing Mexican antipathy toward slavery in Mexico, and concluding with a section on independent Texas’ attempts to create a successful proslavery cotton republic. It is in discussing the debates surrounding slavery in northern Mexico that Seeds of Empire makes its greatest contribution. Torget lays out an important and, in the historiography of Texas, largely untold narrative of the debates between proslavery Americans and Tejanos and antislavery political forces in Mexico. This section of the book transports readers to debates in Saltillo and shows how important Mexican resistance to slavery would be for Anglo-Texans and enslaved people in Texas.
For Torget, there are three main factors that shape the period of the 1830s and 1840s when Texas seceded from Mexico and pushed to join the United States. He often glosses these three factors as “cotton, slavery and empire,” but his fuller description of each factor is more revealing of the approach of the study. (6) Cotton is really the “rise of the global cotton economy,” slavery is the “battles over slavery that followed,” and empire is “the struggles of competing governments to control the territory” of Texas. (5-6) The brief terms suggest a clear connection to ideas scholars have recently termed “The New History of Capitalism” and “The Second Slavery,” both of which emphasize economic shifts in plantation commodity production under slavery, an increasingly industrial approach to enslavement, and the expansion of plantation complexes to new territory. This scholarship, at its best, connects large shifts in economics, politics, and society to the lived experience of enslaved people. For example, in his River of Dark Dreams, Walter Johnson connects his discussion of the cotton economy to the daily lives of enslaved cotton pickers in Mississippi by tracing the journey of cotton from seed to boll to lint to bale on a Liverpool wharf. (Johnson, 246-279) While both Johnson and Torget use cotton as a way into the world of the Second Slavery, Torget chooses different individual human actors to focus on – largely politicians, empresarios, and powerful cotton planters. While this allows Seeds of Empire an admirably comprehensible and tight narrative of complex and oft-ignored political developments in northern Mexico and, later, Texas, it also means that enslaved people appear largely as subjects of debate, rather than agents of historical change. This is reflected in Torget’s insistence that the aspect of slavery most shaping Texas is national and international debates in Mexico, the United States, and Europe over the future of slavery. This is a result of the political approach the book takes to explaining this period of the history of Texas, but it is still a missed opportunity. Adam Rothman, in writing a history of the advancing cotton frontier that Torget foregrounds, writes a narrative with a central role for politics and warfare, but also foregrounds the active role enslaved people played in shaping the cotton frontier with, for example, the German Coast Uprising.
Torget’s key intervention – that the history of the Texas borderlands can only be understood in terms of the advancing United States cotton frontier – fits naturally into recent scholarship emphasizing capitalism and the Second Slavery, yet Seeds of Empire stands, in terms of its narrative approach, historical actors, and political and economic focus, in stark contrast to much of this work. Historians of the Second Slavery and the New History of Capitalism have largely sought to integrate the testimony of enslaved people, understand historical change as deeply influenced by the actions of enslaved people, and play down the influence of British abolitionism on the daily actions of enslavers in the United States. Torget convincingly argues that Mexican and British abolitionism was central to the history of the Texas borderlands, but is unable to reckon with the ways enslaved peoples actions shaped these borderlands. The book could have offered a fuller explanation of the failure of the Texan proslavery republic by integrating an approach similar to that of Stephanie McCurry’s Confederate Reckoning, which combined an analysis of high politics with an emphasis on political history operating at all levels – showing that, in her case, the Confederacy was crumbling from within outside of its diplomatic and military defeats.
Torget’s book presents an admirably clear and engaging narrative of the competing influences on the borderlands of northern Mexico and the southern United States. Seeds of Empire makes a significant contribution to existing scholarship on the southern United States and northern Mexico by showing how important the antislavery politics of New Spain and Mexico were to the expansion of cotton slavery in the Texan borderlands. While retaining the common emphasis on the importance of the United States cotton and slavery complex, empresarios, and the Comanche in shaping American immigration, the growth of slavery in the borderlands, and the eventual secession of Texas from Mexico, Torget forcefully demonstrates that it is nearly impossible to fully understand this process without a fuller understanding of the politics of Mexico that conditioned the actions of empresarios and free migrants from the United States. In many ways, the narrative shows that it was primarily determined Mexican resistance to slavery in the province of Tejas that prevented enslavers from the United States from migrating in large numbers before the secession of Texas, then the abolitionist politics of Great Britain and threat of Mexican military force that slowed this same migration before the United States annexed the Texan republic. Seeds of Empire is key reading for scholars interested in the history of Texas, the Second Slavery, and the history of the expansion of the United States. Historians of cotton slavery in the United States have recently emphasize the centrality of expansion into Texas to late-stage slavery in South and Torget provides an important step toward exploring and explaining that expansion.
Ian Beamish – Assistant Professor of History of 19th Century US and History of Slavery in the University of Louisiana. E-mail: [email protected]
TORGET, Andrew. Seeds of Empire: Cotton, Slavery, and the Transformation of the Texas Borderlands, 1800-1850. The University of North Carolina Press, 2015. Resenha de: BEAMISH, Ian. Capitalism and Second Slavery in Texas. Almanack, Guarulhos, n.17, p. 460-464, set./dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
How the West Came to Rule: the Geopolitical Origins of Capitalism | Alexander Anievas e Kerem Nisancioglu
This ambitious book covers over six hundred years of global history and offers a specifically ‘geo-political’ correction to a Marxist understanding of the emergence of capitalism. The book has extensive chapters on the Mongolian Empires, the clash between Hapsburgs and Ottomans, the impact of the Black Death , the turn to slave plantations of the Americas and the profits of British rule in India. While developing a critique of traditional Marxist accounts, they uphold both Marx’s concept of ‘primitive accumulation’ and what they call the ‘classical’ narratives of successive ‘bourgeois revolutions’ , each helping to confirm a capitalist dynamic and the ‘Rise of the West’. According to the ‘consequentialist’ doctrine they espouse the nature of revolutions is set by their results rather than their agents. The authors structure much of their narrative around a critique of ‘Eurocentrism’, which they see as conferring an unjustified salience and superiority on western institutions and a failure to register the weight of geo-political advantages and handicaps. The authors supply a new narrative that reworks the ‘transition debate’, Trotsky’s theory of ‘uneven and combined development’ and a concept of the ‘international’ derived from International Relations, all of this from an avowedly ‘anti-capitalist’ standpoint.
The book develops a historical materialist approach but does not suppose that human history is an orderly march of successive modes of production, each born out of the contradictions of their predecessors. While their critique is welcome so is their refusal to throw out the baby with the bath water. The elaboration of theoretical models of social relations, and the identification of characteristic tensions within them, is an essential part of making sense of history. The book takes seriously the task of identifying the succession of structures and struggles that enabled capitalism to embody and promote increasingly generalized and pervasive commodification.
The authors argue that early capitalism was a more complex and global affair than is often allowed. Heteroclite labour regimes, and types of rule, gave rise to uneven and combined development in which the new and the old were closely interwoven. The authors often quote Marx’s powerful passage from Capital, volume 1 chapter 31 sketching the successive moments of ‘primitive accumulation’, linked to gold and silver from the Americas, the Atlantic slave trade, slave plantations, trade wars, colonialism and so forth. New forms of plunder and super-exploitation punctuate later decades and centuries, with Western rule casting a long shadow. ‘Primitive accumulation’ was not just a passing phase but was stubbornly recurrent. It supplied would-be capitalists with the capital and labour force they otherwise lacked. The racialization of the enslaved and/or colonized generated an intermediary layer of ‘free workers’ that, if given slightly easier conditions, would become useful allies of the slaveholders, serving in their patrols and militias. Capitalist development, in this account, is invariably linked to racialization and super-exploitation, and is devoid of a progressive dimension.
The book’s subtitle presumably supplies a key element of the answer to the question posed by the main title. The West’s rise to global ascendancy is a team race which is won by Britain around 1763. (p. 272) The British win because their maritime-manufacturing complex is now turbo-charged by capitalism. While we may anticipate this conclusion much of the book’s interest lies in the account it gives of how this point itself was reached.
The authors explain how Europe’s mercantile and proto-capitalist elites exploited the toilers of the ‘East’ but they grant that it can also sometimes be thought of as the global ‘North’ exploiting the global ‘South’. While the East and South were mercilessly plundered they contributed to the rise of the West in other ways too.
Anievas and Nisanancioglu – henceforth AA and KN – urge that in preceding epochs the Mongolian empires created relatively peaceful conditions along the Silk Road and in adjacent areas which were consequently favorable to the revival of Western commerce in the Baltic and Mediterranean. The nomad’s military prowess inspired emulation. They observe: ‘The Mongol Empire also facilitated the diffusion of such key military technologies as navigational techniques and gunpowder from East Asia to Europe all of which were crucial to Europe’s subsequent rise to global pre-eminence…The Mongols would acquire such techniques in one society and then deploy them in another…’ (p. 73). We can agree that these exchanges were highly significant without seeing those involved as capitalists.
The authors urge that the hugely destructive Mongol invasions of China led its rulers to abandon their projects of expansion and to stand down the voyages of Admiral Zheng He’s mighty fleet. As Joseph Needham used to insist, China made an outstanding contribution to the science and material culture of the West. AA and KN remain focused mainly on the geopolitical and do not concern themselves with Needham’s “Grand Titration”.
It is fascinating to consider what would have happened if Chinese sailors and merchants had made contact with the Americas before the Europeans. Admiral Zheng He repeatedly sailed to the Indian Ocean but neglected the Pacific. If he had turned left rather than right, and sailed to the Americas, China might have been able to pre-empt Columbus and Cortes, especially when it is borne in mind that a silver famine was asphyxiating the Chinese economy at this time. A Chinese mercantile colony in Central America would have thrived on the exchange of silk fabrics and porcelain for silver. The Aztec and Inca rulers would, perhaps, have been able to strengthen their defenses with Chinese help (and gunpowder) and repulse Spanish attempts to conquer the ‘American’ mainland. (China did not go in for overseas territorial expansion).
AA and FN confer great importance on the bonanzas of American silver and gold arguing that the differential use made of precious metal plays a key role in explaining the great divergence between West and East. ( p. 248-9) But they and the authorities they quote do not explain how the silver and gold were extracted and refined, processes that fit their mixed labour model because it involved tribute labour and wage labour but fell short of a capitalist dynamic because the indigeneous miners had to spend most of their earnings on buying food and clothing from the royal shops that were kept supplied with these essentials of life in the mountains from the tribute goods which the Spanish overlords secured from the native villages. This closed circle of production and consumption led to output of thousands of tons of silver, with the royal authorities taking the lion’s share but did not promote capitalist accumulation.
In their own accounting for the divergence between East and West they cite the ‘indispensable’ work of Jack Goody (p. 304, footnote 22) but do not take sufficient account of his stress on differences concerning family form and the regulation of kinship. Goody maintained that clans and kin accumulated so much power in the East that they weakened the state’s power to tax and regulate. In Goody’s view this challenge to the power of kinship was a Western European phenomenon and was driven by the material interests of the Catholic Church. (The Development of the Family and Marriage in Europe, 1988). This interesting line of thought has not received the attention it deserves from historical materialist accounts, including How the West Came to Rule. Whether it is right or wrong, it points to a level of analysis of social reproduction that should figure in any materialist account.
AA and KN eschew speculative ‘counter-factuals’, but they do claim a positive role for Asian empires despite the latter’s often-tight mercantilist policies. They have little time for the argument of some global historians that the land-based empires of Asia briefly encouraged trade only to strangle its autonomous momentum by over-regulating and over-taxing it. Ellen Wood has argued in The Empire of Capital (2004) that the geographical fragmentation of Europe allowed for the rise of sea-borne empires whose merchants became more difficult to control. But for AA and KN the empires were already highly diverse and made their own qualitative input to the rise of Western capitalism through a multitude of dispersed influences and contributions.
Thus the rise of the Ottomans issued a powerful check to European expansion and tied them down in the Balkans, the Adriatic, the Levant and North Africa. According to AA and KN this blockage to the East allowed the western Europeans to seize their chance in the Americas and to initiate a new type of global trade: ‘By blocking the most dominant European powers from their customary conduits to Asian markets, the Ottoman’s directly compelled then to pursue alternative routes.’ (p. 115). However this free-floating compulsion was only compelling because of the breakthrough of a new and more intense – now capitalist – consumerism.
The authors do give importance to Dutch and English trading patterns and to what they call ‘company capitalism’, the state chartering of companies to trade with the East and West Indies. They see these companies as dominating the English and Dutch maritime economy of the 17th and 18th century (p. 116). They urge that the Dutch were constrained by the fact that they were reliant on Ottoman sources for cotton and other vital raw materials for their textile manufacturing. (p. 117) The English eventually prevail because they are less exposed to continental warfare than the Dutch.
The geographic advantages conferred by England’s relative ‘isolation’ from the continent enabled it to outflank its rivals. (p. 116). They conclude: ‘English development in the sixteenth century can best be understood as a particular outcome of “combined development” […] Ottoman geopolitical pressure must therefore be seen as a necessary but not sufficient condition for the emergence of agrarian capitalism in England.’ (p. 119) The causality embraced by the authors in these passages is a weak one whether addressing the impetus to trade, England’s ‘isolation’ or the authors’ exaggerated view of ‘company capitalism’. Indeed the turn to the Americas should be seen as a having two distinct waves, firstly the silver surge of the mid and late 16th century while allowed Europe to buy Eastern spices and silks and, secondly, the rise of the sugar and tobacco plantations of the Americas, which really belongs to 17th century and after. It was not until the early 17th century that Dutch and English merchant adventurers turned to setting up plantations to meet the popular demand for sugar and tobacco, discovering that this offered far larger returns than either the Eastern trades or preying on Spanish fleets. At first these plantations were worked by free, European youths but demand was so buoyant that the merchants brought African captives who had greater immunity to tropical diseases and brought valuable agricultural skills. The Dutch West and East India companies played a role in this because they blazed a trail for English and French planters. Once the Dutch had lost Angola, Brazil and New Amsterdam, their operations became a side-show.
How the West Came to Rule pushes the debate about the transition to capitalism into new areas and that is itself salutary. The geo-political perspective yields new insights. But the argument from geo-political necessity to economic novelty moves too rapidly and insists that the emergence of capitalism in England has no primacy in the switch from luxury trades to building slave plantations (this gruesome primacy should be a source of national shame not pride).
As already mentioned, the Eastern trade was largely confined to small quantities of expensive luxuries in the 16th and 17th centuries. The Dutch and English 17th century interlopers and marauders, with their contempt for Spanish mercantilism, pioneered the large scale Atlantic trade in items of popular consumption. Before long the European companies were left far behind and the free-lance slave traders, privateers and smugglers became the champions of laissez faire and free trade, and became thoroughly respectable.
Sugar and tobacco, the new popular pleasures, came to Europe not from Asia but from Brazil, Barbados and Virginia. The surge of plantation development was initiated by ‘New Merchants’ not by the official trading companies. The chartered trading companies played a very modest role because they embodied the backward practices of feudal business, with its royal charters. By contrast the New Merchants favoured a much looser variety of mercantilism that allowed for competition and innovation. Whereas the companies were looted by their own management, the ‘New Merchants’ kept a close eye on their investments. The initiatives of the new merchants stemmed from a surge of commodification and domestic demand, itself the product the spread of capitalist social relations in the English countryside as well as towns. Tenant farmers, improving landlords, lawyers, stewards, and the swelling ranks of wage labourers, had the cash or credit to buy these popular treats and indulgences. Without the forced labour of the plantations, and Hobsbawm’s ‘forced draught’ of consumer cash, these trades would not have kindled the 18th and 19th century blaze of the hybrid Atlantic economies. AA and KN do register the plantation revolution but insist that it would be wrong to see English capitalism and wage labour as a ‘prime mover’.
How the West Came to Rule has a good chapter on the slave plantations and their massive contribution to capitalist accumulation in the long 18th century. But AA and KN do not concede that the plantations were summoned into being by the cash demand generated by the world’s first revolutionary capitalism. They underplay the role of the New Merchants (and their captains and seamen) with their double role as entrepreneurs and political leaders. This was the epoch of the English Civil War and ‘Glorious Revolution’. The classic work on the New Merchants stresses their link to England’s transition to capitalism is Robert Brenner’s Merchants and Revolution (1993). One might have thought that Brenner’s work would be grist to the mill so far as AA and KN are concerned. However the reader of How the West Came to Rule is repeatedly warned not to be misled by Brenner’s account of capitalist origins and development (see especially pp. 22-32, 118-9, 279-81 amongst many others).
AA and FN contest the novelty and centrality that Brenner accords to the spread of capitalism and commodification in 16th and 17th century rural England. They see instead a long chain of ‘value added’ contributions from colonial or semi-colonial Asia, Africa and the Americas, all helping to bring global capitalism into existence. They concede to Brenner ‘the great merit of de-naturalising the emergence of capitalism’ (p. 81) but dispute the idea that this remarkable new twist in human history was the unintended result of a three-way struggle between English landlords, tenant farmers and landless labourers as he argued in his now-classic articles in Past and Present and New Left Review in the 1970s and 1980s. Brenner did not himself always connect his decisive research into the New Merchants with the so-called ‘Brenner thesis’. Nevertheless he identified the crucial break-through, showing that agrarian capitalism developed from landlords who demanded money rents, tenant farmers needed cash to pay rent, and landless rural workers, who had to sell their labour power if their families were to be housed and fed. Farmers who needed or wanted to pay for extra hands had an incentive to seek labour-saving innovations. The wages and fees paid by employers would also helped to swell the domestic market, encouraging commodification. Since agriculture accounted for at least 70% of GDP its transformation had great consequences.
Jan de Vries argues that early modern Europe was gripped by an ‘industrious revolution’ reflecting a more intense labor regime and a proto-capitalist consumerism. A taste for tobacco, sugar, coffee and cotton apparel encouraged many into new habits premised upon the increasing importance of the wages, rents, profits, fees and salaries of an Anglo-Dutch ‘market revolution’ in the years 1550-1650. Shakespeare’s The Tempest (1614) gives us a glimpse of the feasting and rebellions that early modern capitalism, with its visions of plenty, could inspire and of the varieties of enslavement it entailed. By the mid-19th century daily life had been re-shaped by sweetened beverages, jam, confectionary, washable clothes, colourful prints and the chewing or smoking of tobacco.
AA and KN decry what they term the ‘ontological singularity’ of Brenner’s economic logic, urging that it leads to a reductionism that has no space for race or patriarchy. They argue that ‘patriarchy and racism’ are ’not external to capitalism as a mode of production but constitutive of its very ontology.’ (p. 278). It is difficult to see how any account could be more reductionist than one which simply (con)fuses capitalism with racism and patriarchy. Nevertheless there are interesting questions which arise here. Could capitalism survive if deprived of the fruits of gender and racial exploitation? There are certainly feminists and anti-racists who believe that much can be achieved short of the total suppression of capitalism – and there are some who believe that better versions of capitalism could assist in promoting feminist and anti-racist goals. The spectrum here was illuminated by Nancy Fraser’s Fortunes of Feminism (2014).
Back in the day the more radical British and US abolitionists campaigned courageously for racial justice and equality in the name of a ‘free labour’ or forty acres and a mule, demands compatible with capitalism. Socialists might be happy to form alliances for progressive goals to be achieved ‘by any means necessary and appropriate’. If we grant the theoretical possibility that patriarchy and racism could be suppressed but capitalism remains, this outcome might still prove to be undesirable, impractical and unstable. The intimacy of the connections between capitalism, racism and patriarchy suggest that they could share a common fate, though other outcomes are quite possible.
AA and KN endorse the classic claim that the rise of capitalism was given needed extra-momentum by a series of ‘bourgeois revolutions’. Their account of the main revolutions is not detailed but adds the dialectical sweep of their story. AA and KN quote Anatolii Ado to the effect that ‘the popular revolutions of the petty producers ought to be seen as an essential element of the capitalist dynamic’. (p. 212). Slave resistance sometimes took the form of demanding wages while itinerant peddlers happily bought ‘stolen goods’ from the slaves.
While I find AA and KN’s sketch of the bourgeois revolutions makes for a more complex account, there is still a way to go. The American War of Independence led to the destruction of the European colonial empires in the Americas. This was a mighty blow for capitalism in the Atlantic societies and helped to trigger the French Revolution and hence the Haitian revolution. The further impact on Spanish America and Brazil are not discussed. All these events echoed themes of bourgeois revolution and the ‘rights of man’ as re-worked by free people of colour, slave rebels, liberty boys, dockers, sailors and the ‘picaresque proletariat’. The black Jacobins denounced the ‘aristocracy of the skin’. AA and KN could, perhaps, have drawn on their notion of a mixed social formation to consider in more depth the worlds of indios, caboclos, petty producers, runaways, store keepers, itinerant peddlers and the ‘sans culottes of the Americas’. The bourgeois character of these revolutions in the end excluded as many as it aroused.
How the West Came to Rule offers so much that it would not be fair to dwell on its omissions. The American Revolution tests the limits of the model advanced by AA and KN. The North American farmers and merchants have a solid claim to have defied and destroyed mercantilism and colonial subjection. But the planters were not exactly bourgeois and the indigenous peoples and the enslaved Africans found no solace and much suffering and bitterness in the extraordinary rise of the White Man’s Republic. In this as in other cases the initial impact of bourgeois revolution was to stimulate the plantation trades rather than weaken slavery or racialization.
How the West Came to Rule (HWCR) rightly stresses the massive ‘Atlantic’ contribution to the development of capitalism in the 17th, 18th and 19th centuries. Whether it is Britain, France, Spain, or even Portugal and the Netherlands, the volume of trade that was bounded by the Atlantic was very much greater – down to about 1820 – than Europe’s trade with the East. Of course after that date British rule in India, and the sub-continent’s commerce, became far more important for the metropolis, and the same could be said for Indonesia and Dutch rule. Whereas the spice trade to Asia required two or three galleons a year in the 16th century the plantation trade was to require thousands of ships by the mid 19th century. AA and KN maintain that Britain’s early industrialisation was based on Indian inputs (p. 246). In fact England’s 18th century cotton manufacturers looked to the Caribbean and Anatolia for most of their raw material. It was not until the 19th century that India became Britain’s main source of cotton and the captive Indian market a major outlet. AA and KN could have dwelt at greater length on the hugely destructive impact of British rule in India – famines, fiscal exactions, de-industrialization and so forth – but they do explain the Raj’s success in building a locally-financed and recruited Army of India and alliance with the subcontinent’s ‘martial races’. British India troops held down the widening boundaries of the Raj and were deployed to many parts of the empire. They formed part of the British forces that invaded China in 1839-42, 1859-62 and 1900. (p. 263) This was the true apogee of empire. But the rapacious ultra-imperial unity of the Western powers and Japan did not last for long, leading, as it did, to a new epoch of war and revolution.
How the West Came to Rule addresses a large and complex question in interesting new ways and is to be commended for that. It draws on wide reading and demonstrates the continuing relevance of the debates on the transition to capitalism and gives them a geographically and conceptually wider scope. While their account may be open to objection at various levels their choice of topic and the breadth of their approach is timely and welcome.
Robin Blackburn – Teaches at the New School in New York and the University of Essex, UK. He is the author of the The American Crucible (2011). E-mail: [email protected]
ANIEVAS, Alexander; NISANCIOGLU, Kerem. How the West Came to Rule: the Geopolitical Origins of Capitalism. London: Pluto Press, 2015. Resenha de: BLACKBURN, Robin. Revisiting the Transition to Capitalism Debate. Almanack, Guarulhos, n.17, p. 465-475, set./dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
Africanos Livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil | Beatriz Mamigonian
A publicação de Africanos Livres oferece ao público em geral e, especialmente ao campo historiográfico brasileiro, uma referência incontornável sobre temas como escravidão e abolição do tráfico no Império do Brasil. Desde o doutorado desenvolvido na Universidade de Waterloo, no Canadá, a obra é resultado de mais de vinte anos de pesquisa e da análise de uma vasta documentação. A pesquisa original se referia aos africanos traficados ilegalmente e que tiveram tal condição reconhecida pelo Estado brasileiro, mas a presente obra abarca aqueles escravizados ilegalmente com a conivência das autoridades. Desse modo, Beatriz Mamigonian narra uma história da abolição do tráfico no país a partir da experiência dos africanos contrabandeados entre as décadas de 1820 e 1850.
Ainda na introdução, a autora reitera seu posicionamento entre os historiadores da escravidão enfatizando o papel dos sujeitos históricos, com destaque aqui para os africanos livres. Hegemônica no campo acadêmico desde meados da década 1980, a agenda da agência escrava ofereceu ganhos conceituais e políticos para a compreensão da escravidão e do racismo no Brasil. No entanto, o livro busca incorporar dinâmicas mais amplas da política e das relações internacionais, seguindo o movimento recente de historiadores do campo.[1] Cabe ressaltar que essa história da escravidão “vista de baixo” inspirou-se nos estudos de Edward Thompson sobre as transformações na sociedade inglesa à época da Revolução Industrial. Marxista heterodoxo, Thompson criticava e recusava a imposição de conceitos abstratos às experiências de indivíduos e suas percepções. Contudo, as condicionantes e amarras do capitalismo sempre estiveram presentes em suas análises. Desse modo, a reorientação recente dos estudos brasileiros sobre a escravidão, tal como se vê na pesquisa de Mamigonian, aponta para uma bem-vinda conciliação com seu paradigma original, embora a dinâmica da economia global e os conflitos interestatais ainda permaneçam obliterados na narrativa de Mamigonian.
Os capítulos acompanham as trajetórias dos africanos livres desde o início do século XIX, quando a categoria foi criada em resultado das primeiras leis e tratados que limitavam ou condenavam o tráfico, até a década de 1880, quando a vertente mais radical do movimento abolicionista brasileiro adotou a estratégia de reconhecer todos os africanos escravizados ilegalmente no país como africanos livres. Ordenada cronologicamente, a narrativa parte do caso da Escuna Emília e dos africanos nela contrabandeados ao norte da linha do Equador em 1821, violando os tratados firmados entre a Grã Bretanha e a diplomacia de D. João VI. Os dois primeiros capítulos avançam até a independência de 1822 e o reinado de D. Pedro I, em um encadeamento não linear, mas coerente, entre o projeto antiescravista de José Bonifácio na Assembleia Constituinte, os Tratados firmados com a Grã Bretanha em 1826 e a promulgação da Lei de 7 de novembro de 1831. Conhecida no senso comum como uma “lei para inglês ver”, essa lei foi efetivamente aplicada nos primeiros anos, caindo em conveniente desuso em meados da década de 1830, a partir da convergência entre a campanha dos cafeicultores escravistas e os membros do Partido da Ordem. A política conservadora em prol do tráfico não se concretizou na revogação da lei, mas no aceno a escravistas e traficantes no sentido de que o Estado não adotaria medidas no sentido do combate do contrabando. A narrativa descreve então o acirramento das relações entre Brasil e Grã Bretanha, tanto no cenário que levou à promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, quanto no dos embates entre o governo imperial e o embaixador britânico William Christie, que culminou com a ruptura das relações entre os países na década de 1860. Em ambos os casos, a autora propõe um argumento semelhante, segundo o qual os africanos livres teriam contribuído para o afloramento das tensões entre os países, reivindicando seus direitos na esteira das crises políticas instauradas. A despeito da emancipação definitiva dos africanos livres em 1864, os capítulos finais avançam até a década de 1880, revelando a precariedade da liberdade desses africanos, assim como seu papel nas estratégias do movimento abolicionista durante a crise que levou à derrocada do cativeiro em 1888.
Os sujeitos históricos ilegalmente escravizados são personagens em todos os capítulos. Sob a promessa do retorno à África ou da sua incorporação à sociedade brasileira, os africanos livres foram submetidos a trabalhos compulsórios, fosse em órgãos públicos ou nas casas e fazendas de particulares. Em condições próximas ao cativeiro e convivendo com escravos, viveram sob a insegurança jurídica de sua condição e a falta de clareza sobre os prazos da tutela. Mais do que um eufemismo, sua definição como “livres” carregava um componente ideológico típico do discurso escravista (e posteriormente do racismo) brasileiro. No entanto, a consciência da ambiguidade de sua posição social os tornava potencialmente disruptivos tanto para os governos quanto para a ordem social escravista. Ao acionarem a embaixada britânica, associações abolicionistas e o judiciário, eles constrangiam autoridades do Estado, inclusive diante da comunidade internacional. Por sua vez, a proximidade com os escravos poderia estimular sua resistência, especialmente daqueles contrabandeados e escravizados ilegalmente.
Ao descrever as experiências de indivíduos submetidos ao contrabando, ao cativeiro ilegal e a trabalhos forçados, a obra resgata a memória silenciada de opressões do passado. A despeito da importância política dessa escolha, nem todas as trajetórias correspondem ao papel decisivo que lhes é imputado em cada capítulo. A autora sustenta que o protagonismo dos africanos livres deve ser compreendido a partir de um jogo de escalas que revela novas dinâmicas de três eixos temáticos: as consequências jurídicas da Lei de 1831, a experiência do trabalho no Atlântico oitocentista e a conjuntura que levou à abolição do tráfico. A escala da vivência dos africanos livres de fato materializa e humaniza a experiência da ilegalidade que marcou a formação da sociedade brasileira e do Estado nacional entre as décadas de 1820 e 1840, assim como o cenário de mobilização política das últimas duas décadas da escravidão no país. No entanto, a autora narra a agência dos africanos livres nos primeiros e nos últimos capítulos em paralelo com eventos mais amplos da política nacional e das relações exteriores, como se apenas sugerisse tênues relações de causalidade.
O capítulo sexto, por sua vez, consiste na empreitada mais ambiciosa do referido jogo de escalas, tanto metodologicamente quanto pelas contribuições à historiografia, sendo o ponto mais polêmico do livro. Bem organizado, o capítulo apresenta o cenário que levou à promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, destacando atores institucionais, como o Ministro Britânico Palmerston, o embaixador James Hudson e os membros do gabinete conservador no poder à época. Juntam-se a eles a conspiração de escravos descoberta em 1848, apontada pelo historiador Robert Slenes como influente nos temores que levaram as autoridades a acatarem a agenda da abolição do tráfico.[2] A contribuição de Mamigonian está em apontar a participação de políticos liberais nos conflitos que levaram ao fim do tráfico, com destaque para duas instituições que militavam contra a conivência das autoridades com o contrabando: o periódico “O Philantropo” e a “Sociedade contra o Tráfico de Africanos e Promotora da Colonização e da Civilização dos Indígenas”. O capítulo atinge o clímax nas últimas páginas, quando a historiadora sugere a existência de uma articulação política que interligaria o governo britânico e o embaixador Hudson a políticos do Partido Liberal, que teriam se valido das duas instituições mencionadas e, possivelmente, até mesmo de um estímulo à articulação dos escravos conspirados. Mamigonian caminha no mesmo sentido do estudo recente de Angela Alonso sobre o movimento abolicionista, enfatizando o papel da sociedade civil, da opinião pública e da militância durante o Império.[3] Segundo a autora, o discurso de Eusébio de Queiroz, em 1852, mais do que defender o governo conservador à época da abolição do tráfico, serviu à construção de uma memória seletiva, que apagou a articulação entre abolicionistas ingleses e brasileiros e sua estratégia de incitar escravos e africanos livres como meio para desestabilizar a política em prol do contrabando.
A hipótese demanda mais estudos e dados, especialmente no tocante ao último elo – entre abolicionistas e escravos -, como reconhece a própria autora. A argumentação inevitavelmente abre flancos para críticas. A título de exemplo, a leitura permite uma interpretação equivocada das agendas dos partidos, como se houvesse uma divisão clara entre conservadores-escravistas e liberais-abolicionistas. Em segundo lugar, a argumentação reproduz indiretamente a autoimagem humanitária do abolicionismo britânico, como fazem os estudos do historiador Seymour Drescher, perdendo-se de vista seu caráter ideológico como instrumento imperialista.[4] Em uma breve passagem do quinto capítulo, a historiadora chega a sugerir um enquadramento mais amplo, em que o debate acerca do tráfico e dos africanos livres cumpriria diferentes funções nas duas margens do Atlântico, relacionando-se, de um lado, aos riscos imanentes à sociedade escravista brasileira, e de outro, à ideologia da “missão civilizadora” que permitiria aos britânicos intervirem no território africano. A curta passagem mereceria uma análise mais aprofundada e deixa de repercutir no capítulo sexto. De todo modo, trata-se do melhor exercício do método de escalas proposto pela historiadora, assim como de sua defesa do papel dos sujeitos históricos no processo de abolição do tráfico – embora apresente mais provas da agência dos abolicionistas do que dos africanos livres. A despeito das lacunas, a contribuição para o debate historiográfico atesta a importância da pesquisa e da publicação.
A respeito do enquadramento teórico, o estudo tem o mérito de propor um jogo de escalas que integraria sujeitos às camadas da política e da economia, superando as fronteiras nacionais. No entanto, a narrativa se limita a quatro níveis de análise nem sempre articulados: a exploração e a resistência de africanos livres; instituições da sociedade civil, como associações e veículos da imprensa (essencialmente “O Philantropo” e a “Sociedade contra o Tráfico”, presentes em poucos capítulos); a dinâmica da alta política imperial; e a pressão diplomática britânica. Além disso, as escalas tendem a recair no individualismo metodológico quando se reduzem aos agentes que as compõem, sejam os africanos, os políticos ou os abolicionistas. O estudo se beneficiaria da incorporação de dinâmicas geopolíticas e econômicas globais, ou ao menos atlânticas. No que diz respeito à década de 1830, Mamigonian descreve a guinada política representada pelo Regresso Conservador e sua nova agenda no tocante ao tráfico e aos africanos livres. No entanto, embora mencione o papel da campanha dos produtores do Vale do Paraíba na campanha pela revogação da Lei de 1831 e sua articulação com os políticos do Partido da Ordem, a historiadora não atenta para as demandas econômicas internacionais a partir da abertura dos mercados estadunidenses para o café brasileiro. Mais relevante ainda seria a percepção do cenário atlântico nas décadas de 1850 e 1860, quando ocorreram as emancipações dos africanos livres – primeiramente daqueles concedidos a particulares (1853) e posteriormente daqueles mantidos como prestadores de serviços forçados ao Estado (1864). A primeira emancipação foi associada por Mamigonian à crescente demanda dos africanos livres após a crise política que levou à abolição do tráfico em 1850, devido à consciência de um novo horizonte de oportunidade. Por sua vez, a emancipação definitiva na década de 1860 foi interpretada como resultante da pressão abolicionista de políticos liberais e do embaixador William Christie. No entanto, o horizonte do cativeiro se estreitara naquela década a partir da Guerra Civil nos Estados Unidos, que legou ao Brasil a condição de único Estado nacional escravista das Américas. O mesmo contexto que provocou um racha entre a elite política e o declínio do consenso que sustentava a política da escravidão contribuiu para a percepção dos africanos livres como elementos disruptivos na ordem escravista. O jogo de escalas proposto por Mamigonian perde fôlego para além das fronteiras nacionais, reduzindo-se às pressões britânicas e aos discursos e ações de políticos e abolicionistas e às suas influências unilaterais na política e na sociedade brasileiras.
Sobre a dimensão econômica global de seu jogo de escalas, a historiadora propõe uma reflexão a respeito do mundo do trabalho no século XIX, questionando a falsa antítese entre escravidão e trabalho “livre”. A exploração de africanos livres junto a escravos, prisioneiros e indígenas demonstrou tanto a precariedade da liberdade na era da abolição, quanto a multiplicidade de formas de trabalho compulsório no período. Ao se aproximar do tema do trabalho, Mamigonian abdicou de um debate sobre o capitalismo oitocentista. Na introdução do livro, esboçou tal movimento ao apresentar a dinâmica da escravidão como radicalmente nova, tendo em vista a expansão de zonas produtoras de artigos tropicais para o mercado internacional, em referência aos estudos de Dale Tomich. Mas o diálogo com a agenda de estudos sobre capitalismo e escravidão não encontrou eco nos capítulos seguintes – seria importante fazê-lo inclusive no capítulo sexto. Do mesmo modo, os historiadores que têm levado adiante a perspectiva de Tomich e defendido uma abordagem sistêmica da escravidão no século XIX não figuram nos parágrafos ou notas.[5] O mesmo valeria para o diálogo com a historiografia que cruza dinâmicas mais amplas a partir de biografias.[6] A proposta da metodologia em escalas de Mamigonian poderia se valer da incorporação ou da crítica a outras matrizes teóricas, de modo a esclarecer suas premissas e vantagens. A obra se beneficiaria, especialmente, do diálogo com os estudos recentes de Leonardo Marques e Tâmis Parron, que vêm analisando o tráfico negreiro e a escravidão à luz da dinâmica da economia global no mundo pós Revolução Industrial e da ordem geopolítica sob a hegemonia da Grã Bretanha.[7] Se a autora tivesse optado por dialogar com esses estudos, poderia ter realizado melhor o próprio jogo de escala que propõe no início do livro e nem sempre realiza a contento.
No epílogo, a historiadora apresenta em retrospecto as contribuições da pesquisa, destacando o desafio à memória oficial sobre as leis antitráfico de 1831 e 1850. Na contramão da narrativa construída por Eusébio de Queiroz, a primeira lei não teria sido legada ao esquecimento absoluto, e a segunda não seria o resultado do protagonismo patriótico dos saquaremas contra a Grã-Bretanha. Tampouco haveria uma linha progressiva e gradual entre a abolição do tráfico e a da escravidão. Mamigonian retoma com maior contundência seus argumentos referentes à resistência e articulação entre abolicionistas, africanos livres e escravos, enfatizando a imprevisibilidade de cada contexto e a importância de seu protagonismo. Para além dos ganhos historiográficos, a obra se destaca pelo engajamento político no presente. Acessível ao público em geral, o livro segue a tônica de estudos recentes ao refutar a memória oficial brasileira, marcada por esquecimentos seletivos e interessados, que negam a relevância social dos marginalizados e as estruturas políticas e econômicas que os marginalizaram. Em tempos de precarização das relações de trabalho e de discursos negacionistas do passado e do presente racial brasileiro, a lembrança dos africanos livres incomoda posições de privilégio e de poder ao denunciar o que se convencionou legar ao silêncio.
Notas
1. O mesmo movimento se nota nos estudos de Sidney Chalhoub. Visões da Liberdade (1990) foi um dos marcos da agenda da agência escrava, mas as recentes publicações do historiador apontam para as constrições políticas do cativeiro, como em A Força da Escravidão (2012). A guinada historiográfica, no entanto, é mais evidente nas contribuições de estudos recentes como os mencionados mais adiante, nas notas 6 e 7 desta resenha.
2. Ver SLENES, Robert. “A árvore de Nsanda transplantada: Cultos Kongo de aflição e identidade escrava no sudeste brasileiro (século XIX)” In: LIBBY, Douglas Cole; FURTADO, Júnia (orgs.) Trabalho livre, trabalho escravo: Brasil e Europa, séculos XVIII e XIX. São Paulo: Anablume, 2006, pp. 273-314;
3. Ver ALONSO, Angela. Flores, Votos e Balas: O Movimento Abolicionista Brasileiro, 1868-1888. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. O diálogo entre as perspectivas teóricas de ambas as autoras contribuiria para o campo, mas não consta a referência na bibliografia de Mamigonian.
4. Ver DRESCHER, Seymour. Abolição: uma história da escravidão e do antiescravismo. São Paulo: Editora Unesp, 2011.
5. O diálogo proposto se refere aos estudos de Dale Tomich e o conceito da “Segunda Escravidão”, mas não se estende aos historiadores brasileiros que vem desenvolvendo pesquisas no mesmo sentido nas últimas décadas. Ver TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. Trad. Port. São Paulo: EDUSP, 2011. E sobre a referida omissão ver BLACKBURN, Robin Blackburn, The American Crucible. Slavery, Emancipation and Human Rights, Londres, Verso, 2011; PIQUERAS, José A. (ed.), Trabajo Libre y Coactivo en Sociedades de Plantación, Madri, Siglo XXI, 2009; SCHMIDT-NOWARA, Christopher. Empire and Antislavery: Spain, Cuba and Puerto Rico, 1833 – 1874, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1999; ZEUSKE, Michael. “Comparing or interlinking? Economic comparisons of early nineteenth-century slave systems in the Americas in historical perspective”, In: Enrico dal Lago & Constantina Katsari (eds.), Slave Systems. Ancient and Modern, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 148-183; MARQUESE, R. B.; SALLES, (orgs.). Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016; KAYE, Anthony, “The Second Slavery: Modernity in the Nineteenth-Century South and the Atlantic World”, Jornal of Southern History, vol. 73, n. 3, August 2009, p. 627-50; DAL LAGO, Enrico, American Slavery, Atlantic Slavery, and Beyond. The U.S. “Peculiar Institution” in International Perspective, Boulder, Paradigm Publishers, 2012.
6. Sobre essas abordagens, ver SCOTT, Rebecca; HÉBRARD, Jean. Provas de Liberdade: Uma odisseia atlântica na era da emancipação. São Paulo: Unicamp, 2014. REIS, João; GOMES, Flávio; CARVALHO, Marcus. O Alufá Rufino. Tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico Negro (1822-1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
7. Ver PARRON, Tâmis. A política da escravidão na era da liberdade: Estados Unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. Universidade de São Paulo,2015; MARQUES, Leonardo. The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas, 1776-1867. New Haven; London: Yale University Press, 2016. O mesmo pode ser dito no tocante à experiência do direito e da escravidão no Atlântico oitocentista com relação ao estudo de, Waldomiro da Silva Junior, Entre a escrita e a prática: direito e escravidão no Brasil e em Cuba, c. 1760-1871. Tese. Universidade de São Paulo em 2015. Por fim, embora se posicione entre os historiadores que defendem a agenda da agência escrava, a pesquisa deixou de dialogar com estudos como o de Maria Helena Machado, O Plano e o Pânico: os movimentos sociais na década da abolição. São Paulo: Edusp, 2010. Seria igualmente relevante a incorporação do estudo sobre a precariedade da liberdade de Henrique Espada Lima, “Sob o domínio da precariedade: escravidão e os significados da liberdade de trabalho no século XIX”. Topoi (Rio de Janeiro), v. 6, n. 11, Julho-dezembro de 2005, pp. 289-326.
Marcelo Ferraro – Formado em Direito (2009) e História (2013) pela Universidade de São Paulo, e possui Mestrado em História (2017) pela mesma instituição. E-mail: [email protected]
MAMIGONIAN, Beatriz. Africanos Livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. Resenha de: FERRARO, Marcelo. Entre cativeiros: africanos livres na formação do Estado imperial e na economia-mundo oitocentista. Almanack, Guarulhos, n.17, p. 476-485, set./dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas 1776 – 1867 | Leonardo Marques
O tema do livro de Leonardo Marques é a participação dos Estados Unidos no tráfico atlântico de escravos entre a fundação da nação, em 1776, e o fim efetivo desse tráfico para a colônia espanhola de Cuba, em 1867. O livro origina-se da tese de doutorado defendida pelo autor na Universidade de Emory, em 2013. A participação norte-americana no tráfico se deu, em primeiro lugar, pelo fato, menos notado pela historiografia e pelo senso comum, de que os Estados Unidos foram o maior país consumidor de bens produzidos por escravos do século XIX (p. 9-10). Mas essa participação ocorreu também pelo envolvimento de traficantes, comerciantes, seguradores, financistas, construtores navais, capitães e marinheiros norte-americanos no tráfico para o próprio Estados Unidos, até 1808, para o Brasil, até 1850, e para Cuba, até 1867. Tal envolvimento foi tanto legal e aberto, até a abolição do tráfico para os EUA em 1808, quanto mais nebuloso, indireto e, eventualmente, ilegal após essa data. Marques trata ainda das atitudes e políticas implementadas pelo congresso e pelo governo federal norte-americanos a respeito do assunto ao longo desse período.
Com base em diversas fontes arquivísticas nos Estados Unidos, Brasil, Cuba e Grã-Bretanha, da análise dos dados disponíveis sobre o tráfico de escravos africanos no site Slavevoyages e da discussão com a literatura secundária, Leonardo Marques aborda seu tema em seis capítulos, além da introdução e da conclusão: a participação norte-americana no tráfico na era das revoluções, entre 1776 e 1808; o período de transição entre essa última data, em que comércio internacional de escravos tornou-se ilegal nos Estados Unidos, e 1820, quando a legislação contra o tráfico tornou-se mais rigorosa; a consolidação do comércio de contrabando internacional de escravos, entre 1820 e 1850, data da abolição efetiva do tráfico para o Brasil; a participação norte-americana no contrabando para o Brasil, entre 1831 e 1850. Os dois capítulos finais tratam das relações da república escravista com Cuba, entre 1851 e 1858, e da crise dessas relações e da própria escravidão norte-americana entre 1859 e 1867, data em que, finalmente, o tráfico foi abolido para a colônia espanhola.
O assunto não é novo, mas ainda é pouco explorado pela historiografia e só recentemente vem recebendo maior atenção. De acordo com Marques, as seguidas revisões historiográficas sobre a tese de W. E. B. Du Bois, The Supression of the African Slave Trade to the United States of America, 1638 – 1870, de 1896, que teria inflado os números sobre o comércio internacional de escravos para as Américas em geral e para os Estados Unidos em particular, subestimaram a participação indireta de cidadãos estadunidenses no tráfico. Assim como a tolerância, quando não a defesa, governamental em relação a essa participação (p. 7-10). Só essa “revisão da revisão”, por assim dizer, já recomendariam o livro aqui resenhado, além das novas informações que sua pesquisa traz. Mas, o mais importante é como Leonardo Marques realiza essa revisão, inserindo seu tema nos grandes fluxos e redes mercantis, culturais e políticas em escala mundial que ganharam nova forma e impulso no século XIX. Desse modo, sem que o termo seja empregado, pode-se dizer que se trata de um trabalho de História Global, novo invólucro – com importantes inovações, sem dúvida – para tratar de temas amplos que foram negligenciados pelas correntes historiográficas dominantes nos últimos trinta anos. Além disso, The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas adota a perspectiva, primeiramente desenvolvida por Dale Tomich, que considera a escravidão – e o tráfico atlântico – do século XIX como uma Segunda Escravidão. De acordo com essa visão, a escravidão e o tráfico do século XIX não foram uma sobrevivência dos tempos coloniais, mas reconfigurações ainda mais poderosas dessas mesmas instituições, que se desenvolveram em íntima conexão com a nova fase de desenvolvimento da economia e do mercado internacional capitalista e da nova ordem mundial regida pela formação dos Estados Nacionais sob hegemonia britânica.
Essa segunda escravidão nasceu sob impulsos contraditórios. Ela respondeu a um incremento substancial da demanda de determinados produtos – algodão, açúcar e café – ocasionado pelos processos de industrialização, urbanização e intensificação do consumo e do comércio internacional na Grã-Bretanha, em outras regiões da Europa e nos Estados Unidos. Tal incremento da demanda foi um dos fatores que propiciaram o desenvolvimento da escravidão em novas áreas no Sul dos Estados Unidos, em Cuba e no Brasil, especialmente no Vale do Paraíba. O tráfico de escravos, que, mesmo depois de ter sido declarado ilegal, aumentou seu volume conforme se expandia a demanda por bens produzidos por escravos, inseria-se em circuitos comerciais mais amplos que incluíam até mesmo bens produzidos por potências antiescravistas: mosquetes, tecidos e chumbo da Grã-Bretanha; tecidos e conhaque da França; tecidos, tabaco e rum dos Estados Unidos. O tráfico também estava inserido na estrutura financeira e comercial internacional com suas letras de câmbio, bolsas de valores e companhias por ações (p. 107). Finalmente, o tráfico era peça integrante do contexto mais amplo de relações das regiões escravistas entre si. É conhecida a presença econômica britânica no Brasil, mas os Estados Unidos não ficavam muito atrás. As relações entre Cuba e Estados Unidos eram intensas, ficando atrás apenas da Grã-Bretanha e França. Tudo isso mostra como as elites das três regiões escravistas estavam integradas no mundo do livre comércio (p. 109).
Paradoxalmente, nesse mesmo período, a escravidão e o tráfico passaram a ser globalmente contestados, em resultado dos desdobramentos diretos ou indiretos da campanha britânica pela abolição do tráfico internacional, datada das últimas décadas do século XVIII, da Independência Americana, da Revolução Francesa e da Revolução Haitiana. Nesse contexto, a defesa do livre comércio e o combate ao tráfico internacional de escravos foram pontos fundamentais na imposição da hegemonia britânica na ordem mundial que emergiu após 1815. Portugal, em seguida o Brasil e Espanha, nação soberana sobre a ilha de Cuba, como potências escravistas que dependiam do fluxo de escravos africanos para sua expansão, resistiram o quanto puderam à pressão britânica pela extinção do tráfico. Apesar de aceitarem formalmente a ilegalidade do tráfico africano em 1820 (império espanhol) e 1830 (Império do Brasil), continuaram praticando-o, em escala ainda mais ampliada, até 1850 (Brasil) e 1867 (império espanhol).
E quanto aos Estados Unidos? A partir dos dados levantados e analisados do site Slavevoyages – uma constante no trabalho – Leonardo Marques nos mostra que, entre 1783 e 1807, último ano em que o comércio de escravos africanos foi permitido para o país, traficantes norte-americanos transportaram pouco mais de 165 mil cativos africanos para a América, grande parte deles destinada ao próprio país. Esses traficantes, contudo, não eram provenientes de portos do Sul escravista, mas da região da Nova Inglaterra, especialmente Bristol e Newport (ambas em Rhode Island), evidenciando uma aliança entre o Sul e o Norte. A estrutura desse comércio era eminentemente nacional, em comparação com o esquema altamente internacionalizado que tráfico de contrabando adquiriu a partir da década de 1830 em diante. Traficantes, financiadores, seguradores, capitães, tripulações, praticamente tudo era doméstico. A proibição do tráfico, em 1808, respondeu ao temor do perigo que uma grande massa de africanos poderia representar ao país e atendeu os interesses das áreas escravistas mais antigas, onde a população escrava se reproduzia e crescia naturalmente, que poderiam substituir a oferta externa de cativos para as áreas em expansão (p. 96). Quebrava-se, desse modo, a aliança anterior entre Sul e Norte em torno do tráfico, substituída agora por um novo compromisso entre as duas regiões.
A participação norte-americana no comércio internacional de escravos, contudo, prosseguiu, principalmente através do financiamento do tráfico para Cuba, da venda de navios para traficantes espanhóis, da participação direta de capitães e marinheiros norte-americanos na atividade. Em 1820, uma nova legislação antitráfico foi aprovada, transformando a participação nesse comércio ilícito em crime de pirataria e, portanto, passível de pena de morte. Essa legislação selou o fim da estrutura negreira da Nova Inglaterra que havia florescido entre 1783 e 1808 e que sobrevivera daí em diante alimentando o tráfico para Cuba. A médio prazo, na medida em que o tráfico prosseguiu como contrabando para Cuba e Brasil, a legislação, de acordo com Marques, tornou-se “obstáculo insuperável às possíveis alianças entre as três potências escravistas da América em meados do século XIX” (p. 105)
Na década de 1830, todas as nações atlânticas haviam abolido formalmente o comércio internacional de escravos. Espanha e Brasil, os dois principais Estados nacionais importadores de escravos tinham assinado acordos bilaterais com a Grã-Bretanha que lhe asseguravam o direito de busca e apreensão de navios suspeitos de prática do ilícito comércio. Não é possível saber a dimensão que o tráfico de escravos africanos teria adquirido caso ele não tivesse sido declarado ilegal e esses acordos não tivessem sido firmados. O que sabemos, contudo, é que, mesmo assim, entre 1831 e 1850, data da proibição efetiva do tráfico pelo governo brasileiro, 387.966 africanos escravizados foram desembarcados em Cuba e 903.543 no Brasil (p. 110-11, 112, 123). O tráfico ainda prosseguiu para Cuba até 1867. No todo, entre 1820 e 1860, mais de dois milhões de escravos africanos, 20% do total desembarcado na América entre 1501 e 1867, foram trazidos para o Brasil e Cuba (p. 136).
A participação de cidadãos e companhias norte-americanos nesse tráfico foi significativa. Até 1820, de forma direta, como mencionado acima. A partir dessa data, de maneira mais indireta. Capitães e marinheiros estadunidenses, mas também de outras nacionalidades, inclusive britânicos, participavam do tráfico. Como o governo norte-americano só firmou uma convenção de busca bilateral de navios suspeitos de tráfico com a Grã-Bretanha em 1862, navios com sua bandeira ficavam mais protegidos da fiscalização e da repressão britânicas. Muitos navios norte-americanos transportavam produtos que seriam trocados por escravos até a costa africana. Lá esses produtos eram vendidos a traficantes e os navios voltavam para os portos americanos apenas com lastro. Ou ainda, os navios eram vendidos ou fretados para traficantes, que os utilizavam, com ou sem a bandeira estadunidense, para transportar os cativos para a América. Companhias norte-americanas vendiam e fretavam navios para traficantes, como a firma Maxwell, Wright & Co., principal exportadora de café do porto do Rio de Janeiro, que manteve essa prática até o início da década de 1840, quando foi pressionada, por representantes diplomáticos de seu país junto ao governo imperial, a cessar essa atividade. Traficantes, frequentemente, lançavam mão das bandeiras dos Estados Unidos, mas também de outros países, como França e Sardenha, para encobrir suas atividades. De qualquer modo, a principal contribuição estadunidense para o tráfico internacional de escravos se deu pelo fornecimento da maioria dos navios utilizados nessa atividade, principalmente no período de contrabando. Entre 1831 e 1840, pouco antes do acordo Webster-Ashburton, entre Grã-Bretanha e Estados Unidos, que intensificou o combate ao tráfico por parte do governo deste último país, navios construídos nos Estados Unidos realizaram 1.070, ou 63% de todas as viagens de contrabando de escravos nesse período, e transportaram 422.453 escravos africanos para Brasil e Cuba.
No que diz respeito especificamente ao Brasil, Marques contesta a ideia esposada por muitos historiadores, como Seymour Drescher, de que o transporte de metade dos africanos desembarcados no país entre 1831 e 1850 teria sido feito, por via direta ou indireta, por norte-americanos. Estes historiadores estariam seguindo a avaliação feita nesse sentido pelo representante do governo norte-americano no Brasil em 1850, David Tod. O problema é que nesta avaliação estão desde a venda e a transferência legal de navios para traficantes até a participação direta de capitães no embarque na África. Enquanto essa última forma constituía claramente uma violação das lei antitráfico, as outras formas ocorriam na zona cinzenta que conectava atividades comerciais legítimas com o tráfico. O fato é que, entre 1831 e 1850, 58,2% dos desembarques de contrabando para o país, transportando 429.939 escravos africanos, foram realizadas em navios fabricados nos Estados Unidos. Navios fabricados no Brasil, por sua vez, fizeram 15,4% dessas viagens e transportaram 113.569 cativos. Outros 26,4% das embarcações eram de outras procedências e transportaram 194.600 africanos. Talvez por isso, alguns historiadores tenham considerado, erroneamente, segundo Marques, que os norte-americanos mantiveram-se à frente do tráfico para o Brasil. Na verdade, brasileiros e portugueses controlavam o comércio de contrabando de escravos para o país (p. 141-43). Finalmente, ao considerar esses dados, não se deve perder de vista que os Estados Unidos eram o principal fornecedor de navios para o comércio internacional como um todo. Assim, não seria surpreendente que a maioria das embarcações empregadas no tráfico também tivesse essa mesma proveniência.
Do ponto de vista político, Marques assinala que o governo norte-americano e seus diversos representantes diplomáticos no Brasil entre 1831 e 1850 mostraram-se hesitantes em relação ao tráfico, ora o combatendo com veemência, ora fazendo vistas grossas. Essa hesitação e a resistência do governo estadunidense em assinar uma convenção antitráfico com a Grã-Bretanha não seriam, primordialmente, um sinal da predominância dos interesses escravistas do Sul junto ao governo federal. Respondiam mais a disputas geopolíticas com a Grã-Bretanha e a convicções, relativamente ocasionais, sobre o papel dos Estados Unidos na região em relação ao Império do Brasil e ao tráfico internacional. De qualquer forma, ele conclui que mesmo se uma eventual permissão de revista mútua nos navios suspeitos de tráfico entre Estados Unidos e Grã-Bretanha tivesse ocorrido em 1842, e não em 1862, como de fato aconteceu, isso não teria feito diferença significativa nos números do tráfico de contrabando para o Brasil (p. 183).
Em relação a Cuba, a constatação é inversa. A participação norte-americana no tráfico – e na própria escravidão, com diversos cidadãos sendo donos de plantation na ilha – foi muito maior, principalmente a partir da década de 1850. Um número maior de navios e de capitães estadunidenses participaram do contrabando para a colônia espanhola. A bandeira norte-americana também foi mais empregada na atividade. Navios com bandeira estadunidense, em 20 viagens de 97, transportaram 10.528, ou 20,4% de um total de 51.628 africanos escravizados trazidos para Cuba entre 1851 e 1854. Entre 1855 e 1858, os números quase triplicaram. Embarcações com a bandeira norte-americana trouxeram 33.134, ou 67,45%, dos 49.167 africanos traficados para Cuba, em 61 de um total de 90 viagens. Traficantes portugueses e espanhóis com representações nos Estados Unidos controlavam o tráfico para a colônia espanhola. Mas, o ponto principal da participação norte-americana no tráfico de contrabando para Cuba era de natureza política. O peso norte-americano no tráfico, sua presença em plantations na ilha e a pequena distância entre Cuba e o Sul fizeram com que o governo estadunidense servisse como poderoso anteparo à intervenção britânica na repressão ao tráfico para Cuba. A proximidade geográfica com o Sul dos Estados Unidos, assim como a forte presença de interesses norte-americanos diretamente na colônia espanhola, por sua vez, traziam sempre a ameaça de anexação da ilha à república. Possibilidade que a Grã-Bretanha buscava evitar não minando completamente a autoridade espanhola na colônia. Nessa situação, as autoridades espanholas equilibravam-se em uma corda bamba no jogo geopolítico entre Estados Unidos e Grã-Bretanha (p. 191).
De todo esse panorama, traçado com maestria pelo historiador brasileiro, emerge um quadro complexo que enriquece nosso conhecimento sobre as relações entre escravidão, tráfico e capitalismo no século XIX. Isso não de um ponto de vista teórico, mas a partir das relações concretas entre as classes, elites e governos nacionais que protagonizaram essas relações. Emerge também a constatação do papel central dos Estados Unidos nesse cenário e o significado da Guerra da Secessão como ponto de virada na sorte da escravidão naquele país, mas também em Cuba e no Império do Brasil.
Esperamos que a tradução do livro para o português, imprescindível para o estudioso da escravidão do século XIX, venha logo.
Ricardo Salles – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (2011). Publicou diversos livros, entre eles Nostalgia Imperia: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. É professor na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). E-mail: [email protected]
MARQUES, Leonardo. The United States and the Transatlantic Slave Trade to the Americas, 1776 – 1867. New Haven: London: Yale University Press, 2016. Resenha de: SALLES, Ricardo. Capitalismo, Estados Unidos e o tráfico internacional de escravos no século XIX. Almanack, Guarulhos, n.17, p. 486-493, set./dez., 2017. Acessar publicação original [DR]
Haitian Connections in the Atlantic World: Recognition after Revolution | Julia Gaffield
Em Haitian Connections in the Atlantic World: Recognition after Revolution, Julia Gaffield enfatiza a importância de inserir o processo de independência do Haiti no mundo Atlântico, levando em conta suas dimensões políticas, econômicas e diplomáticas no início do século XIX. Ao abordar as relações do Haiti independente com a comunidade internacional do período, com ênfase nas relações com o Império Britânico, Gaffield lança mão do conceito de “estratos de soberania”, emprestado de Lauren Benton (A Search for Sovereignty: Law and Geography in European Empires, 1400-1900, 2004). Mas, enquanto Benton o utiliza para analisar relações entre impérios, Gaffield estende sua aplicabilidade para o estudo do caso haitiano no cenário internacional:
Enquanto o trabalho de Benton foca nos diferentes estratos entre impérios, o caso haitiano demonstra que esses estratos também eram importantes no contexto internacional. O reconhecimento não oficial não culminou em um isolamento diplomático, ocorrendo, inclusive, reconhecimento temporário da independência haitiana pela França. Além disso, esses estratos são visíveis não apenas na diplomacia, mas também nas relações comerciais. Governos estrangeiros estavam visando estender o reconhecimento econômico ao Haiti, ao mesmo passo que retinham seu reconhecimento diplomático (p.13).
Dessa perspectiva, Gaffield enquadra a história do Haiti como a de um país que, embora parcialmente aceito na arena internacional por sua relevância comercial, sofreu profundamente com o fato de não ter sido diplomaticamente reconhecido no início do século XIX por ter fundado sua independência sobre uma revolução de escravos bem-sucedida, desafiando, portanto, as estruturas do escravismo no mundo atlântico.
No primeiro capítulo da obra, a autora nos traz a questão das tentativas do império francês de isolar o Haiti independente no cenário atlântico, reivindicando autoridade legal sobre aquele território, que supostamente atravessava uma situação temporária e que em breve retornaria à jurisdição francesa. A proclamação de independência, assinada por Jean-Jacques Dessalines em 19 de novembro de 1803, continha lacunas que permitiram que os franceses continuassem reivindicando sua autoridade legal sobre o Haiti e visassem apoio no cenário internacional para isolá-lo. A intenção da França em reassumir eventualmente o controle da colônia motivava-se, de acordo com Gaffield, pelo fato de que os franceses “se preocupavam com um espraiamento revolucionário em suas colônias remanescentes no Caribe – Martinica, Guadalupe, e Guiana; visavam também prevenir o monopólio britânico nos mercados coloniais; e almejavam revitalizar o comércio francês no Atlântico” (p. 20).
Dessa perspectiva, proibir o comércio britânico com o Haiti era central para impedir que Londres alcançasse seus desígnios de controlar os mercados atlânticos. Para tanto, os agentes fiscalizadores franceses centraram suas ações nas ilhas de Curaçao e St. Thomas, sob jurisdição batava e dinamarquesa, respectivamente, que eram pontos de partida esseciais para a atividade comercial estrangeira com o Haiti. Embora Paris arrancase das metrópoles europeias a proibição do comércio com o Haiti, a França não possuía meios de patrulhar efecientemente o Mar do Caribe, o que, na prática, permitiu a continuação do intercâmbio entre mercadores estrangeiros estabelecidos em Curaçao e St. Thomas e hatianos. A pressão dos agentes franceses sobre essas ilhas findou quando, em 1807, o império britânico assumiu o controle de ambas. As leis do comércio ultramarino britânico (Navigation Acts) confirmaram as suspeitas francesas sobre os planos geopolíticos de Londres para o Novo Mundo: enquanto elas proibiam o comércio das Antilhas britânicas com o estrangeiro, abriam uma honrosa exceção para o Haiti, evidenciando que o que estava em questão para Westminster era incorporar a ex-colônia francesa às redes de comércio de seu sistema colonial.
Os capítulos 2 e 5 tratam das relações internacionais do Haiti, principalmente com o império britânico. No segundo, Gaffield traz importantes assertivas acerca da limitação do direito de propriedade a brancos, com exceção de poucos imigrantes que arribaram na ilha no período, política esta que será seguida pela proibição de proprietários absenteístas. Abordando os desígnios britânicos em relação ao Haiti, afirma a autora que Londres tentava absorver o território em seu imperialismo. Contudo, nesse capítulo, as questões diretas que envolviam o comércio haitiano com o restante do mundo atlântico relacionam-se não com a Grã-Bretanha, mas sim com outros territórios americanos: a proibição do comércio por parte dos Estados Unidos e também das ilhas de Curaçao e St. Thomas. Por meio dessa restrição no mercado internacional, encontravam os britânicos caminho livre para a efetivação de seus objetivos. O capítulo 5, por sua vez, trata em especial dos anos de 1807 a 1810, época marcada pela guerra civil que dividiu a ilha entre o Norte, comandado por Henry Christophe, e o Oeste e o Sul, governados por Alexandre Pétion, bem como pela limitação das relações econômicas com diversos países do espaço atlântico. Gaffield trabalha com as tentativas daqueles dois governantes de assinar, com o Império Britânico, tratados econômicos de caráter similar àquele negado por Dessalines em 1804 em relação à Jamaica. A historiadora salienta também que nesse período os mecanismos do chamado “império informal” – conceito utlizado para explicar as relações de poder assimétricas entre um Estado mais forte e um mais fraco, em que o primeiro estabelece controle político sobre o segundo sem exercer domínio formal de fato – característico do mundo pós colonial, sobretudo na América Latina, começaram a se delinear nas políticas econômicas entre o Haiti e o império britânico. Gaffield discorre ainda durante o capítulo sobre os elementos que contribuíram para o sucesso da independência da antiga colônia francesa, afirmando que as relações econômicas no mundo atlântico, sobretudo com os britânicos, apesar de seu papel importante, não teriam sido as únicas responsáveis. Em conjunto com esse fator externo, a rígida militarização implantada pelos governantes da nova nação, em detrimento dos direitos individuais, foi um elemento crucial para o sucesso da emancipação.
No capítulo 3, a autora trata dos múltiplos “estratos de soberania” da independência haitiana por meio da análise de quatro julgamentos envolvendo navios mercantes pelo departamento da marinha britânica, capturados e sentenciados em dois momentos distintos (dois em 1804 e os outros em 1806). Aqui, Gaffield mostra questões relativas ao status ambíguo do Haiti no espaço atlântico, já que nos primeiros casos a ilha foi considerada uma colônia francesa e, portanto, proibida de comerciar, e nos últimos um reconhecimento temporário da soberania foi concedido, já que o comércio exercido com os haitianos não foi julgado ilegal. Tal mudança de atitude britânica, segundo a historiadora, deve-se às tentativas cada vez mais assíduas de estabelecimento de acordos econômicos entre as duas nações, mesmo que a recognição diplomática ainda não fosse uma realidade. Nesse sentido, Gaffield afirma que o reconhecimento da soberania temporária “permitiu que tanto britânicos como negociantes estrangeiros tivessem acesso aos benefícios financeiros disponíveis por causa da independência de fato da ilha em relação à França” (p. 114).
No capítulo 4, a autora aborda a relação dos Estados Unidos com o Haiti, e aqui mais uma vez as trocas comerciais entre as duas nações, bem como a tentativa de estabelecimento de acordos formais entre os governos, servem de exemplo para mostrar o lugar significativo que a ex-colônia ocupava no mundo atlântico. Mesmo com a proibição do comércio de 1806 a 1810 envolvendo os dois países, assunto igualmente tratado neste capítulo, as transações mercantis entre eles mostram-se valorosas já nos primeiros dois anos de independência haitiana, e logo retornam com a expiração do decreto de Thomas Jefferson responsável pela proibição das trocas comerciais com o Haiti. Apesar disso, assim como ocorreu no império britânico, os benefícios econômicos daqui advindos não implicaram reconhecimento diplomático do novo país americano, o qual só ocorreria em 1862, malgrado tais benefícios terem grande influência nas discussões do Congresso americano sobre a suspensão das trocas comerciais ocorridas entre 1804 e 1806.
A produção historiográfica focada no século XIX haitiano é recente, e o trabalho de Gaffield mostra-se importante não apenas pela análise lúcida das conexões estabelecidas entre a ilha e o mundo atlântico, mas também por contribuir para o próprio entendimento da situação interna do país nos primeiros anos de sua independência. Mas, como a historiografia em geral vem mostrando há décadas, o estudo da independência do Haiti no início do século XIX é essencial também para a compreensão das dinâmicas do mundo ocidental do período. Situada no ínterim marcado por transformações de caráter político, econômico e social, sua independência se ajusta cronologicamente às transformações que moldaram o mundo moderno. Obras magistrais que abordam as agitações e mudanças do período do ponto de vista de uma grande angular, como os clássicos The Age of the Democratic Revolution (1959 – 1964), de R. R. Palmer, e The Age of Revolution, 1789-1848 (1963), de Eric Hobsbawm, centraram suas análises no mundo europeu e nos Estados Unidos da América, excluindo o Haiti (bem como, poderíamos dizer, o Brasil). O livro de Gaffield, portanto, insere-se num panorama de renovação desse campo.
As fontes para a realização de um estudo como o de Gaffield são encontradas principalmente nas línguas francesa e inglesa. Apesar de se concentrar inicialmente nos arquivos francese e haitianos, a historiadora também percorreu arquivos nos Estados Unidos Inglaterra, Jamaica e Dinamarca a fim de reconstituir o conjunto das ligações atlânticas do Haiti e, assim, superar o estreito círculo da história nacional. A própria natureza desses documentos, divididos entre debates do Congresso norte-americano, correspondências diplomáticas e de comerciantes e registros de tribunais, espalhadas por vários territórios atlânticos, só reforça a ideia do não isolamento do Haiti no período analisado.
Gaffield, assim, nos traz à tona a desenvoltura do processo formativo do Haiti em sincronia com outros quadrantes do mundo atlântico. Segunda nação independente do continente americano, formada por ex-escravos, com uma população composta em sua esmagadora maioria por negros, e ainda importante economicamente apesar do relativo declínio após o início de seu processo revolucionário (1791), o Haiti fez convergirem para si os olhos das duas principais potências do período, os impérios britânico e francês, além dos EUA. Sua notabilidade internacional possuía raízes econômicas e políticas. Enquanto a ex-colônia oferecia oportunidades comerciais relevantes aos grandes atores internacionais do período, ela também inpirava temores por ter nascido de um movimento revolucionário de escravos que, se tomado como exemplo, poderia levar ao desmoronamento do escravismo colonial nas Américas. Como sugere Gaffield neste breve, porém iluminador trabalho, o Haiti, isolado pela comunidade ocidental devido aos temores que inspirava, mas fortemente integrado a ela por outras vias, parece, desde suas origens até nossos dias, ter como destino pôr a nu os paradoxos do capitalismo.
Isabela Rodrigues de Souza – Estudante de graduação em História na Universidade de São Paulo.
João Gabriel Covolan Silva – Estudante de graduação em História na Universidade de São Paulo.
GAFFIELD, Julia. Haitian Connections in the Atlantic World: Recognition after Revolution. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2015. Resenha de: SOUZA, Isabela Rodrigues de; SILVA, João Gabriel Covolan. Formação do Haiti no mundo atlântico do século XIX. Almanack, Guarulhos, n.16, p. 359-364, maio/ago., 2017. Acessar publicação original [DR]
Criar a Nação: História dos Nomes dos Países da América Latina | José Carlos Chiaramonte e Carlos Marichal
Em 1860, a província de Buenos Aires encontrava-se separada das outras com as quais havia formado o Vice-Reino do Rio da Prata e mergulhada em debates acerca de se, e como, deveria realizar uma reintegração nacional. Um editorial do periódico El Nacional, de propriedade de Bartolomé Mitre, tratou de colocar em pauta a questão do nome que assumiria o país resultante dessa reunião. O autor antecipa seus críticos: embora pudesse parecer impossível recorrer à “questão de nomes” sem “cair na trivialidade”, ela envolvia “outra questão de honra e de vergonha”.
É de momentos como este que Criar a Nação: História dos Nomes dos Países da América Latina se nutre. O livro, publicado em português pela primeira vez este ano pela Hucitec e originalmente em espanhol em 2008 pela Editora Sulamericana, aposta na importância que os nomes assumiram em tais momentos, para usá-los como novos pontos de observação da história das nações. Dezesseis nomes hoje reivindicados por países e regiões da América Latina são examinados em dezessete artigos de autores diferentes, dois deles dedicados ao México. O conjunto da obra apresenta mais altos que baixos e tem na coerência com seus pressupostos uma característica da qual deriva duas de suas qualidades mais interessantes.
A primeira é uma relação de reforço mútuo entre a História aqui praticada e o aparato teórico que lhe sustenta, calcado na ideia de nação como artefato cultural. A importância disso para o trabalho aqui realizado fica evidente em alguns textos. A pesquisa de José Carlos Chiaramonte1 sobre os termos Argentina, Províncias Unidas do Rio da Prata e Confederação Argentina se beneficia imensamente da compreensão de nação como entidade circunstancialmente construída. O mesmo pode ser dito sobre o trabalho de Ana Frega, da Universidad de la República (Uruguai), sobre o par oriental/uruguaio, que, interrogado por essa lente, revela o retrato de uma identidade nacional fraturada, cindida originalmente pelas diferentes reações ao movimento juntista de 1810 esboçadas pelo governo de Montevideo e pelos habitantes do restante da banda oriental do rio Uruguai. Ambos os casos apresentam conflitos que, lidos a partir da noção essencializada da nação, perderiam importância. Seus resultados já estariam determinados de antemão pelo presente. A história dos nomes assim alimentada se restringiria a uma história da revelação do nome, da vitória do nome atual. A nação inventada liberta os eventos passados de destinos inexoráveis e dá voz aos diferentes projetos apresentados nas instâncias de discussão destas questões. Os nomes deixam de ser sinas e tornam-se símbolos, prenhes de expectativas e desejos; suas histórias deixam de ser a narrativa de suas descobertas e convertem-se em reflexões acerca de seus usos. A abordagem assim concebida, por sua vez, transforma-se em importante testemunha contra uma representação reificada da nação ao possibilitar uma indexação de eventos que confirmam a natureza histórica da nação. A imbricação entre a história aqui praticada e a teoria que lhe dá substância se revela recíproca. O estudo de Pablo Buchbinder, da Universidad de Buenos Aires, sobre Paraguai é emblemático disso, pois captura na indecisão em estabelecer-se como república ou província as dificuldades de autodeterminação enfrentadas por uma individualidade próxima o bastante a Buenos Aires para estar em sua esfera de influência, mas distinta o suficiente para não ser por ela absorvida.
A aglomeração das várias histórias nacionais no espaço de experiência latino-americano é o segundo ponto de interesse decorrente do pressuposto teórico da nação como construção. A justaposição dos casos individuais confere ao livro muito de sua força explicativa e permite que os casos específicos elucidem uns aos outros. A construção de si passa pelo reconhecimento do outro; histórias como as aqui escritas precisam necessariamente superar as fronteiras nacionais, com as quais seus objetos nem sempre coincidiram.
Alguns nomes se prestam mais que outros para exemplificar essas relações transnacionais. Os assumidos pelas repúblicas construídas no antigo território da Gran Colombia estão entre os mais úteis para sublinhar o papel do outro na definição de si. Venezuela foi, de acordo com Dora Dávila Mendoza, da Universidad Católica Andrés Bello (Caracas), uma identidade em cuja construção a percepção de si esteve informada pela presença do outro. A indeterminação histórica da formação de um território venezuelano, em mais de uma ocasião englobado por outros nomes (designado, por um momento, como parte do vice-reino de Nova Granada; e, em outro, como componente da Gran Colombia) orientou parte significativa da produção historiográfica do país.
Aimer Granados, do México, dá conta de como o pensamento político de Bolívar expressava-se exemplarmente no nome Colombia, que engendrava um projeto de superação das identidades locais através da grande pátria americana. A Gran Colombia foi o corolário desse desejo, um projeto de nação que incluía os atuais territórios de Equador, Venezuela e Colômbia. Mesmo após seu esfacelamento o nome persistiu, herdado pelo antigo vice-reino de Nova Granada; se a república que hoje existe neste antigo território herda seu nome do sonho falido de Bolívar é porque houve um esforço consciente por parte de uma elite para inventar uma tradição. O autor relata que, no momento da emancipação, o termo Nova Granada possuía mais potencial aglutinador que o termo sobrevivente.
A influência da alteridade na formação da individualidade nacional segue relevante, mas de forma surpreendente, na história por trás do nome adotado pela outra entidade política que surgiria com a derrocada da Gran Colombia. Ana Buriano, do Instituto Mora, México, relata como Equador, que foi um nome usado para se referir ao território após as missões científicas francesas de 1736 destinadas a estabelecer a forma exata da Terra, significou a possibilidade de consenso entre as rivais Guayaquil, Quito e Cuenca. Historicamente neutro, o nome permitiu que o território construísse sua identidade sem que uma das partes se impusesse sobre a outra.
O caso mais emblemático da presença da alteridade na formação do eu nacional, porém, está nos artigos dedicados aos países que compartilham a ilha de São Domingos. O historiador porto-riquenho Pedro L. San Miguel defende que o nome República Dominicana representa uma ruptura com os governos de Espanha e Haiti, de quem a comunidade esteve próxima em outros momentos. Abandonando o São Domingos colonial, a nação se marcava como república independente e, ao mesmo tempo, evocava o antigo nome espanhol como forma de se diferenciar do vizinho, tônica forte na construção de sua identidade. O passado do nome Haiti, que para os taino, habitantes originais, significava toda a ilha, foi questionado no marco desse desejo de oposição. Quisqueya foi a alternativa encontrada pelos dominicanos, chegando a constar do hino nacional, embora seja considerado exemplo de revisionismo politicamente enviesado.
Interessantemente, Guy Pierre, professor de História Econômica da Universidad Autónoma (México), dirá que as fontes não permitem afirmar que a ilha se chamava Ayiti, embora exista um virtual consenso sobre o assunto. Mais importante para ele, porém, são os conteúdos de futuro e passado que podemos depreender do batismo. Dessalines, ao escolher o nome taino, expressava uma ruptura com a Saint Domingue escravista e apontava para um porvir de liberdade, significado informado também pela referência ao momento pré-colombiano, e, portanto, anterior ao cativeiro.
Os nomes e os batismos foram, no pós-independência latino-americano, ferramentas comumente usadas para marcar novos começos. Jesús Aguilar, da Pontifícia Católica do Peru, nos traz um exemplo capaz de mostrar que os nomes não servem somente para fundar novas eras. O termo Peru, mantido na passagem do vice-reino à república independente, é lido aqui como expressão do desejo de continuidade, o que nos demonstra como elites locais encontraram valor justamente no caráter inercial da palavra. O termo se confundia com o momento da colônia. Seu conteúdo temporal sugere um futuro idêntico ao passado, alimentado pela memória de levantes de nativos.
O tema indígena é um dos principais enfoques dos trabalhos dedicados aos termos Bolívia e México. O trabalho de Esther Aillón, da Universidad de San Andrés (Bolívia), faz astutas observações acerca da existência de uma identidade organizada ao redor do imaginário inca que conferiu capacidade de atuação e espaço de pertencimento a um setor da população não contemplado no projeto nacional boliviano. Uma das contribuições da história dos nomes para o estudo das identidades é a possibilidade de mapearmos o arraigamento destas a partir da verificação da adoção daqueles. É por este mecanismo que a autora demonstra a importância da experiência da Guerra do Chaco (1932-1935) para que uma integração fosse observada.
O caso mexicano é notadamente distinto, pois o mesmo dispositivo nos mostra que, em vez de marginalizada, a memória do passado pré-colombiano foi um eixo aglutinador. É único também no contexto da obra, que lhe dedica dois artigos, suficientemente distintos para que ambos tenham contribuições a oferecer. Dorothy Tanck de Estrada parte da reação crioula a uma crítica do século XVIII, feita à vida intelectual mexicana – palavra aqui entendida em seu sentido original, referente à cidade do México – e inicia uma reflexão acerca da expansão das fronteiras do termo a partir daí. O trabalho de Alfredo Ávila, da Universidad Autónoma, por sua vez, evidencia a natureza histórica da atual composição territorial do país. Sua tese assenta na percepção de que os mesmos nomes foram, por diversas razões, compartilhados por regiões diferentes. México engendrava tanto a cidade capital do vice-reino quanto a região sob sua influência. Nova Espanha, por sua vez, tinha tantas formas quanto tinha facetas a soberania do vice-rei. Estava definida pelo alcance de sua autoridade, que era variável nas diferentes esferas em que ele a exercia.
Similar à Gran Colombia até onde também representa uma resposta agregadora à emergência das soberanias locais, o nome Centroamerica nos é apresentado pela costa-riquenha Margarita Silva Hernández como conceito histórico-político, diferenciando-se de América Central, que designa um espaço geográfico. A autora nos traz a importância de um na composição do outro, o que integrou as características de seu espaço no caráter de sua identidade. Para ela, o feitio de istmo significou a compreensão do território como passagem. Entre o mundo inca e o asteca. Entre o Atlântico e o Pacífico.
O estudo dedicado a Chile é outro que olha para a influência de uma percepção do espaço na formação da nação e de sua organização política. Visto primeiro como ermo e hostil, e depois como “cópia feliz do Éden”, o território entre os Andes e o Pacífico, limitado ao norte pelo Atacama, teve desde os primeiros momentos da emancipação quem quisesse dar forma política às suas fronteiras geográficas. A realidade do nome como ponto nodal permite que Rafael Baeza, da PUC do Chile, reúna na mesma narrativa esta dimensão, características da identidade do país, visto como estável e ordenado, e a da política, percebida como autoritária e centralista.
José Murilo de Carvalho, o brasileiro convidado para a coleção, tira também proveito do caráter do nome como espaço de encontros e sugere, na interação das imagens religiosas (Ilha de Vera Cruz; Terra de Santa Cruz), exóticas (Terra dos Papagaios), econômicas (Brasil), temporais (mundus novus; realização do império futuro português), a formação de uma identidade ressentida de seu passado. Os nomes se prestam a revelar essa mágoa; a prevalência do nome de uma madeira vulgar e o abandono dos que faziam referência à religião é vista como causa da decadência do país. Similarmente, a tentativa de encontrar na mítica Hi-Brazil, ilha fantástica do imaginário europeu medieval, uma nova raiz para o nome da nação, é, segundo o autor, declaradamente um esforço para estabelecer uma origem “mais agradável ao espírito e ao coração dos brasileiros”.
Os artigos dedicados a Puerto Rico e Cuba desenvolvem descrições bem embasadas de trajetórias interessantes – Rafael Rojas, do Centro de Investigación y Docencias Económicas (México) nos descreve as diferenças de pertencimento entre pátria e nação para o caso cubano e como uma deu lugar à outra. As porto-riquenhas Laura Náter e Mabel Rodriguez Centeno falam sobre as peculiaridades de uma identidade desenvolvida numa unidade política como Puerto Rico, descrita aqui como uma nação sem Estado. As autoras fazem também uma avaliação dos significados de resistência que as diferenças entre Porto Rico e Puerto Rico (bem como entre porto-riquenho e puerto-riquenho) engendrou. O artigo revela desafios específicos à tradução de uma obra desta natureza, que requer atenção a diferenças importantes entre terminologias por vezes similares. O trabalho de tradução de João Ribeiro demonstra sensibilidade nesse quesito e preserva os termos originais quando substituí-los constituiria prejuízo para o texto.
Embora o livro contenha certa desigualdade qualitativa entre os capítulos, o que é habitual em obras coletivas, Criar a Nação revisita temas fundamentais de maneira provocante e deixa a porta aberta para que o leitor encontre paralelos e contrastes capazes de sugerir novas discussões.
Numa famosa passagem de Romeu e Julieta em que reflete sobre a desimportância das palavras diante da realidade ontológica das coisas, a protagonista imagina que uma rosa não teria um perfume diferente se tivesse outro nome. O trecho aparece como epígrafe em Criar a Nação, retoricamente apresentado para que sua premissa seja desmontada. A própria narrativa de Shakespeare desmentiria Julieta, afinal, vítima que foi da história do nome de sua família. Agregamos que o que diferencia “Capuleto” de “rosa” é o conteúdo histórico do primeiro. Existem nomes que integram categorias e nomes que marcam individualidades. Criar a Nação apresenta um caso convincente da importância destes últimos para o historiador: como possibilitadores de projetos, como facetas de identidades, como vestígios por estudar.
Pedro Henrique Falcão Sette – Graduado em História pela Universidade Federal de Pernambuco.
CHIARAMONTE, José Carlos; MARICHAL, Carlos; GRANADOS, Aimer (Orgs). Criar a Nação: História dos Nomes dos Países da América Latina. Trad. João Ribeiro. São Paulo: Hucitec, 2017. Resenha de: SETTE, Pedro Henrique Falcão. As nações e seus nomes: invenção de entidades e identidades nas emancipações latino-americanas. Almanack, Guarulhos, n.16, p. 365-371, maio/ago., 2017. Acessar publicação original [DR]
Paulistas afrodescendentes no Rio de Janeiro pós-Abolição (1888-1926) | Lúcia Helena Oliveira Silva
Paulistas afrodescendentes é o esperado fruto da tese de doutoramento de Lúcia Helena Oliveira Silva, defendida no ano de 2001, e se insere no contexto de consolidação do pós-Abolição como um campo autônomo de investigação historiográfica. Informado pela historiografia social da escravidão e do processo de abolição do trabalho escravo no Brasil, o estudo desvenda os caminhos que ex-escravos e seus descendentes trilharam ao buscar melhores condições de vida e ampliação da cidadania e conferir significados próprios à liberdade durante os anos posteriores à Abolição.
Desde os anos 1980 a historiografia social brasileira procura associar o tema das relações raciais com o problema gerado pelas tentativas de controle social da classe trabalhadora. A historiografia social do trabalho enquadrou essa especificidade do Brasil republicano com a compreensão das mais diversas esferas da vida cotidiana dos sujeitos. A perspectiva tem sua explicação no fato de que a questão do controle social, quando abordada pelo viés da experiência cotidiana da classe trabalhadora, ressalta o caráter da disputa política presente na vida cotidiana dos agentes sociais. Historiadoras(es) do pós-Abolição brasileiro têm percebido que a luta por cidadania da população negra também pode ser assimilada quando analisada à luz das práticas sociais dos sujeitos em seus dia a dia, e não só da realização de movimentos de reivindicação (Sidney Chalhoub, “Trabalho, Lar e Botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque”).
Desse modo, Paulistas afrodescendentes é um livro que fornece ao leitor importante imersão no panorama teórico por que o campo acadêmico do pós-Abolição brasileiro passou entre os anos 1990 e 2000. Nele está presente o viés metodológico que privilegia as visões da liberdade que os sujeitos mobilizam para elaborar estratégias de garantir a manutenção de suas vidas no mundo após o fim do cativeiro.
O texto de Lúcia Helena Oliveira Silva revela os anos iniciais da República como um período recheado de expectativas orientadas pelos padrões socioculturais do mundo escravista do século 19, mas também engendradas pelas novas condicionantes sociais no Brasil após a abolição. A autora segue a tendência, muito presente na historiografia desde o fim da década de 1990, de demonstrar que a relação de negros com a sociedade pós-escravista foi marcada por numerosas redefinições, todas elas pautadas em concepções de cor que tenderam a se transformar com o passar do tempo, fosse para negros ou para brancos – como apontou o estudo de Hebe Mattos, Das Cores do Silencio: os significados da liberdade no Sudeste escravista (1995).
Sendo assim, juntando-se a uma historiografia que começou a assumir as visões da última geração de escravos brasileiros como um problema histórico importante, a historiadora não se limita a atestar a marginalização dos ex-escravizados no mercado de trabalho. Oliveira Silva interpreta as estratégias de resistência de uma parcela da população negra paulista, acompanhando suas trajetórias e seus desejos de protagonizar uma vida mais justa frente ao convívio intenso que tiveram que ter com imigrantes, poder público e as economias de lugares como o estado de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro.
Protagonizar uma vida com melhores condições econômicas e com a efetividade do direito à cidadania não poderia deixar de levar em conta toda uma experiência acumulada durante os anos do cativeiro. Portanto, o racismo, somado à falta de acesso à propriedade e ao mercado formal de trabalho, contribuiu para a escolha da migração como solução por parte dos ex-escravizados e seus descendentes. Mobilidade territorial, nesse contexto, significou, para muitas mulheres e muitos homens, tomar as rédeas de suas vidas e lutar por mais direitos. Oliveira Silva propõe a noção de redes de solidariedade e de trajetórias para apreender o horizonte de experiências que a população negra de migrantes paulistas teve de lidar para resistir ao racismo pós 1888.
O debate sobre mobilidade territorial e migração no pós-Abolição tem importância historiográfica. Inspiradas por uma historiografia norte-americana que entende que migrar foi uma dimensão crucial da noção de liberdade, Ana Lugão e Hebe Mattos sugerem que o exercício da liberdade de movimentação do ex-cativo significou uma possibilidade de realizar rotas que poderiam proporcionar melhorias na condição de vida (O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas, 2004). Migrar traduzia a necessidade dos agentes históricos de constituir família, obter moradia e trabalho em locais onde as redes de solidariedade amenizassem a experiência do racismo.
A publicação do livro de Lúcia Helena Silva contribui para o cenário da historiografia nacional, tendo em vista os diálogos que seu texto estabelece com as gerações posteriores de historiadores. Esse texto pertence a um grupo que soube enfrentar o problema com as fontes que os temas relacionados ao pós-Abolição apresentam. Para acessar a experiência histórica dos ex-cativos, os historiadores dependem de documentação que só parcialmente comunica a cor dos indivíduos negros. A maior parte costuma ocultar a cor das pessoas envolvidas. De maneira muito habilidosa, Silva analisa os livros de registros de presos da Casa de Detenção da Corte (posteriormente denominada de Distrito Federal) que, por ser uma fonte policial, em muitos casos apresenta a cor dos presos, além de evidenciar o seus locais de emigração. Desse modo, a autora traça um quadro geral sobre os locais de habitação e os locais por onde os migrantes negros paulistas circularam e viveram na cidade do Rio de Janeiro.
Mas os livros de registro deixam de fora aspectos da rotina daqueles personagens. Como alternativa metodológica, Silva usa processos criminais e cíveis para captar os padrões de sociabilidade dos habitantes das regiões estudadas (p. 140). Enquanto os livros da Casa de Detenção fornecem indícios quantitativos sobre a repressão aos negros na cidade carioca, os processos delineiam um caminho qualitativo para a análise das experiências de negras naquela cidade.
A utilização de processo-crime também contribui para a coleta de evidências acerca das condições de vida, trabalho, lazer e religiosidade da população negra. Servindo-se de relatos orais, periódicos da grande imprensa, anuário estatístico e imprensa negra, a autora mescla informações de diferente natureza para delinear o quadro de racismo e de situações adversas que negros tiveram que enfrentar.
Quanto à periodização, a autora esclarece que “partimos de 1888, data da Abolição, e concluímos com 1926, data que marca o fechamento do jornal Getulino e o momento em que o item cor deixa de ser preenchido na documentação da Casa de Detenção” (p. 28).
Antes da análise dos capítulos, cumpre levantar questões metodológicas que nortearam os caminhos investigativos da autora. O caráter empírico da abordagem micro-histórica possibilitou a problematização de práticas sociais no pós-1888. Em alguma medida, para a historiografia do pós-Abolição brasileiro, o método da redução de escala foi a saída encontrada para cumprir com o objetivo de organizar e explicar a sociedade no seu período. Portanto, Lúcia Helena Silva opta pela investigação das trajetórias de sujeitos como uma maneira de se aproximar dos tipos de experiência que o novo mundo republicano possibilitou à população negra. A redução de escala, ao nível das trajetórias individuais ou coletivas, dos conflitos cotidianos, é importante instrumento metodológico para a captação das contradições, dos limites e das escolhas que os indivíduos fazem (Giovanni Levi, “Sobre Micro-História.” In: BURKE, Peter (Org). A Escrita da História: novas perspectivas, 1992.).
Com base nessas premissas metodológicas, Lúcia Silva argumenta que negros enfrentaram fortes dificuldades no Estado de São Paulo devido à mescla de características e estereótipos dos tempos escravistas e à perseguição policial e judicial. A escolha pela migração para lugares onde a vida poderia ser melhor foi uma consequência direta das condições sociais, culturais e econômicas que minavam as oportunidades que negros poderiam ter em São Paulo.
Desse modo, o primeiro capítulo analisa a experiência de vida de afrodescendentes paulistas no campo e na cidade no estado de São Paulo. Aproveitando-se de um processo-crime, de depoimentos orais, artigos da imprensa negra e da imprensa paulista, a autora investiga as sociabilidades e as relações de trabalho da comunidade negra focando nas relações raciais (p. 33). A população negra em São Paulo teve sua experiência social demarcada por conflitos raciais que, pautados em estereótipos grosseiros, acabaram por moldar posturas sociais, policiais e judiciais que forjaram mecanismos de discriminação contra pretos e de pardos. Fugindo da simples interpretação da exclusão, Lúcia Silva sugere que, se o negro sofreu com um processo de afastamento dos direitos à cidadania, isso não se deu sem conflito e sem contestação. Graças à sua capacidade de estabelecer laços de solidariedade, os negros puderam enfrentar o preconceito de cor e a violência das relações raciais (p. 46).
Mas num estado onde a política de branqueamento teve grande êxito e as teorias racialistas pautavam os rumos das práticas policiais e jurídicas, ser trabalhador negro não parecia coisa simples. Em São Paulo houve clara orientação política pela escolha de estrangeiros para a ocupação dos postos de trabalho. No campo, os imigrantes foram escolhidos para se submeter ao regime de colonato. Mas, e esse é um dos primeiros estudos a apontar para o fato, o negro também participou dessa prática de produção agrícola. Estudos recentes têm comprovado que houve uma considerável participação negra nas práticas de colonato dentro das fazendas paulistas (Karl Monsma, “Vantagens de imigrantes e desvantagens de negros : emprego, propriedade, estrutura familiar e alfabetização depois da abolição no oeste paulista”, Dados, v. 53, n. 3, 2010).
Ainda assim, na cidade ou nos campos de São Paulo o grande contingente imigrante e o racismo contaram para a exclusão do negro dos postos de trabalho e para a não consolidação de seus direitos de cidadania. Essa parcela da população sofreu com a precariedade e com a inconstância no trabalho (p.78-79). É dentro desse contexto que a possibilidade de migração apareceu como forma de efetivação de interpretações de liberdade. O segundo capítulo do livro trata da experiência de migração como uma das possibilidades de vivenciar a liberdade por parte dos libertos ao lhes dar uma visão de mundo mais larga e autônoma. A cidade do Rio de Janeiro foi um espaço aglutinador, onde migrantes negros e naturais dessa região tiveram como inventar suas próprias maneiras de sobrevivência. Era uma cidade com uma vida cultural negra muito rica, que distou da cultura da “elite da belle époque” (p.99-100). Não obstante, e mesmo com todas as possibilidades urbanas cariocas , com toda a expectativa dos ex-escravos e seus descendentes, ser pobre num período de grande esforço para o controle das ações e das ocupações populares representou lutar constantemente contra a saga reformadora da cidade do Rio de Janeiro (p. 105-117).
Mas o Rio de Janeiro ofereceu melhores possibilidades de formação de laços de amizade e de solidariedade que serviram como estratégia para burlar todo assédio do poder público (p.122-123). Mesmo com a forte perseguição policial e com uma reforma urbana que visava afastar o negro e o pobre do centro da cidade, a presença de manifestações religiosas afrodescendentes é um indício de que, com base nesses espaços de solidariedade e lazer, a comunidade negra transformou o território urbano em um campo de batalha política, onde houve constante negociação entre a cidade que se queria “civilizada” e a cidade “africana” (p.127). Dessa forma, Lúcia Silva enxerga o Rio de Janeiro como um campo de disputa mais favorável do que foi o estado de São Paulo. Podia-se estabelecer alianças – inclusive com a classe dominante – e estratégias de manutenção da vida cotidiana (p.127-128).
Por fim, no terceiro e último capitulo Lúcia Helena Oliveira Silva examina as relações entre migrantes paulistas e os habitantes da cidade do Rio de Janeiro, observando como se deu sua interação durante a transformação do espaço social e físico da cidade. A historiadora enfoca nas vivências cotidianas de migrantes negros, mulheres e homens, afirmando que existiram alguns sujeitos que galgaram espaços em profissões relativamente estáveis e de boa remuneração. Eles conseguiram comprar casas, terrenos e alfabetizar-se, o que demonstra que migrar poderia ser uma maneira de mudança (p.146-147). Se é verdade que migrantes negros paulistas escolheram a cidade do Rio de Janeiro por estarem em busca de melhores condições de vida, e que lá estabeleceram laços socais que tornavam o dia a dia mais leve, também é verdade que tiveram que optar por moradias precárias para ficar perto das regiões que mais empregavam. A vida em cortiços era revestida de diversos conflitos que irrompiam quando os limites de privacidade e de convívio eram ultrapassados. É importante perceber que mulheres negras (migrantes aí incluídas) sofreram, repetidamente, com os padrões morais que deslegitimavam a forma de vida dessas agentes que, pelo caráter de suas profissões, deveriam ocupar espaços que se queriam masculinos.
Graças ao uso das ferramentas metodológicas da micro-história, Lúcia Silva oferece em Paulistas Afrodescendentes no Rio de Janeiro um rico quadro de experiências subjetivas dos negros que escolheram migrar de São Paulo para o Rio de Janeiro como uma estratégia possível de luta pela cidadania. É um estudo altamente recomendável para os interessados na construção social da liberdade no Brasil do fim do século 19.
Fábio Dantas Rocha – Possui graduação em História pela Universidade Federal de São Paulo (2014). Atualmente é membro do conselho editorial da Editora Palácio e analista de produção e difusão do conhecimento da Fundação Perseu Abramo. Mestrado em andamento na Universidade Federal de São Paulo.
SILVA, Lúcia Helena Oliveira. Paulistas afrodescendentes no Rio de Janeiro pós-Abolição (1888-1926). São Paulo: Humanitas, 2016. Resenha de: ROCHA, Fábio Dantas. O caminho para Pasárgada: negros paulistas no Rio de Janeiro do pós-Abolição. Almanack, Guarulhos, n.16, p. 352-358, maio/ago., 2017. Acessar publicação original [DR]
The World the Civil War Made | Gregory P. Downs e Kate Masur
A discussão sobre as consequências da Guerra Civil constitui campo central dos debates sobre a extensão da cidadania e a ampliação da ação estatal naquela república. Essa circunstância imprime forte demanda por originalidade aos trabalhos publicados pelas novas gerações, especialmente naquilo que toca à natureza do Estado que emergiu daquela contenda. Esse movimento implica tanto a escolha de novos temas, quanto a revisão dos cânones centrais da tradição anterior. Os trabalhos mais recentes buscam superar o que ficou conhecido como “a narrativa da liberdade”.[1] O que vem sendo contestado por essas pesquisas é uma forma de descrever o conflito e suas consequências a partir das transformações que levaram à emancipação dos escravos, a aprovação de três emendas que universalizaram a cidadania e o crescimento vertiginoso do poder de intervenção do Estado Nacional. A história seria muito bonita se tivesse terminado por aí, mas os caminhos tomados pela política dos Estados Unidos mostraram-se pouco promissores em termos das aspirações por integração racial e extensão da cidadania que marcaram os anos imediatamente posteriores ao final do conflito.
As abordagens que agora são criticadas operaram sobre a dicotomia escravidão/liberdade, na qual a Guerra atuaria como o grande vetor dessas transformações. Essa visão, que sobressaiu nos últimos cinquenta anos, derivou do impulso pelos direitos civis, que galvanizou o país com os movimentos de contestação do status quo, o combate à segregação racial e as lutas por inclusão social envolvendo negros, mulheres, índios e outras minorias. A percepção de que o país que ajudou a derrotar o nazi-fascismo discriminava parcelas expressivas da sua própria população causava desconforto na opinião pública. Essa sensação, potencializada pelos traumas da guerra fria, estimulou gerações de historiadores a mergulharem numa época em que foi possível pensar a construção de uma sociedade multiétnica tendo por base a ação de um Estado nacional de caráter reformista. Um período da história dos Estados Unidos durante o qual capitalismo e reforma social pareceram caminhar unidos.
A era da Guerra Civil passou a ser vista como uma janela de oportunidades durante a qual reformas importantes entraram em execução, destacando-se a emancipação de quase quatro milhões de pessoas e a destruição do sistema de plantation no Sul. Nesse contexto, a atuação do Estado nacional e de suas organizações, principalmente o Exército, foi associada a ações positivas que transformaram o caráter da cidadania norte-americana mediante a sua nacionalização e a redução da autoridade dos estados ou do poder das elites locais. A experiência da guerra teria sido positiva, sobretudo pela destruição da influência da oligarquia sulista, que exercia uma atuação reacionária na organização nacional tanto pelos obstáculos internos que ela criava quanto por seu projeto de expandir o escravismo no plano internacional. A derrota do Sul levou a um fortalecimento sem precedentes das prerrogativas do Estado Nacional, desacorrentado das amarras que limitavam suas ações no período pré-guerra. O Estado, segundo essa visão, tornou-se não apenas o propulsor do desenvolvimento econômico, mas a principal arena de defesa da expansão dos direitos, tendo como sua principal ferramenta a atuação de um Exército vencedor. Emblemático dessa posição é o livro de Eric Foner, que redefiniu a “revolução inacabada” como central para as mudanças nos padrões de comportamento da população frente ao Estado nacional. O trabalho de Foner reavaliou o processo de reconstrução do Sul dos Estados Unidos após a vitória da União como um momento significativo de mudanças, ressaltando a aliança entre o Partido Republicano, o Exército e os libertos, no contexto daquilo que Lincoln denominou como “O renascimento da liberdade”.[2]
As críticas atuais partem geralmente da percepção de que persiste a discriminação, que penaliza minorias e imigrantes. Da constatação de que promessas reformistas dos movimentos pelos direitos civis não se cumpriram. Da persistência de um processo de marginalização de amplos setores da sociedade norte-americana, a despeito de anos de políticas de ação afirmativa. Da comprovação de que essa situação é apoiada por setores da população. E da constatação das limitações do Estado que surgiu no pós-guerra. A pauta aqui enfatiza as continuidades, preocupando-se em entender os elementos que possibilitaram a manutenção das estruturas elitistas que permaneceram ativas no mundo criado pela Guerra. Esse movimento de revisão do revisionismo foi denominado pela historiadora israelense Yael A. Sternhell como “The Antiwar Turn”.[3
]A coletânea de treze textos organizada por Downs e Masur vincula-se ao movimento de reconsideração que contesta o legado libertário da Guerra. Ela resultou de uma conferência realizada na Pennsylvania State University sob o título “New Directions in Reconstruction”. Trata-se de uma visão mais cética da herança do conflito, atenta às injustiças e arbitrariedades que permaneceram ou mesmo se expandiram como resultado das forças que a vitória da União ajudou a deslanchar. Mas principalmente descrente dos efeitos benéficos da relação entre reformismo e capitalismo na história da nação. Ela cobre principalmente o período da chamada Reconstrução (1863-1876), quando as lideranças do Partido Republicano estabeleceram os parâmetros da operação do sistema político e do acesso aos direitos básicos nas diferentes regiões. Trata-se do projeto de reestruturação do Sul após a derrota, quando o partido Republicano e o Exército se associaram aos libertos e aos grupos pró-União numa tentativa de transformar as relações de trabalho expandindo direitos e realizando outras reformas tendentes a erradicar os fundamentos da sociedade escravista. Trata-se de uma revisão pela base, com o claro intuito de reformular o entendimento das consequências do conflito para diferentes setores, com ênfase nas experiências das minorias: índios, mulheres negras, coolies, mexicanos e outros grupos cujas identidades permaneceram subalternas no mundo que a Guerra Civil ajudou a criar. Como Steven Hahn destacou na conclusão “a principal tarefa daquilo que costumeiramente denominamos como ‘Reconstrução (…) foi a reorganização da economia política dos Estados Unidos, definindo o curso daquilo que se tornaria a próxima reconstrução – não nos anos de 1950 e 1960, mas através da reconstrução corporativa da América, na década de 1890” (340).
A crítica dirigida à Reconstrução fica evidente já na introdução, quando os organizadores sugerem que “a ideia é dispensável”. Essa sugestão deriva da persuasão de que a “Reconstrução” não proveu “a estrutura mais adequada para o entendimento do sentido das várias histórias dos Estados Unidos no pós-guerra” (4). O ponto reaparece com intensidade variável em diversos capítulos subsequentes ainda que alguns mantenham uma abordagem mais tradicional ao tratar de temas como o terror e a agressão sexual. Kidada E. Williams enfoca como os Afro-Americanos lidaram com o trauma dos ataques noturnos, praticados por organizações paramilitares como a Klu Klux Klan. Esses ataques visavam à eliminação ou a neutralização das lideranças negras que lutavam por igualdade de oportunidades entre as raças. Trata-se de um levantamento dos depoimentos prestados aos agentes da Secretaria dos Libertos (Freedmen’s Bureau) que expõem as representações do terror que estes indivíduos suportaram e os traumas decorrentes da violência e das injúrias recebidas, num contexto definido como “sofrimento social” (161). Numa linha semelhante, Crystal N. Feimster discute como a experiência da Guerra e da ratificação da 14ª emenda renovaram os esforços das mulheres negras no sentido de determinar quando e com quem consentiriam ter relações sexuais. Essa movimentação ocorreu contra uma cultura do estupro que era comum tanto aos senhores sulistas quanto aos soldados do exército da União. A despeito dos avanços obtidos após o final da Guerra, a retirada das tropas colocou em risco novamente a integridade física das mulheres negras, demonstrando a limitação do governo federal para protegê-las de uma tradição estupradora e intimidante, que persistiu no assim chamado “novo sul”. Ao expor como a herança da escravidão continuou a influenciar a economia política norte-americana, essas historiadoras contestam a noção de que a transição da escravidão para a liberdade tenha sido tão profunda como Eric Foner e outros gostariam. O continuum de violência contra os negros, se alongado do campo para as cidades, levanta questões traumáticas a respeito da narrativa da Guerra Civil e do período subsequente a sua conclusão, sugerindo que o mundo que a Guerra Civil criou permaneceu imerso em concepções de cidadania muito pouco igualitárias.
O legado da Reconstrução, agora enfocado como miragem, é igualmente minimizado no artigo de K. Stephen Prince, que trata da forma como as fotografias das ruínas das cidades sulistas foram recebidas pela opinião pública do Norte. Antes mesmo do fim da guerra a disseminação de exposições fotográficas retratando a destruição das principais cidades sulistas fortaleceu um senso de irreversibilidade histórica entre as audiências nortistas. As imagens de ruínas eram relacionadas à promessa de um Sul renascido (114), misturando-se tanto com a concepção de uma justa punição à rebelião quanto com o fim daquela sociedade tal como havia existido até então (114). Nesse sentido, a catástrofe confederada era vista como “produtiva, construtiva e necessária” (123). No entanto, essa interpretação ignorava que as lideranças sulistas não haviam aceitado sua condição como permanente. Um velho ditado sustenta que “o sul perdeu a guerra, mas venceu a paz”. Ele indica, entre outras coisas, que a mentalidade sulista foi menos atingida pela derrota que a realidade física de suas cidades. Consequentemente, a amargura da porção branca da população sulista fermentou intenções muito diferentes daquelas que os fotógrafos pensavam registrar. Intenções que favoreciam comportamentos, ideologias e estruturas sociais que antecediam à guerra. A permanência dessas atitudes ressalta o que o autor define como a “teimosa tenacidade do passado” (129).
Ainda no campo das crenças e representações, Luke E. Harlow demonstra como a chamada contrarrevolução sulista, baseada na manutenção da supremacia racial branca, derivou em grande medida da manutenção de uma moral cristã que antecedia à eclosão da rebelião. Esse padrão era sustentado pelos ramos sulistas das igrejas Batista, Metodista e Presbiteriana, que aturam como uma força coerente e que continuam a plasmar a cultura política da região. Elas constituíram o que o autor denomina como “uma teologia da escravidão” (151) em oposição aos ideais milenaristas que prevaleciam nos ramos nortistas das mesmas denominações. A busca de elementos de sustentação do passado escravista e a análise da sua persistência constituem pontos fortes dos artigos aqui analisados, especialmente quando lidam com questões relacionadas à memória e as comemorações do pós-guerra.
O principal alvo dos autores, no entanto, não é a propriamente a Reconstrução, mas o conceito de Leviatan Ianque, desenvolvido pelo sociólogo Richard Bensel no final dos anos 80 do século passado.[4] A visão de um Estado nacional revigorado, emergindo do período da guerra com a força de um vitorioso mandato sangrento foi central para a corrente conhecida como “American Development”. A ratificação do Homestead Act, o apoio à industrialização, o controle da atividade monetária constituem etapas importantes da aceleração do processo de formação do Estado, em cumprimento de uma agenda que datava do período Federalista. Os organizadores e a maioria dos autores de The World the Civil War Made criticam esse entendimento da autoridade esposada pelo governo federal. Eles enfatizam a vulnerabilidade dessa estrutura frente a soberanias locais e sua dificuldade para impor a autoridade longe dos centros urbanos.
Em geral, os artigos desta coletânea definem o Estado do pós-guerra através do conceito de “Stockade State” ou Estado de Paliçada. Essa estrutura seria constituída por uma coleção de postos avançados, espalhados pelo território, poderosos apenas dentro de limites geográficos estreitos. Essas composições encontravam-se vulneráveis tanto à ação de centros de poder alternativos, como ao movimento de indivíduos que viviam além de qualquer autoridade pública. A ênfase, portanto, encontra-se na fraqueza relativa do Estado Nacional que emergiu da vitória da União, destacando-se sua incapacidade para incorporar grupos minoritários a uma concepção mais abrangente da cidadania, bem como sua inaptidão para gerenciar os conflitos que emergiram na esteira da guerra. O ponto encontra seu paroxismo no trabalho de Laura F. Edwards, que sustenta que “nem o governo federal e nem mesmo os governos estaduais controlavam a lei e a governança nos Estados Unidos oitocentistas” (28).
Outros capítulos apresentam uma descrição dramática dos conflitos a respeito das formas de trabalho compulsório que se mantiveram após o fim da escravidão. Para Stacey L. Smith as lutas centrais do pós-guerra visavam ao mapeamento dos limites coativos no intuito de determinar como o governo Federal interviria para restringir o poder coercitivo de empregadores, corporações e estados. Analisando as situações da peonagem indígena e da exploração dos coolies, a autora demonstra como o governo republicano foi capaz de confrontar com sucesso a assertiva “de que a servidão indígena poderia ser benéfica” (52), ainda que soluções para a questão da peonagem viessem a ser estabelecidas de maneira lenta e conflituosa. Simultaneamente, a defesa da autonomia individual e da mobilidade ascendente, pedras basilares do credo liberal, levou os mesmos republicanos a baterem-se pela exclusão dos imigrantes chineses. Isso se deu a partir do entendimento de que os coolies, como eram pejorativamente chamados, seriam servis e dependentes num nível que excluiria sua assimilação como trabalhadores livres.
The World the Civil War Made apresenta o poder público como uma estrutura sitiada por forças locais, por funcionários ineptos, por questões constitucionais, todos atuando como limitadores da capacidade estatal de agir com alguma autonomia num cenário de tensões e incertezas. Nesse cenário, a violência assume papel central na narrativa, praticada com liberalidade frente à incapacidade do Estado para atuar com força na periferia da sociedade. Nas palavras dos editores: “{P}erguntamos se a cidadania, os direitos individuais, e a autoridade federal definiram a era” (14). A resposta certamente é negativa. As situações da persistência da peonagem e da exploração continuada dos imigrantes coolies evidenciam os limites da ação do Governo Federal frente a forças locais e costumes de exploração do trabalho, que pareceriam arraigados nas paisagens do Novo México e da Califórnia. Demonstram também que muitas das concepções ideológicas dos republicanos eram insuficientes para lidar com o grau de complexidade das realidades da fronteira oeste daquela república.
Outro lado da mesma crítica refere-se aos efeitos perversos das forças que a guerra deslanchou. Assim, o mesmo Estado que estimulou um desenvolvimento capitalista acelerado mostrou-se cada vez mais insensível frente à questão indígena. Stephen Kantrowitz em seu estudo sobre os índios Ho-chuck observa que as leis e emendas que referendaram a cidadania em escala nacional pretendiam que os nativos abraçassem uma matriz de valores e comportamentos que incluíam os princípios da propriedade privada e os hábitos da colonização, da orientação para o mercado e do lar patriarcal. Para Kantrowitz a experiência dos Ho-Chunks sugere que “a luta pelo significado da cidadania e a política de civilização coercitiva se entrecruzaram” (77). A partir da condição de rivais na disputa pelo uso do solo norte-americano, as tribos indígenas representaram um desafio direto à ideia do solo livre. A política de paz do presidente Grant procurou destribalizar os índios, substituindo sua vida comunal e a posse coletiva das terras por um sistema agrícola patriarcal. Dessa forma, “o conceito de cidadania funcionou como uma ferramenta disciplinar do Estado, não como um caminho para a cidadania indígena” (99).
Em seu capítulo sobre os paradoxos da política indígena, C. Joseph Genetin-Pilawa dissocia os conflitos envolvendo os nativos da trajetória da Reconstrução. O autor entende que o otimismo expresso na criação do Office of Indian Affairs declinou devido a mudanças de concepção entre os próprios legisladores. Estes deixaram de entender a soberania como pilar da política indígena, cedendo à política de colonização que afetava profundamente a capacidade de sobrevivência daquelas comunidades. Nesse sentido, a débâcle da soberania indígena sobre suas terras não resultou do terror ou da intimidação política, como no Sul, mas da ação de forças econômicas e migratórias que o governo Federal não quis ou não pôde controlar. O papel do exército também foi diferente. Se no Sul a instituição envolveu-se na reforma do sistema político contra uma oligarquia branca agressiva, sua atuação no Oeste foi bastante diferente. Ali o exército atacou sistematicamente as comunidades indígenas como forma de erodir sua soberania, tornado-se “um agente poderoso da política de colonização” (194). Sem o Exército, a política de remoção indígena que prevaleceu no final do século XIX seria impossível.
Barbara Krauthamer oferece um dos textos mais originais e provocativos da coletânea. Ela analisa a situação das nações indígenas, muitas das quais possuíam escravos e aliaram-se ao Sul durante a Guerra. O capítulo analisa o tratado de 1866, firmado entre o governo Federal e as nações Choctaw/Chicasaw. O tratado emancipou os escravos negros dos indígenas, simultaneamente afetando a soberania indígena sobre suas terras. Ao invés de alinhar-se às análises que consideraram a pressão antiescravista como um instrumento do avanço colonizador, a autora propõe entendê-lo como “ilustrativo do escopo complexo, contraditório e continental da Reconstrução” (242).
Dois capítulos parecem destoar da proposta do livro. Andrew Zimmerman tenta combinar uma analogia da tradição historiográfica marxista nos EUA aos escritos de Marx e Engels sobre a Guerra Civil. Através da análise da participação de exilados alemães nas forças da União o autor critica o conceito de Revolução Burguesa, que parte da tradição marxista associou ao legado da guerra. Zimmerman afirma que a própria dinâmica da Guerra mudou o conceito de revolução, influenciando os escritos posteriores de Marx e Engels. Trata-se de texto exploratório, crítico aos trabalhos que mais recentemente procuraram encontrar vínculos entre as revoluções europeias de 1848 e a liderança republicana nos EUA. O capítulo também reforça o conceito de agência, a partir da reconsideração da luta dos escravos, considerados atores centrais do proposto processo revolucionário. Aqui inexiste discussão sobre a Reconstrução ou sobre o caráter do Estado emergindo da Guerra, mas uma tentativa isolada e sofisticada de conectar o mundo da Guerra a uma perspectiva internacionalista.
A discussão de Amy Dru Sanley sobre os efeitos do Civil Right Act (1875) na política de direitos humanos demonstra os efeitos positivos da política da Reconstrução, ao considerar essa medida como precursora da criação de uma esfera dos direitos humanos. Essa ação infere que a linguagem dos direitos humanos nasceu naquele contexto, representando um divisor de águas tanto para o fim da escravidão como para a emergência dos discursos sobre reforma social, a partir da disputa sobre o direito ao divertimento. O artigo parte de um processo movido por um negro contra a segregação nos teatros. O direito ao lazer, visto como uma atividade menos relevante, fornece o ponto de partida para uma discussão crítica em relação à historiografia sobre direitos humanos. Trata-se de um dos mais imaginativos capítulos da coletânea, ainda que ele não se alinhe diretamente à discussão sobre a natureza do Estado proposta pelos organizadores.
A introdução, os doze capítulos subsequentes e a conclusão expõem as ambiguidades do mundo que a Guerra criou, enfatizando realidades complexas e multifaceadas. Assim, mais que um era de esperanças e promessas de liberdade, os trabalhos aqui expostos delineiam uma sociedade marcada pela violência e pela persistência de comportamentos tradicionais, estimulados por diferentes aglomerações de poderes locais. Eles descortinam uma agenda de pesquisas que permitirá ao leitor brasileiro situar-se a respeito das abordagens mais recentes sobre a História dos Estados Unidos durante a segunda metade do século XIX.
A distribuição dos artigos poderia ter obedecido a alguma forma de subdivisão temática que ordenasse por assunto. Essa organização tornaria a leitura mais agradável, reforçando a continuidade e facilitando a compreensão sobre as diferenças de concepção entre os colaboradores. Por outro lado, algumas vezes a uniformidade parece um pouco forçada sobre os textos, apesar dos esforços de vários autores para alinharem seus trabalhos aos conceitos-chave do livro. É compreensível que assim seja, já que um dos objetivos dos organizadores é o de entender “{C}omo as mudanças {proporcionadas pela guerra} ecoaram nas vidas das pessoas comuns e das comunidades”. Mas é preciso levar em conta o fato de que nem todos os autores parecem estar lendo por uma mesma cartilha analítica, apesar das referências trocadas entre vários dos capítulos. Ou seja, a coesão analítica nem sempre é consistente, circunstância que pode ser comprovada pela dificuldade para romper com a própria periodização da Reconstrução. Além disso, um pouco mais de uniformidade no tratamento de certos termos seria bem vinda. Os conceitos de Governo Federal, Estado Federal, Governo Central poderiam ter sido padronizados. Mas esse é um problema menor, que futuras reedições deverão corrigir. No geral, ainda cabe refletir até que ponto essas abordagens desautorizam ou complementam os estudos anteriores, particularmente no que diz respeito à longa tradição analítica sobre state building proporcionada pelos trabalhos da Sociologia Histórica, cuja ausência nesta coletânea é completa.[5] O estudo do Estado constitui uma espécie de caixa de pandora que uma vez aberta precisa ser enfrentada na sua totalidade. Assim, pode-se dizer que os estudos dessa coletânea apresentam propostas inovadoras e interpretações alternativas à grande narrativa da liberdade propondo novas direções para os estudos sobre a Guerra Civil e suas consequências. Portanto, eles abrem um caminho, mas ainda é cedo ainda para saber se um novo paradigma está sendo estabelecido.
Notas
1. A esse respeito ver, Caroline Emberton, “Unwriting the Freedom Narrative: A Review Essay”. In The Journal of Southern History, Volume LXXXII, no. 2, maio de 2016, pp.377-394.
2. Foner, Reconstruction: America´s Unfinished Revolution. Nova Iorque, Harper & Row, 1988; Lincoln, “The Gettysburg Address” In Harold C. Syrett (org.), Documentos Históricos dos Estados Unidos, p. 221.
3. Yael A. Sternhell, “Revisionism Reinvented: The Antiwar Turn in Civil War Scholarship,” Journal of the Civil War Era 3 (junho de 2013), pp. 239-256.
4. Richard Franklin Bensel, Yankee Leviathan: The Origins of Central State Authority in America, 1859-1877. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
5. Para uma coletânea sobre o debate ver, Peter Evans, Dietrich Rueschmeyer & Theda Skocpol, Bringing the State Back In. Cambridge, Cambridge University Press, 1985.
Vitor Izecksohn – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFF, Niterói – RJ, Brasil. E-mail: [email protected]
DOWNS, Gregory P; MASUR, Kate. The World the Civil War Made. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2015. Resenha de: IZECKSOHN, Vitor. Guerra Civil nos Estados Unidos: novo balanço da Reconstrução. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 346-355, jan./abr., 2017.
Terra de índio: imagens em aldeamentos do Império | Marta Amoroso
Conheçamos o projeto de uma fazenda ideal, imaginada por um francês no Brasil durante a primeira metade do século XIX. O sujeito pensou-a cercada por um cenário paradisíaco na Serra da Mantiqueira, interior de Minas Gerais. Seria uma fazenda produtiva e assentada em terras férteis. Para viabilizar tal prosperidade, o francês acreditava ser possível manter índios e negros em paz, submissos a ele e trabalhando de maneira eficiente. Os africanos escravizados, a benevolência de seu senhor faria que eles se portassem de maneira cordata, retribuindo com dedicação ao trabalho. Já os índios, estes deveriam ser atraídos com presentes. Uma vez que se tornassem aliados, o caminho para sua submissão seria a catequese (p. 38-39). Esse foi um projeto idílico de Auguste de Saint-Hilaire, botânico que viajou por diversas partes do Brasil entre 1816 e 1822, coletando milhares de espécies vegetais e animais, escrevendo relatos. Seus textos são alguns dos mais preciosos escritos sobre o Brasil no século XIX. Apresentam elementos não só sobre a fauna, a flora e a geografia do território, mas também sobre as populações dos sertões do Brasil, incluindo os povos indígenas das várias províncias que conheceu.
O projeto idílico da fazenda Saint-Hilaire, nunca realizado, era apenas uma miragem, uma idealização de como controlar a natureza submetendo-a aos interesses da ciência e do desenvolvimento econômico. Dentro dessa visão, alguns cientistas como ele acreditavam que os povos ameríndios representavam um estágio de degeneração da espécie humana e que cabia aos povos europeus encontrar caminhos para os “civilizar”.
A passagem descrita acima é uma das preciosidades apresentadas e analisadas neste novo trabalho de Marta Amoroso, publicado em 2014 e lançado em 2015 pela editora Terceiro Nome. Com base em arquivos sediados em diferentes países, em especial a documentação da Ordem Menor dos Frades Capuchinhos, de orientação franciscana, sediada no Rio de Janeiro (Arquivo da Custódia dos Padres Capuchinhos no Rio de Janeiro), – Amoroso escreveu uma importante contribuição aos estudos sobre os índios do século XIX. Utilizando-se das ferramentas teóricas da Antropologia, relendo os estudos clássicos de Telêmaco Borba e Curt Ninuemdaju sobre os Guarani no início do século XX, a autora visa não só descrever as políticas de Estado e os dilemas que os freis enfrentaram nos interiores do Brasil, principalmente no Paraná, mas problematizar como os coletivos indígenas (termo up to date entre os etnólogos para se referir aos grupos indígenas) se inseriram nos aldeamentos.
Os aldeamentos no Império do Brasil foram um novo-velho modelo de controle dos índios. A política das aldeias sob controle dos brancos no XIX pode ser lida no sentido de uma reedição, uma espécie de mescla de referências jesuíticas e pombalinas do período colonial. Ao mesmo tempo, traz as novidades de um Estado nacional que buscava controlar as populações do território que pretendia como seu, dinamizando a economia dessas regiões dentro da lógica produtiva do capitalismo. Além disso, a autora mapeia os fundamentos científicos que embasaram as ações dos viajantes europeus ao Brasil no XIX, das concepções dos padres capuchinhos e das formas como os diferentes grupos indígenas traduziam e se inseriam nas novas situações.
Marta Amoroso é antropóloga, professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Defendeu o seu mestrado na Unicamp, sob orientação de Roberto Cardoso de Oliveira, estudando o povo Mura na Amazônia no século XVIII. No doutorado, na USP, sob orientação de Manuela Carneiro da Cunha, fez uma etnografia do aldeamento São Pedro de Alcântara (1855-1895), onde viveram populações Guarani, Kaiowá e Kaingang na província do Paraná. Ingressou na USP como docente no ano de 2000. Desde então vem integrando importantes grupos de pesquisa, orientando pesquisadores e produzindo uma série de artigos e coletâneas centrados nos temas da Etnologia Indígena, História dos Índios no Brasil e estudos sobre os Mura na Amazônia. É uma das pesquisadoras principais do Centro de Estudos Ameríndios (CEstA) na USP, coordenado por Dominique Gallois.
A tese de doutorado de Marta Amoroso, “Catequese e evasão. Etnografia do aldeamento indígena de São Pedro de Alcântara, Paraná (1855-1895)”, defendida na USP em 1998 é um estudo denso que articula dados de arquivos e levantamentos quantitativos por meio de uma refinada leitura etnográfica. Amoroso, ao longo de sua obra e especialmente em sua tese de doutorado, resolve muito bem a leitura dos dados etnográficos sobre as sociedades indígenas, conseguindo fazer esses dados serem compreendidos dentro do contexto em que foram gerados. Realizar esse tipo de análise com méritos tanto no campo da História como na Antropologia, à maneira de Manuela Carneiro da Cunha e Nádia Farage, é algo raro e merece ser celebrado.[1]
No entanto, a tese de doutorado de Marta Amoroso permanece inédita, pois o livro não é a tese, avisa a autora logo na introdução. Terra de índio: imagens em aldeamentos do Império é uma síntese dos estudos realizados nos últimos 20 anos pela autora. É certo que esses estudos se iniciam na tese, mas transcendem a ela. O presente livro, dividido em três partes, se propõe permitir uma melhor compreensão dos aspectos que cercaram seu objeto inicial, a experiência do aldeamento São Pedro de Alcântara no Paraná e os relatos do frei capuchinho Timotheo de Castelnuovo. É importante registrar que a não publicação da tese configura-se numa grande perda, pois ela é quase inacessível, estando disponível apenas para empréstimo físico na Biblioteca Florestan Fernandes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O banco de teses online da universidade não possui a tese de Amoroso em seu catálogo, visto que ela foi defendida antes de a USP implantar seu acervo digital de acesso universal.
Voltemos ao livro. A primeira parte, “Explorando a Mata Atlântica”, é composta pelos capítulos “O mal-estar de Guido Marlière” e “Dos Andes e Amazônia, rumo ao crânio botocudo”. Discute os princípios científicos que respaldaram a atuação de muitos viajantes estrangeiros atraídos para o Brasil depois da chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro. É nessa parte que está situada a análise da “fazenda imaginária” de Saint-Hilaire, mencionada no início desta resenha.
Já a segunda parte, “Propondo a catequese e civilização”, integrada pelos capítulos “Das selvas ao solo ubérrimo” “Descontinuidades”, aparece como um ensaio antropológico. Aqui a autora utiliza o conceito de “equivocações controladas”, de Eduardo Viveiros de Castro, para pensar desencontros e traduções dentro e fora dos aldeamentos entre os diversos coletivos indígenas, capuchinhos, escravos negros, imigrantes e demais moradores do entorno.
A terceira e última parte, “Construindo o aldeamento indígena”, que contém os capítulos “Ficções em frei Timotheo de Castelnuovo”; “Lavoura (s)” e “Um kiki-koi para Arepquembe”, é identificada pela própria autora como uma releitura de sua tese.
Como já mencionado, há várias passagens riquíssimas no livro. Destaco aqui o capítulo intitulado “Um kiki-koi para Arepquembe”, em que Amoroso apresenta a forma como os Kaingang aldeados, mesmo já convertidos ao cristianismo, conseguem retomar um ritual funerário típico de seu grupo, o kiki-koi, para enterrar o cacique Manoel Arepquembe, assassinado em 1872. Uma das grandezas do capítulo está nas relações que a autora estabelece entre as doenças mortais que atingiram diversas vezes os índios dos aldeamentos e de seu entorno e as releituras das mitologias de fim de mundo entre os Guarani e Kaiowá. Outro aspecto analisado é que o modelo de missão do século XIX eliminou uma estratégia fundamental dos jesuítas no período colonial, que era a tradução das línguas indígenas. No Oitocentos, isso resultou no fato de que os freis Timotheo de Castelnuovo e Luís de Cimitille tinham muito menos elementos para descrever e compreender os rituais funerários Kaingang do que os missionários de séculos anteriores tiveram em relação às etnias com as quais conviveram.
Para o historiador Carlos Zeron, que escreve a orelha do livro, o trabalho de Amoroso prima justamente pelas “pontes” que estabelece com outros períodos históricos. De um lado, o modelo de catequese capuchinha é obrigado a dialogar com a tradição colonial jesuítica, que vigeu no Brasil durante cerca de 200 anos. De outro, a realidade dos indígenas no Brasil de hoje é tributária de ações de avanço sobre os territórios indígenas no século XIX.
A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, no prefácio do livro, destaca por sua vez as peculiaridades do Brasil do século XIX. Tratava-se de um território que, ainda sob o domínio português, se abriu aos interesses de artistas e cientistas europeus convidados pelo príncipe-regente João VI e que culminou com uma política de civilização e catequese de índios a partir de 1845, a qual também previa a vinda de estrangeiros, desta vez padres, sob controle do Estado para se efetivar.
O livro de Amoroso possui uma característica relevante, menos de conteúdo e mais de forma, que eu gostaria de apontar nesta resenha. É uma reflexão que nos ajuda a pensar a eficácia dos formatos aos quais destinamos nossas pesquisas acadêmicas. Por uma série de motivos profissionais e pessoais, podemos deixar de publicar, em formato de livro, as teses e dissertações que produzimos. O que não significa que sejamos pouco produtivos. Ao contrário, desenvolvemos uma série de pesquisas, obtemos financiamento, realizamos trabalhos de campo, vamos a arquivos fora do país, participamos de congressos em diversas partes do mundo. As pesquisas são ricas, como no caso de Marta Amoroso, as análises refinadas, os resultados promissores. No entanto, a exigência de uma produtividade acadêmica que nos remete a uma escala de produção industrial obriga-nos a realizar muito, porém muito fragmentado. Papers em congressos, conferências e comunicações, artigos com número de palavras e páginas estritamente controlado. Com isso, os textos que produzimos, pelos limites impostos pelo tempo e espaço, não conseguem aprofundar os assuntos, muitas vezes são pinceladas a respeito de uma pesquisa maior. A pergunta é: quando, em nosso meio, conseguimos dar a conhecer essa pesquisa maior tanto em tamanho quanto em grau de aprofundamento?
Assim, quando Amoroso opta por publicar um livro que é uma coletânea de artigos, acaba trazendo resultados panorâmicos inconclusos. O leitor fica com muitas indagações que foram mais bem respondidas em outros artigos e na própria tese da autora. Uma das questões, por exemplo, refere-se às articulações e arranjos políticos que estiveram por trás da vinda dos missionários capuchinhos ao Brasil, medida efetivada com a lei de 1845 (Decreto 426 de 24/07/1845). Em artigo publicado em 2006 a autora arriscou uma hipótese, bastante plausível, envolvendo o casamento do imperador Pedro II com a princesa Teresa Cristina, de Nápoles, em 1843, demonstrando que a aliança matrimonial tinha também sentido político e estratégico. Daí concluirmos, seguindo os passos da autora, não ser por acaso a vinda de trabalhadores imigrantes italianos e padres capuchinhos ao Brasil a partir da segunda metade do Oitocentos.[2]
A despeito da ressalva, é evidente que o livro releva grandes achados. No capítulo 4, por exemplo, a autora inicia uma discussão sobre os termos da legislação indigenista do Império e seus desdobramentos. Amoroso nos mostra que os aldeamentos do período significariam uma “descontinuidade” em relação às ações missionárias cristãs. Para a autora, a política dos aldeamentos do Império (1845-1889) trouxe o conceito de tutela do Estado aos índios e, ao mesmo tempo, propôs que seu direito à terra estivesse atrelado ao grau de “selvageria” (p. 76). Dentro dessa lógica, os antigos aldeados não teriam mais direito de permanecer nas missões. Os Guarani-Kaiowá rapidamente aprenderam a jogar dentro desse esquema: se necessário, antigos aldeados “vestiam-se de selvagens” para poder entrar nos novos aldeamentos que se iam fundando (p. 78-80).
No Capítulo 2, Amoroso mostra que o príncipe alemão Maximiliamo Wied-Neuwied, após uma convivência intensa entre os Botocudos, subverteu o binômio tupi-tapuia no século XIX, ao afirmar que os “botocudos” com os quais conviveu eram tão amistosos quanto os tupis do passado. A despeito dessa interpretação mais progressista, os cientistas no período se pautavam nos pressupostos da nascente antropologia física, que postulava os princípios da degeneração das espécies da América, crendo que os botocudos se assemelhariam aos animais, pois não tinham chefia, uma liderança como os andinos (p. 43-8).
Já no capítulo 6, Amoroso mostra uma das formas através das quais os franciscanos tiveram êxito no programa de catequese: com a montagem de uma destilaria de aguardente no aldeamento de São Pedro de Alcântara em 1870. O assunto não foi propagandeado, na verdade seguiu oculto no meio da documentação da Ordem Menor (no Arquivo da Custódia dos Padres Capuchinhos do Rio de Janeiro), visto que o consumo de bebidas alcoólicas entre os índios foi sempre uma prática condenada pela religião católica, o que obviamente não evitou o seu uso, especialmente de bebidas fermentadas e utilizadas nos rituais indígenas. No caso da cachaça, seu consumo esteve sempre relacionado aos danos que causava às populações indígenas, daí o ocultamento do tema (p. 160-1).
Por fim, Amoroso traz novos aportes para que os especialistas enfrentem uma antiga polêmica. Trata-se da afirmação de Manuela Carneiro da Cunha, escrita no começo dos anos de 1990, de que “questão indígena no século XIX era uma questão de terras”:
A “questão indígena”, no século XIX, deixou de ser uma questão de mão-de-obra, para se converter essencialmente numa questão de terras. Há variações regionais, é claro: na Amazônia, onde a penúria de capitais locais não permitiu a importação de escravos africanos, o trabalho indígena continuou sendo fundamental, e foi reaviventado no fim do século, com a exploração da balata, da borracha e do caucho. No Mato Grosso e no Paraná, ou mesmo em Minas Gerais e no Espírito Santo, as rotas fluviais a serem descobertas e consolidadas exigiram a submissão dos índios da região. Mas se se pode arriscar falar “em geral” de um século inteiro e do Brasil como um todo, a tônica foi, no século XIX, a conquista de espaço. Em áreas de índios ditos então “bravios”, tentava-se controlá-los, controlando-os em aldeamentos, “desinfestavam-se” assim os sertões. Nas áreas de ocupação colonial antiga, tentavam-se ao contrário extinguir os aldeamentos, liberando as terras para os moradores. Essas diferenças regionais nada mais eram, portanto, do que duas etapas de um mesmo processo de expropriação. [3]
Amoroso demonstra em seu livro que o projeto dos aldeamentos no Paraná a partir da segunda metade do XIX não tinha por objetivo engajar trabalhadores em atividades de interesse do Império, mas retirar os índios de terras e caminhos estratégicos, abrindo espaço para que chegassem outros trabalhadores, como os imigrantes europeus, considerados mais lucrativos no sistema capitalista. Nisso a afirmação de Cunha casa-se com os dados levantados aqui. De todo modo, a análise de Cunha assenta numa generalidade que o próprio trabalho de Amoroso permite contradizer ao exibir inúmeros episódios em que os índios trabalhavam para além dos aldeamentos, especialmente quando já eram considerados “civilizados” e empregavam-se como “camaradas” contratados por jornadas pelos fazendeiros paulistas (p. 173). Além disso, o problema do texto clássico de Manuela Carneiro da Cunha é afirmar isso para o século XIX como um todo, quando estudos mais recentes sobre a primeira metade daquele século vêm mostrando a importância dos índios como mão de obra em várias partes do território brasileiro.[4]
Outro dado importante, que instiga o leitor a compreender melhor, mas que a autora não fornece maiores dados no livro, ao contrário do que faz na tese, é sobre a presença de população de negros nos aldeamentos e em seu entorno. Esse dado gera perguntas no leitor sobre como se dava essa convivência, que papel ocupavam os negros nesse contexto. Na tese de 1998 é possível descobrir alguns dados mais sobre essas populações que, no entanto, não são explicados no livro. Assim, a presença de africanos e afrodescendentes nos aldeamentos esteve relacionada ao envio de trabalhadores especializados, como ferreiros, marceneiros etc. para trabalhar na Fábrica de Ferro de Ipanema em Sorocaba na década de 1850. Não eram necessariamente libertos, mas estavam na condição de “tutela”, sofrendo ainda castigos físicos conforme as vontades de seus senhores.[5]
Em síntese, os estudos de Marta Amoroso, em seu conjunto, são de uma qualidade ímpar, de grande importância tanto no campo da História quanto da Antropologia, principalmente na intersecção entre elas. A única coisa a lamentar é que o livro foi muito curto perto dos dados que a autora levantou ao longo das últimas duas décadas.
Notas
1. CUNHA, Manuela Carneiro da. (org.) História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras/Fapesp/SMC, 1992 (como organizadora e autora de um dos capítulos); _____ (org.). Legislação indigenista no século XIX. Uma compilação (1808-1889). São Paulo: Comissão Pró-Índio/Edusp, 1992; FARAGE, Nádia. As Muralhas dos Sertões. Os Povos Indígenas no Rio Branco e a Colonização. Rio de Janeiro: Paz e Terra ANPOCS, 1991.
2. AMOROSO, Marta. Crânios e cachaça: coleções ameríndias e exposição no século XIX. Revista de História 154 (1º, 2006), 119-150 p. 128-30. Disponível em http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/19024/21087 Último acesso em 07/04/2017. Outros estudos que poderiam ajudar a problematizar a questão: SAMPAIO, Patrícia Melo. Política indigenista no Brasil imperial. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil imperial. Volume I: 1808-1831. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009; SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012
3. CUNHA, Manuela Carneiro da. Prólogo. In: ____ (org). Legislação indigenista no século XIX. Op. Cit., p. 4
4. Alguns trabalhos mais recentes, no campo da história sobre os índios, abordaram a participação indígena também no trabalho no Brasil império: COSTA, João Paulo Peixoto. Na lei e na guerra: Políticas indígenas e indigenistas no Ceará (1798-1845). Tese de Doutorado. Campinas: IFCH, 2016; LEMOS, Marcelo Sant’ana. O índio virou pó de café? A resistência indígena frente à expansão cafeeira no Vale do Paraíba. Jundiaí: Paco Editorial, 2016; MACHADO, André Roberto de. A quebra da mola real das sociedades: a crise política do Antigo Regime Português na província do Grão-Pará (1821-25). 1. ed. São Paulo: Hucitec / Fapesp, 2010; MOREIRA, Vania Maria Losada. Autogoverno e economia moral dos índios: liberdade, territorialidade e trabalho (Espírito Santo, 1798-1845). Revista de História, nº 166, 2012; SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Op. cit.; XAVIER, Maico Oliveira. Extintos no discurso oficial, vivos no cenário social: os índios do Ceará no período do império do Brasil. Trabalho, terras e identidades indígenas em questão. Tese de Doutorado. Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, 2015.
5. AMOROSO, Marta. Catequese e evasão. Etnografia do aldeamento indígena de São Pedro de Alcântara, Paraná (1855-1895). Tese de Doutorado em Antropologia. São Paulo: FFLCH-USP, 1998, p. 130-2.
Fernanda Sposito – Pesquisadora de Pós-Doutorado em História na Unifesp. Bolsista FAPESP. E-mail: [email protected]
AMOROSO, Marta. Terra de índio: imagens em aldeamentos do Império. São Paulo: Terceiro Nome, 2014. Resenha de: SPOSITO, Fernanda. Além do sertão: indígenas no Brasil do século XIX. Almanack, Guarulhos, n.16, p. 343-351, maio/ago., 2017.
De Caboclos a Bem-Te-Vis: formação do campesinato numa sociedade escravista: Maranhão 1800-1850 | Mathias R¨hring Assunção
A publicação do livro De caboclos a Bem-te-vis em 2015 deve ser saudada, antes de tudo, por trazer ao público, 25 anos depois, o texto completo, atualizado e traduzido de um dos estudos mais utilizados pela historiografia maranhense dedicada às pesquisas situadas no século 19, embora o alcance e a atualidade do texto não se restrinjam ao Maranhão nem ao Oitocentos.
Até então, a tese defendida em 1990 na Freie Universität Berlin e publicada, em 1993, com o título Pflanzer, Sklaven und Kleinbauern in der brasilianischen Provinz Maranhão, 1800-1850 (Fazendeiros, escravos e camponeses na província brasileira do Maranhão, 1800-1850), circulara em versões não publicadas, ou de modo fragmentado, em relevantes artigos acadêmicos e capítulos de coletâneas1.
Evidentemente, a publicação é impregnada pelas marcas do tempo em que o texto original foi produzido e, por isso, traz vigorosos debates acadêmicos comuns na década de 1990: a existência e a conformação de um campesinato no Brasil; um sistema escravista e suas variáveis; o plantation e o convívio com outras formas de produção. Tempo esse que convive com questões sempre contemporâneas, especialmente no estado do Maranhão, marcado por um processo contínuo de concentração fundiária, desapropriação de terras comunais e luta pela legalização/manutenção de territórios quilombolas.
Dentre os méritos que emergem do texto, talvez o mais significativo e (ainda) original esteja na proposta de explorar formas não escravistas de trabalho em uma das mais escravistas províncias do Império do Brasil. Tal opção não significou o desprezo pela análise da sociedade escravista; ao colocar em xeque a ideia de monocultura escravista algodoeira, propôs o debate sobre a diversidade dos meios de produção que conviveram/conflitaram com aquela estrutura, oferecendo ao leitor o resultado de uma pesquisa de fôlego sobre a sociedade maranhense.
Nas palavras do autor:
A tese central defendida ao longo das páginas que seguem é que a economia escravista de plantation – apesar de sua implantação tardia – caracterizou-se no Maranhão pelo desenvolvimento de uma economia camponesa relativamente importante, diferenciada e autônoma, sobretudo quando comparada a outras regiões brasileiras onde também predominou a grande lavoura escravista. Apesar de um segmento da economia camponesa assumir uma função complementar à economia de plantation, o antagonismo estrutural entre os dois setores está na base do conflito entre os fazendeiros escravistas e os camponeses, chamados e autodenominados caboclos desde aquela época. Este antagonismo foi a pré-condição para a eclosão da Balaiada (p.21, grifos meus).
A transcrição é longa, mas indispensável por evidenciar o principal pressuposto metodológico que orienta o argumento de Assunção: a perspectiva de uma história comparada à procura das diferenças que caracterizariam a sociedade maranhense, tornando-a capaz de produzir as condições para a emergência do movimento que ficou conhecido como Balaiada.
Confessadamente, o autor propusera-se analisar originalmente uma história da resistência popular maranhense que na Balaiada encontrara o seu ápice2. Ao longo da pesquisa, deslocara o foco para uma “análise das estruturas que levaram ao conflito” (p. 12).
Tais estruturas são apresentadas com base em quadros fartamente subsidiados pela rica documentação que orienta a pesquisa, dá solidez ao texto e serve como referência para a elaboração de dezenas de mapas, gráficos e tabelas, oferecidos pelo autor aos seus leitores (p.411-472). Paisagem; população; luta pela terra; economia e sociedade; estruturas de poder e processo político sucedem-se e imbricam-se, conduzindo o leitor à Balaiada, reservada ao último item do último capítulo (p. 352-366).
Ao longo desse percurso, o autor constrói um quadro com o que definiu como excepcionalidades da ocupação do território maranhense. Esse quadro seria composto por uma série de elementos, a saber: a) às vésperas da Independência, a população ainda se concentrava no núcleo inicial da colonização, com incipiente inserção no centro sul da capitania (p.60); b) a população indígena, arredia ao domínio português, era superior à população colonial (p.60); c) forte predominância de escravos da Guiné na região de plantation (p.72)3; d) menor predomínio da escravidão masculina (p.92-93); e) extensos territórios, nas imediações das zonas de plantation, escapavam ao controle das autoridades (p.106); f) a média de escravos por propriedade era inferior às existentes no engenho açucareiro (p.180); g) presença pouco significativa de uma classe média baixa, branca e escravista, capaz de cooperar com a estabilidade do sistema (p.234); h) parte da população livre, inclusive fazendeiros de médio porte, era hostil ao governo (p.311).
Pari passu, Assunção constrói outro quadro, centrado na região do Maranhão Oriental, especialmente o Vale do Parnaíba, palco principal da Balaiada. Para a região o pesquisador identificou elementos como a presença significativa de migrantes nordestinos (p.134); o número elevado de propriedades em que o dono não residia na freguesia (p.135); a importância dos proprietários médios e de uma “classe média rural” (p. 137-138); o mercado de terras ainda incipiente e predominância de formas não privadas de uso da terra (p.139-141).
Haveria assim, na região, uma concentração de camponeses e de fazendeiros voltados para o mercado interno, cujos interesses se chocariam com aqueles defendidos por negociantes e proprietários envolvidos na economia algodoeira. Razões políticas, historicizadas pelo autor a partir da Independência, teriam criado condições objetivas para a eclosão do conflito. Segundo Assunção, elas se acumulam no tempo. Desde de a Independência era recorrentes as queixas de políticos da região do Parnaíba pela não participação no governo da província – manifestações favoráveis à divisão da província foram relativamente comuns até o final da década de 1830 (p.317). Na década de 1830 se intensificou a histórica denúncia da exploração fiscal provincial por parte do governo central (p.279), a montagem da Guarda Nacional desencadeou resistência ao seu alistamento e, por fim, o sistema de prefeituras, introduzido no Maranhão em 1838, concentrou em São Luís a distribuição dos cargos mais lucrativos no interior da província (p.294). Como se vê, as reformas implementadas pela Regência teriam provocado ou agravado o desequilíbrio de poder entre as elites locais, regionais e nacionais (p. 302).
Contudo, se a motivação inicial da pesquisa foi a Balaiada, ou a análise das estruturas que levaram ao conflito, os resultados ultrapassaram extraordinariamente esses intentos. De Caboclos a Bem-te-Vis é leitura obrigatória para os pesquisadores dedicados às primeiras décadas do século 19. Mais ainda, é leitura obrigatória também aos interessados em compreender as estruturas econômicas, políticas e sociais do estado do Maranhão, outrora grande exportador de produtos primários, e que ontem como hoje preserva o gene da desigualdade social, da violência contra as populações mais pobres e do clientelismo político.
Notas
1. Como exemplos, cito: Quilombos maranhenses. In: João José Reis; Flávio dos Santos Gomes. (Orgs.). Liberdade por um fio. História dos quilombos no Brasil. 1ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, v. 1, p. 433-466; Exportação, mercado interno e crises de subsistência numa província brasileira: o caso do Maranhão, 1800-1850. Estudos Sociedade e Agricultura (UFRJ), 2000, v. 14, p. 32-71; e Miguel Bruce e os horrores da anarquia no Maranhão, 1822-27. In: István Jancsó. (Org.). Independência: História e Historiografia. São Paulo: Hucitec, 2005, v. 1, p. 345-378.
2. O próprio título do livro em português revela esse intuito. De um modo geral, as populações camponesas do Maranhão eram reconhecidas como “caboclos”; já os “bem-te-vis” eram os membros do partido liberal no Maranhão, origem de algumas reivindicações incorporadas pelos revoltosos, que passaram a ser reconhecidos, também, como “bem-te-vis”. De Caboclos a Bem-te-Vis transparece o percurso dessas populações até o momento de eclosão do conflito. Em 1988, antes, portanto, da defesa da tese, o autor publicou o livro A guerra dos bem-te-vis. A Balaiada na memória oral, reeditado em 2008 (São Luís: Edufma, Coleção Humanidades, v. 6).
3. Para essa excepcionalidade, o autor apenas observa que suas implicações foram pouco estudadas até aquele momento.
Marcelo Cheche Galves – Universidade Estadual do Maranhão, Maranhão – MA, Brasil. E-mail: [email protected]
ASSUNÇÃO, Matthias Röhrig. De Caboclos a Bem-Te-Vis: formação do campesinato numa sociedade escravista: Maranhão 1800-1850. São Paulo: Annablume, 2015. Resenha de: GALVES, Marcelo Cheche. O Maranhão nas primeiras décadas do Oitocentos: condições para a eclosão da Balaiada. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 356-359, jan./abr., 2017.
Slave Emancipation and Transformations in Brazilian political citizenship | Celso Thomas Castilho
O livro de Celso Castilho apresenta uma abordagem pouco convencional e inovadora da abolição brasileira. Centrada na província de Pernambuco, com particular ênfase no Recife, uma das cidades onde o abolicionismo mais floresceu, a análise percorre do final da década de 1860 até os anos subsequentes à abolição, fornecendo um quadro de reflexões históricas e historiográficas de grande importância para todo o Brasil.
Castilho analisa a abolição à luz das disputas políticas geradas no seio do movimento da emancipação escrava e de sua inter-relação com práticas de cidadania efetivadas no devir histórico. Assim, o estudioso concebe a crise da escravidão como um ponto de entrada para a compreensão do problema da cidadania política brasileira, algo que extravasa a marcação temporal do século 19. Para atingir esse objetivo, o historiador escrutinou dois jornais de grande circulação no Recife, ações de liberdade, peças teatrais, correspondências privadas e coleções inéditas de documentos remanescentes de associações abolicionistas.
Munido dessas fontes, Castilho mapeia a “fermentação política” entre o final da década de 1860 e a aprovação da Lei do Ventre Livre, marcada pela intensa participação popular em manifestações a favor da abolição, que se expressaram na criação de associações, na celebração de cerimônias de manumissão, na ocupação do espaço público e em encenações de peças teatrais. Segundo Celso Castilho, nada disso tolhia a autoridade dominial e, por esta razão, essas ações foram toleradas pelos proprietários de escravos. A tolerância, todavia, mudou com a aprovação da Lei de 1871, que concedeu aos escravos novas prerrogativas legais para a obtenção de liberdade. Desse momento até a abolição, em 1888, senhores e abolicionistas mantiveram-se em severa oposição e tentaram determinar os termos do fim do cativeiro, algo que ecoou no período pós-emancipação.
Dois grupos antagônicos em oposição por conta do encaminhamento da questão servil? Até aqui, nada de novo. A inovação do trabalho de Castilho consiste no espaço dado ao embate entre os abolicionistas pernambucanos e os senhores de escravos daquela região, que, contrariamente ao que já se pensou, resistiram, como muito bem mostra o autor, até os últimos momentos na defesa da manutenção da ordem escravista. No desenvolvimento do livro, salta aos olhos do leitor a dinâmica de lutas políticas em torno da emancipação, ocorrida no Recife, que colocou em embate grupos sociais pró-emancipação e pró-escravidão. Uma das consequências desse tipo de análise para a compreensão histórica é o reconhecimento de que o fim da escravidão brasileira não foi um processo pacífico, mas sim fortemente marcado por um duríssimo conflito ideológico e social. De fato, essa noção atravessa todo o livro e faz com que seu autor lance luz não apenas sobre a mobilização dos abolicionistas, mas igualmente sobre a ação dos proprietários de escravos, algo ainda pouco desvelado pela historiografia brasileira.
É na relação conflituosa entre defesa e condenação do escravismo que Castilho consegue retirar elementos capazes de demonstrar que, nos últimos vinte anos do Império, houve transformações de fundo na cidadania política brasileira. As estratégias de manifestação dos abolicionistas, ao tomarem as ruas ou levarem o problema da escravidão para palcos de teatro, atraíam os diversos estratos da sociedade (inclusive libertos e mulheres), e não apenas uma restrita parcela dela. Desse modo torna-se possível constatar que o movimento abolicionista teve um forte caráter popular e, ao permitir o engajamento político do povo, mudou o exercício da cidadania política no Brasil. Desde jovens estudantes (alguns inclusive começaram sua carreira política na defesa da abolição) até antigos escravos, todos passaram a ter uma chance de participar nos rumos políticos e sociais do país. Tal prática política extrapolava muito as condições necessárias para o exercício do voto e as limitadas perspectivas de ascensão social e aquisição de direitos civis garantidas aos africanos libertos e aos seus filhos pela Constituição de 1824.
A agência escrava ocupa igualmente um lugar de relevo no livro. Ao perquirir os arquivos remanescentes do Clube Abolicionista e da Nova Emancipadora, associações abolicionistas do Recife, o historiador constatou que os escravos tiveram intensa participação no processo de emancipação. Por meio do pecúlio, oficializado desde 1871, os cativos contribuíam sobremaneira com o valor corresponde à compra de sua liberdade. Com efeito, os escravos tipicamente manumitidos pela primeira associação, as mulheres, chegavam a custear quase 70% do valor de suas alforrias. Além disso, os escravos, também na sua maioria as mulheres, peticionavam ao governo pela sua liberdade ou pediam empréstimos para comprá-la.
A açucarocracia escravista também se organizou, mas sem a participação dos setores populares da sociedade. De modo a defender seus interesses, em 1872, criou a Sociedade Auxiliadora da Agricultura de Pernambuco, “a primeira vez que os fazendeiros se mobilizaram politicamente como ‘fazendeiros’”. Contudo, vale mencionar que, possivelmente, essa não foi a primeira mobilização dos fazendeiros pernambucos enquanto grupo político. Em 1871, seguindo de perto seus pares do Vale do Paraíba, que enviaram representações ao parlamento imperial contra o ventre livre, os senhores de Pernambuco também endereçaram ao legislativo, pela via peticionária, sua oposição à emancipação escrava. Os proprietários pernambucanos chegaram a organizar dois Congressos Agrícolas, em 1878 e 1884, para discutirem os rumos econômicos da região. No primeiro, inclusive, a grande preocupação foi em como utilizar o trabalho dos ingênuos.
Ligando a análise regional à macropolítica imperial, Celso Castilho ainda demonstra como a abolição da província do Ceará, em 1884, impactou tanto o movimento abolicionista quanto os senhores de Pernambuco. No primeiro caso, houve um adensamento da participação popular e, no segundo, uma maior organização e um repensar da ação dos proprietários de escravos. De fato, foi nesse contexto que surgiu a primeira associação exclusivamente feminina, a Ave Libertas, e que as fileiras do partido republicano engrossaram. Mas não apenas: o auxílio a fugas de escravos para o Ceará, que já tinha áreas libertas desde 1883, tornou-se uma realidade premente. Tudo isso teve grande repercussão nas eleições, também em 1884, dos deputados ao Parlamento. Realmente, os candidatos manejaram do inicio ao fim da campanha os temas emancipacionistas.
Na esteira dos acontecimentos na província vizinha, os proprietários de escravos passaram a se organizar em clubes agrícolas e estruturam o segundo Congresso Agrícola do Recife. Nele, a grande preocupação dos senhores foi evitar que o radicalismo cearense se enraizasse em Pernambuco. Assim, eles se dedicaram a diminuir publicamente a importância do movimento cearense de tal forma a subvalorizar a participação popular. Na lógica dos senhores de engenho de Pernambuco, o abolicionismo havia se tornado um delírio.
Num salto qualitativo de análise, que nos permite a compreensão geral do livro, Celso Castilho demonstra que a abolição, cada vez mais intensa e com maior participação popular no decorrer da década de 1880, também animou as preocupações políticas dos fazendeiros quanto à manutenção da ordem social. Em Pernambuco isso se deu, sobretudo, por conta da ação do Clube Cupim, que até 1888 auxiliou na fuga de escravos em direção ao Ceará . A aceleração da abolição, que ocorria na frente de seus olhos, implicava a erosão da secular influência política dos senhores de engenho pernambucanos. Reavaliando as suas estratégias, os fazendeiros da região passaram a anunciar, no final de 1887, manumissões condicionais aos seus escravos, isto é, os cativos teriam a liberdade garantida mediante a prestação de serviços aos senhores durante certo intervalo de tempo.
A tentativa, por parte açucarocracia, de manutenção da ordem era apenas um prelúdio da ação que eles tomariam no pós-emancipação. A antiga elite escravista, junto aos setores republicanos, ao encetarem o golpe que culminou com a proclamação da República, construiu uma narrativa própria da abolição em que evocaram o caráter parlamentar do fim da escravidão e evitaram a memória do engajamento político popular. Não permitir que uma ampla participação do povo, agora adensado pelos escravos libertos em 1888, interferisse novamente nos destinos do país passou a ser o mote desse grupo. Assim, a construção da memória da abolição teve um intenso caráter ideológico e pautou a reformulação da estrutura política brasileira no advento da República. Nas palavras de um contemporâneo, dirigidas na última eleição do Império a um adversário que se opunha à participação popular na política: “Ele sempre tolerou a escravidão e agora ele quer uma ditadura sobre o branco proletário e sobre o descendente do escravizado, porque isso de governo não é para todos, mas só para quem é fidalgo, rico, e ainda hoje tem saudades dos bons e bucólicos tempos das senzalas e dos eitos para os quais quer fazer a pátria voltar” (p.189).
Por fim, vale salientar a falta de um exame mais detido acerca da economia e da demografia açucareira da província pernambucana na segunda metade dos oitocentos. Castilho não menciona que, a despeito da concorrência cubana, as exportações pernambucanas de açúcar mais do que dobraram entre 1860 e 1880. Assim, apesar de não representar o primeiro produto da pauta exportadora do Império, a importância da produção açucareira e, portanto, de seus produtores não era desprezível naquele momento. No que diz respeito à mão de obra empregada na produção de açúcar em Pernambuco, que mesclava livres e escravos, o historiador, a despeito de citar alguns dados demográficos, não fornece ao leitor qual a proporção do braço escravo em relação ao livre. Algumas estimativas sugerem que, em 1872, havia cinco trabalhadores livres para cada escravizado nas plantations açucareiras da região. Dado o avanço abolicionista na década de 1880, essa proporção favorável aos livres certamente aumentou. Já se argumentou, inclusive, que, em virtude do avanço do trabalho livre, a abolição praticamente não afetou a produção daquela província. Esses dados, sugerindo que a Pernambuco do final do século XIX tinha uma pujante economia com o concurso cada vez menor do trabalho escravo, reforçariam a conclusão de Castilho de que a elite agrária da região, mais do que lutar contra o fim da escravidão, tinha um projeto de manutenção da ordem que o movimento abolicionista colocava em perigo.
Bruno da Fonseca Miranda – Departamento de História da Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
CASTILHO, Celso Thomas. Slave Emancipation and Transformations in Brazilian political citizenship. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016. Resenha de: MIRANDA, Bruno da Fonseca. Novas perspectivas para o estudo da abolição brasileira: cidadania e ação senhorial. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 360-365, jan./abr., 2017.
A Morte da Tradição. A Ordem do Carmo e os Escravos da Santa contra o Império do Brasil (1850-1889) | Sandra Rita Molina
Ao longo das últimas três décadas, historiadores trataram o tema da escravidão com perspectivas que rediscutiram a atuação dos cativos dentro do regime escravista brasileiro, lançando luz sobre os diversos episódios em que a agência escrava se revelou crucial para entender o cotidiano, as formas de resistência e as vitórias (ou derrotas) desses personagens nos processos históricos do período colonial ou do Império do Brasil. Além do próprio ineditismo de tal abordagem, essa nova visão historiográfica desconstruiu a visão de que os escravos eram personagens sem vontade e totalmente submissos às vontades senhoriais.
Dentro dessa abordagem, autores como Maria Helena Machado, Sidney Chalhoub, Silvia Hunold Lara, Robert Slenes, Jaime Rodrigues, Beatriz Mamigonian, Keila Grinberg e Ricardo Salles, entre outros, descrevem como personagens subalternos atuavam em suas realidades, demonstrando um grande conhecimento de sua condição, abrindo a possibilidade de confrontá-la e, em muitos casos, reconstruí-la conforme suas vontades. Estamos falando de marinheiros, cativos urbanos, escravos de ganho, forros e famílias que ao longo de suas vidas construíram sua própria história. É dentro desse grupo de autores que Sandra Rita Molina se insere com uma obra baseada em extensa pesquisa.
Ao contrário dos outros autores citados, Sandra Rita Molina nos apresenta um mundo diferente e, até aqui, pouquíssimo analisado pela historiografia brasileira, que é a realidade dos escravos das ordens regulares, mais especificamente, dos escravos pertencentes aos Carmelitas Calçados. Esse novo mundo é explorado através das “relações desenvolvidas entre os frades e seus escravos em meio a um contexto de repressão legislativa empreendida pelo Estado Imperial” (p. 22). Dessa forma, a autora apresenta ao longo de seu trabalho uma tentativa de aproximação dos debates historiográficos sobre o abolicionismo e o debate em torno das relações entre Estado e Igreja, examinando qual é o lugar do clero regular dentro da esfera política e quais foram as alianças realizadas nesse processo.
Como não poderia deixar de ser, além do forte diálogo com a historiografia em torno da condição escrava e do abolicionismo, Molina apresenta grande contribuição para o debate em torno da questão da Igreja no Brasil ao contradizer a visão de que a Igreja era um espaço homogêneo e sem rupturas, uma instituição pura e injustiçada pelos desmandos do poder temporal. Molina também apresenta uma leitura alternativa às interpretações historiográficas do CEHILA (Centro de Estudos da História da Igreja na América Latina) e até mesmo com de pesquisas acadêmicas recentes. Ao contrário da maioria dos estudos disponíveis, a autora reconstitui o mundo das ordens regulares focando não apenas na perseguição da igreja pelo Estado e a consequente submissão eclesiástica aos decretos imperiais, mas sim nas relações, barganhas e atitudes cotidianas dos frades da Ordem com as diversas instâncias do Império, da própria Igreja e com a comunidade leiga.
Molina apresenta seu argumento em quatro capítulos bem estruturados e que impressionam pelo minucioso trabalho de pesquisa. O primeiro capítulo (“O mundo entre os muros do convento”) nos apresenta um importante panorama da vida dentro do claustro e da vivência com a sociedade que orbitava em torno desses prédios. O panorama permite que o leitor apreenda as estratégias religiosas para construir resistência às pressões externas, manter privilégios e governar a ordem como um todo. A relação das ordens regulares com o Estado Imperial sobressai no capítulo. Molina faz todo um percurso expositivo para que o leitor entenda a situação dessas ordens no século 19, apontando as diversas medidas que a Coroa tomou para a supressão das instituições religiosas, com um interesse especial para as que detinham grandes patrimônios, como o caso dos próprios Carmelitas Calçados e dos Beneditinos. Apesar da perseguição, são notórias as estratégias das ordens para fugir à investida, utilizando algumas vezes a própria estrutura e o discurso do Estado Imperial a seu favor (p. 88).
O capítulo 2 (“Uma Gomorra na Corte. Como o Estado imperial deveria agir com o clero regular?”) apresenta o outro lado da história, a perspectiva do Império no processo de supressão das ordens. Ao longo desse capítulo, o leitor se depara constantemente com as diversas revisões da legislação e das decisões políticas do Estado para conseguir seu objetivo máximo, que é a tomada do patrimônio das ordens regulares. As estratégias são as mais variadas. Incluem denúncias de desmoralização do clero, visto que para o Governo Imperial “a decadência e a ineficiência testemunharam que as Ordens traíram um pacto tradicional entre o Estado e estas Corporações, que previa atuação de benevolência e educação religiosa da população” (p. 120); e até medidas de controle dos bens dessas instituições, através de listagens, censos e regras para a celebração de contratos sobre esses bens. O capítulo também permite que o leitor tenha visão ampla sobre os bens eclesiásticos. Além dos imóveis conventuais e dos imóveis dentro dos centros urbanos, os maiores bens carmelitas eram as fazendas e os escravos sob sua tutela. Para protegê-los, garantindo que o Império não os incorporassem, os religiosos empregavam estratagemas como a realização de contratos de arrendamento das propriedades rurais e dos respectivos escravos.
O capítulo 3 (“Honestas estratégias: o Carmo reorganizando seu patrimônio em função da sua sobrevivência”) nos faz mergulhar ainda mais nas ações dos religiosos para conseguir a manutenção dos bens da ordem, seus privilégios e, consequentemente, a sobrevivência de um modo de viver. Nesse capítulo, aparece um elemento crucial na resistência dos religiosos às investidas do Estado imperial: a comunidade leiga. Desde o período colonial, as ordens religiosas gozaram de grande prestígio frente à comunidade leiga, não sendo incomum o fato de Câmaras Municipais solicitarem a instalação de conventos de franciscanos, carmelitas ou beneditinos em suas respectivas cidades. O cenário não muda ao longo do 19. Mesmo perante todos os problemas relacionados às medidas restritivas do Império e, em alguns setores, as constantes críticas à moralidade do clero regular, a cumplicidade entre leigos e clérigos é ferramenta poderosa para os frades. As relações, porém, eram de via dupla. No jogo de apoio recíproco, proprietários leigos acabavam recebendo o benefício de celebrar contratos com as ordens e usufruir das propriedades ou dos cativos da Santa.
O capítulo 4 (“Frades feitores e os escravos da Santa”) centra a sua discussão na relação dos frades com os cativos. Os momentos de convivência pacífica entre uns e outros eram frutos de várias concessões aos cativos por meio de práticas cotidianas que chegavam a ignorar os ordenamentos do Capítulo Provincial (p. 265). Um exemplo notável do espaço de autonomia concedido aos escravos é o caso de fazendas como a de Capão Alto em Castro no Paraná. Referências apontam que “essa fazenda ficou mais de setenta anos sob a administração direta e livre dos escravos” (p. 272/273). Obviamente, a autonomia se dava após “longos períodos de construção de cumplicidade em um mesmo espaço” (p. 266).
A autonomia dos cativos podia ser afetada com arrendamentos, cada vez mais comuns, devido a contexto de repressão à Ordem somada à carência de braços na lavoura depois do fim do tráfico negreiro transatlântico. Nesse contexto, a autora traz outra importante contribuição para a historiografia acerca da escravidão, especificamente ao pensarmos nas estratégias empreendidas pelos cativos para conseguirem fazer valer seus interesses. Alguns autores, como Lucilene Reginaldo e Antônia Aparecida Quintão, que tratam sobre a religiosidade negra e abordam em suas obras a questão da relação com os santos patronos das irmandades religiosas, apontam que eram comuns os irmãos dessas associações criarem uma aproximação ao nível de parentesco com o patrono. No caso dos escravos da Santa, essa lógica reaparece, mas transformada devido aos interesses dos cativos. Dentro de suas experiências, “incorporaram a ideia de que os frades eram apenas uma espécie de feitores e de qualquer decisão afetando seu cotidiano, deveria partir diretamente de sua senhora, que, no caso, era uma Santa” (p. 277), conseguindo dessa forma um forte argumento frente à opinião pública para conseguir seus objetivos. Do outro lado desse jogo, os frades detinham interesse em manter uma relação amistosa com seus cativos, pois essa era uma forma consistente de fruir seus privilégios tanto dentro como fora dos conventos. “Este processo colocou em muitos momentos escravos e senhores do mesmo lado, procurando impedir o fim do mundo que conheciam”, observa Molina nas considerações finais de seu trabalho.
A morte da tradição traz elementos complexos que contribuem para as diversas correntes da historiografia brasileira sobre a escravidão e igreja no Império do Brasil. O livro não apenas se soma à narrativa da história social que entende os escravos como personagens cujas lutas são peça-chave no quebra-cabeça que é o escravismo no Brasil. Explorando tópicos como autonomia escrava, estratégias clericais para manutenção de privilégios e ramificações das relações sociais de ambos os grupos, A morte da tradição ilumina o mundo clerical de uma maneira que as macro-análises da relação Estado-Igreja não conseguem capturar.
Rafael José Barbi – Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Guarulhos – SP, Brasil. E-mail: [email protected]
MOLINA, Sandra Rita. A Morte da Tradição. A Ordem do Carmo e os Escravos da Santa contra o Império do Brasil (1850-1889). Jundiaí/SP: Paco Editorial, 2016. Resenha de: BARBI, Rafael José. Catolicismo, escravidão e a resistência ao Império: Um outro olhar. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 366-370, jan./abr., 2017.
Acessar publicação original [DR]
No mar e em terra: história e cultura de trabalhadores escravos e livres | Jaime Rodrigues
Esta resenha começa com uma advertência, figura literária comum (como os modernistas tão bem sabem) em obras de autores pós-tridentinos, que a incluíam essencialmente para se exonerarem de responsabilidades, ao sustentarem a sua boa ortodoxia e ao afastarem de si e da sua obra todas as suspeitas de heresias religiosas ou políticas que pudessem fazer tremer trono e altar.
A minha humilde advertência não se rege pelas necessidades políticas ou religiosas, mas pela honestidade intelectual. A resenha que se segue é de autor cujo trabalho se centra no estudo da história religiosa nas vertentes institucional, cultural e das mentalidades, pelo que se afasta do perfil conhecido do nosso caríssimo Jaime Rodrigues.
Aproxima-nos a dedicação ao Atlântico enquanto espaço histórico de análise, e o interesse dedicado aos povos africanos (afinal tivemos por denominador comum a pertença ao Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto) e ao seu papel neste mundo definido pela língua portuguesa. A minha leitura é pois de alguém que, não sendo especialista nas áreas trabalhadas, está no entanto familiarizado com tema e com o autor e como tal atreve-se (humildemente) a resenhar. Perdoe o leitor (e o próprio autor) as limitações e as falhas de tal processo.
O primeiro contacto pessoal que tive com o autor de No Mar e em Terra – História e Cultura de trabalhadores escravos e livres foi no ano de 2013, quando de uma conferência que este proferiu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Jaime Rodrigues teve então o ensejo de nos deliciar com a apresentação do seu projeto de pesquisa sobre a marinhagem escrava e liberta nos navios Atlânticos dos séculos 18 e 19.
Recordo não apenas o entusiasmo do palestrante sobre o tema que então o ocupava, mas também o daqueles que tivemos o privilégio de o ouvir dissertar, mesmo os que vindos de outras áreas de investigação (como eu próprio) e que rapidamente foram contagiados pelo interesse e novidade do que era apresentado. Jaime Rodrigues demonstrou a importância da pesquisa para um melhor conhecimento da marinhagem atlântica lusófona, em particular o papel quase ignorado dos escravos e libertos e das questões complexas que se lhes punham no tabuado dos navios portugueses que cruzavam o Mar Oceano.
Ao modernista que o ouvia foi difícil não ouvir o apelo de uma pesquisa que procurava recuperar o papel dos africanos neste universo tão particular e que foi elemento estrutural num Estado com características talassocráticas como o era o português da Época Moderna. Particularmente fez-me recordar, como ressonância longínqua, as linhas de Rui de Pina em que descreve a chegada de Diogo Cão ao reino do Congo e de como “…os negros da terra se fiavam delle, e seguramente entravam, já nos navios…” que os trariam a Portugal e à corte de D. João II. Dura ironia certamente.
Três anos passados sobre tal apresentação, e ao folhear o mais recente fruto do trabalho de Jaime Rodrigues (aquele que aqui se tenta resenhar), tive a felicidade de reencontrar (como capítulo terceiro do livro) o tema daquela apresentação de projeto, agora já convertido num produto final. O capítulo, antecedido por um sólido trabalho de enquadramento e de problematização, oferece ao atual leitor as mesmas premissas que nos tinham sido apresentadas em 2013 e a que se juntam agora os passos de pesquisa, os dados por ela coligidos e que sustentam a validade e a importância das conclusões.
O rigor científico e a erudição do trabalho do autor, não apenas neste como nos demais capítulos do livro, e que são naturalmente apanágio de um investigador e docente que conta com uma trajetória sólida e reconhecida, são o garante da qualidade do que nos é oferecido.
Como o prefácio de João José Reis e a própria apresentação do autor esclarecem, No Mar e em Terra é uma coletânea de diferentes artigos produzidos ao longo dos anos e dos quais resultam os sete capítulos da obra. Procurou o autor reunir num só volume trabalhos que andariam dispersos mas cuja afinidade de temas aconselhava a congregar, com toda a coerência, num único volume. Como já o prefaciador salienta, a atualização de bibliografias e a reflexão paralela que Jaime Rodrigues faz sobre a validade dos resultados do seu trabalho à luz da mais recente pesquisa histórica colocam-nos perante um livro que não apenas reúne como atualiza a pesquisa que o autor vem desenvolvendo ao longo do seu percurso profissional.
Com um arco temporal de abordagem que vai do século inicial da expansão marítima portuguesa até ao ainda muito próximo século 19, estes trabalhos encontram o seu fio condutor comum na geografia atlântica e no enfoque nas questões sociais geradas em torno das questões do trabalho (no mar ou em terra) e do papel e lugar dos escravos e libertos africanos neste mundo Atlântico lusófono.
Desde meados do passado século que as historiografias portuguesa e brasileira (e não só) têm dedicado um olhar cada vez mais interessado e aprofundado à importância econômica e social do mundo Atlântico português. O campo tem-se revelado vasto e fértil, as abordagens são múltiplas e vão-se renovando sistematicamente. Ultrapassadas as tradicionais abordagens de história essencialmente política, cujas vicissitudes do devir histórico faziam acentuar as diferenças, tornou-se possível aos acadêmicos compreender a importância dos elementos comuns.
Este é aliás o postulado do autor, bastante notório na introdução ao 2º capítulo, onde sustenta precisamente que uma análise histórica que tenha por foco o Atlântico não deve simplesmente fechar-se na experiência histórica dos homens do norte Atlântico (como fará a historiografia anglo-saxônica) mas perceber o que no conjunto dos territórios mediados por este oceano é elemento comum e pode ser analisado como tal.
Trabalho de um historiador representante de uma academia situada no sul Atlântico, como o Brasil geograficamente se situa e culturalmente se entende (pelo menos de um modo geral), a pesquisa de Jaime Rodrigues evita a tentação de centrar geográfica e humanamente a pesquisa na “sua” metade do Oceano.
Ainda que correndo o grave risco de cair em anacronia, seria interessante equacionar o entendimento que Jaime Rodrigues (bem como os historiadores que partilham do seu entendimento) tem do mundo Atlântico, como uma geografia histórica que é unida, e não separada, pelo oceano, com a visão que a civilização Romana tinha do mar Mediterrânico, o de um mar que mais não era que uma plataforma distribuidora que unia os limites do mundo latino que o rodeavam, e não a fronteira líquida em que se converteu a partir do século 7 e da expansão do mundo islâmico.
A amplitude da perspectiva na abordagem histórica, que também é perceptível na internacionalização do autor (já mencionei a sua participação num centro de investigação ligado à Universidade do Porto), é reforçada pelas fontes e pela bibliografia que utiliza na elaboração dos diversos trabalhos que formam este livro.
Será o caso da utilização que Jaime Rodrigues faz dos fundos dos arquivos históricos portugueses, onde trabalha com documentação que lhe permite contribuir para uma melhor percepção desse espaço Atlântico que é o cenário da sua pesquisa, e que se nos apresenta como um saudável desafio à própria academia portuguesa para que aprofunde os estudos sobre a questão laboral dos africanos nos contextos do mundo lusófono Atlântico.
É uma forma de acentuar o diálogo enriquecedor que o autor já mantém com os investigadores e os centros de investigação portugueses, onde as pesquisas focadas no universo marítimo estão em crescimento, nomeadamente – no que à Universidade do Porto e ao seu Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM) respeita – com pesquisas em torno dos estudos dos portos e das comunidades marítimas, ou das redes comerciais dos primeiros séculos da modernidade, em que o comércio transatlântico tem um papel nada desprezível.
Também uma rápida leitura da listagem bibliográfica utilizada permite alargar esta compreensão do diálogo e inserção internacional do autor, ao colocar-nos perante bibliografia ampla e significativa para os temas abordados (aliás, como já mencionado, foi especialmente atualizada para esta edição), com uma notória e expressiva presença de bibliografia portuguesa e anglo-saxônica da mais recente produção.
Salienta-se o entendimento preciso que o autor tem sobre o universo que trabalha, bem como a diversidade e relevância das fontes e bibliografia que utiliza, para acentuar o fato de esta obra não ser de interesse circunscrito e localizado. Jaime Rodrigues organizou esta sua coletânea de textos numa gradação variável de perspectivas de âmbito geográfico e cronológico que nos permitem, sob a mesma linha de entendimento, ver diferentes graus de abordagem.
O autor aborda desde pesquisa que poderemos designar como de história local e regional (o estudo centrado na Fábrica de Ipanema, no capítulo sexto), ou com uma natureza temporal muito precisa (como o estudo sobre os escravos que tentaram obter a sua liberdade por recurso à Constituinte Brasileira de 1823, capítulo quarto), a estudos bastante mais dilatados no espaço e no tempo.
Com uma orgânica que segue inteiramente o plasmado no título, o livro pode-se dividir entre os capítulos que situam a sua análise no Mar Atlântico (os três primeiros capítulos) e os que a situam em Terra (capítulos quarto a sétimo).
O primeiro conjunto de artigos que supra se menciona apresenta três diferentes abordagens ao universo dos marinheiros Atlânticos e a questões culturais, materiais e laborais que se desenvolviam em alto-mar.
O primeiro capítulo introduz um interessante estudo no domínio da cultura marítima criada pelos marinheiros Atlânticos, que se apresentam como criadores, promotores e conservadores de patrimônio imaterial, num estudo dedicado aos ritos de passagem do equador, analisados entre os séculos 16 e 20, com testemunhos de autores oriundos das mais diversas nações que cruzam o mar Atlântico.
O capítulo sequente introduz-nos a uma das questões materiais mais relevantes na vida marítima, com consequências diretas na própria sobrevivência dos mareantes: Jaime Rodrigues oferece-nos um estudo sobre a relação entre alimentação e saúde a bordo dos navios que cruzavam o Atlântico, erguido sobre a análise cruzada das descrições de viajantes europeus e dados recolhidos em arquivos portugueses.
Salienta-se, num tema já tratado anteriormente pelo autor na sua tese doutoral e que agora retoma, a sua abordagem (no ponto III) à questão do conhecimento empírico gerado pela experiência de mar, uma verdadeira cultura prática marítima colocada ao serviço da preservação física dos homens do mar (nomeadamente no tratamento do escorbuto), e a importância desse conhecimento contra o qual se levantava a desconfiança dos oficiais médicos. Uma experiência aliás que transpunha para a alimentação a bordo todo o conhecimento novo que se obtinha de alimentos desconhecidos dos europeus pré-modernos e que as viagens de navegação Atlântica somaram à sua cultura material.
O terceiro capítulo, fruto da pesquisa que se menciona no início desta resenha, encerra o conjunto de trabalhos especificamente dedicados ao universo marítimo, cedendo passo aos trabalhos “terrestres”, conjunto de quatro trabalhos que têm por elo comum os trabalhadores escravos e libertos.
O capítulo quarto introduz-nos às tentativas de escravos de obterem a sua liberdade por recurso à primeira constituinte brasileira, cuja memória o autor recupera dos fundos do arquivo parlamentar. Demonstra materialmente como a retórica que acompanhou a emancipação política do Brasil teve eco entre a população escrava, que do recurso ao judicial e às novas autoridades políticas procurou obter a sua liberdade, anseio que soçobra ante o primado (próprio de um regime liberal) do direito à propriedade.
Se o quinto capítulo analisa e contextualiza criticamente a proposta teórica apresentada por um acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, logo nos primeiros anos desta instituição, em que defende a substituição da mão de obra escrava africana (que advoga incivilizável e até fonte de barbarização) por indígenas brasileiros “civilizados”; já o sexto capítulo vai no sentido oposto, passando dos debates teóricos sobre a natureza do trabalhador escravo africano à materialidade da situação do trabalhador africano livre em contexto industrial.
Com um artigo sobre os africanos que alcançavam a liberdade quando compreendidos na lei de 1831 que proibia o tráfico de escravos para o Brasil, Jaime Rodrigues analisa como a adoção de uma prática comum em estados com tradição histórica de escravatura, de colocar homens livres na condição de trabalhadores forçados, se desenvolve na fábrica de ferro de Ipanema, em São Paulo, análise que insere numa aprofundada contextualização e que termina urgindo por maiores pesquisas sobre o tema.
O último artigo desta coletânea avança numa direção diferente, e apresenta uma reflexão diacrônica sobre o modo como o preconceito contra África e os africanos assumiu um importante papel na construção de um discurso historicamente duradouro que atribui ao continente e aos seus filhos, muitas vezes transportados forçadamente e na pior das condições, a condição de fonte epidêmica, uma leitura que Jaime Rodrigues situa inicialmente no presente, para recuar nos séculos e demonstrar a sua constância.
Reunindo textos publicados entre 1995 e 2013, esta coletânea encontra um fio condutor que nos conduz à reflexão da importância comum do mundo Atlântico, e do papel que na sua construção tiveram os africanos, escravos e livres, e de como esse papel foi sendo acompanhado de incríveis demonstrações de preconceito e processos de subalternização; reflexão que o autor situa muito bem entre os trabalhos produzidos por esta área de pesquisa em constante expansão.
Ao mesmo tempo que nos apresenta os resultados do seu competentíssimo esforço, Jaime Rodrigues apresenta novas interrogações e apresenta linhas possíveis de pesquisa que apenas nos faz desejar que prossiga, sem mais demoras, o seu trabalho.
Nuno de Pinho Falcão – Universidade do Porto, Porto, Portugal. E-mail: [email protected]
RODRIGUES, JAIME. No mar e em terra: história e cultura de trabalhadores escravos e livres. São Paulo: Alameda, 2016. Resenha de: FALCÃO, Nuno de Pinho. O Mar que nos une: trabalho, escravos e libertos no Atlântico Moderno e Contemporâneo. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 371-376, jan./abr., 2017.
La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918) | Joseph M. Fradera
La gestación de La nación imperial, obra singular y monumental que consta de 1376 páginas repartidas en dos volúmenes, es fruto de un proceso de maduración que viene a ampliar el campo de acción de varios estudios que el historiador catalán Josep María Fradera ha realizado sobre el colonialismo español decimonónico, entre los que destacan Gobernar colonias (1999) y Colonias para después de un imperio (2005). En su nuevo libro, el autor ha decidido salir del ámbito estrictamente peninsular al comprobar la similitud entre las leyes especiales ideadas por Napoleón para las posesiones ultramarinas francesas a finales del siglo XVIII y el nuevo rumbo de los imperialismos europeos y norteamericano a lo largo del siglo XIX. Las fórmulas de especialidad que Fradera localiza en los principales imperios contemporáneos se verificarían hasta las descolonizaciones iniciadas en 1947 y – algo que queda fuera de los límites cronológicos del libro sin ceñir sus intenciones intelectuales – tendrían repercusiones hasta la actualidad.
Para llevar a cabo su investigación, Fradera cuestiona las categorías de los estudios coloniales y nacionales. En un cambio de escala analítica, el historiador desvela modalidades de concesión y restricción de derechos comunes a distintos imperios, más allá del enfoque clásico y circunscrito del Estado-nación [1]. Con todo, Fradera insiste en el hecho de que su trabajo no se debe comprender como un estudio de historia comparada en la acepción usual de la disciplina, ya que su propósito, como afirma, está menos “pensado para oscurecer las diferencias” que para “razonar las similitudes de casos muy diversos” (p. 1295). En este sentido, siempre vela por matizar las categorías generales de los imperios con las especificidades propias de los espacios considerados. Esta articulación entre lo macro y lo micro le permite centrar su análisis en las experiencias respectivas de los actores de la época [2].
En palabras de Josep M. Fradera, el giro historiográfico global actual “es en algún sentido una venganza contra la estrechez que impusieron las historias nacionales, el férreo brazo intelectual de la nación-estado” [3]. No es baladí indicar que Fradera, joven militante antifranquista, dio sus primeros pasos en la Universidad Autónoma de Barcelona a inicios de los años setenta, en el contexto de la revisión historiográfica alentada por las descolonizaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial [4]. Impregnado por este cambio epistemológico y por las aportaciones más recientes de la historia global, el nuevo estudio de Fradera propone un marco interpretativo que contempla los imperios en sus interrelaciones y supera la anticuada dicotomía entre metrópolis y colonias. Siguiendo a especialistas como C. A. Bayly, Jane Burbank, Frederick Cooper y Jürgen Osterhammel, el historiador catalán quiere demostrar que los imperios desempeñaron un papel activo en la fabricación y la evolución de la ciudadanía y de los derechos, siempre con la idea de denunciar los nacionalismos contemporáneos, así como los atajos teleológicos y esencialistas que pudieron generar en el plano historiográfico.
Más allá de sus orientaciones metodológicas – e intelectuales -, La nación imperial constituye una aportación de primera importancia al ser, que sepamos, el primer estudio redactado en castellano que brinda un abanico espacio-temporal de semejante trascendencia. Al cotejar los grandes imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos entre 1750 y 1918 (con algunos apartados dedicados a Portugal y Brasil), el libro proporciona un análisis pormenorizado del proceso sinuoso que empieza con el advenimiento de la idea de libertad a raíz de las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII y principios del XIX, hasta la consagración de la desigualdad a nivel mundial a lo largo de las centurias siguientes.
Uno de los designios centrales del libro es evidenciar el modo en que las tensiones que sacudieron los grandes imperios occidentales a raíz de la era revolucionaria desembocaron en la adopción de fórmulas de especialidad o de “constituciones duales”, esto es, constituciones que establecían marcos legislativos distintos para las metrópolis y las posesiones coloniales. Es más, Fradera considera la práctica de la especialidad “como la columna vertebral del desarrollo político de los imperios liberales” (p. XV). Según explica, el proceso revolucionario que arrancó con el carácter radical y universalista de la idea de libertad presente en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 conoció una involución notable en el siglo siguiente. La reconstrucción de los imperios tras las revoluciones supuso una delimitación cada vez más marcada en términos de representación entre metropolitanos – es decir, ciudadanos masculinos de pleno derecho – y ultramarinos, cuyos horizontes igualitarios se fueron desvaneciendo a medida que avanzó el ochocientos.
Fradera sostiene que el arduo equilibrio entre integración y diferenciación descansó sobre interrelaciones constantes entre metropolitanos y coloniales. Al comparar múltiples arenas imperiales, el autor muestra también que los paralelismos de ciertas políticas de especialidad respondieron a un fenómeno de emulación en las prácticas de gobierno colonial entre distintas potencias. Por otra parte, una perspectiva de longue durée le permite comprobar que los regímenes de excepción sobrevivieron al ocaso del mundo esclavista atlántico y se reinventaron con los códigos coloniales de la segunda mitad del siglo XIX para extenderse a territorios de África, Asia y Oceanía. El título del libro, al asociar dos conceptos que no se solían pensar como un todo, sugiere, en última instancia, que las transformaciones de los imperios fueron determinantes en la forja de las naciones modernas.
El libro está estructurado en cuatro partes organizadas cronológicamente. La parte liminar resalta el carácter recíproco de la construcción de la idea de libertad entre los mundos metropolitanos y ultramarinos en los imperios monárquicos francés, británico y español durante los siglos XVII y XVIII. Los derechos y la capacidad de representación no se idearon primero en los centros europeos para ser exportados luego a las periferias, sino que se fraguaron de forma simultánea. Este enfoque policéntrico servirá de base analítica para explicitar la estrecha relación entre colonialismo y liberalismo que se impondrá tras la crisis de los imperios monárquicos en el Atlántico.
“Promesas imposibles de cumplir (1780-1830)” es el título de la segunda parte del libro. Se centra en la quiebra de los imperios monárquicos y muestra cómo la adopción de nuevas pautas constitucionales para las colonias y el advenimiento de situaciones de especialidad en el marco republicano contrastaron con los valores radicales sustentados por las revoluciones liberales de la época.
La independencia de las Trece Colonias, pese a la igualdad de principio que conllevaba, no supuso una ruptura con los patrones socioculturales instaurados por los británicos en el continente americano. La joven república norteamericana circunscribió la ciudadanía a sus habitantes blancos y libres (valga la redundancia) y estableció una divisoria basada en el origen sociorracial y el género. Indios, esclavos, trabajadores contratados y mujeres no tenían cabida en la “República de propietarios”, aunque permanecían en el “Imperio de la Libertad”.
Para Gran Bretaña, la separación de las Trece Colonias marcó un cambio de era e implicó una serie de transformaciones que llevaron la potencia a extenderse más allá del mundo atlántico – donde le quedaban, sin embargo, posesiones importantes – para iniciar su swing to the East, esto es, el desplazamiento de su dominio colonial hacia el continente asiático y el Pacífico. La administración de situaciones diversas del Segundo Imperio, que ya no se resumía a la ecuación binaria del hiato entre connacionales y esclavos, implicó tomar medidas políticas para gobernar a poblaciones heterogéneas que vivían en territorios lejanos. Entre los ejes principales del gobierno imperial, cabe destacar el papel central otorgado a la figura del gobernador y la no representación de los coloniales en el parlamento de Westminster, si bien se toleraban formas de representación a nivel local.
En Francia, las enormes esperanzas igualitarias suscitadas en 1789 fueron canalizadas dos años después con la adopción de una Constitución que sancionaba la marginalidad de los coloniales y establecía raseros distintos para medir la cualidad de ciudadano. Establecer un régimen de excepción en los enclaves del Caribe francés permitía posponer la cuestión ardiente de la esclavitud – abolida y restablecida de forma inaudita – y mantener a raya a los descendientes de africanos, ya fuesen esclavos o libres. Se postergaría igualmente la idea de una representación de los coloniales en la metrópolis.
La fórmula de “constitución dual” inventada en Francia encontraría ecos en España y Portugal. Los dos países ibéricos promulgaron sus “constituciones imperiales” respectivas en 1812 y 1822, en un contexto explosivo marcado por el republicanismo igualitario y el ejemplo de la revolución haitiana. Mientras que la Constitución española de 1812 limitaba los derechos de las llamadas “castas pardas”, los constitucionalistas portugueses hicieron caso omiso de los orígenes africanos, pero, en cambio, excluyeron a los indios de la ciudadanía. Pese a sus diferencias, los casos españoles y portugueses guardan similitudes que tienen que ver con el fracaso de sus políticas liberales de corte inclusivo en los años 1820, y con el retroceso significativo en términos legislativos que desembocarían en el recurso a regímenes de excepción a partir de la década siguiente.
La tercera parte de La nación imperial, intitulada “Imperativos de igualdad, prácticas de desigualdad (1840-1880)”, versa sobre la expansión de los imperios liberales en las décadas centrales del siglo XIX, época marcada por la estabilización de las fórmulas de especialidad y de los regímenes duales.
El imperio victoriano tuvo que encarar situaciones conflictivas muy diversas en sus posesiones ultramarinas heterogéneas. La resolución del Gran Motín indio de 1857-1858 constituyó una crisis imperial de primer orden que permitió a Gran Bretaña demostrar su capacidad de gobierno en el marco de una sociedad compleja y de un territorio enorme que no se podía considerar como una mera colonia. La India británica era, en palabras de Fradera, “un imperio en el imperio” (p. 504) que carecía de la facultad para autogobernarse y que, por lo tanto, tenía que ser administrada y representada de manera transitoria por la East India Company. El caso de las West Indies era distinto en la medida en que aquellas se podían definir como colonias. La revuelta sociorracial de habitantes del pueblo jamaicano de Morant Bay en 1865 y la sangrienta represión a que dio lugar tuvieron un impacto considerable en la opinión pública británica, ocasionando nuevos cuestionamientos sobre los efectos reales de la abolición de la esclavitud y el rumbo de la política caribeña. Como consecuencia, el Colonial Office decidió suprimir la asamblea jamaicana y conferir a la isla el estatuto de Crown Colony, lo que constituía una regresión constitucional en toda regla. La conversión de la British North America en dominion de Canadá en 1867 se resolvió de manera más pacífica, aunque la población francófona y católica sufrió un proceso de aminoración frente a los anglófonos protestantes, mientras que los pueblos indios de los Grandes Lagos perdieron sus tierras ancestrales.
Los sucesos revolucionarios de 1848 en Francia volvieron a abrir pleitos que el golpe napoleónico de 1804 había postergado. Se decretó finalmente la abolición definitiva de la esclavitud, sin resolver satisfactoriamente la situación subordinada de los antiguos esclavos. La Segunda República también heredó un mundo colonial complejo. Fue a raíz de la toma de Argel en 1830 cuando la política colonial francesa comenzó a diferenciar las “viejas” de las “nuevas” colonias. Mientras que en las primeras las personas libres gozaban de derechos políticos y de representación relativos, las segundas – a imagen de Argelia, que estaría regida por ordenanzas reales – se apartaban del espectro legislativo. En el marco de este replanteamiento imperial, se procedió a una redefinición múltiple de la ciudadanía, que se medía, entre otras cosas, según la procedencia geográfica de cada uno: metropolitanos, habitantes de las “viejas” colonias y, al pie de la escala simbólica de los derechos, habitantes de las “nuevas” colonias.
En Estados Unidos, los términos de la ecuación se presentaban de forma algo distinta. En efecto, a diferencia de los imperios europeos, las fórmulas de especialidad se manifestaron en el interior de un espacio que se entiende comúnmente como “nacional”. Con todo, dinámicas internas fraccionaron profundamente el espacio y la sociedad de este “imperio sin imperialismo” (p. 659). La expansión de los Estados esclavistas en el seno del “imperio de la libertad” constituyó una paradoja que solo se resolvería – aunque no totalmente – con la guerra de Secesión. De hecho, la “institución peculiar”, como se la llamaba, ponía al descubierto la diversidad social, étnica y cultural de una población norteamericana escindida en grupos con o sin derechos variables. La expansión de la frontera esclavista no solo concernía a los esclavos, sino que afectaba a poblaciones indias desposeídas de sus tierras y recolocadas en beneficio de oleadas sucesivas de colonos norteamericanos procedentes del Este y de europeos.
El carácter del Segundo Imperio español se aclaró con la proclamación de una nueva Constitución en 1837, que precisaba en uno de sus artículos adicionales que “las provincias de ultramar serán gobernadas por leyes especiales”. A pesar de que dichas leyes nunca fueron plasmadas por escrito, quedan explícitas en la práctica del gobierno colonial. A años luz de las promesas igualitarias de las primeras Cortes de Cádiz, las nuevas orientaciones políticas para Cuba, Puerto Rico y Filipinas pueden resumirse en una serie de coordenadas fundamentales: la autoridad reforzada del capitán general, el silenciamiento de la sociedad civil, la expulsión de los diputados americanos y la política del “equilibrio de razas” (es decir, la manipulación de las divisiones sociorraciales y la defensa de los intereses esclavistas).
La cuarta y última parte del libro, que lleva por título “La desigualdad consagrada (1880-1918)”, coincide con la época conocida como el high imperialism. Sus páginas prestan especial atención al desarrollo y consolidación de enfoques de corte racialista. El hecho de que las ciencias sociales se hicieran eco de las clasificaciones raciales propias del desarrollo de los imperios a partir de la segunda mitad del ochocientos demostraba que el Derecho Natural del siglo anterior ya no estaba al orden del día.
El mayor imperio liberal de la época, Gran Bretaña, refleja muy bien la exacerbación de la divisoria racialista con respecto al Segundo Imperio. Los discursos que defendían la idea de razas jerarquizadas se nutrieron de los debates en torno a la representación de los coloniales e impregnaron los debates relativos al imperio. Tal fue el caso, por ejemplo, de Australia, donde se excluyó de los derechos a una población tasmana diezmada por la violencia directa e indirecta del proceso de colonización. Sin embargo, conviene no olvidar que los discursos racialistas actuaron como coartada de la demarcación entre sujetos y ciudadanos.
Argelia fue una pieza esencial del ajedrez político de la Tercera República, en particular, porque se convirtió en laboratorio para las legislaciones especiales del Imperio francés. El Régime de l’indigénat representó la quintaesencia del ordenamiento colonial galo. Este régimen de excepción dirigido inicialmente contra la población musulmana de Argelia fue el broche de oro jurídico de las fórmulas de especialidad republicana hasta tal punto que fue exportado al África francesa y a la mayoría de las posesiones del sudeste asiático y del Pacífico. Esta política de marginalización y de represión propia de la lógica imperial se tiñó de acusados acentos etnocentristas para justificar la “misión civilizadora” de Francia.
La Revolución Gloriosa de 1868 llevó el Gobierno español a mover ficha en sus tres colonias. Si la Constitución del año siguiente anunciaba reformas políticas para Cuba y Puerto Rico, las islas Filipinas quedaban sometidas a la continuidad de las famosas – e inéditas – “leyes especiales”. El ocaso del sistema esclavista explicaba en buena medida el cambio de rumbo colonialista en los dos enclaves antillanos, así como sus dinámicas propias. El archipiélago filipino pasó por un proceso de transformación económica, acompañado de reformas locales de alcance limitado y por una racialización política cada vez más intensa. Los fracasos ultramarinos de la España finisecular tendrían repercusiones en el espacio peninsular con la exacerbación de no pocos afanes de autogobierno a nivel regional.
Estados Unidos conoció serias alteraciones en su espacio interno tras la Guerra Civil. La reserva india, que emergió en el último tercio del siglo XIX, era un zona de aislamiento cuyos miembros no gozaban de derechos cívicos y a los se pretendía incluir en la comunidad de ciudadanos mediante políticas de asimilación. En este sentido, las reservas eran espacios de la especialidad republicana. La victoria de los unionistas distó mucho de significar la superación del problema esclavista y, sobre todo, de sus secuelas. El hecho de que el voto afroamericano se convirtiera en realidad en el mundo posterior a 1865 – conquista cuya trascendencia conviene no subestimar – no impidió que las elites políticas blancas siguieran llevando las riendas del poder, tanto en el Norte como en el Sur. En los antiguos Estados de la Confederación, ya no se trataba de mantener la esclavitud, sino de preservar la supremacía blanca. La segregación racial, que se puede asemejar a una práctica de colonialismo interno, contribuyó a instaurar situaciones de especialidad en las que los afroamericanos serían considerados como súbditos inferiores. En el ámbito externo, el fin de siglo sentó algunas de las bases futuras de este “imperio tardío” (p. 1276). Estados Unidos expandiría sus fronteras imperiales al ejercer su dominio sobre las antiguas colonias españolas y al formalizar el colonialismo que practicaba de hecho en Hawái y Panamá.
Resulta difícil restituir de forma tan sintética los mil y un matices delineados con una precisión a veces quirúrgica en los dos gruesos volúmenes que componen La nación imperial. La elegancia del estilo, la erudición del propósito y los objetivos colosales del libro – que se apoya en una extensa bibliografía plurilingüe – acarrean no pocas repeticiones. Pese a una edición cuidada, se echa en falta la presencia de un índice temático (además del onomástico) y de una bibliografía al final de la obra. Estos escollos, que incomodarán sin duda al lector en busca de informaciones y análisis sobre temas específicos, no cuestionan de modo alguno el hecho de que La nación imperial sea un trabajo muy importante y sin parangón.
Creemos que Josep María Fradera ha alcanzado su objetivo principal al mostrar, como indica en sus “reflexiones finales”, que “la crisis de las ‘monarquías compuestas’ (…) no condujo al Estado-nación sin más, sino a formas de Estado imperial que eran la suma de la comunidad nacional y las reglas de especialidad para aquellos que habitaban en los espacios coloniales” (p. 1291). Otra de las grandes lecciones del libro es que el etnocentrismo europeo no basta para explicitar el modo en que se articularon definiciones y jerarquizaciones cada vez más perceptibles de las poblaciones variopintas de imperios cuyas fronteras políticas, sociales y culturales fueron mucho más borrosas de lo que se suele pensar. El racismo biológico a secas nunca estuvo en el centro de las políticas imperiales, aunque pudo manifestarse puntualmente para justificar algunas de sus orientaciones. Lejos de responder a esquemas estrictamente dicotómicos, las lógicas imperiales, además de relaciones de poder evidentes, estuvieron condicionadas por una tensión permanente en cuyo marco la capacidad de representación – por limitada y asimétrica que fuese -, la sociedad civil y la opinión pública fueron decisivas. En última instancia, el largo recorrido por las historias imperiales invita a adoptar una mirada más crítica acerca de problemáticas tan actuales como el lugar ocupado por ciudadanos de segunda categoría en el interior de antiguos mundos coloniales que no han resuelto las cuestiones planteadas por el despertar de los nacionalismos, la inmigración de nuevo cuño y la construcción de apátridas modernos.
Notas
1. Al respecto, véase Jane Burbank y Frederick Cooper, “Empire, droits et citoyenneté, de 212 à 1946”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 3/2008, pp. 495-531.
2. Sobre el valor heurístico del vaivén entre varias escalas de análisis puede consultarse el estudio de Romain Bertrand, “Historia global, historias conectadas: ¿un giro historiográfico?”, Prohistoria, 24/2015, pp. 3-20.
3. Josep M. Fradera, “Historia global: razones de un viaje sin retorno”, El Mundo, 04/6/2014 [http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/06/04/538ed57f268e3eb85a8b456e.html].
4. Jordi Amat, “Josep María Fradera y los estados imperiales”, La Vanguardia, 23/5/2015.
Karim Ghorbal – Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Universitéde Tunis El Manar (Tunísia). E-mail: [email protected]
FRADERA, Joseph M. La nación imperial. Derechos, representación y ciudadanía en los imperios de Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos (1750-1918). Barcelona: Edhasa, 2015. 2 vols. Resenha de: GHORBAL, Karim. Los imperios de la especialidad o los márgenes de la libertad y de la igualdad. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 287-295, set./dez., 2016.
Do sentimento da natureza nas sociedades modernas e outros escritos | Élisée Reclus
In every object, mountain, tree, and star – in every birth and life,
As part of each – evolv’d from each – meaning, behind the ostent,
A mystic cipher waits infolded.[1]
Walt Whitman, Shakspeare-Bacon Cipher. Leaves of grass
Em 1866, o geógrafo francês Élisée Reclus (1830-1905) publicou na prestigiada Revue des deux mondes um de seus textos mais conhecidos, Do sentimento da natureza nas sociedades modernas. O texto fez um enorme sucesso e influenciou uma geração de pensadores e escritores do período, abordando temas que permeariam os escritos e as ideias no século XIX. O artigo foi traduzido e publicado em português numa primeira edição em 2010 e agora saiu reimpresso pela Intermezzo e pela Edusp, com ótima tradução e projeto editorial de Plínio Augusto Coelho.
Élisée Reclus foi um dos maiores viajantes do século XIX. Numa época em que as ciências humanas ainda não haviam se dividido em especializações, ele foi, sobretudo, um humanista, um intelectual, um ensaísta. Andava pelo globo, pensando em diferentes problemas, vendo sociedades distintas, celebrando a natureza em contraste com o que dizia ser a dura vida das cidades. No texto que dá título ao livro, “Do sentimento da natureza nas sociedades modernas”, publicado em maio de 1866, é a montanha que domina a paisagem e sua escrita. Para ele, a montanha, ou a subida e a conquista da montanha, seria a metáfora perfeita para exprimir seus ideais de solidariedade, fraternidade e liberdade entre os povos.
Mais tarde, em sua extensa obra escrita, Reclus escreveria um livro inteiramente dedicado à montanha, História de uma montanha, de 1880. Nesse livro, as ideias sobre a montanha se misturam com antigas mitologias – a montanha evocando um arquétipo abstrato, quase uma pirâmide sagrada. A montanha fez parte do imaginário europeu do século XIX e muitos pensadores se debruçaram sobre o tema no período. O filósofo alemão Friederich Nietzsche (1844-1900), por exemplo, escreveu sobre as raízes de uma montanha mágica, o Olimpo, em seu primeiro livro, O nascimento de uma tragédia no espírito da música, publicado em 1872.[2] Nietzsche contrapôs a calma e a serenidade clássicas aos espíritos dionísicos da mística, da música, da dança e da embriaguez do vinho. A montanha, na verdade, estava no centro do mito fundador da cultura grega e assim ela aparece nos escritos e desenhos de vários pensadores e artistas ao longo do século XIX – como tema, como personagem, como símbolo, como desejo de aventura.
A imagem da montanha esteve presente também em pensamentos e livros matemáticos como foi o caso do astrônomo escocês Charles Piazzi-Smith (1819-1900), que na época publicou seu livro de grande sucesso A Grande Pirâmide: seus segredos e mistérios revelados. Piazzi-Smith fez uma teoria matemática para provar que a Pirâmide de Gizé guardava uma relação geométrica e matemática especial de medidas.[3] Ao citá-lo em seu estudo, Reclus faz referência a uma espécie de matemática sagrada contida na natureza e nas montanhas.[4]
Aquele que escala uma montanha não será entregue ao capricho dos elementos como o navegador aventurado nos mares; bem menos ainda como o viajante transportado por ferrovia, um simples pacote humano tarifado, etiquetado, controlado, depois expedido a hora fixa sob a vigilância de empregados uniformizados. Tocando o solo, ele retomou o uso de seus membros e de sua liberdade. Seu olho serve-lhe para evitar as pedras da senda, medir a profundidade dos precipícios, descobrir as saliências e a anfractuosidades que facilitarão a escalada dos paredões.[5]
A natureza foi um tema clássico durante o iluminismo do século XVIII. Ao voltar-se para esse tema no texto que dá título ao livro, Reclus estava evocando diversas ideias e filósofos, como Voltaire e Rousseau, mas recolocando-os num novo contexto, o de sua época, com a forte influência romântica. O poeta inglês lorde Byron (1788-1824), George Gordon, é citado diversas vezes em sua obra como exemplo de revolucionário por sua atuação na Grécia, bem como Giuseppe Garibaldi (1807-1882), e as guerras de unificação da Itália.[6]
Cidade e natureza, montanha e nacionalidade, sentimentos e geografia são ideias aparentemente distantes que se encontram tanto ao longo deste texto especificamente, e também em toda sua obra. Reclus escreveu suas impressões sobre a natureza e a sociedade, quase como se pintasse um quadro em que as pinceladas formam a paisagem se o quadro for visto de certa distância, um quadro impressionista. Na mesma época em que Reclus editou seu livro sobre a montanha, um de seus contemporâneos, o pintor Paul Cézanne (1839-1905), começou uma série de quadros sobre o Mont Saint-Victoire, na Provence. Se o geógrafo colocou o sentimento da natureza e o poder da montanha em livros, Cézanne traduziu esses sentimentos em quadros de paisagens.[7]
Reclus é um ícone para os geógrafos, estudado e publicado há muitas décadas – é uma espécie de pai fundador, ao lado de Vidal La Blache.[8] Sua influência é comparável à de Jules Michelet (1798-1874) para os historiadores, uma inspiração, um mito, um pensador profundo e genial para sua época. Os dois, Reclus e Michelet, provavelmente se conheceram já que uma irmã de Reclus se casou com um genro do historiador.[9]
Quando o texto sobre o sentimento da natureza saiu na Revue des deux mondes, Reclus começava seu período de maior prestígio intelectual, escrevendo para uma das mais influentes revistas do mundo.[10] Quarto filho de um professor e pastor calvinista nascido numa pequena cidade do interior da França, Sainte-Foy-la-Grande, Jean-Jacques Élisée Reclus teve vários irmãos igualmente influentes no século XIX, como etnógrafo Élie, o também geógrafo Onésime, o explorador Armand, o cirurgião Paul. Com o irmão Élie, que viria a ser seu parceiro intelectual, ele cursou dois anos na faculdade de teologia protestante de Montauban, quando desistiu de seguir os passos do pai. De lá partiu para Berlim, onde começou seus estudos de geografia e tornou-se rapidamente discípulo do geógrafo alemão Carl Ritter (1779-1859).
Eram os anos 1850 e a política fervia na França. Em 2 de dezembro de 1851, Luis Napoleão Bonaparte (1808-1873), sobrinho de Napoleão, dissolveu a Assembleia Nacional Francesa para estabelecer o Segundo Império. Sob o impacto dos acontecimentos e seduzido pelos ideais socialistas, Reclus voltou à França para se engajar na luta contra o império, pela república. A partir desse momento, o geógrafo passou a escrever com propósito político, para difundir seus saberes na tentativa de ilustrar o público e fazê-lo compreender os diversos problemas do globo. Para se entender o texto “Do sentimento da natureza nas sociedades modernas”, um dos mais conhecidos do geógrafo, é preciso compreender suas andanças pelo mundo. Além disso, é o texto inspirador dos ideais de viagens e viajantes do século XIX.
Exilado da França logo após o Segundo Império ter início, Reclus passou alguns anos em Londres – onde foi até a Irlanda, que o impressionou com a fome endêmica que, de 1847, ainda castigava o país. Em Londres ele trabalhou como professor, ganhando miseravelmente até que seguiu para a América como preceptor de uma família de fazendeiros ricos, dona de plantations, que seguia para a Nova Orleans, nos Estados Unidos. Na América do Norte, Reclus viveu por dois anos, entre 1853 e 1855, onde viu e escreveu sobre a escravidão.
Seus escritos sobre os Estados Unidos representam três textos do livro agora editado, “Da escravidão nos Estados Unidos: o código negro e os escravos” (1860), Da escravidão nos Estados Unidos: os plantadores e os abolicionistas” (1861) e “John Brown” (1867), os dois primeiros publicados na Revue e o último na revista La Coopération. A experiência dos anos em que viveu no sul do país foi marcante e Reclus tornou-se um ferrenho abolicionista.
É de se notar que os anos em que habitou a plantation foram de intensa discussão política e que, pouco depois, os Estados Unidos entrariam em conflito com a Guerra de Secessão (1861-1865), sendo que os textos foram publicados a quente, ou seja, com a guerra na iminência de começar e logo depois do início. O objetivo de Reclus era entender a guerra americana e apresentá-las para os leitores de todo o mundo, dada a enorme influência da Revue no mundo.
São os Estados Unidos que servem de parâmetro para que o geógrafo entenda a América do Sul e mais especialmente o Brasil. A comparação é uma constante, como podemos notar no artigo “As repúblicas da América do Sul, suas guerras e seu projeto de federação”, publicado na Revue de 1866. No texto, a comparação com a Guerra do Paraguai (1864-1870) é direta e o geógrafo faz a mesma análise de províncias do Sul versus províncias do Norte. Da mesma maneira, o texto foi escrito a quente, no calor dos acontecimentos, e também tentava dar uma visão geral para o leitor da geografia, do povo e dos acontecimentos que se desenrolavam.
Eliesée Reclus voltou à França em agosto de 1857, quando ele encontra o pensador anarquista Mikhail Bakunin (1814-1876), de quem se tornou amigo, ao lado de seu irmão Élie. Juntos fundariam a sociedade secreta Fraternité Internationale. Entre 1867 e 1868, Reclus publicou a obra que lhe daria reconhecimento internacional, La Terre, description des phénomènes de la vie du globe. Mais tarde, esse volume se transformaria na sua maior obra, Nouvelle Geógraphie Universalle.
O livro agora publicado traz um apanhado da obra de Reclus e, entre os textos escolhidos, está um de seus mais conhecidos escritos anarquistas póstumos, “A evolução, a revolução e o ideal anarquista”. Nele o geógrafo resume sua filosofia política em escritos que estabelecem estreita ligação entre natureza, sentimentos, política e filosofia de vida – o geógrafo era vegetariano.
Elisée Reclus esteve no Brasil em julho de 1893.[11] Na ocasião, ele deu uma conferência na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro (que se transformaria na Sociedade Brasileira de Geografia), fundada em 1883, pelo então senador imperial Manuel Francisco Correia (1831-1905).[12] Já era teórico mundialmente conhecido e a Sociedade fez sessão especial no dia 18 de julho apenas para recebê-lo. Reclus visitava o país para recolher subsídios para o 19º volume de sua Nouvelle Geógraphie Universalle.
A vinda de Reclus para o Brasil foi organizada e patrocinada pela editora francesa Hachette e foi a última de suas grandes viagens pelo continente americano. O Brasil realmente aparece no 19º volume da Nouvelle Geógraphie Universalle – a Amazônia e seus rios dominam a escrita e ajudam a formar o imaginário da época sobre região, com comparações com outros grandes rios de civilizações distantes, como o Nilo, no Egito. Os textos sobre a região já estavam entre as preocupações do geógrafo, que poucos anos antes havia escrito “O Brasil e a colonização: a Bacia das Amazonas e os indígenas”, para a Revue de deux mondes em 15 de junho, e “As províncias do litoral, os negros e as colônias alemãs”, em 15 de julho, ambos em 1862. Os dois textos fazem parte do volume agora editado. Poucos anos depois, em 1899, o Brasil passou a ser o personagem principal de um livro totalmente dedicado ao país, Estados Unidos do Brasil: geografia, etnografia, estatística.[13]
A influência de Reclus sobre o pensamento brasileiro do período foi grande. O geógrafo fez parte de um grupo de pensadores e cientistas estrangeiros que pensaram sobre a nação e a nacionalidade. Wilma Peres da Costa já abordou a existência desse primeiro nacionalismo brasileiro composto por uma narrativa erudita europeia de intelectuais franceses que chegaram ao Brasil com a Missão Francesa. Pouco mais tarde, a influência de viajantes e escritos de estrangeiros sobre o d. Pedro II era significativa a ponto de moldar um determinado discurso de grande impacto nos pensadores brasileiros.[14]
A maneira como o Reclus foi lido e entendido pelos brasileiros fez parte desse movimento e moldou a maneira como os próprios brasileiros se viam. Inspirado pelo romantismo, Reclus escrevia sobre um país de natureza exuberante, marcado pelas chagas da escravidão. Joaquim Nabuco certamente leu o geógrafo, bem como Euclides da Cunha. Este, por exemplo, falou da importância de Reclus para sua obra em uma carta para Coelho Neto em 30 de junho de 1908, enquanto preparava seu livro nunca realizado sobre a Amazônia, Um paraíso perdido.[15]
Para os historiadores, Reclus, o geógrafo, abre muitas portas de análise e possibilidades de conhecimento. Viagens e viajantes são a primeira a mais óbvia porta para o estudo de Reclus – mas muitas outras se entreabrem ao longo do extenso volume agora publicado, como o das relações entre Brasil e Estados Unidos, a do nascimento da geografia e das diferentes áreas humanidades, da história das cidades, das publicações e da importância da Revue des deus mondes, da história do marxismo e do anarquismo.
Notas
1. Em cada montanha, árvore e estrela – em cada nascimento/ e vida/ integrando cada sentido/ e se desdobrando dele, por trás da/ manifestação/ uma cifra mística espera dobrada.
2. Bradbury, Malcolm. O mundo moderno: dez grandes escritores. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 97-119.
3. Crease, Robert. A medida do mundo: a busca por um sistema universal de pesos e medidas. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 139-147. O astrônomo Piazzi-Smith fez sua teoria para se contrapor ao estabelecimento do sistema métrico francês. Foi seu livro que deu subsídios para que se criassem diversas sociedades antimétricas no século XIX.
4. Duarte Horta, Regina. “Natureza e sociedade, evolução e revolução: a geografia libertária de Elisée Reclus”. Revista Brasileira de História, vol. 26, n. 51, janeiro-junho 2006. Consulta 21/07/2016. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882006000100002
5. Reclus, Élisée. Do sentimento da natureza nas sociedades modernas e outros escritos. São Paulo: Intermezzo/ Edusp, 2015, p. 52.
6. Clark, John P. e Martin, Camile. Anarchy, geography, modernity: the radical social thought of Elisée Reclus. Lanham: Lexington Books, 2004, p. 247.
7. Atanassoglou-Kallmyer, Nina. Cezanne and Provence: the painter in his culture. Chicago: Chicago University Press, 2003.
8. Ver, entre tantos outros livros sobre a história da geografia, a recente publicação de Larissa Alves de Lira. O Mediterrâneo de Vidal de La Blache. São Paulo: Alameda Editorial, 2015.
9. Atanassoglou-Kallmyer, Nina. Cezanne and Provence: the painter in his culture. Chicago: Chicago University Press, 2003, p. 284.
10. Na mesma época ele também passou a fazer guias de viagem para a editora Hachette, patrocinadora de muitas de suas viagens.
11. Cardoso, Luciene Carris. “A visita de Élisée Reclus à sociedade de geografia do Rio de Janeiro”. Revista da Sociedade Brasileira de Geografia, vol. 1, n. 1, 2006 (ISSN 1980 – 9387). Consulta em 18/7/2016. (http://www.socbrasileiradegeografia.com.br/revista_sbg/luciene%20p%20c%20cardoso.html)
12. As diferenças e os conflitos entre a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) foram explorados por Luciene Carris Cardoso no artigo “Notas sobre o papel da sociedade de geografia do Rio de Janeiro e sua contribuição sobre o saber geográfico no Brasil.” Revista Fenix de História e Estudos Culturais. Vol VII, ano 7, n.2. Consulta 19/7/2016. http://www.revistafenix.pro.br/PDF23/ARTIGO_12_LUCIENE_PEREIRA_CARRIS_CARDOSO_FENIX_MAIO_AGOSTO_2010.pdf
13. Reclus, Élisée. Estados Unidos do Brasil: geografia, etnografia, estatística. Tradução e breves notas de barão de F. Ramiz Galvão e anotações sobre o território contestado pelo barão do Rio Branco. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1899.
14. Costa, Wilma Peres. Narrativas de viagem no Brasil do século XIX: formação do Estado e trajetória intelectual. In: RIDENTI, Marcelo; BASTOS, Elide; ROLLAND, Denis (Org.). Intelectuais e Estado. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2006
15. Nogueria, Nathália Sanglard de Almeida. Margear o outro: viagem, experiência e notas de Euclides da Cunha nos sertões baianos. Rio de Janeiro: tese de doutoramento, Universidade Federal Fluminense, 2013, p. 39.
Joana Monteleone – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo SP, Brasil. E-mail: [email protected]
RECLUS, Élisée. Do sentimento da natureza nas sociedades modernas e outros escritos. São Paulo: Intermezzo/Edusp, 2015. Resenha de: MONTELEONE, Joana. Elisée Reclus, o geógrafo impressionista. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 296-302, set./dez., 2016.
History in the Digital Age | WELLER Toni
Esta obra trata do papel do historiador na era digital e do impacto da informática na área de História, dirigindo-se tanto a historiadores em exercício quanto a estudantes de História. Na introdução do livro, Toni Weller, pesquisadora visitante da Universidade de Montfort, no Reino Unido, assume que, atualmente, a História enfrenta desafios impostos pela crescente utilização do mundo digital no fazer historiográfico. Entre eles, talvez o principal esteja em definir uma postura rigorosa e profissional no tratamento de fontes e temas disponibilizados pelas mídias digitais. Discutir esse desafio é o intuito de History in the Digital Age.
O livro é dividido em quatro partes, além da introdução: “Re-Conceptualizing History in the digital age”, “Studying History in the digital age”, “Teaching History in the digital age” e “The future of History in the digital age”. Como os títulos sugerem, a divisão estrutura-se em pontos de tensão nas relações entre a era digital e o oficio de historiador em sentido amplo, compreendendo as diferentes áreas de atuação profissional: estudo, pesquisa e ensino.
Os três capítulos da primeira parte do livro tratam das dificuldades no uso de certas plataformas digitais e das possibilidades investigativas que elas fornecem. David J. Bodenhamer, em “The spacial humanities: space, time and place in the new digital age”, examina os limites do Historica Geographical Information System (HGIS) [1] quando utilizado para representar dados subjetivos como, por exemplo, noções de espaço e de espacialidade que afetam a percepção de “nós” e do “outro” (p. 25). Há também a atual impossibilidade dentro do GIS de representar o mundo como esfera proveniente da cultura e das relações políticas, e não simplesmente como delimitação físico-geográfica. De acordo com o autor, o HGIS provoca o “achatamento” do mundo, uma vez que o ambiente físico se apresenta deslocado de seus agentes e fenômenos culturais (p.26). Assim não seria possível deduzir da análise dos dados do sistema, por exemplo, que o crescente desmatamento da Mata Atlântica se deu por fatores humanos e não puramente climáticos. Para o autor, se esse empecilho pudesse ser resolvido pelos historiadores, estaríamos diante de uma forma completamente nova de olhar para o passado, tornando nossos modos de apreensão e compreensão muito mais complexos.
Luke Trenidinnick é o autor do segundo capítulo, “The making of history: remediating historicized experience”, que trata de como as lentes do mundo digital alteram nossa visão do passado. Aqui a luz da subjetividade no fazer historiográfico é mais uma vez acesa, abordando o impacto da digital na percepção do presente e do passado por formas de disseminação, compartilhamento e representação criadas em redes sociais. Para o autor, a “digitalização do mundo” traz a novidade da historicidade do documento digitalizado como parte da narrativa histórica, o que o desloca em parte de seu contexto original, transferindo-o do mundo físico para o da esfera digital. Há aqui uma discussão em torno da questão do armazenamento do documento digital, uma vez que a web não é, por natureza, um arquivo centralizado com mecanismos inteligentes de busca, mas um emaranhado mais ou menos caótico de dados massivos.
O último capítulo da primeira parte, “A method for navigating the infinite archive”, um esforço conjunto de William J. Turkel, Kevin Kee e Spencer Roberts, elucida o uso potencial do vasto campo de informações aberto pela era digital, o qual expandiu exponencialmente a disponibilidade de documentos e arquivos – nascidos digitais ou digitalizados – à disposição do historiador. Segundo os autores, mecanismos de busca, de feeds e newsletters, dentre outros, por ser ferramentas que analisam os símbolos contidos no documento, permitem que o historiador se preocupe mais com a interpretação de suas fontes que com a quantidade das fontes em si.
Os cinco capítulos subsequentes configuram a segunda e terceira partes do livro, que tratam da relação entre tecnologias digitais, estudo e ensino de História. Jim Mussel, em “Doing and making: History as a digital practice”, salienta que o ambiente virtual não é uma simples réplica do real, existindo em seus próprios termos e experiências. Segundo o autor, os meios de pesquisa digitais utilizam uma perspectiva diferente da humana, baseada em Optical Character Recognition (OCR) [2], uma tecnologia na qual a localização dos termos depende em grande medida da qualidade da digitalização do documento. Em muitos casos, por má digitalização ou pela ilegibilidade ótica do OCR, documentos não se submetem aos mecanismos de busca, ficando relegados ao uma espécie de limbo digital. Isso faz que, por mais vasta que seja a quantidade de itens digitalizados em determinada série, coleção ou acervo, ainda possa haver obstáculos à plena exploração dos documentos. O que se mostra aqui é uma cultura que diverge da cultura impressa, implicando nova dinâmica tanto na pesquisa quanto na escrita do historiador.
Rosalind Crone e Katie Halsey, em “On collecting, cataloguing and collating the evidence of reading”, trazem à tona outra condição específica do mundo digital. Ao analisar a plataforma Reading Experience Database (RED) [3], as autoras expressam desconforto com a tendência do mecanismo em oferecer uma história parcial dentro da narrativa histórica, pois os relatos se encontram deslocados de sua localidade inicial de experiência e do seu contexto específico. Com a catalogação da experiência de leitura de pessoas do passado, a informação sofre deslocamento de seu aporte original, visto que se perde a dimensão que engloba não somente a fisicalidade do documento que contém o relato da experiência, como também as circunstâncias em que ele foi produzido. Por exemplo: o papel do documento pode conter traços químicos específicos da época de sua elaboração, sendo possível deduzir dele informações além das que estão escritas. A transcrição esvazia então parte da experiência. Porém, a não ser pelo RED, muitas dessas narrativas seriam inacessíveis à maior parte da população.
O capítulo seguinte, “Writing history with the digital image”, de Brian Maidment, também trata do deslocamento de contextos originais de produção de um documento que a digitalização provoca. As imagens digitalizadas, por exemplo, sofrem mediações como alteração de cor e tamanho, causados, digamos, pela distorção do processo ou pela necessidade de se ocupar menos espaço no servidor. Além disso, a digitalização implica a perda de qualidades físicas do documento, como seu cheiro e textura, o material de que é feito etc. Isso aponta para a necessidade de se criarem metadados relativos ao arquivo digitalizado, em prol da aproximação do historiador com a experiência primordial que originou o documento.
Em “Studying the past in the digital age”, Mark Sandle discute questões derivadas da pesquisa online, como autoria e copyright, a impermanência dos websites e a consequente dificuldade de localizar fontes nesse meio, bem como novas formas de interação entre historiadores por e-mails, fóruns online ou seções de comentários em blogs e sites. Segundo Sandle, há clara democratização tanto da disponibilidade de fontes primárias, livros, artigos e publicações quanto da escrita, disseminação e discussão. Outro ponto importante do texto diz respeito à desigualdade do acesso à tecnologia, o que minaria o potencial de transformação que o mundo digital possui.
O tema é retomado por Charlotte Lydia Riley em “Beyond the crtl+c, crtl+v: teaching and learning history in the digital age”. Riley menciona a forte clivagem geracional entre indivíduos nascidos antes e depois da era digital. Isso influenciaria a educação não institucional desses indivíduos, sendo impossível determinar o impacto social do fenômeno. Outro contraponto geracional que Riley destaca é a resistência de professores acadêmicos ao uso da tecnologia, o que teria efeitos sobre a atualíssima e dramática questão em torno de autoria e plágio, uma vez que traçar a origem de uma ideia ou conceito na esfera virtual é muito mais complicado que no aporte físico dos livros. Esse problema abre precedente para um questionamento constante da idoneidade dos trabalhos acadêmicos, além de borrar as fronteiras entre autoria e refereciamento de ideias alheias em produções acadêmicas.
A parte final da obra debate desafios na prática do historiador na era digital. “New universes or black holes? Does digital change anything?”, de David Thomas e Valerie Johnson, aponta para uma possível obsolescência da palavra arquivo no futuro, uma vez que a tendência atual é a de que todo material digital seja preservado. A eventual extinção dos arquivos poderia anular um papel fundamental que eles desempenham: o processamento dos documentos, sua separação e categorização. Arquivos procedem à análise prévia dos documentos, com sua subsequente organização segundo temas, períodos ou tipos. Eliminado o processo de arquivamento, todas as tipologias adjacentes também desapareceriam, colocando-se os documentos em estado bruto de armazenamento. Tornar-se-ia então papel do historiador construir novas tipologias e catalogações afeitas ao universo da era digital.
History in the Digital Age é uma rica contribuição para o debate já em curso há anos acerca das plataformas e recursos digitais para a investigação histórica. Com o objetivo de servir como panorama geral introdutório, o livro apresenta relevantes questões sobre o universo digital que os historiadores teremos de enfrentar nos próximos anos. É evidente, porém, que enfrentamos dilemas que vão além das limitações na obra apresentadas. A crescente presença do mundo digital no cotidiano altera a própria percepção de tempo histórico. Nesse sentido, também é necessário refletir sobre as implicações do uso digital para além dos computadores, problema apenas levemente pincelado na obra e que mereceria maior desenvolvimento.
Outra questão por realçar é a ideia de democratização do conhecimento associada à esfera digital. É inegável que a pesquisa historiográfica se torna mais fácil mediante o acesso instantâneo a acervos de qualquer parte do mundo. Contudo, não podemos nos desvencilhar do fato de que o acesso à internet é muito desigual no mundo – uma pessoa no Tibete não está necessariamente conectada da mesma forma que outra em Nova York -, e esse limite físico da conectividade (que também é uma forma de limite social) influencia a forma como nos relacionamos com a digitalidade, tornando inevitável a hierarquização da produção e absorção de conhecimento pela plataforma digital. Segundo o Center for World University Rankings, as 10 universidades que estão no topo das 100 melhores universidades do mundo são americanas ou britânicas. O impacto da diferença de acessibilidade aqui não podia ser mais explícito.
As questões apresentadas se agravam ainda mais por ser a internet extremamente amorfa e mutável. A rede mundial de computadores existe como um espaço que, apesar de análogo ao mundo físico (mundo real), se encontra em parte deslocado dele, e isso acaba por torná-la um espaço de experiência que também se encontra parcialmente deslocado do mundo físico. Como então apreender um mundo virtual dentro do mundo real? Como pensar essas espacialidades imateriais contidas dentro de outras espacialidades materialíssimas? Como pensar numa existência da temporalidade própria da digitalidade e o imediatismo que ela proporciona num mundo onde a acessibilidade não é a mesma em todos os lugares? Esses são, em parte, os dilemas que os historiadores enfrentarão na era digital, dentre muitos outros que provavelmente surgirão no futuro. Para sua discussão inicial, History in the Digital Age tem muito a oferecer.
Notas
1HGIS ou Sistema de Informações Histórico-Geográficas (tradução livre) é uma base digital de levantamento geográfico originalmente utilizada para fins econômicos, ambientais e militares, e que permite mapear mudanças geológicas e demográficas que um território sofreu. Atualmente vem sendo cada vez mais utilizada pelos historiadores.
2OCR ou Reconhecimento Ótico de Caracteres é uma tecnologia de pesquisa que utiliza símbolos pré-definidos com base em arquivos de imagem digitalizados, permitindo a edição de documentos digitalizados assim como a localização de palavras especificas dentro de documentos que não se originaram na plataforma digital.
3RED ou Database de Experiência de Leitura faz um levantamento das experiências de leitura dos britânicos, sejam em território nacional ou fora dele, com mais de 30 mil entradas que abrangem dados de 1450 a 1945.
Julia Zanardo – Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil. E-mail: [email protected]
WELLER, Toni (Org.). History in the Digital Age. Nova York: Routledge, 2013. Resenha de: ZANARDO, Julia. Desafios do historiador na Era Digital. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 303-307, set./dez., 2016.
Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640 | David Wheat
Recent studies of colonial and early national Brazil emphasize that the transatlantic slave trade forged not only economic but also cultural and political connections across the South Atlantic. As historians including Walter Hawthorne, Roquinaldo Ferreira, Mariana Candido, Paul Lovejoy, and James Sweet highlight how regular and sustained exchanges between West Africa and Brazil shaped societies on both sides of the ocean, they also offer new geographies for understanding the Lusophone Atlantic. In his new book, David Wheat engages with models of reciprocal exchange and inter-colonial connection in order to redraw the boundaries of the Atlantic World in an earlier period. Analyzing early modern Iberia, Africa, and Latin America as “complementary aspects of a single, unified history” (73), Wheat traces how developments in one area reverberated in the others. Doing so allows him to persuasively argue that the sixteenth- and seventeenth-century Spanish Caribbean should be viewed not as a precursor to the sugar colonies that later came to dominate much of the region, but as a natural extension of economic, social, and political precedents established in West Africa and the Luso-Atlantic world.
In addition to avoiding a teleological analysis of the rise of the plantation complex, Wheat’s innovative and deeply-researched book contributes to a growing body of work aimed at reconceptualizing the Atlantic World and the roles of African people within it. Enslaved Africans and their descendants constituted a demographic majority not just in export-oriented plantation economies, but in settlements that relied on mixed agriculture. In slave societies of this nature, which were first established by the Portuguese in Atlantic islands such as São Tomé and later replicated by Spanish colonizers in the Caribbean, African people performed many of the same functions as peasants in contemporaneous Iberia. Wheat shows how Africans’ diverse labors – as well as their very presence – strengthened Spanish expansion in the Americas. Not unlike their fellow ‘involuntary colonists’ in eighteenth- and nineteenth-century Brazil, these men and women also drew on their experiences in the broader Atlantic World in order to shape the foundations of new American societies in ways that historians are only beginning to appreciate. Drawing on archival materials housed in Colombia, Cuba, Spain, and Portugal, Wheat weaves together the histories and historiographies of Latin America, Iberia, and West Central Africa in order to emphasize a shared past that present-day boundaries tend to obscure. The resultant work highlights the possibilities of extending models of an interconnected Atlantic World backwards in time and across perceived political and geographic borders.
The first half of Wheat’s book is firmly grounded in the history and historiography of West Africa. Responding to critiques of the ‘foreshortening’ of African history, chapter one highlights continuities in African political and cultural identities from the thirteenth through the seventeenth century and beyond. As Wheat surveys key territorial, ideological, and political contests between a host of African states in the Upper Guinea and Senegambia regions, he demonstrates how these conflicts gave rise to slave raiding, which in turn provided captives for export. Attention to the tierra or ethnonyms of these captives – which Spanish officials carefully recorded in sixteenth-century slave ship rosters – allows Wheat to reconstruct the geographic and cultural origins of the enslaved. The fact that these ethnonyms were recognized and retained specific meanings for both Africans and Iberians in the early colonial Americas is important. In contrast to the plantation era, in which the mechanisms of colonial control often reduced Africans to an undifferentiated mass of people, in the early colonial period social and political identities forged in Africa continued to resonate in the diaspora. In his wide-ranging analysis of how events on the continent affected early colonial society, Wheat displays an impressive grasp of African history while also laying a compelling foundation for his interpretation of the Spanish Caribbean as an extension of West Africa.
Attention to the interconnected histories of Africa, Iberia, and the Americas carries into Wheat’s second chapter, which focuses on Angola. While most of the earliest Africans trafficked to the Spanish Caribbean came from Upper Guinea, in the seventeenth century Angola became a major point of embarkation for enslaved people. Arguing that Portuguese colonization of Africa and Spanish colonization of the Americas “mutually reinforced one another” (103), Wheat traces how the creation of the Luso-African state generated many of the captives who were then trafficked to the Caribbean. Elites who profited from the slave trade in Luanda also played active roles as merchants in Caribbean ports, thereby extending their influence and commercial relations across the Atlantic and further cementing ties between Portuguese West Africa and the Spanish colonies. Owing to a combination of factors – including the nature of warfare in West Central Africa and legislation favoring the introduction of enslaved people under age seven – many of the people forcibly transported across the Atlantic in the seventeenth century were children. As Wheat explores in later chapters, this in turn shaped the character of Spanish colonial society, as enslaved children more quickly adapted to Iberian linguistic, religious, and social norms.
Chapter three further develops Wheat’s argument that the character of Spanish Caribbean society was informed by Atlantic Africa. Wheat focuses on Portuguese tangomãos: merchants or mariners who ‘threw themselves’ into Africa, spending longer than one year and one day on the continent. In doing so, Wheat challenges the widespread misconception that the encounter between Africans and Europeans in the Americas always constituted a violent collision between two cultures with no prior experience of one another. Instead, Wheat shows that many men who went to the Caribbean did so after spending extended periods of time in Africa. These tangomãos then drew on their experiences to contribute knowledge of African languages and cultural practices that would have been unknown to colonists who arrived in Spanish America directly from Iberia.
Many tangomãos formed relationships with African women during their time away from Europe, further facilitating both commercial and cultural exchange. These and other gendered relationships inform Wheat’s fourth chapter, in which he emphasizes the predominance and importance of women in free-colored communities in the early Spanish Caribbean. Wheat’s attention to women makes an important intervention in the historiography of early colonial Afro-Latin America, which often focuses on the role of African men as military agents. Equally significant is Wheat’s critique of two notions that often inform discussions of interracial relationships in the colonial era: first, that unions between African or Afro-descended women and European men were generally viewed as illicit or socially unacceptable, and second, that these unions owed to a dearth of white women. While acknowledging the often unequal or exploitative nature of such relationships, Wheat works to dispel these notions by emphasizing the prevalence of legitimate – if often informal – interracial unions both in Africa and in Iberia.
Like their counterparts in Africa, Brazil, and elsewhere in the Atlantic World, women of color in the early Spanish Caribbean occupied a variety of roles. As sexual and marital partners, business people, and the owners of land and slaves, women were instrumental in shaping these societies. Wheat shows that African-born women who were incorporated into Spanish colonial society often shed their ethnonyms in favor of Iberian surnames, suggesting that changes in legal and social status accompanied changes in the identity that individuals claimed or were ascribed over the course of a lifetime.
Chapter five develops Wheat’s central argument that Africans and their descendants fulfilled the role of colonists in the early Spanish Caribbean. By the turn of the seventeenth century, the demographic profile of the Spanish Caribbean had much in common with that of other slave societies throughout the Americas; Africans and their descendants constituted a majority of the population in western Cuba, Hispaniola, Cartagena, Panama, and probably Puerto Rico. The occupations and the experiences of these men and women differed dramatically from those of their counterparts in sugar colonies, however. In these ‘African hinterlands’ of Latin America, free and enslaved black people grew food, raised livestock, and performed many of the same functions as rural peasants in contemporaneous Iberia. Wheat’s expansive view of the early Atlantic allows him to show that Spanish reliance on Africans to fuel self-sustaining farming and ranching economies was not unique; the practice was already well-established by the Portuguese in the Atlantic islands, where enslaved populations labored on mixed-agriculture farms rather than monocultural plantations.
In the final chapter of his book, Wheat further advances the argument that Africans and their descendants played essential roles in expanding Spanish claims to territory and legitimacy in the Americas. Paying careful attention to the terms used to describe Africans in Iberian commercial, legal, and ecclesiastical records, Wheat focuses on the process of acculturation. He argues that the difference between a ‘bozal’ and a ‘ladino’ was more than just place of origin; rather, such terms reflected the possibilities open to individuals of African descent within colonial society. Once again, Wheat artfully reorients the geography of the Spanish Atlantic to include Lusophone Africa. Drawing on historians of the region such as John Thornton and Peter Mark, Wheat shows that acculturation began on the Africa’s western coast, where decades of contact between Portuguese and African merchants provided a basis for mutual exchange. Although What is careful not to overstate African agency, he explores the ways in which Africans helped shape key features of Spanish Caribbean society, situating them as actors rather than passive recipients of the acculturation process. Whether as interpreters or godparents, ‘Latinized’ Africans selectively borrowed elements of Iberian culture in order to adjust – and to help others adjust – to life in the Americas. Wheat also stresses that the acquisition of a European language or religious practice did not necessarily signify the loss of African culture; newly-baptized slaves often shared an ethnonym with their godparents, further illustrating how links forged in Africa continued to inform relationships in the diaspora.
The historiographic stakes of Wheat’s work are high. In six chapters, he challenges the notion that the circum-Caribbean was a marginal or anomalous region of colonial Latin America; redraws the boundaries of the Spanish Caribbean to include Lusophone West Africa; and situates Africans as colonists-albeit involuntary ones-whose labor and presence underpinned Iberian colonial projects while simultaneously shaping early American society. His many interventions promise to inform future scholarship on Latin America and the Caribbean, West Africa, and the role of the Portuguese in the early Atlantic World. Missing from this otherwise ground-breaking and cogently-argued work is a detailed consideration of how Iberian geopolitics impacted the colonial sphere. The origins and specific effects of the Iberian Union-a sixty-year period (1580-1640) during which the same Hapsburg rulers controlled both Spain and Portugal-remain somewhat underdeveloped. Wheat notes that the union facilitated the traffic of some 450,000 enslaved people, as well as the circulation of untold numbers of Portuguese merchants between Iberia, Africa, and the Americas. But one is left wondering whether the unified history he describes would even have been possible without a decades-long era in which the division between Castile and Portugal “was especially blurred” (16). Although Wheat’s decision to devote equal attention to West Africa and the Spanish Caribbean accurately reflects the primacy he affords to events on the ground rather than abstract legislation, drawing the Iberian Peninsula more fully into this story may have further elucidated the inter-continental and inter-imperial exchanges he uncovers.
Studies of the transatlantic slave trade and the rise of the plantation complex continue to offer important insight on African contributions to colonial societies in Brazil and beyond. With Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, David Wheat pushes this model backwards in time, demonstrating the importance of African and Afro-descended peoples in a time and place where the plantation system did not predominate. His nuanced discussion of how events in Africa, as well as West Central Africans themselves, shaped some of the earliest settlements in the Americas significantly broadens and reorients existing understandings of the inter-connected nature of the Afro-Atlantic World. Viewed from the vantage point of West Africa and the Portuguese Atlantic, the early Spanish Caribbean looks not like an aberration in colonial Latin America history, but a natural product of longstanding relations and practices on the African coast.
Tessa Murphy Syracuse – University, Nova York NY, Estados Unidos da América. E-mail: [email protected]
WHEAT, David. Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640. Chapel Hill: Published for the Omohundro Institute of Early American History and Culture. Williamsburg, VA: by the University of North Carolina Press, 2016. Resenha de: SYRACUSE, Tessa Murphy. New Geographies of the Atlantic World: Connecting Lusophone Africa and Spanish America. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 308-313, set./dez., 2016.
A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830 | Aurelian Craitu
Em A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830, lançado em capa dura em 2012 e impresso em brochura três anos depois, o cientista político e historiador Aurelian Craiutu, professor da Universidade de Indiana, Estados Unidos, oferece aos leitores um livro desafiador e paradoxal.
Autor de vários textos sobre o liberalismo europeu dos séculos XVIII e XIX, dentre os quais se destaca seu livro de 2003 sobre os doutrinários franceses (Liberalism under Siege: The Political Thought of the French Doctrinaires ), Craiutu é tradutor e organizador de outros trabalhos sobre importantes pensadores liberais, tendo apresentado e traduzido para o inglês duas obras fundamentais para a doutrina liberal do século XIX, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française , de Mme. De Stäel, e Histoire des origines du gouvernement représentatif, de François Guizot, além de ter ajudado a organizar dois livros sobre Tocqueville. O estudioso reuniu o vasto arsenal adquirido em mais de uma década e meia de estudos sobre a doutrina liberal para avançar a seguinte tese: a moderação é a quintessência da virtude política, um “arquipélago perdido” que historiadores e cientistas políticos ainda estão por descobrir (p. 1).
Dividido em duas partes – cada qual contendo três capítulos -, o livro oferece um estudo aprofundado de certos autores liberais francófonos que, exceção feita ao clássico e bastante conhecido Montesquieu, se destacaram no cenário público francês entre os momentos de crise do Antigo Regime e a Revolução de 1789, muito embora não tenham recebido a devida atenção da academia e do público em geral no passado como no presente. São eles, na ordem, os líderes monarchiens (monarquianos), designação pejorativa que os jacobinos atribuíram a um grupo heterogêneo de deputados da Assembleia Constituinte formado por Mounier, Malouet, Lally-Tollendal e Clermont-Tonnerre entre outros, e os quais se destacaram por defender o bicameralismo e o veto absoluto do monarca (capítulo 3); o banqueiro suíço Jacques Necker, o célebre ministro das Finanças de Luís XVI, cujas reflexões sobre a Revolução Francesa e a relação entre o Poder Executivo e os demais Poderes continuam largamente ignoradas até hoje (capítulo 4); Germaine Necker ou Mme. de Stäel, a filha de Necker e prolífica autora de artigos, panfletos e livros, além de importante ativista política nos quadros do Diretório e da Restauração (capítulo 5); o suíço Benjamin Constant (capítulo 6), parceiro afetivo, intelectual e político de Mme. de Stäel sobretudo nos períodos do Diretório e do Consulado e, como ela, autor igualmente prolífico – depois de Montesquieu, certamente o mais conhecido e estudado entre os elencados.
Além do prólogo, no qual expõe as justificativas e a metodologia da pesquisa, e do epílogo, no qual conclui com uma espécie de “decálogo” explicativo da moderação, o livro apresenta um esboço sobre o lugar ocupado pelo conceito de moderação no pensamento político ocidental, da antiguidade clássica e pensadores cristãos aos humanistas da época Moderna e filósofos franceses da Ilustração (capítulo 1), bem como um longo capítulo dedicado ao autor de O Espírito das Leis (1748), o barão de Montesquieu (segundo 2) – a meu ver o melhor do livro e, não por acaso, a pedra-angular da obra.
A escolha de Montesquieu como marco epistemológico inicial do estudo e da Revolução Francesa como tela de fundo do trabalho se justificam. O primeiro, pelo fato de haver delegado papel central à moderação política em sua grande obra, a qual teve o mérito de destacar os traços constitucionais, institucionais e legais da moderação para além das considerações de ordem ética sobre o caráter dos governantes ou dos legisladores. Ademais, as reflexões políticas de O Espírito das Leis e das produções dos demais autores ilustram os dois principais temas do livro de Craiutu: a moderação como conteúdo de uma agenda crítica e reformista do Antigo Regime; e as diversas tentativas de institucionalização da moderação política durante e após a Revolução de 1789, o eixo ou pano de fundo do livro. Inspirado no conceito de Sattelzeit (“tempo-sela”, tempo de aceleração histórica), cunhado por Reinhart Koselleck, e ecoando reflexões de François Furet acerca dos impactos da Revolução Francesa sobre a cultura política contemporânea, Craiutu justifica a centralidade daquele evento pelo fato de que “continuamos a viver num mundo democrático moldado e construído pelos ideais e princípios da Revolução Francesa” (p. 2).
É tendo por base as reflexões políticas de Montesquieu e de seus intérpretes envoltos no fenômeno revolucionário francês que Craiutu desdobra o que ele próprio designou como as quatro meta-narrativas do livro: I. a moderação abordada pelo aspecto político e institucional (e não como uma virtude pessoal ou individual), cujo propósito é salvaguardar não apenas a ordem, mas também a liberdade individual; II. a afinidade existente entre a moderação política e a complexidade institucional ou constitucional, conforme ilustraram Montesquieu por meio de seu conceito de “governo moderado”, os monarquianos com a defesa do bicameralismo e do veto absoluto, Necker mediante sua teoria da “soberania complexa” ou do “entrelaçamento dos poderes”, Mme. de Stäel com a sua busca de um “centro complexo” para consolidar a república termidoriana e Benjamin Constant em sua teoria do poder neutro; III. a moderação como a defesa sensata da liberdade, o que não se confunde com o conceito filosófico do juste milieu, pois a moderação pode se traduzir em atitudes tanto equilibradas como radicais de acordo com o contexto político; IV. por isso, a ação moderadora não pode ser analisada por meio do vocabulário político usual (direita ou esquerda), uma vez que possui conotações radicais ou conservadoras conforme o tempo e o espaço. Como bem destacou o autor no prólogo, há momentos em que as intenções moderadoras deixam de ser virtude e passam a significar fraqueza ou traição de princípios – poderíamos exemplificá-lo com o infame Pacto de Munique celebrado entre as potências europeias e a Alemanha nazista, que suscitou um célebre discurso de Churchill.
Na esteira do caráter elástico de seu tema, Craiutu optou por uma abordagem eclética na qual o contextualismo linguístico da Escola de Cambridge e a tradição historiográfica revisionista de Furet e seus discípulos (especialmente Lucien Jaume, destacado estudioso do liberalismo francês do século XIX) se articulam para dotar o livro de um caráter duplo. A Virtue for Courageous Mind pode ser lido ora como obra de filosofia política, ora como trabalho de história das ideias, dado o constante diálogo entre a análise textual e interpretação contextual.
Além das referências citadas acima, é possível identificar outras figuras importantes para o desenvolvimento da hipótese do autor, tais como Jonathan Israel, Judith Shklar, Norberto Bobbio e Isaiah Berlin. De acordo com Craiutu, cientistas sociais ignoram o conceito político da moderação por vários fatores, dentre os quais se destacam a persistência de uma tradição filosófica radical que associa a agenda moderada à defesa conservadora do status quo (de Marx a Israel); a tendência a enxergar na moderação um programa minimalista pautado pelo medo ou pela oposição aos extremos (provável alusão a Shklar e seu artigo ”Liberalism of fear”, de 1989); por fim, indo ao encontro de Bobbio e de Berlin, a visão dominante, não restrita à academia, que vincula a moderação à sagacidade de um determinado agente político, o qual, para conquistar seus objetivos, recorre a quaisquer tipos de compromissos ou manobras (o político encarado como um leão ou uma raposa).
Na contramão do insistente e vigoroso senso comum acerca do tema, Craiutu sustenta – inspirado numa citação do liberal-conservador Edmund Burke, de quem toma de empréstimo nada menos que o título do livro – que a moderação é “uma arrojada virtude para mentes corajosas” (p. 9). Ela não deve ser reduzida a mero meio-termo entre extremos nem tampouco representa sinônimo de pusilanimidade, hesitação ou cálculo cínico de realismo político. Com implicações institucionais e, segundo o autor, desempenhando um papel crucial na aquisição ou fortalecimento dos valores democráticos e liberais, a agenda moderada dos autores selecionados possui em comum pluralismo (de ideias, interesses e forças sociais), reformismo (reformas graduais em vez de rupturas revolucionárias) e tolerância (postura cética que reconhece limites humanos, especialmente para a ação política).
Antes de comentar o que, a meu ver, constitui o problema central do livro, a saber, a identidade das reflexões moderadas desses autores para a aquisição, manutenção e fortalecimento da democracia liberal (p. 9), gostaria de destacar alguns méritos da obra.
O primeiro ponto que saliento é, se não a originalidade, ao menos a correção no tratamento de um autor clássico como Montesquieu. Craiutu sugere que, mais do que propor um governo moderado fundado na separação dos poderes, equívoco reproduzido por incontáveis intérpretes, o que Montesquieu efetivamente sustentou foi uma teoria sobre a divisão dos poderes na qual o Executivo e o Legislativo exerciam controles recíprocos e moderavam as iniciativas de cada um – sua visão, no espírito da doutrina do equilíbrio de poder vigente na época e inspirada na constituição inglesa, pode ser traduzida na fórmula de que só um poder é capaz de controlar e regular outro poder, de modo que a estrita separação entre ambos daria margem a usurpações ou levaria à paralisia institucional. Nos quadros da Revolução Francesa, esse tópico da complexidade constitucional/institucional como condição sine qua non para a obtenção de um governo livre (moderado) se desenvolve nas obras dos monarquianos (bicameralismo e veto absoluto), de Necker (teoria do entrelaçamento dos poderes) e, sobretudo, de Benjamin Constant (teoria do poder neutro). Para demonstrá-lo, Craiutu procedeu a uma criteriosa pesquisa de fontes primárias (obras e discursos dos autores e de seus interlocutores, além de textos legais ou constitucionais) e secundárias (nas mais diversas línguas, do francês e inglês ao alemão), bem como a um erudito exercício de interpretação e reconstrução contextual. Do ponto de vista formal, os únicos senões correm por conta da omissão de um importante intérprete atual da obra de Benjamin Constant (Tzvetan Todorov), bem como da inusitada ausência de uma bibliografia no final do livro, o que dificulta a leitura de suas inúmeras e ilustrativas notas.
Craiutu foi feliz na escolha e no tratamento dos autores, na medida em que eles possuem um núcleo conceitual comum, a moderação vista sob o prisma da complexidade institucional, e defendem princípios filosóficos semelhantes: de Montesquieu a Constant, a mesma preocupação com a moderação das penas e com a absoluta liberdade de expressão; os benefícios do comércio; as garantias para a propriedade privada; o entendimento das desigualdades sociais como resultantes da fortuna ou do intelecto, numa visão otimista da meritocracia; o estabelecimento de pesos, contrapesos e divisões entre os poderes, o que é diferente da separação entre eles; a necessidade de um Judiciário independente do Legislativo e do Executivo; e a crítica às visões monistas ou absolutistas do poder que, da vontade geral de Rousseau às críticas de Paine ao governo misto da Inglaterra, redundaram na mera transferência do poder absoluto do monarca para o poder absoluto do Legislativo (como sabemos, trata-se de uma das principais teses de Furet sobre a Revolução Francesa).
Segundo Craiutu, o pensamento liberal, devido em grande medida à experiência da Revolução Francesa e do traumático período do Terror, teria passado por uma nítida evolução. Aos poucos seus autores teriam se preocupado menos com quem exerce a soberania (o monarca, uma maioria popular ou uma minoria abastada e ilustrada) e mais com a maneira em que a soberania é exercida, até concluírem que o que realmente importa é o estabelecimento de limites ao poder a fim de proteger os indivíduos da autoridade política – ainda que exercida em nome do povo, da nação, da vontade geral, ou sob a bandeira de ideais generosos e humanitários como a igualdade.
Exceção feita a Montesquieu, que não viveu a tempo de testemunhar a Revolução Francesa, os demais autores apresentaram diagnósticos lúcidos sobre as causas que conduziram à “derrapagem” daquele grande evento. Para além das já conhecidas interpretações liberais de Mme. de Stäel e Benjamin Constant para o período de 1789-1794 – as quais são de conhecimento dos iniciados na historiografia da Revolução Francesa -, Craiutu resgata as valiosas contribuições teóricas e balanços históricos dos monarquianos, especialmente Mounier (Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres, 1792), e de Necker, cujo panfleto De La Révolution Française, de 1796, não recebeu uma única edição sequer ao longo de mais de 200 anos!
A despeito de uma visão consolidada pelos próprios revolucionários franceses, dos jacobinos aos girondinos, que viam na retórica dos deputados monarquianos intenções aristocráticas ou conspiratórias a serviço da Corte, Craiutu reabilita esse grupo, sustentando, à guisa de Tocqueville, que os monarquianos eram dotados de um verdadeiro espírito revolucionário. Embora lutassem pelo estabelecimento de um governo moderado balizado por garantias constitucionais, eles seriam unânimes na oposição aos privilégios da nobreza. Craiutu sugere, após reconstruir as causas que levaram à derrota política dos monarquianos, que o Terror poderia ter sido evitado se as propostas de Mounier, Malouet, Clermont-Tonnerre, Lally-Tollendal & Cia. tivessem sido adotadas, observando que o projeto constitucional triunfante em 1814 e consolidado durante a Monarquia de Julho guardava estreitas afinidades com os diagnósticos políticos do grupo (p. 106).
Outro ponto alto do livro é o tratamento nada condescendente dispensado a figuras tão complexas quanto Mme. de Stäel e Benjamin Constant, as quais, sobretudo no período em que apoiaram o governo republicano do Diretório, sustentaram posições dificilmente classificáveis como moderadas ou liberais. Embora Craiutu tenha examinado bem os panfletos termidorianos da dupla e o crítico contexto de sua elaboração, ele poderia ter devotado um pouco mais de atenção à questão religiosa – como fez, por exemplo, Helena Rosenblatt em seu estudo sobre Constant, autora com a qual Craiutu dialoga frequentemente e concorda sobre a importância da religião para o pensamento político da dupla (p. 200).
Por fim, o autor conclui que as modernas democracias devem ser encaradas como formas mistas de governo representativo, não como simples expressões do “governo do povo”, e que a moderação política “pode promover ideais democráticos” (p. 248). Esta última afirmação nos coloca diante de um problema e de um paradoxo. Problema, porque apesar de os autores em destaque apoiarem a igualdade civil, todos defendiam uma ou mais cláusulas de exclusão (nível de renda, posses ou conhecimento formal) quando o assunto era a participação ativa dos cidadãos na política – o que, ademais, constituía a regra para os liberais da época, sendo Thomas Paine, referência bastante citada no livro, rara exceção no campo liberal do período. Diante dessa constatação, e levando-se em conta o meticuloso trabalho de reconstrução histórica de Craiutu, é uma pena que este importante detalhe tenha sido inexplorado. Por outro lado, e aqui adentramos o paradoxo, o autor acerta em cheio ao apontar a relevância dessa agenda moderada para os estudiosos dos regimes democráticos do presente, na medida em que estes, para além do sufrágio universal como fundamentação e método de funcionamento do sistema, baseiam-se no pluralismo, nos direitos individuais e nos direitos das minorias (vide Lucien Jaume, Le discours jacobin et la démocratie).
Antes de encerrar, caberia levantar uma questão: afinal de contas, o autor logra ou não convencer o leitor de que a moderação é a quintessência da virtude política? Com base no problema relatado acima, arrisco dizer que não. Por outro lado, concordo com Craiutu (e Burke) quando ele (s) afirma (m) que a moderação deve ser encarada como virtude para mentes corajosas. Ao contrário do que afirmou Nietzsche, e com base nas trágicas experiências do século XX, podemos concluir que coube justamente aos estadistas moderados reconstruir o mundo após o apocalipse de guerras e regimes tirânicos engendrados a partir da “mentalidade de rebanho”.
José Miguel Nanni Soares – Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil. E-mail: [email protected]
CRAIUTU, Aurelian. A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830. Princeton: Princeton University Press, 2015. Resenha de: SOARES, José Miguel Nanni. Revisitando um arquipélago quase esquecido. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 314-320, set./dez., 2016.
Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888)
A publicação de Flores, votos e balas, de Angela Alonso, é mais do que bem vinda ao mercado editorial brasileiro, tão escasso de títulos com perspectivas historiográficas abrangentes. Seu amplo escopo, sua variação de escalas e sua escrita envolvente certamente o tornarão uma obra referencial para o público mais geral, interessado em conhecer em detalhes os conflitos, os projetos, os personagens, as estratégias de luta e os principais eventos que, reunidos, marcaram o movimento abolicionista brasileiro, elemento central do processo que levou ao fim da escravidão no país. A fortuna crítica do livro, no entanto, não se esgotará aí, já que alguns de seus postulados deverão propiciar a retomada de um dos grandes debates da historiografia brasileira, que versa sobre as causas que levaram ao fim do cativeiro em 1888, e podem suscitar um profícuo diálogo sobre a temporalidade da escravidão oitocentista no país.
Antes de entrar nessas questões, convém primeiro apresentar os pressupostos que estruturam a obra, fundamentais para entender seu argumento. Por meio de uma estratégia narrativa que parte das trajetórias individuais dos principais nomes do abolicionismo e do escravismo nacional, Angela Alonso buscou fornecer uma visão de conjunto do primeiro movimento social de massas do país. Para isso, recorreu à chamada “abordagem relacional”, ancorada principalmente na sociologia histórica de Charles Tilly, para postular que a compreensão do abolicionismo deve levar em conta três variáveis históricas: movimento social, Estado e contramovimento. Isso, em outras palavras, significa dizer que a atuação dos abolicionistas não é tomada de forma isolada, mas sempre com base nas dinâmicas sociais e políticas que a condicionam.[1] Nas palavras de Alonso, “as conjunturas políticas são a chave para entender […] todas as […] táticas abolicionistas” (p. 18). A proposição não é de pouca monta. Além de ir na contracorrente de boa parte dos estudos sobre abolição produzidos nas últimas décadas, que reduzem as múltiplas dimensões do processo histórico ao sequenciamento de séries judiciais, ela traz implicações diretas para as conclusões apresentadas pela autora.
Ao tomar a luta organizada para dar fim ao cativeiro como parte de um todo mais amplo, um dos principais ganhos historiográficos de Flores, votos e balas é demonstrar a historicidade do movimento abolicionista brasileiro, tradicionalmente descrito como uma unidade estanque, que se alastrou progressivamente pela sociedade até alcançar seus objetivos. Do emprego da abordagem relacional, portanto, decorre diretamente uma das ideias centrais do livro, a de que a atuação do movimento abolicionista foi constituída por três fases distintas: a primeira, das flores (1868-78), marcada pela forte atuação dos antiescravistas no espaço público dos grandes centros urbanos do país; a segunda, dos votos (1878-85), na qual o foco dos militantes recaiu sobre a macropolítica imperial; e a terceira, das balas (1885-88), quando os abolicionistas, cansados dos seguidos fracassos parlamentares, partiram para a desobediência civil e passaram a incentivar clandestinamente as fugas em massa de cativos. Nesse ponto, não há o que discordar. Os argumentos da autora são mais do que convincentes quanto à historicidade do abolicionismo.
Mas nem só de flores é feito o livro. Sua outra ideia central, que diz respeito à importância do abolicionismo para o fim da escravidão, é mais discutível que a anterior. Segundo Angela Alonso, o resultado obtido em 1888 não “foi nem obra dos escravos, nem de princesa” (p. 17) e – poderíamos acrescentar, de acordo com outras passagens do livro – nem fruto de condições econômico-demográficas, mas resultou diretamente da atuação de André Rebouças, Joaquim Nabuco, Luís Gama, José do Patrocínio e companhia. Com essa abordagem, a autora se afasta da interpretação que vincula o fim da escravidão às ações da família real, da explicação mais estruturalista da Escola de São Paulo (especialmente da obra de Emília Viotti da Costa) e de parte da corrente historiográfica que focou suas análises na agência escrava; e, assim, afina-se às concepções de Seymour Drescher e outros autores sobre o abolicionismo anglo-saxão como motor da história da emancipação dos cativos. O postulado, no entanto, acaba funcionando como uma faca de dois gumes: de um lado, reintroduz o movimento abolicionista como uma das variáveis centrais para a compreensão do processo que levou ao fim do cativeiro no país, cobrindo uma importante lacuna deixada pelas produções das últimas quatro décadas; de outro, joga de escanteio a participação dos escravos e as transformações econômicas e demográficas ocorridas nas últimas décadas do Império, ambas pouco incorporadas ao livro.
Vejamos como isso ocorre ao longo da obra, começando pelo problema da participação dos escravos. Como se sabe, um dos grandes avanços da história social consistiu em mostrar como a atuação dos cativos na década de 1880 teve impacto direto para a derrocada do sistema escravista brasileiro. Isso, no entanto, pouco aparece no livro de Angela Alonso, provavelmente porque a trinca de variáveis com as quais a autora trabalha (movimento, Estado e contramovimento) não leva em conta, por exemplo, a atuação dos cativos, agentes que não podem ser classificados nem como abolicionistas (movimento) e muito menos como escravistas (contramovimento). Assim, durante a fase das balas, as fugas em massa que atingiram principalmente as regiões cafeicultoras são vistas na maior parte do tempo como reflexo da militância antiescravista. Mesmo que a autora tenha feito questão de ressaltar que “o combate à escravidão não foi obra exclusiva dos abolicionistas” e que “havia ações autônomas dos escravos” (p. 305), essas dimensões não são efetivamente integradas à narrativa do livro.[2]
Algo semelhante acontece com as transformações econômicas e demográficas, igualmente relativizadas em função do emprego da abordagem relacional. Ao afirmar que “os fatores decisivos para que [a escravidão] acabasse quando acabou foram políticos” (p. 336) – seguindo indicação de Robert Slenes em artigo clássico3 -, Angela Alonso desconsidera evidências de ordem econômica e demográfica às quais ela mesma faz referência ao longo do livro. Isso ocorre, por exemplo, quando a autora analisa a ampliação do movimento abolicionista na década de 1880, que contou com um público “desvinculado da escravidão” por conta do “tráfico interprovincial [que] aglomerava escravos nas regiões de agricultura de exportação e nas famílias de posse” (p. 145); e quando explica a tática abolicionista de libertação dos cativos de determinadas províncias e cidades do país (especialmente p. 194, 213, 266). Ao contrário do que a autora defende, esses exemplos podem servir para refletir sobre o peso que as dimensões econômica e demográfica exerceram para o desfecho do processo abolicionista. Teriam sido essas variáveis tão relevantes quanto as ações dos sujeitos históricos? Ou ainda, como afirma a autora, a ação política teria sido preponderante sobre as outras duas?
Uma resposta pode ser dada analisando-se mais de perto a relação entre tráfico interprovincial e a estratégia abolicionista de suprimir a escravidão província por província. Para Angela Alonso, “demografia e economia tiveram sua relevância”, mas “não [são] suficientes” para explicar essa tática, pois nesse caso – como nos demais – “decisivo foi mesmo o fator político” (p. 194). Ora, a relevância da economia e da demografia são tão centrais quanto a da política para explicar o fim da escravidão em determinadas partes do Império, já que foi a dinâmica da economia mundial que criou as condições para a atuação dos militantes abolicionistas. Dois exemplos podem ajudar a explicar melhor o que queremos dizer.
O Ceará – primeiro território libertado pelos abolicionistas – foi uma das províncias brasileiras mais afetadas pela paralisação da produção algodoeira norte-americana que se seguiu à Guerra Civil (1861-1865). Na década de 1860, incentivados pela forte demanda da indústria britânica, ávida pela matéria-prima que lhe faltava, muitos pequenos e médios agricultores locais passaram a se dedicar ao cultivo da fibra, abandonando a produção de gêneros alimentícios. A crise do setor, contudo, chegou mais rápido do que se esperava. Incapazes de competir com os novos produtores que ditavam o preço do produto no mercado mundial (Índia e Egito) e cada vez mais prensados pela recuperação da produção norte-americana no início dos anos 1870, os cearenses foram aos poucos abandonando a cultura algodoeira. Em resultado, desfizeram-se paulatinamente de seus cativos, vendendo-os para os cafeicultores de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, necessitados de mão-de-obra para tocar a expansão de sua produção. No início dos anos 1880, em razão da dinâmica da economia global, eram poucos os cativos que restavam na província, abrindo o caminho para a formulação de uma política abolicionista local.[3]
No Rio Grande do Sul, outro processo histórico, mais lento, levou a resultados parecidos. Desde a revogação das Corn Laws, em 1846, os produtores de grãos argentinos souberam tirar proveito da abertura do mercado britânico de cerais, avançando suas fronteiras agrícolas. Para atender às crescentes demandas de trigo no centro da economia mundial e dar vazão aos grãos cultivados cada vez mais no interior do país, Estado e investidores privados fizeram investimentos maciços em transporte ferroviário a partir dos anos 1870. Com isso, conseguiram não apenas transformar a Argentina em um dos principais fornecedores de trigo para a Grã-Bretanha, mas também auxiliaram indiretamente os criadores de gado, que se valeram de toda infraestrutura criada para exportação de cereais, especialmente do barateamento do custo dos transportes, para tornarem seu produto mais competitivo. Na década de 1870, já era patente aos produtores rio-grandenses que seu charque não era capaz de concorrer com seus rivais argentinos, até mesmo no mercado interno. Em crise, desfizeram-se paulatinamente de seus escravos, vendendo-os para os pujantes centros produtores de café, os mesmos para os quais estavam rumando os escravos do Ceará. [5]
Sem as condições materiais criadas pela economia global, os abolicionistas teriam encontrado uma realidade muito diversa para livrar a província do Ceará, a cidade de Porto Alegre e outros municípios gaúchos da existência de escravos na década de 1880. Foi graças às crescentes desigualdades regionais do Brasil induzidas pela dinâmica econômica global que a militância deles se tornou viável e apareceu, como Alonso destaca, a figura dos presidentes de província favoráveis à causa, elemento importante para sacramentar a abolição nos territórios mencionados. Como se vê, é discutível afirmar, nesse caso, que a política foi um fator mais decisivo que os demais. Uma explicação que dê conta da totalidade da libertação de alguns territórios, assim como de todo o processo abolicionista, precisa trabalhar com as intersecções entre política e economia. Ainda que esse não tenha sido o propósito da autora, dado seu foco no movimento abolicionista, é forçoso dizer que ela poderia ter dialogado mais com a bibliografia que descreve os processos econômicos globais e seus impactos no Império do Brasil para situar melhor as possibilidades de atuação dos agentes históricos que estudou.
Ainda assim, o ponto mais questionável de Flores, votos e balas reside na categoria “escravismo de circunstância”, que Angela Alonso cunhou tendo por base uma leitura muito particular dos discursos emitidos pelos escravistas brasileiros. Para a autora, o termo descreve a atuação de Paulino Soares de Sousa e seu grupo a partir de 1871, quando teriam sido “compelidos pela conjuntura a justificar a situação escravista, sem defender a instituição em si” (p. 59). Tal afirmação, pode-se dizer, resulta de uma determinada compreensão da temporalidade da escravidão oitocentista brasileira. Como deixa evidente no primeiro capítulo, a autora, inspirada na obra de Seymour Drescher, entende a sequência de abolições ao redor do mundo como uma unidade histórica. Ainda que as enquadre em dois grandes ciclos – o primeiro, grosso modo, de 1791 a 1850, e o segundo da década de 1850 a 1888 -, essas abolições são descritas como pertencentes a um mesmo processo histórico de aproximadamente cem anos (p. 27-32). Essa perspectiva joga para um ponto cego diversos fenômenos históricos. Daí, provavelmente, o silêncio de Alonso sobre o período que vai de meados da década de 1830 à década de 1860, quando houve um reforço da escravidão tanto no Brasil, como em Cuba e nos Estados Unidos. Naquele lapso de tempo o cativeiro passou por uma nova configuração, atrelando-se de forma única à economia mundial e de forma diversa aos regimes representativos do século XIX. [6]
No Império do Brasil, o reforço da escravidão materializou-se com a ascensão do grupo conhecido como Regresso, núcleo histórico do futuro partido Conservador, que empreendeu uma verdadeira política da escravidão, estabelecendo alianças com proprietários e políticos das principais regiões de agricultura exportadora e atuando de forma conjunta no Parlamento e nos espaços públicos do Rio de Janeiro em aberta defesa do tráfico negreiro e do cativeiro. [7] Paulino Soares de Sousa, o filho, personagem que no livro de Angela Alonso sintetiza o “escravismo de circunstância”, foi o grande herdeiro da geração que havia ascendido nos escalões da macropolítica imperial defendendo a escravidão. Seu escravismo, portanto, não tinha nada de circunstancial. Representou, ao contrário, o ponto de chegada de uma vertente do liberalismo que buscou fazer frente ao projeto catapultado pela Grã-Bretanha de gerenciar a exploração social do trabalho por meio da liberdade individual. Paulino e seus seguidores protegiam com unhas e dentes o cativeiro como parte de um projeto civilizacional cuja estrutura residia na mais longa escravização possível de africanos e de seus descendentes. Tanto ele como a geração que o antecedeu costumavam projetar o fim da escravidão para um ponto futuro, desde que esse futuro fosse suficientemente longe da política do presente. Seu escravismo de linha do horizonte – vê-se o fim dele, mas ele nunca é alcançado – não era circunstancial. Encarnava a lógica da ideologia escravista imperial. Entender isso é, no fim das contas, compreender a temporalidade da escravidão brasileira no século XIX, elemento fundamental para avaliar de forma plena o abolicionismo que surgiu nos anos 1860.
É importante frisar que os aspectos discutidos acima não diminuem a importância do livro, que traz significativos avanços para a compreensão do processo abolicionista brasileiro. Entre eles, vale a pena mencionar a relação de Abílio Borges com a carta enviada pela Sociedade Francesa pela Abolição da Escravidão a D. Pedro II em 1866 (p. 34-43); a compreensão do movimento abolicionista como um movimento moderno por excelência (p. 20); o impacto da Guerra Civil norte-americana para a crise da escravidão brasileira (p. 31); e a preocupação com a escala global do abolicionismo e do escravismo nacionais, sempre vistos à luz de seus congêneres cubanos e norte-americanos (p. 103, 127, 291-93, 300, 305 e 327). Por todos esses motivos, Flores, votos e balas cravou lugar entre as leituras obrigatórias para aqueles que estão preocupados em compreender as variáveis históricas que conduziram ao fim da escravidão no Brasil. Concordando-se ou não com suas ideias, a obra precisará ser enfrentada pelos especialistas da área – apresentando ainda a vantagem de poder ser desfrutada pelo público mais geral.
Notas
1.A metodologia da obra é trabalhada de forma mais minuciosa em ALONSO, Angela. O movimento abolicionista como movimento social. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 100, nov. 2014,
2.A bibliografia sobre o tema é extensa. Ficam aqui as indicações de MACHADO, Maria Helena P T. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas (1830-1888). 2ª edição. São Paulo: EDUSP, 2014; AZEVEDO, Elciene. O direito dos escravos: lutas jurídicas e abolicionismo na província de São Paulo. São Paulo: Unicamp, 2010; MENDONÇA, Joseli Maria Nunes de. Entre a mão e os anéis: a Lei dos Sexagenários e os caminhos da abolição no Brasil. 2ª edição. Campinas: Editora da Unicamp, 2008; e XAVIER, Regina Célia Lima. A conquista da liberdade: libertos em Campinas na segunda metade do século XIX. São Paulo: Centro de Memória/Editora da Unicamp, 1997.
3.SLENES, Robert W. Grandeza ou decadência? O mercado de escravos e a economia cafeeira da província do Rio de Janeiro, 1850-1888. In: COSTA, Iraci del Nero da (ed.). Brasil: história econômica e demográfica. São Paulo: Instituto de Pesquisas Econômicas, 1986, pp. 103-55.
4. Sobre o tema, ver CANABRAVA, Alice P. “A grande lavoura”. In: Sérgio Buarque de Holanda (org.). História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil Monárquico, vol. 6: Declínio e Queda do Império,pp. 103-66; BECKERT, Sven. Empire of Cotton: A Global History. New York: Alfred A. Knopf, 2014; e SLENES, Robert W. The Brazilian internal slave trade, 1850-1888: regional economies, slave experience, and the politics of a peculiar market. In: JOHNSON, Walter (ed.). The chattel principle: internal slave trades in the Americas.New Haven: Yale University Press, 2004, pp. 325-370. A título de curiosidade, vale lembrar que a biografia de João Capistrano de Abreu esteve estreitamente vinculada ao movimento descrito no parágrafo. O historiador era oriundo de família cearense que plantou algodão nos anos 1860, no contexto da Guerra Civil norte-americana, e vendeu seus escravos no decênio seguinte, quando a competição internacional se acirrou. Foi, inclusive, com o dinheiro da venda de um deles que Capistrano conseguiu pagar a passagem para o Rio de Janeiro e tentar a sorte na capital imperial. Sobre o tema, cf.. REIS, José Carlos. Capistrano de Abreu (1907). O surgimento de um povo novo: o povo brasileiro. Revista de História, São Paulo, 138 (1998), 63-82.
5. FAIRLIE, Susan. The Corn Laws and British Wheat Production, 1829-76. The Economic History Review,New Series, Vol. 22, No. 1 (Apr., 1969), pp. 88-116; MARRISON, Andrew (ed.). Free Trade and its Reception, 1815-1960. London; New York: Routledge, 1998; ZEBERIO, Blanca. Un mundo rural en cambio. In: BONAUDO, Marta (dir.). Nueva História Argentina, tomo 4: Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880). Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1999, p. 293-362; SLENES, Robert W. Op. cit.; e SCHEFFER, Rafael da Cunha. Comércio de escravos do Sul para o Sudeste, 1850-1888: economias microrregionais, redes de negociantes e experiência cativa. Tese (Doutorado em História). Instituto de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de Campinas, Campinas, 2012.
6. TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial. Trad. Port. São Paulo: EDUSP, 2011; BLACKBURN, Robin. The American Crucible: Slavery, Emancipation, and Human Rights.London; New York: Verso, 2011; BERBEL, Marcia; MARQUESE, Rafael; PARRON, Tâmis. Escravidão e política: Brasil e Cuba, c.1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2010; PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011; e PARRON, Tâmis. A política da escravidão na Era da Liberdade: Estados Unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846.Tese (Doutorado em História Social). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
7. Além dos trabalhos referidos na nota acima, cf. YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: Intermeios (no prelo); e ESTEFANES, Bruno Fabris; PARRON, Tâmis; YOUSSEF, Alain El. Vale expandido: contrabando negreiro e a construção de uma dinâmica política nacional no Império do Brasil. Almanack.Guarulhos, n. 07, p. 137-159, 1º semestre de 2014.
Alain El Youssef – Departamento de História da Universidade de São Paulo – USP São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
ALONSO, Angela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. Resenha de: YOUSSEF, Alain El. Nem só de flores, votos e balas: abolicionismo, economia global e tempo histórico no Império do Brasil. Almanack, Guarulhos, n.13, p. 205-209, maio/ago., 2016.
Festas Chilenas: sociabilidade e política no Rio de Janeiro no ocaso do Império | Jurandir Malerba, Cláudia Heynemann e Maria do Carmo Teixeira Rainho
Em 1965, Dona Ivone Lara, Silas de Oliveira e Bacalhau cantaram, em samba-enredo do Império Serrano, uma história dos grandes bailes da história da cidade do Rio de Janeiro.[1]2 Um dos destacados pelos compositores, o último d'”Os cinco bailes da história do Rio”, era o baile da Ilha Fiscal, que o governo da monarquia promoveu em 9 de novembro de 1889 em homenagem à visita de oficiais chilenos ao país – poucos dias antes, portanto, do fim do regime. O tema não era novidade para a escola: em 1953 o Império ficou na segunda colocação no desfile com o samba “O último baile da Corte imperial”, assinado por Silas de Oliveira e Waldir Medeiros. Em 1957, foi a vez da Unidos de Vila Isabel relembrar a efeméride, indo para a avenida com o samba “O Último Baile da Ilha Fiscal”, de Paulo Brandão, ainda que sem tanto sucesso. A presença do baile da Ilha Fiscal nos três sambas sugere sua força como marco para a memória urbana do Rio de Janeiro.
O último e nababesco baile da monarquia brasileira ressurge no livro Festas Chilenas: sociabilidade e política no Rio de Janeiro no ocaso do Império (EdiPUCRS, 2014), organizado por Jurandir Malerba, Cláudia Heynemman e Maria do Carmo Rainho. O livro reúne artigos de especialistas nas mais diversas áreas (moda, música, gastronomia, esportes e política) sobre uma notável coleção de documentos que o capitão de fragata José Egydio Garcez Palha organizou recolhendo menus, carnês de bailes, partituras musicais e comentários variados na imprensa sobre o baile, seus participantes e seus promotores. Recolhida entre 1889 e 1891, a coleção pertence desde 1930 ao Arquivo Nacional.
Um dos pontos destacados pelos organizadores na apresentação da obra reside no farto manancial de informações sobre diferentes aspectos do fazer cotidiano da cidade que se queria moderna. Desde nuances do fazer da mais alta política em suas recepções diplomáticas aos cochichos e maledicências sugeridas na imprensa, passando pelas preferências estéticas da elite imperial em sua frequência a casas da moda, cabeleireiros e confeitarias, a coleção realça a grandiosidade daquele baile sob a ótica dos personagens da própria época. Mesmo quem não esteve entre os aproximadamente 4 mil presentes à grandiosa festa pôde sentir de perto a grandeza do momento. Do Cais Pharoux dava para apreciar a suntuosidade da Ilha Fiscal fartamente iluminada por fogos de variadas cores, 700 lâmpadas elétricas e 60 mil velas. Do cais, ademais, partiam as damas e senhores da sociedade rumo ao baile.
A recepção aos chilenos se estendeu para além do baile, tendo durado dois meses. Nesse tempo, um interlúdio: a república fora proclamada bem no meio da visita dos convidados daquele país, chegados ao Rio em meados de outubro e partindo da cidade em finais de novembro. Em que pese a mudança de regime, mantiveram-se as variadas atividades propostas aos ilustres visitantes. Não fosse a república, teriam ainda as conversas sobre o baile rendido mais um tanto? Seja como for, o fato é que, 15 de novembro à parte, a grandeza do ultimo baile da monarquia imprimiu sua marca indelével na memória da cidade.
“Dê-me um pouco de magia, de perfume e fantasia e também de sedução”: impressões sobre as festas chilenas.
No livro, os capítulos de autoria de Victor Melo, Carlos Sandroni, Laurent Suaudeau, Carlos Ditadi e de Maria do Carmo Rainho apresentam por meio da análise da imprensa o que os organizadores chamam de “clima de opinião”. De fato, brotaram comentários os mais variados nos jornais da cidade, incluindo a observação de costumes e práticas de elite não tão bem assimiladas por alguns dos convidados presentes no baile. Algo a se estranhar, a princípio, pois segundo Melo, coordenador do Laboratório de História e do Esporte e Lazer da UFRJ, “a cidade já estava acostumada e apreciava atividades públicas” de monta, desde teatros ao turfe e ao remo, passando por festividades religiosas e sociedades dançantes (p. 118-119; 158).
De fato, se nos fiarmos no samba de Ivone, Silas e Bacalhau, a tradição festiva da cidade vem de longe. Segundo o musicólogo Carlos Sandroni, na ausência de formas de comunicação como o rádio, eram as bandas musicais, geralmente militares, que embalavam as festas, numa mobilidade impressionante que lhes permitia tocar em locais diferentes no mesmo dia. Sua onipresença não marcaria apenas a importância e formalidade de ocasiões solenes. Pelo contrário, elas botavam as pessoas para dançar. No baile de Ilha Fiscal tocou-se de tudo: quadrilhas, valsas, polcas e lanceiros animaram os presentes madrugada adentro, até quase o sol raiar, prática comum, aliás, em outros bailes frequentados pelos cariocas (p. 138-140).
Ao som da música, o detalhe das práticas ditas civilizadas – inclusive porte e vestimenta adequados para as danças – passava como forte signo de distinção, aspecto que apontava proximidades políticas e maneiras de inclusão no regime, tema que perpassa toda a obra. Victor Melo, em capítulo sobre as práticas esportivas, apresenta as disputas entre grupos de elite por receber a comissão chilena em seus clubes de remo e de turfe, preferência entre os cariocas mas que dividia as elites. Esses clubes serviam de ponto de encontro e aproximação entre grupos de preferência política comum, como republicanos ou monarquistas, respectivamente (p. 121; 129). Idem para o porte nessas ocasiões ou mesmo à mesa: estima-se que o refinadíssimo banquete oferecido aos chilenos no baile da Ilha Fiscal tenha custado aos cofres públicos 250 contos de Réis, segundo Suaudeau, que é chefe de cozinha, e Debati, pesquisador no Arquivo Nacional, quase 10% do orçamento da província do Rio (p. 162). Repleto de iguarias da culinária estrangeira, especialmente francesa, o banquete foi alvo de crítica de parte da imprensa pelos seus custos e também pelo pouco apreço às “iguarias puramente brasileiras”, segundo matéria n’O Paiz (p. 166). Convidados e garçons também foram alvo da crítica de jornalistas: homens fumando, conversando alto, acotovelando as senhoras, atirando restos de comida ao chão receberam comentários reprovadores. Assim como os criados, considerados desleixados e um tanto “esquecidos” (p. 107, 165). As senhoras não foram poupadas: entre os objetos encontrados após o baile, havia até mesmo espartilhos e “algodões em rama”, usados por debaixo dos espartilhos para dar corpo às mulheres (p. 107). Ao que parece, os algodões perdidos – e que demandavam o manejo, digamos, mais complexo da vestimenta feminina – não foram poucos, segundo Sandroni (p. 144). Não haveria ocasião melhor para manejos mais quentes. Afinal, a proximidade de corpos em danças regradas (ou nem tanto) realçava um tipo particular de experiência sensual que legava às senhoras assíduas frequentadoras de baile a “fama de assanhadas”.
A falta de civilidade pareceu quase geral, segundo observadores, incluindo a adequação da roupa à ocasião. Perder espartilhos não era pouca coisa: frequentada como foi por “senhoras e cavalheiros da fina flor fluminense” (p. 144), festas como a oferecida aos chilenos inscrevem-se, segundo Rainho, especialista em História da Moda, numa “cultura das aparências” que ganhava força entre a elite carioca especialmente nos anos finais do Império. O baile da Ilha Fiscal gerou um apagão no comércio de modas na cidade: não havia costureiras, maisons e cabeleireiros suficientes para tanta dama convidada. Ao mesmo tempo que manuais de etiqueta ensinavam cada vez mais a circunspecção feminina, as roupas atuavam como um poderoso meio de sedução que não cabia nesses manuais (p. 199).
“Algo acontecia, era o fim da monarquia”: aproximações entre cultura e política.
Segundo Rainho, além do mais, algo chamava a atenção nos comentários na imprensa sobre o grandioso baile: a ausência de comentários sobre a vestimenta dos oficiais chilenos (p. 201). Sebastião Uchoa Leite, poeta e ensaísta, em texto originalmente publicado em 2003 para o projeto que deu origem ao livro, apresenta um ponto interessante nesse sentido. Em grande parte dos comentários e reportagens sobre a recepção dos chilenos havia “um clima de oposição crítica ao próprio status quo reinante no país” (p. 101).
“Espécie de miragem”, ainda segundo Leite, o baile teria sido o ponto culminante do significado das “festas” para a monarquia. A observação não deixa de ser paradoxal, dado que a corte de Pedro II era avessa a grandes festividades. Jurandir Malerba, professor da PUCRS, lembra que o último baile no Paço Imperial ocorrera em 1852 após o encerramento das atividades do Parlamento (p. 39). Nesse ínterim, a família imperial teria se contentado com apresentações teatrais um tanto amadoras e para poucos convidados. No que Malerba lança uma hipótese interessante: considerando a destreza política de Dom Pedro II e sua saúde já frágil que cada vez mais servia como justificativa para seu distanciamento da condução direta da política nacional, o baile da Ilha Fiscal pode ter sido calculado para encenar “o grand finale de seu reinado” (p. 42-43).
Minuciosamente representado como signo de civilização em terras americanas, o Império do Brasil apresentava também seu lado moderno por meio de sua capital, o Rio de Janeiro. Cláudia Heynemann, supervisora de pesquisa no Arquivo Nacional, chama atenção para o vasto roteiro de visitas da comissão chilena, que em muito se aproximava daqueles propostos por livros de viagem do oitocentos (p. 57). Malgrado a presença de alguns problemas como calçamento e arborização, o processo de modernização pelo qual passava a cidade na segunda metade do XIX entrelaçava natureza e cultura por meio de obras como as do Passeio Público, do Campo da Aclamação e do Jardim Botânico (p. 65), uma modernidade ao mesmo tempo pedagógica e disciplinar (p. 70). Cidade já bastante grande, que contava com 226 mil pessoas livres e quase 5 mil escravos segundo o censo de 1872, o Rio de Janeiro se complexificava: novos bairros foram criados, acompanhados pela expansão do serviço de trens e bondes. Novas práticas de sociabilidade surgiam a seguir marcadas por hábitos europeizados, segundo Vivien Ishaq, doutora em história. A rua do Ouvidor mantinha o cetro de polo dos modismos e do bom gosto, mas cada vez a cidade também se dividia em várias se considerarmos os usos distintos dos espaços pelos grupos de diferentes camadas da sociedade (p. 81-84).
Em comum a todos os artigos de Festas Chilenas está o destaque para o baile como espaço de autorrepresentação tanto das elites imperiais quanto do próprio regime: esse ponto é especialmente destacado por Sebastião Uchoa Leite e Jurandir Malerba. Leite, ao sublinhar aspectos políticos de ocasiões festivas, neste caso por meio da imprensa através das críticas a usos e maneiras apresentados no baile, afasta o caráter “ameno” da ocasião. Houve encontros entre os aproximadamente 4 mil presentes mas havia também tensões (p. 109-110), presentes já no momento de seleção dos convidados. Malerba, ao realçar o baile como momento político, o faz invertendo o argumento recorrente de que a monarquia apostava, ali, no início de um esplendoroso terceiro Reinado, sob a batuta de Isabel e secundada por seu esposo, o conde d’Eu. Para o autor, o baile foi um último lance político mas com repercussões na esfera da cultura: era a memória da monarquia que estava em jogo.
Malerba distancia-se, assim, do argumento de José Murilo de Carvalho de que o baile teria sido um “golpe de publicidade” pró-continuidade monárquica, pensado por este autor em grande medida a partir de obras ficcionais de Machado de Assis. Em sua argumentação, Malerba oferece ao monarca (e ao regime como um todo) o papel de agente de sua história – e da representação da memória de seu reinado. Ainda que lançado como hipótese, o argumento é interessante na medida em que se aproxima de discussões mais recentes no campo da cultura acerca de sua percepção como manancial de estratégias referendadas pelo contexto, e não como um todo encerrado em si mesmo (segundo uma concepção vulgar e equivocada, porém corrente, de sistema).
Na esfera da historiografia contemporânea, a micro-história propõe um importante debate nesse sentido. Sua aproximação com a antropologia, especialmente aquela proposta por Clifford Geertz, promoveu o entendimento da cultura como um campo no qual o sentido dos símbolos deve ser entendido na análise de situações sociais específicas – é exemplar a “descrição densa” da briga de galos balinesa proposta por Geertz.[2] Mais especificamente, a micro-história investe seu esforço de análise nas ressignificações dos símbolos em situações de disputas sociais, tendo em vista a reflexividade dos sujeitos e sua capacidade de ação racional – como não se lembrar, por exemplo, do pensamento do moleiro Menocchio, estudado por Carlo Ginzburg?[3] Para Giovanni Levi, em artigo de revisão das tendências de análise na micro-história, “a abordagem micro-histórica dedica-se ao problema de como obtemos acesso ao conhecimento do passado [tomando o] particular como seu ponto de partida […] e prossegue, identificando seu significado à luz de seu próprio contexto específico”.[4] Longe da dicotomia que prevaleceu em discussões sobre agência e estrutura ou, de modo mais específico, entre cultura e política, Festas Chilenas lança um olhar sobre a esfera cultural que em muito se alimenta do próprio contexto político. Embora o imperador não ofertasse bailes de monta havia décadas, isso fazia parte do script do fazer monárquico. A suntuosidade da ocasião parecia acenar, assim, menos para o futuro que para o passado de grandiosidade da própria monarquia.
O samba do Império Serrano traz tais elementos para dentro da cena: “o luxo, a riqueza, imperou com imponência” ainda no baile da Independência. No baile da Ilha Fiscal se brindava “aquela linda valsa, já no amanhecer do dia”. “Iluminado estava o salão, na noite da coroação” de Pedro II. Acompanhando os cinco grandes bailes da cidade eleitos pelos compositores, dois localizam-se nos tempos do reinado de Pedro II. Ainda que o recurso ao fausto das festas apresentadas no samba tenha relação com a própria lógica de composição interna do samba-enredo, que ganhava novo formato especialmente nas mãos de Silas de Oliveira,[5] na memória urbana do Rio de Janeiro aquele momento parecia estar encravado como digno de rememoração. Não foi esse o único samba, aliás, a lembrar o baile: mesmo que o samba de 1953, também de Silas, tenha sugerido que nem imperador nem a corte esperavam o fim da monarquia, o esplendor do baile agradara a todos, inclusive os homenageados.[6]
Na esteira da hipótese de Malerba, que vê o baile como grand finale à luz do modus operandi do regime monárquico e de suas lógicas de formação de laços centralizados na figura de Pedro II (“não se faz políticas sem bolinhos”, lembrava o barão de Cotegipe), seria interessante perceber as inscrições desse último movimento do regime não apenas na memória da cidade, mas na memória popular urbana do Rio. Mesmo que todos os artigos da obra considerem, por exemplo, matérias em jornais como expressão de olhares algo debochados e um tanto críticos do baile, da elite imperial e do regime em si, a aproximação dessa perspectiva com outras do restante da população da cidade poderia iluminar mais o argumento central. Poucos anos mais tarde João do Rio chamaria a atenção para a forte presença de símbolos imperiais entre a população pobre e negra da capital da agora república.[7] Os grupos de capoeiras que desmantelavam conferências de republicanos e, após a abolição, a própria guarda negra suscitavam temor frequente entre os grupos aderentes ao novo regime instaurado enquanto os chilenos nos visitavam. Embora nossas fontes disponíveis não o expressem de maneira discursiva, alguns aspectos da cultura popular da cidade parecem ter alguma coisa a nos dizer sobre os significados não só do último baile da monarquia, mas do regime monárquico como um todo, mais tarde cantados “em sonho” na memória urbana carioca.
Notas
1. Vale escutar o áudio do samba-enredo da escola daquele ano, de autoria dos três, intitulado “Os cinco bailes da história do Rio“. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=laEBlDSZQZc . Acesso em 10 de abril de 2016.
2. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas.Rio de Janeiro: LTC, 2008.
3. GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes:o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
4. LEVI, Giovanni. Sobre a micro-história. In BURKE, Peter (org). A escrita da história:novas perspectivas. São Paulo: EdUNESP, 1992, p. 154-155.
5. VALENÇA, Rachel; VALENÇA, Suetônio. Serra, Serrinha, Serrano: o império do samba. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1981.
6. Ver, por exemplo, a crônica “Os Tatuadores”, no livro A alma encantadora das ruas:crônicas. Organização de Raúl Antelo. São Paulo: Companhia das Letras. 2008.
7. Ver, por exemplo, a crônica “Os Tatuadores”, no livro A alma encantadora das ruas:crônicas. Organização de Raúl Antelo. São Paulo: Companhia das Letras. 2008.
Carlos Eduardo Dias Souza – Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo – USP São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
MALERBA, Jurandir; HEYNEMANN, Cláudia; RAINHO, Maria do Carmo Teixeira (Orgs.). Festas Chilenas: sociabilidade e política no Rio de Janeiro no ocaso do Império. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2014. Resenha de: SOUZA, Carlos Eduardo Dias. O quinto baile da história do Rio. Almanack, Guarulhos, n.13, p. 210-214, maio/ago., 2016.
Iberoamérica y España antes de las Independencias, 1700-1820. Crecimiento, reformas y crisis | Jorge Gelman, Enrique Llopis e Carlos Marichal
Algunas veces las obras colectivas resultan en una suma de textos escasamente cohesionados en torno a un período, un espacio geográfico o un tema genérico que apenas logran disimular la carencia de objetivos metodológicos y hipótesis estructurantes en torno a las cuales hacer un aporte al avance del conocimiento. El libro en comento no corresponde a este tipo de publicaciones, ya que define con claridad el ámbito temático en que se inscriben sus ensayos. Por un lado, sus textos dan cuenta del estado de las economías de Iberoamérica y España, en su amplia heterogeneidad, en vísperas de las independencias nacionales. Por otro, revisitan la noción de que las reformas administrativas introducidas por las monarquías de España y Portugal a mediados del siglo XVIII impulsaron un prolongado período de expansión económica, tanto en las metrópolis como en sus colonias, que comenzó a declinar al comienzo de la última década de la centuria hasta llegar a una crisis que, en gran medida, explicaría el colapso del orden colonial. Como dicha noción, admitida a partir de los aportes de John Lynch, es en extremo general, la obra se encarga de contrastarla con distintas realidades americanas y metropolitanas para, según corresponda, confirmarla, descartarla o matizarla.
Para el caso del Río de la Plata Jorge Gelman y María Inés Moraes muestran que, en efecto, desde la década de 1760 se registra un ciclo de expansión articulado por el flujo de plata altoperuana hacia el Atlántico. Aunque este circuito comienza a declinar junto con el inicio de la crisis del orden colonial, la economía en su conjunto logró mantenerse estable gracias al fortalecimiento del intercambio entre Buenos Aires y las regiones interiores y, simultáneamente, al desarrollo de la ganadería en las provincias, que dio lugar a una fase de exportación de carne y cueros que se prolonga hasta el período nacional.
Sobre el desempeño del virreinato peruano, Carlos Contreras da cuenta de todas las aristas que impiden tener una noción precisa que explique la casi triplicación del PIB a lo largo del siglo XVIII. Además de la separación del Alto Perú, que le restó su principal fuente de recursos mineros, los indicadores demográficos, agrícolas y fiscales apuntan a una expansión sólo imputable al fortalecimiento de las economías regionales, el intercambio comercial entre ellas y la incorporación de un significativo contingente de indígenas a la población asalariada. Lo anterior permitió resolver la falta de mano de obra en la minería e incrementar la recaudación virreinal a través del tributo.
Menos variables en juego tiene el Virreinato de Nueva Granada, el que a partir de los datos de sus Cajas Reales, entre 1761 y 1800, Adolfo Meisel caracteriza como una economía rudimentaria, basada en el tránsito aurífero a través del río Magdalena, la ganadería en la provincia de Santa Marta y el mantenimiento de las fortalezas de Cartagena de Indias con los aportes del situado de Quito y Bogotá. El período examinado muestra un crecimiento del producto de 1,6% anual en promedio, cifra muy cercana a su ritmo de crecimiento demográfico, lo que da cuenta de una economía muy precaria, al borde de la subsistencia y sobre la que tuvieron muy pocos efectos las reformas administrativas de mediados del siglo XVIII.
Para el caso cubano José Antonio Piqueras describe una situación que resulta por completo ajena a las reformas borbónicas y sus consecuencias. Teniendo al azúcar como base de su economía, durante el siglo XVIII su consumo aumentó de forma extraordinaria en el mundo, aunque el ritmo de producción en Cuba fue inferior al de otras regiones competidoras, ya que hasta la última década de la centuria se mantuvo aferrada a los métodos tradicionales. No obstante estas limitaciones, el autor constata que la economía de la isla creció sostenidamente y, más aun, que dicha expansión coincide con las distintas guerras internacionales, pues, estando comprometida directamente o no en cada conflicto la Corona española, aportó recursos adicionales para reforzar el aparato militar de la Gobernación (“diluvio de plata”); otras regiones productoras, como las Antillas y Barbados, fueron escenario de enfrentamientos por lo que Cuba ocupó su lugar en el abastecimiento del comercio mundial de azúcar; y porque la apertura del intercambio con países neutrales, durante los conflictos de España con Francia e Inglaterra, en la práctica permitieron al azúcar cubano acceder al mercado de las trece colonias rebeldes, un consumidor seguro y generoso.
Sobre México la recopilación aporta dos estudios que contribuyen a, por lo menos, matizar la visión pesimista que impera sobre el desempeño de su economía durante las últimas dos décadas virreinales. Luis Jáuregui y Carlos Marichal ofrecen una visión panorámica de la economía novohispana entre 1760 y 1810 a partir de tres indicadores: la acuñación de monedas de plata, el comportamiento del comercio exterior y el del comercio interno, estos últimos dimensionados por su aporte tributario a las arcas virreinales. Los autores comienzan constatando que entre 1770 y 1810 la acuñación de pesos de plata creció a un ritmo oscilante entre el 1 y el 1,4% y que sus pulsaciones respondieron a la disposición de azogue (mercurio) antes que a otros factores sensibles para una actividad que, estimulada por las reformas de la década de 1760, arrastraba a los demás sectores productivos con su demanda por bienes y servicios.
Aunque el impacto del aumento en la producción de monedas de plata fue limitado para el comercio interno, ya que no se acuñaban monedas divisionarias, este creció a lo largo del período impulsado por el crecimiento de la población urbana que, además de alimentos, demandaba manufacturas y bienes artesanales de elaboración local. Mientras que el comercio exterior, animado por la liberalización de 1789, también marcó una tendencia ascendente.
Sin embargo, la noción común apunta a que la economía novohispana finicolonial experimentó una severa recesión y crisis demográfica, que en gran medida provocaron la disolución del vínculo con la metrópoli europea. Ernest Sánchez Santiró discute esta afirmación señalando que se trata de impresiones subjetivas del período 1815-1820, cuando las guerras de independencia sí habían afectado al aparato productivo, lo que llevó a muchos contemporáneos a formarse una impresión negativa de las décadas anteriores.
En base a las cuentas fiscales y a criterios metodológicos, el autor matiza y desmiente varios de estos supuestos. Sobre la disminución de la población, del orden de las 250 a 500 mil personas, asegura que más bien se trató del despoblamiento de los principales núcleos urbanos, personas que huyeron de los enfrentamientos hacia sectores rurales. En cuanto a la caída de la producción minera, estimada por algunos en torno al 50%, señala que esta es una apreciación fundada a una baja en la acuñación de plata, pero si se considera que los ingresos de los estancos del azogue y la pólvora no muestran fluctuaciones significativas, estaríamos en presencia de un contrabando masivo de metal en bruto. Sobre la caída superior al 40% del comercio exterior para la década de 1810, señala que ella corresponde a las cifras que entrega el Consulado de Veracruz y que dan cuenta de la situación del hasta entonces principal puerto de intercambio con Europa. Pero que si se considera el incremento de la actividad de los puertos menores, tenemos que el flujo mercantil no disminuye sino que cambia de dirección, imponiéndose el comercio hacia otras regiones.
Resulta interesante el hecho de que todos los diagnósticos pesimistas sobre el desempeño de la economía mexicana del crepúsculo colonial conviven con la constatación de un aumento en la recaudación fiscal. Sánchez Santiró explica esta aparente paradoja con una lista de nuevos impuestos, contribuciones forzosas y alzas tributarias que, junto con resolver esta contradicción, da a entender porque la temprana república mexicana emprendió un camino liberalizador de facto.
En relación a Brasil, el libro incluye dos estudios que permiten comparar la evolución histórica de las colonias españolas con las lusas en Américas, teniendo como referencias que ambas monarquías emprendieron procesos de reformas administrativas que apuntaban a impulsar el desarrollo económico. En el primero de estos ensayos, Angelo Alves Carrara se propone evaluar el resultado de las reformas pombalinas, introducidas en la década de 1750, en el escenario de una economía que llevaba más de sesenta años de expansión minera, pero que sus centros productivos en Minas Gerais no habían logrado estimular el desenvolvimiento y la diversificación productiva en las demás provincias. Esto porque la propiedad de los yacimientos estaba en extremo concentrada y empleaba muy poca mano de obra, de preferencia esclava, lo que representaba escasos incentivos para la agricultura y la ganadería.
Si algún cambio debe la economía brasilera al ciclo minero es el haber propiciado que Río de Janeiro desplazara a Salvador como principal núcleo portuario y comercial de la Capitanía, consagrado por el traslado de la corte hasta la ciudad carioca en 1763. La demanda urbana de la novel capital sí logró incentivar el desarrollo de las economías regionales y con ello a otras actividades de exportación, como el algodón y el café, que diversificaron la base de exportación y lograron la ocupación efectiva de regiones interiores. Sin embargo, el autor atribuye este fenómeno al aumento de la demanda europea por dichos productos, más que a las medidas diseñadas por el marqués de Pombal, cuyo único mérito sería haber logrado afinar el aparato de recaudación fiscal.
Luego, un interesante artículo de Joao Fragoso dedicado a entender por qué ni el ciclo de exportaciones mineras ni luego las reformas pombalinas lograron modernizar la economía brasilera, ya sea a través de la formación de una clase burguesa que liderara una necesaria transformación de la relaciones sociales e invirtiera sus utilidades en mejorar los procesos productivos, o de políticas concretas que facilitaran a la economía brasilera superar la fase preindustrial. Tal atraso es atribuido por el autor a la permanencia de una “sociedad regida por los muertos”, heredada del ciclo azucarero y que sobrevivió en el tiempo como consecuencia de la persistencia de un afán de nobleza que poco aportaba para el inicio de una transición hacia el Capitalismo. De esta forma, la organización social de la plantación de azúcar, basada en la esclavitud y métodos productivos primitivos, continuó vigente durante todo el ciclo de expansión minera. Entonces, la continuidad de la costumbre de legar parte importante de las fortunas, ya sea a través de donaciones, censos y capellanías, en la práctica dejó un limitado volumen de capital para reinvertir en la producción. Mientras que la permanencia de un régimen laboral esclavista impidió la formación de un mercado de consumo que se constituyera en una demanda interna significativa, al mismo tiempo que encadenaba las exportaciones brasileras al circuito imperial portugués formado por Lisboa – Río de Janeiro – Luanda – Goa, mediante el cual las utilidades de las exportaciones terminaban pagando el consumo de bienes suntuarios y la compra de esclavos.
Al final del ensayo, el autor señala que un indicador importante para establecer el perfil de una estructura económica radica en identificar cuál es el principal agente que controla el mercado del crédito. En el caso brasilero, hacia 1740, este actor sería el comercio esclavista y la propia Iglesia, más preocupados en perpetuar el sistema “esclavista católico” que de impulsar transformaciones de tipo capitalistas y burguesas.
Sobre la situación de España en la segunda mitad del siglo XVIII, Enrique Llopis analiza su comportamiento demográfico y económico constatando que su población creció a un promedio anual del 0,4%, inferior al 0,52 europeo, y que las provincias de Cataluña y Murcia fueron donde este incremento se dio con mayor intensidad. Esto, por el dinamismo del sector manufacturero que contrasta con el moderado desempeño de la agricultura y la ganadería predominantes en las regiones interiores y meridionales. El general, todos los sectores económicos mostraron una tendencia al alza, destacándose los sectores agrícolas que modernizaron sus métodos productivos y comenzaron a requerir menos mano de obra. Lo anterior se reflejó en un acelerado crecimiento de la población urbana, lo que redundó en una caída salarial y en altos niveles de marginalidad.
Luego, el autor constata que, hasta 1790, la economía española creció moderadamente. Pero, a partir de entonces y como consecuencia de la Revolución Francesa, enfrentó una severa recesión, agravada por una seguidilla de epidemias, convulsiones sociales y guerras que terminaron por provocar un descenso demográfico cercano al 15%. Curiosamente, durante el mismo período se registró un alza en la recaudación fiscal (25% promedio anual), gracias a la continuidad, y a veces aumento, del aporte americano y a la introducción de impuestos directos sobre las actividades productivas y el comercio. Como es bien sabido, estos recursos no fueron destinados a revertir el ciclo económico sino que fueron invertidos en el financiamiento de la política exterior imperial.
Se complementa el trabajo de Llopis con el artículo de Pedro Tedde de Lorca, dedicado a examinar la política financiera ilustrada entre 1760 y 1808. Para Carlos III el manejo de estas variables debía tener como objetivo estimular la producción de bienes y servicios, para luego la Corona extraer sus ingresos gravando al comercio y el tráfico de caudales. Además, debía llevar a cabo el anhelo planteado en 1749 por su tío Fernando VI, en orden a dejar atrás el antiguo régimen de castas y privilegios, introduciendo un sistema tributario universal y proporcional a las rentas. Sin una fórmula política para alcanzar tal objetivo y con la permanente necesidad de financiar las guerras internacionales en que se comprometió para proteger su monopolio comercial, la monarquía borbónica continuó recurriendo a las remesas de las Indias y a un creciente endeudamiento, configurando una ecuación que, de forma creciente e irremediable, arrojó números negativos.
El último ensayo de la recopilación en comento, de Rafael Dobado y Héctor García, está dedicado a perfilar el bienestar biológico de la América borbónica, y hacer una comparación internacional en base a salarios y estaturas. El estudio arranca constatando que en la América borbónica el trabajo asalariado estuvo mucho más extendido que lo que comúnmente se ha supuesto, lo que permite los cálculos sobre ingreso y desigualdad que los autores presentan. Luego y a partir de algunos ajustes metodológicos, sus resultados apuntan a señalar que en comparación con las principales ciudades europeas, durante la segunda mitad del siglo XVIII, América española tuvo un nivel de salarios más alto. El análisis presentado no se basa en el ingreso nominal, sino que en la cantidad de ciertos productos que permitían adquirir distintos promedios salariales. Entonces, las estimaciones arrojan que en América un salario equivalente al europeo permitía un mayor consumo de carne, azúcar y granos. Ciertamente, esta afirmación es matizada si se consideran distintas particularidades regionales, como la abundancia de tierras desocupadas en el Río de la Plata, Nueva Granada y Chile, que explicaría el alto consumo de proteínas animales por el predominio de la ganadería; o la prevalencia de costumbres prehispánicas en México y los Andes Centrales, que mantuvieron alta la oferta de granos.
En cuanto a las estaturas, se tomaron los casos de Yucatán, Campeche y México entre 1730 y 1780, que se compararon con los disponibles para diversas ciudades europeas en el mismo período, arrojando resultados de nuevo favorables a América que, en el caso de la población blanca de Maracaibo, la situaría dentro de las más altas del mundo. Una explicación para esto sería la elevada ingesta de carne, pero no resulta válida para México central, que se ubica debajo del promedio internacional, lo que obedecería a la influencia genética del componente maya.
A partir de la última década del siglo XVIII los indicadores económicos y antropométricos americanos comienzan a declinar, aunque a un ritmo inferior al que registran en Europa y Asia, lo que conduce a afirmar que los grandes problemas de América son la desigualdad y el lento crecimiento, pues sus valores promedio no permiten entender el origen del subdesarrollo y la pobreza.
En síntesis y volviendo a los objetivos planteados al comienzo, los trabajos reunidos en la recopilación comentada ofrecen una visión de la economía hispanoamericana antes de la Independencia y confirma la advertencia de que siempre es necesario tener en cuenta que convivían realidades regionales muy diversas, por lo que conclusiones y explicaciones generales deben ser hechas con cautela. Luego, esta heterogeneidad regional también debe ser considerada al momento de evaluar la hipótesis de un gran declive económico y biológico como trasfondo y causa estructural de la disolución del orden colonial. Los casos presentados indican que se trata de una exageración proveniente, en algunos casos de crónicas contemporáneas alarmistas, y en otros de errores metodológicos en la agrupación y análisis de los datos cuantitativos disponibles. Además de dar cuenta de los objetivos que se propusieron los editores, la obra tiene el mérito de ofrecer visiones renovadas de diferentes espacios americanos, líneas interpretativas útiles para comprender algunos desarrollos históricos que siguieron al período estudiado y vetas de investigación que permitirían explicar de forma aún más exhaustiva las distintas singularidades que se aprecian en la historia económica de Iberoamérica. Una de ellas es el comercio al interior y entre las colonias, pues aunque muchas veces es mencionado como una variable para explicar por qué cierta estructura económica mantiene su dinamismo o se ralentiza a un ritmo inferior al que se aprecia en las cifras agregadas a nivel imperial, su respaldo empírico es frágil.
En suma, Iberoamérica y España antes de las Independencias aborda tres cuestiones de importancia para todo ámbito desde donde se cultive la historia americana: la primera es que, comparada con el Viejo Mundo, la calidad de vida en América pareciera ser no tan desmejorada como se ha dado por supuesto, por lo tanto la “herencia colonial” tendría menor responsabilidad en los cuadros de pobreza, desigualdad y subdesarrollo que se aprecian durante el período nacional, que es donde habría que buscar explicaciones más rigurosas. Luego, se confirma la noción, aunque mucho más atenuada, de que América colonial experimentó un ciclo de expansión a partir de las reformas de mediados del siglo XVIII y otro de recesión desde la última década de esa centuria. Hasta ahora la mayor parte de los estudios que han intentado entender esta oscilación se han encapsulado buscando causalidades al interior del imperio, en lugar de atender a los fenómenos globales, que es donde parecieran estar las respuestas más sencillas y satisfactorias. Esto conduce a una última consideración, en especial para quienes se dedican a la economía colonial: se ha convertido en un hábito buscar en las variables fiscales las causas de las palpitaciones de las distintas economías regionales, como si los monarcas y sus súbditos experimentaran por igual fortunas y miserias. Los artículos reunidos en la obra demuestran que esta aproximación es insuficiente, incluso errónea, pues todos ellos muestran que, en distintos grados, al iniciarse el siglo XIX los mercados internos habían alcanzado una dinámica autónoma de suficiente vigor como para comenzar a albergar intereses y concebir proyectos distintos a los de sus metrópolis.
Jaime Rosenblitt B. – Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile. E-mail: [email protected]
GELMAN, Jorge; LLOPIS, Enrique; MARICHAL, Carlos (Coordinadores). Iberoamérica y España antes de las Independencias, 1700-1820. Crecimiento, reformas y crisis. México D. F.: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; El Colegio de México, A. C., 2014. Resenha de: B., Jaime Rosenblitt. Hispanoamérica e Iberoamérica: una convergencia en el ocaso del mundo colonial. Almanack, Guarulhos, n.13, p. 215-220, maio/ago., 2016.
A invenção da brasilidade: identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração
A expressão acima, que dá título a esta resenha do livro de Jeffery Lesser, A invenção da brasilidade: identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração (tradução brasileira da edição que a Cambridge University Press lançou em 2013), poderia sintetizar a história da imigração em vários países da América – nomeadamente, Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil. Como brasilianista, comparar seu objeto de estudo com os Estados Unidos seria inevitável, mas esse procedimento encontra justificativa mais profunda nas pesquisas de Lesser. À análise comparativa para compreender a “invenção da brasilidade” soma-se a metodologia de estudo da imigração como uma história única desde o período colonial, e não em capítulos separados em que cada grupo imigratório apresenta história própria e específica. Como resultado, uma obra de historiador que, apoiada na etnografia antropológica, se propõe discutir a complexidade das questões de identidade no Brasil atual através da etnicidade e sua relação com a imigração – conceitos cuja fluidez torna indistinguíveis. Sua preocupação fundamental – de que forma a “brasilidade” foi e é construída? – lança luz sobre os seis capítulos e o epílogo que ocupam quase trezentas páginas de um livro proposto para alcançar público mais amplo, além das fronteiras da academia.
Por que o professor que ocupa atualmente a Cátedra de Estudos Brasileiros na Emory University (Atlanta) opta por esse caminho metodológico? A resposta pode ser encontrada no livro, mas também em sua trajetória pessoal de pesquisa. Em O Brasil e a questão judaica: imigração, diplomacia e preconceito, publicado no Brasil em 1995 pela Editora Imago, o enfoque recai sobre a política imigratória do Estado Novo para os judeus, discutindo os problemas da discriminação, da aculturação e da etnicidade no período. Em A negociação da identidade nacional: imigrantes, minorias e a luta pela etnicidade no Brasil (Editora Unesp, 2001), são analisadas estratégias que imigrantes não europeus – japoneses, sírios e libaneses – utilizaram para definir seu lugar dentro da identidade nacional brasileira, bem como reações a essas tentativas. Imigrantes que, juntamente com os grupos europeus, integram – e esta parece ser realmente a melhor palavra – as análises do novo livro.
Anos de experiência de pesquisa produziram inquietações sintetizadas no artigo “Laços finais: novas abordagens sobre etnicidade e diáspora na América Latina do século XX, os judeus como lentes” (publicado na revista Projeto História, n. 42, em 2011), escrito em parceria com Raanan Rein, professor da Tel Aviv University. O artigo expõe, através das investigações sobre os judeus latino-americanos, como caso exemplar, o que Lesser entende como indispensável inovação para os estudos étnicos na América Latina – em suas palavras, os “Novos Estudos Étnicos”. Uma tentativa de revigorar as pesquisas através da abordagem em duas vias. Por um lado, compreender a etnicidade como uma peça que compõe mosaico mais amplo da identidade. Por outro, atentar para o fato de que o estudo sobre etnicidade deve incluir pessoas não vinculadas a instituições da comunidade. Segundo o historiador, as atuais pesquisas sugerem que a maioria dos membros de grupos étnicos na América Latina não é afiliada às associações étnicas locais – ou seja, as noções de “comunidade étnica” serão sempre enganosas quando incluírem apenas os afiliados organizados.
Em sua ótica, nas duas últimas décadas, os estudos sobre os judeus latino-americanos têm avançado dentro da perspectiva de que essa minoria faz parte dos mosaicos étnicos e culturais que constituem as sociedades da América Latina com suas identidades híbridas e complexas, relacionando-se de forma dinâmica com outros grupos na vida econômica, social, cultural e política – no referido artigo, Lesser destaca os estudos publicados em revistas especializadas de Nelson Vieira, “The Jewish Diaspora of Latin America”, Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies (2001), e Raanan Rein “Gender, Ethnicity, and Politics: Latin American Jewry Revisited”, Jewish History (2004), além do livro de Edna Aizenberg, Book and Bombs in Buenos Aires: Borges, Gerchunoff, and Argentine-Jewish Writing (2002). E o mais importante, pesquisas passaram a questionar o que as experiências dos judeus podem revelar sobre outros imigrantes e grupos étnicos e sobre o caráter geral das sociedades latino-americanas.
Com base na argumentação aqui brevemente sintetizada, Lesser defende que o estudo sobre os judeus latino-americanos pode ajudar a articular novas abordagens para os “Estudos Étnicos”, cujas propostas e críticas desafiadoras demandam atenção dos estudiosos do tema. No campo das proposições, assinala a necessidade de estudar as tensões entre etnia e nação. No âmbito das críticas, refuta as ideias presumidas de que as minorias étnicas não desempenham um papel significativo na formação de uma identidade nacional, de que o centro da identidade étnica coletiva deve sempre estar fora do país de residência e, finalmente, de acreditar que as comunidades étnicas são homogêneas ignorando divisões intra-étnicas muitas vezes replicadas por sucessivas gerações. A respeito das interpretações dos discursos produzidos pelos contemporâneos, observa que a pesquisa sobre etnicidade latino-americana compreende corretamente que a maioria dominante dos discursos é frequentemente racista, mas não atenta para a grande distância entre retórica e atividade social. O enfoque apenas no discurso tende a achar vítimas, muitas vezes sugerindo que o racismo representa uma estrutura absolutamente hegemônica. Na prática, porém, expressões racistas não impediram muitos grupos étnicos de penetrar nos setores dominantes, sejam políticos, culturais, econômicos ou sociais. Dessa perspectiva, a formação da identidade étnica aparece baseada principalmente na luta contra a discriminação e a exclusão. Os estudos que examinam o status social, por outro lado, chegam a uma conclusão diferente ao sugerir que o sucesso entre asiáticos, judeus, sírios e libaneses os colocam na categoria de “brancos”. Assim, Lesser sustenta que analisar os discursos racistas, juntamente com a mobilidade individual e de grupo, possibilita mudanças na compreensão da natureza entre opressão e sucesso.
O livro em questão pode ser apontado como resultante das propostas acima resumidas. Lesser concebe os imigrantes como protagonistas, e não apenas como vítimas, de um processo histórico no qual as definições étnicas e nacionais estão sempre em formação, pensando a afirmação das identidades como uma negociação constante pela qual os imigrantes se tornaram brasileiros. Para tanto, sem negar a importância dos estudos regionalizados e de grupos específicos de imigrantes, prefere situar as diferentes experiências regionais brasileiras em um diálogo nacional e, mais que isso, pensar os fluxos migratórios para o Brasil no amplo contexto da América.
Quando afirma tratar mais das semelhanças do que das diferenças – seja em relação à legislação de imigração, aos discursos das elites sobre a construção de identidades nacionais brasileiras ou às respostas e estratégias étnicas dos próprios grupos imigrantes perante a sociedade, o Estado e outros imigrantes -, tem como objetivo aprofundar e integrar as contribuições de obras que tratam os diferentes grupos imigrantes como inteiramente singulares. Comparando imigrantes em diferentes regiões de uma mesma nação, no caso o Brasil, Lesser advoga a tese de que a formulação das identidades é também condicionada pelo novo Estado que recebe os imigrantes e não apenas pela antiga nação de origem. Em suma, imigrantes de lugares distintos relacionam-se com o Brasil de maneiras semelhantes a despeito de suas diferentes origens. Definida a proposta, o historiador apresenta uma das questões norteadoras do livro, tendo por base a premissa de que a identidade e a etnicidade são sempre construções históricas, e não heranças recebidas como parte de algum tipo de essência cultural ou biológica: “De que forma imigrantes e descendentes negociaram suas identidades públicas como brasileiros?” (p. 20).
Colocando em outras palavras, ao estabelecer um diálogo entre imigração, etnicidade e identidade nacional ao longo do tempo, do espaço e entre grupos, estrutura-se a indagação-chave de seu estudo: “De que forma a brasilidade é construída?” (p. 23). Ainda dentro do campo das premissas, considera a identidade nacional um conceito fluido, sujeito a intervenções dos dois lados e historicamente mutável – daí sua afirmação de que a “assimilação (em que a cultura pré-migratória de um indivíduo desaparece completamente) foi um fenômeno raro, ao passo que a aculturação (a modificação de uma cultura como resultado do contato com outra) foi constante” (p. 25). Elementos abordados com grande perspicácia ao longo dos capítulos, quando abre espaço para análise do discurso elitista sobre a identidade nacional que se acreditava europeizada, branca e homogênea, transformando certos grupos de imigrantes em “desejáveis” ou “assimiláveis” enquanto outros eram “indesejáveis” ou “inassimiláveis”, além de ressaltar o papel ativo dos imigrantes recém-chegados ao desenvolverem formas bem-sucedidas de se tornarem brasileiros, alterando, inclusive, a ideia de nação dos grupos dominantes.
A história narrada por Lesser, porém, inicia-se antes, no período colonial, mais especificamente em 1808, com a chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Difícil escapar desse recorte temporal quando o debate diz respeito à autonomia da colônia, nomeadamente em relação à escravidão e à construção de alternativas à sua inevitável superação em termos econômicos, sociais, políticos e, no caso específico da pesquisa tratada no livro, da formação da identidade nacional. O três capítulos iniciais abordam essa temática, destacando as primeiras tentativas de trazer imigrantes até a imigração em massa que ganhou contornos nas últimas décadas do Oitocentos. Espaço de tempo no qual, segundo o historiador, definiram-se, para as elites brasileiras, os caminhos a serem perseguidos em relação à vinda dos imigrantes. Ou seja, concordava-se que o país deveria alterar a composição racial de sua população maculada pela importação de escravos africanos, mas duas grandes questões se impunham: como definir branquidão e como a mão de obra imigrante seria integrada ao contexto da escravidão. Para Lesser, a ideia do Brasil como uma “nação de imigrantes” surgiu exatamente da tensão entre aqueles que achavam que o imigrante deveria substituir o escravo na grande lavoura, sem alterar as hierarquias de poder, e aqueles que defendiam os imigrantes como pequenos proprietários, ligando a branquidão ao capitalismo e ao progresso.
Dentro desse contexto, Lesser analisa como a ideia do branqueamento – tão cara ao pensamento imigratório brasileiro, mas com significado bastante maleável, influenciada inclusive pelo ideário científico da virada do século XIX para o XX, quando a eugenia se apresentava como instrumental científico de melhoria de uma “raça” ou de um “povo” – transformou os imigrantes europeus – sejam alemães, portugueses, espanhóis e italianos (capítulo 4) – nos supostos agentes civilizatórios e de embranquecimento através da miscigenação com o elemento nacional. Uma série de fatores, como a insubordinação política e social e a resistência ao trabalho sistemático nas fazendas antes executados pelos escravos, levaram à busca de alternativas fora da Europa. A ideia de branquidão, portanto, teve que ser modificada, pois era componente importante para a formação da “raça” brasileira. O significado de branco mudou radicalmente entre 1850 e 1950, como bem observado por Lesser nos capítulos 5 e 6 em que trata dos grupos de imigrantes do Oriente Médio, do Leste Europeu e da Ásia. Em suma, a transformação da branquidão em categoria cultural é uma das principais áreas de análise do livro, permeando todo o texto.
No Epílogo, Lesser aprofunda a análise, já iniciada nos capítulos 5 e 6, sobre a política imigratória durante a Era Vargas, e avança para o período do pós-Segunda Guerra Mundial, caracterizados, sobretudo, pelas cotas imigratórias, pelo forte nacionalismo e pela mudança no discurso sobre a imigração, definido pelo historiador como “abrasileiramento”. A imigração europeia ainda era vista como estratégica para a modernização, porém agora baseada no desenvolvimento industrial, não mais na agricultura. Dessa forma, instituiu-se uma “política preferencial” de portas abertas aos imigrantes que se enquadrassem na “composição étnica” do povo brasileiro, mas selecionando “mais convenientemente em suas origens europeias” e proibindo africanos e asiáticos. Enfim, apesar das transformações no significado de “branquidão” ao longo do tempo, a política de imigração da década de 1940 não se diferenciou tanto daquela do século anterior, quando o branqueamento já era componente fundamental. Certamente, a questão da imigração judaica para o Brasil no período de Vargas e sua suposta política imigratória antissemita vem à mente de quem lê o livro. A contribuição do autor para esse debate, porém, não ganha luz em suas páginas – o tema foi tratado em O Brasil e a questão judaica, já mencionado -, mas cabem aqui as observações feitas em uma entrevista ao site Café História (http://cafehistoria.ning.com/), em 12 de novembro de 2013.
Segundo Lesser, perguntas como “o governo Vargas é antissemita ou não” não funcionam. As questões fundamentais são: por que o Governo Vargas, ou melhor, os líderes do Governo Vargas, criaram uma ordem secreta proibindo a entrada de semitas no Brasil? Por que não usaram a palavra ‘judeus’ e por que, mesmo assim, nos anos seguintes, mais judeus acabaram entrando legalmente no país do que nos anteriores? Em sua concepção, todos os pesquisadores estão de acordo que o governo promulgou ou criou uma ordem secreta dizendo que no Brasil não poderiam entrar semitas. Há consenso também em relação ao número de pessoas que entraram. Diante disso, formula uma nova pergunta: por que isso aconteceu? Suas pesquisas mostraram, por exemplo, como instituições de refugiados mundiais estavam negociando abertamente com pessoas importantes do governo Vargas, tal como Osvaldo Aranha e o próprio Getúlio Vargas. Existiam claramente uma negociação, uma reposta e uma emissão de vistos. Evidências que levam o historiador estadunidense a afirmar que as pessoas acreditavam em certas ideias antissemitas, mas sem que essa crença configurasse um antissemitismo extremado a ponto de matar judeus. A discussão, pondera Lesser, é, de certa forma, sobre linguagem, porque seria impossível dizer que os líderes do Brasil daquela época não tiveram ideias preconceituosas, mas as ideias de Vargas, Francisco Campos, Oliveira Viana, eram mais ou menos comuns naquele período. O mais importante, no caso do Brasil, foi a quantidade de judeus que entraram, e não as ideias discursivas dos dirigentes, pois eram iguais em quase todos os países. A grande diferença é que no Brasil entraram muitos judeus – neste fato reside a discussão capital.
Para finalizar, seria interessante retomar a comparação entre duas das “nações de imigrantes” – Brasil e Estados Unidos – que, na verdade, está muito mais implícita no livro do que explicitada em seus argumentos. Para Jeffrey Lesser, a relação entre imigração e identidade nacional no Brasil é diferente daquela nos Estados Unidos. Estes, ao contrário dos brasileiros, são extremamente otimistas, e sua elite acha que o povo norte-americano é o melhor do mundo e que os imigrantes, ao chegarem, não têm alternativa senão tornarem-se grandes americanos. No Brasil, os imigrantes sempre foram considerados como agentes do aperfeiçoamento de uma nação imperfeita, conspurcada pela história do colonialismo português e pela escravidão africana. Vista pela ótica da longa duração, a imigração ajudou as elites brasileiras a imaginar um futuro melhor do que o presente e o passado. Absorção e miscigenação são, portanto, elementos-chave para o entendimento do processo. A brasilidade foi e continua sendo construída através da incorporação progressiva da multietnicidade, pois nas palavras do historiador, o Brasil, ao contrário do que muitos pensam, é muito mais que uma mescla de brancos, negros e índios.
Paulo Cesar Gonçalves – Departamento de História da Universidade Estadual de São Paulo – UNESP, Assis, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
LESSER, Jeffrey. A invenção da brasilidade: identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração. São Paulo: Editora Unesp, 2015. Resenha de: GONÇALVES, Paulo Cesar. Uma “Nação de Imigrantes”. Almanack, Guarulhos, n.13, p. 221-225, maio/ago., 2016.
Em nome da palavra e da Lei: relações de crédito em Minas Gerais no Oitocentos | Rita de Cássia da Silva Almico
O mercado de crédito. Aparentemente um tema árduo e entediante, que é abordado por Rita de Cássia da Silva Almico de forma original e interessante. Emprestar e tomar emprestado são os dois lados de uma moeda que envolveu os mais diversos setores da sociedade, de fazendeiros, negociantes, pequenos comerciantes, carpinteiros a costureiras, e que, por isso, descortina relações sociais muitas vezes encobertas por análises centradas nos grandes agentes ligados ao complexo cafeeiro. Justamente por não ter por objeto o crédito bancário, mas o mercado de crédito como um todo, abrangendo as relações de empréstimo de dinheiro, bens e serviços, a autora analisa os diferentes aspetos que permitem vislumbrar as relações cotidianas da população de Juiz de Fora da segunda metade do século XIX. Essa é certamente a grande contribuição do livro Em nome da palavra e da Lei: relações de crédito em Minas Gerais no Oitocentos, resultado da tese de doutorado, defendida no PPGH da Universidade Federal Fluminense, em 2009.
O texto flui ao longo de cinco capítulos que escrutinam diferentes aspectos envolvidos nas relações de crédito em Juiz de Fora e seus distritos, buscando não apenas comprovar a existência de um mercado de crédito, mas também analisar suas diversas variáveis. A escolha desse município justifica-se pelo seu papel na região, a Zona da Mata, enquanto “capital regional” (p. 25), cidade destacada não apenas na Província (depois Estado) de Minas Gerais, mas um polo dinâmico integrante do complexo cafeeiro brasileiro, com fortes vínculos com o Rio de Janeiro. O período analisado é delimitado pelos anos de 1850 e 1906, corte cronológico que determinou outra contribuição importante da pesquisa de Almico, pois enfoca as relações de crédito inseridas em uma nova conjuntura institucional, ou seja, a vigência do Código Comercial Brasileiro (Lei n. 556, de 25/06/1850). Conjuntura que sofreu uma inflexão pela crescente intervenção do governo federal a partir do Convênio de Taubaté (1906).
A autora demonstra que Código Comercial contribuiu para a formação do mercado de crédito ao normatizar esse tipo de relação, fornecendo garantias aos credores e estabelecendo canais formais/legais para sua proteção. O recurso sistemático às execuções das dívidas e a celeridade do processo são evidências da eficiência dos mecanismos estabelecidos para a proteção dos credores. É nesse contexto que surge a principal fonte primária utilizada, as ações de execução de dívidas. Ao optar por essa fonte, a autora, conscientemente, limita sua pesquisa àquelas relações de crédito que, diante da inadimplência, foram cobradas judicialmente. Conclui-se que um grande número de relações de crédito escapou à análise, o que deixa várias dúvidas acerca do tamanho desse mercado, sobre os valores envolvidos e a proporção entre as ações de execução e a totalidade das relações de crédito no período estudado. Mas esse limite é sobrepujado pela riqueza de informações que a fonte oferece e por sua abrangência, levando a autora a tomar as relações judicializadas como referência representativa desse universo. Se os inventários post-mortem, com suas dívidas ativas e passivas, e os registros de hipotecas, fontes primárias também exploradas pela autora, oferecem uma visão estática da relação de crédito, as ações de execução de dívida permitem conhecer sua dinâmica, suas características e dar voz a todos os agentes nelas envolvidos. Dessa forma, surgem na análise variáveis como as taxas de juros praticadas, os prazos, as razões para a tomada da dívida e para a inadimplência, o papel das relações familiares e pessoais, os montantes emprestados, as categorias sociais de credores e devedores, a dispersão espacial das relações de crédito, entre outras. Essas ações abrangem relações de empréstimo de dinheiro, serviços e bens, incluindo as hipotecas, mas também aquelas sem esse tipo de garantias. A originalidade do trabalho se encontra em grande parte na sensibilidade de escolher e explorar competentemente essa fonte.
As informações constantes nas ações de execuções de dívidas, complementadas e contrapostas àquelas constantes nos inventários post-mortem e nas escrituras de hipotecas, para além da análise qualitativa, receberam um aprumado tratamento quantitativo, sintetizado em tabelas e gráficos. A análise desses dados permitiu à autora adentrar ao mundo das relações de crédito, não apenas corroborando sua hipótese de existência desse mercado regional de crédito em Juiz de Fora, mas também caracterizando de forma aprofundada a oferta e a demanda por crédito, assim como a trajetória dessa relação nas diferentes conjunturas econômicas do Brasil da segunda metade do século XIX.
A construção da obra traduz esse movimento, integrando a análise qualitativa e a quantitativa dos dados em constante diálogo com a historiografia econômica brasileira e estrangeira. O primeiro capítulo, intitulado “Dar crédito é acreditar: relações de crédito em uma sociedade do século XIX”, além de uma minuciosa análise da origem, da tramitação e implicação das ações de execução de dívidas, estabelecidas pelo Código Comercial de 1850, traz a definição dos conceitos essenciais à análise, tais como o conceito de mercado, de crédito e de circulação da informação. A autora segue a definição de crédito expresso pela historiadora portuguesa Maria Manuela Rocha (Viver de crédito: práticas de empréstimos no consumo individual e na venda a retalho. – Lisboa, séculos XVIII e XIX. Working Papers , Lisboa, GHES, n. 11, 1998), que abrange as trocas de bens e serviços, excetuando alguns casos, tais como dotes e heranças.
Contrapondo sua análise a várias outras que abordaram o crédito envolvendo bancos, comissários do café ou grandes “capitalistas” e relacionadas exclusivamente ao financiamento das atividades do complexo cafeeiro, a autora afirma que não irá utilizar “essa divisão em categorias sociais específicas” (p. 76), o que lhe permitiu visualizar a sociedade de Juiz de Fora nas diversas categorias declaradas pelos agentes, expondo a capilaridade do emprestar e do dever. Nesse sentido, o trabalho insere-se entre as recentes abordagens da historiografia econômica sobre o tema que trouxeram novas questões, tais como a importância e o peso das relações pessoais, os mecanismos informais de crédito, os aspectos não monetários dessa relação, etc.
O segundo capítulo, “Pedir e emprestar: o mercado de crédito em uma comunidade cafeeira”, analisa as diferentes conjunturas econômicas brasileiras na segunda metade do século XIX aos primeiros anos do século seguinte, com destaque para os movimentos decorrentes da crise da Casa Souto (1864) e a crise do Encilhamento, movimentos que tiveram impacto sobre as relações de crédito no Brasil. Demarcados esses momentos e à luz desses movimentos, a autora passa a apresentação do mercado de crédito de Juiz de Fora, apresentado dados gerais da documentação trabalhada, tais como número de processos, valores das dívidas e sua distribuição temporal e espacial, frequência com que os agentes emprestavam e tomavam emprestado, taxas de juros, prazos, garantias, etc. Trata-se de uma visão abrangente, mas que permite ao leitor compreender a pertinência da hipótese da autora, caracterizando, em linhas gerais, a existência de um mercado de crédito em Juiz de Fora e suas imbricações com o mercado nacional.
A partir do terceiro capítulo, “Regiões que emprestam e suas relações de crédito: a natureza das dívidas e a cobrança de juros”, a autora passa a caracterizar as relações estabelecidas nesse mercado: a dispersão espacial de credores e devedores, as taxas de juros praticadas e natureza das dívidas. A análise da distribuição espacial dos credores corrobora a hipótese do caráter regional do mercado de crédito nucleado pela cidade de Juiz de Fora, que abrange preponderantemente a Zona da Mata mineira, mas que se vincula fortemente com a Província/Estado do Rio de Janeiro, com destaque para a capital. Ao analisar a natureza das dívidas, a autora observa o predomínio de fazendeiros, negociantes e bancos nessas relações, as quais envolviam preponderantemente empréstimos de dinheiro (16,5% dos valores e 37% das transações), hipotecas (55,9% dos valores e 25,9% das transações) e letras (14,2% dos valores, representando 15,4% do total de transações creditícias). No entanto, a pesquisa traz à luz vinte e dois tipos de dívidas, revelando as várias formas assumidas pelo crédito, abrangendo o arrendamento de terras, compras de gêneros, jornais de escravos, vales, penhor, serviços prestados, compra e juros de debêntures, etc. Dados que demonstram a diversidade de relações envolvidas. Ponto interessante no trabalho foi demonstrar que as taxas de juros anuais variavam consideravelmente (de 4% a 30% a.a.), mas que predominava, em quase 50% dos contratos de crédito, a taxa de 12% a.a. Confrontando esses dados com os de outros historiadores, Almico observa que as taxas não eram elevadas, não havendo encontrado queixas em relação a cobranças extorsivas nas ações de execução de dívidas pesquisadas.
Os dois últimos capítulos tiveram como objeto de análise os dois polos da relação de crédito: o credor e o devedor. No capítulo “Se constitui meu devedor: credores e suas relações no mercado regional de crédito”, a autora analisa os agentes que emprestavam recursos, em diferentes aspectos, tais como categoria social, número de ações, valores transacionados, etc. O predomínio de emprestadores residentes em Juiz de Fora, seguidos daqueles do Rio de Janeiro, corrobora estudos que evidenciam a origem local dos recursos que financiavam o setor cafeeiro brasileiro, fato que em parte pode ser atribuído ao reduzido número e tardio surgimento de bancos que atendessem à demanda por crédito dos produtores de café. O predomínio de emprestadores residentes em Juiz de Fora corrobora uma das hipóteses da autora, a da existência de um mercado de crédito regional polarizado por aquele município e a importância da circulação de informações na região com uma variável que viabilizava a concretização desses negócios. O universo de credores era composto de 30 ocupações, dentre as quais se encontravam advogados, padeiros, carpinteiros, médicos, etc. Dentre os emprestadores, destacavam-se, em número e nos valores transacionados, aqueles que se identificaram com fazendeiros e negociantes. A participação destacada dos fazendeiros, segundo a autora, traduz a concentração de renda e da propriedade associada à sociedade brasileira e, particularmente, de uma região vinculada ao complexo cafeicultor, mas também permite verificar um transbordamento de recursos gerados pelo setor cafeicultor para outros setores da sociedade através das relações de crédito. Importante observar que os bancos se envolveram em um número pequeno de ações de execução de dívidas (1,93%) quando comparados aos fazendeiros e negociantes; no entanto, é relevante o elevado valor que suas transações, ocupando o terceiro lugar no conjunto do período (19,83%). As ações de execução movidas por bancos tornaram-se mais frequentes somente a partir da década de 1880, e tinham como devedores apenas fazendeiros e negociantes. Fato que evidencia que a maior parte dos devedores buscava recursos junto a outros agentes privados.
Os devedores foram analisados no quinto e último capítulo, “Devo que pagarei: devedores e suas relações no mercado regional de crédito”. Sendo as ações de execução de dívida abertas no município de domicílio dos devedores, esses eram quase que inteiramente residentes em Juiz de Fora e seus distritos (97,4% das ações), excetuando-se apenas aqueles que mudaram após a abertura do processo. Dentre esses destacavam-se os produtores de café, tomados como sinônimo de fazendeiros (62%). Interessante observar que o grupo de devedores era menos diversificado que o de credores; pois suas declarações abrangeram 21 ocupações diversas incluindo, entre outros, barbeiros, carpinteiros, marceneiros, um boticário e um operário. Como a fonte indica, se os fazendeiros se destacavam dentre os tomadores de empréstimos, eram aqueles que tiveram as dívidas executadas com maior frequência, as quais ocorreram predominantemente em conjunturas de crise econômica. Muito relevante é a evidência de que os fazendeiros buscavam empréstimos preferencialmente junto a outros fazendeiros. Da mesma forma, os que se identificavam como negociantes buscavam recursos prioritariamente junto àqueles de mesma ocupação. Fatos que demonstram que a boa circulação de informações, o conhecimento das condições de mercado e, infere-se, as relações pessoais desempenharam um papel importante nessas transações. O capitulo é encerrado com um estudo de caso, o de José Bernardino de Barros, Barão das Três Ilhas, produtor de café de um distrito de Juiz de Fora. Esse caso ganha relevância pela forma como seus credores se articularam em torno dos irmãos do devedor, dentre os quais, Gabriel Antônio de Barros, Barão de São José Del Rey, para reaver seus direitos. A autora demonstra que a ação dos irmãos, administrando as fazendas do devedor, foi pautada pelo desejo não apenas de preservar o patrimônio familiar, mas de garantir os direitos dos quarenta e dois credores.
Um ponto que causa estranhamento é o fato da filiação teórica-metodológica da autora não haver sido explicitada na introdução da obra. Como alertou José Jobson de Arruda (p. 19), na apresentação do livro, essa só é declarada na conclusão, ou seja, quando a autora explicita a influência de historiadores marxistas como Joseph Fontana, François Furet, Eric Hobsbawm e a sua filiação à história quantitativa e serial. O lidar com números, a construção de séries e o manejo de um grande volume de dados são, por si, tarefas árduas que exigem não apenas seleção criteriosa e crítica das fontes, mas também reflexão cuidadosa sobre os métodos empregados. Justamente por isso, sente-se falta de uma discussão mais profunda da metodologia utilizada e de seus pressupostos teóricos na introdução. No entanto, a leitura do livro supre essa lacuna inicial, desvendando um dos méritos da obra. Essa opção metodológica impõe ao historiador muitos cuidados para fugir à armadilha de simplesmente “ler” as tabelas e gráficos ou perder-se em análises baseadas na correção entre variáveis descoladas da realidade. Escapando à armadilha, tão em voga, de tomar o método como um fim em si mesmo, de fazer uma história “sem pessoas”, na qual os números são considerados necessários e suficientes para abrir a janela do passado, Almico busca “qualificar o quantificável” (p. 261). Ela pensa o passado com base nas evidências quantificáveis, as quais analisa em seus contextos para desnudar agentes e processos nem sempre presentes nos estudos sobre a Zona da Mata mineira ou o complexo cafeeiro. Assim, a autora construiu um livro interessante e original sobre um tema aparentemente árduo, revelando, para além de bancos, fazendeiros e grandes negociantes, relações que abrangiam diferentes categorias sociais até então desconhecidas como ofertantes e demandantes de crédito.
Marcia Eckert Miranda – Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
ALMICO, Rita de Cássia da Silva. Em nome da palavra e da Lei: relações de crédito em Minas Gerais no Oitocentos. Rio de Janeiro: 7 LETRAS, 2015. Resenha de: MIRANDA, Marcia Eckert. Entre devedores e credores: o mercado de crédito em Juiz de Fora, MG, 1850-1906. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 209-213, jan./abr., 2016.
A independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822) | João Paulo Pimenta
A desagregação dos impérios espanhol e português é objeto de vastíssima bibliografia. Vinculado a esse assunto, a independência das colônias americanas é um dos temas de estudo marcado por uma infinidade de debates historiográficos importantes. No caso específico do Brasil, um desses importantes temas historiográficos refere-se à dicotomia continuidade/descontinuidade com o passado colonial. Outros pontos importantes relacionam-se com a problemática da manutenção da unidade e com o debate sobre a recolonização do Brasil. A historiografia é abrangente, e boa parte dessas discussões remete ao século XIX.
O livro de João Paulo Pimenta, A independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822), é mais um trabalho importante que surge nesse vasto conjunto bibliográfico. O livro propõe uma mirada significativamente insinuante ao tratar esse momento histórico de uma perspectiva ampla, que insere diversos espaços e atores em um cenário maior de profundas redefinições. Esses espaços e atores são aqueles vinculados à “crise e dissolução do Império espanhol na América” e aos envolvidos diretamente na realidade luso-americana.
Pimenta procura estudar como a experiência hispano-americana condicionou a trajetória política dos sujeitos na América portuguesa num contexto mundial turbulento, marcado pela guerra na Europa e pela fragilização dos controles metropolitanos sobre as colônias americanas. Em seus termos,
as transformações políticas em curso na América espanhola durante a crise e dissolução do Antigo Regime constituíram um espaço de experiência para o universo político luso-americano, em grande medida responsável pelas condições gerais de projeção e consecução de horizontes de expectativas na América portuguesa, dos quais resultou um Brasil independente de Portugal, nacional, soberano, monárquico e escravista” (p. 31)
Nessa passagem, estão sublinhadas as duas categorias históricas concebidas por Reinhart Koselleck, a categoria de “espaço de experiência” e a de “horizonte de expectativas”. De fato, ao longo do livro, é possível notar grande unidade narrativa que demonstra como o universo de crise do império espanhol constituiu-se como um espaço de experiência para que os atores vinculados diretamente ao mundo luso-americano pudessem projetar um horizonte de expectativas para o império português. Em diversos momentos do livro, a associação é evidente, como, para citar apenas um exemplo, no caso da Revolução Pernambucana de 1817, quando a experiência hispano-americana explodiu internamente no espaço político luso-americano.
Organizado em quatro capítulos que seguem a lógica dos acontecimentos internacionais entre 1808 e 1822, Pimenta acompanha as vicissitudes que marcaram os impérios espanhol e português, ambos afetados diretamente pelo curso das guerras napoleônicas e por um ambiente revolucionário que facultava a mobilização e a propagação de ideias de transformação. A leitura do livro permite o entendimento de que o Brasil se inseria num contexto marcadamente revolucionário na qual a proximidade com os acontecimentos da América espanhola era determinante para a atuação dos sujeitos – fossem eles apoiadores da Corte joanina ou críticos dela.
No primeiro capítulo, intitulado “A América ibérica e a crise das monarquias (1808-1809)”, tem-se uma compreensão da situação crítica vivida por Portugal e Espanha e da aproximação das experiências desses dois países, que combatiam o mesmo inimigo. A integração econômica entre diversas partes do império português e a América hispânica, especialmente as relações comerciais com o Rio da Prata, e os acontecimentos revolucionários que se iniciam com a invasão napoleônica das metrópoles ibéricas oferecem as bases para a atuação da política externa da Corte joanina. Com o colapso das metrópoles ibéricas, Pimenta expõe as reações hostis na América espanhola ao novo governante francês e o surgimento de diversos projetos para enfrentar a crise, com ênfase para o “projeto carlotista”, que impulsionou disputas em diversos pontos do continente, como no Alto Peru (p. 74-75).
Esse primeiro capítulo apresenta passagens importantes que contextualizam a crise do início de século XIX na América e na Europa, com destaque para a ação da Grã-Bretanha, numa clara tentativa de inserir os acontecimentos americanos na chamda Era das Revoluções. O momento revolucionário fica evidente no fracasso do projeto carlotista incentivado pela Corte do Rio de Janeiro, que pretendia a fidelidade da América espanhola a um parente – Carlota Joaquina – do rei espanhol destronado. Nas palavras do autor, tal projeto
encontrava o mesmo obstáculo que qualquer outro encontraria: a impossibilidade de obtenção de uma unanimidade dentro de uma unidade em profunda crise de legitimidade e de representação política como era o Império espanhol, e que agora conhecia a explosão conflituosa de sua natural diversidade. Vimos como o ocaso dos tradicionais vínculos de coesão nacional fazia surgir dilemas e contradições sem solução, convertendo-se em revolucionário até mesmo aquilo que se pretendia conservador. Ao propor uma manutenção – que era ao mesmo tempo uma substituição – desses vínculos por meio da preservação da dinastia, o projeto carlotista tampouco escaparia a essas armadilhas. (p. 84)
O capítulo 2, “O Brasil e o início das revoluções hispano-americanas (1810-1813)”, apresenta a monarquia portuguesa já consolidada no Rio de Janeiro. Sua ideia central é simples. À medida que se aprofunda na América hispânica, a crise do colonialismo espanhol teria condicionado a política na América portuguesa. De acordo com Pimenta, foi crucial para o governo de D. João acompanhar de perto as notícias da parte convulsionada da América espanhola, especialmente porque, como já referido, os contatos entre uma parte e outra dos domínios ibéricos – muitos dos quais comerciais – eram frequentes, e o perigo de contágio, real. Uma vez mais, compreende-se por que o espaço de experiências das colônias espanholas constituiu-se como um horizonte de expectativas para a política joanina. Isso explicaria três elementos muito importantes abordados no capítulo. O primeiro diz respeito à intensa correspondência entre América e Europa travada pelas autoridades portuguesas. O segundo, à repercussão dos acontecimentos internacionais nos jornais que circulavam no Brasil, especialmente Gazeta do Rio de Janeiro, Idade do Ouro do Brasil e Correio Brasiliense. Por fim, à política interna do governo joanino como, por exemplo, os silêncios e lacunas nas notícias da Gazeta do Rio de Janeiro, a censura a periódicos e a perseguição feita pela Intendência Geral de Polícia do Rio de Janeiro aos franceses – inimigos naturais na Europa – e espanhóis – possíveis inimigos e vizinhos na América. Eles poderiam divulgar ideias perigosas e revolucionárias, segundo o ponto de vista das autoridades. Por isso, conclui Pimenta, “a situação dos domínios espanhóis claramente punha em xeque a própria possibilidade de sustentação da monarquia como regime político. O que notadamente não poderia deixar de dizer respeito ao Brasil, ainda mais porque tudo isso se passava em territórios a ele contíguos” (p. 186).
No terceiro capítulo, denominado “O Brasil e a restauração hispano-americana (1814-1819)”, tem-se um enfoque mais preciso na situação dos países ibéricos no contexto da nova ordem pós-napoleônica. O cenário de turbulência da América hispânica, marcada pela guerra civil – objeto de denúncia do Correio Brasiliense – e o acompanhamento e a atuação do governo de D. João frente à situação dramática dos vizinhos são dois pontos que o autor consegue muito bem correlacionar. Nesse contexto, as peças de um xadrez revolucionário se movimentam no tabuleiro do espaço Atlântico, tanto do lado de cá, na América, quanto do lado de lá, na Europa, com a nova ordem sendo construída a partir do Congresso de Viena. O difícil jogo de aproximação que se constrói entre os governos de Portugal e Espanha nesse contexto, a ameaça à segurança interna ao império português, as tensões geradas pelo governo de Buenos Aires e pela atuação de Artigas, a necessidade de proteção às fronteiras e a invasão da Província Oriental, tudo isso chama a atenção do leitor para a complexidade do quadro que se apresentava para o universo político português. Nesse sentido, cumpre destacar dois pontos: a caso da localidade de Marabitanas, às margens do rio Negro, na Amazônia, e a atuação de Lecor na Província Oriental. No que se refere ao primeiro ponto, destaca-se a proteção às fronteiras dos domínios portugueses em uma localidade distante do Rio de Janeiro. O aparente isolamento não esconde as intensas comunicações feitas pelo comandante do posto militar de Marabitanas, Pedro Miguel Ferreira Barreto, com o governador do Rio Negro, bem como a necessidade de negociações entre os portugueses nessa fronteira e os revolucionários na Venezuela. Com relação à Província Oriental, destaca-se o modo como atuou o militar Carlos Frederico Lecor na consolidação dos interesses portugueses na região sul do Brasil. Todo esse cenário de turbulências, guerra civil e ameaças de revolução preocupavam a Corte joanina, especialmente após o movimento revolucionário de 1817 em Pernambuco. Justificava-se, desse modo, o acompanhamento das transformações no mundo hispano-americano. Como escreve Pimenta, “o ano de 1817 agregou a um conhecido quadro de medos, tensões e descontentamentos um novo componente: a revolução, que agora se concretizava não somente na vizinhança, mas também no interior do Reino Unido, em Portugal e no Brasil”.
O momento crítico entre os anos de 1820 e 1822 é o assunto do último capítulo, “A Independência do Brasil e a América”. Esse capítulo representa uma continuidade com a tese central da pesquisa de Pimenta, qual seja, a de que a experiência da América espanhola conformou o universo político do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e também a experiência histórica dos partidários da independência do Brasil. Apesar disso, não houve uma determinação mecânica dos ritmos e caminhos entre o que ocorria nas independências da América hispânica e no Brasil. Nas palavras do autor, a experiência hispano-americana
desfrutará [no momento de crise final dos impérios ibéricos] de condições especialmente favoráveis de amplificação no mundo português, amadurecida e publicizada em proporções até então inéditas. Após ter introduzido, durante os anos anteriores, elementos determinantes para as modalidades desde então assumidas pelos projetos de futuro formulados no universo político luso-americano, essa experiência continuará a ser metabolizada no contexto vintista, para fazer despontar uma solução progressivamente hegemônica para a crise portuguesa, cuja perpetuação será o ‘motor’ da própria independência e constituição do Brasil como Estado autônomo, nacional e soberano.
A crise manifestada pela experiência hispano-americana e suas implicações para o universo político do Reino Unido se manifestará em diversos assuntos, como os debates acerca da permanência de D. João no Brasil e a incorporação da Província Cisplatina ao Reino Unido. A Revolução do Porto e a reunião das Cortes de Lisboa, episódios que acentuaram as diferenças entre os interesses portugueses e os do Brasil, são analisados de modo integrado ao quadro de ruptura definitiva que ocorria em diversos pontos da Américas espanhola. A crise apresenta aos brasileiros um leque de alternativas temerárias. Entre elas estavam a guerra civil – que no plano linguístico expressava-se pelos termos anarquia e revolução – e a independência.
Ao final da leitura, uma certeza. A de que é imprescindível inserir os acontecimentos ocorridos na América no quadro mais amplo da Era das Revoluções. Sem dúvida, as ocorrências estudadas por Pimenta podem ser classificadas como revolucionárias porque “tanto Portugal e Espanha quanto seus respectivos impérios ultramarinos integram uma mesma conjuntura política e econômica mundial, marcada pelo avanço do Império de Napoleão e sua subsequente submissão aos padrões reacionários legitimistas da Santa Aliança, bem como pela emergência da Grã-Bretanha na condição de potência hegemônica, alavancada pelo seu pioneirismo no desenvolvimento de padrões industriais de produção capitalista” (p. 462). A leitura do livro, sem dúvida, permite perceber essa perspectiva ampla.
Agregando valor aos grandes temas historiográficos sobre a independência do Brasil, o livro de João Paulo Pimenta será referência para qualquer estudo que revisite o processo de independência do Brasil quebrando as grades de ferro do nacionalismo metodológico.
Marco Aurélio dos Santos – Departamento de História da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
PIMENTA, João Paulo. A independência do Brasil e a experiênciaamericana (1808-1822). São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2015. Resenha de: SANTOS, Marco Aurélio dos. A independência das Américas na era das revoluções. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 214-217, jan./abr., 2016.
African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World | Ana Lucia Araujo
Quando este novo livro organizado pela historiadora Ana Lucia Araujo chegou em minhas mãos, o momento não poderia ser mais oportuno. Eu estava ainda estarrecido pela existência, em um shopping de classe alta de São Paulo, de uma loja de roupas femininas de alta costura chamada “Sinhá”. Semanas antes, eu havia fotografado um prédio, localizado em outro bairro também de classe alta da mesma cidade, com o nome “Edifício Senzala”. Os exemplos não param. Mas o que nos interessa nestes casos é o fato de que o passado escravista ainda é mote de controversas elaborações da memória pública e coletiva e, como demonstra o argumento central do livro em questão, isso representa em grande medida a forma como se tem considerado a presença e a participação da população negra na história do Brasil.
Mas o interesse é, sobretudo, historiográfico. African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World é uma síntese de como os temas do legado africano, da escravidão e do pós-abolição têm sido pensados e discutidos face às reformulações do espaço público e da memória coletiva das populações negras no Atlântico Sul. Escrita para o leitor em língua inglesa, a obra, porém, é resultado do trabalho de pesquisadoras e pesquisadores da Europa, Brasil e Estados Unidos que, a partir de diferentes perspectivas e diversos temas, privilegiam o Atlântico Sul em suas análises.
A reunião de artigos que constitui a obra possui como fio condutor os significados que a escravidão de africanos e seus descendentes imprimiu nas sociedades contemporâneas. O tema é central na obra de Ana Lucia Araujo, historiadora brasileira radicada nos Estados Unidos, onde leciona História da América Latina e do Mundo Atlântico, na Howard University. Em obras como Shadows of the Slave Past: Memory, Heritage, and Slavery [1] (2014) e Public Memory of Slavery: Victims and Perpetrators in the South Atlantic [2] (2010), Araujo tem desenvolvido estudos acerca da presença do passado escravista nos debates sobre patrimônio, políticas de reparação, reconhecimento social e racismo. Autora de dezenas de artigos e capítulos em livros, a autora organizou outros três títulos sobre o assunto [3].
Em African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World, a organização dos 10 capítulos nos quais a temática ganha corpo e expressão resulta em uma leitura que evidencia experiências históricas e sociais compartilhadas nas duas margens do Atlântico Sul (Brasil e África), mas sem perder de vista as especificidades regionais e dos suportes institucionais a que se referem (museus, patrimônio cultural, espaço público etc).
No primeiro capítulo, “Collectionism and Colonialism: the Africana Collection at Brazil’s National Museum (Rio de Janeiro)”, a historiadora Mariza de Carvalho Soares demonstra o importante papel que a lei 10.639 (que torna obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileiras no currículo oficial), sancionada em 2003, assumiu para o crescimento do interesse na reformulação e reconceitualização das coleções de obras africanas nos museus brasileiros. Partindo da experiência do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, a historiadora aponta a profunda relação da criação das coleções africanas com o tráfico negreiro e com a ocupação colonial na África de fins do século XIX, como ocorre em diversos outros museus do mundo.
A instituição museológica é também tema do capítulo 9, “Preserving African Art, History and Memory: The AfroBrazil Museum”, da historiadora da arte Kimberly Cleveland. Neste caso, a autora apresenta o processo de constituição do Museu AfroBrasil, em São Paulo, procurando compreender o seu contexto de criação. Por meio da análise da exposição permanente do museu, conclui que a instituição assume o papel de revisitar a história oficial do Brasil, evidenciando a importância da população negra para a arte, memória e cultura brasileiras. O trabalho de pesquisa e educação desenvolvidos no museu, somado ao fato de esta ser a maior instituição de preservação da cultura africana e afro-brasileira é, do ponto de vista de Cleveland, um indício das mudanças governamentais em relação ao tema. O grande ganho do capítulo é aliar uma investigação cuidadosa da história da instituição com a análise dos processos históricos mais estruturais do Brasil, iluminando as questões levantadas com entrevistas de profissionais do museu (como o atual diretor Emanoel Araújo) e com interpretações do espaço expositivo.
Outro tema de grande destaque na obra é a cultura visual, questão central de dois capítulos. “Race and Visual Representation: Louis Agassiz and Hermann Burmeister” (capítulo 2), de Maria Helena Machado, se volta para as coleções fotográficas dos naturalistas oitocentistas que possuem como modelos mulheres e homens africanos, registradas durante a Expedição Thayer (1865-1866). A historiadora situa essa produção visual no contexto de desenvolvimento das ciências anatômicas e da história natural, que desde o século XVIII incrementam os estudos que relacionam tipos físicos e organizações sociais, a fim de criar hierarquias para a diversidade humana. As comparações entre esculturas que representam o ideal clássico de beleza (de origem greco-romana), com as fotografias registradas no Brasil, foram comuns após o retorno de Agassiz aos Estados Unidos, onde conferiu diversas palestras sobre o assunto. Desse modo, a representação das “raças” humanas nas fotografias, serviu para reforçar ideias de “raças puras”, característica central de políticas segregacionistas.
Do mesmo modo, o capítulo 3, “Counterwitnessing the Visual Culture of Brazillian Slavery”, do historiador da arte Matthew Francis Rarey, demonstra como a representação dos castigos e das punições de escravizados, recorrentes nas obras de artistas europeus do século XIX, como Debret e Rugendas, criaram códigos visuais que ajudam a compreender a violência como um elemento fundacional da escravidão brasileira. Entretanto, o que Rarey procura demonstrar é a relação entre a cultura visual da violência com as rebeliões de escravizados recorrentes no período. O capítulo evidencia a cultura visual como um testemunho da sociedade que, assim como outros documentos, deve ser lido a contrapelo, a fim de se compreender a ação dos sujeitos subalternizados.
Os dois capítulos seguintes tratam das permanências culturais de práticas de matrizes africanas na atualidade. Em “Angola in Brazil: The Formation of Angoleiro identity in Bahia”, capítulo 4, Mathias Röhring Assunção examina a influência centro-africana para a cultura e práticas religiosas afro-brasileiras. Inicialmente Assunção discute os significados do termo angola, como no caso da capoeira que, seguida dessa denominação, é associada a certa pureza cultural, ao contrário do que ocorre com o Candomblé Angola, associado a mistura de culturas. As diferentes concepções da herança angolana ajudam a compreender como as identidades africanas se reconstruíram a partir da experiência do tráfico e sobrevivem até os dias atuais, dando sentido para lutas em prol do reconhecimento de patrimônios e práticas constitutivas da cultura afro-brasileira.
No quinto capítulo, “Memories of Captivity and Freedom in São José’s Jongo Festivals: Cultural Heritage and Black Identity, 1888-2011”, as historiadoras Hebe Mattos e Martha Abreu examinam a atuação de diferentes grupos afro-brasileiros da região do Vale do Rio Paraíba para a recuperação das práticas culturais africanas e afro-brasileiras, muitas delas remontando ao período da escravidão. Neste caso, a prática do jongo, ou caxambu, é colocada em evidência, relacionando-a com a presença de centro-africanos na época do tráfico negreiro. Palavras de origem Kikongo e Kimbundu, as danças circulares, a presença do fogo, entre outros elementos, atestam as transformações das práticas culturais e como elas fundamentam inclusive a atuação política de grupos pelo reconhecimento do patrimônio afro-brasileiro. As entrevistas realizadas pelas historiadoras com descendentes de escravizados da região, constituem experiência quase única na produção historiográfica brasileira, e são importantes documentos para a compreensão das transformações socioculturais da presença africana no Brasil.
Os espaços e as territorialidades aparecem como outro recorte temático aparente na obra, em três capítulos. O capítulo 6, “From Public Amnesia to Public Memory: Rediscovering Slavery Heritage in Rio de Janeiro”, de André Cicalo, discute o processo de memorialização do Cais do Valongo, a partir da descoberta, em 2011, das ruínas do antigo cais na região portuária da cidade do Rio de Janeiro. No Valongo, desembarcaram milhares de africanos, principalmente entre os anos 1758 a 1831, constituindo este como um espaço importante de memória da escravidão. O capítulo procura situar a importância da atuação de diversos ativistas e coletivos negros frente às instâncias municipais de patrimonialização.
Os portos de origem dos africanos desembarcados no Valongo eram situados sobretudo na região da atual Angola, como Luanda e Benguela. Estes espaços são objetos de reflexão de Marcia C. Schenck e Mariana P. Candido no capítulo 7, “Uncomfortable Pasts: Talking about Slavery in Angola”. As autoras investigam os modos pelos quais o tráfico negreiro e a escravidão se relacionam com a memória das populações locais, e como essa memória foi reelaborada diante das turbulências sociais e conflitos vividos pelas guerras anticoloniais e civil, entre os anos de 1961 e 2002. O capítulo realiza um exercício de comparação entre o discurso sobre este passado apresentado no Museu da Escravatura e aquele compartilhado entre as pessoas que vivem na região, por meio de entrevistas realizadas ao longo da pesquisa. O tema é de importância central, tendo em vista que a historiografia sobre o tema pouco se debruçou sobre o impacto da escravidão e do tráfico para a constituição da esfera pública das sociedades africanas.
Por outro lado, a cientista social Patricia de Santana Pinho examina, no capítulo 8, a criação e as transformações das rotas turísticas baseadas no patrimônio africano na Bahia, região de desembarque de milhares de africanos ao longo do período do tráfico negreiro. Em “Bahia is a Closer Africa: Brazilian Slavery and Heritage in African American Roots Tourism”, Pinho evidencia a construção de uma imagem pública da Bahia que, associada à diáspora africana e a um sentimento de africanidade, não dá ênfase, entretanto, aos locais historicamente associados a escravidão. Este apagamento do passado escravista, presente nas rotas turísticas baianas é, segundo a autora, um indício da ainda presente ideologia da democracia racial na indústria do turismo brasileiro.
O décimo e último capítulo, “The Legacy of Slavery in Contemporary Brazil”, da socióloga Myriam Sepúlveda dos Santos, trata da memória coletiva da escravidão no Brasil, destacando o modo pelo qual o patrimônio da escravidão e a própria população afrodescendente têm sido representados no espaço público. A autora analisa os discursos presentes em estudos sobre a escravidão, desenvolvidos no Brasil até fins da década de 1970, demonstrando como a miscigenação e a democracia racial ainda constituíam as narrativas oficiais, que acabavam por inviabilizar a experiência da escravidão como violenta e traumática para as populações descendentes de africanos escravizados. Isso começa a mudar a partir de 1980, quando os estudos passam a enfatizar a agência de africanos e afrodescendentes, destacando o passado traumático e as violações dos direitos humanos, que ensejam as discussões sobre políticas reparatórias. O capítulo final da obra apresenta as dificuldades que a escravidão legou para a constituição de uma memória coletiva que leve em conta o trauma histórico e, por isso, tem o tom de uma conclusão geral para os assuntos tratados nos capítulos anteriores, que possuem essa consideração como fio condutor.
A interdisciplinaridade, a variedade de objetos de estudos, a diversidade de abordagens e as diferentes experiências de pesquisas, situadas em culturas historiográficas polifônicas, são elementos que fazem desta uma obra de fundamental leitura para a compreensão dos difíceis caminhos que a memória da escravidão e do passado africano encontraram e encontram para as sociedades contemporâneas. O olhar diacrônico, atento ao mesmo tempo aos complexos processos históricos – com suas tensões, conflitos e projetos contingentes – e às elaborações da memória, da escrita da história e das narrativas coletivas do presente, é o grande ganho do livro.
Se, como afirma Paul Gilroy, o atlântico negro pode ser definido pelas “formas culturais estereofônicas, bilíngues ou bifocais originadas pelos negros dispersos nas estruturas de sentimento, produção, comunicação e memória” [4], ainda é necessário compreender como essas experiências atlânticas foram elaboradas frente à escravidão e como suas reelaborações posteriores, por meio da constituição da memória coletiva, do patrimônio e do espaço público, imprimiram conflitos ainda presentes nas sociedades contemporâneas. Este livro é um grande avanço nesse sentido, principalmente por destacar o Atlântico Sul, espaço muitas vezes deixado de lado pelos estudiosos do mundo atlântico.
African Heritage and Memories of Slavery deve ser lido como um esforço de sistematização dos temas que envolvem a memória da escravidão e a presença africana no Atlântico, mas também como uma obra provocativa de novos estudos e reflexões. A qualidade dos textos e das pesquisas, e a vasta produção bibliográfica dos autores, especialistas em seus temas, tornam urgentes e necessárias a tradução e publicação da obra em língua portuguesa, considerando que cumpre com excelência o seu papel de apresentar ao público os complexos rumos da nossa história, entrelaçada e enraizada com a história da África e da escravidão.
Notas
1. Araujo, Ana Lucia. Shadows of the Slave Past: Memory, Heritage, and Slavery. New York: Routledge, 2014. 268 p.
2. Idem. Public Memory of Slavery: Victims and Perpetrators in the South Atlantic. Amherst, NY: Cambria Press, 2010. 502 p.
3. Politics of Memory: Making Slavery Visible in the Public Space. New York: Routledge, 2012. 296 p.; Paths of the Atlantic Slave Trade: Interactions, Identities and Images. Amherst, NY: Cambria Press, 2011. 476 p.; e Living History: Encountering the Memory of the Heirs of Slavery. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 290 p.
4. GILROY, Paul. O atlântico negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo: Editora 34, 2012, p. 35.
Rafael Domingos de Oliveira – Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP – São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
ARAUJO, Ana Lucia. African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World. Amherst, NY: Cambria Press, 2015. Resenha de: OLIVEIRA, Rafael Domingos de. Passados feridos: legado africano e memória da escravidão. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 218-222, jan./abr., 2016.
Una Nación para la Iglesia argentina. Construcción d el Estado y jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XIX | Ignacio Martínez
El sugestivo título del libro de Ignacio Martínez hace que el lector especializado realice una primera comparación con la conocida obra del historiador argentino Tulio Halperín Donghi, Una Nación para el desierto argentino, y trate de adelantarse e inferir un conjunto de reflexiones. Una de ellas refiere al “delicado contrapunto” entre dos temas dominantes, la construcción de una nueva nación y la construcción de un Estado. Halperín analizó el proceso de transformación de una Argentina sin centro a un Estado nación consolidado y Martínez estudia ese mismo proceso en forma paralela a la conformación de la Iglesia católica, planteo que ha tomado fuerza en los estudios sobre religión de los últimos años. El autor incorpora la variable eclesiástica como parte de la construcción de los poderes políticos en el Río de la Plata desde una escala de análisis provincial y estudia de las relaciones jurisdiccionales a nivel supraprovincial. Como explicita Martínez, la “Nación” a la que refiere el título del libro, es un espacio jurisdiccional con una autoridad capaz de dirimir los conflictos entre las autoridades locales y de fijar reglas generales para evitarlos. Desde esta perspectiva la “iglesia argentina” de la primera mitad decimonónica constituía un conjunto de diócesis que los distintos gobierno postrevolucionarios intentaron controlar.
Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) -principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina-, Martínez ha orientado sus investigaciones sobre el pensamiento ultramontano en el siglo XIX y su relación con la construcción del régimen republicano en Argentina. La obra que reseño es el resultado de la tesis doctoral del autor y se encuentra dentro de los trabajos que confieren nuevos aires a los estudios sobre religión en la Argentina. Más de quinientas páginas en las que se despliega un aparato erudito impecable, acompañado de una escritura clara y ordenada de un proceso por cierto enredado y espinoso. La investigación giró en torno a tres grandes líneas de reflexión. La primera tiene que ver con la importancia de dotar a la Iglesia de historicidad, esto es, poder descomponerla analíticamente en diversas dimensiones (económica, política, cultural, ideológica, etc.), y comprender que cada uno de esos planos comparte ciertos rasgos con la sociedad de la que forma parte. La segunda línea de reflexión refiere a los estudios tributarios en gran parte de la sociología de la religión -José Casanova, David Martin, Luca Diotallevi, entre otros – que proponen repensar la secularización como un proceso de recomposición de lo religioso en la sociedad. Una secularización que también implica pensar en diferentes dimensiones y que Martínez privilegia la institucional y política. En esta línea el autor retoma el concepto de laicización para explicar el proceso en el que las instituciones fundamentales de gobierno y de reproducción social se desprenden de manera gradual de los elementos religiosos. En el Río de la Plata del siglo XIX la religión no desapareció de la vida política frente al avance del poder civil sino que se recompuso. La Iglesia católica dejó de constituir el argumento último de legitimación de las instituciones políticas sin dejar de ser considerada necesaria para consolidar una moral cívica. Lejos de estar frente a una paradoja o contradicción, esa fue una de las características de la secularización en el territorio argentino. A su vez, Martínez utiliza una noción ideal-típica construida por el sociólogo francés Jean Baubérot, “umbrales de laicización”. Dicha conceptualización hace referencia al establecimiento de límites, pisos de secularización, materias que se ponen en discusión, se avanza sobre ellas sin posibilidad de retroceso. A partir de los umbrales “es posible evaluar las posiciones en disputa en un pie de igualdad, sin ubicar a una de ellas como triunfadora de antemano” (p.27).
La tercera línea de reflexión se relaciona con los nuevos estudios sobre surgimiento del Estado moderno. De manera específica aquellos de índole jurídica que han cuestionado la imagen de un centro monopolizador consumado en el monarca absoluto. Y en su lugar plantearon una pluralidad de jurisdicciones geográfica y socialmente superpuestas, cuyos pilares funcionaban según reglas y valores diversos. De manera específica para el Río de la Plata, Martínez retomó los trabajos de José Carlos Chiaramonte en los que este historiador refutó dos visiones enfrentadas que daban por sentado la influencia unívoca del iluminismo francés o de la tradición pactista española en los revolucionarios rioplatenses. En lugar de analizar el proceso revolucionario como una sucesión de modelos de pensamiento, Chiaramonte planteó la coexistencia de distintas tradiciones y formas de identidad política. A su vez, un conjunto de historiadoras como Marcela Ternavasio y Noemí Goldman profundizaron los análisis sobre formas de identidad, discursos y prácticas formales e informales de la política. A partir de sus investigaciones sabemos que existió una coexistencia de elementos pertenecientes a la tradición española junto con nuevas concepciones sobre el origen de la soberanía y las formas de ejercerla. Precisamente Martínez destaca que dichos trabajos señalaron la importancia de la escala provincial en el estudio del proceso de transformación de un sistema político de antiguo régimen a una república federal.
Ubicua, inasible, embrionaria, nebulosa, difícil de identificar como un actor concreto, Martínez caracteriza con esos términos a la Iglesia “argentina” de comienzos del XIX. El estudio de los conflictos provocados por los ajustes que sufrieron las jurisdicciones civiles y eclesiásticas en el Río de la Plata, entre 1810 y 1865, permite materializar y observar las diferentes aristas que tuvo la relación Iglesia-Estado. Una relación construida a las sombras de la transición entre dos formas políticas diferentes y con distintas fuentes de legitimidad. Desde esta perspectiva, Martínez encuentra un eje de análisis crucial, en sus palabras “la piedra de discordia”, que guía toda su obra: el derecho de Patronato. Entendido este último no como la puja entre Iglesia y Estado, sino como una manifestación de aquella transición. El Patronato constituyó un atributo de la soberanía antes y después de 1810, pero el problema estuvo en el significado de la nueva soberanía. Luego de la súbita desaparición de los procedimientos coloniales para el nombramiento de obispos (Patronato indiano), sobrevino un período en el que la incomunicación con Roma impidió asegurar criterios de selección confiables. Sumado a ello, el territorio argentino se encontraba en un momento caracterizado por la desarticulación política e institucional. Los Estados provinciales emergieron como las unidades político-administrativas más estables, y reivindicaron el ejercicio del patronato. Martínez desarrolla su explicación a partir de un conjunto de hipótesis sumamente sugestivas: la decisión por parte de los gobiernos posrevolucionarios de conservar el derecho de patronato condicionó el éxito de los ensayos estatales del período. A su vez, la necesidad de conservar el derecho de patronato por parte de las provincias limitó su independencia y facilitó la injerencia de poderes supraprovinciales. De esta manera, el patronato nacional debió consolidarse frente a dichos poderes provinciales y frente a la Santa Sede que se encontraba en pleno proceso de “romanización”.
El libro está estructurado en tres partes de tres capítulos cada una que responden a la periodización elegida, 1810-1820, 1820-1852 y 1852-1865. En cada una de estas tres etapas Martínez estudia por un lado, la normativa implementada y los conflictos que ello acarreó y por el otro, los argumentos y manifestaciones que emergieron para defender o refutar cada una de dichas normas. El autor explica la gestación de la relación Iglesia-Estado a partir de la coexistencia de engranajes antiguos y nuevos. En este sentido, la persistencia de la figura del patronato y sus modificaciones dan cuenta de los rasgos que adquirió el proceso de laicización y de las dimensiones territoriales necesarias la construcción de poderes políticos viables.
La primera etapa estuvo signada por el eco de la tradición borbónica, que asignaba al Estado un papel decisivo en la definición de los objetivos de cambio económico-social y un control preciso de los procesos orientados a lograr dichos objetivos. El autor plantea una continuidad inconsciente de una tradición administrativa e ideológica. A comienzos del siglo XIX todas las instituciones estaban atravesadas por la religión, por su sensibilidad, y sus normas. Martínez, desde la perspectiva de los estudios que refutan la idea de una iglesia colonial monolítica, da sentido a una entidad religiosa en un momento en que perdió el lugar legítimo que tenía durante el antiguo régimen. El origen revolucionario y secular del nuevo poder soberano entró en conflicto con los fundamentos del patronato que suponían la autoridad política católica.
La caída del Directorio en 1820 abrió la segunda etapa en la que emergieron tres poderes nuevos con pretensiones sobre las iglesias rioplatenses. Por un lado, los gobiernos provinciales y por el otro, dos poderes supraprovinciales (Roma y Juan Manuel de Rosas). Los tres convivieron, pero cada uno con sus propios intereses, escalas jurisdiccionales y diferentes fuentes de legitimidad. Los gobiernos provinciales fueron la única autoridad patronal luego de 1820, y cada uno se hizo cargo de sus propias estructuras eclesiásticas -hecho que en muchos casos implicó reformas. A su vez, Roma entró en escena con el objetivo de tomar contacto con las iglesias sudamericanas para aumentar su injerencia en los nombramientos de autoridades diocesanas. El análisis que el autor realiza de la conflictiva creación de obispados como el de Cuyo por ejemplo, muestra la multitud de actores que intervinieron, el tiempo que implicó, y cómo el propio nombramiento de los titulares diocesanos reflejó novedades que alteraron las formas de patronato. La designación de obispos por parte del papa sin la participación de los gobiernos provinciales y la creación de una nueva jurisdicción como el Vicariato Apostólico generaron varias rispideces. Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y encargado de las Relaciones Exteriores del resto de las provincias, Juan Manuel de Rosas, se adjudicó potestades de gobierno sobre las iglesias y ofició de mediador entre la Santa Sede y las iglesias locales. En palabras de Martínez, Rosas cumplió la función de “Protopatrono Confederal”.
La tercera etapa estuvo signada por la cristalización del vínculo Iglesia-Estado en la Constitución nacional de 1853. Martínez analizó en profundidad las discusiones y los alcances de los artículos relacionados directamente con la religión, a saber el sostén económico, la libertad de cultos y el ejercicio del patronato nacional. En primer lugar, la declaración sobre el sostén del culto involucró mucho más que un vínculo económico. Aunque hubo posiciones enfrentadas, tanto en 1853 como en 1860 cuando Buenos Aires revisó el texto constitucional, las argumentaciones más extremas se mantuvieron dentro de los cánones discursivos. Es decir, aquellos actores que se negaban a cristalizar en la Carta Magna la separación entre Iglesia y Estado, no avanzaron contra la libertad de cultos. Por su parte, quienes bregaban por despojar a las instituciones políticas de todo elemento religioso, tampoco llegaron a suspender la asistencia económica al culto católico. En segundo lugar, la continuidad del derecho de patronato muestra que su ejercicio adquirió importancia como instrumento de gobierno. Más aún cuando la Iglesia católica mantenía funciones de gobierno primordiales, como el registro de nacimientos, la sucesión de sus patrimonios y el destino de sus cuerpos. Martínez culmina su investigación en 1865, momento en que Buenos Aires fue elevada a la categoría de Arquidiócesis, hecho que le significó la independencia de Charcas pero reforzó el ejercicio del patronato nacional. De todas maneras, el lugar de la religión en el espacio político todavía estaba por definirse aunque las reglas del juego ya estaban trazadas.
Una obra sin lugar a dudas de consulta obligada para aquellos investigadores decimonónicos. Un valioso aporte a partir del cual toma cuerpo el “incómodo maridaje entre soberanía republicana y potestad religiosa” (p.278). El libro deja varios caminos e interrogantes sugestivos. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las implicancias del Patronato en relación con las actividades misioneras que emergieron con fuerza a partir de la década de 1850? Si las misiones tuvieron su razón de ser con el Patronato indiano, entonces ¿qué funciones cumplieron en un contexto republicano? ¿Cómo repercutió en términos de soberanía el hecho de que dichas misiones las llevaran a cabo miembros del clero regular que, además de ser la mayoría inmigrante (italianos y franceses), respondían a autoridades externas? Incluso cuando la principal fuente de legitimidad de las misiones provino de la propia Constitución Nacional de 1853, ¿cómo fue el proceso de reacomodamiento a partir de dicho “mandato constitucional” en la ecuación conformada por el sostén del culto católico, la libertad de culto y el ejercicio del Patronato nacional? A su vez, ¿cuáles fueron los alcances de la “romanización”? Es decir, ¿en qué medida la pretendida centralización de la Santa Sede, a partir de Propaganda Fide, influyó en el desarrollo de las actividades misioneras del territorio argentino y en las relaciones con las autoridades civiles? Sin dudas, un conjunto de interrogantes que aportan significativamente a los debates sobre la construcción del Estado republicano y federal.
Rocío Guadalupe Sánchez – Instituto de Estudios Socio Históricos Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. E-mail: [email protected]
MARTÍNEZ, Ignacio. Una Nación para la Iglesia argentina. Construcción del Estado y jurisdicciones eclesiásticas en el siglo XIX. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 2013. Resenha de: SÁNCHEZ, Rocío Guadalupe. Iglesia, soberanía nacional y patronato en la construcción del Estado argentino del siglo XIX. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 227-230, jan./abr., 2016.
História Mínima de Chile | Rafael Sagredo Baeza
Intitulada História Mínima de Chile, a obra de Rafael Sagredo Baeza propõeuma interpretação atual dos processos que auxiliaram na constituição da história do Chile, estabelecendo um panorama que se inicia com uma discussão acerca daqueles a que chama de “os primeiros americanos” e que se estende até a retomada da democracia após o regime militar chileno e a ditadura de Augusto Pinochet. Dotada de um virtuosismo informativo e descrições minuciosas e extremamente pertinentes para a narrativa que deseja empreender, a História Mínima de Chile é uma produção de imenso fôlego que condensa uma perspectiva de larguíssima duração acerca das personagens e dos eventos que figuram a história chilena.
A obra de Rafael Sagredo divide-se em catorze capítulos, além da apresentação e de um epílogo, a que o autor nomeia Colofón. Na apresentação, Sagredo expõe que seu intuito consiste em propor uma distinta explicação dos processos essenciais que, de alguma forma, teriam corroborado com a paulatina edificação de uma história propriamente chilena do ponto de vista sumariamente nacional. Em menção a Claudio Gay, naturalista francês autor da primeira história do Chile, datada de 1839 – chamada por Baeza de “a monumental” História Física y Política de Chile -, o autor afirma que a necessidade de que fosse escrita uma história do Chile era fortíssima em meados do século XIX, pois que àquela altura era urgente “constituir uma comunidade imaginada, entre outros meios, mediante a invenção de uma tradição” (p.12). Tanto isso é legítimo, que a própria noção de América Latina teria sido formulada três anos antes da publicação da obra de Gay pelo viajante francês Michel Chevalier, como enunciam diversos estudos sobre o tema.
Em “Los Habitantes de lo más hondo de la tierra”, capítulo que inicia a obra, Rafael Sagredo trata do Chile por meio do vocativo “el último Rincón del continente”, em apelo ao aspecto periférico em termos geográficos que, de acordo com o autor, justifica muitas das especificidades e peculiaridades da trajetória chilena que são explicitadas no desenrolar da obra. Em “La Conquista de América y sus Protagonistas”, bem como em “Chile, finis terrae imperial“, o autor trata da expansão europeia e do estabelecimento dos chamados conquistadores espanhóis em território chileno, discorrendo principalmente acerca do “afã de glória” e do “espírito aventureiro dos conquistadores espanhóis” – traços que, segundo Baeza, também constituíram fortes estímulos para a conquista, pois que os homens que a empreenderam desejavam relacionar seus nomes a “grandes descobrimentos ou com a origem de algum povo”; algo que, para o autor, desencadeou um processo cujos resultados marcaram de forma notável a sociedade que dele se originou.
No capítulo seguinte, intitulado “Chile colonial, el jardín de América”, Sagredo parte da ocorrência da chamada Guerra de Arauco para estabelecer um ponto de mudança no fluxo da trajetória narrativa, pois que a vitória araucana no conflito possibilitou a emergência de novas situações no contexto colonial que, segundo ele, permitiram “que se realizasse plenamente os processos econômicos, sociais e culturais”, dado que agora adquiriam sua real significação (p.70). Nesse capítulo, se faz patente uma das prerrogativas apresentadas pelo autor na apresentação da obra: a de que a historiografia de “praticamente qualquer nação” (p.12) engendra uma propensão a exaltar os fatos que narra, tornando qualquer história nacional uma história predominantemente épica – aspecto interpretativo que será retomado nesta resenha.
O capítulo “La Sociedad Mestiza” apresenta uma perspectiva acerca dos perfis sociais em pauta, tratando de sua relação com a vida material, com a arte e com a cultura a partir do modo com que se constituíram desde o período que sucedeu a Guerra de Arauco. Merece destaque o intertítulo “La hospitalidad como compensación coletiva”, em que Baeza trata dos testemunhos emitidos pelos viajantes e cientistas que passaram pelo território americano e documentaram os costumes da comunidade com que se depararam. O autor enaltece o fato de que havia uma consciência comum entre esses viajantes em relação à ideia de que o Chile – como espaço de dinâmica formativa – era um local a receber “muito generosamente” os estrangeiros que por ali transitavam; e dedica uma atenção especial à questão do comportamento feminino em relação aos forasteiros.
Em “La Organización Republicana” e em “El orden conservador autoritário”, Rafael Sagredo condensa em cerca de vinte páginas o período que se inicia com os antecedentes da independência chilena e que se estende até uma interessante proposição em que sugere ser possível afirmar que o Chile se desenvolveu como uma sociedade marcada por sua posição geográfica e sua realidade natural, aspectos que teriam condicionado inevitavelmente sua organização republicana:
O impacto da realidade natural na organização institucional chilena se aprecia na opção nacional de privilegiar a ordem e a estabilidade sobre a liberdade, chegando a implementar um regime de tal maneira autoritário que, inclusive a noção de república em algumas ocasiões ficou suspensa. Interpretamos que tenha sido um imperativo derivado da ponderada ordem natural o que levou à correspondente ordem autoritária que caracterizou a existência republicana do Chile. (p.132)
Nos dois capítulos que subsequentes, intitulados “La Capitalización Básica” e “La Expansión Nacional”, o autor da Historia Mínima de Chile aborda o desenvolvimento social e cultural chileno por meio de a partir de processos como a mineração, a expansão agrícola e os investimentos no sistema monetário e nas indústrias, destacando que, apesar do extraordinário progresso experimentado pelo país ao longo do século XIX, as melhorias na instância sanitária foram muito lentas. Tanto que, no âmbito da microeconomia, o povo chileno se manteve inserido por muito tempo num contexto de doenças e epidemias que garantiram uma altíssima taxa de mortalidade ao longo do século. Entre os meios para superar as enfermidades, era comum que se realizassem banhos de água quente com ervas, que se fizessem pomadas à base de resíduos vegetais e animais, e que se consumisse uma quantidade considerável de erva mate e aguardente. De acordo com Sagredo, “a varíola, transformada em doença endêmica, foi a que provocou maior mortalidade ao longo do século” (p.171).
Em “Los conflitos internacionales”, Rafael Sagredo aborda a guerra enfrentada pelo Chile contra a Espanha, bem como as disputas territoriais relacionadas ao que chama de controvérsias limítrofes, tratando dos conflitos intracontinentais inerentes ao estabelecimento das fronteiras geográficas americanas. Além dos dois fenômenos, o autor discorre acerca da chamada Guerra do Pacífico – peleja em que estiveram envolvidos também o Peru e a Bolívia -, que concebe como “um conflito de caráter econômico”, dado que o grande mote do embate estava na disputa por recursos naturais como o guano e o salitre, nitratos abundantes na região do deserto do Atacama – território sobre o qual o drama do conflito se estendeu (p.191).
No capítulo “La sociedad liberal”, Baeza faz um contraponto muito bem detalhado entre o Chile colonial, de perfil paternalista e agrário, e as mudanças ocorridas ao longo do século XIX que fomentaram a emergência de um país de bases capitalistas firmadas na exploração minera e no comércio. O autor afirma que, em consequência da dinâmica da economia do século 19, “apareceram novos grupos sociais como a burguesia, a classe média e o proletariado”, o que culminou na consolidação de “uma nova cultura marcada pela ética liberal, que acabou por legitimar o domínio burguês” (p.195). O capítulo se encerra com uma pertinente abordagem sobre a Guerra Civil de 1891 e prenuncia os temas tratados em “La crisis del régimen liberal”, que engendra a vitória dos chamados congresistas e a instauração do Parlamentarismo, o que teria condicionado o enfraquecimento da figura presidencial naquele contexto. De acordo com Baeza, “para a opinião pública, o presidente teria deixado de ser o protagonista da vida nacional, transformando-se em um ator ‘impotente’, um ‘elemento decorativo’, uma ‘pedra de esquina'” (p.213). Tratando da situação social, da fragilidade econômica que acometia o panorama chileno e do paulatino surgimento de intelectuais, escritores, ensaístas, literatos e acadêmicos que começaram a “denunciar as desigualdades e abusos existentes na sociedade liberal”, Sagredo menciona o gradual advento de um programa definido e consciente de governo que teria emergido do citado estrato intelectual chileno. Algo que teria impulsionado o chamado “esforço desenvolvimentista”, expressão que nomeia o capítulo seguinte.
Em “El esfuerzo desarrollista”, Rafael Sagredo trata das tentativas de industrialização no Chile a partir de projetos empreendidos pela chamada Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), cujo magno intuito era transformar o Estado chileno em um agente econômico fundamental, apesar do “flagelo da inflação” que acometia o cenário socioeconômico do Chile àquela altura. Como bem pontua o autor, o “impulso determinante” para que o esforço desenvolvimentista começasse a ser aplicado foi a ocorrência do terremoto de Chillán, “que em 1939 destruiu a Zona Central do Chile, e para cuja reconstrução o Estado se envolveu idealizando um plano que incluiu a agência promotora de desenvolvimento que foi a Corfo, cujos conceitos básicos já tinham sido esboçados na década de 1930, entre outros, pelas organizações e uniões de empresários” (p.228).
Para Baeza, uma das principais características da história do Chile na segunda metade do século XX está na existência de “profundos desequilíbrios nas estruturas sociais e econômicas”.O autor menciona, por exemplo, que o desenvolvimento do setor industrial e minero teria sido muito superior àquele alcançado pelo mundo agrícola – no que diz respeito ao viés econômico -, e trata também do grau de bem-estar alcançado pelos setores médios e proletários urbanos quanto ao âmbito social, se comparado às circunstâncias que engendravam a realidade camponesa que fora vigente até então (p.248). No último capítulo da obra, intitulado “Crisis y recuperación de la Democracia”, Baeza sintetiza o período que se inicia com o episódio significativo da eleição de Jorge Alessandri em 1958, passando pelo golpe militar de 1973 – e aqui, vale destacar o intertítulo “El autoritarismo em Chile” – e direcionando a conclusão de sua análise para uma discussão acerca de recuperação da democracia, fato que viabilizou a implantação das políticas econômicas denominadas de “crescimento con equidad” e das expectativas que deveriam ser fomentadas através da celebração do bicentenário chileno, dado que a insatisfação social pós-regime militar era pungente e se refletia sobretudo na demanda por um sistema educacional de qualidade (indagação essa tida pelo autor como uma “constante histórica” na sociedade chilena, pois que há muito eram presentes as manifestações de descontentamento quanto à educação nacional).
Para além do panorama redigido acerca da Historia Mínima de Chile, é necessário ponderar minimamente certo viés de abordagem épico – que pode soar teleológico a um leitor que não se disponha a compreender o projeto narrativo de Rafael Sagredo – que perpassa toda a obra, e que se pode notar a partir da seleção lexical do autor desde a menção à “La Araucana”, poema do espanhol Alonso de Ercilla que figura um dos trechos da apresentação da Historia. Muitos são os vocábulos que denotam a questão aventada. Sagredo afirma que “os chilenos têm motivos para sentirem-se orgulhosos de uma evolução histórica“, e dialoga a todo o momento com a necessidade de explicar por quais razões os fatos em questão “teriam ocorrido de um modo inesperado, diferentemente de como, de acordo com a ‘história oficial’, supõe-se que deveriam ter acontecido”. No epílogo, Baeza trata do Chile como a chamada “estrela solitária” que deveria atingir o estágio de “cópia feliz do Éden” ao longo de sua história. Ora, se o projeto narrativo de Sagredo Baeza tem a ver com a elaboração de uma história nacional regida pela ideia de “ciclos históricos” conformados por três etapas “perfeitamente identificáveis”, que se associam a períodos de expansão, crise e autoritarismo, se faz plausível que os vocábulos empregados pelo autor expressem, em alguns momentos, uma face épica e um tanto quanto heroica. Se, para o autor, a historiografia de “praticamente qualquer nação” propende a exaltar os fatos que narra, é admissível que sua linguagem contenha traços de pujança, magnificência e grandiosidade épica.
Coesa e informativa, a Historia Minima de Chile se apresenta como uma grande contribuição historiográfica que não se esgota à consecução do âmbito acadêmico. Por sua linguagem fluida, explicativa e de fácil compreensão, a obra pode destinar-se também àqueles que se interessem pela trajetória chilena sem que estejam impreterivelmente inseridos nas discussões científicas acerca da mesma. Essa talvez seja, inclusive, uma das grandes virtudes que abarcam o fluxo narrativo de Sagredo em sua indispensável – sobretudo porque renovada e contemporânea – abordagem sobre a história do Chile.
Mariana Ferraz Paulino – Departamento de História da Universidade de São Paulo – USP São Paulo, SP, Brasil. E-mail: [email protected]
BAEZA, Rafael Sagredo. História Mínima de Chile. Madrid: Turner Publicaciones S. L., 2014. Resenha de: PAULINO, Mariana Ferraz. História nacional na longa duração: Chile, dos “primeiros americanos” ao século XXI. Almanack, Guarulhos, n.12, p. 223-226, jan./abr., 2016.
Acessar publicação original [DR]
Political Concepts and Time. New Approaches to Conceptual History | Javieer Fernández Sebastián
Este livro reúne, sob a coordenação de Javier Fernández Serbastián, dezesseis textos dedicados a problemas teóricos, metodológicos e historiográficos relacionados à prática da chamada “História dos Conceitos” (principalmente, mas não exclusivamente, a sistematizada por Reinhart Koselleck) e enfoques afins, elaborados por autores de vários países e de vários campos das Ciências Humanas. Trata-se de uma coletânea dotada de considerável unidade – aspecto louvável, nem sempre encontrado atualmente em obras acadêmicas coletivas – cujas contribuições, não obstante, possuem autonomia. A esta primeira edição em inglês, seriam acrescidos três outros capítulos a comporem uma edição em espanhol, publicada dois anos depois (Javier Fernández Sebastián & Gonzalo Capellán [eds.]. Conceptos políticos, tiempo e historia: nuevos enfoques en historia conceptual, Santander: McGraw Hill – Ediciones Universidad de Cantabria, 2013). O livro é dedicado a tema geral bastante explorado nas últimas duas décadas por uma historiografia pujante e de escala mundial, mas que mostra ainda um amplo campo de possibilidades a serem exploradas, como bem se vê ao longo dos capítulos aqui apresentados.
A obra é aberta por uma introdução, na qual seu editor empreende uma bem-fundamentada justificativa da atualidade do enfoque histórico-conceitual em um mundo como o nosso, “babélico”, marcado por uma “plurality of languages, cultures and conceptual systems (…) with its irremediable entourage of misunderstandings”, a potencializar uma abordagem semântica histórico-comparativa das civilizações (p.1) e sua correlata temporalização não só de conceitos, mas do próprio tempo como matéria histórica. Está dada então a base para a abertura disciplinar tratada na primeira parte do livro, intitulada “Conceptual History and Neighbouring Disciplines”. Aqui, o capítulo de Hans Erich Bödeker (“Begriffsgeschichte as the History of Theory. The History of Theory as Begriffsgeschichte. An Essay”) formula a sugestiva hipótese de uma correlação entre a História dos Conceitos de filiação alemã e uma “problem-oriented history of theory informed by social structures” (p.19). De imediato, Bödeker trata de reconciliar essa Begriffsgeschichte com modalidades – com frequência vistas como incompatíveis com ela – de história política, intelectual e das ideias, na medida em que, segundo ele, uma história de conceitos não deveria jamais ser apenas de conceitos, mas também da relação destes com palavras e objetos, isto é, de sinais linguísticos com o mundo material (trata-se, bem entendido seja, de uma defesa de uma perspectiva, não de um suposto diagnóstico de sua prática). O capítulo seguinte, de Elías José Palti (“From Ideas to Concepts to Metaphors: The German Tradition of Intellectual History and the Complex Fabrico of Language”), empreende um recorrido analítico do que o autor chama de “tradição germânica de História Intelectual”, incluindo aí desde Wilhelm Dilthey e Ernst Cassirer até Koselleck e Hans Blumenberg. Palti retoma seus outrora já bem fundamentados ataques a uma história das ideias convencional, considerando a tradição aqui analisada como responsável por uma perspectiva de compreensão histórica “that placed intelectual history on a completely new terrain, definitively beyond that characteristics of the tradition of Ideengeschichte” (p.66). Em seguida, Michael Freeden (“Ideology and Conceptual History: The Interrelationship between Method and Meaning”) desloca parcialmente a discussão, submetendo, simultaneamente, conceitos e categorias de ideologia a um escrutínio histórico que, em seus muitos meandros e sutilezas, oferece ao leitor amplas sugestões de problemas teóricos e metodológicos, como os dois com os quais encerra seu texto: “conceptual history needs to offer a diachronically complex account of how a given concept is located at a node through which many intersecting and complementary concepts travel”; e “some concepts traverse parallel paths and are consequently located in diferent semantic fields that, at most, overlap but also indicate that they can lead multiple lives synchronically” (p.97). O encerramento desta primeira parte do livro traz uma panorâmica de estudos acerca daquilo que seu autor, Peter Burke, chama de “Cultural History of Intellectual Practices”. Trata-se de um apanhado que a muitos leitores poderá resultar de utilidade, sobretudo por seu esforço em contemplar contribuições historiográficas para além daquelas produzidas no âmbito anglo-saxão, mas que representa um desvio temático muito grande em relação aos demais capítulos da obra, com os quais dificilmente algum diálogo direto pode ser estabelecido.
A segunda parte, “Temporalizing Experiences and Concepts”, traz cinco capítulos cujos autores se empenham fortemente em dialogar com a História dos Conceitos koselleckiana. Em um notável estudo, Alexandre Escudier (“‘Temporalization’ and Political Modernity: A Tentative Systematization of Work of Reinhart Koselleck”) analisa a obra do historiador alemão como um sistema de pensamento complexo e prenhe de significados, no qual temas como tempo e temporalização convergem para uma proposta de estudo comparativo da semântica política europeia. Kari Palonen (“Contingency, Political Theory and Conceptual History”) desenvolve uma abordagem da obra conceitual de Koselleck tomando-a como fonte de contribuições a uma verdadeira teoria política, pontuando possibilidades de desenvolvimento da ideia em várias sugestivas direções, como a ideia de “fortuna”, conflitos entre presente e futuro, e aproximações entre Koselleck e Max Weber. Em seguida, Pim den Boer (“National Cultures, Transnational Concepts: Begriffsgeschichte Beyond Conceptual Nationalism”) e Jörn Leonhard (“Language, Experience and Translation: Towards a Comparative Dimension”) tomam a si a tarefa de abrir a História dos Conceitos a enfoques não-nacionais, cosmopolitas e comparativos que emergem a partir da avaliação de críticas recebidas pela obra de Koselleck, refletindo sobre objetos como as línguas e seus dicionários (no primeiro caso) e a categoria experiência (no segundo). Entre os dois, encontra-se o capítulo de João Feres Júnior (“With na Eye on Future Research: The Theoretical Layers of Conceptual History”), voltado ao que o autor considera usos e abusos da História dos Conceitos e que desembocam em uma crítica direta a ela. Aqui, penso que afirmações como “not enough evidence has been gathered so far to support Koselleck’s theorethical claims about modernity”, ou “temporalization, ideologization, democratization and politicization of concepts (…) should be treated at most as hypotheses” (p.238) poderiam ser revistas ou mesmo abandonadas, tendo-se por base muitos dos resultados do Projeto Iberconceptos, dirigido por Fernández Sebastián, e com participação ativa do próprio Feres Júnior.
Os estudos apresentados na terceira parte do livro, “On the Historical Semantics of Modern Times”, se distanciam da discussão direta da obra de Koselleck e da Begriffsgeschichte, preferindo abordagens históricas de problemas mais específicos, mas que se valem ostensiva, critica e ativamente, de ambos. Assim, Giuseppe Duso (“Begriffsgechichte and the Modern Concept of Power”) passeia por conceitos como igualdade, liberdade e soberania fazendo-os confluir para uma discussão em torno do conceito de poder. Já Faustino Oncina (“Memory, Iconology and Modernity: a Challenge for Conceptual History”), de modo assaz oportuno, aborda o pouquíssimo explorado problema dos conceitos imagéticos, articulando-o com os temas da memória e da modernidade, e dialogando com sua incidência não apenas na obra escrita de Koselleck, mas também em sua atuação pública e política mais ampla. Já Jacques Guilhaumou (“The Temporality of Historical Forms of Individualization in Modern Times”), propõe uma articulação profunda e perspicaz entre a Sattelzeit koselleckiana e o desenvolvimento histórico da noção moderna de indivíduo, apontando na direção de “one of the main existencial conditions for the ego between 1750 and 1850”, isto é, “the new perception of temporality due to the realization of the existence of a humanity which both suffers and acts” (p.347). Esta terceira parte se encerra com o capítulo do próprio editor, Javier Fernández Sebastián (“‘Riding the Devil’s Steed’: Politics and Historical Acceleration in na Age of Revolutions”), na qual vários preceitos e insights da teoria da modernidade, da temporalização da história e da História dos Conceitos koselleckianas são utilizados, matizados e reconfigurados com enorme proveito para iluminar dimensões da política espanhola e hispano-americana, sobretudo, da primeira metade do século XIX. O livro, como um todo, se encerra com dois apêndices: uma fala de homenagem a Koselleck da parte de Christian Meier, onde biografia, memória pessoal e avaliação intelectual resultam em um texto de valor duplamente documental e crítico; e a “Mission Statement” do European Conceptual History Project.
Political Concepts and Time confirma o quão proveitosas podem ser elaborações teóricas e práticas historiográficas derivadas da obra de Koselleck, da História dos Conceitos e de muitos temas e problemas delas derivados ou a elas correlatos. Se é costume – talvez mais entre os historiadores do que entre outros cientistas sociais – a afirmação de que o critério máximo de toda boa teoria é a própria realidade social (empírica e limitadamente representada), os autores desta obra, sem dogmas, esquemas rígidos ou excessos intelectualistas, nos mostram mais uma vez que uma boa teoria também pode ser, ela mesma, parte dessa realidade social.
João Paulo Pimenta – Universidade de São Paulo (USP)
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (Org.). Political Concepts and Time. New Approaches to Conceptual History. Santander: Cantabria University Press/McGraw-Hill Interamericana de España, 2011. Resenha de: PIMENTA, João Paulo. Teoria, metodologia e historiografia da História dos Conceitos: uma avaliação necessária. Almanack, Guarulhos, n.11, p. 865-867, set./dez., 2015.
Casas importadoras de Santos e seus agentes. Comércio e cultura material (1870-1900) | Carina Marcondes Ferreira Pedro
Madame Pommery, personagem controversa de Hilário Tácito, começa no mundo dos negócios ilícitos da prostituição com sua chegada ao porto de Santos, nos primeiros anos do século XX.[1] O autor faz dela uma negociante esperta, de nacionalidade duvidosa, filha de um domador circense e de uma noviça espanhola. Como muitos outros imigrantes do período, inspiradores dessa personagem da literatura paulista, ela veio “fazer a América”, tentar a sorte numa nova terra cheia de oportunidades de negócios. A cidade de Santos era então a porta de entrada para um mundo rico, que vivia das exportações de café e das importações de mercadorias de luxo, que abasteciam São Paulo. É justamente a formação e consolidação de Santos como o local de negócios relacionados ao café, durante a Belle Époque, o tema da pesquisa, agora transformada em livro, da historiadora, Carina Marcondes Ferreira Pedro Casas importadoras de Santos e seus agentes. Comércio e cultura material (1870-1900).
Carina Marcondes Ferreira Pedro busca compreender a transformação de Santos no principal local de negócios de São Paulo no fim do século XIX, porto que exportava café e importava uma série de mercadorias, de objetos de consumo doméstico a materiais para construção. A chave para a análise dessas transformações passou pela construção da ferrovia que ligava o porto à cidade no alto da Serra. Inaugurada em 16 de fevereiro de 1867, a São Paulo Railway Company dinamizou as relações comerciais da província. A tão aguardada ligação da cidade de São Paulo com o mar não apenas possibilitou o escoamento das safras de café dos fazendeiros paulistas, e seu consequente enriquecimento, mas transformou a vida cotidiana e a sociabilidade de ambas as cidades. Além do dinheiro decorrente das exportações de café, novos hábitos também vinham no rastro da ferrovia e ligavam a então capital da província, vista como atrasada e caipira, ao resto do mundo.
A construção da ferrovia dinamizou o comércio de Santos, que já era um porto importante, mas se tornou fundamental com o trem, e ainda criou uma demanda por uma série de modificações urbanas tanto nas docas, como na própria cidade. A autora mostra em sua pesquisa como uma série de casas comerciais abriram as portas para negócios que envolviam somas consideráveis ao redor do mundo, eram os “agentes importadores” ou também chamados de “casas de importação”, que compravam mercadorias de outros países e exportavam principalmente café vindo do Oeste Paulista.
Outra chave essencial para o trabalho de Carina é entender o mundo do consumo no século XIX. Pouco estudado pela historiografia, o consumo de mercadorias importadas esteve sempre ligado à dinâmica do mundo capitalista no oitocentos. Para a antropóloga americana Mary Douglas, em seu livro clássico O mundo dos bens, a produção de mercadorias foi o que se estabeleceu como parâmetro para os estudos de economia.[2] O consumo seria relegado a uma segunda categoria de estudos, algo menor ou sem importância. Para antropóloga americana, tanto consumo como produção fariam parte de um todo, seriam dois lados de uma mesma moeda – o estabelecimento da revolução industrial e a expansão do capitalismo.
Ligado a esse novo mundo do consumo, Carina mostra como esses agentes estabeleciam contato com as casas exportadores de países produtores de mercadorias, como a Inglaterra, a Alemanha ou a França. Diz a autora: “A própria formação de um modo de vida burguês relacionado ao intenso consumo de produtos industrializados estrangeiros que foram introduzidos no país no século XIX e início do XX tem sido problemática tratada por poucos autores. No caso da região paulista, a lacuna se torna mais pronunciada em vista da própria importância que ela adquire nos processos de comércio internacional nesse período” (p. 13).
Tentar entender e fazer uma história do consumo não é fácil, já que a utilização de fontes ditas como estritamente econômicas não dá conta da complexidade do tema. Assim, o trabalho utiliza várias outras fontes para o embasamento da pesquisa. Foram analisados almanaques do período, jornais, anúncios, memórias de viajantes, legislação, correspondência diplomática, manuais de comércio e obras de propaganda governamental.
Os Almanaques são tratados de maneira especial pela autora e aparecem em quase todos os três capítulos do livro. Para a história do consumo, a utilização de almanaques como fontes de pesquisa é preciosa. Com eles, principalmente a partir das três últimas décadas do século XIX, vêm as primeiras propagandas de produtos e os primeiros anúncios. É possível assim, ver as casas importadoras, as chegadas e partidas dos navios, quem eram os negociantes de importação e exportação. Eles funcionam também como uma espécie de guia para a cidade, relevando endereços de médicos, empresários, pessoas importantes ou mesmo de lojas, escolas, hospitais.
O livro está dividido em três capítulos. O primeiro, “Santos e o comércio de importação”, dá conta das transformações urbanas pelas quais passou a cidade de Santos no período. O crescimento da cidade é visto dentro do contexto das mudanças econômicas no mundo nas três últimas décadas do século XIX. A historiadora mostra como a região do Valongo foi se valorizando com a construção da ferrovia e atraindo negociantes, alterando significativamente o tecido urbano. Assim, na mesma época, muitas ruas se dessacralizaram, ou seja, mudaram seus nomes relacionados a santidades e ao catolicismo para nomes de personalidades brasileiras ou da região.
O segundo capítulo, “As casas importadoras e suas trajetórias empresariais”, aborda as casas de importação inglesas, como a Edward Johnston & C, considerada a segunda maior firma de exportação britânica do período – ela era também a representante da companhia hamburguesa de navegação Hamburg-Süd, que tem uma extensa atividade até os dias de hoje. São analisadas casas comerciais alemãs, francesas e portuguesas. As empresas se caracterizavam pela diversidade de artigos. Assim, as firmas alemãs, como a Zerrenner, Bulow & C., traziam para o Brasil um amplo leque de bens, como ferro, aço, lubrificantes, dinamite, carbureto de cálcio, bicicletas, vinhos, biscoitos finos, queijos. A francesa Karl Valis & C. acabou por se especializar em artigos alimentares de luxo e também no comércio atacado de materiais vidrados usados para obras de água e esgoto – evidenciado a necessidade de urbanização de São Paulo na época. Já as portuguesas, como a Ferreira & C., traziam ferro e outros materiais para construção e contavam com a facilidade da língua nos seus vendedores caixeiros-ambulantes.
Finalmente, o terceiro e último capítulo trata da infinidade dos objetos importados no período. Carina Pedro retoma a ideia do historiador francês Daniel Roche, autor de História das coisas banais, para mostrar que a cidade no século XIX pode ser entendida como o centro de uma organização econômica cujo comerciante é um dos principais agentes.[3] Para Daniel Roche, “A história das atitudes em relação ao objeto e à mercadoria em nossa sociedade é aqui capital; ela postula que uma história do consumo é uma maneira de reconciliar o sujeito com o objeto, a interioridade com a exterioridade”.[4] Assim, a introdução e distribuição das mais variadas mercadorias foi uma das marcas das transformações que ocorrem a partir da década de 1870 no país e que Florestan Fernandes vai chamar de Revolução Burguesa.[5]
Para o sociólogo um dos principais agentes transformadores da sociedade no período seria o negociante. Assim, o burguês teria surgido no Brasil como uma “entidade especializada, seja na figura do agente artesanal inserido na rede de mercantilização da produção interna, seja como negociante (não importando muito seu gênero de negócios: se vendia mercadorias importadas, especulava com valores ou com seu próprio dinheiro; as gradações possuíam significação apenas para o código de honra e para a etiqueta das relações sociais e nada impedia que o usurário, embora malquisto e tido como encarnação nefasta do burguês mesquinho, fosse um mal terrivelmente necessário)”.6 Em seu estudo, ainda que circunscrito à cidade de Santos, Carina Pedro consegue recuperar a figura do negociante nas décadas finais do século XIX, inserindo-o numa rede complexa de negócios estrangeiros voltados para o mercado local, dando vida e materialidade a esse personagem complexo e fundamental.
Notas
1. TÁCITO, Hilário. Madame Pommery. Campinas: Editora da Unicamp, 1996.
2. DOUGLAS, Mary e ISHERWWOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de Janeiro: Editora da UFMG, 2014.
3. ROCHE, Daniel. História das coisas banais: nascimento do consumo, séculos XVIII-XIX. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
4. Idem, p. 26.
5. FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1974.
6. Idem, p. 18.
Joana Monteleone – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
PEDRO, Carina Marcondes Ferreira. Casas importadoras de Santos e seus agentes. Comércio e cultura material (1870-1900). São Paulo: Ateliê, 2015. Resenha de: MONTELEONE, Joana. Um mundo de mercadorias na Belle Époque de Santos. Almanack, Guarulhos, n.11, p.868-870, set./dez., 2015.
Escravidão e família escrava na Zona da Mata Mineira oitocentista | Jonis Freire
A escravidão na América portuguesa e no Brasil Imperial é um dos temas mais instigantes da historiografia brasileira, em virtude de seu impacto na formação da sociedade contemporânea. Por volta dos anos 1980, a história social da escravidão trouxe considerável renovação para a historiografia sobre a escravidão brasileira. Ao empregar novas abordagens teórico-metodológicas e fontes documentais até então pouco exploradas, os estudiosos passaram a investigar de forma profícua as facetas da escravidão brasileira em suas diversas temporalidades e regiões. Além disso, a população cativa passou a ser encarada como sujeita de sua própria história. Escravidão e família escrava, resultado da tese de doutorado de Jonis Freire, defendida em 2009 na Unicamp, insere-se nessa tradição historiográfica.
A obra centra-se na atual cidade de Juiz de Fora, que, “no decorrer do século XIX, possuiu a maior população escrava da província, com uma economia baseada, principalmente, na plantation cafeeira” (p. 28). Os eixos temáticos tratam sobretudo da demografia e família cativas e dos padrões de manumissão das escravarias pertencentes a três grandes cafeicultores, Antônio Dias Tostes, Comendador Francisco de Paula Lima e Capitão Manoel Ignácio Barbosa Lage, no período que abrange as décadas de 1830 a 1880.
Dividido em quatro capítulos, o livro trata, no primeiro deles, da formação da Zona da Mata Mineira e, especialmente, de Juiz de Fora. Analisa, ainda, por meio dos inventários post mortem, a composição da riqueza dos chefes daquelas três famílias bem como o perfil demográfico de seus cativos. Jonis Freire mostra que tais senhores – grandes proprietários de terras, escravos e cafezais – eram típicos representantes da elite cafeeira, destacando-se na economia e na política local.
Os casais Dias Tostes, Paula Lima e Barbosa Lage acumularam fortuna sobretudo a partir da cafeicultura e de empréstimos de dinheiro a juros. Jonis Freire aponta que “todas as três famílias estudadas, em algum momento, fizeram uso das ligações matrimoniais com outras famílias da elite para aumentar não só o seu prestígio social, mas, acima de tudo, os seus cabedais econômicos, {..} bem como seu status político” (p. 62). A maior parte dos patrimônios estava alocada em cativos, imóveis rurais e urbanos e em dívidas ativas.
O perfil demográfico da mão de obra desses cafeicultores sofreu mudanças ao longo do Oitocentos, devido, principalmente, ao fim do tráfico atlântico de africanos em 1850. A posse de Antônio Dias Tostes, composta por 147 indivíduos – a maior escravaria, segundo a lista nominativa de 1831 -, era basicamente constituída por homens (70,8%), africanos (85,7%) e indivíduos jovens/adultos (71,4%), com idade entre 15 e 40 anos. Já em 1837, segundo a partilha de bens de sua esposa, Dona Anna Maria do Sacramento, a posse sofreu ligeiras oscilações: a despeito da expansão da escravaria (185 ao todo), as proporções de homens e jovens/adultos mantiveram-se praticamente inalteradas, ao passo que os africanos reduziram sua participação relativa a 76,6%. Embora o autor não explique, pode-se conjecturar que o término temporário do tráfico atlântico (1831-1835) teria causado essa redução.[1]
A posse do Comendador Francisco de Paula Lima, segundo o seu inventário (1866), composta de 204 cativos, tinha um perfil semelhante à de Tostes: os homens correspondiam a pouco menos de 70% e os jovens/adultos representavam dois terços da escravaria; em 1877, de acordo com o inventário de sua viúva, D. Francisca Benedicta de Miranda Lima, dos 130 escravos, 57% deles eram homens e 45,6% jovens/adultos. Por fim, a posse do Capitão Manoel Ignácio Barbosa Lage, no ano de seu falecimento (1868), tinha 118 cativos: 64,4% deles eram homens, 50% eram jovens/adultos e 20% haviam nascido na África.
De modo geral, os dados atinentes às posses desses casais devem ser inseridos em um quadro de análise mais amplo. Pode-se, assim, entrever dois períodos distintos. No primeiro, que corresponde à primeira metade do século XIX e no qual se enquadra a propriedade do casal Dias Tostes, a escravaria tende a ser composta sobretudo por homens, jovens/adultos e africanos. Nesse período, a oferta elástica de escravos africanos permitia aos senhores adquirir mão de obra relativamente barata, via tráfico atlântico, para manter e/ou ampliar suas posses. Após o término do tráfico, em 1850, inicia-se o segundo período, no qual as propriedades dos casais Paula Lima e Barbosa Lage estão incluídas: a partir desse momento, tem-se uma sociedade escravista madura, cuja população cativa tende ao equilíbrio sexual, à simetria entre crioulos e africanos, e verifica-se, ademais, o progressivo envelhecimento da mão de obra. Há ainda tendência à reprodução via crescimento vegetativo da escravaria.[2]
O segundo capítulo aborda as formas de reprodução da escravaria utilizadas pelas famílias da elite juiz-forana. O objetivo de Freire é determinar o seu impacto sobre a manutenção e/ou ampliação das posses cativas. Para tanto, procura cruzar quatro tipos de fontes: 1) Livros de Registro de Batismo; 2) Despacho de Escravos e Passaportes da Intendência de Polícia da Corte; 3) Inventários; 4) Livros de Notas e Escrituras Públicas.
Com base no exame minucioso das fontes, o autor assinala que os casais Dias Tostes e Paula Lima valeram-se, sobretudo, do tráfico atlântico e do tráfico interno para manter e/ou expandir suas escravarias. Os Barbosa Lage, por sua vez, teriam recorrido, primordialmente, à reprodução natural de seus cativos. Nesse sentido, “conclui-se que as duas opções para o aumento do número de cativos – reprodução natural e tráfico de escravos – parecem não ter sido excludentes na referida localidade, mas complementares” (p. 159). Embora a conclusão se alinhe às ilações de uma parte da historiografia, ele não pôde determinar o impacto efetivo de cada uma das formas de reprodução da escravaria naquelas propriedades rurais.
Sobre a análise dos registros de batismo e dos inventários, podem ser feitas duas considerações. Em primeiro lugar, Freire não pondera que o número relativamente pequeno de escravos levados ao batismo pelos casais Dias Tostes e Paula Lima pode indicar somente que eles teriam sido menos cuidadosos, em relação aos Barbosa Lage, em registrar em cartório os filhos de seus cativos. O que não significa afirmar que apenas os Barbosa Lage tenham sido favorecidos com a reprodução natural de seus escravos. Ademais, nem todos os inventários dos três casais foram investigados, o que não permitiu que se acompanhasse a evolução demográfica das escravarias no tempo. Do casal Dias Tostes, o autor examinou apenas a partilha de bens de D. Anna Maria (1837), além do domicílio do casal na lista nominativa (1831); o inventário de Antônio Dias Tostes não foi localizado. Do casal Paula Lima, ambos os inventários puderam ser consultados. E, do casal Barbosa Lage, somente o inventário do Capitão Barbosa Lage (1868) pôde ser examinado; Freire não informa por qual razão não se analisou o inventário de sua esposa, D. Florisbella Francisca de Assis Barbosa Lage (1882). Vale notar que o objetivo do autor poderia vir a lume caso pudesse investigar os inventários dos herdeiros dos três casais, bem como a matrícula de escravos.
Jonis Freire dedica-se, ainda, à análise das relações familiares dos escravos. A investigação divide-se em duas partes: na primeira, estuda os laços familiares e o perfil desses cativos a partir da lista nominativa; num segundo momento, passa a tecer os enlaces matrimoniais das escravarias pertencentes às três famílias da elite juiz-forana.
No Distrito de Santo Antônio de Juiz de Fora, em 1831, cerca de 30% dos cativos adultos eram casados e/ou viúvos. O perfil dessa escravaria coaduna-se com o que a historiografia vem afirmando nas últimas décadas: a maioria dos indivíduos casados e/ou viúvos era oriunda da África e constituída sobretudo por mulheres jovens/adultas. Além disso, as médias (20 a 50 escravos) e as grandes (51 ou + escravos) posses permitiam aos escravos maiores possiblidades de encontrar um parceiro: “quanto maior o número de cativos num determinado fogo, maior o percentual de homens e mulheres casados” (p. 177).
Valendo-se do método de “ligação nominativa de fontes”, técnica historiográfica que consiste em utilizar o nome de um sujeito como fio condutor na análise do processo social baseada em séries documentais distintas, Freire investiga os vínculos familiares das escravarias dos três casais. Na propriedade dos Dias Tostes, os dados levantados indicam pequenas oscilações nas taxas de matrimônio. Em 1831, “o número de escravos descritos como casados era de 20 (…). A maioria dos casados, homens ou mulheres, era africana, respectivamente 15 e 14; seguidos por 5 crioulos e 6 crioulas” (p. 183). Os números indicam, de forma clara, que, na verdade, a quantidade de escravos casados era de 40 (27,2% do total). Nota-se aí um ligeiro deslize do autor. Já em 1837, o percentual correlato reduziu-se a 25,7%. No caso dos Paula Lima (1866) e Barbosa Lage (1868) as proporções de casados eram maiores: na primeira, o índice igualou-se a 37,2% e, na segunda, a 30,5%.
Um dos gráficos elaborados pelo autor apresenta os vínculos familiares das escravarias dos três cafeicultores. Segundo o gráfico, 13,6% (na verdade, 27,2%, conforme apontei acima) dos escravos pertencentes aos Dias Tostes apresentavam algum tipo de vínculo familiar, em 1831. Na partilha de bens de D. Anna Maria (1837), o índice correlato igualou-se a 26,7%. Por seu turno, no inventário do Comendador Paula Lima (1866), a proporção atingiu a marca de 43,9% e, por fim, na propriedade do Capitão Barbosa Lage (1868), a percentagem era de 64,9%. A partir desses dados, o autor diz o seguinte:
“(…) podemos notar que ele {Gráfico 3} demonstra uma curva ascendente entre os anos de 1831 e 1868. Ao que parece, à medida que os anos se passaram, as possibilidades da existência de algum tipo de laço familiar aumentaram. Porém, talvez o que esse gráfico esteja refletindo seja as estratégias distintas dos ditos proprietários” (p. 190).
O autor levanta duas hipóteses para explicar a “curva ascendente” do percentual de vínculos familiares dos cativos no decurso do Oitocentos. Quanto à primeira, Freire parece estar correto, haja vista o que a historiografia sobre a família escrava vem demonstrando nos últimos decênios. A segunda, entretanto, carece de dados empíricos. Tal hipótese poderia ser elucidada caso o autor tivesse acompanhado a evolução demográfica das escravarias dos três casais no tempo. A análise dos vínculos familiares dos cativos arrolados nos inventários das viúvas de Paula Lima e Barbosa Lage, provavelmente, daria respaldo a sua hipótese.
Outro ponto abordado pelo autor se refere à estabilidade dos vínculos familiares. Freire analisou apenas a partilha de bens de D. Anna Maria (esposa de Dias Tostes), e os inventários do Comendador Paula Lima e do Capitão Barbosa Lage. Concluiu, assim, que todas as famílias existentes nas propriedades dos casais Dias Tostes e Barbosa Lage mantiveram-se unidas após a partilha; ao passo que, das famílias pertencentes ao casal Paula Lima, 69% delas permaneceram juntas. No entanto, o autor não atentou para o fato de que a partilha de bens, realizada nos inventários, não é a melhor forma de detectar se as famílias foram (ou não) preservadas. José F. Motta & Agnaldo Valentin demonstraram que
“(…) os eventuais esfacelamentos sofridos pelas famílias escravas, em alguns casos, poderiam assumir uma natureza meramente “ideal”, ou pouco mais que isso, havendo em seguida à partilha reajustamentos quase imediatos entre os herdeiros, no que tange à alocação dos cativos”.[3]
Para cotejar se a divisão em partilha foi mantida, seria necessário analisar, na ausência de uma fonte mais apropriada, os inventários dos herdeiros dessas famílias e/ou a matrícula de escravos. Desta forma, não se pode concluir, a partir dos casos elencados, se havia (ou não) estabilidade dos laços familiares após a morte dos senhores, embora a historiografia venha evidenciando que boa parte das famílias cativas permaneciam unidas, mesmo antes da Lei de 1869, que proibiu a separação entre casais cativos e entre pais e filhos menores.
A grande contribuição apresentada por Freire se refere especialmente ao exame das práticas de alforria das famílias da elite de Juiz de Fora. Pode-se entrever a novidade em virtude do método utilizado, que consistiu em levantar as alforrias a partir do cruzamento de inúmeras fontes (inventários, testamentos, alforrias em cartório e na pia batismal e prestação de contas testamentárias). O autor assinala que todos os membros das famílias Paula Lima, Dias Tostes e Barbosa Lage alforriaram, respectivamente, 44, 39 e 16 cativos. Cerca da metade das manumissões das duas primeiras famílias foram “concedidas” em testamentos. Os Barbosa Lage alforriaram seus escravos, com mais frequência, em inventários.
Nesse sentido, Freire conclui que:
“(…) apesar de toda a importância da manumissão cartorial, o registro não foi condição sine qua non para a liberdade. Outros documentos tiveram o mesmo peso legal (…). Além da legalidade de tais “ritos jurídicos”, o conhecimento público daquelas manumissões, em inventários, testamentos e na pia batismal, bastava para a confirmação do status de libertos que pensavam na mobilidade geográfica” (p. 312).
O autor evidencia, ademais, que, a despeito do pequeno número de casos investigados (19 proprietários ao todo), as taxas de alforria nas pequenas posses eram mais elevadas, do que nas médias e grandes. Duas hipóteses são colocadas em evidência para explicar esse fenômeno: 1) o relacionamento entre senhores e escravos era mais “próximo” nas pequenas posses, permitindo aos senhores manumitir mais escravos; 2) os pequenos proprietários eram mais vulneráveis que os grandes e, por isso, acabavam cedendo mais na “negociação” com seus escravos, abrindo brechas para que os cativos conquistassem a alforria.
Escravidão e família escrava é uma referência importante para os pesquisadores interessados em aprofundar o conhecimento sobre o escravismo no Brasil. O livro, que apresenta farto levantamento bibliográfico atinente às temáticas abordadas, permite ao leitor situar-se nos debates pelos quais a obra perpassa. Embora Jonis Freire não tenha contemplado de forma satisfatória algumas questões, a exemplo das formas predominantes de reprodução da escravaria, deve-se destacar que os pesquisadores tem à disposição um ótimo trabalho e, dessa forma, poderão esmiuçar os assuntos que não puderam ser examinados a fundo nessa obra.
Notas
1. VOYAGES DATABASE. The Trans-Atlantic Slaves Trade Database, 2009. Disponível em: http://www.slavevoyages.org . Acesso em: 12 jun. 2015.
2. SALLES, Ricardo. E o Vale era o escravo. Vassouras, século XIX. Senhores e escravos no coração do Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
3. MOTTA, José F.; VALENTIN, Agnaldo. A estabilidade das famílias em um plantel de escravos de Apiaí. Afro-Ásia (UFBA), Salvador, v. 27, p. 161-192, 2002. p. 186-187.
Breno Moreno – Universidade de São Paulo (USP).
FREIRE, Jonis. Escravidão e família escrava na Zona da Mata Mineira oitocentista. São Paulo: Alameda, 2014. Resenha de: MORENO, Breno. Família escrava e alforrias nas fazendas de café da elite de Juiz de Fora. Almanack, Guarulhos, n.11, p. 860-864, set./dez., 2015.
Connections after Colonialism. Europe and Latin America in the 1820s | Matthew Brown e Gabriel Paquette
Resultado de um projeto de pesquisa colaborativo, Connections after Colonialism. Europe and Latin America in the 1820s reúne as reflexões que tiveram lugar no simpósio “Re-thinking the 1820s”, realizado em maio de 2009 na Trinity College, Cambridge. O evento contou com a presença de historiadores da Europa, América do Norte e América do Sul e se propôs a avaliar o jogo de continuidades e rupturas nas conexões – intelectuais, políticas, culturais e econômicas – entre Europa e América Latina na década de 1820, ao fim do processo das independências ibero-americanas.
Na introdução, intitulada “Between the Age of Atlantic Revolutions and the Age of Empire”, Matthew Brown e Gabriel Paquette dedicam-se a uma instigante reflexão a respeito do lugar dos anos de 1820 na historiografia. Afirmam que as conexões atlânticas durante essa década foram negligenciadas pelos pesquisadores. O paradigma da Era das Revoluções na tradição intelectual, ao enfatizar a ruptura das independências políticas na América Latina, tendeu a ofuscar o fato de que a dissolução dos impérios ibéricos não rompeu abruptamente as relações entre o Velho e o Novo Mundo. Embora os organizadores da obra não neguem o alcance das mudanças provocadas pela dissolução dos impérios ibéricos e pelas revoluções de independência na América Latina, voltam os olhos para a persistência da “influência mútua entre o Velho e o Novo Mundo após a independência”, procurando identificar elementos da reconfiguração dessa relação. O ofuscamento da década que a obra analisa também decorreu da ênfase do paradigma da História Atlântica no período compreendido entre 1500 e 1800, embora pesquisas recentes no interior desse paradigma tenham apontado para a necessidade de dar maior atenção ao início século XIX, como salientam os organizadores.
Mais do que negar a operacionalidade dos paradigmas citados, os organizadores propõem outra abordagem na introdução. “Our approach is to move beyond the recognition of change and continuity within the age of revolution and to explore the untapped possibilities as well as structural limitations of both the age of revolutions and Atlantic history paradigms through analysis of one coherent and discrete unit of time”. Os anos de 1820 são tradicionalmente vistos na historiografia como a consolidação do fim do período colonial ou como o início de algo que se tornaria importante posteriormente (os estados nacionais na América Latina), ou seja, como o término de uma era e o início de outra. Rejeitando esse enquadramento, os organizadores se perguntam, ainda na introdução, “how the historiographical picture might appear if we removed the 1820s from these paradigms and identified the shifts and transformations unique to this decade”. Para Brown e Paquette, os anos vinte são uma unidade de estudo coerente. Foi a década de “planos não realizados”, “rotas não tomadas”, década em que os “clamores de liberdade” se colocaram contra “a parede de tijolos da resistência realista”, quando a “resiliência das heranças coloniais foi testada, mas não destruída”.
No mesmo ano de realização do simpósio em Cambridge, uma importante obra era publicada no ambiente intelectual ibérico no seio do projeto conhecido como Iberconceptos. Trata-se do Diccionario político y social del mundo ibero-americano: la era de las revoluciones, 1750-1850, dirigido por Javier Fernándes Sebástian, integrado por mais de uma centena de pesquisadores de diferentes espaços acadêmicos dedicados a estudar alguns conceitos, linguagens e metáforas políticas que circularam no mundo iberoamericano ao longo dos últimos séculos, partindo de uma perspectiva comparada e transnacional. Embora não exclusivamente concentrado no período das revoluções liberais e das independências ibero-americanas, o ainda ativo projeto Iberconceptos tem dado atenção especial ao período, formulando questões muito semelhantes às do livro organizado por Brown e Paquette. Iberconceptos é apenas um exemplo dos muitos projetos coletivos recentes de grande fôlego a revisitar o período das revoluções liberais e de independência no ambiente intelectual ibérico.
Em Connections after Colonialism, é louvável o esforço coletivo e coeso dos historiadores que, por meio de estudos de caso em cada capítulo, conferem materialidade à proposição principal do livro. Os organizadores identificam quatro dimensões das conexões atlânticas analisadas no conjunto da obra: o liberalismo; o envolvimento anglo-americano na América Latina; as correlações transnacionais construídas pela circulação de pessoas e ideias entre Europa e América Latina; e, por fim, as transformações envolvendo a escravidão e o tráfico de escravos. O liberalismo transatlântico é tema contemplado por todos os capítulos, mas ganha destaque no estudo de Brian Hamnett (dedicado à análise dos anos de 1820 em sua dimensão política transatlântica) e no de Josep Fradera (que se concentra na dimensão econômica do liberalismo espanhol, especialmente no que diz respeito ao espaço colonial).
Em “Themes and Tensions in a Contradictory Decade: Ibero-America as a Multiplicity of States”, Hamnett avalia um amplo conjunto de problemas e contradições característicos dos anos de 1820, como a diversidade de projetos políticos em teste, a revisão institucional da Igreja Católica, as tensões dos projetos liberais no espaço hispano-americano, a centralidade dos conflitos territoriais, étnicos e econômicos nas disputas políticas liberais, a persistência de heranças coloniais, a reconfiguração das relações econômicas entre Europa e América Latina e a inserção do liberalismo espanhol num contexto europeu de explosão de revoluções liberais. Em “Include and Rule: The Limits of Liberal Colonial Policy, 1810-1837”, Josep Fradera propõe-se a entender o significado e os limites dos esforços feitos pelos liberais espanhóis nos anos de 1810-14 e 1820-23 para dar nova vida ao seu exausto império, com ênfase na análise da política econômica liberal voltada ao espaço colonial. O autor também lida com um grande número de problemas: a tensão entre os princípios liberais de igualdade política e a multiplicidade étnica do império espanhol, a persistência de heranças coloniais que permearam essas tensões e o momento de reconfiguração da economia imperial espanhola, envolvendo também discussões a respeito da escravidão negra. Tanto Hamnett como Fradera salientam a natureza profunda das mudanças que ocorreram nos anos vinte. Tal natureza, muitas vezes os obriga a considerar a década dentro de um quadro mais geral de reconfiguração das relações entre Europa e América Latina que transcende os limites impostos pelo recorte cronológico do livro. O esforço sugere repensar continuamente a abordagem da década como uma “unidade de estudo”. A abordagem mais geral dos capítulos citados nos coloca diante de um contexto de crise, de reconfiguração das formas políticas que não é exclusividade nem ineditismo da década em questão, embora tenha se agudizado de maneira contundente e definitiva durante seu curso.
No segundo capítulo “Rafael del Riego and the Spanish Origins of the Nineteenth-Century Mexican Pronunciamiento”, Will Fowler navega entre as dimensões do liberalismo atlântico como tema geral e as correlações transnacionais de práticas políticas no espaço atlântico ibérico. Destaca-se pela perspicaz análise de uma nova forma de fazer política característica dos anos de 1820, o pronunciamiento. Segundo Fowler, tal prática foi inaugurada na Espanha em janeiro de 1820 por Rafael Riego (ao menos nomeada pela primeira vez como tal) e serviu de inspiração para diferentes espaços do Atlântico dos anos de 1820. O autor dá atenção especial à repercussão do pronunciamiento de Riego e à reprodução dessa prática política na Espanha e no México, realizando uma muito bem sucedida análise de seus significados políticos, salientando que, embora os objetivos imediatos de Riego fossem malogrados, esse evento teve alcance amplo como modelo de se fazer política não somente nos anos de 1820, mas também ao longo do século XIX.
O envolvimento anglo-americano na América Latina é outro tema que permeia o horizonte de preocupação da obra, mas ganha destaque nos capítulos 6, 8, 10 e 13. No sexto, “An American System: The North American Union and Latin America in the 1820s”, Jay Sexton reavalia o lugar da mensagem de James Monroe de 1823, evitando considerá-la pelas lentes do imperialismo tardio oitocentista, e procurando matizar como, embora o imperialismo não tenha sido um plano arquitetado para dominar a América Latina, sua lógica levou a essa direção. O autor analisa questões como as disputas entre as unidades federativas, os poderes federais da União, a maneira como os Estados Unidos se sentiam ameaçados pela intervenção europeia na América do Norte, a competição no espaço latino-americano entre Grã-Bretanha e Estados Unidos e o debate polarizado no congresso em torno do posicionamento da república a respeito do Congresso do Panamá. No interior desse complexo debate, Sexton identifica um marco importante para uma agenda estadunidense beligerante voltada à América Latina.
No capítulo 8, “Corinne in the Andes: European Advice for Women in 1820s Argentina and Chile”, Iona Macintyre, ao identificar a questão feminina como uma preocupação liberal transatlântica dos anos de 1820, analisa a política educacional para as mulheres na Argentina e Chile. Demonstra o crescimento da influência britânica nas políticas educacionais da América Latina, mapeando a circulação de princípios e valores britânicos divulgados pela obra do espanhol José Joaquín de Mora. No capítulo 10 “Porteño Liberals and Imperialist Emissaries in the Rio de la Plata: Rivadavia and the British”, David Rock analisa a presença britânica no Rio da Prata nos anos vinte, com particular atenção aos investimentos britânicos promovidos por Bernardino Rivadávia quando ministro-chefe da província de Buenos Aires e presidente das Províncias Unidas do Rio da Prata. Rock demonstra que a comunidade britânica cresceu nos anos de 1820 na região e que acabou sendo objeto de violência e repulsa no fim da década. O mérito do autor é evidenciar que esse movimento de influência britânica no Rio da Prata foi conformado não somente pelo próprio interesse britânico, mas também pelas disputas políticas locais, sendo, portanto, moldado por elas.
No décimo terceiro e último capítulo “The 1820s in Perspective: The Bolivarian Decade”, Matthew Brown também dá destaque considerável à questão da influência britânica na América Latina. O capítulo não deixa de ser uma espécie de conclusão do livro e se esforça por identificar temáticas comuns aos capítulos anteriores, retomando alguns dos pressupostos da introdução. Brown defende que Simon Bolívar foi uma figura antes representativa do que excepcional dos anos de 1820. Por meio da análise da trajetória de Bolívar e de outros protagonistas políticos como José Antônio Paéz e Tomás Cipriano de Mosquera, Brown refuta o simplismo segundo o qual o colonialismo ibérico teria oferecido caminho direto ao neocolonialismo imperial britânico ou estadunidense nos anos de 1820. A presença britânica na América Latina não resultou somente da pressão de uma potência no interior de um espaço que teria cedido pacificamente à sua hegemonia. Brown destaca o protagonismo político de sujeitos históricos da América Latina que buscavam o modelo britânico como alternativa às perturbações que tiveram lugar na França e no Haiti, o que teria permitido às elites, entre outros fatores, manter suas posições locais de privilégio. Rock e Mancyntire apontam para a mesma direção, uma vez que documentam o esforço de protagonistas dos quadros políticos e administrativos hispano-americanos no sentido de incentivar a presença britânica na América, tanto como referência intelectual como por meio do incentivo à imigração. Tal esforço reflete a crença no modelo britânico como uma via que conferiria aos novos Estados independentes feições mais modernas e civilizadas.
Estudos de caso perseguem as influências recíprocas entre Europa e América nos anos de 1820 analisando a trajetória de atores sociais e de ideias no interior do espaço atlântico. A fim de entender como o patriotismo italiano evoluiu após 1821, Maurizio Isabella dedica-se a encontrar interlocutores intelectuais e políticos dos liberais italianos, dando destaque à América Latina. No quarto capítulo da obra, “Entangled Patriotisms: Italian Liberals and Spanish America in the 1820s”, Isabella apresenta a trajetória de alguns liberais italianos que se deslocaram para diferentes espaços da América Latina em nome da revolução, o que evidencia a natureza internacional do patriotismo e do liberalismo no espaço atlântico nos anos de 1820. No capítulo 5, “The Brazilian Origins of the 1826 Portuguese Constitution”, Gabriel Paquette identifica, como o próprio título anuncia, as origens brasileiras da Constituição Portuguesa de 1826 a partir da evidência da autoria da Carta. O texto teve por base a Constituição do Brasil de 1824 e recebeu adaptações e retoques de D. Pedro, então imperador do Brasil e legítimo herdeiro do trono português. Seu texto sustenta a ideia de que a influência mútua entre Brasil e Portugal persistiu após a independência do Brasil. Os capítulos de Isabella e Paquette reforçam um dos sentidos da mutualidade da influência entre Europa e América ao demonstrarem que o espaço da América Latina também influenciou a Europa durante os anos de 1820, e não somente o contrário, como aponta a maioria dos estudos. Ao mesmo tempo, os capítulos de Isabella, Paquette e Fowler reforçam o constitucionalismo e o liberalismo como fortes vetores de transformação política, elementos do emaranhado das conexões atlânticas que se aprofundam pela via da solidariedade ideológica nos anos de 1820.
Por meio da análise da trajetória política de Bernardo O’Higgins no Peru, Scarlett O’Phelan Godoy rastreia as conexões atlânticas nos anos de 1820 ao longo do capítulo 7, “The Chilean Irishman Bernardo O’Higgins and the Independence of Peru”. O’Higgins tem origem familiar irlandesa e, ao mesmo tempo, ligada aos quadros administrativos coloniais espanhóis. Estudou na Europa, o que propiciou a ele uma rede de contatos em torno de ideias liberais, e atuou politicamente durante o processo de consolidação da independência no Chile e no Peru. A autora demonstra que a trajetória política de O’Higgins tocava no complicado enredo de questões políticas que o aproximou e/ou afastou de figuras-chave como San Martín e Bolívar no Chile e no Peru..
No capítulo 9 “Heretics, Cadavers, and Capitalists: European Foreigners in Venezuela during the 1820s”, Reuben Zahler empreende análise meticulosa sobre a crescente imigração para a Venezuela nos anos de 1820, problematizando a própria concepção de “estrangeiro”, já que, no período analisado, o senso de unidade nacional não existia na Venezuela, tampouco na Grã-Colômbia. O autor apresenta os diferentes perfis de estrangeiros presentes na Venezuela nesta década, os estímulos à imigração, os impactos gerados por essa presença e o quanto a presença dos estrangeiros ajudou os Estados em formação a perseguir sua agenda liberal, nutrindo o livre-comércio, promovendo um padrão de código unitário, apoiando a liberdade e diversidade religiosa e reconfigurando o lugar institucional da Igreja Católica. Aqui é o caminho da circulação de pessoas que fortalece a evidência das conexões transatlânticas nos anos de 1820.
O problema da escravidão e do tráfico de escravos é objeto de análise nos capítulos 11 e 12 (além do 3, de Fradera, já mencionado). Em “There is No Doubt That We Are under Threat by the Negroes of Santo Domingo: The Specter of Haiti in the Spanish Caribbean in the 1820s”, Carrie Gibson demonstra como o medo de revoltas coloniais e/ou escravas adquiriu contornos mais dramáticos no Caribe espanhol em função do espectro do Haiti. Após discutir os significados do medo e a dificuldade de mensurar os muitos tons e níveis desse medo, Gibson defende que o espectro do Haiti foi fundamental para determinar a continuidade do pacto colonial e a fidelidade à Espanha em Cuba e em Porto Rico. No capítulo doze, “Bartolomé de las Casas and the Slave Trade to Cuba circa 1820”, Christopher Schmidt-Nowara demonstra como a autoridade de Bartolomeu de Las Casas foi mobilizada no debate público no seio do liberalismo espanhol, especialmente por proprietários de escravos de Cuba. Las Casas foi utilizado como autoridade para compreender, defender ou atacar a escravidão e o tráfico de escravos diante do seu crescimento sem precedentes em Cuba. Tomados em conjunto, os capítulos sobre a escravidão e o tráfico negreiro evidenciam um importante eixo de conexões transatlânticas ao longo do século XIX. Convém salientar que as tais conexões atlânticas estabelecidas em função da escravidão não se limitaram às relações Europa-América. Também envolviam conexões intelectuais entre os três bastiões da escravidão na América – Brasil, Cuba e sul dos Estados Unidos – e conexões econômicas entre tais espaços com a África a despeito das pressões britânicas pelo seu fim, como têm apontado pesquisas recentes.
Como já foi sinalizado, há um esforço recente de renovação historiográfica a respeito do tema do liberalismo e das revoluções de independência na América Ibérica, e o já mencionado projeto Iberconceptos pode ser tomado como representativo de tal esforço. Ele dá destaque às conexões atlânticas além dos limites dos Estados-nacionais por meio do aporte teórico da história dos conceitos. Ainda que não o digam dessa forma, Brown e Paquette operam em um campo semelhante ao do Iberconceptos, na medida em que supõem que o advento da modernidade caracterizou o período compreendido entre os fins do século XVIII e início do XIX, e que apontam para os problemas provocados pela abordagem nacionalista do período.
Matthew Brown, em notas conclusivas do capítulo treze, salienta: “The overall conclusion encouraged by the works collected here, alongside other recent scholarship, is that the 1820s produced no outright winner: no European empire achieved hegemony in the Americas, no national political project proceeded untroubled, and no political ideology (monarchism, republicanism, or mixed constitution) was unequivocally ascendant. (…) As a unit of study, the 1820s lend themselves to the study of imperfect beginnings and unfinished endings”. A provisoriedade averiguada de maneira inegável ao longo dos capítulos e reafirmada por Brown não é exclusiva da década analisada na obra, embora tenha ganhado contornos específicos durante os anos de 1820. Não seria – cabe perguntar – a provisoriedade acima diagnosticada a própria crise do Antigo Regime que, para além do desmantelamento dos impérios ibéricos, representou também uma transformação mais ampla, qual seja, o advento da modernidade? Seria possível prescindir dessa última categoria, ou da de crise, como poderosas ferramentas para analisar os anos de 1820? Ao avaliar a assertiva de que os anos de 1820 devem ser tomados como unidade de estudo coerente – como defendem os organizadores -, acredito que, tanto pela via da consagrada dialética braudeliana das durações históricas, como pela centralidade das categorias de modernidade e de crise, não reconhecidas como tais em Connections after Colonialism, a periodização do livro é pouco operacional e limitadora.
O esforço de muitos autores de cada capítulo por recuperar as hipóteses anunciadas na introdução e estabelecer diálogos com outros capítulos, bem como o notável rigor metodológico presente na introdução e nas notas conclusivas, deixam a impressão difusa de que há um projeto (ou uma tendência) em favor da organização de um novo enfoque historiográfico no interior da “velha” história atlântica. De fato, as conexões atlânticas foram reconfiguradas nos anos de 1820, e de maneira muito bem sucedida a obra explora os elementos que dão à década analisada um caráter peculiar. O liberalismo/constitucionalismo, a intensificação na circulação de pessoas e ideias ao longo dos anos de 1820, a reconfiguração das relações da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos com a América Latina e as transformações acercada escravidão e do tráfico de escravos, todos esses tópicos justificam a necessidade de se analisar os anos de 1820 como um marco importante de transformação. No entanto, reconhecer a peculiaridade dos anos de 1820 não diminui, antes fortalece, a necessidade de repensar a periodização proposta na obra por meio da interlocução com outras vertentes historiográficas que anteriormente ao esforço aqui empreendido tem se debruçado há anos sobre periodização, temas, problemas e espaços semelhantes. Tal interlocução poderia fortalecer a tese principal dos organizadores, segundo a qual os destinos da Europa e América não se separam a partir das revoluções de independência, mas antes se reconfiguram, sendo os anos de 1820 fundamentais para bem compreender esse processo.
As ressalvas aqui enunciadas não comprometem o mérito de Connections after Colonialism. Ao identificar as relações de influência mútua entre Europa e América Latina nos anos de 1820, superando a abordagem simplista da dominação da segunda pela primeira ou da sucessão de ambas como mera transferência de hegemonias, o livro se apresenta como uma grande contribuição historiográfica para o estudo transnacional do século XIX.
Cristiane Alves Camacho dos Santos – Universidade de São Paulo (USP).
BROWN, Matthew; PAQUETTE, Gabriel (Orgs.). Connections after Colonialism. Europe and Latin America in the 1820s. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2013. Resenha de: SANTOS, Cristiane Alves Camacho dos. Almanack, Guarulhos, n.11, p. 854-859, set./dez., 2015.
La Nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España | Gregorio Alonso
La Nación en capilla es un libro ambicioso. En él se aborda una cuestión extremadamente compleja y debatida de la historia de España: la formación de la nación y el lugar de la religión católica en este proceso. Gregorio Alonso lo hace en sus propios términos y reconstruye la conformación de la ciudadanía católica -de larga vida y tardías resurrecciones- desde los últimos años del siglo XVIII hasta el inicio del último cuarto del siglo XIX. Este concepto particular de ciudadanía se define en sus primeras páginas en una doble dimensión: estatuto legal plasmado en la legislación y proyecto político. La forma de definirlo anticipa el tratamiento con el que Gregorio Alonso lleva a cabo la enorme tarea de contarnos este siglo de historia desde un punto de observación particular que contiene las relaciones entre Estado e Iglesia pero que, al mismo tiempo, las desborda ampliamente. Emplazado en estas intersecciones y de la mano de este concepto de la ciudadanía católica -que conforma a la vez una fórmula identitaria que excluye a todos los que no pertenecen a la comunidad de creyentes- se da una explicación convincente y multifacética de la formación la nación española: una nación en capilla.
Esta reseña, en consecuencia, más que dar cuenta de todas sus contribuciones, las polémicas y debates en los que interviene y que, a su vez produce, hará foco en determinadas cuestiones vinculadas a una manera de analizar la historia política de España en poco menos de cien años desde una preocupación específica -la de la cuestión religiosa en su relación a los poderes gubernamentales y fácticos- y desde determinados sujetos -colectivos y en tensión- que atraviesan corporaciones, gobiernos o grupos de pertenencia.
La introducción del libro proporciona otras definiciones accesorias, complementarias e indispensables para analizar el período, como las de clericalismo y anticlericalismo. Estas nociones quedan asociadas en la investigación de Alonso, ya no solamente a posturas políticas acerca del lugar que debía ocupar el clero católico en relación con el Estado sino a las operaciones concretas de determinados grupos y facciones que intervienen en la lucha política española. La tensión existente entre estos dos movimientos -cuya forma de exhibición se expresó históricamente con intensidad y violencia diversa- definirá, según Alonso, la polarización y la inestabilidad de la política española. De modo que si la lucha política en el período analizado se hizo visible en buena medida a partir de este antagonismo -clericales vs. anticlericales-, el trabajo de Alonso muestra cómo esta disputa no fue siempre igual a sí misma y experimentó transformaciones debido a los cambios y tensiones al interior de cada una tradiciones que se enfrentaban. El resultado de este enfoque ofrece un repertorio de los modos específicos, dinámicos e históricos que asumió esta confrontación.
Los temas y problemas que este libro trata reconocen en su autor trabajos previos, con un tratamiento desigualmente intenso según los períodos y las escalas espaciales consideradas. En esta oportunidad el libro lleva a cabo una mirada secular del problema del cambio político y el tránsito a la modernidad uniendo un conjunto de temas y períodos, a los cuales no es habitual encontrarlos en la misma mesa de trabajo, ligados a partir de un conjunto de interrogantes que los integran.
La nación en capilla se organiza en la presentación de sus contenidos y en el desarrollo de sus principales argumentos de una manera, si se quiere, clásica. Apela a la cronología construida a partir de experiencias políticas de signo diverso y objetivables a partir de los distintos gobiernos. Los ocho capítulos reúnen, en la mayoría de los casos, ciclos políticos donde quienes detentaban el poder y sus antagonistas se enfrentaron con intensidades y recursos diversos. El libro – articulado en torno a los ejes de la conflictividad política epocales: revolución/reacción; conservadores/liberales, clericalismo/anticlericalismo- modula el análisis del alcance de determinados intentos reformistas junto a los estallidos de violencia tumultuaria. La reconstrucción, casi año tras año, de las confrontaciones político-religiosas abre un mundo de relaciones que redefine las etiquetas y los contornos de grupos sociales y/o corporativos en sus comportamientos políticos y en sus formas de acción.
Los primeros tres capítulos tratan sobre los comienzos del establecimiento de esta ciudadanía católica antitolerante y la emergencia de actitudes y escritos anticlericales en clave violenta. Se analizan las diferentes posiciones acerca del lugar de la Iglesia en la configuración de los nuevos regímenes y los inicios de la secularización de sus agentes y recursos. El capítulo 1, Cruzadas, revolución y reacción (1793-1820) , considera la fase inicial de este proceso que no es unitario y esboza buena parte de los conflictos que se desplegaron a lo largo de casi un siglo con diferentes actores y dinámicas. Los años de las guerras de convención, la guerra de independencia, el constitucionalismo gaditano y la restauración fernandina concentran algunos de los debates y luchas que intentaron saldarse hasta finales del siglo XIX y, desde luego, también después. Poco más de dos décadas le permiten al autor reflexionar sobre las dimensiones religiosas de la crisis del Antiguo Régimen y de los inicios del liberalismo. En este período, la religión está presente -aunque no siempre lo está del mismo modo- tanto en la legitimación de las guerras contra Francia -la catolicidad del reino como elemento fundante de la comunidad amenazada- como en Cádiz de 1812, cuando se dotaba al Estado español de un régimen de estricta confesionalidad en la que la intransigencia era elevada al rango constitucional. Las “cruzadas” de 1793 y de 1808 se presentan, asimismo, en sus contrastes de cuyo análisis se explica la necesidad de las Cortes gaditanas de consagrar al catolicismo como el “alma patria”, en aquel contexto asumiendo un formato constitucional. Según Gregorio Alonso esta operación fue posible porque “la cruzada católica” fue mucho menos monolítica y católica de lo que se supone y porque el “invasor francés” contó con el apoyo de buena parte de la jerarquía eclesial. Es decir, en 1812 existía una prehistoria de las divisiones eclesiales y nacionales y una parte de la Iglesia ya acumulaba experiencias de integración con los elencos protoliberales y de participación en los debates sobre el papel que debía jugar la fe en las sociedades modernas. De modo que la transferencia de la sacralidad desde el trono y el monarca, a la nación y a la constitución, expresaban sincretismos político-religiosos que ya venían teniendo lugar. El papel de la religión no se detenía en el terreno de las legitimaciones y la instrumentación del proyecto gaditano contó con el personal y las instituciones eclesiásticas desde el comienzo, como por ejemplo en los procesos electorales. La progresiva desafección de una parte del clero frente a las tareas -y recursos- que la experiencia gaditana exigía, se hizo patente con la restauración fernandina cuando se reeditaron antiguas posiciones privilegiadas y se produjeron no pocos ajustes de cuentas y purgas al interior del clero.
El capítulo 2, 1820-1834: Constitución, reacción y exilio , reconstruye las medidas de reforma eclesiástica durante el trienio constitucional, cuya profundización incrementó la predica anticlerical -literaria y periodística- y tuvo como respuesta la resistencia violenta por parte de los antiliberales. Allí se examina el modo en que se reestablecieron estas respuestas de los restauradores monárquicos absolutistas y su alianza con la Iglesia antirrevolucionaria. Una vez cerrada la fase del Trienio y suprimido el sistema constitucional, durante la década ominosa (1823-1833) se revisó el pasado político reciente en clave reaccionaria. El estudio de Alonso repasa la responsabilidad del partido apostólico en la difusión del mito antimasónico. La restauración eclesial en esta etapa recibió impugnaciones por parte del arco liberal y obligó a muchos de sus representantes a exiliarse, y una buena parte de ellos lo hizo en Londres. Fuera de España el pensamiento liberal se moderó, y lejos de abrazar las ideas republicanas, siguió sosteniendo la figura del monarca en el mejor estilo doceañista. El discurso político-religioso, por su parte, tomó el ejemplo de las nacientes repúblicas hispanoamericanas donde la influencia de la Iglesia se había circunscripto al terreno moral. La incorporación de estas experiencias transatlánticas produce un efecto sugestivo de explicación más amplia y disruptiva en la medida que los marcos de referencia exceden los de Europa occidental y mediterránea.
El capítulo 3 Tiempos de guerra, revolución y martirio (1834-1840) trata de un período donde recobra impulso la revolución liberal y donde la confesionalidad del estado sólo es reconocida como hecho pre-constituyente. En esta etapa se retomaron las políticas desamortizadoras a las que siguió una nueva guerra civil -con ramificaciones fuera de España: en Francia, Inglaterra y el Papado- en la que participó el naciente carlismo y donde tuvo lugar, entre 1834 y 1836, un tipo particular de anticlericalismo popular extremadamente violento. Durante El Trienio esparterista analizado en el capítulo 4 se construyen las nuevas fórmulas probadas para consolidar la responsabilidad del estado en la gestión y administración de la vida religiosa nacional, y para construir una de Iglesia nacional independiente económica e institucionalmente del Vaticano. El fracaso de este experimento político tuvo como consecuencia la consolidación del pensamiento ultramontano.
Entre 1843 y 1854, período tratado en el capítulo 5 –Las aguas al cauce conservador (1843-1854) – se analizan los instrumentos legales a partir de los cuales se refrendó la confesionalidad del Estado, el monopolio católico de educación y la vida espiritual de la ciudadanía. La Constitución de 1845, junto con el Código Penal de 1848 y el Concordato con la Santa Sede de 1851 formaron el corpus jurídico que marcaba el compromiso católico de la línea moderada.
Como han demostrado distintos trabajos, la corta experiencia del Bienio progresista incluyó las últimas ventas de tierras eclesiásticas y un cierto grado de tolerancia religiosa, la que era posible a partir de los estrechos márgenes que ofrecía el Concordato, la Constitución y el Código Penal que venían de ser consagrados. Pese a ello, la ruptura de la confesionalidad del Estado y la apertura de la discusión sobre el estatuto de las minorías religiosas en España desató fuertes reacciones del “neocatolicismo”. En este capítulo sexto se examina su agenda política que combinó legitimismo, antiparlamentarismo y clericalismo. Desde estas coordenadas surgió un movimiento católico con un nivel de organización que el anticlericalismo nunca alcanzaría, aunque, al mismo tiempo dividió a los católicos entre sí por la persistencia de la versión liberal. Éstos últimos, los católicos liberales, admitían la separación entre Estado e Iglesia, las reformas de la estructura eclesial y el diálogo con las nuevas realidades políticas y sociales. Se perfilaban de este modo dos fórmulas posibles de combinación de elementos del catolicismo y del pensamiento liberal. Estos temas son tratados en el capítulo 6 –Unidad católica y persecución de los protestantes (1854-1868) – junto con el ingreso -tímido, frío y vacilante- de los protestantes a la vida religiosa pública española. Las magras cosechas de la prédica protestante fueron explicadas en aquel momento, e incluso por una historiografía no tan antigua, a partir del indiferentismo religioso y la ignorancia y falta de instrucción generalizada entre las clases menesterosas. Pese a que el credo protestante no arraigaba en tierra española, se le opusieron resistencias a través de antiguos recursos como los catecismos populares y otro tipo de dispositivos plagados de identificaciones entre los protestantes y los socialistas, en los que se detiene Alonso para mostrar la persistencia de una de las asociaciones que aún continuaban organizando el pensamiento mayoritario: entre la unidad religiosa y la unidad nacional.
El pronunciamiento progresista de septiembre de 1868 y el sexenio democrático que el mismo inauguró intentaría una vez más revitalizar los compromisos entre la fe heredada y la razón moderna, la Iglesia y el estado en esta oportunidad con la imposición de la libertad de conciencia. El propósito era modernizar a España y europeizarla y para ello era necesario poner fin al monopolio educativo y cultural católico y marginar a los neocatólicos. En el capítulo 7 –Los adalides de la unidad católica ante el fin de la confesionalidad- se analiza el proceso laicizador y los intentos por ampliar la diversidad religiosa al que se opuso la derecha legitimista desde su prensa periódica, las agrupaciones de laicos y a partir de acciones violentas contra autoridades civiles. En esta etapa, en consonancia con la romanización de la Iglesia Católica y los contenidos del “Syllabus”, la cuestión social ocupó el centro de la discusión y el giro anti-moderno del Vaticano respaldó de modo más sólido al bando ultramontano en su lucha contra la izquierda tolerantista. En este punto, Gregorio Alonso muestra de manera cabal como, si bien los sectores clericales acudieron a los viejos tópicos ultramontantos, también incorporaron nuevos dispositivos como las Escuelas destinadas a la formación religiosa del proletariado, cuyas características se analizan de modo sumamente preciso en este capítulo.
El último capítulo –Revolución, democracia y tolerancia: el sexenio democrático (1868-1874)- incorpora las posiciones de otros sectores -los republicanos, los católicos liberales y los progresistas- en relación con el debate de la cuestión religiosa. Por último se le dedican algunas páginas a uno de los cambios más relevantes del sexenio consistente en la conformación de un mercado libre de creencias. Se trataba de un objetivo por parte de quienes lo propiciaban con el objeto de mostrar la creciente “civilización” de España. Alonso le dedica varias páginas a describir la llegada de misioneros y predicadores de distintos credos, su implantación en distintas ciudades y la formación de centros religiosos. Al mismo tiempo critica la lectura pesimista que se ha realizado sobre este cambio religioso por considerarla “excesivamente sociologizante”. Al tiempo que reconoce los limitados alcances de la formación de un mercado de creencias religiosas -e incluso su fracaso- ensaya explicaciones “históricas”. En ellas es posible encontrar los argumentos más clásicos acerca del fracaso del arraigo del protestantismo en España, como el analfabetismo de la mayor parte de la población (particularmente relevante dado su énfasis en la lectura de las Sagradas Escrituras), o la persistencia en la asociación con carácter “extranjero” del mismo. Pero el autor añade otras razones para entender la tibia recepción del credo protestante, como el mantenimiento del poder de la Iglesia católica en posiciones clave para la reproducción del sistema de creencias (los bautismos y los matrimonios seguían haciéndose en templos católicos por el poder inercial de la tradición), a lo que agrega la escasa duración de la alianza entre los misioneros protestantes y la izquierda (sus representantes, más que propagandizar otras religiones e incluso el pluralismo religioso, buscaban apuntalar un estado neutral en materia religiosa) y el papel de sus apóstoles quienes en su mayoría eran excatólicos españoles que luego volvieron a las filas del catolicismo. Esta experiencia, que se inició en 1869 en el terreno del pluralismo religioso, se cerró en 1876 tras la aprobación de otra Constitución que sólo reconocía la tolerancia privada de los cultos no católicos.
La consideración de la historia política del período privilegiando el punto de observación de la cuestión religiosa, tal como lo hace Gregorio Alonso en este libro, le ofrece muchas oportunidades para plantear distinto tipo de revisiones. Una de ellas, particularmente interesante, es la que cuestiona la memoria liberal sobre la década ominosa a través de algunas de sus obras -como La España bajo el poder de la Confederación apostólica – para destacar la introducción de determinadas novedades legales y administrativas que formaban parte de una política que no estaba despojada de ambigüedades. El anticlericalismo popular y los tumultos de Madrid y otras ciudades ,como Reus o Zaragoza, entre 1834 y 1836, recibe una reinterpretación a la luz de las contribuciones más recientes, la prensa periódica y fuentes inéditas resaltando quiénes fueron los destinatarios de la terror anticlerical -los frailes, más que el clero secular y las religiosas-; el contexto de la guerra civil y el tipo de convocatorias que hacían de un lado y otro a través de panfletos, además de resaltar el papel de las milicias. Alonso se detiene en distintos momentos de este largo período en cuestiones de gran valor documental, como los libros y folletos, entre muchas otras fuentes, que se publicaron a inicios de la década de 1840 y buscaban relatar la guerra entre carlistas y cristinos, o el examen del canon ideológico liberal en la década moderada 1843-1854 a través de los manuales de historia del Derecho eclesiástico
Otro de los aciertos del orden de las interpretaciones más generales es el análisis de las razones sobre la ausencia de un partido católico en España (no así de partidos “de católicos”). Sus argumentos articulan explicaciones que toman en cuenta diversos aspectos de la situación política de España a lo largo del siglo XIX: la ausencia de necesidad de presión política en el marco de un sistema confesional; la escasa cultura movilizadora del catolicismo patrio; y la identificación de los partidos de la derecha hispana con los intereses católicos. El último párrafo del libro se refiere a algunos signos de la permanencia de la matriz religiosa de la nación en la España de 2014. El estudio de las razones de esas continuidades en el último siglo y medio (es decir cuando se detiene el análisis de Gregorio Alonso) requeriría de un esfuerzo -o más de uno- de la calidad y solidez como el que se aprecia en la obra que comentamos en estas páginas.
María Elena Barral – Instituto Ravignani – Conicet, Buenos Aires – Buenos Aires, Argentina. E-mail: [email protected]
ALONSO, Gregorio. La Nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España. Granada: Comares Historia, 2014. Resenha de: BARRAL, María Elena. La construcción de la ciudadanía católica: intersecciones históricas e historiográficas para una explicación con resonancias en el presente. Almanack, Guarulhos, n.10, p. 493-497, maio/ago., 2015.
Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a NineteenthCentury Brazilian Penal Colony | Peter M. Bettie
Publicada em 2015 por Peter M. Beattie, professor da Universidade de Michigan, a obra“Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a Nineteenth-Century Brazilian Penal Colony” consiste em um ambicioso estudo de caso, em que a colônia penal de Fernando de Noronha se converte em um microcosmo para a análise de temas como raça, cor, escravidão, gênero, sexualidade, punição, justiça e direitos humanos, tanto em relação à sociedade e ao Estado brasileiros quanto ao quadro atlântico ou global.
Em primeiro lugar, o autor possui o mérito de escapar das armadilhas teóricas e metodológicas de estudos sobre prisões e punições, evitando a mera reprodução ou negação do paradigma foucaultiano (“Vigiar e Punir: O Nascimento da Prisão “). Tampouco recai nas versões simplificadas do debate sobre “ideias fora de lugar” ou no reducionismo binário de categorias como arcaico e moderno, afastando-se de alguns dos vícios que acometem obras de referência sobre o tema na América Latina e no Brasil. A partir de uma apropriação muito particular dos estudos e aportes teóricos e conceituais de Erving Goffman, Lewis Coser e David Garland, Beattie esboça uma criativa analise em que a ilha, o Império do Brasil e o Atlântico (quiçá o globo) se cruzam em múltiplas escalas geográficas, sociais e discursivas do oitocentos.
Os primeiros capítulos perpassam a historia da ilha desde a colonização portuguesa até o século XIX, com sua progressiva conversão na principal colônia penal do Estado brasileiro. O autor descreve o cenário e os atores envolvidos sem perder de vista o quadro mais amplo da sociedade brasileira e do Estado e suas instituições em formação, dando-se a um luxo do qual não usufruíam os condenados em seu isolamento, em que remetiam à sua ilha como “Fernando” em oposição ao “mundo” (continente). Fernando de Noronha adquire ao longo do texto tanto a condição de espaço físico, geográfico e social quanto a de representação compartilhada e disputada pelos agentes históricos, ora como cenário idílico ora como cárcere. Assim como a escravidão, a ilha se converteu em metáfora nas representações sobre liberdade e sua negação, servindo aos mais variados discursos e interesses.
Muito transparente em relação à metodologia adotada e à documentação analisada, Beattie apresenta as contradições entre o caráter normativo dos discursos de autoridades da alta burocracia imperial, da legislação vigente e dos regimentos oficiais e a realidade cotidiana da ilha, em que militares e condenados de diversas cores e condições civis (inclusive escravos) reinventaram suas vidas e identidades. Enquanto os discursos penais da primeira metade do século XIX remetiam a um estrito controle do tempo e do espaço, a arquitetura e a rotina da colônia possuíam condições muito particulares, não decorrentes de um caráter arcaico da sociedade escravista e das instituições brasileiras, mas em parte pela própria condição geográfica insular e pelas relações sociais muito particulares desse microcosmo social. Por entre as brechas do sistema, pessoas livres conviviam com condenados, e formas de comércio e de contrabando se misturavam à rotina imposta pelos regimentos. Contudo, esse submundo de Fernando de Noronha não é tomado como a negação de sua função, mas como a face complementar (“dark twin”) típica de todo ambiente penal planejado, sendo inclusive incorporado e defendido nos discursos dos administradores.
Ao abordar o trabalho dos presos nos campos agrícolas e outras atividades, o autor apresenta um interessante paralelo entre prisão e plantation, resvalando em uma tradição de estudos de cunho marxista que relacionam a esfera da produção e as práticas punitivas (Georg Rusche e Otto Kirchheimer, “Punishment and Social Structure”; Dario Melossi e Mario Pavarini, “The Prison and the Factory”). No entanto, as aproximações sugeridas por Beattie não se pautam pela dimensão econômica, especialmente tendo em vista o caráter deficitário da produção da colônia – em oposição à alta lucratividade de grande parte das plantations do continente – e o fato de que a maioria dos condenados não retornaria à sociedade na condição de mão-de-obra disponível. Amparado nas reflexões de David Garland, Beattie adota uma abordagem pluralista e multidimensional da punição, sem recair nas fórmulas do marxismo, do paradigma foucaultiano ou do simbólico durkheimniano, mas buscando combinar esses referenciais clássicos da sociologia da punição. É o caráter de instituições disciplinares que faz convergirem os ambientes e as práticas da colônia penal, das fazendas escravistas e até mesmo de agrupamentos militares.
Ao dialogar com outras duas referências do campo da sociologia, Erving Goffman e Lewis Coser, o autor apresenta uma das contribuições mais originais da obra no quinto capítulo. Por meio do uso alargado dos conceitos “instituição total” e “instituição gananciosa” (“greedy institution”), Beattie contradiz a suposta tensão entre a instituição da família e outras instituições disciplinares nas práticas narradas em Fernando de Noronha. Na gestão da colônia penal as autoridades passaram a questionar as diretrizes normativas referentes a gênero e sexualidade – isolamento e abstinência dos condenados -, defendendo a presença de mulheres e a constituição de laços familiares heterossexuais. O casamento se converteria em política abertamente defendida pelas autoridades da ilha, como instituição voltada à disciplina e à produtividade dos condenados: a “instituição ciumenta da conjugalidade heterossexual” (“jealous institution of heterossexual conjugality”).
Outra importante contribuição decorre da análise dos conflitos entre os militares que geriam a colônia penal e as autoridades da alta burocracia estatal, em geral pressionados pelos interesses de proprietários de escravos. Desde os primeiros capítulos o autor demonstra a politização das questões penais e prisionais no processo de formação do Estado. É evidente ainda o papel da política partidária no que se refere a nomeações de cargos e práticas clientelistas, que atrelavam a gestão da ilha ao jogo político do continente. Na segunda metade do século XIX, diante dos sucessivos embates sobre a escravidão e as constantes comutações de penas de morte pela ação do poder moderador, a colônia penal de Fernando de Noronha se converteu em uma representação disputada pelos agentes sociais. Curiosamente, tanto abolicionistas como defensores da manutenção da escravidão faziam uso da comparação entre a condição prisional e a escravidão no mesmo sentido, apontando a segunda como pior que a primeira. Entretanto, enquanto abolicionistas questionavam o cativeiro como indigno e pior que a prisão, escravocratas criticavam as comutações de penas de morte em galés ou prisão, sugerindo o risco de se incentivar a criminalidade dos escravos que prefeririam correntes e grades às senzalas. Nesse discurso, a colônia penal se tornava a ilha do rei, onde os escravos se livrariam do cativeiro. Como insiste o autor, tal percepção não correspondia à realidade dos números dos crimes e de escravos em Fernando de Noronha, o que, todavia, não invalida a importância de sua representação no imaginário oitocentista.
Nesse contexto, as autoridades locais passaram a ser questionadas por membros da alta burocracia sobre as praticas de gestão da Ilha, especialmente a partir da década de 1880, com a visita de inspetores nomeados pelo Ministério da Justiça. Entre as principais divergências estavam a própria política de promoção de casamentos (“jealous institution”), o reduzido controle do tempo e do espaço de circulação dos condenados, a quantidade de trabalho imposto e a falta de segregação e hierarquização da população prisional com base na condição civil. Quanto último quesito, as autoridades respondiam aos anseios de uma sociedade que ainda legitimava a escravidão e aos interesses de proprietários que se sentiam ameaçados pela crescente rebeldia de seus cativos e pela ascensão do movimento abolicionista. Entretanto, administradores da colônia se negavam a adotar uma gestão que segregasse e punisse de forma diferenciada escravos ou libertos. Esse dado permite ao autor sugerir uma estratificação menos clara entre os condenados das mais diversas cores e condições civis, aglomerados na categoria dos pobres intratáveis (“intractable poor”), pois, na colônia penal, condenados que fossem escravos ou livres compartilhariam de condições de vida e oportunidades muito semelhantes. O autor é cauteloso e nega qualquer subsídio à ideia de uma democracia de condição civil ou racial nas prisões, argumentando apenas contra estudos que avaliaram a condição de escravos nas prisões a partir da legislação e regulamentos.
O capitulo que antecede a conclusão, intitulado “Direitos Humanos em Perspectiva Atlântica” (“Human Rights in Atlantic Perspective”) destoa em forma e conteúdo do restante do livro. No entanto, se a escolha aparentemente rompe a harmonia do texto, a reflexão de cunho ensaístico e as hipóteses levantadas conferem maior profundidade e relevância à obra. A proposta comparativa tem por foco principal Brasil e Estados Unidos no século XIX, mas inclui outros espaços do globo, inclusive para além do Atlântico. Entre os pontos levantados, dois merecem destaque. Em primeiro lugar, o autor aponta o paradoxo de o Brasil, último país a abolir a escravidão, ter sido um dos primeiros a abolir de facto a pena de morte. Esse fenômeno negligenciado pelos que estudam o tema contradiz argumentos da historiografia sobre os Estados Unidos que defendem a relação intrínseca entre pena de morte e escravidão para justificar as divergências regionais do judiciário no país. Ainda nesse quesito, o autor se une aqueles que defendem a importância da atuação de D. Pedro II na política nacional, especialmente no que se refere ao judiciário, pois se a abolição da escravidão era um tema essencialmente do Legislativo, as prerrogativas do poder Moderador lhe permitiram atuar para por fim às execuções de penas capitais, inclusive no sentido de defender internacionalmente a imagem do país.
Em segundo lugar, Beattie sustenta a hipótese de que reformas referentes às penas corporais, à pena de morte e à escravidão se cruzaram e se estimularam mutuamente, e que aquelas que se referiam a melhorias no tratamento de algumas categorias sociais abriam possibilidades para futuras reformas referentes aos grupos ainda marginalizados. A título de exemplo, reformas contra penas corporais a homens livres teriam aberto a possibilidade de debates acerca das condições de prisioneiros e, inclusive, escravos. Além do mais, como se referiam a diferentes integrantes dos grupos marginalizados da sociedade, a hipótese de reformas graduais é utilizada pelo autor para defender a categoria relativamente indiferenciada dos “pobres intratáveis” (“intractable poor”).
Por fim, o trabalho margeia o anacronismo ao se escorar no conceito de direitos humanos para retratar o fim do século XIX, sem, contudo, comprometer seus argumentos centrais. Diante da tendência de estudos sobre escravidão e raça se valerem de tal discurso, esse pecado dos historiadores pode se converter em virtude no que se refere ao posicionamento político no presente em que a obra se insere.
A partir de um estudo de caso original e ambicioso, Peter Beattie apresenta uma obra de múltiplas escalas, descrevendo as minucias do cotidiano desse microcosmo, perpassando o imaginário e os discursos da sociedade oitocentista brasileira, e utilizando de forma criativa modelos clássicos da sociologia. Um dos pontos altos do estudo, o voo panorâmico atlântico esboçado nos últimos capítulos apresenta uma promissora proposta de história comparada, que se levada adiante trará grandes contribuições para historiografia. Ainda que Brasil (ou o Atlântico) não caiba em Fernando de Noronha, Beattie faz dessa colônia penal uma janela para muitas dimensões do século XIX.
Marcelo Rosanova Ferraro – Universidade de São Paulo, São Paulo – SP, Brasil. Bolsista de Mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail: [email protected]
BEATTIE, Peter M. Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a NineteenthCentury Brazilian Penal Colony. Durham / London: Duke University Press, 2015. Resenha de: FERRARO, Marcelo Rosanova. Fernando de Noronha e o Mundo: A Colônia Penal do Império em Perspectiva Atlântica no Século XIX. Almanack, Guarulhos, n.10, p. 498-501, maio/ago., 2015.
Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos fundamentales / 1770-1870 | Javier Fernández Sebastián
O segundo tomo do Diccionario político y social del mundo iberoamericano – Conceptos pol íticos fundamentales, 1770-1870, é resultado de mais uma etapa exitosa do projeto Iberoamericano de História Conceitual, ou simplesmente Iberconceptos. Trata-se de uma obra coletiva original e de grande fôlego, com impactos relevantes no âmbito das vertentes historiográficas de enfoque atlântico. Seus 10 volumes reúnem 131 ensaios escritos por quase uma centena de autores provenientes da América Latina, dos EUA e da Europa, demonstrando, logo de início, a magnitude de tal obra.
Inspirado no dicionário histórico de léxicos políticos e sociais alemãoGeschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (1972-1997), o Iberconceptos tornou-se uma referência internacional para os subsequentes projetos de história dos conceitos em perspectiva transnacional criados na Europa, na Índia e no Extremo Oriente. Sem, contudo, reproduzir ipsis litteris o modelo do dicionário de O. Brunner, W. Conze e R. Koselleck, e adotando uma perspectiva transnacional, oIberconceptos aborda o universo histórico-linguístico do espaço Atlântico ibérico na sua transição para a modernidade , entre fins do século XVIII e meados do século XIX, quando, em razão de um modo distinto de experimentar e conceber o tempo histórico, se construiu “un nuevo régimen de conceptualidad” das experiências políticas e sociais, como salienta seu mentor e coordenador geral, Javier Fernández Sebastián, na Introdução ao Diccionario (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, p. 30).
Na primeira fase do projeto, o historiador espanhol, professor de História do Pensamento Político da Universidad del País Vasco, reuniu setenta e cinco especialistas em história de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México, Peru, Portugal e Venezuela, dividindo-os em nove equipes nacionais responsáveis por elaborar ensaios para dez conjuntos de conceitos. Além dessas equipes, coordenadores distribuídos por conceito ficaram responsáveis por juntar os resultados dos nove estudos de caso nacionais sintetizando-os num ensaio de caráter transnacional. O tomo I (Diccionario político y social del mundo iberoamericano – La era de las revoluciones, 1750-1850), publicado em 2009 e atualmente disponível para download na página oficial do projeto (http://www.iberconceptos.net), compõe-se dos seguintes verbetes:América/americanos, cidadão/vecino, constituição, federação/federal/federalismo, história, liberal/liberalismo, nação, opinião pública, povo/povos e república/republicanismo . O critério de seleção se justifica em função da centralidade desses termos para o vocabulário político da época. Seu caráter fluido e polissêmico permitia a estruturação de performances discursivas e projetos políticos por vozes e protagonistas antagônicos. Dessa forma, podemos afirmar que o projeto não aspira oferecer definições unívocas e normativas dos termos selecionados, mas enfatizar o viés polêmico e controverso dos usos linguísticos aparecidos na trajetória histórica dos conceitos. Por fim, oIberconceptos I organiza-se em volume único de mais de 1400 páginas, em que cada conceito representa uma seção do Diccionario , na qual um ensaio introdutório de caráter transversal e comparativo é seguido por outros nove estudos de caso nacionais.
O Iberconceptos II traz algumas mudanças importantes em relação ao tomo anterior. A primeira delas se refere ao formato. Organizados não mais num livro único, nesse segundo tomo outros dez conceitos foram selecionados obedecendo aos mesmos critérios acima mencionados, mas distribuídos por volumes. São eles:civilização, democracia, Estado, independência, liberdade, ordem, partido, pátria, revolução e soberania . Como antes, para cada conceito há um estudo de caráter transversal de autoria dos coordenadores que apresentam uma síntese dos resultados das pesquisas de corte nacional. Não obstante, nesse último tomo noventa e oito autores dividiram o trabalho de ampliação da escala de investigação, chegado a uma dúzia de países e territórios, assim distribuídos: Argentina/Rio da Prata, Brasil, Caribe/Antilhas hispânicas, América Central, Chile, Colômbia/Nova Granada, Espanha, México/Nova Espanha, Peru, Portugal, Uruguai/Banda Oriental, Venezuela . Como se pode notar, além da inserção do Uruguai ao sul do continente e das áreas banhadas pelo mar do Caribe, incluindo o istmo Centro Americano e as Antilhas hispânicas, percebe-se a dupla denominação tradicional (Vice-Reino) e nacional para os territórios da Argentina, Colômbia e México. Isso reforça a ideia tão cara ao projeto, de que, embora por razões operativas um dos eixos doDiccionario responda a uma lógica territorial, o estudo da história política e intelectual em qualquer caso não coincide estritamente com os atuais marcos nacionais. Além disso, o Iberconceptos vem demonstrando o potencial da história dos conceitos no lidar com temas que estão para além dos limites do Estado-nação. Inscreve-se definitivamente entre as tendências historiográficas que se pretendem comparativas, conectadas ou globais, como a chamada “História Atlântica”, cujas múltiplas interconexões devem ser pensadas num sistema plural abarcando não somente as regiões anglófonas e francófonas, mas também hispânicas e lusas.
Quanto às mudanças ocorridas entre os dois tomos, um último aspecto a ser sublinhado é o ajuste no recorte temporal do projeto. Conforme notamos pelos subtítulos dosDiccionarios houve um deslocamento do marco 1750-1850 para 1770-1870. Fernández Sebastián justifica que havia uma certa insatisfação entre vários participantes do projeto com o ponto de partida em 1750, visto que, em geral, as transformações político-conceituais no mundo ibérico só chegaram a adquirir maior intensidade nas últimas três décadas do setecentos. Grosso modo , o novo marco inicial coincide com o momento auge da versão ibérica da Ilustração, bem como as chamadas reformas borbônicas e pombalinas, respectivamente, nas monarquias intercontinentais hispânica e lusa. Por outro lado, o encerramento da pesquisa em 1850 deixava em aberto processos cujo desenvolvimento pleno só ocorreria anos depois, com a implementação de novas instituições liberais e republicanas na maioria dos Estados-nações surgidos após a desintegração de ambos os impérios (DPSMI, Tomo II, Vol. 1, p. 32).
A leitura dos verbetes do novo Diccionario deixa claro que ao longo dessa periodização secular (1770-1870), os ritmos de mutação conceitual não chegavam a coincidir em todos os territórios. Contudo, não há como negar que determinados acontecimentos e conjunturas específicas (a exemplo da crise aberta pela invasão napoleônica na península ibérica em 1807/1808, ou os movimentos constitucionalistas do início da década de 1820, decisivos para as independências), quando observados em conjunto, evidenciam que entre os coevos despontava uma nova consciência temporal que ensejava redescrições conceituais “futurocêntricas”, ainda que o horizonte de expectativas oscilasse entre perspectivas positivas e negativas. Nesse sentido, Guillermo Zermeño observa, na síntese transversal do conceito revolução,que depois de 1820 consolidou-se a ideia de “revolución como cambio de orden irreversible” ao mesmo tempo em que “el futuro se vulve incierto e irreconocible”. Foi a partir desse momento, segundo Zermeño que emergiu uma filosofia do progresso, embora os agentes políticos da época buscassem sempre – sem êxito – encerrar o ciclo de revoluções, que mais parecia um espiral sem solução definitiva (DPSMI , Tomo II, Vol. 9, p. 46).
Sem sombra de dúvidas, as independências e o vocabulário constitucional a elas associado foram um divisor de águas do ponto de vista das mudanças políticas e conceituais. Como destaca Fernández Sebastián, o Diccionario reforça a tese de que, em poucas décadas, a semântica política de toda a área do Atlântico ibérico ingressou em profundos processos metamórficos. Porém, alerta que interpretar esse período a partir de categorias dicotômicas como tradicional x moderno requer cautela. As concepções e práticas surgidas do “turbilhão revolucionário” (como alguns contemporâneos costumavam chamar) não eliminaram por completo uma série de instituições e marcos interpretativos vigentes. Por mais significativo que fossem as transformações no domínio simbólico daquelas sociedades, cujas raízes culturais e experiências históricas eram em boa medida familiares e compartilhadas, a substituição radical de um universo de representações por outro não ocorreria do dia para noite. Sendo assim, Fernández Sebastián sugere que, para pensar o intervalo de tempo que vai de 1770 a 1870, talvez os historiadores devessem substituir a palavra “revolução” como signo de uma época de rupturas, por “transição”, pois no que concerne aos fenômenos político-semânticos, estes seriam processos complexos de situações híbridas de transição. Nas palavras do próprio autor, “suponen no sólo coexistencia y solapamiento entre ‘lo viejo’ y ‘lo nuevo’, sino algo más importante, paradójico y sutil: procesos complejos a través de los cuales la tradición engendra la novedad” (DPSMI, Tomo II, Vol. 1, p. 40).
Isso é o que ocorre, por exemplo, com o conceito de Estado . Annick Lempérière, no seu ensaio transversal, explica que foi no âmbito da crise decorrente das invasões napoleônicas à península ibérica e das revoluções de independência, que surgem nos mundos iberoamericanos novas concepções acerca do Estado. Segundo a autora, no caso hispânico, a vacatio regis foi condição essencial para que o Estado deixasse de ser visto como objeto de propriedade do príncipe e retornasse à condição de sujeito com direitos e vontade própria. Não obstante, a representação metafórica docorpo , dominante no Antigo Regime, na qual o príncipe era a cabeça e os vassalos em seus distintos estados e estamentos os membros, não sofreu de súbito um abandono; ao contrário, constituiu-se um importante legado para a nova era política (DPSMI , Tomo II, Vol. 3, p. 26). O Estado que se transforma em sujeito (ou seja, que existe sem o príncipe, contudo, que tem poder), projeta uma concepção abstrata de que qualquer comunidade política possa atuar e defender-se no âmbito interestatal frente a outros Estados. É sob esta noção que se operará um conceito pactista de retroversão da soberania aos pueblos ,fundando aquilo que Lempérièrechama de “concepción federalista hispanoamericana del estado”, motor da fragmentação da monarquia espanhola e da formação de novas entidades nacionais (DPSMI , Tomo II, Vol. 3, p. 30).
Assim sendo, chegamos a uma importante questão abordada por Javier Fernández Sebastián na Introdução, e sobre a qual o Diccionario como um todo contribui para pensar: de que forma teria o mundo iberoamericano colaborado para a construção da modernidade? Esta obedeceria a um padrão único de desenvolvimento, ou não? Desde início do Oitocentos, consagrou-se na historiografia a ideia de uma modernidade ideal e normativa centrada nas trajetórias britânicas, francesa e norteamericana, que haveria funcionado como uma espécie de farol para os habitantes das demais regiões do globo, incluindo-se os ibéricos tidos como uma espécie de “não contemporâneos” do avanço civilizacional produzido naqueles países. Assim, supostamente proviria daqueles centros um único repertório conceitual, político e constitucional capaz de produzir em larga escala as transformações dos últimos séculos. Essa visão historiográfica, explica Fernández Sebastián, possuía raízes históricas nas disputas teológico-políticas e nas guerras de religião entre católicos e protestantes desde o século XVI, quando não só a Europa se dividiu em tais disputas como elas se prolongaram para a América. Quando em fins do século XVIII e início do XIX a hegemonia protestante foi reforçada discursivamente pelos ilustres representantes das Luzes, o mundo ibérico se viu excluído do cânone cultural (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, p. 49). Os estereótipos negativos acumulados contra os espanhóis e portugueses acabaram sendo reforçados, em parte, por suas próprias elites político-intelectuais quando estas se defrontaram com a tarefa de “reformar” o império ou fazer “progredir” a nação; ou pelos colonos americanos, que em certos contextos das lutas de emancipação não poupariam críticas à Espanha e Portugal como incapazes de imitar o modelo do “clube das nações civilizadas”, como demonstra João Feres Jr. no ensaio transversal sobre o conceito decivilização (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, p. 98).
Para Fernández Sebastián, não há dúvidas da contribuição do Atlântico Ibérico na construção da modernidade, entendida em linhas gerais como um novo marco simbólico e um novo vínculo social, uma nova legitimidade política, bem como uma nova maneira de vivenciar o tempo histórico (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, p. 30). Compartilhava com os demais quadrantes do mundo ocidental uma espécie de “globalización/atlantizaciónconceptual”, operada mediante um intenso tráfico cultural, de conceitos e experiências políticas, cujas dimensões amplas e multilateral nos permite considerar seu período de transformações como o de autênticasrevoluções atlânticas . Nesse sentido, afirma:
A despecho de tales barreras y estereotipos, todo indica que en la segunda mitad del setecientos el tráfico de lenguajes e ideas se intensificó enormemente en las dos orillas del Atlántico. A este respecto, es oportuno subrayar que el sistema atlántico no es simplemente un plexo de rutas comerciales oceánicas para la circulación de bienes y de personas: junto a los seres humanos y a las mercancías ordinarias, circularon – con especial intensidad durante la era de las revoluciones – muchos libros, periódicos e impresos de todo tipo; y con ellos, argumentos, noticias y conceptos (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, pp. 49-50).
A nosso ver, aqui reside um dos pontos fortes do Iberconceptos em geral, qual seja: sua compreensão do sistema atlântico como um laboratório conceitual de interações recíprocas, sobretudo a partir das últimas três décadas do setecentos e intensificado nas primeiras do Oitocentos com a difusão do vocabulário político-constitucional alimentado pela crise das monarquias ibéricas e os subsequentes movimentos de independência. Nesse contexto, os processos de circulação de ideias e traduções de textos políticos, longe de resultar em alguma forma de homogeneização e unificação semântica dos discursos políticos, na verdade produziu uma diversificação de sentidos que buscavam responder a situações comunicativas variadas e a desafios específicos (DPSMI , Tomo II, Vol. 1, p. 53). Sendo assim, mais do que pretender esgotar o léxico do mundo iberoamericano entre 1770 e 1870, a base criada pelos Diccionarios (tomos I e II) garante um solo fértil para projetos futuros que busque enveredar por unidades de análise cada vez mais amplas, seja no sentido espacial, social ou linguístico. Nesse último caso, as análises de campos semânticos permeados pelo cruzamento de um conjunto amplo de conceitos, metáforas, linguagens e discursos podem se valer do caminho aberto por este projeto.
Rafael Fanni – Universidade de São Paulo, São Paulo – SP, Brasil. E-mail: [email protected]
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (Dir.). Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos fundamentales, 1770-1870. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales/ Universidad del País Vasco, 2014. Tomo II, en 10 vols. Resenha de: FANNI, Rafael. Iberconceptos II, 1770-1870: tempos e espaços da “atlantização” dos conceitos. Almanack, Guarulhos, n.10, p. 502-506, maio/ago., 2015.
Arte Sacra no Brasil Colonial | Adalgisa Arantes Campos
O livro de Adalgisa Arantes Campos, intitulado Arte Sacra no Brasil Colonial, é um pertinenteapanhado histórico em busca de “uma visão de conjunto sem decair no genérico” (p.16) da chamada “arte” religiosa produzida no Brasil colonial. A autora é historiadora, professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e reconhecida especialista em temas ligados à história do Barroco luso-americano, de artífices e artistas coloniais, e da iconografia cristã. A obra é uma síntese introdutória-acadêmica resultante de investigações anteriores da autora, não sendo, todavia, fruto de um projeto específico de pesquisa. É dirigida a leitores acadêmicos, porém, devido à simplicidade de formatação e conteúdo objetivo, pode ser apreciada pelo público em geral.
A obra é composta por cinco capítulos, além da introdução, tendo ao fim um útil glossáriodos principais termos artísticos e religiosos usados no livro. Situa-se como “obra de cunho introdutório” (p.15) voltada principalmente à iconografia e suas concepções artísticas encontradas nas regiões do nordeste e centro-sul da América portuguesa, entre meados do século XVI e inícios do século XIX, não se reduzindo, contudo, “a uma história de estilos” estético-formais (p.15). Adalgisa Campos concentra sua atenção em obras sacras menos conhecidas e consagradas, mas com grande valor representativo, e também busca afastar-se do tradicional foco da historiografia à produção dos grandes centros urbanos (embora não deixe de incluir obras, por exemplo, de Ouro Preto e Mariana, tais quais as pinturas encontradas no forro da sacristia das capelas da ordens Terceira do Carmo e de São Francisco, esta em Mariana e aquela em Ouro Preto). Com isto, Campos, distancia-se do que chama de encadeamento estilístico, afim de não elencar diferenças e evoluções estéticas nas obras por ela analisadas. Desta maneira, sua abordagem coteja fontes escritas – cartas geográficas, como as de Minas Gerais no século XIX (p.30) dentre outras que equivalem a mapas urbanos, plantas arquitetônicas de conventos, igrejas paroquiais, e capelas construídas pelas ordens aqui estudadas; vistas e projetos arquitetônicos -com “obras remanescentes” (p.16) – esculturas de santos e anjos, pinturas e contruções – tendo sempre em vista a compreensão de sua materialidade, daquilo que podeser apreensível e apreciável por qualquer tipo de público, além de “sua significação, função social” (p.14). Para tanto, a autora amparou-se em bibliografia especializada no assunto (autores como Affonso Ávila, German Bazin, Myriam Andrade Ribeiro Oliveira, Percival Tirapeli, dentre outros) e em História da Cultura de modo geral (como Erwin Panofsky e Jacques Le Goff), de forma não exaustiva, mas suficiente para respaldar suas conclusões.
A apresentação dessa produção artística se faz juntamente com um breve histórico de seus criadores. Na América portuguesa, em geral as artes sacras estavam ligadas às ordens, confrarias, irmandades e companhias religiosas, mas também a leigos devotos que as produziam por suas próprias mãos, consumiam-nas e, ainda, promoviam-nas por mecenato (p.103). Essa percepção da inserção da “arte sacra” em um circuito social que não se restringe à sua produção ganha relevância diante da constatação da enorme importância da imagética em geral para a vida do português católico que, na América, vivia em ambientes societários carregados de conteúdos religiosos, cujas intensas e dinâmicas mesclas jamais ignoraram a centralidade do cristianismo e de suas pedagogias públicas. O capítulo primeiro está voltado às atividades cartográficas e geográficas que ocorreram desde o início da colonização portuguesa na América, e se desenvolveram na medida em que a colonização ia efetivando-se pelo território (já no século XVI foram produzidos muitos mapas em função da demanda europeia de desbravá-lo). Posteriormente, começam a proliferar centros urbanos, e daí advém a necessidade de realização, mais especificamente, de plantas urbanísticas, de vital importância inclusive para o planejamento das edificações religiosas.
A relevância destes documentos para o conjunto da obra de Campos reside no fato de tais produções conterem conceitos de linguagem visual com variáveis graus de sofisticação, todos devidamente considerados pela autora. Além disso, a proliferação de núcleos urbanos impunha a necessidade do trabalho de uma ampla variedade de artífices, como pintores e entalhadores, alguns dos quais merecem especial atenção de Campos; -como o cartógrafo João Teixeira Albernaz (?-1662), que atuou principalmente no nordeste,o entalhador Inácio Ferreira Pinto (1759-1828), que trabalhou na cidade do Rio de Janeiro, e o engenheiro da Capitania de Pernambuco, João de Macedo Corte Real (começo do século XVIII). Destacam-se também jesuítas conhecidos como “padres astrônomos ou matemáticos” (p.25), chamados assim por trabalharem no levantamento de latitudes e longitudes na América portuguesa, além de serem cartógrafos; -tais como Diogo Soares (1684-1701), que foi professor na Universidade de Évora, onde lecionou matemática antes de ir à América, e Domingos Capaci (1694-1736), seu parceiro de trabalho.
O segundo capítulo é dedicado à organização do clero regular e diocesano na América portuguesa, bem como aos aspectos institucionais eclesiásticos em geral, destacando, para além do Padroado Régio (onde o monarca era responsável pela administração e rendimento dos bens, edificação e reparação dos templos católicos,e também pela provisão dos materiais de culto, indicação e pagamento dos ministros), o mecenato do Rei. Quando este tornava-se mecenas, passava a suprir também as artes, as letras e outros aspectos da vida cultural em geral. De maneira pontual, mas muito relevante, Campos toca ainda na noção de tempo sagrado, do tempo que o devoto deveria dedicar a Deus, através de um breve histórico do calendário cristão de Portugal e sua vigência nas colônias americanas.
Os demais capítulos se concentram na apresentação histórica dos principais produtores e mecenas de arte sacra – além do Rei e de mecenas leigos, jesuítas, beneditinos, carmelitas, franciscanos – e seus programas iconográficos, com rápidos apontamentos de algumas obras específicas. As ordens regulares encomendavam obras e remuneravam os artistas, ou apoiavam um de seus membros com talento para produção artística, não remunerando-os necessariamente em espécie (p.39). Aqui, merecem atenção de Campos personagens como os beneditinos Domingos da Conceição da Silva (entalhador e escultor), Ricardo do Pilar (pintor e projetista de plantas) e Bernardo de São Bento; os franciscanos Apolinário da Conceição e Antônio de Santa Maria Jaboatão (ambos cronistas, este último de especial importância; e o carmelita Jesuíno do Monte Carmelo (pintor e dourador). Os membros das ordens Terceiras (leigos franciscanos ou carmelitas) são considerados “os grandes responsáveis por um mecenato artístico” (p.88), e poderiam ser irmãos confessos sem, contudo, fazerem votos de castidade e clausura, atuando como artífices em capelas nas igrejas das respectivas ordens, e oferecendo uma mão de obra qualificada para atividades “artísticas” como arquitetura, talha, pintura e escultura (casos como os dos célebres Antônio Francisco Lisboa e Manoel da Costa Ataíde). Por fim, Campos apresenta também a produção de leigos, dentre os quais não evidencia nenhum artista, mas sim exemplos de produções encomendadas por estes grupos e que também compõem o acervo sacro aqui analisado.
Uma das preocupações da autora foi a apresentação da diversidade artística colonial em sua singularidade, não se limitando à produção derivada das ordens institucionalizadas; assim, merece destaque a análise da produção, repita-se, ligada a mecenas leigos e a simples fiéis, como os ex-votos – obras produzidas em agradecimento a alguma graça obtida, e que poderiam ser desde pinturas rústicas e pequenas a prédios inteiros, tal como a capela primitiva do Santuário de Congonhas em Minas Gerais, erigida por Feliciano Mendes. Ao considerá-los “em sua materialidade, significação e iconografia”(p.109), Campos os torna pertinentes representações sacras e artísticas da vida colonial luso-americana.
A despeito da ausência de uma tese central, ou de teses fortes ao longo da obra, Camposmaneja com precisão as fontes, analisando-as de uma forma facilmente inteligível, o que faz com que o livro seja útil para além da academia. Além disso, traça um didático panorama dos séculos luso-americanos, bem como envolve o leitor na cultura religiosa da época por meio de obras cujos significados históricos tornam-se especialmente acessíveis por fazerem parte de um conjunto de imagens e convenções artísticas que não serão totalmente estranhas ao leitor, carregadas ao presente pelos ritmos próprios – lentos – de modificação de um catolicismo ainda fortemente vigente no Brasil. Por isso, deve-se lamentar que uma obra concentrada basicamente em análise de uma produção iconográfica apresente fotografias que poderiam ser mais apuradas, em papel melhor, e com resolução mais alta; também poderiam ser em maior número, principalmente as coloridas, e distribuídas ao longo do texto (não concentradas ao seu final), o que certamente daria ao leitor melhores condições de acompanhar a análise empreendida pela autora.
Trata-se, porém, de uma crítica de cunho editorial, que não diminui a qualidade do trabalho empreendido por Campos, bem como dos méritos gerais que tornam Arte sacra no Brasil colonial obra digna da atenção de especialistas e de não-especialistas.
Sarah Tortora Boscov – Mestranda em História Social no departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH / USP – São Paulo-SP / Brasil). E-mail: [email protected]
CAMPOS, Adalgisa Arantes. Arte Sacra no Brasil Colonial. Belo Horizonte: C/Arte, 2011. Resenha de: BOSCOV, Sarah Tortora. Um panorama das “artes sacras” luso-americanas. Almanack, Guarulhos, n.9, p. 191-193, jan./abr., 2015.
Jamás ha llovido reyes el cielo… De independências, revoluciones y liberalismos en Iberoamérica | Ivana Frasquet
Jamás ha llovido reyes el cielo… De independencias, revoluciones y liberalismos en Iberoamérica, é uma compilação de textos de diversos autores sobre processos revolucionários no período de crise do Antigo Regime, de avanço de ideias liberais na Europa e nas colônias da América, e das independências dos territórios antes pertencentes a Portugal e Espanha. Foram reunidos, para tanto, um conjunto de autores especialistas no tema de acordo com cada região, em geral pesquisadores e docentes de renomadas universidades da América e da Espanha. A obra é dividida em três partes, contendo quatorze artigos e seu foco é, majoritariamente, a América espanhola, mas não esquecendo a experiência brasileira.
Como a editora da obra, Ivana Frasquet (da Universidade de Valência), esclarece, a primeira frase do título foi pronunciada por José Mejía Lequerica, nas Cortes espanholas reunidas em dezembro de 1810, como uma metáfora sobre a origem da soberania. Debatia-se, então, o futuro da monarquia espanhola, no contexto da abdicação e prisão de Fernando VII. Tais discussões questionavam a soberania do rei e onde esta residiria no caso de sua ausência. Este processo, como é sabido, repercutiu amplamente por toda a América espanhola, inaugurou um processo de formação de Juntas de Governo e desencadeou amplos debates em torno da representação política nas capitanias e nos vice-reinos americanos. Em vários momentos da obra, são evidenciadas mudanças de conceitos, linguagens e paradigmas políticos, em meio a ações e discursos realistas e independentistas.
A primeira parte, Los prolegómenos: el bienio transcendental, 1808-1810, é composta por cinco artigos, e trata do período de crise que se abre na América com a notícia da prisão de Fernando VII, que leva à criação de Juntas em todo o território. O primeiro, de Juan Ortiz Escamilla (da Universidade Veracruzana), “La crisis política mexicana de 1808“, mostra que a primeira tentativa de formação de uma junta governativa naquele que era o mais importante vice-reino espanhol da América foi derrubada por um golpe desferido pelos setores mais conservadores da sociedade novohispana, ao qual seguiram-se medidas repressivas para manutenção da ordem e obediência ao governo. Estas atingiram não somente os defensores do então vice-rei Iturrigaray como vários outros setores da população. O autor afirma que oscriollos tinham a intenção de formar uma Junta para preservar a soberania real e pleiteavam mudanças por vias pacíficas; além disso, a insatisfação frente ao bloqueio da representação das províncias para a Suprema Junta da Espanha foi outro fator que elevou os ânimos, aumentando manifestações contra o novo governo e endurecendo a repressão.
Em seguida, o artigo de Juan Andreo García (da Universidade de Murcia, recém-falecido), “La isla de Cuba y el discurso de la fidelidad durante la crisis de 1808. El contrapunto La Habana-Santiago de Cuba“, discorre sobre o caso cubano, com uma crítica a um modelo de interpretação centrado no caso de La Habana, de destaque na historiografia, mas que segundo García não daria conta de eventos distintos que ocorreram em outras partes da ilha. Exemplo: Santiago de Cuba, onde muitos franceses, em geral imigrantes brancos, colonos agricultores, se estabeleceram fugidos, sobretudo, das convulsões políticas de cunho racial ocorridas em São Domingos. No momento da crise da monarquia espanhola, em que se declara guerra à França e quando foram instauradas medidas para a expulsão de residentes franceses de Cuba (1809), o tratamento a eles conferido teria sido mais brando em Santiago do que em Havana, onde 6 mil “estrangeiros” foram expulsos. Devido principalmente à contribuição destes ao impulso comercial, progresso econômico e social, acabaram por ser aceitos em Santiago, onde o governador Sebastián Kindelán agia com prudência. O autor elabora ainda um panorama histórico da evolução econômica da Ilha, assim como um balanço populacional em Havana e Santiago, e explica a escolha, aqui, por um caminho distinto do resto da América quando da crise da monarquia espanhola.
O texto seguinte, de Carlos Landázuri Camacho (da Pontificia Universidad Católica del Equador), “El proceso juntista en Ecuador: la Revolución quiteña de 1808-1812″explica a crise em Quito até 1812, elaborando uma cronologia contextual do processo de formação das Juntas na região, bem como um panorama histórico que ajuda a entender, segundo o autor, o fracasso da proposta revolucionária de 1809, já que desde a segunda metade do século XVIII, Quito vinha perdendo importância política e econômica. Por fim, o autor defende que o principal objetivo da primeira Junta (a “Suprema”) era reestabelecer sua autonomia, não tanto em relação a Madrid, mas principalmente frente os governos de Lima e de Bogotá.
Justamente este último é abordado a seguir, em “Una guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe para el año 1810”, de Armando Martínez Garnica (da Universidad Industrial de Santander). Baseado em um documento homônimo, mas referente ao ano de 1806, o autor elabora, em colaboração com quatro outros historiadores (Daniel Gutiérrez Ardila, Roberto Luis Jaramillo Velásquez, María Teresa Ripoll e Zamira Díaz López) um guia biográfico, político e administrativo de mudanças ocorridas naquele vice-reino, suas origens e resultados. Tem-se aqui material informativo muito útil para pesquisadores para além de sua contribuição analítica.
Completando este primeiro bloco, o artigo de Gustavo Adolfo Vaamonde (da Universidad Central de Venezuela) “El processo juntista en Venezuela, 1810-1811”, apresenta uma revisão historiográfica do processo de formação de juntas de governo naquela capitania e das oposições a elas, destacando o caráter conservador implicado em uma recusa do modelo revolucionário francês ainda tão comumente enfatizado pela historiografia; em contrapartida, Vaamonde privilegia sua inserção em uma cultura política espanhola.
A segunda parte, Los actores: criollos, gauchos, negros y mujeres, é composta por quatro artigos sobre atores envolvidos nos processos independentistas. Aqui, é louvável a análise de sujeitos históricos que, não sendo típicos membros de elites, se politizaram e desempenharam papéis definidores na trajetória revolucionária. Tratando de relações sociais complexas, os artigos trazem a luz questões sobre alianças que transformariam a base de dominação colonial, e também questões de gênero, em geral ainda pouco abordadas na historiografia. Justo Cuño Bonito (da Universidad Pablo de Olavide), em “Esperando a Nunca Jamás: el inicio del fin de la dominación española en la Nueva Granada, 1794-1810”, faz uma exposição pormenorizada sobre o desenlace de tentativas “sediciosas” ocorridas a partir de 1794 e sobre o momento da chegada das primeiras notícias dos eventos ocorridos na Espanha em 1808. Cuño apresenta reações de setores da elite criolla e respostas de autoridades locais frente à turbulência política até a formação da Junta Suprema del Nuevo Reino de Granada. Embora mostre também a participação popular neste processo, seu foco incide, sobretudo, nos complôs políticos e disputas de poder.
Na sequência, Luiz Geraldo Silva (da Universidade Federal do Paraná), em “Negros en armas en el mundo iberoatlántico: del barroco a la modernidad“, faz uma correspondência entre as histórias das colonizações espanhola e portuguesa e seus processos independentistas, com ênfase em suas milícias de negros e pardos. Mais precisamente, analisa os casos de Cartagena (Nova Granada), Pernambuco e São Paulo, contextualizando a formação de tais milícias desde o século XVI e revelando suas atuações políticas em momentos cruciais da história das independências em torno de uma tendência: pretos e pardos milicianos pendiam para o lado de tropas realistas nas regiões mais conservadoras, mantendo-se como força de apoio revolucionário em outras. Por fim, destaca a formação de Constituições (em Cádiz, Lisboa e Rio de Janeiro) e a questão da cidadania relacionada a tais grupos, em sintonia com crescente historiografia a respeito do tema.
Correspondente a ele, “La rebelión de los gauchos: movilización campesina en el norte argentino durante la guerra de Independencia”, de Gustavo L. Paz (da Universidad Nacional de Tres de Febrero), foca na formação de milícias de gauchosem Salta e Jujuy, no norte da Argentina. O autor discorre a respeito da transformação das relações entre donos de terras e outros setores de elite, o que envolvia massiva mobilização miliciana de gauchos a lhes proporcionar benefícios via alistamento. Nesse contexto, as relações sociais eliminariam dicotomias coloniais, inaugurando, segundo o autor, um conceito de igualdade com base na mobilização guerreira.
Por fim, em “Actrices en la independencia de México: buscando su lugar en la historia”, a editora do volume, Ivana Frasquet, faz uma crítica historiográfica sobre o papel das mulheres na independência mexicana. Frasquet considera a abordagem heroicizante, ainda vigente em muitas obras, deletéria para tais estudos, e sugere direções alternativas. Em seguida, discorre sobre a participação feminina no processo independentista novohispano, destacando nuances referentes ao gênero, e alertando para diferenças de atuação entre mulheres criollas, indígenas, mestiças e/ou de outros estratos sociais mais baixos.
A terceira e última parte do livro, Las Ideas: leyes, conceptos y lenguajes políticos, é composta por cinco capítulos. O primeiro, de Rossana Barragán (da Universidad Mayor de San Andrés)”Los discursos políticos de la represión: una comparación entre 1781 y 1809“, analisa as falas dos julgamentos dos envolvidos em rebeliões indígenas andinas altoperuanas de finais do século XVIII, e na chamada “Revolución del 16 de julio 1809″ em La Paz. Embora tradicionalmente considerados eventos sem ligação direta, a autora defende que no Alto Peru as experiências setecentistas foram fundamentais para a emergência do que viria no contexto de crise da monarquia espanhola, pois testaram alianças e demonstraram a força da repressão aos insurgentes.
Em seguida, Eduardo Cavieres (da Universidad de Chile), em “La independencia y el Primer Congreso nacional en Chile: ni ilustrados ni liberais: simplesmente republicanos?”, apresenta o caso daquela capitania, onde criollos lideraram a efêmera criação de um primeiro Congresso Nacional já em 1811. O autor analisa os princípios que influenciaram projetos e discursos proferidos naquela ocasião, em que se tentava elaborar uma Constituição para o Chile. Cavieres afirma que, embora a historiografia frequentemente aproxime essa experiência às ideias liberais, estas não se fizeram explícitas quando do esboço de um projeto de Constituição que, na realidade, falava em uma república.
No capítulo seguinte, “La administración de justicia en los orígenes del Império de Brasil (1822-1841)”, Andréa Slemian (da Universidade Federal de São Paulo) percorre as mudanças do aparato jurídico e de justiça, e a ampliação e consolidação institucional do Estado brasileiro no contexto inaugurado pela Independência, destacando a criação do Superior Tribunal de Justiça, do Código de Processo Criminal de Primeira Instância e sua reforma em 1841. Segundo a autora, de início, a intenção era afastar magistrados de carreira herdeiros do Direito português (em um momento específico em que se refutavam tais heranças em muitos aspectos da emergente realidade nacional brasileira), e isolar o judiciário de questões que envolvessem interesses públicos; num segundo momento, os juízes retomariam seu poder com a fusão entre funções policiais e judiciárias. A autora destaca ainda que, perante a necessidade de instituições para a manutenção da ordem pública e fortalecimento do Estado brasileiro, o Judiciário consolida-se como um poder autônomo.
A formação de outro Estado nacional, o Uruguai, é abordado em sequência por Ana Ribeiro (da Universidad Católica del Uruguay), em “Orden y Soberanía: dos conceptos clave en el proceso de conformación del Uruguay independiente”, no qual analisa dois conceitos chave empregados no discurso político da época. Ribeiro contextualiza a trajetória da Banda Oriental nas primeiras décadas do século XIX para focar, mais precisamente, nos conceitos de orden e soberania, devidamente relacionados com outros correlatos – povo, pátria enación – e que ganham significados e conotações variados a depender dos distintos momentos do processo em que se encontram e de acordo com os grupos que os empregavam.
Finalizando esta parte, o capítulo de Sajid Herrera Mena (da Universidad Centroamericana José Simeón Cañas), “El constitucionalismo liberal español en la historiografia centroamericana (siglo XIX): elogios, silencios y descalificaciones”, percorre registros sobre o regime constitucional espanhol em memórias que não tratavam de um Estado específico, mas da região em geral, e em manuais escolares centroamericanos, sobre os antigos estados membros da República federal (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica), analisando como os discursos mudavam de acordo com os interesses de cada narrador. O autor conclui que políticos e intelectuais que vivenciaram o regime constitucional espanhol, assim como os autores de tais manuais escolares, tentavam “inventar” fatos fundadores da nação e da república moderna: para alguns, “a revolução” iniciada entre 1811 e 1814; para outros, a independência de 1821, para outros ainda, a instauração da República Federal de 1824.
Nos últimos anos, é notável a multiplicação de coletâneas acadêmicas voltadas às independências ibero-americanas; esta, entretanto, destaca-se em alguns aspectos relevantes. Em primeiro lugar, por seu recorte espacial abrangente, contemplando regiões distintas, mas em diálogos temáticos que acabam por aproximá-las como unidades de análise. Em segundo lugar, por seu recorte cronológico, que embora esteja focado no período entre 1808 a meados de 1830, contempla também períodos anteriores, com o fim de aprofundar a compreensão do que veio depois. Em terceiro, por seus autores realizarem críticas historiográficas pertinentes ao mesmo tempo em que apresentam aspectos de realidades históricas que, se não são completamente inéditos, muitas ainda são de pouco investimento historiográfico. Finalmente, é louvável a preocupação de Frasquet em valorizar a experiência brasileira, aproximando-a da América espanhola (o que é patente não apenas nos capítulos de autoria de Silva e Slemian, mas também no de Ribeiro), o que resulta em interpretações coerentes e convincentes. Por tais motivos, que Jamás ha llovido reyes el cielo não venha a ser obra obliterada em meio a uma numerosa produção historiográfica afim, mas da qual é destacada e elevada represntante
Sheila Virginia Castro – Graduanda em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH / USP – São Paulo-SP / Brasil). E-mail: [email protected]
FRASQUET, Ivana (Ed.). Jamás ha llovido reyes el cielo… De independências, revoluciones y liberalismos en Iberoamérica. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar; Corporación Editora Nacional, 2013. Resenha de: CASTRO, Sheila Virginia. Sobre independências, revoluções e liberalismos. Almanack, Guarulhos, n.9, p. 194-198, jan./abr., 2015.
Da escravidão ao trabalho livre/ 1550-1900 | Luiz Aranha Corrêa do Lago
Defendida em 1978 na Universidade de Harvard, a tese The Transition from Slave to Free Labor in Agriculture in the Southern and Coffee Regions of Brazil: a Global and Theoretical Approach and Regional Case Studies, de Luiz Aranha Corrêa do Lago, teve, apesar de menções favoráveis em obras como as de David Eltis (Economic Growth and the Ending of the Atlantic Slave Trade. Oxford e Nova York: Oxford University Press, 1987) e Robert Fogel (Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery. Nova York: W.W. Norton, 1989), pouca reverberação nos estudos referentes à escravidão brasileira e seu processo de transição para o trabalho livre, circunscrevendo-se a uma restrita gama de trabalhos, como o de Eustáquio e Elisa Reis (As elites agrárias e a abolição da escravidão no Brasil. Dados (Revista de ciências sociais), 31, 3, 1988, pp. 309-341). A publicação de Da escravidão ao trabalho livre. Brasil, 1550-1900, versão revista e traduzida da tese de doutorado do autor, promete ampliar o campo de atuação das propostas historiográficas de Lago e traz relevantes abordagens sobre o período de transição do regime escravocrata para o trabalho livre no Brasil.
Luiz Aranha do Lago apresenta sua obra como uma análise de fundo econômico sobre o desenvolvimento da escravidão no Brasil e seu ulterior processo de transição para o trabalho livre. Ao longo do livro, o autor elege alguns momentos específicos da história do Brasil – tanto referentes ao período colonial como ao independente – que reverberaram na esfera econômica e alteraram relações de oferta e demanda, sobretudo de mão de obra e terra, levando a uma paulatina transformação do regime de trabalho.
A investigação se inicia pelos motivos que fizeram com que a escravidão fosse o regime de trabalho predominante na América Portuguesa durante os mais de três séculos de dominação colonial. Apoiado na “Hipótese de Domar”Lago defende que a ampla oferta de terras disponíveis na colônia, aliada à política portuguesa de doação de sesmarias a “proprietários inativos”, criou necessariamente uma economia produtiva pautada no trabalho escravo, já que, segundo Domar, “dos três elementos de uma estrutura agrária em estudo – terra livre, camponeses livres e proprietários de terra inativos (ou seja, que não trabalham na terra diretamente) -, dois elementos, mas nunca os três, podem existir simultaneamente” (p.29). Assim, nas regiões em que essa política colonial prosperou e a agricultura vicejou, a escravidão tornou-se o regime de trabalho dominante pela associação de uma alta relação terra-trabalho à existência de proprietários de grandes extensões de terra.
Lago faz ainda uma distinção em relação à disponibilidade econômica e à disponibilidade efetiva de terras. Ainda que haja uma ampla oferta natural de terras – exatamente o caso da América Portuguesa nos séculos da colonização -, proprietários que dominam praticamente a totalidade das terras cultiváveis, mesmo que não desenvolvam a agricultura em toda sua extensão e tenham poder para impedir que homens livres utilizem suas propriedades, fazem com que a relação terra-trabalho real seja menor em comparação com a relação natural. Assim, o recurso à escravidão não se deveu apenas ao fator terra, mas à própria escassez de mão de obra da colônia, que precisou importar trabalhadores de maneira forçada, na medida em que uma imigração de trabalhadores livres sem posse foi inibida pela escassez legal de terras.
A descoberta do ouro e a implantação de um sistema análogo ao das sesmarias – doação dedatas – fizeram com que o trabalho escravo permanecesse predominante nas áreas dinâmicas da economia colonial, de modo que este regime de trabalho se espraiava paulatinamente para as áreas mais ao sul da colônia, fomentando aumento demográfico, tanto via tráfico de escravos como pela imigração espontânea de portugueses. Mesmo com o retraimento da extração aurífera e de diamantes em fins do século XVIII, a economia mineira estimulou um crescimento urbano no centro-sul do Brasil, além de ter permitido que um sistema de escoamento da produção fosse montado entre Minas Gerais e o porto do Rio de Janeiro. Estas últimas características se aliaram a outro momento-chave que Lago atribui ao desenvolvimento da escravidão no Brasil: o início da produção cafeeira pelo sudeste, que “se expandiu sobretudo na província do Rio de Janeiro, ao longo do Vale do Paraíba, mas também em São Paulo e em Minas Gerais, afetando fundamentalmente a evolução econômica do país” (p.64-65).
Um dos méritos de Lago em sua obra é ter atinado para a brusca expansão da escravidão brasileira motivada pelo desenvolvimento das fazendas de café. Estima-se que dos 1,3 milhão de escravos entrados no Brasil ao longo da primeira metade do século XIX, cerca de 2/3, ou 900 mil cativos, seguiram para as regiões cafeeiras. Desse modo, o autor passa a delinear as alterações demográficas e de padrão de trabalho entre as regiões estudadas, enfocando mais detidamente a Cafeeira e a Sul, não sem apontar a diminuição relativa da população escrava no Nordeste, tanto pela perda de competitividade no mercado mundial, motivada pelo deslanche da produção açucareira cubana, quanto pela crescente exportação de escravos para as regiões cafeeiras.
Ao estudar o desenvolvimento da escravidão e do trabalho livre no Centro-Sul do país, tema que constitui efetivamente o núcleo da obra, Lago pretende medir o impacto das ações dos agentes econômicos que dizem respeito à oferta de terras e mão de obra. Iniciando a análise pela região cafeeira – dividida em quatro capítulos, cada um deles referente a uma província – o autor destaca o fim do tráfico de escravos em 1850 como ponto de forte influência sobre o futuro da instituição e sobre as possibilidades abertas a um novo regime de trabalho.
A situação econômica vivida por cada uma das regiões estudadas no momento de fechamento do tráfico condicionou, segundo Lago, o posterior desenvolvimento da questão da mão de obra. Enquanto as fazendas de café do Vale do Paraíba fluminense e do Norte de São Paulo encontravam-se bem abastecidas de escravos e em pico de produtividade em meados do século, o centro-oeste paulista e a região da Zona da Mata de Minas Gerais demandavam ainda braços para a lavoura. No sul do país, a escravidão se concentrava cada vez mais nas charqueadas rio-grandenses, tornando-se diminuta em Santa Catarina, com a decadência das armações de baleia, e residual na colheita do mate, no Paraná.
Nesse quadro de rearranjo da oferta de mão de obra, os fazendeiros do Vale do Paraíba fluminense e paulista tiveram, em um primeiro momento, uma valorização de seus capitais, na medida em que o fechamento do tráfico elevou sobremaneira o preço dos escravos. Posteriormente, porém, o esgotamento das terras, aliado ao envelhecimento dos cafeeiros já plantados, impediu que essa região buscasse soluções de longo prazo para a iminente falta de braços, que com a Lei de Ventre Livre de 1871 tornou-se preocupação geral entre os fazendeiros. O Sul do Brasil, pelo contrário, viu a escravidão perder importância relativa. A imigração subsidiada pelo Governo criou diversas colônias autônomas, não subordinadas à produção voltada ao mercado externo, de maneira que o aumento demográfico da população livre associado à exportação de escravos para as províncias cafeeiras – no caso de Paraná e Santa Catarina – e às baixas taxas de importação de escravos para o Rio Grande praticamente minaram as possibilidades de continuidade da escravidão na região Sul, criando uma sociedade baseada no trabalhado assalariado e na pequena propriedade de produção de subsistência e para o mercado interno.
No que pese a ampla pesquisa documental empreendida pelo autor para as áreas acima descritas, corroborada pela confecção de inúmeras tabelas relativas às pautas de exportação e demografia de cada uma delas, as conclusões não destoam substancialmente das expostas em trabalhos já clássicos sobre o tema, como o de Emília Viotti da Costa (Da Senzala à Colônia. [1ª ed.: 1966]. São Paulo: Editora UNESP, 2010). O exaustivo trabalho de levantamento econômico de Lago confirma, por exemplo, a decadência produtiva valeparaibana ao expor a queda nas exportações de café pelo porto do Rio de Janeiro na década de 1880. Em relação ao Sul do país, a tabela composta por dados demográficos de toda a região comprova a quase irrelevância da população escrava às vésperas da Abolição, componente de menos de 2% da população total nas três províncias. Nesses casos, o estudo de Lago agrega mais subsídios à análise dos fenômenos, mas não traz novidades fundamentais ao tema.
Caso distinto é o da análise do autor sobre a situação do centro-oeste de São Paulo e de áreas de Minas Gerais entre o fim do tráfico de escravos e 1900, passando pela Abolição em 1888. A expansão das fazendas de café em meados do século XIX trouxe o problema da escassez de oferta de mão de obra escrava para o centro das unidades cafeeiras da região. Ainda que contassem com escravos nas fazendas, o alto preço dos cativos advindos tráfico interno e a impossibilidade – legal após 1871 – de crescimento vegetativo da população escrava fez com que as primeiras experiências com trabalhadores livres se concentrassem nessa região. Investimentos particulares, em um primeiro momento, e dos governos provincial e central, em seguida, financiaram a vinda de milhares de imigrantes para o trabalho nas lavouras, de modo que a colonização na área cafeeira não pode ser comparada com a empreendida no sul do país.
O que o autor apresenta como novidade, no entanto, é a “mudança fundamental na organização do trabalho no setor cafeeiro de São Paulo (com a já mencionada exceção do norte)” (p.188). Lago considera que a “função de produção” da fazenda no período escravista esteve ligada a dois insumos básicos: “área total de terra cultivada com café e a turma de escravos chefiada por um administrador e por feitores”. Nesse caso, o escravo era tomado como a unidade de trabalho, de maneira que os cálculos sobre a produção da fazenda consideravam esse trabalhador como a unidade básica de mão de obra, ainda que este fosse passível, no campo, de posicionamento em turmas.
A alocação de imigrantes para o trabalho nos cafezais alterou essa lógica, criando renovadas “funções de produção”, “nas quais o insumo terra era o número total de pés de café sob os cuidados da família de colonos, e a família era a nova unidade do insumo trabalho“. Essa alteração não trouxe consequências apenas formais, mas alterou, de acordo com Lago, os padrões de supervisão do trabalho e alocação de tempo dos trabalhadores. Na medida em que cada fração da propriedade confiada à família de imigrantes era considerada um insumo terra, a unidade da fazenda foi quebrada, dando lugar a uma estrutura que mais se parecia com pequenas propriedades que cultivavam o mesmo produto do que com um empreendimento agrícola unificado. Sobre a mão de obra, Lago afirma que “cada família de colono era remunerada ‘coletivamente’ pelo trato dos pés de café e pela colheita, conforme o número de pés de café sob seus cuidados”
A originalidade da observação sobre a reorganização do trabalho na lavoura de café não é, no entanto, acompanhada por uma análise mais detida das consequências – tanto em relação ao volume de produção quanto à vida dos colonos – que essa mudança acarretou. Quais foram as vantagens, do ponto de vista do fazendeiro, desse novo arranjo de insumos? Se não havia vantagens visíveis, por que este foi o modelo mais aceito e difundido entre os cafeicultores no período compreendido entre a crise final da escravidão e o segundo quartel do século XX? Como explicar a afirmação de Lago de que a produção por trabalhador sob o colonato era maior que a observada para o período da escravidão, sendo que o próprio autor afirma haver maior liberdade dos imigrantes na alocação de seu tempo? As questões elencadas estão longe de ser tangenciais, pois vão ao cerne das reais consequências trazidas pela mudança do regime de trabalho na região mais dinâmica da economia brasileira em fins do século XIX, um dos principais focos do livro.
No posfácio de Da escravidão ao trabalho livre, Luiz Aranha Corrêa do Lago apresenta um longo conjunto de trabalhos publicados sobre a escravidão e sua transição para o trabalho livre entre 1978 – ano de publicação de seu doutorado – e 2014, quando lançou a edição revista e traduzida da obra. Os comentários do autor sobre cada um dos livros e artigos mais relevantes para a área mostram seu amplo domínio sobre a literatura recente e servem como um excelente guia aos interessados em acompanhar o desenvolvimento das reflexões sobre a escravidão no Brasil. Ao optar por não incorporar estas amplas contribuições ao longo do texto, Lago perdeu a oportunidade de debater suas teses com a recente historiografia, rever pontos problemáticos e fortalecer seus argumentos centrais.
Em suma, a publicação de Da escravidão ao trabalho livre amplia o alcance das formulações de seu autor, contribui com valiosas informações quantitativas referentes à produção agrícola e à demografia do período estudado, apresenta uma boa observação sobre a organização do trabalho sob o colonato – quando comparado ao regime escravista -, além de trazer um útil levantamento relativo à produção historiográfica recente sobre a escravidão e o trabalho livre no Brasil. Apesar das inegáveis qualidades, a obra não avança sobre os efeitos trazidos pelo novo regime de trabalho, deixando ainda de dialogar com os trabalhos mais recentes produzidos sobre o tema, de modo que a contribuição que Lago pretendia oferecer à historiografia referente à transição da escravidão para o trabalho livre no Brasil ficou aquém das potencialidades do livro.
Felipe Landim Ribeiro Mendes – Graduando no departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH / USP – São PauloSP / Brasil) e bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP – São Paulo-SP / Brasil). E-mail: [email protected]
LAGO, Luiz Aranha Corrêa do. Da escravidão ao trabalho livre, 1550-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Resenha de: MENDES, Felipe Landim Ribeiro. Uma história econômica da transição da escravidão para o trabalho livre no Brasil. Almanack, Guarulhos, n.9, p. 199-202, jan./abr., 2015.
Historia de las clases populares en la Argentina desde 1516 hasta 1880 | Gabriel di Meglio
O livro em tela partiu de um projeto iniciado em parceria com Eduardo Adamovsky, cuja intenção era lidar com o tema em um recorte que iria até os primeiros anos do século XXI. Desdobrado em dois, o primeiro volume foi elaborado por Gabriel di Meglio, e aborda a ação das classes populares na Argentina entre os séculos XVI e XIX. É a obra de Meglio, doutor pela Universidad de Buenos Aires, onde também leciona História Argentina do século XIX, que vou apresentar ao leitor.
As duas questões centrais o livro são anunciadas no próprio título. Com qual noção de classes populares se está lidando? E o que é a Argentina antes da unificação sob um Estado nacional? Embora anunciada, a segunda questão não foi enfrentada. É o tema das classes populares na História que norteia o livro.
No ensaio bibliográfico, o autor lista e comenta as obras que subsidiaram sua reflexão. Ali, temos uma ideia do vigor da produção historiográfica argentina, sobretudo a de tempos mais recentes, e também encontramos uma referência que serve de pista para as opções de interlocução feitas por Meglio no desenvolvimento da obra. Ao remeter a denominação “classes populares” primeiramente a um artigo de Eric Hobsbawm, parece estabelecer-se um parentesco entre esta obra e a História Social praticada pelo grupo de historiadores marxistas ingleses dos quais Hobsbawm foi um expoente, particularmente por lidar com longas periodizações e pelo seu interesse em história dos camponeses e dos operários. Mas creio estarmos mais próximos de um parentesco com a chamada História Popular, na qual a agência das classes populares é definida prioritariamente a partir do Estado e das instituições afeitas a ele.
O recorte temporal, da chegada dos primeiros europeus ao surgimento da “Argentina moderna” em 1880, abrange um território que hoje denomina-se Argentina, mas que eventualmente inclui também outras regiões platinas, como Uruguai e Paraguai, reunidos no Vice-Reinado do Rio da Prata no tempo da colonização. O uso do termo para lidar com essa periodização cumpre funções didáticas: trata-se de uma Argentina antes da Argentina, o que pressupõe um pacto com o leitor para que a leitura possa fluir. Meglio quer tratar, aqui, da “história da gente comum, a que formava a base da pirâmide social, daqueles cujas recordações se perderam ou são difíceis de recuperar, de quem não tem ruas que levem seus nomes”. O resultado disso é apresentado cronologicamente e em duas partes.
Na primeira parte, dividida em quatro capítulos, é abordado o período colonial, entre 1516 e 1810. A segunda parte debruça-se sobre o século XIX (1810-1880), e conta com três capítulos sobre o período pós-independência.
O fato inaugural do primeiro capítulo é a expedição de Juan Díaz de Solís, em 1516, marcada pelo confronto com os charruas que levaria Solís à morte em território hoje pertencente ao Uruguai. O fato não é inaugural apenas cronologicamente, mas demarca simbolicamente como seriam as relações entre os invasores europeus e os nativos americanos. Esse é o objeto do capítulo, tendo como personagens os guaranis, os guaicurus, os ava e outros povos, bem como a centralidade de Assunção e do Peru para os estabelecimentos coloniais posteriores na bacia platina (Santa Fé, Buenos Aires e Tucumán, entre outros). Em que pesem as alianças (nem sempre cumpridas) firmadas com os índios, os espanhóis tiveram dificuldades em ocupar terras, em especial as mais elevadas. O empenho destes últimos não foi tão decidido como ocorreu nas áreas mineradoras do México e do Peru, o que tornaria o Rio da Prata uma região marginal no contexto do Império castelhano na América até o fim do período colonial. Ainda assim, a divisão da sociedade em dois grandes grupos – os espanhóis que mandavam e os “índios” que obedeciam – “foi a origem da sociedade hispano-criolla da qual provem a Argentina. E, também, foi a origem de suas classes populares”. No decorrer do século XVI, essa sociedade se tornaria mais complexa, com a chegada de mais colonos vindos da península e a criação das “repúblicas” estratificadas de índios e de espanhóis, permitindo o acesso dos colonos à mão de obra indígena. Logo, os mestiços entenderiam que seu lugar naquela sociedade não era definido facilmente.
Desiguais ante à lei, o segundo capítulo, define as dificuldades enfrentadas pelas classes populares nos séculos XVII e XVIII, nessa altura compostas por “um variado conjunto integrado por indígenas, africanos e seus descendentes – escravos ou livres – e distintos tipos de mestiços”. Na relação com os indígenas, tentava-se impor a transformação deles de membros de uma sociedade nativa em camponeses individuais. O tempo é a primeira metade do século XVII, quando boa parte da região de Tucumán ainda estava fora do controle colonial e prestes a se tornar cenário de uma guerra na qual a ação do aventureiro espanhol e falso inca Pedro Bohorques acabou amplificando a resistência indígena, o que levou à destruição das missões jesuítas na região. Desde fins do século XVI, a tendência era a da extinção da organização tradicional dos povos nativos, com as exceções de Jujuy e Santiago del Estero, cujos habitantes conseguiram utilizar as leis e justiça a seu favor contra a obrigação de prestar serviços pessoais aos invasores. Censos do século XVIII indicam a recuperação numérica da população indígena num quadro de reforma da tributação, abarcando um número maior de moradores, sobretudo índios que vivessem ou não em seus lugares de origem. Enquanto em Buenos Aires a população indígena declinava rapidamente, ao longo dos outros rios da bacia platina a Companhia de Jesus ampliava sua ação missioneira entre os guaranis, inclusive para fixar limites com os domínios portugueses. Fugas e rebeliões eram comuns nas missões, onde a rigidez das normas, os ataques de colonos vindos da América portuguesa, as epidemias e a fome tornavam a vida ainda mais dura. Ao mesmo tempo, grupos de indígenas não reduzidos ocupavam o Chaco, o Pampa e a Patagônia, evitando “serem convertidos em parte das classes populares do sistema colonial” e dominando as técnicas da guerra com cavalaria. A escravidão era central nessa sociedade, e a ela foram submetidos guaranis, araucanos e africanos introduzidos em Buenos Aires desde o tempo da união das Coroas ibéricas, e mais tarde vindos de Colônia do Sacramento, tanto por via direta como a partir de portos do Brasil. Os números não são exatos, mas milhares de africanos escravizados chegaram ao Rio da Prata entre 1580 e 1777. Por sua vez, os mestiços não tinham uma identidade precisa: eram filhos ilegítimos, frutos de uniões não consagradas. Mas além de biológica, a mestiçagem era também cultural, sendo alvo de diferentes tentativas de controle.
O capítulo 3, Trabalhadores, define o trabalho como experiência vital das classes populares. Assim, o texto privilegia as formas de exploração do trabalho e os fatores afeitos a ela, tais como a encomienda, o declínio demográfico, os usos da mão de obra na agricultura, na manufatura e no transporte. Uma das categorias de trabalhadores, os camponeses, dividia-se entre os que trabalhavam para fazendeiros e os que lidavam nas terras comunais. Os primeiros ligaram-se à pecuária, à produção de vinho e ao cultivo do arroz, setores produtivos onde se misturavam peões assalariados, escravos, agregados e índios encomendados em lugares como Tucumãn, San Juan e Mendoza. Nas cidades (Buenos Aires, Córdoba, Salta, San Miguel de Tucumán e outras), os trabalhadores eram em sua maioria artesãos, muitos deles mestres e donos de escravos, além de homens contratados por jornada nas construções, serviços de alimentação e abastecimento de água.
Costume e conflito, o quarto capítulo, traz ao leitor o universo da pobreza e da cultura de resistência das classes populares. Além da origem e da cor da pele, as classes populares eram definidas pelas autoridades a partir de seu grau de letramento e da forma como constituíam redes de pertencimento a grupos corporativos. A adesão ao catolicismo era central, e o capítulo nos diz algo sobre a vivência religiosa entre os populares: suas festas e diversões (rinhas de galo, bailes, touradas, corridas de cavalos), seus conceitos de honra e comportamento sexual (com destaque para as mulheres “plebeias”, com circulação mais livre nas cidades do que a desfrutada pelas mulheres da elite). Tudo isso permeado pelas tentativas de controle por parte das autoridades, ocasionando conflitos e tensões.
A segunda parte do livro inicia-se com A tempestade revolucionária (cap. 5), tendo como ponto de partida um dado da história política que demarca certa mudança na experiência das classes populares: a Revolução de Maio de 1810. Cerca de mil indivíduos (em uma cidade de 45 mil habitantes) apresentaram-se para reclamar umcabildo aberto em Buenos Aires com o objetivo de remover o vice rei e formar uma junta de governo. Mas, em outros lugares, a adesão popular não foi da mesma monta: no Alto Peru, em Córdoba, Montevidéu e Assunção, grupos pretendiam a fidelidade à regência estabelecida em Cádis. Em Salta e Jujuy, o recrutamento militar a princípio não se constituiu em problema, mas a partir da decisão de Belgrano de exigir contribuições materiais, criaram-se tensões com os populares. Como em outras partes da América do Sul, o uso do léxico revolucionário – independência, liberdade – chamou a atenção dos escravos para as contradições dos dirigentes do movimento. Por vezes, as contradições marcaram também as atitudes das classes populares, como os guaranis que, ao aceitarem a junta governativa portenha, o fizeram sob gritos de vivas a Fernando VII… Maio de 1810 também afetou os povos indígenas até então quase sem contatos com o regime colonial, ou aqueles cujas missões foram abandonadas e que se empregaram nas propriedades existentes. Em meio a diversos conflitos no interior do grupo dirigente da Revolução de 1810, faz-se a entrada da plebe portenha na política. Política institucional, Meglio não diz, mas é disso que se trata aqui: afinal, os quatro capítulos anteriores deixaram claro que a atuação dos populares era política ao menos desde o século XVI. Em todo caso, o autor entende a participação popular como uma das chaves da Revolução, com diferenças regionais sensíveis. De forma geral, alguns aspectos abarcaram a todos: o fim da era colonial, o poder das elites locais e a possibilidade de participação do “povo” no governo, agora na perspectiva da construção de algo que não existia na experiência prévia, colonial.
O livro deixa claro que a revolução, no território que em breve seria conhecido como Argentina, trazia consigo a questão da ordem. É esse o tema do sexto capítulo,Uma nova ordem. Diante de poderes atomizados, a tarefa dos dirigentes no quarto de século seguinte seria a reorganização institucional – o que teria implicações para as classes populares ao menos até meados do século XIX. Conflitos internos mesclam-se a guerras com os vizinhos, especialmente com o Brasil e Peru-Bolívia entre os anos 1820 e 1830, e a Guerra do Paraguai nos anos 1860. A experiência bélica traria consequências para a ação política dos camponeses e trabalhadores urbanos. O Estado e as elites tornaram-se cada vez mais “pesados” para as classes populares, oneradas com novos impostos para sustentar as formas armadas, com as leis visando a compelir os pobres ao trabalho ou ao recrutamento militar e os regulamentos do direito de propriedade. Ainda que os novos Estados e as novas elites fossem débeis, suas demonstrações de força se fariam sentir sobre os populares. A reconstrução do aparato produtivo, a recomposição de estruturas fundiárias que mantinham a ordem anterior ou introduziam novidades que beneficiavam muito poucos (como o arrendamento), a manutenção da tradicional manufatura de lã frente à concorrência dos tecidos ingleses de algodão: tudo isso afetou sobremaneira o modo de vida dos mais pobres. No âmbito da política, as autonomias regionais passaram a sofrer questionamentos e fortaleceu-se o processo de imposição do poder provincial único, seguido da unidade do Estado nacional. Nas diferentes províncias, os processos foram específicos. Em Buenos Aires, por exemplo, enquanto mantinha-se a politização da “plebe” na cidade, no campo as convulsões tornaram-se mais intensas do que no período revolucionário. Em todos os lugares, porém, é difícil clarear as razões da ação popular e deixar de considerar a inexistência de plena autonomia: havia os interesse dos caudilhos e as lealdades pessoais. Algumas razões são mais visíveis, como as lutas pela desmobilização militar, contra a religião oficial e pela tolerância de culto, contra o governo que não garantia o bem comum – na esteira de uma certa tradição política europeia não nomeada, mas que poderíamos comparar à economia moral.
A obra encerra-se com A era das mudanças, o sétimo capítulo. Tradicionalmente, a historiografia elenca a formação do Estado nacional e a expansão capitalista como os processos mais relevantes do período entre a independência e 1880. Aqui, não é diferente: constata-se o crescimento econômico argentino desde a década de 1840 e, com ele, o aumento da repressão estatal diante das ações políticas das classes populares. Ao longo de décadas, a criação de gado tornar-se-ia a grande atividade econômica argentina, ao mesmo tempo em que o preço das terras e os salários também sofreriam aumentos. Sistemas de remuneração seriam criados para diminuir a autonomia dos peões: parte era pago em dinheiro, parte era descontado para o pagamento de despesas de manutenção, sem um controle estrito por parte do trabalhador. O sistema de parcerias teve seu apogeu entre os anos 1850 e 1860, enquanto a camada de pequenos produtores, rendeiros e pequenos proprietários se reduzia. De fins da década de 1840 ao início da de 1880, consolidou-se o Estado e a identidade nacional, inclusive com a ocupação de territórios habitados por indígenas independentes e cuja autonomia fora pactuada anteriormente. Ao mesmo tempo, mudaram outras coisas. A introdução de mão de obra estrangeira começaria a transformar o perfil da força de trabalho: “em 1854 os estrangeiros era 8% dos trabalhadores de Buenos Aires e em 1870 já superavam 20%”, assim como começava um engajamento mais efetivo das mulheres das classes populares no mundo do trabalho assalariado. A introdução de um Código Rural não facilitou as vida dos “pobres pastores”, como aqueles que, em 1854, queixavam-se de ser caçados como avestruzes nos campos e diziam ser republicanos, embora fossem tratados como mulas sem direito à liberdade individual, a ficar com suas famílias, a evitar os abusos do recrutamento e a receber os benefícios sociais que as leis concediam aos estrangeiros. A hierarquia social acentuou-se, introduziram-se novas formas de consumo à europeia, melhorou a condição material de vida das classes populares urbanas, enquanto no campo tudo continuava precário. A Argentina tinha, então, apenas cerca de 13% de sua população vivendo em centros urbanos. No campo, havia o básico para a subsistência: casas de tijolos, tetos de palha e piso de terra, pouco mobiliário, instrumentos de trabalho rudimentares e vestuário diminuto. Entre os velhos e os novos trabalhadores, incrementou-se a ação das sociedades de socorros mútuos, notadamente em meio aos espanhóis, italianos e descendentes de africanos escravizados.
O livro de Meglio não cria uma nova história da Argentina. Os fatos e processos já conhecidos dos leitores, especialistas ou não, estão todos lá. O que muda, aqui, é o ponto de vista: sem descuidar da História Política, a abordagem do processo de formação nacional pelo prisma das possibilidades de ação das classes populares é o que diferencia esta obra de síntese. E ela é bem vinda por muitas razões, algumas das quais podem ser enumeradas.
O autor correu riscos, e é louvável que os tenha corrido. Primeiramente, ao anunciar a elaboração de uma História Popular, sem distingui-la da História Social ou dar-lhe uma definição mais precisa. Em segundo lugar, pela disposição em enfrentar uma periodização tão larga, o que não é comum entre historiadores, normalmente apegados ao conforto de lidar com suas especialidades temporais. Depois, por utilizar sem medo a noção declasses populares e, ao mesmo tempo, fazê-lo com rigor. Conta-se, ainda, a linguagem e a forma da escrita historiográfica, capazes de atrair historiadores de ofício e também um público mais amplo e interessado nas questões do passado.
Historia de las clases populares en la Argentina serve de estímulo para que historiadores brasileiros também se atrevam a empreitadas semelhantes, atingindo um público ávido e que, hoje, acessa a escrita da História pelo texto de jornalistas ou escritores descompromissados com o método e o rigor da pesquisa histórica. Se esses autores o fazem, entre outras razões, é porque os historiadores e as agências de fomento não entendem o texto de divulgação como um trabalho que lhes compete. E é preciso cumprir essa função com competência, razão pela qual a obra de Meglio, repito, é exemplar e vem em boa hora.
Jaime Rodrigues – Professor no Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH / UNIFESP – Guarulhos-SP / Brasil). E-mail: [email protected]
MEGLIO, Gabriel di. Historia de las clases populares en la Argentina desde 1516 hasta 1880. Buenos Aires: Sudamericana, 2012. Resenha de: RODRIGUES, Jaime. História Social, História Popular: o caso argentino. Almanack, Guarulhos, n.9, p. 203-207, jan./abr., 2015.
O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime | José Damião Rodrigues
O livro deriva de um evento homônimo de 2010, ocorrido no Museu de Angra do Heroísmo, nos Açores, Portugal, organizado pelo Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM), com apoio da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Boa parte das apresentações se converteu em artigos para a publicação de 2012, havendo o acréscimo de apenas um autor não relacionado na programação original do colóquio.
O organizador e autor de um dos artigos, José Damião Rodrigues – professor da Universidade dos Açores na oportunidade do evento, e atualmente docente na Universidade Nova de Lisboa -, desvela na Nota Introdutória mais detalhes acerca da justificativa e dos parâmetros deste O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime. Comentando a retomada de interesse do estudo acerca dos impérios, indissociável de um panorama onde designações como Atlantic history e global history parecem entrar cada vez mais em voga, o autor enaltece a fomentação de pesquisas revisitando as turbulências e transformações entre os centros políticos europeus e suas respectivas periferias – sobretudo os espaços de domínio ibérico – nos século XVIII e XIX.
Dessa forma,
esta acção (…)pretendeu analisar o período axial que vai de 1750 a 1822 e no qual registramos a ocorrência de um conjunto de eventos fundadores da contemporaneidade política, social e intelectual à escala regional, nacional e internacional, como foram as revoluções americana e francesa, a revolta e a independência do Haiti, a mudança da Corte portuguesa para o Brasil, o início do processo das independências na América espanhola, a primeira experiência liberal em Espanha e a independência do Brasil. Sob este ângulo, pretendeu-se revelar a importância do Atlântico como um espaço para a circulação das elites enquanto factor de difusão de novas ideias e de valores fundamentais das sociedades contemporâneas e de construção de redes de informação. De igual modo, foi destacado o papel das ilhas açorianas que se, por um lado, mantinham as características de uma periferia, por outro, pela sua centralidade geográfica no coração do sistema atlântico, funcionavam como ponto nodal e placa giratória de uma densa rede de fluxos e refluxos (…) (p. 15).
Não obstante ter situado a temática das transformações desse âmbito atlântico, Rodrigues expõe outro tema que encontra muito espaço no desenvolver da obra. Pois tanto o colóquio original quanto a publicação se baseiam na celebração da memória de um acontecimento ilustrativo das transformações do final do Antigo Regime em Portugal: a Setembrizada. O evento constituiu-se no exílio de dezenas de presos sem culpa formalizada, acusados pela regência do Reino de colaborar ou simpatizar com a nova invasão francesa de 1810, chefiada pelo marechal Massena. Os deportados chegaram em 26 de setembro do mesmo ano às ilhas açorianas e muitos deles voltaram a ter participação ativa na conjuntura revolucionária liberal de 1820. Portanto, o colóquio organizado pelo CHAM também busca homenagear esses personagens ligados a introdução da modernidade política em Portugal.
Sem dúvida, a coexistência dos dois temas é uma das características mais marcantes do livro: a diversidade entre os artigos que o compõe. E, de fato, a obra se faz notável por exibir uma rica gama de matizes e vieses possíveis, através dos quais aborda a questão da circulação atlântica de elites e de ideias, deixando clara a fecundidade do objeto. Ao perpassar o índice, o leitor confirma isso ao se deparar com a listagem dos vinte artigos, saltando aos olhos a existência de capítulos escritos tanto em português como em espanhol, cujos títulos elencam desde revoltas escravas na Bahia do século XIX, passando pela ilustração no Peru durante o século XVIII, até um estudo sobre a heráldica portuguesa de finais do Antigo Regime.
Por outro lado, ainda que a diversidade de objetos e temas escolhidos no interior do espaço Atlântico seja latente, existe uma metodologia dominante em O Atlântico revolucionário .Dos vinte autores, oito optaram por se concentrar em um personagem, refazendo e evidenciando, através de suas respectivas trajetórias e produções documentais, pontos concernentes e reveladores de diversas dimensões da realidade pertencentes a essa conjuntura de transformações, compreendida entre os anos de 1750 e 1822, no espaço atlântico. Ao considerar as menos de quinhentas páginas para os vinte textos, fica clara a impossibilidade da publicação de estudos mais extensivo e análises mais minuciosas, contemplando dados e corpos de fontes mais volumosos. Portanto, a opção mais frequente de desenvolver os artigos sobre um personagem se revela bem conveniente, além de resultar em capítulos bastante objetivos e claros em suas intenções, expondo, por meio de casos de grande relevância, ainda que deveras circunscritos, uma profusão de aspectos de um mesmo espaço em um mesmo período de tempo. No mínimo, ficamos diante de valorosas indicações de caminhos para futuras pesquisas, aguardando trabalhos de maior densidade em sua continuidade.
“O espaço público e a opinião política na monarquia portuguesa em finais do Antigo Regime: notas para uma revisão das revisões historiográficas”, de Nuno Gonçalo Monteiro, abre oportunamente o livro, situando o leitor num panorama de referências e subsídios teóricos úteis para a apreciação de muitos dos artigos subsequentes, proporcionando um balanço historiográfico centrado sobre os dois conceitos presentes no título do capítulo – basilares para a compreensão das transformações do século XIX.
Em meio aos debates e pontos de inflexões historiográficos abordados por Gonçalo, são relembrados tanto Fernando Novais, para quem “desde meados do século XVIII (…) existiria uma crise estrutural do sistema colonial”, quanto o posterior trabalho de Valentim Alexandre, que “contraria claramente a ideia de crise do império ou da monarquia antes de 1808” (p. 22). Esse debate, retomado por Monteiro exemplifica o préstimo desse balanço historiográfico e sua aproximação com outros artigos do livro. Um dos elos possíveis se dá com “Remanejamento de identidades em um contexto de crise: as Minas Gerais na segunda metade do século XVIII”, de Roberta Stumpf. Desde o próprio título – ao reafirmar a crise do Império Português no século XVIII articulada com a Inconfidência Mineira – é visível não apenas a influência do pensamento de Novais sobre a produção de Stumpf, mas a própria vigência do acima citado debate nas páginas deO Atlântico revolucionário ,reiterando a adequação do balanço historiográfico de Monteiro na condição de primeiro capítulo.
Ainda a propósito do trabalho de Stumpf, a autora indica, observando o cada vez maior descompasso de interesses entre os naturais de Minas e a Coroa portuguesa nos fins do século XVIII, que, pelo estudo do vocabulário político dos Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, torna-se latente a cisão identatária dos acusados para com as autoridades metropolitanas, ainda que os mesmos acusados ainda não tivessem uma nova identidade para o projeto no qual se empenharam.
Stumpf aplica, no recorte da Inconfidência Mineira, uma linha de trabalho anteriormente desenvolvida sobre a questão das transformações das identidades no interior da América portuguesa no período de crise, tema bastante pujante em uma historiografia que, nas das últimas duas décadas, inclui a própria autora. Nesse mote, são exemplos e referencias trabalhos como Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira) (István, Jancsó e João Paulo G. Pimenta, São Paulo, Editora Senac, 2000) e Filho das Minas, americanos e portugueses: identidades políticas coletivas na Capitania de Minas Gerais (1763-1792) (Roberta Stumpf, São Paulo, Hucitec, 2010).
Em “Wellington em defesa dos jacobinos? A setembrizada de 1810”, Fernando Dores Costas analisa a efeméride que serviu como ponto de partida para o colóquio, esmiuçando-a e delineando-a como ação arbitrária e desesperada da Regência portuguesa. O intuito desta seria angariar a confiança da população no momento de crise, em uma Lisboa abandonada pela família real e sob ameaça de uma nova invasão de tropas francesas, contra algumas figuras transformadas em bodes expiatórios, acusadas de colaboração com os franceses. Ao centrar-se na trajetória nos escritos de alguns dos exilados nas ilhas açorianas – como o baiano Vicente Cardoso da Costa; José Sebastião de Saldanha de Oliveira e Daun, elemento de primeira nobreza e o médico Antonio Almeida -, o autor demonstra disparidades de pensamentos e trajetórias desses chamados setembrizados, invalidando um pressuposto, decorrente da acusação, de que formariam um grupo coeso e agindo organizadamente em apoio ao exército invasor francês.
“Domenico Pellegrini (1769-1840), pintor cosmopolita entre Lisboa e Londres”, de Carlos Silvera, é uma contribuição de um historiador da arte que demonstra que tanto o artista como sua produção podem ser considerados bons exemplos de vetores de circulação de ideias. Porém, esse mesmo artigo também ilustra um caso de incompatibilização entre os dois temas do livro destacados na Nota Introdutória, a Setembrizada e o próprio espaço atlântico. Se por um lado, a temática do Império Português e da lembrança da Setembrizada – já que Pellegrini foi um dos presos exilados – se mantém em primeiro plano, o espaço atlântico, por outro, tem papel pequeno no artigo. Pois, a trajetória de Domenico compreende rotas entre Itália, Inglaterra, Portugal e um irrisório exílio nos Açores. Dessa maneira, o espaço atlântico não é aqui explorado em toda sua potencialidade de articulador e canal entre dois continentes contendo partes dos impérios ibéricos, tendo, então, sua presença minimizada. Logo, o tema principal do espaço atlântico é sobrepujado pela temática mais secundária da Setembrizada.
Já o artigo do organizador, José Damião Rodrigues, “Um europeu nos trópicos: sociedade e política no Rio joanino na correspondência de Pedro José Caupers”, de forma diferente, demonstra plena articulação e harmonização entre os temas ressaltados na Nota Introdutória . Ao se debruçar sobre a produção epistolar de um membro da Corte lusitana, que atravessou o oceano após a invasão napoleônica, o autor identifica uma rede de conexões, interlocutores e relações que ligam Portugal, Rio de Janeiro e ilhas açorianas, além de incluir um dos setembrizados. Não obstante, o capítulo mostra, sob a ótica de Caupers, e em sua latente inadaptação à condição de reinol perante a nova dinâmica da Corte no Rio de Janeiro, como “em períodos de aceleração da dinâmica histórica ou de mudança social, as divisões e as redefinições que se operam em torno das identidades colectivas adquirem uma importância fundamental, mas complexificam o cenário social e político” (p. 194).
Também lidando com um personagem ilustrativo está Lucia Maria Bastos Neves, com “Um baiano na setembrizada: Vicente José Cardoso da Costa (1765-1834)”. Condizente com seu já conhecido trabalho acerca do vocabulário político, utilizando uma abordagem apoiada em uma história dos conceitos – como no livro Corcundas e constitucionais: a cultura política da Independência (1820-1822) (Lúcia Maria Bastos P. das Neves, Rio de Janeiro, FAPERJ, 2003) -, a historiadora propõe analisar os escritos de Vicente da Costa produzidos contemporaneamente à Revolução Vintista, enfatizando os embates entre o Antigo Regime e o Liberalismo presentes na linguagem política utilizada pelo personagem.
Atentando-nos ao trabalho de Neves, confirmamos que a circunscrição da análise histórica a um personagem não necessariamente corresponde a uma circunscrição de resultados e nem a um extremo particularismo, havendo brechas de interlocução com outros artigos. Aqui, é possível até mesmo constatar o início de um possível debate no interior do livro. Pois, ao examinar o mesmo personagem, em seu já referido artigo, Fernando Dores Costas chega a um diagnóstico consideravelmente diferente do da historiadora sobre o setembrizado Vicente José Cardoso da Costa e seu pensamento acerca das novas formas políticas que, no século XIX fixavam-se nos impérios ibéricos. De acordo com Dores Costa, “Cardoso da Costa defendeu energicamente a tradição pombalina, absolutista. Afirmava a referida obrigação ilimitada de obediência aos governos. Os súbditos estavam impedidos de avaliar, estando obrigados a acatar as ordens tanto dos maus como aos bons governos” (p. 48). Por outro lado, é de maneira mais contemporizada que Neves, após sua análise, descreve o mesmo Cardoso da Costa como um homem imerso em uma conjuntura de crise e partilhando múltiplas linguagens políticas, oscilando entre tradição do Antigo Regime e as novas formas políticas em oposição ao despotismo.
Vicente José Cardoso da Costa ainda volta a ser objeto de estudo em “Experiencia y memoria de la revolución de 1808: Blanco White y Vicente José Cardoso da Costa”, de Antonio Prada. Nesse caso, as conclusões do autor, após análise dos escritos de Cardoso da Costa, são mais próximas às de Lúcia Maria Bastos Neves do que às de Dores Costa.
Ainda no campo da análise do espaço atlântico do Império Português, também situam-se “A heráldica municipal portuguesa entre o Antigo Regime e a monarquia constitucional: reflexos revolucionários”, de Miguel Metelo de Seixas; “Circulação de conhecimentos científicos no Atlântico. De Cabo Verde para Lisboa: memórias escritas, solos e minerais, plantas e animais. Os envios científicos de João da Silva Feijó”, de Maria Ferraz Torrão; “Rotas de comércio de livros para Portugal no final do Antigo Regime”, de Cláudio DeNipoti; “Em busca de honra, fama e glória na Índia oitocentista: circulação e ascensão da nobreza portuguesa no ultramar”; de Luis Dias Antunes, “A difusão da modernidade política. A ficcionalidade da Revolução de 1820”; de Beatriz Peralta García; “Revoltas escravas na Baía no início do século XIX”, de Maria Beatriz Nizza da Silva e “República de mazombos: sedição, maçonaria e libertinagem numa perspectiva atlântica”, de Junia Ferreira Furtado.
Podendo ser visto como uma ponte entre os artigos acerca do Império português e sua contraparte hispânica, temos o derradeiro “Las independencias latinoamericanas observadas desde España y Portugal”, de Juan Marchena. Mais detidos no universo espanhol estão “Entre reforma y revolución. La economía política, el libre comercio y los sistemas de gobierno em el mundo Altlántico”, de Jesús Bohórquez; “Política y politización en la España noratlántica: caminos y procesos (Galicia, 1766-1823)”, de Xosé Veiga e “A través del Atlántico. La correspondencia republicana entre Thomas Jefferson y Valentín de Foronda”, de Carmen de La Guardia Herrero.
Ainda no espaço hispânico, abordando as transformações do fim do Antigo Regime nas colônias, destacam-se “Azougueros portugueses en Aullagas a fines del siglo XVIII: Francisco Amaral”, de María Gavira Márquez e “La ilustración posible en la Lima setecentista: debate sobre el alcance de las luces en el mundo hispánico”, de Margarita Rodríguez García. O primeiro traz o curioso caso de um membro da elite colonial portuguesa exercendo atividade mineradora no atual território boliviano no fim do século XVIII, mesmo apesar do pleno desenrolar da guerra entre Portugal e Espanha, declarada no outro lado do Atlântico. O segundo, focado no periódico Mercurio Peruano, bebe na fonte dos trabalhos de François-Xavier Guerra, ao caracterizar as particularidades da formação de uma esfera pública no espaço colonial de uma monarquia absolutista, portanto, uma realidade não abarcada pelo modelo original de esfera pública desenvolvida por Habermas.
Enfim, O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime modela uma perspectiva desse espaço como um feixe de encontros, com participação fundamental em diversas realidades e processos históricos. Um canal de pleno trânsito de ideias e elites, passíveis das mais diversas nuances e abordagens historiográficas, em uma variação ampla de escala. Um lembrete de que, mesmo considerado em sua unidade de dimensão global, seu sentido nunca pode ser reduzido a um único.
Luis Otávio Vieira – Graduando em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH / USP – São Paulo-SP / Brasil). E-mail: [email protected]
RODRIGUES, José Damião (Org.). O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime. Ponta Delgada: Centro de História de Além-Mar (CHAM), 2012. Resenha de: VIEIRA, Luis Otávio. Os diferentes universos do espaço Atlântico. Almanack, Guarulhos, n.9, p. 208-212, jan./abr., 2015.
Inconfidência no Império: Goa de 1787 e Rio de Janeiro de 1794 | Anita Correia Lima de Almeida
Publicado em 2011, Inconfidência no Império é fruto da tese de doutorado de Anita Correia Lima de Almeida defendida em 2001 na UFRJ. A obra é um exercício de história comparada que aborda duas Devassas ocorridas em duas colônias geograficamente distantes do Império Português: a prisão dos padres em Goa, no ano de 1787, e a devassa contra os membros da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, em 1794. Sobre a primeira, existem pouquíssimos estudos publicados no Brasil, enquanto a respeito da Devassa contra os letrados cariocas há uma quantidade considerável de estudos publicados ao longo das últimas décadas.
A divisão do livro em três partes é embasada na noção do século XVIII “de que a máquina política deveria amparar-se nos prêmios e nos castigos” (p.22), sendo a primeira “Os Castigos” (capítulos 1 e 2), a segunda “Os Prêmios” (capítulos 3 a 7) e a terceira, “O louco desejo da liberdade” (capítulos 8, 9 e conclusão). Na introdução da obra, a autora denota que o estudo não seguirá um aporte historiográfico tradicional sobre o tema das “Inconfidências”, distanciando-se da categoria de “Revolução Atlântica”, de Jacques Godechot e buscando a semelhança de ambos os eventos “pelo fato de tanto os letrados naturais de Goa como os fluminenses terem sido alvos da mesma política pombalina que se espraiou de Lisboa para todo o Império na segunda metade do século XVIII” (p.19-20). Parte a autora, portanto, da “relação entre os letrados do ultramar e o pombalismo”. (p.20) A escolha em trabalhar esses dois episódios se deveu não só à interação entre os letrados e a coroa, mas ao fato de que entre os acusados em ambas as Devassas não estão arrolados homens de grandes posses ou endividados com a coroa portuguesa (caso, por exemplo da Inconfidência Mineira). Aqui, no tocante à Devassa do Rio de Janeiro, a autora segue em grande parte o caminho interpretativo de No rascunho da nação: Inconfidência no Rio de Janeiro (1992), de Afonso Carlos Marques dos Santos, realizando boas considerações acerca do quadro, redigido por A. Santos, de composição social dos acusados e testemunhas no processo, e conclui que “a maior parte deles é constituída, certamente, por homens em cujas vidas o estudo formal ocupara um papel importante. (…) E mesmo quando os acusados são oriundos de extratos menos favorecidos, a possibilidade de participar dos ‘conventículos’ está dada pela instrução que possuíam.” (p.67)
Ponto fulcral para o trabalho é a desilusão que os letrados residentes em Goa e na América Portuguesa tiveram com a política imperial e que, no primeiro caso, resultou em um plano de sublevação e, no segundo, em conversas sobre temas proibidos. Ademais, a escolha do uso do vocábulo Inconfidência se deve ao sentido de traição que esta palavra acarreta, “a traição contida na atitude de homens que – aliciados – deveriam ter sido fiéis até o fim, e não o foram”. (p.23)
Outro aspecto relevante está na percepção do caráter exemplar que assumiu a Revolução Americana de 1776 para os letrados luso americanos, o que A. Almeida evidencia ao analisar o episódio das cartas assinadas “por um brasileiro” (p.67), com o pseudônimo de Vendek, a Thomas Jefferson. Na continuação deste excerto, a autora afirma existir um grande descontentamento entre os nascidos na América Portuguesa (aos quais insistentemente utiliza a denominação de “brasileiros”), sendo “os homens de letras” (p.68) responsáveis por liderar a fila de descontentes com o Império.
Cabe atenção também à relevância que a autora dá a uma suposta dicotomia entre reinóis e nascidos na colônia, tendo por base argumentativa a interpretação de Charles Boxer de que “preconceitos raciais” explicariam a grande diferença no número de condenados à morte na Inconfidência de Goa, quinze, e na Inconfidência Mineira, um. Para ratificar essa observação, a autora considera que a conjuntura política teria se modificado nos dois anos que separam ambos os movimentos, considerando que “as notícias da Revolução Francesa chegaram a Lisboa junto com as notícias do frustrado levante em Minas” (p.70). Assim, a maior radicalização na conjuntura europeia teria levado a um “processo de acomodamento” e um “estreitar dos compromissos entre os colonos e a Coroa” (p.70) que ajudariam a explicar a punição menos severa aos inconfidentes de Minas. Tal explicação parece contestável se levarmos em conta a severidade com a qual foi levada a perquirição sobre o suposto plano de levante no qual estavam envolvidos os presos da Devassa de 1794. Foram mais de dois anos de cárcere para esses acusados, sendo que a situação só foi resolvida devido à pressão dos réus junto ao Ministro do Ultramar, D. Rodrigo de Souza Coutinho, que ordenou ao Vice-Rei Conde de Resende decidir-se entre soltá-los ou enviá-los a Portugal. Portanto, percebe-se aqui que a busca por enquadrar as “Inconfidências” dentro de um processo maior, europeu, e de um modelo historiográfico que procurou enquadrar esses movimentos como “reflexos” da Revolução Francesa e de suas ideias, em primeiro lugar e, em menor escala, da influência da Revolução Americana. Tal perspectiva acaba por reduzir as especificidades do pensamento dos envolvidos nas devassas pesquisadas. Poderia ser proveitosa a inclusão, no livro, de mais trabalhos de István Jancsó, sobretudo seu capítulo na História da Vida Privada no Brasil, bem como da tese de Gustavo Tuna sobre o episódio de 1794, defendida na USP em 2009.
Uma arguta observação feita pela autora sobre os documentos de ambas as Devassas, Goa e Rio de Janeiro, e que tem por base dois artigos de David Higgs, é a coexistência de certas críticas à religião e à monarquia de longa data (por exemplo ao refutarem a veracidade da Sagrada Escritura), com críticas relacionadas a conjuntura das Devassas, como no deboche ao reinado de D. João V e ao fanatismo do príncipe D. João VI.
Na segunda parte do livro, No capítulo “O alvará pombalino contra a discriminação dos naturais de Goa”, a autora se vale do argumento novamente de Charles Boxer sobre a “aproximação entre os letrados de várias regiões do ultramar, alvos dos mesmos projetos pedagógicos” e da “política de não discriminação dos naturais” (p.92) para realizar a comparação entre os nascidos na América e os nascidos em Goa (inclusive apontando semelhanças entre a legislação do norte da América Portuguesa com a aplicada em Goa). Inicia o capítulo com apontamentos de Matias Aires sobre a necessidade de se valorizar uma “nobreza de espírito” (letrada) em contraposição à “nobreza de sangue” (p.75) e à tentativa de Pombal levar em conta essa diferenciação, inclusive pelo fato do ministro ser um “novo rico” (p.76). A autora associa essa problemática à discriminação que setores mais conservadores, sobretudo os padres responsáveis pelo ensino, tinham perante os nascidos em Goa e no Rio de Janeiro, pois para a autora ambos “foram alvos de políticas que conservavam algo em comum” (p.92). Políticas estas que, segundo Almeida, buscavam tornar “os naturais habilitados para todas as honras, dignidades, empregos e postos” (p.84). Essa valorização está explicita na análise que a autora faz da Instrução Quatro de 1774 na qual a decadência de Portugal só seria revertida se os portugueses conseguissem “atrair e aliciar a afeição dos naturais” (p.89). Uma dificuldade enfrentada por estas medidas era a concepção por parte de certos atores políticos do período de uma suposta superioridade na cultura portuguesa e europeia em relação às indígenas, bem como a intolerância com os costumes destes demonstrada na atividade de órgãos como o Tribunal da Inquisição de Goa e da parte dos jesuítas, que em seus aldeamentos tutelavam a população local e atrasariam a incorporação desses grupos como súditos do Império. A autora cita o caso dos brâmanes, que na sociedade de castas eram associados a postos de maior prestígio, ligados à religião e à educação, enquanto na “sociedade indo-portuguesa” (p.91) perderam postos na hierarquia social.
No capítulo “O Projeto de reedificação da cidade de Goa”, é feita uma análise dos projetos urbanísticos empreendidos pela coroa portuguesa desde D. João V, e aprimorados por Pombal. O texto trata da reconstrução de Lisboa após o terremoto, momento em que se traça um projeto sistemático que, segundo A. Almeida, seria a expressão de uma “nova mentalidade urbana” (p.96). Na América Portuguesa, existiria um planejamento urbanístico (em cidades do Norte da colônia como Belém, Macapá e Mazagão) associado, segundo a historiadora, a um “‘projeto civilizacional’, criado a partir da necessidade de mediar os conflitos entre colonos e índios” (p.97). Nessa interpretação, salta aos olhos o bom uso de bibliografia de pesquisadores da arquitetura colonial, como Roberta Marx Delson e sua proposta de planificação das cidades coloniais brasileiras; ao aproveitar esse argumento para tratar do caso de Goa, A. Almeida faz um interessante aporte sobre a situação insalubre da “Goa Velha”, atingida por constantes epidemias de cólera, tifo e malária. Aborda o projeto pombalino de reedificação da vila, decretado em 1774, ponto a ponto, bem como a atuação do governador D. Pedro José da Câmara. O projeto não avançou, e para a autora é justamente a expectativa imbuída neste plano que importa: “o que terá significado para esses letrados naturais as tentativas pombalinas de reforma da Índia Portuguesa (…) numa espécie de utopia regressiva e ao mesmo tempo voltada para o novo e, por outro lado, na possibilidade de absorção dos naturais, através do fim da discriminação, que se espraiava o projeto civilizacional pombalino para o oriente português” (p.105).
Ao abordar a Reforma dos Estudos Menores, reforma esta atrelada à reformulação dos currículos da Universidade de Coimbra em 1772, é feito um esboço sobre o cenário existente antes da implementação das Aulas Régias, bem como do pensamento educacional português de meados do século XVIII (principalmente de Ribeiro Sanches e Verney) e a vontade política de Pombal e seus ministros em reduzir o controle jesuítico perante a educação, sobretudo no ambiente colonial, procurando modernizar o sistema e acabar com os métodos empregados pelos religiosos.
A criação das Aulas Régias de Latim, Grego, Retórica e Filosofia Racional e Moral em 1772 propiciou, segundo a autora, a profissionalização do magistério e retirou o vínculo dos professores da esfera eclesiástica, ao mesmo tempo em que valorizou os mestres outorgando-os títulos de nobreza. Entretanto, na prática, muitos problemas surgiram, como a falta de pagamento dos professores régios e a disputa por alunos com os padres.
A figura do padre Caetano Vitorino e suas requisições na Corte pela ordenação de goeses a cargos eclesiásticos e administrativos tem aspecto central para construir a justificativa da autora em comparar os anseios dos letrados da América Portuguesa e de Goa. A autora compara o padre Vitorino a Silva Alvarenga no tocante à confiança de ambos nos “novos tempos” (p.155) trazidos pelo governo de Pombal, e na possibilidade de obterem reconhecimento social por seus serviços prestados à coroa.
No capítulo “a Sociedade Literária, Silva Alvarenga e a Arte Poética”, há o aprofundamento na questão das Academias e de como estas se tornavam espaço de desenvolvimento de estudos sobre a viabilidade econômica de plantas e outros produtos coloniais. No caso do Rio de Janeiro, é abordada a Academia Científica de 1772, fundada com apoio do Vice-Rei Marques de Lavradio com o intuito de aprimorar a produção e utilização de produtos coloniais, como o linho do cânhamo ou a guaxima, além de investirem na descoberta de plantas de uso comercial e/ou medicinal. Assim, esta associação, estava inexoravelmente ligada ao projeto pombalino, assim como a Sociedade Literária esteve, e a atividade do seu membro e professor régio, João Manso Pereira, mineralogista que pesquisou diversos assuntos, comprova. É bastante contundente a observação de como os textos dos agremiados debatiam renomados autores europeus como Buffon, refutando inclusive argumentos deste a respeito da “formação do universo” (p.172).
A autora correlaciona o fato de Manuel Inácio da Silva Alvarenga pertencer a academia à sua preocupação em justificar a utilidade didática de sua poesia, concatenando o “discurso literário” a uma “obrigação cívica” (p.181). Para A. Almeida, esse tipo de preocupação expressaria a “função” do letrado de ser uma espécie de ponte entre a “civilização europeia e sua terra natal” (p.183). É a partir desse excerto que a autora desemboca em um dos principais argumentos de sua tese, de que a frustração dos letrados com o insucesso de seus planos em ascenderem dentro da burocracia imperial, atrelados a um objetivo maior da Coroa Portuguesa, seriam a base, ou justificativa, para o movimento revoltoso de Goa e os acalorados debates sobre temas escusos que levou a prisão dos letrados no Rio de Janeiro. Assim, o fracasso das aulas régias, a não equiparação prática entre reinóis e nascidos em Goa, a insatisfação com o governo do Conde de Resende seriam parte dos “planos abandonados pelo meio, de promessas que o futuro não cumpriu, na qual, acredita-se, encontram-se as raízes do descontentamento dos homens de letras do ultramar” (p.194).
No último capítulo da obra intitulado “O precipício”, a autora considera que o aprendizado da Retórica teria uma “função heurística, de descoberta” (p.204). Ou seja, foi o principal instrumento disponível para os letrados no ambiente colonial poderem questionar as atitudes da metrópole. Assim, aponta-se uma contradição da política pombalina que, segundo a autora, Antônio Nunes Ribeiro Sanches já havia demonstrado em seus escritos a respeito das aulas régias nas colônias, sendo que estas “tinham ajudado a criar entre os súditos naturais o desejo de adquirirem honras (…) e, facilitado certo aprendizado político” (p.204). Portanto, para a autora, “como se quer sugerir, a transformação dos letrados reformistas em inconfidentes tenha sido auxiliada pelo próprio pombalismo, que ofereceu alguns caminhos, como o da retórica” (p.204). Influenciados pela conjuntura internacional, os letrados ressignificavam as obras de Mably e Reynal a partir de sua insatisfação e de seus desejos em se rebelarem contra a metrópole, assim como os revolucionários das Treze Colônias fizeram. A autora reafirma, ao fim do capítulo, a sua proposição de que foi do desejo frustrado em se tornarem vassalos úteis do Império Português que esses letrados “abraçaram ideias – que lhes eram então oferecidas com fartura – contrárias à autoridade da metrópole e, por fim, ao próprio estatuto colonial”.
Ao analisar minuciosamente duas Devassas ocorridas em colônias espacialmente distantes e, em um plano maior, as políticas do Império Português na segunda metade do século XVIII o livro traz as semelhanças que a trajetória dos padres inconfidentes de Goa e os letrados devassados do Rio de Janeiro tinham dentro do projeto pombalino, e as suas decepções ao perceberem o insucesso deste. Inconfidência no Império é uma obra que alia a exaustiva pesquisa documental a uma leitura fluida e agradável, e é de suma importância para os estudiosos da história do Império Português em fins do século XVIII, no ministério de Pombal e no impacto de suas políticas pombalinas no ultramar e aos que buscam compreender a conjuntura das colônias neste fin-de-siècle politicamente agitado.
Lucas Gallo Otto – Graduando no departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP – São Paulo/ Brasil) e bolsista de Iniciação Científica da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail: [email protected]
ALMEIDA, Anita Correia Lima de. Inconfidência no Império: Goa de 1787 e Rio de Janeiro de 1794. Rio de Janeiro: 7 letras, 2011. Resenha de: OTTO, Lucas Gallo. Frustração, retórica e sublevação: uma leitura sobre as “Inconfidências” de Goa (1787) e do Rio de Janeiro (1794). Almanack, Guarulhos, n.8, p. 157-161, jul./dez., 2014.
El imperio de las circunstancias: las independencias hispanoamericanas y la revolución liberal española | Broberto Breña
O novo livro do historiador mexicano Roberto Breña merece destaque tanto por seu empenho em abordar, de forma bastante sugestiva, diversos aspectos da história política do mundo revolucionário hispânico, como por seu esforço em produzir um texto destinado também a um público mais geral interessado no assunto. El imperio de las circunstancias: las independencias hispanoamericanas y la revolución liberal española, composto por oito capítulos que contemplam cenários espanhóis e hispano-americanos de inícios do século XIX, representa uma continuidade de outros trabalhos do autor sobre o chamado “primeiro liberalismo” espanhol, as revoluções hispânicas e questões de cunho mais acentuadamente historiográfico.
Logo nas primeiras páginas, Breña anuncia duas ideias centrais de seu texto: “império das circunstâncias” e “ciclo revolucionário hispânico”. Referente à primeira, o autor afirma que centrou seu interesse na vida e obra de certos personagens, convencionalmente conhecidos como precursores dos processos emancipatórios hispano-americanos, e como as diferentes circunstâncias que os rodeavam teriam desempenhado papel decisivo em suas ações. Breña constrói e defende, ao longo do livro, a ideia de que tais circunstâncias (sociais, políticas, econômicas) não teriam permitido, com frequência, que esses personagens atuassem como desejavam. Sobre a segunda, ao inserir os processos de independência da América hispânica e a revolução liberal espanhola em um denominado “ciclo revolucionário hispânico”, o autor propõe uma leitura, numa perspectiva eminentemente política-intelectual, que privilegia a ligação direta entre acontecimentos peninsulares e americanos. A exemplo do que vem fazendo grande parte da historiografia a respeito, Breña destaca que foram alguns episódios metropolitanos e seus desdobramentos que provocaram uma série de respostas das colônias a precipitarem o início da história enfocada. Partindo, então, de uma abordagem que enfatiza a dimensão hispânica das revoluções tratadas no livro, o autor mostra cautela diante do chamado enfoque “atlântico”, o qual insere tais processos revolucionários num cenário mais amplo de movimentos político-ideológicos, a partir de uma série de pressupostos com os quais não está inteiramente de acordo.
A maneira como as informações e ideias são apresentadas e trabalhadas no livro evidencia o esforço do autor em construir e relacionar elementos diversificados de um mesmo contexto histórico. Dentre os oitos capítulos, o primeiro e o sexto, sobretudo, abordam o cenário metropolitano. O primeiro capítulo enfatiza a crise provocada pela orfandade da monarquia espanhola, as soluções políticas peninsulares adotadas após a invasão napoleônica e seus impactos e repercussões na América hispânica. O capítulo 6 trata da Constituição de Cádiz de 1812 e das formas de representação nela implicadas como marcos iniciais de uma vida política moderna no mundo hispânico. Neste apartado, Breña comenta sobre a importância do “primeiro liberalismo” espanhol e a efervescência constitucional vivida nos territórios hispano-americanos, enfatizando como esta Constituição amparou, em diferentes localidades, os primeiros processos eleitorais, influenciou aspectos jurídicos, debates ideológicos e a própria cultura política como um todo. Diretamente sobre as ideias liberais espanholas e sua influência no que agora se poderia denominar de “primeiro liberalismo hispano-americano”, o autor afirma que “el liberalismo que empieza a manifestarse en los diversos territorios americanos tuvo connotaciones distintas respecto al metropolitano” (p.197), demonstrando que no decorrer dos processos de independência da América hispânica aspectos centrais da ideologia e de práticas liberais sofreram modificações consideráveis. Finalmente, Breña aborda as ambiguidades e tensões que caracterizaram esses princípios políticos em ambos os lados do Atlântico, mostrando como o tema do republicanismo manteve estreita vinculação com o liberalismo neste contexto revolucionário.
Os capítulos 2, 3, 4 e 5 apresentam personagens, seus escritos e ideias entre o final do século XVIII e o início do XIX. Ao analisar, dentre outros, Francisco de Miranda, Simon Bolívar, San Martín, Bernardo Monteagudo e Servando Teresa de Mier, o autor trata de seus pensamentos, projetos e anseios, trilhando uma espécie de caminho no qual introduz o leitor a realidades políticas, sociais e ideológicas de diferentes partes da América hispânica, em especial durante seus processos de independência. Retomando uma das ideias centrais do livro, Breña faz uma reflexão sobre esses homens e seus supostos “fracassos” (ideia antiga na historiografia, mas aqui baseada na obra do historiador alemão Stefan Rinke, Las revoluciones en América: las vías a la independencia 1760-1830. México, El Colegio de México, 2011), para tentar demonstrar como as circunstâncias teriam se imposto sobre o pensamento e a ação de tais personagens. Sua argumentação é sustentada na ideia de que elementos como o caráter “prematuro” de alguns movimentos independentistas, a impossibilidade de algumas capitais imporem suas autoridades e legitimidades, e a adoção da forma republicana de governo em sociedades sem experiência alguma com instituições representativas teriam conformado um “império de circunstâncias” que, de modo distinto em cada caso, resultaria ser mais poderoso que a vontade de líderes.
Assim, para Breña, esses protagonistas exibiriam uma capacidade muito limitada para exercerem influxos sobre acontecimentos políticos, salvo em situações mais imediatas, como ele próprio afirma:
[…] los procesos emancipadores americanos se caracterizan, entre otras muchas cosas, porque casi todos los grandes líderes que participaron en ellos fracasaron en los proyectos políticos que se propusieron y porque en la mayoría de los casos (tratándose, insistimos, de líderes de primer nivel) no pudieron pasar de la fase bélica a la fase de estabilización o de construcción y, cuando lograron hacerlo, muchos de ellos fracasaron políticamente” (p.136).
No entanto, quando se concebe a inexistência de qualquer história de sociedades que seja totalmente movida por vontades individuais, a constatação de que os “próceres” das independências eram capazes de incidir sobre suas realidades apenas de forma muito limitada, submetidos que estavam a condicionamentos impostos pela realidade que lhes dava significado, as ideias de “fracasso” e “império das circunstâncias” parecem necessitar menor ênfase do que Breña a elas concede. Mesmo assim, é de inegável valor a tentativa do autor em expor vinculações entre acontecimentos peninsulares e americanos, bem como apresentar sustentos doutrinais e ideológicos, instabilidades e ambiguidades políticas como sendo compartilhados nestes espaços pari passu a particularidades de cada território.
Outro aspecto a chamar a atenção é o fato do processo independentista mexicano ser apresentado como um caso distinto. Breña argumenta, por exemplo, que características como a magnitude da revolução social iniciada por Miguel Hidalgo, ou o fato da independência mexicana ter se consumado por meio de um acordo “não violento” entre elites políticas e militares o distinguiram dos demais abordados no livro, afirmando que:
[…] las características señaladas dan al Virreinato de la Nueva España un lugar distinto, que acrecienta su carácter distintivo por el hecho de que, como es sabido, se trataba del territorio más rico, más poblado y cuya capital, la Ciudad de México, no tenía parangón en el contexto hispanoamericano (p.148).
Por certo, o autor não deve desconsiderar especificidades como essas, aliás presentes em toda parte e em todo tempo no processo geral que analisa; porém, ao colocar a Nova Espanha nesse lugar, sendo ele próprio um historiador mexicano, o livro de Breña parece recomendar ao leitor a sensação de cautela quanto à adequação de considerar-se esse um caso verdadeiramente peculiar. Caso contrário, não se perderia aí um dos elementos mais ricos que ele mesmo nos mostra, isto é, o caráter geral de um contexto e de um processo cravado de particularidades?
Os últimos dois capítulos, 7 e 8, apresentam, respectivamente, discussões de caráter metodológico e historiográfico. No 7, é possível acompanhar um profícuo debate metodológico que nos leva à posição do autor frente a imersão dos processos revolucionários hispânicos no denominado “ciclo revolucionário atlântico”. Breña reconhece que a adoção do enfoque atlântico pode trazer contribuições importantes, mas também postula que tal perspectiva tende, de maneira geral, a realçar semelhanças e continuidades entre processos específicos, pouco considerados como tais. Para o autor, a falta de similitudes entre, por exemplo, as revoluções norte-americana, francesa e as hispano-americanas, e o fato destas últimas terem sido majoritariamente conformadas por guerras civis a envolverem diversos grupos étnicos, realçariam diferenças pouco ou nada valorizadas por aquele enfoque. Aqui, Breña não nega denominadores comuns ou influências recíprocas entre tais revoluções, mas ressalta a inconveniência de interpretar as hispânicas como resultado de um suposto contagio ideológico-doutrinal proveniente dos Estados Unidos ou da França, postura reveladora de uma forte carga anglo-saxã contida em muitos dos adeptos do enfoque atlântico.
Por fim, o capítulo 8 apresenta posições e um compromisso de Breña frente à questão das comemorações dos bicentenários das revoluções hispânicas. Para ele, as mesmas deveriam favorecer a abertura de espaço para publicações, seminários, congressos, etc., que elaborassem, incentivassem e promovessem, além de uma revisão historiográfica crítica, uma visão mais complexa e abrangente dos acontecimentos do mundo hispânico entre 1808 a 1830. O autor manifesta que essas comemorações poderiam representar inclusive uma excelente oportunidade para a expansão do tema para além dos circuitos acadêmicos (o que não necessariamente implica o abandono do rigor metodológico), o que evoca novamente um dos objetivos bem cumpridos deste livro.
Permeado por notas explicativas e comentadas que ajudam a situar o leitor em debates mais amplos, e encerrado com um apêndice a oferecer “una bibliografía mínima de literatura secundaria sobre las revoluciones hispánicas desde la perspectiva, sobre todo, de la historia política e intelectual”, El império de las circunstancias, com seu forte teor crítico e amplo repertório de conhecimentos da matéria, representa indubitável contribuição positiva a uma historiografia que não para de crescer ao passo que – felizmente – não cessa de se renovar (p.299).
Priscila Ferrer Caraponale – Doutoranda em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH/ USP – São Paulo/Brasil). E-mail: [email protected]
BREÑA, ROBERTO. El imperio de las circunstancias: las independencias hispanoamericanas y la revolución liberal española. México, D.F.: EL Colegio de México; Centro de Estudios Internacionales, 2013. Resenha de: Priscila Ferrer Caraponale. O ciclo revolucionário hispânico e suas “circunstâncias”. Almanack, Guarulhos, n.8, p. 162-165, jul./dez., 2014.
As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América | Keila Grinberg
O livro “As Fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América”, compilado pela professora e historiadora Keila Grinberg é resultado de um seminário organizado pela mesma autora, e que foi realizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em junho de 2011. Pode-se dizer que o seminário foi fruto do que diversos historiadores têm produzido nos últimos anos sobre o tema da escravidão e da liberdade nas fronteiras platinas. A nova historiografia da escravidão – como assim tem sido chamada – permitiu que novos assuntos entrassem em pauta, ampliando as facetas da organização da sociedade escravista e complexificando as relações entre senhores e escravos.
Em todos os textos que compõem este livro é possível perceber os novos debates realizados no seio da ciência histórica e que consequentemente afetaram também a temática da escravidão e da liberdade no sul da América. Novas narrativas, novos personagens, novas fontes. Parece que o célebre livro Nouvelle Histoire, organizado por Jacques Le Goff e Pierre Nora ainda dão eco em nosso tempo. O leitor verá também que cada artigo traz importantes contribuições de pesquisas desenvolvidas por especialistas na área. Não há dúvida que Keila Grinberg conseguiu unir em seu seminário os principais historiadores da atualidade que se debruçam sobre os temas da fronteira, escravidão e liberdade.
O texto introdutório de Keila Grinberg não busca ser somente um apanhado do que o leitor encontrará no livro, mas apresenta algumas questões que a autora considera pertinentes para entender a história da escravidão e liberdade no sul da América. A primeira delas é que o livro apresenta histórias de “pessoas escravizadas”. Ou seja, um olhar microscópico, em que as experiências dos indivíduos são ricas para se entender o intricado processo de formação dos estados nacionais. Lembramos aqui da própria tese da professora Keila, que buscou investigar a trajetória do mulato Antônio Rebouças e usou sua história como porta de entrada para entender questões de direito, justiça e cidadania no século XIX (O fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002).
Sobre essa questão é importante recordar dos trabalhos de Carlo Ginzburg, O Queijo e os Vermes (São Paulo: Companhia das Letras, 1989), e o de Giovanni Levi, A Herança Imaterial (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000). Ambos utilizavam a trajetória de um indivíduo para analisar os costumes de toda uma sociedade. Ginzburg usou o moleiro Menóquio para mostrar como um indivíduo excêntrico, que sabia ler e escrever num tempo onde isso era raro, tencionou com os dogmas da Igreja Católica. E Levi utilizou o pároco Chiesa para evidenciar a importância do nome e da influência de seu pai na vila de Piemonte. Estes trabalhos foram os grande ícones da Micro-História italiana e inspiraram toda uma geração de historiadores. Jacques Revel, já na década de 1990, trazia o conceito de jogos de escalas, em que a estrutura social e os indivíduos não eram antagônicos, mas eram visões diferentes que podiam ser somadas e complementadas. O leitor verá nesta resenha histórias de escravos e libertos enquanto sujeitos históricos, conscientes de sua vida e de seus limites.
Keila Grinberg também destaca o conceito de fronteira que os autores do livro utilizam. Não como uma barreira, um limite político que separam nações, mas como uma construção histórica. Afinal, a fronteira é também o que os atores fazem dela. É pertinente lembrar também do conceito de fronteira manejada, aplicada por uma das autoras deste livro, Mariana Thompson Flores, em sua tese recentemente publicada (Crimes de fronteira. A criminalidade na fronteira meridional do Brasil, 1845-1889. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2014). Mariana faz uma excelente revisão historiográfica sobre este conceito, mostrando que os historiadores mais tradicionais buscavam uma fronteira que o ajudassem a justificar a condição brasileira original. Ou seja, transformar o Rio Grande do Sul integrado mais ao Brasil do que às colônias platinas. A partir da década de 1990 a fronteira passa a ser vista menos como um limite e mais com um espaço de trocas e embates. Esta visão, mais conciliatória, foi defendida por historiadores brasileiros (Helga Piccolo, César Guazzelli, Helen Osório, Enrique Padrós), mas também por estudiosos uruguaios e argentinos. Posteriormente, historiadores como Mariana Thompson Flores e Luís Augusto Farinatti, muito envolvidos em fontes primárias, perceberam que a fronteira era mais dinâmica do que as polarizações defendidas anteriormente. A fronteira manejada, ou seja, construída, era uma mutação que se alterava em virtude da ação humana e também dos conflitos políticos e sociais existentes no local. Este último conceito será bem percebido nos textos aqui resenhados.
Um dos temas mais frequentes que o leitor verá neste livro são as chamadas fugas para o além-fronteira, conceito cunhado pelo historiador Silmei Petiz. Keila mostrará que a fuga era coisa antiga, que desde a Colônia de Sacramento, em 1762, havia decretos que davam a liberdade aos escravos que fugissem. O mesmo acontecerá ao longo do século XIX, nas colônias espanholas de Jamaica, Cuba e Santo Domingo. Ou seja, as fugas traziam tensões e problemas diplomáticos, pois havia, em toda América, nações abolicionistas e escravistas que faziam fronteiras entre si. É o caso, por exemplo, de Brasil e Uruguai.
Hevelly Ferreira Acruche será a única historiadora a tratar do século XVIII e, mais especificamente, do caso de Buenos Aires, Argentina. Seu artigo apresenta duas histórias e três personagens: o primeiro, Joaquim Acosta, desertor de Rio Pardo, que fugiu em 1772 e obteve do vice-rei de Buenos Aires, Pedro de Cevallos, a possibilidade de estabelecer-se em terras hispânicas como pessoa livre; e os pardos Jerônimo e Francisco, que vieram do Brasil para serem vendidos como escravos em Buenos Aires, porém, mesmo afirmando serem de condição livre foram devolvidos ao comerciante Domingos Peres, por não apresentarem provas suficientes de suas liberdades. Acruche aponta para uma questão importante: as histórias de Joaquim e de Jerônimo e Francisco tiveram resultados distintos, o que evidencia que as questões de escravidão e liberdade que chegavam a Buenos Aires eram complexas e precisam ser analisadas particularmente, dentro de contextos específicos.
O texto seguinte é da historiadora uruguaia Natalia Stalla, que apresenta dados interessantes sobre o peso demográfico da população africana no litoral e na fronteira do Uruguai. Seu artigo, a partir de uma análise mais quantitativa, analisou a população dos departamentos de Colônia e Soriano, regiões litorâneas, buscando comparar com dados anteriores sobre escravidão na fronteira com o Brasil. Em ambos os departamentos, a população masculina era mais numerosa do que a feminina, e tratava-se de uma escravaria jovem, contando com cativos em idade produtiva. No entanto, os números de escravos foram baixos. Em Colônia, 8% e Soriano, 7% dos habitantes. Principalmente, comparando com os dados de Cerro Largo (25%), Tacuarembó (29%), Rocha, (26%). A contribuição de Stalla está em evidenciar a população negra no Uruguai a partir de dados quantitativos, que permitem comparar com as populações afrodescendentes do Brasil e da Argentina.
O artigo de Rachel Caé trata da produção de discursos abolicionistas no Uruguai no ano de 1842, estudando principalmente como a imprensa percebeu o tema da liberdade e da cidadania dos negros, escravos e libertos. O jornal El Nacional defendia a abolição total da escravidão, já o El Constitucional rechaçava tal decisão. A imprensa em Montevidéu estava dividida. Não havia consenso. A contribuição de Caé está em mostrar que as questões de abolição no Uruguai não estavam, somente, atreladas a guerra, mas sim a um conjunto de discursos de liberdade que foram suscitados e eram anteriores ao conflito.
Em seguida temos o ensaio de Carla Menegat, que aborda a presença de proprietários brasileiros estabelecidos no Uruguai entre os anos de 1845 e 1864. A partir de um interessante conjunto de listas, Carla busca mostrar a importância da presença brasileira em solo uruguaio e utiliza a família Brum da Silveira para evidenciar as suas estratégias no que tange os negócios e sua cidadania. Seu trabalho também aponta para como os uruguaios trataram o processo de abolição da escravatura em virtude da presença brasileira em seu solo. Segundo Menegat, com o passar dos anos surgem campanhas de “orientalização” em busca de uma homogeneização da língua e do abandono do uso do português. Em outras palavras, se queria tornar o Uruguai mais unido e com uma identidade nacional própria.
O tema das fugas cativas volta em cena com o texto de Daniela Vallandro de Carvalho. Especificamente, Daniela trabalha com as fugas em tempos de guerra, usando como mote a Guerra dos Farrapos e a Guerra Grande. A autora utiliza também algumas trajetórias para dar vida e sentido para os planos dos escravos. Para Carvalho, a guerra era um excelente momento para que os escravos obtivessem a liberdade: ou por servirem em fileiras de guerra, ou para serem leais e conseguirem mais prestígio com seus senhores. Uma de suas importantes contribuições está em demonstrar que os cativos usavam o Exército para sua maior mobilidade e posterior liberdade.
O artigo de Marcelo Santos Matheus foca em um município fronteiriço específico, o de Alegrete. Sua questão-problema levantada foi como a fronteira influenciou diferentes agentes históricos, tanto os cativos como seus senhores. Alguns casos mostraram como os escravos utilizavam estratégias para chegarem à liberdade e ao mesmo tempo como os senhores manejavam a fronteira ao seu favor. Um dos destaques de seu texto está em mostrar como os escravos usavam a Justiça para conseguirem sua alforria, usando para isso uma interpretação das leis de abolicionistas uruguaias que servisse aos seus interesses. Foi o caso dos cativos que pediam alforria por terem trabalhado no Uruguai após a lei abolicionista de 1842.
Seguindo pelo pagos de Alegrete, o texto de Mariana Thompson Flores nos brinda novamente com o tema das fugas, mas deixa claro de que mesmo que tal assunto tenha sido abordado com frequência, ainda existem aspectos que merecem ser melhor explorados. É o caso do papel dos sedutores que ajudavam e convenciam os escravos a fugirem. Nos processos criminais analisados, Mariana encontrou cinco casos onde os escravos fugiam por conta própria e catorze situações onde houve a participação do sedutor, que os persuadia a uma vida melhor do outro lado da fronteira. A Justiça bem que tentou incriminar os sedutores de escravos e, em muitos casos, conseguiu. Porém, Mariana apresenta diversos casos empíricos que mostram como escravos e sedutores (homens livres ou libertos) aproveitaram deste contexto fronteiriço e se beneficiaram disso.
Continuando com o tema das fugas de escravos para o além-fronteira, Thiago Araujo apresenta o assunto em outra perspectiva, focando nas dificuldades do percurso e na difícil tarefa dos escravos romperem com o mundo da escravidão. Seu objetivo foi mostrar quais eram os mecanismos de controle e vigilância que os senhores acionavam num universo de escravidão na pecuária. A partir do caso de fuga de José, Leopoldino e Adão, Araújo mostra como os senhores de escravos precisavam pensar em políticas de domínio para evitar a fuga de seus cativos. Araújo evidencia que em alguns casos nem a família escrava impedia que os cativos fugissem.
Se Thiago Araújo investigou a fuga de escravos para o Uruguai, o texto de Rafael Peter de Lima aborda outra faceta da escravidão em regiões de fronteira: os sequestros e raptos de negros uruguaios que eram vendidos como escravos no Império do Brasil. Rafael mostra como era difícil definir a condição de afrodescendentes em áreas de fronteira. E mais do que isso. Os problemas diplomáticos e internacionais que surgiam devido a questão do fim ou da permanência da escravidão. Lima também apresenta dados muito interessantes como, por exemplo, o sexo e a idade das vítimas dos sequestros. As mulheres em idade produtiva eram as mais raptadas neste cenário. Por fim, Rafael também nos brinda com dados que apontam que os cônsules uruguaios tiveram sucesso na defesa dos negros orientais na Justiça. Em pouquíssimos casos eles permaneciam na escravidão.
E para finalizar temos o artigo da historiadora uruguaia Karla Chagas que, dos textos apresentados aqui, é o que mais se diferencia em termos de tema e delimitação temporal. Karla avança os marcos da escravidão e apresenta uma entrevista realizada a uma afrodescendente, Cecília, nascida em Rivera em 1904. Seu ensaio pretendeu analisar as linhas de ruptura e de continuidade que houve nas condições de vida da população afro-uruguaia na virada do século XIX para XX. Destacam-se as diferentes estratégias que Cecília utilizou para melhorar suas condições de vida como a fuga de uma casa onde a maltratavam.
O conjunto de textos ora apresentados mostra o avanço das pesquisas sobre a escravidão no espaço platino nos últimos anos. Infelizmente historiadores argentinos não escreveram textos para este livro. Mas muito se tem pesquisado sobre a influência e o impacto da fronteira na vida de senhores e escravos. Também a importância que as leis abolicionistas uruguaias de 1842 e 1846 tiveram para a (des)organização do sistema escravista brasileiro, principalmente, no Rio Grande do Sul. Este livro é o resultado deste cenário. Mostra, entre outras coisas, como as especificidades regionais precisam ser levadas em conta, mas sem perder de vista que os sujeitos históricos possuíam planos próprios que, por vezes, desafiavam o contexto que os mesmos estavam inseridos. Quem for ler o livro “As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América”, organizado pela professora e historiadora Keila Grinberg verá histórias individuais amalgamadas em um contexto mais amplo de disputa e consolidação dos Estados Nacionais. A riqueza está na coletividade e no diálogo que gerou este livro.
Jônatas Marques Caratti – Doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS – Porto Alegre/Brasil). E-mail: [email protected]
GRINBERG, Keila (org.). As fronteiras da escravidão e da liberdade no sul da América. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013. CARATTI, Jônatas Marques. Escravidão e Liberdade nas fronteiras platinas. Almanack, Guarulhos, n.8, p. 166-169, jul./dez., 2014.
Las Independencias Hispanoamericanas. Um objeto de Historia | Véronique Hébrard e Geneviève Verdo
O livro Las Independencias Hispanoamericanas, organizado por Verónique Hébrard e Geneviève Verdo (ambas professoras da Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), reúne trabalhos de historiadores europeus, latino-americanos e norte-americanos apresentados em um colóquio internacional ocorrido em junho de 2011, na Sorbonne. A obra, dividida em cinco partes e reunindo vinte artigos, abrange campos e temas que vêm sendo valorizados pela produção historiográfica concernente às revoluções de independência no mundo ibero-americano, dialogando com estudos referenciais sobre as sociedades coloniais e as transformações sociopolíticas do primeiro quartel do Oitocentos, bem como com novas interpretações historiográficas sobre a América ibérica. Os estudos que compõem o livro abordam questões como conceitos e linguagens políticos, interpretações e participação políticas dos setores subalternos das sociedades americanas, transformações institucionais e jurídicas ao longo dos processos de independência, formação dos Estados Nacionais e leituras transnacionais sobre as experiências revolucionárias. Com relação à cronologia apreendida pela obra, seus estudos iniciais abordam a segunda metade do século XVIII, ao passo que outros artigos abarcam até a primeira metade do XIX. Muitos dos artigos adotam recortes cronológicos curtos, valorizando as profundas e rápidas transformações vivenciadas em um período de revoluções.
A primeira seção da coletânea, intitulada “Relatos de los Orígenes,” é composta por três artigos. O primeiro, “El patriotismo americano en el siglo XVIII: ambigüedades de un discurso político hispánico,” de Gabriel Entim, discute a vigência de um discurso de identidade americana nas colônias hispano-americanas no século XVIII. Partindo da crítica ao conceito de “patriotismo criollo”, a discussão de Entim sublinha a operacionalidade da identidade americana dentro de um quadro que contemplava outras formas identitárias, sem que a americanidad necessariamente significasse uma crítica à Monarquia e à unidade entre os espanhóis. Alejandro E. Gómez, por sua vez, em seu artigo “La Caribeanidad Revolucionaria de la ‘Costa de Caracas.’ Una visión prospectiva (1793-1815),” contempla os movimentos de sublevação ocorridos na costa caribenha da Venezuela em fins do XVIII, assim como os primeiros anos do processo revolucionário de independência na região. Em sua análise, Gómez rejeita a ideia de continuidades entre esses dois momentos, como se as contestações políticas da década de 1790 fossem movimentos “precursores” das lutas dos anos de 1810. Além disso, o autor enfatiza as conexões da costa venezuelana com o mundo caribenho, viabilizando o que Gómez define como “interação supra-regional,” importante para compreender as lutas políticas (destacando-se a presença dos pardos nesses movimentos). Já Georges Lomné (“Aux Origines du Républicanisme Quiténién (1809-1812): La liberté des Romains”) analisa o ambiente cultural da Audiência de Quito na segunda metade do Setecentos, permeado pela valorização do neoclassicismo e do jansenismo, bem como pelo surgimento de novos espaços de sociabilidade, gestando os referenciais e os ambiente para críticas ao Absolutismo. Em seu texto, Lomné critica a construção historiográfica que aponta a continuidade intelectual entre ideais iluministas vigentes na Audiência do XVIII e as bases intelectuais dos movimentos dos anos de 1809-1812.
A segunda parte da coletânea (“Los Lenguajes Políticos”) apresenta como texto inicial o artigo de Marta Lorente Sariñema, “De las leyes fundamentales de la monarquía católica a las constituiciones hispánicas, también católicas.” A autora investiga os textos constitucionais que vieram à luz no mundo hispânico nos anos seguintes à crise de 1808, colocando no mesmo patamar de importância a Constituição de Cádiz e as concebidas no continente americano. Atentando para as ressignificações das leis fundamentais da Monarquia espanhola nas constituições pós-1808, Lorente destaca a presença da defesa do catolicismo como um elemento comum em todos os textos constitucionais hispânicos, bem como os mecanismos constitucionais voltados para o controle das autoridades públicas. Jordana Dym, no texto “Declarar la Independencia: proclamaciones, actos, decretos y tratados en el mundo iberoamericano (1804-1830),” estuda um corpo documental formado de textos declaratórios de independência, analisando os principais pontos de seus conteúdos e os contextos nos quais foram engendrados esses documentos fundamentais para redefinir o conceito de soberania em uma conjuntura de crise política da Monarquia. María Luisa Soux (autora do artigo “Legalidad, legitimidade y lealtad: apuntes sobre la compleja posición política en Charcas, 1808-1811”) enfatiza o papel da cultura jurídica na tomada de posições e decisões políticas na sociedade charqueña durante a crise monárquica. Como observa Soux, a defesa da legitimidade das proposições políticas dos grupos em luta passava por considerações de ordem jurídica, buscando-se definir as bases legais das novas noções de soberania. Por fim, Víctor Peralta Ruiz (“Sermones y pastorales frente a un nuevo linguaje político. La Iglesia y el liberalismo hispánico en el Perú, 1810-1814”) analisa os discursos políticos do clero no Vice-Reino do Peru. Tradicionalmente considerados anti-liberais e defensores do absolutismo, os membros do clero católico, segundo Peralta Ruiz, de fato, eram mais heterogêneos, sendo possível identificar por meio dos sermões a presença de religiosos (principalmente do baixo clero) favoráveis ao liberalismo, às Cortes de Cádiz e à Constituição de 1812.
A terceira parte do livro (“Actores y Prácticas”) traz quatro trabalhos. O primeiro (“Chaquetas, insurgentes y callejistas. Voces e imaginarios políticos en la independencia de México”), de Moisés Guzmán Pérez, enfoca o surgimento das nomenclaturas dos grupos políticos ao longo da crise da monarquia espanhola e dos conflitos militares ocorridos na Nova Espanha entre 1808-1821. As nomenclaturas que vieram à tona eram representativas dos imaginários, dos projetos e das ideias dos grupos políticos naquele momento. O trabalho seguinte, de Andréa Slemian (“La organización constitucional de las instituciones de justicia en los inicios del Imperio del Brasil: algunas consideraciones históricas y metodológicas”), enfoca os debates e as propostas de organização jurídica no Império do Brasil nas décadas de 1820-1830, marcados pela presença dos ideais liberais. Slemian enfatiza a dimensão institucional jurídica de construção do Estado Nacional, valorizando a compreensão dos conflitos em torno de expectativas e projetos de futuro formulados pelos sujeitos que vivenciavam os primeiros anos do Brasil independente. Já Gabriel Di Meglio (no artigo “Los ‘sans-culottes despiadados.’ El protagonismo político del bajo pueblo en la ciudad de Buenos Aires a partir de la Revolución”) destaca a participação popular (formada principalmente por negros, pardos e brancos pobres) na cena política bonaerense. A crescente presença dos segmentos populares nas reivindicações políticas, a politização das discussões no espaço público e as redes do clientelismo ligando lideranças políticas da elite e segmentos populares caracterizaram a vida política de Buenos Aires nas décadas 1810- 1830. Finalizando essa unidade, Aline Helg (“De Castas à Pardos. Pureté de sang et égalité constitutionnelle dans le processos indépendantiste de la Colombie caraïbe”) estuda o processo de independência e de construção do Estado a partir da cidade de Cartagena entre 1810-1828, enfatizando a participação política dos pardos, os alcances e limites de suas reivindicações políticas. Para tanto, Helg toma como fio condutor da análise a trajetória de dois pardos que se destacaram como lideranças políticas e militares, Pedro Romero e José Padilla, e as transformações sociais, econômicas e políticas vivenciadas pela população parda.
“Los Espacios de Soberanía”, a quarta unidade do livro, traz primeiramente o trabalho de Carole Leal Curiel. Intitulado “Entre la división y la confederación, la independencia absoluta: problemas para confederarse en Venezuela (1811-1812),” o texto discute a formulação de propostas de independência e confederação, sublinhando o entrelaçamento, nos intensos debates teórico-políticos, das ideias de reconfiguração da soberania e de novos pactos políticos para as províncias venezuelanas. No trabalho seguinte, Marta Irurozqui (“Las metamorfosis del Pueblo. Sujetos políticos y soberanías en Charcas a través de la acción social, 1808-1810”) dedica-se ao estudo das ações políticas populares (através de procissões religiosas a favor do monarca e de protestos dirigidos às autoridades locais). Nessas manifestações, destacava-se a presença dos referenciais políticos de fidelidade à Monarquia espanhola no momento de sua crise, bem como o exercício da soberania pelo povo charqueño. Juan Ortiz Escamilla (“De lo particular a lo universal. La guerra civil de 1810 en México”), por sua vez, enfatiza a guerra e a Constituição como as duas variáveis fundamentais para compreender as transformações dos atores, vocabulários e espaços políticos na Nova Espanha no início da década de 1810. No decorrer dos conflitos armados, insurgentes e realistas implementaram novas organizações políticas, ao passo que os ayuntamientos instituídos pelo texto constitucional gaditano criaram novas bases institucionais de exercício do poder. Finalizando essa unidade, Clément Thibaud (“Le trois républiques de la Terre Ferme”) analisa os conceitos de república vigentes na Venezuela e Nova Granada. Ao não entender o republicanismo como consequência direta das proclamações de independência, Thibaud põe ênfase nos sentidos diferentes, e por vezes contraditórios, de república, e como tais sentidos eram apropriados pelos atores políticos da região tendo em vista, também, os desafios práticos de administração daquele território.
A última unidade da obra (“Las Revoluciones y sus Reflejos”) reúne quatro textos. O primeiro, de autoria de Marcela Ternavasio (“La princesa negada. Debates y disputas en torno a la Regencia, 1808-1810), volta-se para o tema do carlotismo, analisando o projeto de regência da infanta Carlota Joaquina como uma alternativa de superação da crise política iniciada em 1808. Atentando para as rápidas mudanças conjunturais e as modificações nas estratégias de Carlota Joaquina e seus colaboradores, Ternavasio articula em sua análise as tramas, leituras e posicionamentos políticos que o carlotismo ativou na Península e na América. Anthony McFarlane, no artigo seguinte (“La crisis imperial en el Río de la Plata. Una perspectiva realista desde Montevideo, 1810-1811”), parte do conjunto de cartas do oficial espanhol José María Salazar para entender a política contra-revolucionária no Rio da Prata. A crítica à revolução de Buenos Aires, a denúncia das disputas internas em Montevidéu e as desconfianças com relação à presença de portugueses e britânicos são alguns dos temas das cartas de Salazar, e que merecem a análise de McFarlane a fim de compreender as interpretações e expectativas dos realistas. O terceiro trabalho da unidade, de Monica Henry (“Un champ d’observation pour les ÉtatsUnis. La révolution au Río de la Plata”), explora a missão norte-americana enviada pela administração do presidente James Monroe às Províncias Unidas do Rio da Prata no ano de 1817. Essa missão (sob a incumbência de coletar informações militares, políticas e econômicas) desempenhou um papel importante para a definição da agenda diplomática dos Estados Unidos com relação à América espanhola, tendo em vista os debates nos meios políticos e na opinião pública sobre as experiências revolucionárias no continente e o reconhecimento (ou não) dos novos Estados. Encerrando a unidade, o texto de Daniel Gutiérrez Ardila (“La République de Colombie face à la cause des Grecs”) aborda os esforços da diplomacia colombiana entre as potências internacionais para obter o reconhecimento internacional do novo país. Nesse empreendimento diplomático, o paradigma da independência grega (conquistada nos anos de 1820) é ressaltado pelos representantes diplomáticos da Colômbia, na medida em que a causa grega usufruía de prestígio nos altos círculos políticos e intelectuais europeus, enquanto que a independência da República da Colômbia (e a hispano-americana em geral) ainda carecia de apoio.
A obra é finalizada por um epílogo (intitulado “Las independencias y sus consecuencias. Problemas por resolver”) de Brian Hamnett. Recorrendo aos exemplos do Rio da Prata, México, Peru, Alto Peru, Colômbia, Venezuela e Brasil, Hamnett aponta algumas das questões que marcaram a trajetória dos novos Estados Nacionais nos anos imediatamente posteriores às suas independências. A distribuição dos poderes e as representações políticas regionais, a legitimidade do modelo constitucionalista frente às guerras civis, as restrições aos sufrágios e o fortalecimento do poder executivo, assim como a própria construção das identidades nacionais, constituíram desafios consideráveis para as sociedades ibero-americanas ao longo do século XIX.
A volumosa produção sobre as independências (em parte alimentada pelas comemorações de bicentenários que vêm ocorrendo desde a década passada) tem sido beneficiada pela heterogeneidade de aportes e interpretações, bem como pelo diálogo internacional. O livro organizado por Hébrard e Verdo é representativo desse ambiente historiográfico, e a qualidade e pertinência dos trabalhos reunidos nessa obra atestam a renovação e vitalidade de um tema fundamental para os dois lados do Atlântico.
Carlos Augusto de Castro Bastos – Professor no Departamento de História da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP – Macapá/Brasil). E-mail: [email protected]
HÉBRARD, Véronique; VERDO, Geneviève (Ed.). Las Independencias Hispanoamericanas. Um objeto de Historia. Madrid: Casa de Velázquez, 2013. Resenha de: BASTOS, Carlos Augusto de Castro. O mundo hispânico em revolução: abordagens sobre as independências na América. Almanack, Guarulhos, n.7, p. 161-164, jan./jun., 2014.
Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado | Ricardo Salles
Publicado pela primeira vez em 1996 e reeditado em 2013, o livro Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado, do historiador Ricardo Salles, apresenta uma consistente reflexão intelectual, de matriz marxista, sobre o Estado imperial no século XIX. Encarando a história como práxis, o autor privilegia os conceitos gramscianos de bloco histórico e hegemonia para produzir uma história total capaz de ressaltar as articulações entre as esferas política, econômica e cultural. O resultado é um belo livro que reflete sobre a construção da nação brasileira no século XIX a partir de 3 fatores principais: o recrudescimento da escravidão, a formação de uma cultura nacional de caráter oficialista, e as inter-relações entre capitalismo, liberalismo e escravidão.
A partir da experiência vivenciada com a aprovação do plebiscito sobre o sistema de governo a ser empregado no Brasil (monarquia ou república) no início dos anos 1990, Ricardo Salles constata a existência de uma “nostalgia imperial” na consciência coletiva dos brasileiros. Tal sentimento, difuso entre as camadas populares e acentuado nas elites intelectuais, se basearia na percepção de que “houve um tempo [o Império] em que o Brasil era mais respeitável, mais honesto, mais poderoso”(p. 18). Como este sentimento foi construído no imaginário social brasileiro? Quais circunstâncias históricas atuaram neste processo? Por que com mais de cem anos de existência a república não foi capaz de reverter esta imagem?
Estas perguntas guiam o autor ao longo dos cinco capítulos que compõem o livro. Como fios condutores, são uma escolha inteligente para tratar das múltiplas partes – cultura e imaginário social; política e formação da classe senhorial; liberalismo, escravidão e capitalismo – que compõem o todo, o edifício imperial, sem abrir mão de sua complexidade. O resultado é uma narrativa de grande erudição, que discute com as historiografias sobre a formação do estado nacional, escravidão, capitalismo, ao mesmo tempo em que é capaz de transitar entre os universos micro e macro para apresentar uma interpretação geral do Império.
A chave explicativa apresentada por Ricardo Salles para o sentimento nostálgico em relação ao Império é, ela própria, um fenômeno complexo. Na visão do historiador, a limitação das oligarquias tradicionais em consolidarem a obra republicana, até pelo menos os anos 1930, não explica a força da monarquia na “esfera mítica da história nacional”. Ao contrário, a imagem positiva do Império se deveu a três aspectos fundamentais. Primeiro, após o 15 de novembro, políticos, intelectuais e historiadores ligados à monarquia – a exemplo de Capistrano de Abreu, visconde do Rio Branco, Pedro Calmon, Oliveira Vianna e outros – combateram a república com um discurso que reforçava seu caráter excludente e exaltava os progressos do Império, como estratégia de crítica ao novo regime. Segundo, o próprio estado imperial foi bastante eficiente ao produzir uma dada imagem de si mesmo que dialogasse com o passado, o presente e o futuro da nação. Desta forma, a “nostalgia imperial” não se resumiria à obra destes historiadores, políticos e ensaístas. Ela seria fruto do investimento do estado em setores estratégicos a exemplo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Imperial Academia de Belas Artes e artistas ligados ao movimento romântico. Terceiro, o ideal de civilização imperial que, durante a vigência da monarquia, tinha a escravidão como base, não foi desarticulado com a República. A crítica moral à escravidão, efetivada internamente pelo movimento abolicionista e externamente por diversos setores internacionais, não trouxe a superação das mazelas da escravidão. Mesmo tendo impedido a reprodução do regime escravocrata no Brasil, a abolição não conseguiu remover a noções de diferença e hierarquia da base de nosso edifício social. Como resultado, em pouco tempo, foi possível aos grandes proprietários rurais recomporem suas forças garantindo mão de obra barata e primazia na ocupação dos poderes locais. Assim, a espoliação da cidadania e a exclusão econômico-social se mantiveram no tempo e nos anos de 1990 permaneciam na base do sentimento de “nostalgia imperial”.
No que compete às discussões sobre a construção do estado, o projeto político e a cultura imperial, o livro de Ricardo Salles retoma a interpretação de Ilmar Mattos em “Tempo Saquarema” (1987) e concebe os processos de construção e consolidação do Estado imperial como elementos interligados e concomitantes à constituição de uma hegemonia de classe: a dos senhores de escravos. Segundo ele, este grupo era formado por grandes proprietários de escravos e terras, principalmente da região sul-fluminense, cujos interesses se viram representados pela política conservadora a partir dos anos de 1840. Neste contexto, coube à chamada classe dirigente expandir os ideais de “manutenção da ordem” escravocrata e “expansão da civilização” (baseada em ideais europeizantes) de modo a transformá-los em valores e práticas inerentes ao próprio Estado Imperial.
Este projeto vitorioso foi conduzido e produzido por intelectuais vinculados tanto à fração dirigente da classe dos senhores, os grandes proprietários fluminenses, quanto ao próprio aparelho estatal. Contudo, na análise apresentada, o autor ressalta os diversos interesses políticos, econômicos e sociais em jogo. Afinal, para que a sociedade escravista imperial se efetivasse foi necessário “o deslocamento crescente do nível de realização dos interesses da classe dominante escravista do plano imediato da produção e manutenção direta das relações de produção” (p. 39) para o âmbito do estado. A política implementada pelos políticos conservadores a partir do Regresso conseguiu realizar uma acomodação entre as diferentes forças políticas e sociais em torno dos projetos de preservação da escravidão e de fortalecimento do aparato estatal (p. 52). Atuando como importante amálgama dos interesses das classes dirigentes, a escravidão se desenvolveu de forma original e plena no Brasil oitocentista, além de favorecer a expansão do capitalismo no mundo. Todavia, para além dos aspectos políticos e econômicos, o projeto escravista imperial foi capaz de criar um conjunto de valores próprios, uma base cultural, um modo de vida em particular a que Ricardo Salles denominou de “civilização imperial”.
Pensadas por este prisma, as noções de civilização imperial e cultura nacional se interpenetram. No que compete à cultura nacional em formação, dois aspectos são ressaltados pelo autor: a valorização de elementos ligados à herança colonial (tais como língua, cultura, influências africana e indígena) e a produção de singularidades através da cultura letrada com destaque para o romantismo e o indianismo (p. 65). Como resultado, verificou-se uma produção cultural obstinada em desenhar “a cor local”, “o que nos era próprio”, resultando num discurso que valorizava as heranças rural, africana, indígena e portuguesa (p. 91), respaldadas num forte caráter oficialista. Todavia, neste processo, também foi importante manter um diálogo com a modernidade, horizonte de civilização e progresso, que tinha Europa como o modelo a ser seguido. Portanto, no plano discursivo, o Império se pretendia “uma civilização europeia transplantada para a América”. A cultura imperial que daí emergiu foi fruto desta expectativa somada à prática cotidiana da escravidão.
Embora a interpretação gramsciana da dinâmica política e social do Império aproxime as análises de Ricardo Salles e Ilmar Mattos, é importante apontar que o peso dado pelo primeiro às relações escravistas e ao papel dos escravos como agentes fundamentais no entendimento da sociedade oitocentista (a exemplo de seu papel nos diversos abolicionismos, nos movimentos nativistas, e em suas próprias rebeliões) os diferencia. Além da forma de exploração, símbolo de poder e status social, para Ricardo Salles a escravidão negra é constituidora das formas de agir, sentir e pensar da sociedade imperial. Sua manutenção era o ponto de interseção entre os membros da classe senhorial, cujos interesses serviram de base para a consolidação de uma hegemonia de classe forjada no próprio processo de construção das instituições políticas e do estado imperial, mas também a força material do Império.
Mais do que um aspecto interno, “a escravidão estava na raiz do mundo moderno” (p. 95) e colocava o Brasil na rede de relações comerciais vigentes. Na posição de países exportadores, Brasil e sul dos Estados Unidos desenvolveram organizações políticas complexas para garantirem a manutenção do regime escravista em seus territórios. Os produtos primários ali gerados (café, açúcar, algodão e outras commodities) a baixos preços representavam grandes negócios, envolviam imensas somas de capital e investimentos em tecnologias com o intuito de aumentarem a produção e manterem as áreas de produção integradas ao sistema capitalista. Tais aspectos permitiram o florescimento de civilizações em que o liberalismo e os valores a ele ligados (indivíduo, cidadania, direitos políticos e direito de propriedade) puderam se desenvolver de modo específico, na maior parte das vezes, atendendo aos propósitos da classe dominante.
A escravidão era, portanto, a matriz fundadora e estabilizadora da sociedade imperial. Quando, a partir dos anos de 1870, a mesma passou a sofrer forte crítica no cenário internacional e sua contestação se expandiu no âmbito interno através da fuga de escravos e do movimento abolicionista, instaurou-se uma crise de hegemonia. Ricardo Salles explica este processo como decorrente de dois fatores principais. Em primeiro lugar, o fim do tráfico no Brasil possibilitou a composição de uma “escravidão madura” em torno da década de 1860. Ou seja, o número de escravos crioulos era maior do que de africanos, proporcionando uma maior integração dos mesmos ao extrato cultural vigente. Em segundo lugar, a elevação do preço dos escravos ocorrida após 1850 causou uma concentração desta mão de obra fazendo com que, a defesa da escravidão deixasse de ser um interesse da maioria dos brasileiros para se tornar um privilégio de alguns poucos grandes proprietários fluminenses. Neste ambiente, o Império se mostrou incapaz de atender às necessidades de uma sociedade em modernização econômica, expansão demográfica e com um leque ampliado de demandas sociais. Em pouco tempo, a crise de hegemonia encontraria a crise política. O fim do regime monárquico estava próximo.
O livro em tela é por tudo o que foi dito, uma instigante leitura onde narrativa, teoria e práxis ocupam espaços privilegiados na construção de um modelo explicativo para a formação e consolidação da nação no Brasil. Trata-se de uma obra obrigatória para os estudiosos do Oitocentos e para todos aqueles que se interessam pelas questões referentes à construção do estado. Mas, não somente isso. “Nostalgia Imperial” também instiga a pensar sobre como a exclusão é constitutiva de nossa sociedade atual. Aponta como a matriz escravista produziu afastamentos históricos entre povo e cidadania, entre povo e estado/nação, até hoje presentes. Para os interessados, fica o convite à reflexão.
Mariana de Aguiar Ferreira Muaze – Professora adjunta III no Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio – Rio de Janeiro/Brasil). E-mail: [email protected]
SALLES, Ricardo. Nostalgia Imperial: escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo Reinado. Rio de Janeiro: Editora Ponteio, 2013. Resenha de: MUAZE, Mariana de Aguiar Ferreira. As partes e o todo: uma leitura de “Nostalgia Imperial”. Almanack, Guarulhos, n.7, p. 165-168, jan./jun., 2014.
é, guerra e escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898) | Patrício Teixeira Santos
A obra Fé, Guerra e Escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898), recém editada pela Editora FAP-UNIFESP, trata de um tema atual, instigante e ainda pouco explorado pela academia brasileira, seja pela dificuldade do acesso às fontes, seja pelo tardio interesse pelos estudos periféricos, como podem ser considerados os estudos africanos e asiáticos.
Este é um duplo desafio que a autora aceita magistralmente: vai em busca das fontes e traz a público e para a academia a premência da dedicação aos estudos ainda pouco abordados, o que significa também dizer da necessidade de criar um campo conceitual e teórico específico, que não seja uma mera transposição dos estudos realizados na Europa ou nos EUA, para tratar do continente africano.
O tema é instigante e atualíssimo, se considerarmos todas as veiculações da mídia acerca dos acontecimentos da chamada Primavera Árabe e seus desdobramentos e explicações que passam pela simplicidade de rótulos: fanatismo, intolerância, ignorância, fundamentalismo ou, simplesmente, islamismo. Há ainda um aspecto contundente desta história recente: a criação, em 2011, do 195° país do mundo: o Sudão do Sul, de maioria cristã, desmembrado do Sudão, de maioria muçulmana.
Notadamente, o ponto de partida da obra são as relações entre cristãos e muçulmanos no Sudão no período compreendido entre 1881 e 1898, correspondendo à experiência da instauração de um Estado Islâmico em decorrência do movimento mahdista, liderado por Mohammad Ahmad Abdulahi.
Partindo de sua pesquisa de doutorado, a autora revisitou sua obra com a realização de pesquisa de pós-doutoramento que a levou a recolher documentos, pesquisar em diferentes acervos e bibliotecas e ainda refletir com colegas de universidades internacionais para chegar ao formato final de sua pesquisa, que ora se publica em formato de livro.
A originalidade está não só na escolha do tema como na seleção das fontes e suas interpretações, abrindo caminho para a construção e consolidação do campo de estudos de História da África no Brasil, indo além das questões, não menos importantes, dos temas diaspóricos ou relacionados à história do Brasil.
As fontes são ricas e variadas: relatos e cartas de missionários, depoimentos e discursos das fontes missionárias, manuscritos, periódicos e outras publicações missionárias, fonte oral, além da documentação produzida por militares e comerciantes europeus, documentação produzida pelos muçulmanos no Sudão e importantes obras bibliográficas de referência e de cunho geral.
Tais documentos permitem tratar das formas de pensar, do juízo de valores, das percepções e das formas de convivência com o outro, ou dito de outra forma, de como ver o outro. É tratar ainda das representações recíprocas de cristãos e muçulmanos, não apenas a partir da história destas relações, mas como esta história foi construída, elaborada e apropriada. E, logicamente, há uma discussão historiografia sobre as formas de escrita desta história.
Ainda que o tema central seja o surgimento da Mahdiyya e do Estado Mahdista liderado por Mohammad Ahmad Abdulahi, há uma pluralidade de temas interrelacionados, interligados, intricados e que, pelas mãos da autora, dialogam, no melhor exemplo do que se espera da disciplina histórica. Trata-se da História do Sudão no século XIX, mas também da história do Império Turco-Otomano e de sua crise ensejada pela disputa com a Áustria e a França (esta vista como a protetora dos cristãos do Oriente); da história do colonialismo europeu dos séculos XIX e XX, marcado pelas disputas francesa e inglesa, mas também do “subimperialismo” egípcio na tentativa de dominação do território sudanês; da história da Igreja e de seu papel na corroboração do projeto imperialista europeu, seja nas tentativas de evangelização da África, seja na forma de encontrar seu novo papel no momento da formação e consolidação dos laicos Estados nacionais; da disputa pela expansão da fé pelas missões católicas em concorrência com os cristãos orientais (coptas e ortodoxos) e com os protestantes ingleses; da expansão islâmica pela vertente do sufismo e do mahdismo; das interpretações da história sobre a história do Sudão, do sufismo e do mahdismo, num contexto de fé, guerra e escravidão.
O objetivo da obra é analisar as visões construídas sobre o mahdi e o Estado Islâmico criado no Sudão, a partir das interações dos missionários com essa experiência histórica. A partir daí, discute-se o papel da religião na formação da nação sudanesa, como reação ao poderio colonial anglo-egípcio, cujo caminho escolhido será o do messianismo e do poder estatal. É neste contexto que se insere o papel do catolicismo e das ações missionárias como “mediador espiritual do laico projeto colonial britânico e do novo estado religioso”. Trata-se então de compreender os valores civilizacionais cristãos na implementação do Estado sudanês.
A obra está estruturada em quatro capítulos, cada um deles subdivididos na exploração de temas que, num crescendo, vão descortinando a complexidade e pluralidade desta história: imperialismo e subimperialismo; sufismo, misticismo, mahdismo e messianismo; cristianismo, ação missionária e colonização; a trajetória do mahdi e o processo de criação do Estado Islâmico, assim como de seu significado histórico e religioso e as interpretações historiográficas sobre esse significado. Entre os temas abordados e analisados, alguns aspectos instigantes podem orientar a leitura, que ora apresentadas não estão por ordem de importância nem seguem à risca a construção feita pela autora.
O primeiro aspecto trata do papel das missões católicas europeias no Sudão, não voltadas apenas às ações proselitistas, mas como necessidade e garantia da própria sobrevivência institucional da Igreja fora da Europa, em decorrência da separação da Igreja e do Estado e dos processos de laicização. Dessa forma, África e Ásia serão campos de disputa para a expansão da fé católica, sendo necessária a conquista de almas, para isso concorrendo não só com os muçulmanos, mas com outras formas cismáticas de cristianismo (o oriental, como os ortodoxos e os coptas, e o protestante), como também para a perpetuação institucional e ideológica da Igreja Católica. Nesse sentido, o discurso do branco-europeu-civilizador foi incorporado também pela Igreja num processo interativo entre missão-colonização, cujo papel se traduziu na ação civilizatória católica entre povos não-brancos e pela propagação do “fim da maldição de Cam” com a redenção de todos os povos, africanos inclusive, pelo sangue de Cristo.
Para a efetivação desse projeto era necessário desqualificar o outro, construindo uma visão do muçulmano na lógica do estereótipo do oriental: indolentes, maliciosos, perversos, imersos na preguiça oriental, invejosos, competitivos, violadores das liberdades, do direito e do progresso, traficantes, brigões, ladrões, fracos, supersticiosos, entre outras adjetivações que corroboram a construção da imagem do outro na Europa branca-civilizada. A ridicularização, a violência, a fraqueza e a ignorância também eram modos de desqualificar o outro. Era necessário ainda desqualificar o islã, o profeta e seus crentes: “Maomé não era outra coisa senão um profeta do diabo, o seu livro um acúmulo de erros, e os amuletos uma vã superstição” (p. 153). Sobre as mulheres também pesava a degradação pela barbárie, pela sedução da magia e do encantamento, pela superstição e pela religião, como na seguinte passagem: “Perguntei se porventura aquela mulher era louca, e me respondeu que era muçulmana” (p. 153).
Assim, o campo de ação missionária deveria ser justamente onde esses males pudessem ser combatidos por meio da conversão à fé católica, unindo projeto evangelizador com projeto civilizador no Sudão: os resgatados da escravidão, as mulheres e as crianças. A conversão missionária se daria pela salvação dos escravizados, longe do jugo de seus senhores; das mulheres, libertas da escravidão, do concubinato, da prostituição; das crianças abandonadas como resultado do “abuso e da não consciência do homem branco”. Estes seres degradados poderiam ser regenerados pela ação missionária, por meio do controle do corpo e da sexualidade como formadores de virtudes, seja pelo casamento católico, seja pela inserção na vida monástica e, sobretudo, seriam agentes propagadores da fé e moral católica como forma de expressar sua gratidão, docilidade e submissão.
Nesse sentido, a ação do mahdi e sua construção de um Estado Nacional Sudanês baseado na fé islâmica só poderia ser compreendida como desvario, farsa, delírio, messianismo de um líder inconformado com “a presença europeia, avesso às inovações modernas e às contribuições científicas e religiosas do Ocidente” (p. 164)
Ainda que possa parecer paradoxal, do ponto de vista religioso há uma convergência entre os objetivos da missões católicas e do Estado mahdista no tocante à obra civilizatória sobre as “populações negras africanas” e “não árabes” empreendida pelo mahdi, que iam ao encontro da moralidade cristã no que se refere à disciplinarização dos corpos, controle da sexualidade, amor ao trabalho, combate ao adultério e ao roubo, com uma eficiência pedagógica e disciplinadora, baseadas na punição e nos castigos físicos.
Da mesma forma, o Estado mahdista se utilizou do mesmo expediente da conversão dos missionários católicos por meio da combinação da sedução e da coerção, do amplo conhecimento da fé católica, de aventar a possibilidade de participação no Estado, mas também por meio da força física, da conversão forçada, da imposição dos casamentos, da disciplinarização dos corpos, entremeando sensações e experiências de repulsa e admiração. A inserção na moralidade islâmica dos povos subjugados e dos missionários católicos por meio da conversão forçada ou não ajuda a compreender como se deu o processo de construção de linhagens fundadoras do Estado mahdista, como aponta a autora.
O êxito da mahdiyya foi decorrente uma conjunção de fatores ligados à mística sufi, da inserção e incorporação de povos não árabes em seus domínios, da apropriação de expedientes e vocabulários das práticas missionárias cristãs, da manutenção do tráfico de escravos, bem como da apropriação de estruturas militares e administrativas otomanas-egípcias e inglesas, num processo de incorporação de diversos elementos previamente existentes na criação do novo Estado singular e que conseguiu sobreviver até 1898, mesmo depois da morte do mahdi.
Nesse sentido, e ironicamente, é possível concluir que nas relações dos missionários católicos com o Estado mahdista o que a autora observa é que “a experiência mahdista, sobretudo a dos primeiros religiosos, abalou certezas sobre o que se conhecia no campo intelectual europeu a respeito da ‘limitações do oriental” (p. 178), sua ignorância e ingenuidade, e numa perspectiva historiográfica mais recente de avaliar o Estado Mahdista como “a primeira experiência sudanesa de Estado independente” (p. 175).
Samira Adel Osman – Professora no Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP – Guarulhos/Brasil). E-mail: [email protected]
SANTOS, Patrício Teixeira. Fé, guerra e escravidão: uma história da conquista colonial do Sudão (1881-1898). São Paulo: FAP/UNIFESP, 2013. Resenha de: OSMAN, Samira Adel. Cristãos e Muçulmanos no Sudão: a experiência da Mahdiyya muito além da intolerância e do fanatismo religioso. Almanack, Guarulhos, n.7, p. 169-172, jan./jun., 2014.
Declaração de Independência: uma história global | David Armitage
Publicado originalmente em inglês em 2007 e editado no Brasil em 2011, Declaração de Independência: uma história global, de David Armitage, é um livro bastante original, erudito e prenhe de questões importantes, resultado do empenho de um historiador altamente profissional e cheio de razões para se incomodar com uma tradição historiográfica ainda muito em voga em seu país. Qual seja: a que concebe uma história paroquial, provinciana, muitas vezes até mesmo nacionalista, e que insiste em sustentar uma excepcionalidade da trajetória dos Estados Unidos da América que não apenas costuma ser portadora de uma ideia de superioridade civilizacional, mas que também poucas vezes resiste a um exame sério e minimamente historicizante de muitos de seus conteúdos clássicos. Precisamente dentre estes se encontra a Declaração de Independência de 1776, e que neste livro encontra interpretação bastante diversa.
Dividido em três capítulos, aos quais se segue uma coletânea de declarações de independência ou documentos afins – que, segundo seu autor, se inspiraram direta ou indiretamente naquela que aqui se considera simultaneamente modelo paradigmático e evento fundacional –, o livro de Armitage, desde sua primeira linha, procura uma visão abrangente do fenômeno a ele central: a concepção, a instituição e o espraiamento de um documento supostamente capaz de subsidiar concepções e ações políticas mundo afora e desde então.
O primeiro capítulo, “O mundo da Declaração de Independência” (p.27-56), dedica-se a examinar e iluminar o fato de que o documento de 1776 só fazia sentido por estar direcionado a um sistema de relações internacionais que o explica e que o faz, radicalmente, uma peça “internacional”. O segundo, “A Declaração de Independência no Mundo” (p.57-88), examina recepções e leituras que o mundo de sua própria época realizou do documento, configurando um processo capaz de dotá-lo de uma energia vital a convertê-lo em típico protagonista do que o autor pretende “uma história global”. Finalmente, o capítulo 3, “Um Mundo de Declarações” (p.89-117), indica e organiza uma sequência de declarações que, à luz dos capítulos antecedentes e dos próprios preceitos do livro, surgem em um olhar criativo e, sem sombra de qualquer dúvida, fortemente provocador.
O que seria, então, essa “história global”? Armitage não a define, mas a pratica. Trata-se, então, de um olhar de um historiador que escreve “em um período de aguda consciência da globalização” (p.13); igualmente, de um fenômeno constituído a partir de um ponto preciso, perfeitamente bem definido no tempo e no espaço, e que se espraiaria para tempos e espaços que o transcendem. No presente caso, portanto, essa “história” se originaria com a própria criação dos Estados Unidos da América, e seguiria sua trajetória mundo afora como uma espécie de mundo que esses Estados Unidos criaram. Não se confunde, em nada, com uma história de coisas simultâneas, menos ainda com uma história de todo o globo, mas se define como a história de uma influência que, se impossibilita de qualquer indicação de término – posto que, como o autor pretende, essa influência ainda se fazia presente em 2007 – jamais deve perder de vista seu ponto de origem.
Temos, então, uma “história global” a partir de um ponto de vista anglo-americano, ou norteamericano. Não um ponto de vista que se pretenda relativo, mas objetivo: pois é dele que se parte aquilo que construirá – ou construiu – uma “história global”. E não há nenhuma dúvida de que, daqui para frente, a historiografia deve a Armitage uma forte contribuição para o entendimento de documentos e eventos de grande importância que ganham extraordinária clareza quando vistos desse modo. Deve-se, portanto, endossar parcela das mais importantes conclusões do autor.
Porém, e em parte na contramão desse endosso, pode-se destacar um aspecto central e abrangente do livro de Armitage de modo a dele extrair problema de concepção. Um problema que, creio, deve ser enfrentado por todo aquele que, de diferentes modos, se ocupa atualmente de compreender fenômenos políticos inscritos na conjuntura geral que Armitage identifica como de origem do tema que o interessa, ou que vão ao encontro de muitas outras conjunturas que podem ser identificadas como sucedâneas àquela inicial.
Tal problema é de ordem histórica e teórica ao mesmo tempo; e é por isso que pode-se considerar exemplos extraídos do próprio livro de Armitage, bem como acrescentar algum outro a ele alheio. Por isso, que fique bem claro: não proponho um diálogo puramente bilateral, com uma leitura crítica exclusivamente dessa obra; mas sim aproveitar o que Armitage nos traz para discutir um problema mais amplo, já que de seu labor resultou uma elaboração notavelmente paradigmática.
Enuncio o problema em duas questões: como fundamentar a existência de fenômenos históricos que pretensamente se configuram em uma dinâmica de irradiação temporal e espacial? E como interpretar realidades diacrônicas a partir de supostos impactos e conexões de fenômenos capazes de aproximá-las, e de torná-las uma mesma e ampla realidade? Em suma, questiono a base de configuração de uma unidade histórica – a “história global” – por meio de um corte do tipo do realizado por Armitage, isto é: o advento e a reprodução alterada de declarações de independência a partir da dos Estados Unidos da América de 1776.
Devo repetir que não só reconheço aspectos altamente meritórios da análise de Armitage como simpatizo fortemente com a abrangência temporal e espacial de sua proposta, bem como com o esforço dela decorrente de domínio de bibliografias especializadas voltadas a realidades específicas (embora veja como incômoda a devastadora primazia de obras publicadas em inglês). Bibliografias que a maioria dos historiadores, lamentavelmente, ainda continua a tratar isoladamente. É difícil praticar uma escrita da história verdadeiramente não-nacional, não-provinciana, de larga duração e de escopo global; e não há forma mais adequada de entender o mundo de finais do século XVIII, ou o de começos do XXI.
Por isso, pode-se dizer que o problema que acima destaquei é, em parte, inevitável, pois diz respeito à ideia de que fenômenos como as Declarações de Independência – mas também pensamentos e ações políticas em movimento, as modificações substantivas na composição dos Estados europeus, e a formação dos Estados nacionais delas decorrentes inclusive na América, na África e na Ásia – configuram, em escala mundial, realidades comuns, que precisam ser estudadas em conjunto porque só assim podem ser devidamente compreendidas. E é na ocorrência de uma Declaração e na sua trajetória posterior que Armitage vislumbra uma história digna de ser contada.
Se os elementos que fundamentam esse vislumbrar são eloquentes, menos o é a base de estabelecimento dos nexos que nos permitiriam falar de uma “história das declarações de independência”, ou, para nos mantermos fiéis aos termos do autor, de uma história global “da Declaração de Independência” (de 1776); nexos que fariam dessa(s) história(s) cortes válidos para entender o mundo (ou os mundos) atravessados por ela(s), e por ela(s) parcialmente explicados.
Se há, efetivamente, uma irradiação de um paradigma simultaneamente de concepção e de ação política, com todas as variações que tal paradigma comporte, há algo na ordem de uma escala territorial que não apenas possibilita esse trânsito do paradigma – e, portanto, sua existência como tal – mas também sua suposta capacidade de incidir sobre tempos e espaços variados, embora muitas vezes (nem todos) cronologicamente próximos.
Aqui, retomo outro trabalho de Armitage, elaborado em conjunto com Sanjay Subrahmanyam, e que abre uma interessante coletânea de textos dedicados a manifestações de uma chamada “era das revoluções” em diferentes regiões do globo entre os séculos XVIII e XIX: (The Age of Revolutions in Global Context, 1760-1840, de 2009). Aqui, os autores defendem uma chamada “transitive global history”: isto é, uma história concebida a partir de diferentes pontos equivalentes, sem um centro único, mas que partiria da percepção da ocorrência de fenômenos equivalentes ou semelhantes em todos eles (o que não seria o caso, obviamente, da “história global” da Declaração de 1776 proposta em Declaração de Independência, que arrancaria, sim, de um único ponto). Juntos, Armitage e Subrahmanyam encontram, então, ocasião para reaproveitar uma metáfora anteriormente já utilizada pelo último em parceria com Serge Gruzinski, e que concebe o trabalho desse tal historiador “global” com o de um eletricista, cuja tarefa consistiria em conectar os pontos de uma ligação geral, e que se encontrariam indevidamente desligados.
Inegavelmente, tal metáfora é não apenas inusitada, mas também engenhosa: parece dar conta, por exemplo, da irradiação das declarações de independência, portanto das conexões de um circuito que colocaria 1776 no mesmo caminho de 2007, que levaria a eletricidade do disjuntor dos Estados Unidos da América do século XVIII (o centro de tudo) para, por exemplo, Kossovo e Sudão atuais, passando por um grande número de pontos de distribuição. No entanto, a serventia dessa explicação parece depender estritamente de seus próprios pressupostos. Pergunto: como fundamentar a “conexão”, não entre artefatos de natureza semelhante, como são algumas (repitamos, algumas) das declarações de independência – talvez os fios, os circuitos e as tomadas da metáfora do eletricista – mas entre, por exemplo, declarações de independência e guerras; dinâmicas identitárias e formação de Estados nacionais; mutações conceituais e relações mercantis; formas de pensamento/ação políticas e estruturas cotidianas de existência social? Um livro com um governo, uma batalha com um jornal?
Tomo aqui, evidentemente, exemplos de fenômenos que, nos contextos referidos por Armitage, compõem realidades das quais as declarações de independência são parte, mas parte muito parcial. Não se trata, contudo, de antepor à conexão de coisas semelhantes uma história de todas as coisas; mas sim de questionar a legitimidade de uma escolha em termos de sua capacidade de explicar algo mais do que aquilo que nela está já desde seu princípio. O que escapa a essa história de declarações de independência, mas que parece ser essencial na compreensão de uma história da qual essas declarações são parte importante?
Penso em três casos mencionados por Armitage: a “declaração” do Peru, de 28 de julho de 1821; os eventos relativos ao Brasil, de 07 de setembro de 1822; e o que foi chamado de “Declaração de Independência do Uruguai”, de 25 de agosto de 1825. Ora, o que podemos dizer sobre tais exemplos? Em primeiro lugar, que a “declaração” do Peru foi imposta por um San Martín chefe de um exército invasor, e que pouco tempo duraria no poder do antigo Vice Reino que agora ruía; em segundo, que poucos são os atuais historiadores da independência do Brasil que consideram com seriedade o 7 de setembro como um marco do ano de 1822; e finalmente, que a “declaração” de 1825 não criou um “Uruguai”, menos ainda “independente”. Em todos os casos, no entanto e sem dúvida, alguma intenção, algum padrão comum de ação política; mas o que essas “declarações” explicam efetivamente sobre o fim do Vice Reino do Peru e do Reino do Brasil? São elas comparáveis às dos Estados Unidos e da França, ou às dezesseis de Venezuela e Nova Granada entre 1810 e 1816? Talvez devêssemos isentar Armitage da responsabilidade de discutir, com algum pormenor, todos os casos por ele mencionados, não fosse meu entendimento de que tais distorções são decorrentes de sua própria concepção de “história global”. Afinal, segundo ela, tudo que a ela pertence deve, de algum modo, se adequar a um padrão inicial, definido pelo seu marco irradiador: os Estados Unidos da América.
Aprofundemos tal objeção pontualmente. A edição brasileira de Declaração de Independência, em clara sintonia com propósitos mercadológicos perfeitamente explicáveis (ainda que não necessariamente justificáveis), incluiu, em sequência à coletânea de declarações já mencionada, um “Apêndice” relativo ao Brasil (p.201-214). Dele constam quatro peças: o famoso decreto do governo do príncipe regente Pedro de 03 de junho de 1822, convocando uma assembleia constituinte e legislativa para o Brasil; uma carta do mesmo príncipe (que ainda não era, portanto, “Pedro I”, como consta do livro) ao rei João VI, de 22 de setembro de 1822; a ata de aclamação (aí sim) de Pedro I Imperador do Brasil, de 12 de outubro de 1822; e o tratado assinado em 25 de agosto de 1825, pelo qual Portugal reconheceu formalmente a independência do Brasil. Ora, a que servem tais documentos, neste livro? Nas palavras do autor, como o Brasil, “caso particular na América, não teve uma declaração de independência inspirada naquela dos Estados Unidos”, o que supostamente caracterizaria um “processo sui generis”, tais documentos poderiam estimular “o estudo comparado (de acordo com os objetivos do livro) com os outros processos emancipatórios aqui ilustrados” (p.201). E assim, o que não se adequa ao pressuposto do livro – os Estados Unidos como centro irradiador de uma “história global”, é confinado à categoria de aberração. O que coloca Armitage em perfeita sintonia com um dos tópicos mais tradicionais – e hoje mais contestáveis – da suposta singularidade da história do Brasil no panorama não apenas americano, mas também mundial. O que ganhamos reconduzindo à independência do Brasil essa interpretação tão convencional quanto míope?
O problema aqui se converte no da legitimidade do recorte. Se a “história global” da “Declaração de Independência”, bem como da modalidade indicada por tal expressão no plural, realizada por Armitage é legítima, útil e importante, ela parece servir também para obliterar realidades que apenas enganosamente se enquadram no seu padrão. Pouca coisa se explica do Peru, do Brasil e do Rio da Prata oriental por essas “declarações”; e como exceções à suposta regra, o corte adotado corre o sério risco de incentivar a retirada da cena dos contextos doravante considerados excepcionais.
Na minha leitura, os elementos frágeis da concepção de uma “história global” tal qual praticada por Armitage, assim como seus muitos e inegáveis méritos, demandam um escopo teórico que seja capaz de explicar não apenas quais realidades se conectam, mas fundamentalmente porque elas podem se conectar, e como o fazem. Um escopo teórico que nos permita superar os insolúveis problemas decorrentes da reificação de um método ou de uma concepção “global” de história, da qual Armitage é tributário e, ao mesmo tempo, formulador.
É bem verdade que vivemos tempos não apenas de forte consciência de uma “globalização”, mas igualmente de uma persistente crise de paradigmas teóricos, de perene desprestígio da reflexão teórica, sobrepujada por um empiricismo fácil e sedutor, bem como de pesquisas hipertrofiadas e isoladas, incapazes de propor generalizações (sempre elas, perigosas, temerárias, mas imprescindíveis…). Assim, e na contramão de tais atitudes, o que encontramos em Declarações de Independência já é mais do que o bastante para merecer aplauso; no entanto, não parece o suficiente para assegurar saídas para alguns dos impasses desses tempos.
No cenário historiográfico atual, poucos historiadores pareceriam tão capazes como David Armitage de caminhar nessa direção; de preferência, realizando uma avaliação propositiva da serventia ou não de categorias anteriormente usadas (muitas vezes abusadas) pelas ciências sociais – como, por exemplo, “sistema-mundo”, capitalismo” e “longa-duração”– e que desapareceram quase que por completo nas atuais elaborações em torno de uma “história global”. Basta de imputar ao autor, no entanto, objetivos e interesses que não necessariamente são os dele: limitemo-nos, por fim, a reconhecer Declarações de Independência como uma obra forte, por muitos motivos altamente meritória, e certamente encorajadora de tarefas às quais ela pode, simultaneamente, pautar e servir de ponto de partida.
João Paulo Pimenta – Professor no Departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP – São Paulo/Brasil). E-mail: [email protected]
ARMITAGE, David. Declaração de Independência: uma história global. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 264p. Resenha de: PIMENTA, João Paulo. O que é uma “história global”? A propósito de um livro de David Armitage. Almanack. Guarulhos, n.6, p.153-157, 2º semestre de 2013.
Acessar publicação original [DR]
Foices e Facões. A Batalha do Jenipapo | Bernardo Aurélio e Caio Oliveira; Dois de Julho: a Bahia na Independência do Brasil | Maurício Pestana
A leitura em conjunto e a comparação entre as obras de Bernardo Aurélio e Caio Oliveira e de Maurício Pestana levantam, de forma enfática, a questão da adaptação da historiografia brasileira para uma linguagem ainda pouco convencional na abordagem da história da Independência do Brasil: a das Histórias em Quadrinhos. Ambas possuem propostas semelhantes, ou seja, enaltecer, preservar e trazer à tona episódios de lutas locais ocorridos durante o processo de Independência – o ‘Dois de Julho baiano’ e a piauiense ‘Batalha do Jenipapo’ –, com pouca afirmação no imaginário histórico fora de seus estados de origem. Os governos dos dois estados figuram nas duas produções, tendo a Secretaria da Cultura baiana publicado e editado Dois de Julho: A Bahia na Independência do Brasil, e a Fundação Cultural do Estado Piauí patrocinado Foices e Facões. A Batalha do Jenipapo. Neste último, inclusive, há um prefácio de Wellington Dias, governador do Piauí à época do lançamento. No entanto, enquanto em Dois de Julho percebe-se a intenção de uma leitura rápida e de extremo didatismo, Foices e Facões se destaca como um trabalho mais denso e de liberdade autoral.
Esse tipo de adaptação não é algo novo. Da Colônia ao Império – um Brasil para inglês ver (1983), de Lilia Schwarcz em parceria com o cartunista Miguel Paiva, se tornou obra referencial neste campo. Mais recentemente, Schwarcz voltou a explorar essa linguagem em D. João carioca: a corte portuguesa chega ao Brasil (2008), em colaboração com o ilustrador Spacca, e em História do Brasil em Quadrinhos: chegada da Família Real – Dia do Fico – Independência (2008), roteirizada por Jota Silvestre e Edson Rossato, e ilustrada por Laudo, a Independência foi novamente quadrinizada. Evidente que propostas, formas e conteúdos diferem bastante de uma obra acadêmica para um enredo de HQ. Este último, geralmente, tende a enfocar essencialmente tramas e conflitos entre personagens, situando o seu desenvolvimento em um tempo curto, como o dos eventos. Uma narrativa dramatizada baseada em indivíduos. Algo que na ciência histórica se assemelha a mais tradicional história política em sua roupagem oitocentista. O rigor científico tende a ser muito menor, havendo bastante liberdade criativa na construção de um enredo funcional, compromisso primordial da HQ.
No entanto, essa linguagem, caracteristicamente mais artística e ficcional, não deve ser tida como completamente descompassada e incongruente com a produção acadêmica. É possível constatar, numa aparentemente descompromissada dramatização em quadrinhos, maneiras de expor ou levar o leitor a intuir sobre questões atuais na historiografia, havendo assim um potencial de divulgação considerável nesse tipo de adaptação. Vale a pena, portanto, uma discussão acerca das soluções narrativas utilizadas pelos autores para a adaptação de conteúdos mais frequentemente trabalhados pela historiografia, neste caso, a Independência.
Em Dois de Julho, Maurício Pestana – jornalista e cartunista – desenvolve sua obra em trinta e quatro páginas, o que sugere certa compactação do conteúdo quando comparada com as mais de duzentas páginas de Foices e Facões, produzidas pelo roteirista – e também historiador – Bernardo Aurélio e pelo desenhista Caio Oliveira. A solução narrativa apresentada por Pestana consiste na utilização de uma personagem narradora, a garota Hamalli, como interlocutora entre os eventos passados e o leitor. Dessa maneira, existem duas linhas temporais distintas na obra: o presente, onde a presença e voz de Hamalli norteiam e expõem os acontecimentos que culminam no ‘Dois de Julho’ baiano, sobreposto ao passado mudo das ilustrações, que servem como acessório ao discurso da narradora. Em outras palavras, um passado condensado por um discurso sintético do presente.
Não se trata de um recurso original, podendo ser identificado em outros títulos, como, por exemplo, na obra de Silvestre e Rossato, acima mencionada. O problema desse expediente é afastar o leitor da visão do passado como um processo dinâmico, múltiplo em suas possibilidades e em constante (re)construção. De fato, acaba por apresentar o objeto histórico em quadros fixos e estáticos, cuja única função é ilustrar e confirmar o que a personagem do presente, portanto, extemporânea ao passado histórico, tem a dizer sobre ele.
Logo, na obra de Pestana, o passado é absolutamente imóvel, determinado e obedece a um devir inevitável, encapsulado nesses quadros estáticos, sem maior espaço para apresentar mais e diversas nuances de si mesmo. A própria característica sequencial dos quadrinhos se torna pouco efetiva, pois a única continuidade de ação é a da fala narradora, que ambientada fora das ilustrações do passado histórico, deixam estas últimas como uma espécie de fotografias colocadas em série, mas sem maiores progressões de ação quadro a quadro. Configura-se, assim, um objeto histórico mudo, apresentado em flashes fixos, paralisados, recortados de seu contexto e mais aprisionados pelos enquadramentos do que se utilizando deles para se desenvolver.
De maneira oposta, Aurélio e Oliveira aproveitam as duas centenas de páginas para deixar a trama – o passado – , se construir por si, sem a intervenção e tutela de uma linha temporal do presente. Não há uma diretriz extemporânea para determinar o desenvolvimento da ação, sendo sintomático como essa liberdade concedida ao passado, que se constrói através de um roteiro mais denso, resulta em maior sofisticação tanto no enredo quanto no conteúdo histórico exposto.
Foices e Facões, além de dar voz aos personagens – alguns históricos outros ficcionais –, apresenta tramas que se desenvolvem concomitantemente, em diferentes núcleos, de forma semelhante a uma novela. Isso permite, por exemplo, uma maior aproximação da ‘Batalha do Jenipapo’ com a mais conhecida progressão de eventos do centro-sul, cujo ápice é tradicionalmente visto como sendo o grito de D. Pedro. Os dois eventos são alinhados no início da história, dando uma ideia de complementaridade entre eles. Ao contrário, a rigidez narrativa de Dois de Julho lida de maneira mais conflituosa com os eventos mais próximos à Corte. Não há representação gráfica do grito, cujas menções diretas são reduzidas a passagens textuais. “Um campo de batalha. Mortos, feridos e muita desolação. Bem diferente da cena de um imperador gritando ‘Independência ou morte’…O cenário da guerra foi Salvador. Vésperas do 2 de julho de 1823, quando o Brasil ficou, de fato, independente de Portugal” (p.5). Nota-se na passagem a oposição entre as duas datas, como em uma disputa para determinar qual é a mais exata ou significativa para demarcar a Independência em perspectiva nacional. E não se torna forçoso extrair daí um ufanismo regionalista, deslocando a primazia do cenário do Centro-Sul, mas apenas para substituí-la pelo Nordeste. Se há na historiografia acadêmica obras que privilegiam espacialmente os arredores da Corte, estabelecendo um elo direto entre, por exemplo, a Inconfidência Mineira e o 7 de setembro, que muitos historiadores das últimas décadas vêm evitado explicitamente, de forma análoga aqui temos que, para Pestana,
Lembrar o 2 de julho, dia da Independência da Bahia, de fato, é trazer de volta a maior vitória do povo brasileiro e pouco estudada fora da Bahia, mesmo sendo a data de fato da Independência do Brasil, uma batalha vencida por negros, indígenas e brancos que antes mesmo do início dos conflitos já tinham histórico de luta por liberdade. É só analisarmos rebeliões de negros (escravos, libertos e livres), que em 1798, aliando-se também a brancos liberais inspirados na Revolução Francesa, iniciaram em Salvador uma luta por liberdade conhecida como a Revolta dos Búzios, reprimida violentamente. Alguns anos depois, essa mesma população negra se juntaria a indígenas e brancos com esses ideais libertários e se alistariam maciçamente no exército pacificador que combateria os portugueses em solo baiano (p.6).
De forma mais sutil, Foices e Facões inicia com o convencional grito em 1822, mas logo avança para o Piauí, em 1823, levando o leitor a intuir que tanto a Batalha do Jenipapo quanto os acontecimentos em São Paulo são duas eventuais cristas de uma mesma onda, ou processo. Há, desse modo, uma aproximação com a historiografia da Independência mais atual, pois, ao contrário de Dois de Julho – onde majoritariamente eventos são listados um em seguida do outro, como se obedecessem a uma ordem lógica –, a noção de um processo que se desenvolve para além da ação individual e prenhe de possibilidades se faz presente.
Esse resultado só é possível, novamente, pela maleabilidade do roteiro. Ao comportar subtramas, contendo diferentes núcleos de personagens de diversas origens e estratos sociais, o enredo de Foices e facões tende a dimensionar um halo de ação que ultrapassa o indivíduo, perpassando todas essas subtramas e inserindo-as num conflito numa perspectiva mais conjuntural. A Independência não se torna uma ação sob a regência de alguns personagens, mas pelo contrário, o soldado reinol, a família de camponeses, o latifundiário, membros da elite favorável à Corte do Rio de Janeiro, todos eles estão, em suas ações, em uma relação mais dialética com esse processo. A Independência torna-se uma espécie de personagem oculta, mas imprescindível, que se faz presente como a fonte e linha mestra de todos os conflitos e ações dos indivíduos presentes na trama.
As duas obras simplificam, em determinados momentos e em maior ou menor grau, o sentido dos confrontos que lhes dão os respectivos títulos, apresentando-os como uma simples oposição entre portugueses e brasileiros, sem maiores considerações acerca dessas duas categorias identitárias – muito matizadas pela historiografia na última década – bem como da natureza de suas origens. Nesse ponto, verifica-se em ambas as obras a reiteração de um persistente lugar-comum que assume que, à época, os dois termos estivessem profundamente consolidados, imunes a qualquer questionamento, resultando, portanto, em identidades plenamente distintas. Sobretudo em Dois de Julho, o português não é apenas oposto ao brasileiro, mas frequentemente a outras identidades mais locais. Assim, lemos que “os cachoeiranos venceram e aprisionaram os integrantes das escunas e todo o armamento dos portugueses… É bom lembrar que em matéria de armamento, era brutal a diferença entre brasileiros e portugueses” (p.13).
Em Foices e Facões, a excessiva dicotomização identitária também se faz presente, sobretudo nos diálogos entre as personagens: “prenderam o padre lá na vila…prenderam ele porque era português. Vão acabar prendendo o Januário por causa das besteira que ele anda dizendo” (p.95). O mencionado personagem Januário é um caso em que as fronteiras entre as duas identidades se tornam mais tênues. Trata-se de um latifundiário estabelecido no Piauí, que apoia a manutenção do Reino Unido português e, por conseguinte, os esforços do Major Fidié, governador geral designado por D. João VI para uma campanha de consolidação do poder da Coroa sobre a capitania. Ao leitor, ainda que isso não seja explícito no texto, ele se encaixa como morador tradicional de Campo Maior, não podendo ser chamado de português na conotação de ser um recém-chegado e estranho à terra, apesar de sua origem além-mar. “Sou português, sou cidadão. Quando me casei com você filha desta vila, tive filhos brasileiros. Exijo proteção” (p.97). Algumas páginas antes, um membro da elite piauiense e articulador da adesão da província a Corte do Rio de Janeiro diz:
Deixe-me lhe contar uma coisa Dr. Cândido: este navio acaba de chegar da Inglaterra. Portugal quer a volta do pacto colonial…Meu pai, que era português, me contou com satisfação dos acontecimentos de 1808, quando abriram os portos para as nações amigas depois que a corte portuguesa chegou aqui. Já imaginou os prejuízos desse retrocesso. (p.41)
Ainda que todas as passagens individualmente denotem que o “ser português” provém essencialmente da origem europeia dos indivíduos – concepção já desconstruída pela historiografia –, a leitura delas na sequência fragiliza essa ideia. O local de nascimento passa a dividir importância com a orientação política e interesses no futuro incerto da união entre os dois reinos. O pai português que defende a abertura dos portos e gera um filho separatista contradiz a ideia de uma fidelidade ao território português, supostamente inata aos nascidos na Europa. Por outro lado, um reinol de nascimento, mas plenamente integrado no Piauí, vê-se dividido por uma lógica dualista que suplanta seu pertencimento à província. Por fim, o soldado Luis, português de nascimento, e inicialmente a serviço de Fidié, encerra a história desertando e se estabelecendo junto a uma família de camponeses em Campo Maior. Portanto, é possível ao leitor intuir que o par identitário português/brasileiro não era, à época, estanque, e dependia mais ou igualmente de uma opção política do que o local de nascimento; também não se fazia presente em qualquer situação, mas era evocado, sobretudo, por conjunturas específicas no interior do processo de Independência, podendo ser agregado, entrar em confronto, ou simplesmente coexistir com outras identidades.
Mais uma vez, essa diferença entre as duas obras perpassa a maneira como seus roteiros são desenvolvidos. Em Dois de Julho, o passado mais imobilizado pela voz de uma personagem do presente tende a não ser mostrado como detentor de múltiplas possibilidades, mas apenas como o que teria inevitavelmente ocorrido. E nesse escopo teleológico, a separação entre português e brasileiro cabe aparentemente sem maiores problemas. No entanto, o roteiro de Foices e Facões, que permite a visualização de um passado em construção, através da ótica e da relação entre diversos indivíduos, permite o questionamento dessa distinção de identidades, embora não a sustente explicitamente.
Logo, não é necessariamente a linguagem dos quadrinhos um suporte insuficiente ou contrário à transposição do conteúdo científico da historiografia. O alcance e os limites da narrativa de uma HQ variam de acordo com a inventividade do autor em sua capacidade, claro, de aproveitar inspirações de conteúdos formais, neste caso, advindos da historiografia acadêmica. Cabe a este relacionar as possibilidades de uma história desenvolvida através da progressão quadro a quadro com o tipo de conteúdo a ser adaptado. No caso da historiografia, de maneira semelhante ao já citado Da Colônia ao Imperio – um Brasil para inglês ver, Foices e Facões demonstra ser possível apresentar conjunturas e processos através de um enredo amplo contendo diversas subtramas se desenvolvendo em um mesmo roteiro. No entanto, a utilização do narrador fora do passado de que se fala, como é notado em Dois de Julho, apresenta maior risco de um discurso teleológico. O esforço de fugir de uma transposição mecânica, explorar os limites da composição de um roteiro, é fundamental para a descoberta de novas maneiras de unir de modo mais eficaz HQs e historiografia.
Luis Otávio Vieira – Graduando em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH/ USP – São Paulo/Brasil). E-mail: [email protected]
AURÉLIO, Bernardo; OLIVEIRA, Caio. Foices e Facões. A Batalha do Jenipapo. Teresina: Núcleo de Quadrinhos do Piauí, 2009. PESTANA, Maurício. Dois de Julho: a Bahia na Independência do Brasil. Salvador: FPC/SecultBa, 2013. Resenha de: VIEIRA, Luis Otávio. A Independência em quadrinhos: formas de se contar história (s). Almanack, Guarulhos, n.6, p. 158-162, jul./dez., 2013.
Revoluções de independência e nacionalismos nas Américas | Marco Antonio Pamplona
A Coleção Margens, América Latina – Revoluções de independências e nacionalismos nas Américas, organizada por Marco A. Pamplona e Maria Elisa Mäder reúne em seus quatro volumes artigos de 19 autores de diversos países com especializações nas áreas de História, Sociologia, Ciência Política e Literatura. O tema fundamental que percorre todos os artigos é o das identidades políticas coletivas e o complexo processo de conversão destas em uma identidade nacional. A diversidade da formação dos autores permite que sejam abordados aspectos da história cultural, política e intelectual de diferentes países da América ibérica durante o período das independências.
A perspectiva histórica que orienta os trabalhos é a preocupação em visitar as margens da América Latina, isto é, revelar possíveis espaços de trocas e intersecções entre os seus diversos territórios – o que os organizadores chamam de “entrelugares”. Tal objetivo não se confunde com a proposição de um modelo interpretativo único para as independências dos países latino-americanos, tampouco reforça a existência de uma identidade latino-americana que seja capaz de resumir a totalidade das muitas identidades existentes na América. Pelo contrário, esta visão permite identificar e explorar as diferenças entre estes espaços coloniais face à crise das monarquias ibéricas e, posteriormente, em seus respectivos processos de construção das nações.
Publicado em 2007, o primeiro volume da coleção coincide com a abertura das comemorações do bicentenário das Independências na América Ibérica. Toma-se como marco o avanço das guerras napoleônicas sobre a Península em 1807 e a consequente criação de novos espaços de exercício de poder na América como resposta à crise nas metrópoles ibéricas. O volume um trata da Região do Prata e Chile em cinco artigos escritos por João Paulo Pimenta, Jorge Myers, Rafael Sagredo Baeza, Fernando Purcell e Bernardo Ricupero. O segundo volume traz estudos de Márcia Regina Berbel, Alfredo Ávila e Gabriel Torres Puga, Roberto Breña e Natividad Gutiérrez a respeito da Nova Espanha (2008). O terceiro volume trata de Nova Granada, Venezuela e Cuba nos textos de Hans-Joachin König, Inés Quintero, Maria Lígia Coelho Prado e Stella Maris Scatena Franco, Rafael de Bivar Marquese (2009). Finalmente, o quarto volume é formado por quatro artigos sobre Peru e Bolívia, elaborados por Natalia Sobrevilla Perea, Marcel Velázquez Castro, Herbert S. Klein e Antonio Mitre (2010). Está previsto um quinto volume com ensaios comparados sobre a América ibérica e uma discussão sobre o surgimento do estado-nação brasileiro, entretanto, este volume não foi publicado até o momento.
Na introdução e em diversos artigos da coleção, reitera-se a insuficiência de abordagens históricas circunscritas aos limites nacionais para a compreensão do período das revoluções de independência, e o risco de incorrer em anacronismo ao considerar a existência de uma nação e um nacionalismo anteriores ao processo de construção dos estados nacionais. Ainda que defenda uma perspectiva atlântica na análise dos processos de independência da América ibérica, bem se vê pela divisão dos capítulos e dos volumes da coleção que os marcos nacionais continuam guiando a forma de se estruturar o pensamento histórico.
A constatação acima apresentada de modo algum indica o demérito das interpretações, mas reforça a necessidade de se revisitar um tema amplamente investigado e revisado. O recurso muitas vezes meramente didático da delimitação do objeto de investigação de acordo com as definições geográficas e políticas atuais – ou ao menos posteriores ao período em questão – não precisa ser necessariamente tratado como anacronismo ou falta de rigor histórico. Reconhecer as dificuldades para o estudo das revoluções de independência no marco mais amplo de uma perspectiva atlântica não deve ser inibidor de novas pesquisas; pelo contrário, deve incentivar historiadores, antropólogos, sociólogos e cientistas políticos a debruçarem-se sobre o tema, propondo novas abordagens, distintas metodologias e, sobretudo, estabelecerem constantes debates que certamente contribuirão para uma melhor compreensão desse processo histórico. Dito de outra maneira, utilizar estas unidades políticas que não estavam claramente definidas à época das independências é um dos pontos de partida possíveis para o estudo das independências, ainda que o objetivo último das interpretações possa ser justamente a desconstrução destas divisões.
A forma de apresentação dos artigos, que são bastante claros e presumem pouco conhecimento prévio do leitor, garantem à coletânea condições de divulgação das discussões historiográficas mais recentes também para um público não especializado. Este grande mérito é identificado sobretudo em face de um mercado editorial escasso de materiais relativos ao tema geral da coleção. Outro mérito da coleção é que ela disponibiliza, ao final da maioria dos artigos, um conjunto de fontes traduzidas, entre elas: periódicos, proclamas, decretos, poemas, trechos de romances, retratos, trechos de debates das Cortes de Cádiz, entre outras. Estas fontes, selecionadas pelos autores dos artigos, relacionam-se diretamente com o tema abordado em cada texto, permitindo um aprofundamento dos assuntos tratados. Entretanto, esse potencial da coleção faz-nos pensar que alguns dos artigos poderiam articular melhor as discussões desenvolvidas e os documentos apresentados. Embora não seja esta a proposta específica da coleção, em alguns casos as fontes poderiam ser melhor problematizadas e exploradas, para evitar que sejam meramente ilustrativas dos temas tratados.
A crítica às historiografias que consideraram a existência de um nacionalismo prévio ao surgimento dos estados nacionais aparece de forma muito consistente já no primeiro artigo da coleção, que discute as dificuldades de se superar este tipo de enfoque ainda hoje. João Paulo Pimenta trata o caso específico da construção do nacionalismo uruguaio, um caso exemplar da complexidade das identidades coletivas no mundo colonial ibérico, resultado da interação dos critérios identitários europeus com as especificidades de cada um dos espaços coloniais. A análise do processo de independência do Uruguai evidencia, mais do que qualquer outro, a existência de pontos de intersecção entre os mundos hispano e luso- americano. O artigo “Província Oriental, Cisplatina, Uruguai: elementos para uma História da identidade Oriental (1808-1828)” está bem colocado como capítulo de abertura da coletânea, uma vez que apresenta uma critica historiográfica fundamental para a compreensão também dos demais espaços coloniais e reforça uma das propostas da coleção, que é a de tratar as independências da América Latina a partir de uma perspectiva comparada.
Outro artigo que indica a necessidade de inserção de seu objeto de análise em uma unidade mais ampla é o de Rafael de Bivar Marquese, “A escravidão caribenha entre dois atlânticos: Cuba nos quadros das independências americanas”, apresentado no quarto volume. A fim de avaliar as relações entre a escravidão e a independência da ilha, ocorrida no final do século XIX, Marquese as insere no panorama geral da crise do colonialismo. O autor aponta, entretanto, a necessidade de se levar em conta a coexistência de duas estruturas temporais distintas a partir da segunda metade do século XVII: a do Sistema Atlântico Ibérico e a do Sistema Atlântico do Noroeste Europeu, sendo que os personagens tinham consciência desta situação e praticavam comparações entre os dois sistemas.
Vários dos artigos apresentam discussões sobre os caminhos que levaram à construção das identidades nacionais e apontam que elas foram o ponto de chegada – não necessariamente imediato – dos processos de independência, não o seu ponto de partida. Os artigos de Jorge Myers (“A revolução de independência no Rio da Prata e as origens da nacionalidade argentina”, vol.1), Alfredo Ávila e Gabriel Torres Puga (“Do francês ao gachupin: a xenofobia no discurso político e religioso da Nova Espanha”, vol.2), Hans-Joachin König (“Independências e nacionalismos em Nova Granada/Colômbia”, vol.3) e Natalia Sobrevilla Perea (“Questionando o significado de Pátria: tornando-se peruano durante a guerra”, vol.4) apresentam as vicissitudes desse processo em algumas das regiões da América ibérica. Sendo assim, a coleção coloca em relevo as particularidades regionais ao mesmo tempo em que permite uma análise panorâmica da América de colonização luso e hispano-americana como parte de uma mesma conjuntura revolucionária, que tem origem na Europa, marcadamente a partir da Revolução Francesa e das Guerras Napoleônicas, mas que desencadeia profundas transformações também nas colônias americanas.
Acompanhar o processo de conversão das identidades políticas coletivas em uma identidade nacional requer a compreensão dos diversos projetos políticos e dos múltiplos sentidos de nacionalidade em disputa pelos vários atores políticos em cada um destes espaços coloniais. São vários os colaboradores da coleção que enfocam a participação dos diversos grupos sociais nas lutas pela independência e procuram destacar o espaço que lhes coube – ou na maioria das vezes, que lhes foi negado – na definição dos critérios de participação política nos recém-criados estados nacionais. No primeiro volume, o texto de Fernando Purcell, “Discurso, práticas e atores na construção do imaginário nacional chileno (1810-1850)”, investiga a participação popular na construção do imaginário nacional no Chile, a despeito desses grupos populares estarem oficialmente excluídos da cidadania política nos anos iniciais da república. Já Inés Quintero revisita o clássico binômio permanências/continuidades a propósito do debate dos resultados e alcances sociais da independência na Venezuela, colocando a questão em um novo e matizado patamar no artigo “A independência da Venezuela: resultados políticos e alcances sociais” (vol.3).
Três dos textos discorrem, sob enfoques diferentes, acerca da participação das mulheres nos movimentos de independência. Natividad Gutierrez (“O nacionalismo no México: em busca das leitoras da comunidade imaginada”, vol.2) trata da relação entre gênero e nacionalismo, indicando que as mulheres, apesar de excluídas da “comunidade imaginada alfabetizada”, tiveram participação ativa na independência da Nova Espanha. Maria Lígia Coelho e Stella Maris Scatena, no artigo “A participação das mulheres na independência da Nova Granada: gênero e construção de memorias nacionais” (vol.3) dedicam-se ao caso específico de duas personagens que atuaram como sujeitos políticos na independência: Manuelita Sáenz e Policarpa Salavarrieta. Neste texto as autoras apresentam a forma como os estereótipos femininos manifestam-se nos escritos sobre estas personagens e levantam a interessante questão da apropriação política da memória dessas mulheres ao longo do tempo, sobretudo nos últimos anos. Finalmente, o artigo de Marcel Velázquez (“Afrodescendentes limenhos: emancipação, gênero e nação 1791-1830”, vol.4) analisa as construções culturais dirigidas à população afrodescendente em Lima no início do século XIX e destaca o posicionamento singular da mulher afrodescendente nesta sociedade.
Questões de base do trabalho de pesquisa histórica são suscitadas por estes textos, que evidenciam a necessidade de se buscar não só novas fontes, como também novas ferramentas metodológicas para dar conta da amplitude social dos envolvidos nesse processo histórico, sobretudo quanto se pensa na grande proporção de analfabetos que estavam excluídos da sociedade letrada, mas que atuaram nas lutas pela independência. Os novos espaços de sociabilidade surgidos no final do século XVIII e início do XIX colaboraram para que estes atores participassem dos debates a respeito das transformações históricas vividas e em torno da construção da nacionalidade.
Em comum entre a maioria dos artigos está a capacidade de transitar entre estudos de casos muito particulares e reflexões teóricas que enriquecem, ampliam e diversificam a análise dos processos de independência de toda a América de colonização ibérica. Um recorte interessante é apresentado por Rafael Sagredo Baeza a respeito das transformações da realidade geográfica da ilha de Chiloé durante o período colonial e após a independência do Chile. Em “Nação, espaço e representação. Chiloé: de ilha imperial a território continental chileno” (vol.1) o autor evidencia que a posição geográfica não se refere somente a uma realidade material, está sujeita também a concepções políticas, que podem se modificar ao longo do tempo.
De maneira semelhante, o texto “Uma reflexão sobre as comemorações dos bicentenários, a questão do liberalismo (espanhol) e a peculiaridade do caso novo-hispânico” proposto por Roberto Breña, extrapola seu objeto específico de análise – um balanço sobre os estudos que tratam do liberalismo espanhol e das particularidades deste na Nova Espanha. O autor enfatiza a questão que pode parecer um tanto quanto óbvia, mas nem por isso de menor importância: o risco de projetarmos uma experiência política, atribuir significados e preocupações inexistentes na época estudada. Tal prática torna-se ainda mais frequente no momento atual devido às comemorações do bicentenário das independências. Em meio a uma imensa produção sobre o assunto nos últimos anos e que pode se prolongar ainda por uma década, o autor alerta que toda comemoração representa um significado e, portanto, atende a interesses e objetivos distintos. Diante desta constatação, Breña indica a responsabilidade dos acadêmicos em evitar estas simplificações e usos dos mais variados – inclusive políticos – da história e dos personagens das independências.
Em sintonia com novos enfoques historiográficos, a coleção também permite o acesso a algumas das contribuições da história dos conceitos e das linguagens políticas nos artigos de Fernando Purcell (“Discursos, práticas e atores na construção do imaginário nacional chileno 1810-1850”, vol.1); de Bernardo Ricupero (“As nações do romantismo argentino”, vol.1) e de Alfredo Ávila e Gabriel Torres Puga (“Do francês ao gachupin: a xenofobia no discurso político e religioso da Nova Espanha, 1760-1821”, vol.2). A compreensão dos múltiplos e conflitantes sentidos de conceitos como, por exemplo, nação, nacionalismo e soberania em um período de rápidas e profundas mudanças nos discursos e nas práticas políticas é uma das contribuições da história intelectual, elaborada a partir de uma contextualização dos debates e das linguagens políticas dos discursos.
Cabe ainda destacar que outro grande valor de vários dos textos apresentados é a preocupação em trazer para a atualidade os temas tratados, seja através da inserção nos debates historiográficos mais recentes, seja pela discussão dos problemas enfrentados atualmente pelos países latino-americanos. As características específicas de cada país, assim como as que lhes são comuns, podem ser vistas como herança não somente do período colonial, mas também da forma de condução das estruturas políticas, sociais e econômicas após as independências.
A coletânea reúne valiosos esforços por atualizar as discussões a respeito dos processos de independência da América Latina, procurando tratar a grande diversidade encontrada entre as respostas dadas à crise das Monarquias ibéricas na Península e nos vários espaços coloniais. Tradicionalmente, a região do Caribe, e em especial Cuba, é tratada como um universo separado da América hispânica continental, uma vez que a sua independência somente ocorre no final do século XIX. A presença de Cuba entre os textos da coleção é um feliz sintoma de que a perspectiva de uma análise mais ampla começa a incorporar regiões que geralmente estiveram excluídas.
É de se lamentar que não tenha sido publicado até a presente data o último volume previsto, que deveria tratar da formação do estado-nacional brasileiro e propor ensaios comparados sobre a América ibérica. A promessa de um quinto volume com estudos sobre o Brasil permite vislumbrar oportunidade de discutir uma interpretação que a historiografia recente tem lutado para recusar: a da absoluta singularidade do caso brasileiro face às demais colônias americanas. Desta forma, espera-se com positiva expectativa o encerramento dessa coleção com a publicação de seu quinto volume.
Maria Júlia Neves – Mestranda em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH/ USP – São Paulo/Brasil) e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). E-mail: [email protected]
PAMPLONA, Marco Antonio; MÄDER, Maria Elisa Noronha de Sá (orgs.). Revoluções de independência e nacionalismos nas Américas. Coleção Margens: América Latina. Vol.01 – Região do Prata e Chile (2007, 299p.); Vol.02 – Nova Espanha (2008, 241p.); Vol. 03 – Nova Granada, Venezuela e Cuba (2009, 321p.); Vol.04 – Peru e Bolívia (2010, 274p.). São Paulo: Paz e Terra, 2007-2010. Resenha de: NEVES, Maria Júlia. Entre a unidade e a diversidade: a construção das nações na América Latina. Almanack, Guarulhos, n.6, p. 168-172, jul./dez., 2013.
Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860 | Izabel Andrade Marson e Cecília Helena de Salles Oliveira
Durante longo tempo, os estudos de história política, social e econômica do Brasil Imperial foram tomados de forma bastante estanque, como se não houvesse uma continuidade entre o Primeiro Reinado, a Regência e o Segundo Reinado. De certa maneira, era lugar comum tratar as diferentes fases do processo que levou à formação do Estado Imperial apenas como rupturas. Desconsiderava-se a interdependência de temas como cidadania, comércio, escravidão, justiça e política externa, e não havia a preocupação em compor análises que indicassem as contradições do período. Dito de outro modo, não se tomava a formação do Estado Imperial a partir da ideia de processo.
Contudo, nos últimos anos esta visão tem sido alterada pelos inúmeros esforços de historiadores de diversas partes do país, o que pode ser demonstrado pela constituição de grandes projetos coletivos, de associações dedicadas ao estudo daquele período, materializados pela criação de novos laboratórios, grupos de estudo e linhas de pesquisas em importantes programas de pós-graduação brasileiros. Tais esforços ajudaram a romper o isolamento das pesquisas, permitindo que novos enfoques e novas abordagens fomentassem o diálogo entre diferentes autores, sendo possível estabelecer contatos até mesmo com pesquisadores que atuam em instituições internacionais, para pensar o Império do Brasil de forma que articule, equilibradamente, aspectos sociais, econômicos e políticos.
Novos trabalhos cheios de fôlego para romper com antigos paradigmas e propor questionamentos instigantes aos temas correlatos à formação e à consolidação do único Império no Hemisfério Sul estão reunidos em importante coletânea organizada por Izabel Marson e por Cecília Oliveira. Os artigos em foco percorrem temas como escravidão, liberalismo, redes de interesse mercantis, conflitos e competições na cena pública, bem como a opção pela monarquia constitucional representativa. O livro, como um todo, abrange desde a crise do Antigo Regime ao Segundo Reinado, explicitando que o Império do Brasil somente pode estruturar-se como tal porque contou com o suporte, sobretudo financeiro, garantido pelos negociantes de grosso trato, sempre interessados em obter vantagens econômicas e políticas, em momento em que, sob os matizes das práticas liberais, as coisas da vida pública e da vida privada coexistiam sem se confundir.
A coletânea em tela está dividida em duas partes: (Re)configuração de pactos e negociações na (re)fundação do Império e Revoluções e Conciliação: Fluidez do Jogo Político, dos Partidos e dos Empreendimentos. Ao todo, os nove artigos escritos por mestres e doutores demonstram como as redes de favorecimento impulsionaram o enraizamento do Estado português na América, bem como garantiram a consolidação do Estado Imperial do Brasil.
O primeiro momento é inaugurado por Ana Paula Medicci, autora de As arrematações das rendas reais na São Paulo setecentista: contratos e mercês. O estudo abrange o período de 1765, ano em que a capitania tornou- se autônoma ao Rio de Janeiro, a 1808, data da chegada da Corte, quando novos arranjos políticos alterariam o novo centro administrativo e a sua relação com outras localidades da Colônia. Ao discordar da perspectiva de que a capitania atravessava grave crise econômica quando se reorganizava administrativamente, a autora demonstra que a capitania de São Paulo favoreceu o enraizamento de negociantes que participavam da administração pública arrematando impostos, financiando empreendimentos estatais e comandando tropas de segunda linha. Comprova a existência de uma rede de compadrio que permitiu que, mesmo antes do século XIX, São Paulo fulgurasse como uma das mais expressivas províncias do Brasil, dispondo de homens ricos e influentes que, ao mesmo tempo em que intencionavam consolidar seus objetivos particulares de manutenção no poder, também fortaleciam as instituições representativas tão necessárias à unidade imperial.
O político e o econômico também aparecem como faces da mesma moeda no artigo Imbricações entre política e negócios: os conflitos na Praça do Comércio no Rio de Janeiro, 1821, de Cecília Helena de Salles Oliveira. As análises do tumulto, ocorrido durante assembleia de eleitores que indicaria os representantes do Rio de Janeiro em Lisboa, extrapolam as explicações simplistas de que foram apenas manifestações antilusitanas antecedentes à Independência. Possibilitam compreender as vinculações entre a política e o mercado a partir de um reordenamento de hierarquias, privilégios e monopólios disputados por diferentes agentes sociais. São resultados das contradições e dos múltiplos projetos em disputa, em um momento em que muito ainda estava para ser definido.
A fim de compreendê-los, Cecília Oliveira parte da análise de três importantes fontes históricas, escritas por contemporâneos que atribuíram interpretações variadas para os atos na “Bolsa”: a edição de 25 de abril de 1821 do jornal Gazeta do Rio de Janeiro; as impressões de Silvestre Pinheiro Ferreira, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra; e os relatos anônimos publicados um mês após os eventos na Praça do Comércio, sob o título de Memórias. As três visões sobre o mesmo fato levaram-na a pensar sobre os projetos conflitantes, bem como a compreender as articulações em torno da figura de D. Pedro I: alternativa viável aos interesses mercantis de determinado grupo que ambicionava participar da redação de um texto constitucional que limitasse os poderes do governo e ainda garantir a preponderância do Rio de Janeiro como centro articulador da política e das negociações mercantis.
O terceiro artigo da coletânea também demonstra como os negociantes se valiam da aproximação com a política para obter vantagens para si. Festejos públicos, política e comércio: a aclamação de D. João VI, foi escrito por Emílio Carlos Rodriguez Lopez, e investiga a montagem e o financiamento das celebrações da monarquia, voltando-se especialmente para o evento de fevereiro de 1818. Revela como as mesmas famílias que estavam por trás do comércio de abastecimento da cidade eram também as principais financiadoras das festas públicas – o que as distinguia socialmente e reforçava ainda mais os laços com o soberano, que as recompensava com honrarias e outras mercês. Além disso, as festas difundiam a ideia de que a civilidade havia chegado aos trópicos. Reproduções do arco do triunfo, do templo grego e do obelisco egípcio eram exibidas próximas ao local da aclamação e ao centro do poder, simbolizando que novos padrões culturais estavam em voga no Brasil desde a vinda da Corte.
Avançando no tempo, Vera Lúcia Nagib Bittencourt escreveu Bases territoriais e ganhos compartilhados: articulações políticas e projeto monárquico-constitucional para entender o apoio a essa forma de governo no período posterior à Independência. Para ela, a emancipação política do Brasil e a adesão à figura de D. Pedro devem ser entendidas como resultantes de um árduo processo de negociações envolvendo interesses multifacetados, num momento em que as interações entre o Rio de Janeiro e as demais províncias se diversificavam frente à redistribuição de poderes. A autora propõe que as relações entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro sejam pensadas para além de suas dimensões territoriais, mas sim pelas dimensões políticas e econômicas estreitadas pelas práticas comerciais, pela expansão da agricultura e principalmente por uma extensa rede familiar de negócios que atuava na área. Podem ser pensados como “espaço com identidade econômica e social, em busca de poder e representação” (p. 156).
Encerrando a primeira parte da coletânea, João Eduardo Finardi Álvares Scanavini apresenta Embates e embustes: a teia do tráfico na Câmara do Império (1826-1827). O autor analisa a repercussão do tratado anglo-brasileiro de 23 de novembro de 1826, que visava pôr fim ao tráfico de escravos em um prazo de três anos, na Câmara dos Deputados. A partir dos debates travados naquela Casa do Legislativo, o autor mapeou o posicionamento dos grupos sobre o tema, procurando aprofundar a ligação entre esses homens e distintos interesses mercantis no Rio de Janeiro. Afirma que os deputados expressaram condutas ambíguas sobre a extinção do comércio de almas no país, defendendo a conservação da ordem escravocrata, a partir de um debate que se centrou, na maioria das vezes, em condutas anglóbofas ou anglófilas visando desqualificar o tratado de 1826.
A segunda parte do livro dedica-se a momento posterior à renúncia de Pedro I em nome do filho. É inaugurada por artigo de Erik Hörner, intitulado Partir, fazer e seguir: apontamentos sobre a formação dos partidos e a participação política no Brasil da primeira metade do século XIX. Valendo-se das concepções teóricas do cientista político Giovanni Sartori, Hörner afirma que ater-se às designações “liberais” e “conservadores” nos anos finais da Regência e no Segundo Reinado pode ser considerado um anacronismo por levar em consideração o bipartidarismo defendido por autores de época, como Justiniano José da Rocha, Theophilo Ottoni, Américo Brasiliense e Joaquim Nabuco. O esquematismo dos autores de época não se aplica às experiências das assembleias e dos governos do Brasil Imperial, sendo preciso levar em consideração as particularidades locais em relação às diversas esferas de poder em altercação.
Em Monarquia, empreendimentos e revolução: entre o laissez-faire e a proteção à “indústria nacional” – origens da Revolução Praieira (1842- 1848), Izabel de Andrade Marson analisa o jogo político partidário em face na Província de Pernambuco. “Guabirus” e “praieiros”, defensores, respectivamente, do “livre-cambismo” e da “indústria nacional”, opunham-se na cena pública, competindo por cargos de poder e por maior inserção nos negócios. Tal concorrência, somada à hostilidade entre conservadores e liberais, foi munição necessária à explosão dos conflitos de 1848. A vitória dos conservadores levou ao enfraquecimento do Partido Nacional de Pernambuco – PNP, afastando, por conseguinte, os liberais do poder por cerca de quinze anos. Tal hegemonia garantiu, segundo Marson, que práticas livre-cambistas encontrassem condições propícias para prosperar, ainda que achassem resistência entre os proprietários menos abastados.
Embora o PNP estivesse desarticulado após a Revolução Praieira, os ideais propalados pelo grupo seriam reavivados por volta de 1870, quando Henrique Augusto de Milet, no Jornal de Recife, buscava compreender as causas da crise das lavouras vividas pelas províncias do norte. Culpava os dirigentes do Império por terem buscado soluções estrangeiras (laissezfaire, alta do câmbio, juros elevados, etc.) para um problema nacional que tinha origem nas disputas sangrentas ocorridas em Pernambuco. A crise nas lavouras propiciou a revolta do “Quebra-Quilos”, expressão do descontentamento de vários setores sociais que, gradativamente, viam os sustentáculos do regime monárquico ruir.
Em Autobiografia, “conciliação” e concessões: a Campanha do Mucuri e o projeto de colonização de Theophilo Ottoni, Maria Cristina Nunes Ferreira Neto analisa as explicações sucintas do tarimbado político em documento dirigido aos eleitores da Província de Minas Gerais. Investiga as lacunas deixadas pelo signatário da Circular, escrita no calor da hora em meio à falência do projeto de colonização dessa rica região do nordeste mineiro, quando Ottoni desejava isentar-se das críticas de oportunismo e incompetência administrativa. Evidencia as relações entre o Estado e a iniciativa privada, demonstrando como Ottoni, inspirado pelos princípios liberais e contando com o auxílio do governo, usufruiu de concessões, privilégios e terras para levar adiante um empreendimento de grande porte. O projeto colonizador do Mucuri foi bem sucedido até 1858, quando Ottoni valeu-se das benesses concedidas pelo “Ministério da Conciliação” para obter empréstimos, garantir a compra de mais terras e a vinda de mais imigrantes para o trabalho braçal. Entretanto, após seus aliados políticos terem sido afastados do poder, a Companhia de Navegação e Comércio do Mucury enfrentou entraves financeiros e políticos. Um deles foi o veto concedido pelo então Ministro da Fazenda, Ângelo Muniz Ferraz, adversário de Ottoni, ao empréstimo que seria concedido pela Inglaterra para quitação de dívidas e de multas, bem como pagamento dos salários dos imigrantes.
Seguindo a mesma linha de argumentação para esmiuçar as relações entre interesses pessoais e as políticas de governo, Eide Sandra Azevêdo Abrêu encerra a coletânea, apresentando o artigo “Um pensar a vapor”: Tavares Bastos, divergências na Liga Progressista e negócios ianques. Mais uma vez o experiente Theophilo Ottoni aparece como um dos articuladores do grupo de políticos, que reunia representantes do partido conservador e do partido liberal, para fazer frente à lei de 22 de agosto de 1860, que criava empecilhos às liberdades de associação e de crédito. Zacarias de Góis e Vasconcelos, Pedro de Araújo Lima (Marquês de Olinda), José Thomaz Nabuco de Araújo, Francisco Otaviano de Almeida Rosa, Martinho Alvares da Silva Campos, Aureliano Cândido Tavares Bastos foram alguns dos representantes que, ao lado de Ottoni, constituíram a Liga. Novamente, evidenciam-se as dissenções entre os membros dos diferentes partidos políticos, rompendo-se com a ideia de homogeneidade no seio das agremiações. A própria Liga Progressista era rica em contradições, como demonstram os diferentes interesses que vieram à tona em face das argumentações pela subvenção à navegação entre o Brasil e os Estados Unidos.
Tavares Bastos, por exemplo, foi um dos defensores da proposta que favoreceria negociantes norte-americanos e brasileiros ligados à navegação, porque ele mesmo era um dos interessados em lograr vantagens junto ao Estado Imperial para tocar seus projetos econômicos ligados aos investidores estrangeiros. O autor reforça uma máxima que percorre todos os trabalhos do livro – indispensável para todos os interessados em entender a complexidade do Brasil Império: a indissociabilidade entre política e negócios, que devem ser tomadas como dimensões interdependentes, complementares, num momento em que homens alçados aos mais altos postos de governo integravam redes mercantis e estreitavam seus vínculos por meio de estratégias que visavam o fortalecimento dos seus interesses privados.
O livro em tela reforça a necessidade de que os novos estudos dediquem-se à superação de esquemas estanques, que tratam política e negócios a partir de relações antagônicas. Fatos e fontes históricas são revisitados com o frescor e a coragem de novas interpretações, em textos que fluem de maneira coesa e acessível. São apresentadas novas hipóteses que movimentam o debate histográfico e lançam ainda mais questões acerca do passado histórico rememorado e reconstruído sob a luz do presente.
Aline Pinto Pereira – Doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF – Niterói/Brasil). E-mail: [email protected]
MARSON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles (orgs.). Monarquia, Liberalismo e Negócios no Brasil: 1780-1860. São Paulo: Edusp, 2013. Resenha de: PEREIRA, Aline Pinto Interesses públicos e privados nas tramas do Brasil Império. Almanack, Guarulhos, n.6, p. 163-167, jul./dez., 2013.
Às armas, cidadãos! Panfletos manuscritos da Independência do Brasil (1820-1823) | José Murilo de Carvalho e Lucia Maria Bastos Pereira das Neves
O recém-lançado Às armas, cidadãos!, organizado por José Murilo de Carvalho, Lúcia Bastos e Marcello Basile, vem se juntar a um conjunto de importantes, ainda que escassos, trabalhos de edição crítica de documentos sobre a independência do Brasil, que resultaram em coletâneas, antologias e coleções de textos fundamentais da época. Tal conjunto a que me refiro é composto tanto pela organização de documentos produzidos pelos órgãos oficiais (das Cortes de Lisboa às juntas governativas provinciais e câmaras municipais, passando pelo reinado de D. João VI e a regência de D. Pedro no Rio de Janeiro), quanto por séries de periódicos e obras reunidas de personalidades envolvidas diretamente no processo de constitucionalização do reino luso- americano e sua subsequente emancipação política. Alguns desses títulos, sobretudo aqueles dedicados a documentos de caráter oficial, foram concebidos no âmbito das comemorações do centenário e sesquicentenário da independência do Brasil, a exemplos da obra Documentos para a História da Independência, publicado pela Biblioteca Nacional em 1923, e dos volumes de As Câmaras Municipais e a Independência e As Juntas Governativas e a Independência, ambos publicados pelo Arquivo Nacional em 1973.
As edições críticas e reuniões de fac-símiles publicadas nos últimos anos destacam-se por acompanharem a urgência da promoção de obras que estimulem o debate historiográfico em torno dos temas da construção do Estado e da nação, assim como do surgimento da imprensa e da gestação da opinião pública no Brasil. Nesse sentido, sobressaem as publicações fac-similadas do Correio Braziliense, coordenada por Alberto Dines (2001), do Revérbero Constitucional Fluminense, organizada por Marcello e Cybelle de Ipanema (2005), d’O Patriota, organizada por Lorelai Kury (2007), bem como a reunião da obra de Cipriano Barata, Sentinela da Liberdade e outros escritos, realizada por Marco Morel (2008). Ainda sobre os periódicos, vale lembrar de uma outra leva de edições críticas ensaiada nos anos quarenta pela editora Zelio Valverde; dentre suas publicações destacam-se as organizações do Tamoyo, por Caio Prado Jr. (1944) e da Malagueta, por Helio Vianna (1945).
Pode-se dizer que Às armas, cidadãos!, – aguardado pelos historiadores dedicados ao tema da independência, desde a divulgação do projeto por seus organizadores nos seminários do CEO/PRONEX – segue a tendência acima esboçada. Embora o livro se restrinja aos panfletos manuscritos – um total de 32, “sem dúvida amostra pequena dos papelinhos que circularam na época” (p.22), admitem os autores no texto de apresentação – não deixa de ser uma iniciativa importante frente a um cenário editorial que pouco investe nesse tipo de publicação. Provavelmente, as editoras entendem que os custos de produção e distribuição não sejam rentáveis para o mercado editorial brasileiro, comprometendo, portanto, o alcance de projetos voltados às obras de referência. Em Às armas cidadãos!, a timidez na seleção dos panfletos, não incluindo no volume os impressos que circularam à época em maior quantidade e com número de páginas bem superior aos “papelinhos” manuscritos, deve ser salientada não em detrimento do trabalho realizado – claro, de altíssimo nível e cujo recorte é bem justificado pelos autores, como veremos mais à frente –, mas pelo fato de os panfletos impressos da independência serem ainda de difícil acesso para historiadores de várias partes do país e também estrangeiros.
Assim, deve ser sublinhado que as historiografias a respeito das independências ibero americanas, incluindo evidentemente o Brasil, passam por uma profunda revisão de seus marcos estritamente nacionais concebendo a realidade dos antigos impérios ibéricos em suas múltiplas identidades, inseridas numa mesma unidade conjuntural revolucionária internacional e em íntima relação com contextos políticos e intelectuais diversificados e em interação entre si. Tal perspectiva tem uma consequência de mão dupla. Se por um lado a independência do Brasil tem sido abordada menos em função de sua suposta excepcionalidade em relação aos demais movimentos políticos do período, por outro lado, o interesse pelos desdobramentos históricos em seus diversos quadrantes regionais motivam perspectivas comparativas e visões de conjunto que ampliam a demanda por acesso às fontes primárias e produção de obras de referência.
Uma boa parte dos panfletos impressos remanescentes, assim como ocorre com os manuscritos selecionados em Às armas cidadãos!, também são originários da Bahia, do Rio de Janeiro e de Portugal. Não obstante, há registros de panfletos publicados em outros lugares onde existiram tipografias no período, como em Pernambuco e na Cisplatina. Quanto aos da Bahia e do Rio de Janeiro, estes se encontram em maior volume no acervo da Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional e, ao que consta, não foram microfilmados ou digitalizados, como no caso dos periódicos da época, já disponíveis, não totalmente, mas em quantidade razoável, para consulta no site da instituição. Os panfletos impressos chamam a atenção por suas formas variadas: cartas, catecismos políticos, diálogos, discursos, manifestos, memórias, projetos, relatos, orações, entre outros. Alguns já foram incluídos em O Debate político no processo da Independência, organizado por Raymundo Faoro em 1972, e outros podem ser encontrados disponíveis em formato PDF nos sites do Instituto de Estudos Brasileiros da USP e da Biblioteca Nacional de Portugal. Frente a um panorama acanhado, e por não encontrar nenhuma referência explícita no livro de que o projeto de publicação dos panfletos terá continuidade, não poderia deixar de manifestar o incentivo aos organizadores de Às armas, cidadãos! a persistirem com o projeto de publicação dos panfletos da independência estendendo a pesquisa aos impressos e completando, assim, uma lacuna deixada neste volume.
Passadas essas observações iniciais dediquemo-nos à análise do conteúdo do livro propriamente dito. Os 32 panfletos manuscritos transcritos e analisados pelos organizadores no texto de “Introdução” pertencem ao acervo do Arquivo Histórico do Itamaraty sob a classificação Coleções Especiais, “Documentos do Ministério anterior a 1822”, Independência, capitania da Bahia, capitania do Rio de Janeiro e diversos (documentos avulsos) (p.21-22). Os documentos reunidos foram numerados e divididos em quatro partes correspondentes aos locais onde foram produzidos: Bahia, Rio de Janeiro, Portugal e os de origem não identificada. Quanto ao critério de seleção dos manuscritos, os organizadores reafirmam a opção pelos papéis que “contivessem crítica ou sátira política, tivessem ou não sido colados em paredes, postes ou nos muros das igrejas” (p.23), portanto, excluindo os escritos oficiais encontrados nas pastas do arquivo, à exceção de uma proclamação, a qual comentaremos abaixo. Uma “Nota editorial” informa que todos os documentos foram transcritos atualizando-se a ortografia, mantendo-se a pontuação original da época e corrigindo-se a grafia quando necessário. Além do mais, foram inseridas notas explicativas sobre indivíduos, datas, expressões e termos típicos citados nos panfletos, que auxiliam na compreensão da conjuntura e do vocabulário político do período. Por fim, um outro suporte à leitura dos documentos selecionados é a excelente “Cronologia” incluída no final do livro, na qual os eventos ocorridos na Bahia e no Rio de Janeiro ganham maior destaque.
Cada transcrição é antecedida da reprodução do original, de modo a manter no texto “o sabor de época” (p.33) e, assim, convidar o leitor a dimensionar como tais panfletos eram expostos e debatidos pelo público. A esse respeito, destaco dois panfletos da Bahia. O primeiro, de número 14, intitulado Meu Amigo, apesar de não mencionar o ano de redação, possui um registro informando o dia em que foi arrancado, 14 de fevereiro. Tal registro é um sinal explícito de que muitos “folhetos” eram afixados em locais públicos das cidades a fim de dar ampla divulgação aos projetos e ideias surgidas no bojo dos debates sobre a constitucionalização do reino o que, fatalmente, os tornavam alvos do controle dos órgãos de governos locais que temiam as agitações populares. Aqui, percebemos como os espaços de sociabilidades eram invadidos por práticas representativas de uma nova ordem política.
O outro panfleto, de número 12, é o único de caráter oficial incluído no livro, como já dito. Os organizadores justificam sua incorporação pelo fato de ele ter sido divulgado à moda dos bandos do Antigo Regime. Trata-se de uma proclamação redigida em 1823 pelo brigadeiro Inácio Luís Madeira de Melo, governador das armas da Bahia que, ao constatar a “Província revolucionada”, declarava seu estado de sítio, bloqueava a capital transformando-a em “Praça de Guerra” e determinava sob seu nome todas as competências e poderes da Lei. Tudo isso era levado ao público, segundo o brigadeiro, ao “Som de Caixas pelas ruas e praças públicas” da cidade a fim de fazer chegar a notícia a todos, de modo que “ninguém possa alegar ignorância” (p.97). Neste caso, de forma aparentemente contraditória, o uso de uma forma de comunicação, como o som dos bandos, não significa pura e simplesmente a reprodução de práticas políticas típicas do Antigo Regime, mas a sujeição dessa forma às pressões exercidas pela reconfiguração da funcionalidade dos espaços públicos. Portanto, ambos os panfletos são amostras do quanto as formas de interação social e política se transformavam naquele período, sobretudo porque amplas camadas da população eram expostas ao debate público, embora o alcance dessas práticas entre os sujeitos sociais ainda necessite ser melhor investigado, possibilitando a “intervenção do indivíduo comum na condução dos destinos coletivos” (p.9), e assim permitindo que as opiniões ganhassem força.
É sob este aspecto que os organizadores de Às armas, cidadãos! justificam a publicação dos panfletos manuscritos e, ao mesmo tempo, traçam a distinção de linguagem destes em relação aos impressos. Os panfletos, sejam manuscritos ou impressos, “transformaram-se em instrumentos eficazes de promoção do debate e, mais ainda, da ampliação de seu alcance, graças à prática de leitura coletiva em voz alta” (p.9), não obstante o estilo mais simples dos folhetos manuscritos chamem a atenção. Dentre outras coisas, caracterizavam-se por motivações mais imediatas e voltadas a despertar as emoções de uma audiência motivando antipatias em relação a determinadas personalidades ou convocando a população à ação política direta. Um dos alvos prediletos dos panfletários era Tomás Vilanova Portugal, ministro de D. João VI, defensor da manutenção da Corte no Brasil e opositor radical dos revolucionários do Porto. No “Panfleto 23”, o ministro encabeçava a lista de nomes de pessoas que deviam ser presas na intenção dos eleitores do novo governo do Rio de Janeiro que circulou em 1821. E no “Panfleto 24”, num poema sem data, seu autor, “um Amante da Pátria”, recomenda ao ministro que ele fizesse chegar ao rei aquele ultimato em versos: “Assina a Constituição / Não te faças singular, / Olha que a teus vizinhos / Já se tem feito assinar. / Isto não só é bastante, / Deves deixar o Brasil, / Se não virás em breve / A sofrer desgostos mil.” (p.170).
Já os impressos, via de regra, destacam-se por desenvolver argumentos e interpretações mais complexas e buscarem, com certo grau de didatismo político, esclarecer e/ou convencer a opinião pública a se posicionar a favor ou contra determinado princípio ou projeto político em debate. A linguagem dos panfletos manuscritos é, com frequência, mais violenta e contundente, as vezes grosseira, como ocorre no “Panfleto 26”, em que o autor de um poema português relata a entrada em Lisboa, após viagem ao Brasil, de William Carr Beresford, militar britânico que comandou o exército português na luta contra os franceses e que exerceu durante a regência um grande poder. Já no título, o sarcasmo: “Obra nova intitulada entrada do careca pela barra”. E na sequência, insultos direcionados ao militar e aos brasileiros: “Tornastes a voltar filho da Puta / Do País das araras, e coqueiros / Oh mal haja os Bananas Brasileiros / Que vivo te deixaram nessa luta” (p.182). Esse tipo de afronta, em certo sentido, contrasta com a prudência com que falavam e agiam boa parte das vezes os redatores dos periódicos e panfletos impressos, em sua maioria, homens instruídos – negociantes, bacharéis, clérigos e militares. Para os organizadores, esse fato se explica em parte pela origem popular dos papéis manuscritos e pela precária liberdade de imprensa vigente à época, que proibia a veiculação de certas informações nas tipografias oficiais e particulares (p.24).
Nesse sentido, em Às armas, cidadãos! os aspectos formais que distinguem os panfletos também são representativos das assimetrias sociais existentes entre os partícipes do movimento político, pois “se os panfletos impressos da mesma época revelam intenso debate político entre letrados em torno dos grandes problemas do momento, os manuscritos sobressaem pela revelação das ruas na ‘guerra literária’ da constitucionalização e da independência” (p.31). Ao sublinhar tais diferenças o livro abre um diálogo com as pesquisas dedicadas à amplitude social dos envolvidos nesse processo histórico, o que é bastante louvável. Por outro lado, a não inclusão dos panfletos impressos, como ressaltamos ao longo da resenha, prejudica uma visão de conjunto sobre a documentação e a amplitude de outros temas por ela suscitados. De todo modo, Às armas, cidadãos! apresenta resultados já expressivos, mas quiçá pode ser considerado ainda em desenvolvimento.
Rafael Fanni – Mestrando em História pela Universidade de São Paulo (FFLCH/ USP – São Paulo/Brasil) e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), E-mail: [email protected]
CARVALHO, José Murilo de; NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira das; BASILE, Marcello Otávio de Neri Campos (Orgs.). Às armas, cidadãos! Panfletos manuscritos da Independência do Brasil (1820-1823). São Paulo / Belo Horizonte: Companhia das Letras / Editora UFMG, 2012. FANNI, Rafael. A força da opinião: panfletos manuscritos na independência do Brasil. Almanack, Guarulhos, n.5, p. 199-202, jan./jun., 2013.
Historia Regional e Independencia del Uruguay. Proceso histórico y revisión crítica de sus relatos | Ana Frega
Não deixa de ser irônico que uma obra publicada por um projeto de comemoração do bicentenário da independência do Uruguai, celebrado em 2010, tenha como recorte temporal o período de oficialização da dominação luso -brasileira na região (1821) até a promulgação da constituição da República Oriental do Uruguai (1830), ponto de partida para a construção do Estado uruguaio ao longo do século XIX. Entretanto, é justamente essa leitura nacionalista e anacrônica que a publicação de Historia Regional e Independencia del Uruguay. Proceso histórico y revisión crítica de sus relatos busca reavaliar.
A crise de Baiona, as suas repercussões juntistas espalhadas pela Espanha e seus domínios ultramarinos, bem como as subsequentes revoluções de ruptura dos laços coloniais têm espaço cativo na produção historiográfica ibero-americana há algumas décadas. A produção acerca da formação do Estado nacional no Uruguai, todavia, é mais problemática. A maior incidência de obras sobre a Banda Oriental é fruto da produção de intelectuais e políticos da segunda metade do século XIX até meados do século XX. Em sua maioria figuram obras decorrentes da interpretação baseada na idéia da pré-configuração estatal do Uruguai, onde a nação, para autores como Francisco Bauzá, Pablo Blanco Acevedo e Juan E. Pivel Devoto, sempre existiu e a independência apenas daria forma a uma unidade cultural, histórica e social determinada desde a época colonial. Embora essa posição, intitulada por José Carlos Chiaramonte como “mito das origens”, tenha sido refutada e debatida por historiadores, diletantes ou não, como Carlos Real de Azúa, Alberto Zum Felde e Tomás Sansón, ainda permanece influente no imaginário uruguaio.
A dominação luso-brasileira, durante o período de vigência da Província Cisplatina (1821-1828), tem ainda menor espaço na produção acadêmica. Embora, ainda pouco analisada na historiografia brasileira, há alguns anos a região faz parte da preocupação de estudiosos do período. No Uruguai os recortes apontam a atuação artiguista da década anterior como de luta por sua independência. Pois é este, justamente, o marco historiográfico de destaque nos seis capítulos da obra coordenada por Ana Frega, apontando caminhos e revisitando “verdades” do processo histórico uruguaio, argentino e brasileiro.
Contudo não é apenas no corte temporal que a obra inova na análise. Seguindo os pressupostos dos renovados estudos de história regional, o “país fronteira” (p.14) Uruguai é pensado considerando as relações com o todo, superando, dessa forma, os limites delimitados pelos antigos domínios ibéricos coloniais e pela demarcação de fronteiras estáticas e fechadas. Levando em consideração essas concepções, a obra apresenta três eixos condutores de investigação: as alternativas independentistas da região da Banda Oriental formuladas em relação aos demais projetos que vão se constituir na área; as identidades políticas e sociais formuladas em consequência desses projetos e, por fim, a participação política de distintos grupos étnicos e sociais nas guerras de independência.
Em Alianzas y proyectos independentistas en los inicios del “Estado Cisplatino”, Ana Frega apresenta e analisa um levante organizado por espanhóis peninsulares e espanhóis americanos no Rio de Janeiro, em 1821. A ação que buscava a reintegração do território da Banda Oriental à nação espanhola, segundo a autora, é conhecida pela historiografia, entretanto não é visualizada como parte das ações ocorridas em consequência da derrota do projeto artiguista. O movimento liderado por Mateo Marganiños e pelo Conde de Casa Florez conjugava grupos que haviam lutado com diferentes interesses durante a primeira década revolucionária. Todavia, nesse momento compartilhavam a recusa ao reconhecimento da ocupação luso-brasileira e a distância dos projetos centralistas de Buenos Aires. O retorno ao controle espanhol seria a única maneira de se opor aos outros movimentos de ocupação da região. Apesar de pensada e planejada a ação não foi executada.
As vicissitudes da guerra e dos distintos projetos de estado dentro da Banda Oriental são abordadas por Inés Cuadro Cawen em La crisis de los poderes locales. La construcción de una nueva estructura de poder institucional en la Provincia Oriental durante la guerra de independencia contra el imperio del Brasil. A pesquisadora se concentra na instalação do governo provincial organizado política e administrativamente em Canelones, durante a Guerra Cisplatina (1825-1828). A estruturação administrativa da Província Oriental significou, em um período de conflito armado, investimentos de altos custos aos cofres locais, gerando protestos das elites que além de perder antigos privilégios arcariam com muitos dos custos da nova política fiscal. As medidas também contrabalancearam o poder local, os vecinos e os líderes militares orientais na campanha acabaram tendo o poder suprimido em relação à Buenos Aires, medidas que foram revogadas com o “Golpe lavallejista” em 1827, porém não retornaram à antiga forma, a exemplo dos cabildos que permaneceram extintos.
As negociações pelo fim do conflito são discutidas por Ana Frega no capítulo La mediación británica en la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil (1826-1828). Una mirada desde Montevideo. A participação da Inglaterra nas negociações que deram fim a Guerra Cisplatina e origem a República Oriental do Uruguai é avaliada a partir dos comentários e críticas do Cônsul da Inglaterra em Montevidéu (1824-1829) Thomas S. Hood, de comerciantes britânicos instalados na região e dos periódicos britânicos de circulação no Prata e/ou na Europa. A autora argumenta que a independência do Uruguai visualizada a partir dos extremos do destino manifesto do povo oriental e, na outra ponta, da simples negociata britânica incorrem no mesmo erro: não interpretar a complicada conjuntura regional, as dinâmicas que estavam ocorrendo no território da Banda Oriental, com distintos projetos de construção estatal e as pressões econômicas de países como Inglaterra, França e EUA, sendo a independência, por conseguinte apenas “uno de los resultados posibles” (p.101). A documentação analisada demonstra essa variedade de posições, o crescimento do rechaço a brasileiros e buenairenses conforme o avanço do conflito, embora essa posição tenha se situado dentro de interesses e temores variados. Mesmo que a independência plena tenha se tornado um objetivo comum a esses grupos, ela mesma era entendida de formas diferentes por aqueles que a defendiam.
A mesma historiadora é autora de La “campaña militar” de las Misiones en una perspectiva regional: lucha política, disputas territoriales y conflictos étnicos. A disputa ocorrida em um espaço fronteiriço, uma zona de diversidade cultural com vínculos familiares e associativos que ultrapassavam os limites formais, é avaliada a partir da história regional, destacando os grupos (de Corrientes, Brasil, Buenos Aires, Paraguai e a Banda Oriental) com interesse na região missioneira e os conflitos étnicos e sociais acontecidos em decorrência das beligerâncias. Além de uma complexa trama de relações e interesses, a região missioneira abrigou distintos atores nos conflitos, entre eles estão caudilhos em busca de poder na Banda Oriental, proprietários de terra sul-rio-grandenses, negros recém-libertos e/ou fugitivos, indígenas que compunham ambas as tropas, formando um mosaico social e geográfico definido mais nitidamente apenas na segunda metade do século XIX com a demarcação das fronteiras nacionais.
A questão dos limites nacionais e da dinâmica fronteiriça também é assunto de Ariadna Islas em Límites para un Estado. Notas controversiales sobre las lecturas nacionalistas de la Convención preliminar de Paz de 1828. Apoiando-se em rica documentação e na análise cartográfica a pesquisadora se posiciona contra as análises anacrônicas da construção das fronteiras do Estado uruguaio e reconstitui o processo histórico que definiu os limites do país. A ausência da demarcação das fronteiras do novo Estado criado com a Convenção preliminar da Paz de 1828 gerou diversas interpretações e conflitos na historiografia uruguaia. O maior problema apontado se localizava na única fronteira territorial entre Império do Brasil e a República Oriental do Uruguai, cujos limites foram discutidos entre as duas nações de 1851 até 1973. Geralmente as discussões em torno das fronteiras produzidas pela historiografia nacionalista uruguaia apontavam a usurpação, a invasão e ocupação ilegítima do território projetado pela nação que teria na totalidade territorial um dos itens necessários para sua soberania. A questão dos limites se tornou uma ferramenta de tradição ideológica e uso político impondo noções de um território projetado e imaginário que o Estado uruguaio deveria alcançar. Entretanto, Islas aponta que na realidade, no momento da assinatura do tratado, nenhuma das partes envolvidas tinha força o suficiente para se impor nas negociações e ocupar militarmente as áreas em conflito. Dessa forma, as regiões debatidas poderiam fazer parte de quaisquer dos projetos estatais e nacionais que as reivindicassem.
A participação de políticos intelectuais na construção do imaginário nacional é o foco de María Laura Reali em La reflexión de Luis Alberto de Herrera en torno a Gran Bretaña como árbitro internacional en el proceso de independencia del Uruguay. Os escritos do político e historiador demonstram a sua profunda admiração pela Inglaterra, uma nação considerada por ele tradicional e consciente de seu passado, e nas negociações de paz um árbitro imparcial. Dessa forma, Herrera evidencia a relevância dos representantes orientais nas negociações de paz, com destaque para Juan Antonio Lavalleja (1784-1853) e a natureza da nação a ser construída. A exemplo de outros historiadores revisionistas, a influencia inglesa na região em termos históricos e econômicos é vista como positiva e exemplar para o Uruguai repensar sua própria experiência (p. 250).
Para finalizar, destaca-se que Historia Regional e Independencia del Uruguay. Proceso histórico y revisión crítica de sus relatos é uma das primeiras obras de fundo e com pesquisadores profissionais trabalhando em conjunto que se volta para a independência nacional do Uruguai. Mais do que textos definitivos ou revoluções teórico-metodológicas, o livro aponta caminhos e renova a atenção sobre o processo histórico que é significativo para todas as nações que compõem a região platina.
Murillo Dias Winter – Mestrando em História pela Universidade de Passo Fundo (UPF – Passo Fundo/Brasil). E-mail: [email protected]
FREGA, Ana (coord.). Historia Regional e Independencia del Uruguay. Proceso histórico y revisión crítica de sus relatos. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2011. Resenha de: WINTER, Murillo Dias. Identidades, guerra e limites – A independência do Uruguai revisitada. Almanack, Guarulhos, n.5, p. 203-205, jan./jun., 2013.
Capítulos de história do Império | Sérgio Buarque de Holanda
Foram significativas as vezes em que Sérgio Buarque de Holanda se envolveu na revisão e ampliação de suas próprias obras. Talvez o melhor exemplo seja o caso da revisão de Monções, originalmente publicada em 1945, e que, durante toda a década de 1960, passou por um processo de ampliação e reescrita. Na primeira metade da década o autor reescreveu alguns dos seus capítulos, publicados em 1964 na Revista de História (USP), e posteriormente acrescentados como apêndice da terceira edição da obra (Editora Brasiliense, 1990). Em 1965, Sérgio emplacou um projeto de pesquisa na FAPESP, e com o apoio ampliou a pesquisa de arquivos, voltando três vezes à Cuiabá, realizando uma visita aos arquivos portugueses (Arquivo Histórico Ultramarino e Biblioteca Nacional de Lisboa), além de uma ida aventuresca ao Paraguai no fusca creme com sua esposa, Maria Amélia, ao volante. Os manuscritos produzidos com esta pesquisa são conhecidos graças ao empenho de seu aluno, o professor hoje aposentado da USP José Sebastião Witter, que cuidou da edição e, a partir dos originais, publicou a obra O extremo oeste (Editora Brasiliense, 1986). Tudo leva a crer que Sérgio Buarque pretendia não apenas reescrever Monções aumentando consideravelmente o aparato crítico e documental da obra, mas duplicá-la, dividindo o trabalho em dois assuntos: o das monções de exploração e das monções de povoamento.
O caso descrito nas linhas acima se assemelha ao mais recente, da publicação de Capítulos de História do Império, obra póstuma de Sérgio Buarque de Holanda publicada em 2010; é uma edição organizada por Fernando Novais a partir de um manuscrito original de mais ou menos 150 páginas. Apesar das poucas informações disponíveis sobre a origem e o tratamento do manuscrito, sabemos que se trata de trabalho inconcluso ao qual Sérgio Buarque se dedicou praticamente até a sua morte, em abril de 1982, tanto que em entrevista a Richard Graham, publicada em fevereiro do mesmo ano na revista The Hispanic American Historical Review (v.62, n.1), o historiador brasileiro afirma estar naquele momento empenhado na escrita do que seria seu mais importante livro.
A intenção de Sérgio Buarque de Holanda era a revisão, reestruturação e ampliação do livro Do Império à República, volume publicado em 1972 como desfecho do tomo O Brasil Monárquico da série História Geral da Civilização Brasileira (Difel), empreitada que coordenava desde o início dos anos 1960. Assim como gostaria de fazer com Monções, o desejo do autor, manifestado na mesma entrevista a Graham, era reorganizar o material ampliado em dois volumes. Segundo o que indica Evaldo Cabral de Mello no “Posfácio” da obra, o primeiro volume, O pássaro e a sombra “deveria chegar até a crise política de 1868”, já o segundo, A fronda pretoriana “até o golpe militar que implantou a República entre nós” (p.225).
Do Império à República é estruturado em cinco livros de quatro capítulos cada (com exceção do segundo livro que possui três capítulos). O primeiro livro, Crise no Regime se fixa na crise político-partidária de 1868, quando D. Pedro II agiu segundo as prerrogativas do Poder Moderador substituindo, sem a convocação de eleições gerais, o gabinete liberal de Zacarias de Goes e Vasconcelos pelo conservador do visconde de Itaboraí (tratados no dois primeiro capítulo, Crise no regime). Este evento, no qual o poder pessoal do monarca aparece em estado puro – elemento caracterizado no segundo capítulo, Um general na política – enseja uma retrospecção que ilumina a dinâmica político-partidária do segundo reinado a partir dos últimos gabinetes de conciliação em fins da década de 1850, que permeia todo o livro segundo, O pássaro e a sombra, até uma volta aos eventos de 1868, aberta pelo terceiro e último capítulo do livro, O fim do segundo quinquênio liberal, e desenvolvida ao longo do livro terceiro, Reformas e paliativos. Este livro avança no tempo abordando o contexto de aprovação da lei do Ventre Livre, em 1871, até o conflituoso contexto de discussões sobre reformas constitucionais e eleitorais que marcaram o final da década de 1870 e início da década seguinte, que culminaram com a Lei Saraiva, de 1881. As circunstâncias de sua aprovação são, por sua vez, esmiuçadas no livro quarto, Da “constituinte constituída” à lei saraiva, que progride até a solidificação do movimento republicano e de um clima de insatisfação geral nas províncias. Por fim, o livro quinto, A caminho da República, parte de uma breve análise sobre a incapacidade de adaptação do regime às novas bases sociais, ligadas à dinâmica da produção cafeeira (no primeiro capítulo, Resistência às reformas), até a solidificação do exército como protagonista (no terceiro capítulo, A fronda pretoriana), passando pela análise da emergência das novas bases ideológicas republicanas (no segundo capítulo, Da maçonaria ao positivismo).
Como se pode observar por meio do esquema acima, Da Monarquia à República é executado sobre um plano que combina a exposição cronológica dos eventos com incursões retrospectivas em camadas. Este movimento de fluxo e refluxo temporal se ancora em certos eventos, momentos decisivos, que expõe os impasses e fraturas que estarão na base da derrocada do regime. Grosso modo, cada um dos livros se liga a um momento chave que se sobrepõe em camadas e reproduz a sistemática descrita. Também deve ser notada a coesão do conjunto, já que as partes são meticulosamente subordinadas a um eixo argumentativo principal, que se apresenta na forma de impasse: a missão imperial de garantir a unidade dos territórios nacionais não só sedimenta, mais intensifica o abismo entre o Estado central e os grupos sociais por ele representados. O resultado é um processo crescente de concentração de poder discricionário, que tem na proclamação da República o seu ponto culminante.
Seguindo esta perspectiva, seus marcos principais são os “estelionatos” (como define em Do Império à República) políticos cometidos em 1868, com a já mencionada ascensão do gabinete conservador, o de 1881, das reformas eleitorais da Lei Saraiva, e, finalmente, o próprio golpe militar de 1889 que pôs fim à Monarquia. Estes momentos são decisivos pois, neles, o autoritarismo aparece de maneira clamorosa, expondo a falta de respaldo social e político; a fratura crescente entre Estado e sociedade na formação da nação. Em outras palavras, Do Império à República pode ser entendido como a história do paradoxo da fundação de uma nação por meio da governança autoritária, sem base social orgânica. Fica evidente que, como grande historiador, Sérgio Buarque falava do passado ao mesmo tempo em que se posicionava no presente já que o período de escrita da obra corresponde aos anos de chumbo da Ditadura Militar brasileira, entre finais da década de 1960 e início da década de 1970.
Mas se Do Império à República é um trabalho de história tão benfeito, cumpre inevitavelmente a pergunta: porque então dedicar quase obsessivamente os últimos anos de vida a alterá-lo? Uma forma de começar a entender esta questão é analisar brevemente os pontos do livro que seriam modificados ou ampliados com o manuscrito Capítulos de História do Império. Infelizmente, como alertou Evaldo Cabral de Mello no “Posfácio” (p.228), o texto que ora conhecemos corresponde apenas ao trecho reescrito dos dois primeiros livros de Do Império à República, que vai da Conciliação à articulação do gabinete conservador de 1868; ou seja, considerando a concepção dos dois volumes, deve-se notar que Sérgio Buarque ainda trabalhava no primeiro, O pássaro e a sombra.
É possível que os recortes temporais do O pássaro e a sombra e A fronda pretoriana fossem mais permeáveis do que sugeriu Evaldo Cabral. O primeiro poderia evoluir para além de 1868 e o segundo poderia regredir em relação a este marco. Um dos indicativos disso é que A fronda pretoriana, seguindo hipótese do próprio Sérgio Buarque no capítulo homônimo de Do Império à República (o terceiro do livro quinto), deveria abranger a história do fortalecimento político do exército desde a Guerra do Paraguai, regredindo ao longo da década de 1860. Em sua versão conhecida, a hipótese do autor não é adequadamente desenvolvida, pois é contida pelos limites do capítulo que trata da derrocada do Império desde a Lei Saraiva de 1881, que havia sido tema do livro anterior. Outro indicativo é o fato de que a Guerra do Paraguai praticamente não aparece em Capítulos de História do Império, apesar de ter sido abordada com minúcias justamente na região englobada pela reestruturação das obras, entre o final do livro primeiro e segundo de Do Império a República. É provável, portanto, que os capítulos em que trata da formação do exército, tanto em sua base ideológica quanto material, fossem agrupados e reelaborados, compondo, A fronda pretoriana.
Outra modificação temporal que se pode inferir a partir dos manuscritos é o prolongamento do O pássaro e a sombra até o evento da Independência, tema do primeiro capítulo, “Para uma pré-história do império do Brasil”. Trata-se de uma recuperação do que o autor desenvolveu em A herança colonial – sua desagregação, texto de abertura do segundo tomo, referente ao Brasil Monárquico, publicado em 1961, em sua História Geral da Civilização Brasileira, pois sua preocupação é caracterizar o estranho conluio entre ideias liberais e nossas estruturas coloniais (“o que em realidade poderia acontecer era que as ideias e fraseados de importação passariam a ser reinterpretados no contexto das estruturas herdadas”, p.22). Neste terreno, segundo o autor, as tendências emancipatórias e federalistas encontravam solo fértil para se desenvolver, já que a herança da atividade colonizadora era a própria desagregação política, social e econômica dos territórios.
Nesse mesmo esteio, o que pode ser diretamente associado ao texto de 1961 é o esforço de Sérgio Buarque em desnaturalizar a emergência da nação brasileira como um evento inevitável. Pelo contrário, e de forma até mais clara que em Herança Colonial, o autor procura restituir aos eventos ocorridos sua condição de mera possibilidade em um complexo quadro, coisa que fica evidente a partir da página 28, quando se esmiúçam detalhes das discussões dos representantes das províncias brasileiras nas Cortes. Evidentemente, esse exercício abre as portas para se compreender que a unificação nacional foi o resultado de uma luta travada durante todo o período monárquico e o principal condicionante de sua dinâmica política.
A nação e os partidos e Entre a liga e o progresso, capítulos segundo e terceiro, continuam o argumento, caracterizando a dinâmica político-partidária do Império nas décadas de 1840 a 1860 e tendo como marco referencial um momento chave. O primeiro é o da prática política da Conciliação, que foi estabelecida a partir do gabinete presidido por Carneiro Leão (1853-56), como um modo de reintegração no poder central das oligarquias regionais e haviam sido marginalizadas no período de 1848-53, momento de predomínio saquarema. O segundo momento, é o da Liga Progressista, que narra o equilíbrio instável dos partidos entre 1864 e 1868. Pode-se dizer sobre essa dinâmica partidária que o liberalismo de fachada associado ao conservadorismo da mentalidade colonial resistente contribuía para tornar a fronteira entre os partidos liberal e conservador altamente permeável. Ao contrário do que se pode esperar, esta fronteira não foi melhor definida entre os partidos ao longo do Império, não apenas devido a tendências que defendiam a simples extinção do sistema partidário (p.39-43), mas sobretudo devido ao quadro problemático causado pela “supressão do tráfico transoceânico” (p.53), que impunha a manutenção de certa coesão política sob o risco de descontrole social.
Emerge, neste contexto, o poder pessoal do monarca D. Pedro II como elemento fundamental do sistema, pois sua atuação garante a ordem e, assim, a própria existência do Estado. Este é o tema desenvolvido no quarto capítulo, Por graça de Deus, que talvez seja dos textos mais bem escritos de toda a carreira do autor. Nele, a reconstituição do modus operandi do monarca se apresenta de forma vívida, tal como na melhor ficção realista do século XIX, se misturando de forma natural com a precisão do recurso a uma ampla gama de fontes históricas. Esse grau avançado de lapidamento do texto deve-se ao fato de que estas páginas coincidem justamente com certas passagens mais ou menos reescritas dos primeiros capítulos de Do Império à República.
Na descrição de Sérgio Buarque de Holanda, as características da personalidade sóbria e reservada do monarca operam como uma espécie de metonímia da trajetória política da nação, a representação mais perfeita da associação entre arcaico e moderno que caracteriza a visão do autor. O trecho em que fala do esforço de D. Pedro em evitar qualquer opinião pessoal, sustentando uma imagem institucional (que aparece em sua correspondência com Gobineau), tem a sua correspondência em Do Império à República (p.16-17 da 5o edição, de 1997). Nas páginas seguintes deste volume são abordadas sua impessoalidade frente aos ministros, assim como a pretensa soberania que conferia aos seus gabinetes, trechos que reaparecem muito alterados nas páginas 120-123, dos originais de Capítulos. O parágrafo final deste que é o capítulo 2 do livro 1 de sua obra de 1972 que corresponde à sequencia linear das passagens descritas acima aparece em Capítulos apenas entre as páginas 141 e 142. Por condensar a essência de sua visão sobre D. Pedro II, segue, abaixo a sua transcrição:
De fato os poderes imperiais que tentavam dissimular-se funcionaram muitas vezes como catalizadores de uma resistência surda às mudanças na estrutura tradicional, quando as mudanças importavam mais do que uma estabilidade estéril e mentirosa. Era pela supressão dos abusos que comportava a praxe eleitoral e talvez preferisse o sufrágio universal, mas reputava-a “ainda por ora impraticável”, conforme se pode ler na Fé de ofício, mas as medidas que tiveram nesse sentido sua a aprovação acabaram por afastar drasticamente das urnas a quase totalidade da população ativa do Império e transformaram o direito de votar em um privilégio. Queria a extinção do trabalho escravo, mas achava que toda a prudência era pouca nesse assunto e, estivesse no país em maio de 1888, não teria sido assinada a “lei áurea”, como ele próprio chegou a admitir. Queria que o país tivesse sempre em boa ordem as finanças e a moeda sólida, por lhe parecerem exigidas por uma elementar prudência, ainda quando a realização de tais desejos pudesse perturbar a promoção do desenvolvimento material, da instrução pública, da imigração, que também queria. Ora, a meticulosa cautela deixa de ser virtude no momento em que passa a ser estorvo: lastro demais para pouca vela.
Agindo na superfície como um rei típico de uma monarquia constitucional parlamentar, que “reina mas não governa” (p.167), D. Pedro II manobrava com sutileza as estruturas reminiscentes absolutistas, sendo de fato o soberano condutor do pacto de unificação nacional. O desenvolvimento deste tema em continuidade com o capítulo que trata da personalidade de D. Pedro II é o último da primeira parte de Capítulos de história do Império, Crise no Regime. Nele é abordada a crise política de 1868, quando D. Pedro II lança mão do Poder Moderador e empossa o gabinete conservador do visconde de Itaboraí, desvelando justamente a concentração de poder de fato do monarca. Este capítulo também possui correspondência direta com o capítulo 1 livro 1, de mesmo título, Do Império à República e nele podem ser encontrados trechos reescritos especialmente das duas ou três primeiras páginas concentrados nas p.146 e p.152-154 de Capítulos.
Os últimos dois capítulos do livro, desprovidos de título e que compõem a segunda parte, possuem redação menos acabada do que os outros além de voltarem a alguns assuntos já tratados; inclusive com algumas repetições. A primeira parte do capítulo I ainda se relaciona com os dois anteriores, analisando a forma sutil com que o monarca exercia o seu poder pessoal em contraste com os modelos franceses e ingleses de governo (p.163-169). Nas páginas seguintes há um salto para uma breve análise dos efeitos potencializados nas províncias da instabilidade no governo central. O segundo capítulo volta a analisar a sistemática de rotação dos partidos e substituição “em massa de empregados públicos”. O que há de comum entre esses temas é que eles compõem o quadro explicativo do “estelionato” político que colocou os saquaremas no poder em setembro de 1848, frente às notícias das revoltas na Europa ocorridas naquele ano (p.184-188). Enquanto o segundo capítulo esmiúça o evento em si, o primeiro capítulo trata das circunstâncias anteriores no governo central e nas províncias. Isso significa que se trata de uma parte complementar e inacabada (ou simplesmente descartada) do capítulo 2 da primeira parte de Capítulos de História do Império; em outras palavras, trata-se ainda de partes referentes ao processo de escrita do que seria provavelmente o volume O pássaro e a sombra.
Resta retomar a pergunta feita no início deste texto. Se Do Império à República é um livro tão bem executado porque então dedicar os últimos anos de vida a reescrevê-lo? Procurando encaminhar uma resposta provisória diante do que foi dito até aqui, podem-se realizar duas considerações. A primeira é que, de fato, Capítulos de história do Império, apesar de inacabado, coincide mais ou menos com o que seria o volume O pássaro e a sombra, reescrita dos primeiros livros de Da Monarquia à República. Além disso, o plano original do livro seria prolongado conservando, em princípio, o método de execução peculiar e a linha argumentativa. O pássaro e a sombra e A fronda pretoriana comporiam uma espécie de história do autoritarismo brasileiro no século XIX, ou, em outras palavras, uma história do abismo entre estado e sociedade na formação da nação. Enquanto Do Império à República abrange as últimas duas décadas do Império em dois ou três momentos decisivos, a obra inacabada abrangeria desde a independência até a República incluindo mais momentos em que o autoritarismo é exposto visceralmente: a outorga da constituição em 1824, a ascensão do gabinete conservador de 1848, a Conciliação, A Liga Progressista, a crise de 1868 (no O pássaro e a Sombra), e O Ventre Livre, a Lei Saraiva de 1881, e finalmente a eclosão da república em 1889.
A segunda consideração diz respeito ao fato já observado por Fernando Novais na Nota Introdutória aos Capítulos e também por Izabel Marson em resenha da mesma obra pulicada na revista Estudos Avançados em 2011 (v.25, n.71). O tema tratado em Capítulos de história do Império guarda notável semelhança com o mote central de sua obra de estreia, Raízes do Brasil: o impasse gerado pelo recurso ao autoritarismo de matriz absolutista, traço fundamental da herança colonial, como ferramenta da unificação nacional. Recurso este que só tornava mais evidente e endêmico o descompasso entre Estado recémformado e os grupos sociais no anseio de representação. O estudo sistemático das semelhanças e diferenças entre as obras ultrapassam o limite e o formato do presente texto e serão tratados em ensaio a ser publicado em breve.
Na explicação para o afã de revisão que gerou os manuscritos que hoje conhecemos como Capítulos de história do Império se esconde um desejo de deixar um legado definitivo, produzindo um elo entre as duas extremidades de sua própria obra, da sua obra de estreia à sua obra derradeira. O fato de não ter conseguido concluir sua missão é emblemático, pois, Sérgio Buarque de Holanda também havia revisado radicalmente Raízes do Brasil até que ganhasse a feição que conhecemos, e mesmo assim, até o final da sua vida, demonstrava grande descontentamento com o seu ensaio. Em sua visão de historiador maduro, seu livro de estreia era demasiado ensaístico, reducionista e pouco fundamentado, justamente os defeitos opostos às qualidades do seu último e derradeiro texto.
Thiago Lima Nicodemo – Professor do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES – Vitória / Brasil) e pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB – USP). E-mail: [email protected]
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de história do Império. Organização de Fernando A. Novais. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Resenha de: NICODEMO, Thiago Lima. A obra derradeira e inacabada de Sérgio Buarque de Holanda. Almanack, Guarulhos, n.5, p. 206-211, jan./jun., 2013.
Acessar publicação original [DR]
Poder e palavra. Discursos, contendas e direito de padroado em Mariana (1748-1764) | Patrícia Ferreira dos Santos
Poder e palavra. Discursos, contendas e direito de padroado em Mariana, é fruto da tese de mestrado de Patrícia Ferreira dos Santos, defendida em 2009 na Universidade de São Paulo e orientada por Carlos de Almeida Prado Bacellar. Este trabalho se enquadra num amplo movimento de renovação dos estudos sobre a Igreja no mundo português da época moderna e mais especificamente sobre a Igreja no Brasil colônia. A partir de um uso renovado e muitas vezes inédito – já que as fontes, apesar de por vezes de difícil acesso, existem – da documentação, a autora contribui para uma melhor compreensão das lógicas de funcionamento das instituições episcopais e das conflitantes relações com os representantes do poder civil, e com os próprios membros da igreja mineira do período em que governou o seu primeiro bispo, d. fr. Manuel da Cruz (1748-1764).
O livro está dividido em cinco capítulos, tradicionalmente organizados de modo a partir dos temas mais amplos aos mais específicos, dando assim ao leitor informações cada vez mais precisas sobre a problemática em pauta. O capítulo 1, “Jogos de forças: atores e instituições”, sobrevoa o processo de construção das relações Estado e Igreja em Portugal, desde a formação do padroado régio a partir do contexto da reconquista e do modo como a coroa pouco a pouco fortaleceu uma doutrina jurídica enquanto fundamento de sua atuação – e das ordens militares – nas conquistas ultramarinas, até o contexto das tensões geradas pelas reformas postas à obra durante a segunda metade do século XVIII, passando pelo importante e complexo jogo criado pelas reformas tridentinas. O segundo capítulo, “Imbricando forças”, estuda a formação da rede eclesiástica na região mineradora e sua paulatina implementação em paralelo, ou melhor, de modo imbricado, com a implantação da estrutura administrativa civil no que se tornaria a capitania das Minas e o bispado de Mariana. Servem aqui de exemplo – graças à abundância das fontes, como a autora explica em sua introdução – os casos de duas freguesias da região, a de Nossa Senhora da Conceição das Catas Altas e a de Nossa Senhora da Boa Viagem de Curral del-Rei. O terceiro capítulo, “O poder da palavra”, concentra-se na atuação do primeiro bispo de Mariana, d. fr. Manuel da Cruz, no que toca a implementação do aparato administrativo da nova diocese e a atividade de controle (das almas e dos corpos) do prelado, sobretudo por meio das cartas pastorais, importante instrumento de governo. O quarto e o quinto capítulos, “Contendas” e “Batalhas de jurisdição”, se debruçam finalmente sobre os vários episódios de tensão surgidos durante o episcopado de d. fr. Manuel da Cruz, e que, como dito, serve de baliza para toda a obra. Ali são descritas as contínuas trocas de acusações feitas entre o bispo, os fieis, os membros do cabido catedralício e os membros do governo civil em torno de questões de fiscalidade, jurisdição ou honra, sempre dentro da turva paisagem do padroado.
O objetivo do trabalho é contribuir para a compreensão da construção e da efetivação da autoridade episcopal no contexto específico das Minas. Movimento que na verdade resultou, como sempre aponta a autora, em amplos conflitos, não só com instituições e grupos já presentes naquela sociedade, mas inclusive com personagens surgidas apenas com a chegada do prelado, como é o caso do clero capitular. A problemática escolhida é claramente posta na página 101, ao fim da larga parte introdutória do livro, onde Patrícia Ferreira dos Santos se pergunta se a “imbricação de forças, da Igreja, do Estado, da justiça e da religião”, logrou a desejada coesão em prol da administração da capitania.
Para começar a responder a essa pergunta, o capítulo três se debruça de modo bastante original sobre a importância da palavra, ou seja, dos sermões e cartas pastorais, para a implementação do governo episcopal e assim também, de um maior controle do que fazia e pensava a população local. São destaques, a preocupação com o comportamento do clero e com a catequese dos escravos do bispado, questões que revelam a especificidade colonial daquela região, mas também algo da personalidade do prelado. Assim, é também neste capítulo que a autora apresenta a personagem principal e fio condutor do livro, o bispo d. fr. Manuel da Cruz.
É, contudo, nos capítulos seguintes, que se aborda a questão do problema dos inúmeros atritos criados ou sofridos pelo bispo: com seus párocos, sobre a questão da cobrança indevida de emolumentos; com os membros do cabido, pelo controle da nomeação a cargos e por questões de prestígio, contenda que se transformou em grave afrontamento; e, finalmente, com o governo civil, em questões de jurisdição sobre irmandades e sobre os próprios clérigos do bispado, em tempos em que o regalismo se firmava sem nenhuma ambiguidade no mundo português por meio da política pombalina em relação à Igreja.
Enfim, quais seriam as razões profundas de tanta discórdia? A autora, nas suas “considerações finais”, aponta o modo como o bem-estar dos povos e a defesa dos vassalos eram frequentemente mencionados pelos litigantes como fundamentos para as acusações portadas contra o oponente do momento, mas que esses párocos gananciosos, cabido escandaloso, bispo zeloso da sua posição e agentes civis em busca de alargamento de jurisdições, na verdade, não faziam mais do que reafirmar, nessas contendas, as vexações que eles próprios faziam sofrer à população. Ferreira dos Santos aponta assim para uma análise bastante restrita do contexto estudado, mas que ela própria mostra, em outras partes do seu texto, ser mais ampla. Ao descrever os vários litígios que d. fr. Manuel da Cruz esteve implicado, ela chama a atenção para as indeterminações das leis do Reino, causa de muitos conflitos de jurisdição (p. 227). Mais adiante, relembra o quanto a questão do padroado, devido a uma “certa indefinição de limites, papéis e campos de jurisdição” acabou pautando as relações entre a Coroa e a Igreja pela desconfiança (p. 255). Mas é ainda um pouco mais atrás que ela parece chegar mais perto de uma explicação, ao afirmar que “As batalhas de jurisdição […] criaram impasses que forçaram iniciativas de reformulação dos procedimentos e da atuação dos cargos e sua normatização, pela coroa” (p. 221). Tratava-se, assim, de um sistema político e também legal (ou seja: o sistema político e legal específico do Antigo Regime) que se pautava por uma multiplicidade de fontes normativas, e que estava habituado a tratar da administração do seu próprio corpo de modo bastante casuísta. Pode-se avançar a análise para uma tradicional interpretação do ‘dividir para melhor reinar’, mas não me parece que esta seja a melhor solução.
Poderiam ter sido úteis à autora algumas análises sociológicas da história política e religiosa da Europa da época moderna, como, por exemplo, aquelas vinculadas aos conceitos de disciplinamento social e de confessionalização, cunhados por autores alemães dos anos 1980 (ver a síntese que deles fez Federico Palomo, A Contra- reforma em Portugal. 1540-1700, 2006), mas na verdade já existentes, de certo modo, nas leituras da História das religiões de autores como Jean Delumeau (O pecado e o medo, 2003). Do mesmo modo, a “imbricação” entre governo civil e religioso, entre Estado e Igreja, numa sociedade de Antigo Regime que a autora aqui estuda, poderia ter sido melhor compreendida com uma leitura mais ampla dos trabalhos de José Pedro Paiva (alguns deles mencionados por Ferreira dos Santos), como a sua contribuição ao livro História Religiosa de Portugal, de 2000, ou o livro Os bispos de Portugal e do Império (1495-1777), de 2006. Nestes trabalhos o autor mostra o quanto os poderes civil e eclesiástico estavam interconectados em Portugal. Por um lado, este maior diálogo com a bibliografia poderia ampliar as perspectivas de análise de um governo episcopal tão bem documentado e, por outro, os conflitos estudados seriam ótimas ocasiões para se por à prova, ao nível regional das Minas – ou “micro” das paróquias de Catas Altas e de Boa Viagem –, os conceitos e as análises desenvolvidas pelos autores acima citados.
Bruno Feitler – Professor no Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH/UNIFESP – Guarulhos/Brasil). E-mail: [email protected]
SANTOS, Patrícia Ferreira dos. Poder e palavra. Discursos, contendas e direito de padroado em Mariana (1748-1764). São Paulo: Editora HUCITEC/ FAPESP, 2010. Resenha de: FEITLER, Bruno. Poder e jurisdição sob o episcopado de D. fr. Manuel da Cruz (1748-1764). Almanack, Guarulhos, n.5, p. 212-214, jan./jun., 2013.
Las independencias iberoamericanas en su laberinto: controvérsias, cuestiones, interpretaciones | Manuel Chust
Publicado em 2010, no contexto das celebrações do bicentenário das independências de diversos países hispano-americanos, o livro “Las independencias iberoamericanas en su laberinto: controversias, cuestiones, interpretaciones” foi organizado pelo Prof. Dr. Manuel Chust, especialista nos processos revolucionários da América do século XIX, da Universitat de Jaume I, situada na Espanha, na Comunidade Autônoma Valenciana.
Nas suas mais de quatrocentas e trinta páginas, a obra aproveita a efeméride para reunir importantes historiadores de várias gerações e de distintas partes da América Latina, bem como do Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Espanha e Estados Unidos para debaterem o tema das independências ibero-americanas.
A publicação é dividida em cinco partes, sendo a inicial, sua apresentação, escrita por Chust, que aponta, nesta porção, os objetivos da obra, a saber-se: primeiro, reunir historiadores, e não profissionais de outras áreas, para abordarem a questão das independências ibero-americanas, e trazer, assim, ao público, conclusões dentro de uma perspectiva histórica. O segundo é contar com renomados investigadores que dedicam suas pesquisas ao tema das independências. O terceiro, agregar pesquisadores europeus e americanos que reflitam sobre questões gerais que tenham permeado a historiografia sobre o assunto nos últimos trinta anos. Por fim, o último, englobar historiadores de variadas escolas e com diversas interpretações sobre este relevante capítulo da História ibero-americana, para levar aos leitores um estudo amplo, plural e diverso do tema explorado.
Além disto, dentre outras questões, nesta parte do trabalho, Chust apresenta dados que reiteram a importância da publicação – bem como, por conseguinte, de pesquisar-se sobre o assunto trabalhado –, como o fato de que as independências são um dos grandes temas da história universal do século XIX. Igualmente, o autor aponta a apropriação deste relevante capítulo histórico pelas histórias nacional e oficial, que dão o seu perfil, com doses de emoção e anacronismo, a este episódio.
Após a apresentação, Chust traz ao seu leitor o capítulo “El laberinto de las independencias”. Nesta parte o autor não nega o avanço historiográfico sobre o assunto nos últimos trinta anos, porém aponta alguns problemas que existem nas pesquisas sobre o tema, como, por exemplo, a proeminência de estudos de casos dominantes, que acabam por tornarem-se modelos gerais, ao passo que os processos de emancipação contam com várias especificidades, que acabam permanecendo esquecidas. Para ratificar o exposto pelo autor, basta rememorar a vastidão do espaço ibero-americano, com distintas realidades políticas, econômicas e sociais, como as existentes entre os pampas, os Andes e determinadas áreas litorâneas, conectadas, por antigas redes mercantis, à península ibérica.
Chust ainda demonstra fatores que levam a distorções históricas das explicações sobre as independências. Dentre eles encontram-se a permanência de interpretações a partir das fronteiras que dividem os atuais estados nacionais, raias estas estabelecidas posteriormente às emancipações, o olhar destes processos a partir do presente e de suas respectivas projeções e o abandono de “ferramentas” da História para analisá-los, a ingressar, deste modo, muitas das vezes, no entendimento sobre as independências, perspectivas nacionalistas.
Também nesta parte, o historiador espanhol traz panorama historiográfico sobre as independências nos últimos cinquenta anos, a englobar, dentre outros, os trabalhos de R.R. Palmer, de John Lynch e de François-Xavier Guerra. Ainda no que tange à questão historiográfica, Chust indaga qual a historiografia que está a ser feita no contexto do bicentenário e mostra que hoje já não há leitura hegemônica do tema, nem esquemas rigorosos como no passado, quando seguia-se, rigidamente, linhas propostas por alguns poucos autores. Vive-se, portanto, momento com maior pluralidade interpretativa, formação mais profissional daqueles que reconstituem a História, inclusive devido ao aumento de programas de mestrado e de doutorado na própria América Latina, e de maior acesso às fontes primárias.
No entanto, apesar de todos estes avanços existentes no âmbito acadêmico e acumulado ao longo das três últimas décadas, de uma maneira geral, estes aspectos, infelizmente, não chegaram à sociedade. A versão dos processos de emancipação que acaba por ser conhecida pela população em geral é, ainda, a nacionalista – com seus heróis e vilões nacionais –, mesmo que, às vezes, seja remodelada, a tornar-se, portanto, com determinado grau de diferença daquela proposta em períodos anteriores.
Consta, de igual modo, da segunda parte da publicação, periodização feita por Chust do processo revolucionário hispânico, válido para ser uma espécie de guia no labirinto das independências. O historiador propõe uma primeira fase, que abrange de 1808 a 1810, que ele batiza de “A independência pelo rei”, a ter como grande marco as abdicações de Baiona. Neste corte temporal, tanto os súditos americanos, quanto os peninsulares, declaram-se fiéis a Fernando VII, em oposição a José Bonaparte, imposto como rei da Espanha pelo seu irmão, Napoleão.
A segunda, de 1810 a 1815/16, é intitulada de “As lutas pela/as soberania/as”, período que abarca os anos finais da guerra contra Napoleão Bonaparte na Espanha, a realização das Cortes de Cádiz, o retorno, ao poder, de Fernando VII e, em seguida, do absolutismo. De acordo com Chust, é nesta temporalidade que há o embate entre os diversos atores políticos em torno da questão da soberania.
A terceira parcela da periodização engloba os anos de 1815/16 a 1820, definida por Chust como “A independência contra o rei”. Nela estaria incluída a oposição criolla ao absolutismo de Fernando VII e a consequente ação armada como via de resolução das querelas entre a América e a Espanha peninsular, em um contexto em que, na Europa, após o Congresso de Viena, constituía-se a Santa Aliança.
A quarta e última fração refere-se aos anos de 1820 a 1830, período em que está inclusa a vitória dos projetos emancipacionistas pelo caminho das armas. Chust também chama a atenção que é nesta década em que há o retorno ao constitucionalismo na Espanha, as independências de dois bastiões realistas, a Nova Espanha e o Peru, bem como a cisão do Brasil do Reino Unido português.
É importante destacar que mesmo com a proposta da periodização, Chust faz a relevante ressalva de que estes dados não são estáticos, nem válidos, em todos os momentos, para toda a América trabalhada no estudo. Exemplo mais elucidativo da afirmação do historiador é o caso do Brasil, que, por exemplo, em 1808, enquanto o mundo hispânico vive a acefalia em função do aprisionamento da família real espanhola, o príncipe regente português e sua corte se estabelecem no Rio de Janeiro.
A terceira parte do livro traz as reflexões dos quarenta historiadores que participam do projeto, e para que isto seja possível, são dedicadas cerca de trezentas e cinquenta páginas. Aos quarenta historiadores foram formuladas, por Chust, cinco perguntas, para que se tenha importante panorama, a partir de diferentes visões, dos processos de independências das Américas lusa e espanhola: “1) Qual é sua tese central sobre as independências?”, “2) O que provocou a crise de 1808?”, “3) Se pode falar de revolução de independência ou, pelo contrário, prevaleceram as continuidades do Antigo Regime?”, “4) Quais são as interpretações mais relevantes, a seu entender, que explicam as independências ibero-americanas?” e, por fim, “5) Quais os temas que, ainda, faltam ser pesquisados?”
A constatação das mais diversas respostas de renomados pesquisadores é o ponto principal do livro. Esta multiplicidade de visões torna de um sabor ímpar a leitura da publicação, que leva o leitor a transitar maravilhado pelo complexo labirinto que é o emaranhado das independências ibero-americanas e suas interpretações. Lembra-se, ainda, que o assunto envolve áreas, portanto, realidades tão dispares, que englobam do Vice-Reino do Prata à Nova Espanha, a passar pelo Brasil, ressaltando, assim, a diversidade existente nestas áreas americanas. É-se, de semelhante modo, convidado, na publicação, a trilhar, neste labirinto, as histórias dos reinos ibéricos, Portugal e Espanha, no período das independências.
Destaca-se que essa deleitosa gama de interpretações é importante incremento para o debate historiográfico sobre as independências. Semelhantemente, diante da indicação, por parte dos especialistas, de temas relacionados às emancipações que ainda necessitam ser estudados, há a perspectiva de surgirem novas pesquisas no sentido apontado, o que, sem dúvidas, acaba por contribuir com o desenvolvimento das investigações dedicadas ao assunto, tema tão caro à história dos oitocentos.
Após trazer o conjunto de historiadores, a parte seguinte da obra é dedicada aos seus respectivos currículos, meio válido para conhecer os vários profissionais que têm dedicado- se à pesquisa das independências, e, ainda, as suas participações acadêmicas em instituições de distintas partes do globo. Por último, o contato com os currículos é um meio de tomar nota das principais publicações dos investigadores, sendo que o consequente acesso às obras torna-se mais fácil nos atuais tempos da internet.
A última parte é intitulada “Bibliografia sobre as independências”. Também neste item é possível recorrer a vasta produção historiográfica sobre o assunto, com publicações editadas em diversas épocas e lugares, com autores de várias linhas de interpretação. Este conjunto de obras dedicadas às independências apresenta aquelas dedicadas ao tema, seja com uma análise global, seja com o exame de partes específicas do espaço ibero-americano.
Assim, a publicação organizada por Chust oferece um amplo e atual panorama acerca das independências, a contribuir com o desenvolvimento do tema, a constituir-se, portanto, em importante bússola para aqueles que desejam caminhar no sedutor labirinto das independências ibero-americanas.
Fábio Ferreira – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF-Niterói/Brasil). E-mail: [email protected]
CHUST, Manuel (Org.). Las independencias iberoamericanas en su laberinto: controversias, cuestiones, interpretaciones. Valencia: Publicacions de la Universitat de Valencia, 2010. Resenha de: FERREIRA, Fábio. As independências ibero-americanas: transitando pelos labirintos da História. Almanack, Guarulhos, n.4, p. 151-153, jul./dez., 2012.
Política Racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência: Bahia/ 1790-1850 | Hendrik Kraay
Em recente ensaio publicado na imprensa brasileira, o historiador Luiz Felipe de Alencastro, tratando do “Livro Branco da Defesa Nacional”, lançado em 2012 pelo governo brasileiro, declarou taxativamente: “a discriminação racial não escrita (…) exclui negros e mulatos do alto oficialato das Três Armas”. Voltado a apresentar os números e as reflexões sobre planejamentos e estratégias para a Defesa do país, o “Livro Branco”, anota o historiador, inova pelo tratamento conjunto dos assuntos relativos às Forças Armadas e à diplomacia no Brasil, mas permanece, por outro lado, calado, no registro de um conhecido silêncio: a recusa em abordar a questão racial nas Armas, e a sua impermeabilidade à pauta das políticas afirmativas.
Se iniciássemos por sua conclusão a resenha do livro de Hendrik Kraay, poderíamos partir, seguramente, do mesmo ponto a que chega Alencastro. Nas palavras do historiador canadense, afinal: “(…) a abolição da discriminação racial formal nas Forças Armadas, um processo concluído na década de 1830 com o estabelecimento da Guarda Nacional e o fim da discriminação racial no recrutamento para o Exército, tornou menos possível a política baseada na cor” (p.379-380).
A complexa tradução histórica dessa formulação que aproxima períodos mediados por quase duas centenas de anos, Hendrik Kraay a promove numa obra de extenso fôlego, escrita no final da década de 1990, mas só há um ano apresentada em edição brasileira. O fato não impediu, porém, que desde a sua elaboração a riqueza do trabalho venha sendo amplamente conhecida e consultada pelos estudiosos interessados no tema e no período cobertos pela pesquisa.
Curiosamente, o tempo de espera da sua chegada ao público de língua portuguesa correu a favor da consolidação, na historiografia brasileira, de novas alternativas de interpretação a abordagens tradicionais no exame de temas como a Independência, a formação do Estado, ou a política nas camadas populares no Brasil. Alternativas que se juntaram, por outro lado, à elaboração das categorias “raça” e “cor” como motivos de uma já sólida tradição de estudos históricos sobre a escravidão no Brasil, tradição que se confunde com o processo de profissionalização da área no país, desde as últimas décadas do século passado.
Política Racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência (Bahia 1790-1850) é, assim, um livro de muitos temas, como o confessa seu próprio autor. A bem dizer, é um livro de todos aqueles temas. E a escolha das Forças Armadas como objeto privilegiado em torno do qual seu estudo se organiza deve-se ao fato de que, em palavras do próprio Kraay, “nenhum outro setor do Estado penetrou tão fundo na sociedade”, oferecendo ao pesquisador a oportunidade de estudá-la ali onde ela não é composta “nem de escravos, nem de senhores”.
Dessa maneira, o estudo proposto das relações sociais e políticas marcadas pela hierarquia de corte racial desloca o cerne da análise do binômio senhor-escravo, ao mesmo tempo em que funciona como elemento articulador de toda a rede de temas que acusam a presença inescapável de sua sombra, ou seja, o peso da ordem escravista manifestando-se nas sutilezas dos seus diversos desdobramentos. Assumindo essa perspectiva, o autor ademais reconhece a complexa trama de interações por meio das quais um conjunto de elementos sociais como classe, status e origem interferem com a cor para a produção das diferenças entre as pessoas, dentro e fora de suas organizações.
Igualmente atravessados, assim, pela “questão racial”, e radicados no exame da dinâmica do Exército baiano entre 1790 e 1850, três são os principais temas que a obra descortina: a nova história militar, a formação do Estado brasileiro na “era da independência”, e a política popular.
Em tese defendida no ano de 1995 na Universidade do Texas, Hendrik Kraay sinalizava desde o título a abordagem escolhida para o tratamento característico da história militar em sua obra. “Soldiers, officers and society” traduz textualmente a pretensão de o historiador ultrapassar as narrativas das estratégias de guerra, dos procedimentos militares ou o tom laudatório das campanhas e de seus heróis, típicos dos trabalhos sobre a corporação – muitos deles produzidos por militares – até bem perto de fins do século XX. Kraay, ele mesmo, tratou do assunto juntamente com Victor Izecksohn, Celso Castro e outros em “Nova História Militar Brasileira” (FGV, 2004).
Nessa linha, a original história das milícias coloniais baianas produzida por Kraay é interpelada pelo interesse da disposição racialmente segregada dessa instituição auxiliar do Exército. O significado da discriminação oficial que separava os regimentos de brancos, pardos e pretos tornava a milícia, especialmente para esses últimos, numa fundamental agência de prestígio e de status pessoal, dado o elemento de diferenciação por ela representado numa sociedade em que a pobreza e a escravidão tinham cor marcante. Não por acaso, a perda da distinção por parte dos oficiais pretos da milícia (os famosos Henriques), com o fim da corporação em 1831 e sua substituição pela Guarda Nacional, lançou-os a uma feroz crítica do Estado em termos raciais. E sua frustração com o exercício da proclamada igualdade liberal formal – que extinguia os batalhões segregados – culminou no expressivo envolvimento dos ex-Henriques na revolta da Sabinada, em 1837.
Os oficiais do Exército baiano surpreendido por Kraay, por sua vez, estão longe das cenas das batalhas. O estudo bem documentado de suas trajetórias pessoais e familiares revela, à maneira da prosopografia, uma história a partir da qual é possível observar como o processo de profissionalização do Exército é consentâneo com a formação de um oficial funcionário público, proprietário modesto, crescentemente dependente das rendas do Estado e submetido ao seu estrito controle. Esse processo é fortemente induzido por uma máquina de Estado cuja força centralizada se manifesta a partir da década de 1840, num cenário claramente distinto daquele em que, no fim do período colonial, senhores e altos oficiais se confundiam no topo da hierarquia das Forças Armadas. Nota relevante acerca de um e de outro perfil dos oficiais, os documentos a respeito de suas carreiras não fazem qualquer menção de sua cor. Supunham-se todos brancos, na verdade; quando menos, na provocativa expressão de Donald Pierson, “brancos da Bahia”.
Essa pirâmide, encimada por alvos baianos, compunha-se na base pelos soldados da tropa. Em sua maioria recrutados à força entre livres ou libertos, brancos ou pardos, esses homens não gozavam do benefício de um acesso abreviado aos postos mais elevados da corporação – reservados aos cadetes, filhos de oficiais. A forma violenta de seu ingresso no Exército expunha a sempre encenada disputa entre as autoridades públicas, os pobres elegíveis e seus patrões: ser recrutado significava, portanto, perder a batalha nas tramas do patronato ou, pior, não poder contar com qualquer proteção. A característica ambigüidade dessa situação política levou o autor a afirmar que os pobres livres, beneficiários desse quadro, “encaravam o patronato como uma maneira natural, necessária e até mesmo ‘boa’ de organizar a sociedade” (p.288). Uma vez recrutados, porém, as desonrosas punições corporais a que estavam sujeitos lhes recordavam que a sua condição de vida era forjada com molde não inteiramente diferente daquele com que eram marcados os escravos.
Em resposta, os mecanismos de que se valiam os soldados para afirmar a sua liberdade incluíam deserções regulares ou o refúgio temporário na rede dos vínculos que não desatavam com a comunidade mais ampla. Foram, afinal, os espaços ainda não fechados entre o quartel e a rua no fim do período colonial que permitiram as duplas profissões de soldados e sargentos que, também artesãos e alfaiates, manifestaram vigorosa desafeição ao Trono em conspiração de pardos delatada por pretos da milícia na cidade da Bahia, em 1798. Dessa maneira, entre recrutamentos e deserções, punições e indultos, o quartel, assinala Kraay, funcionava como “uma porta giratória através da qual os soldados passavam regularmente” (p.117). Tratava-se de um equilíbrio dinâmico entre a ação do Exército à cata da sujeição dos “vadios” e a iniciativa dos pobres, livres ou libertos, em busca de um patrão que lhes valesse (ainda que esse patrão fosse, por fim, o próprio Estado armado).
Ao longo do período estudado na obra, a história é também de significativas mudanças nas fileiras, ao lado de inquietantes permanências. Tal como entre os oficiais – sobretudo após a criação de um Exército Nacional na década de 1840 – o perfil do soldado se conforma sob o peso de um controle mais estrito do Estado, de maior dependência à ocupação militar. A intensa politização provocada pelos conflitos de Independência resultou num crescente “escurecimento” das tropas – que contavam, inclusive, escravos recrutados – e a desmobilização do Exército envolvido nessa guerra implicou a dispensa de batalhões em que a presença expressiva de homens de cor era vista como elemento decisivo de graves ameaças à ordem, como aquela que o Batalhão dos Periquitos protagonizou em motim estourado em Salvador no ano de 1824, ainda no desenrolar dos sucessos da Independência da Bahia. Aos recrutas, portanto, o Estado pós-Regresso (1838) suprimiu o espaço para duplas atividades, o direito a licenças e baixas, e restringiu seu contato com o mundo exterior à caserna. Mas manteve, apesar de sua progressiva perda de legitimidade, a forma coerciva do recrutamento e o padrão da disciplina corporal, forçando os soldados a também manter atualizada a teia de favores que, nas palavras contrariadas do então Presidente da Bahia, “hoje tudo invade, e desfigura” (p.287).
A noção de Estado que emerge da obra de Kraay em meio a esse conjunto de transformações não é, ele salienta, a do “Estado autônomo que Raimundo Faoro e Eul-Soo Pang enxergaram como sendo primordial à história luso-brasileira”. Em seu lugar, o autor “enfatiza as íntimas conexões entre o Estado e a classe dominante” (p.18). Poder-se-ia dizer a esse respeito, em suma, que ao longo do período a classe senhorial baiana deixou de estar no controle direto das Forças Armadas – ocupando seus mais altos postos numa corporação de caráter local – para se beneficiar da segurança propiciada por um Exército nacionalizado por obra da força do Estado, então livre dos focos de rebeliões. Essa formulação tal como elaborada supõe, portanto, um importante trânsito na dinâmica do Estado, de um Império ao outro. Kraay o explica, sobretudo, a partir das evidências de seus resultados na estrutura do Exército e no perfil de seus integrantes. A relevância dessa explicação, porém, não afasta, antes mesmo sublinha, a importância de outra que dê conta das formas como esse trânsito de um modelo de Estado ao outro representou a efetiva construção de um Estado Nacional no Brasil.
Arriscaríamos dizer que as íntimas conexões entre o Estado e a classe dominante sugeridas por Kraay carecem, na obra, de uma maior diferenciação dos seus termos. No amplo quadro da política institucional que recobre e produz as mudanças no Exército claramente apresentadas no livro, as “classes senhoriais” resumem a “sociedade” em geral frente à qual o perfil do Estado é discutido. Por sua vez, os liberais expressivamente citados como responsáveis pela reforma do Exército entre as décadas de 1820-30 não dialogam, nas páginas do trabalho, com adversários conservadores mais distintamente apresentados. A própria narrativa de um Estado como máquina burocrática em construção a partir do Regresso não é objeto da atenção detida e específica do autor, naquilo que ela interessaria em demonstrar como se forjou uma identificação das classes – e não só dominantes – com a figura de uma administração política que superou a pátria local como eixo de funcionamento e que fixou as condições para o surgimento de instituições e carreiras nacionais, como as do próprio Exército. Afinal, como suposto na formulação antes apresentada, o trânsito entre aparelhos de Estado distintos deve mais à “era da Independência” do que à Independência como tal; o que é o mesmo que dizer que a Independência por si não formou o Estado nacional, premissa, aliás, que o autor reconhece.
Mas se a Independência – ou Independências, pois “não há uma narrativa única e linear da Independência brasileira” (p.371) – não formou definitivamente o Estado, ela assentou as bases de uma nova ordem política que foi particularmente explorada pelos militares. Modulando a imagem de revolução conservadora atribuída por F.W.O. Morton ao movimento de Independência no Brasil, Kraay identifica os elementos sociais de uma revolução no conjunto de desafios que movimentos políticos impulsionados por soldados e oficiais do Exército e da milícia lançaram à ordem vigente a partir da década de 1820. Nesse particular, a nova posição assumida por esses atores tinha especial relação com a circulação de pautas, termos e com a cultura política que a vigência de uma Constituição pós-revoluções liberais permitiu que se formasse.
Os motins militares contra o regime de disciplina ou contra práticas arbitrárias das autoridades do Estado – destacada a Revolta dos Periquitos, em 1824; a expressiva participação de ex-integrantes da milícia preta na Sabinada, em 1837; ou ainda as diversas estratégias de “negociação e conflito” de que os homens das fileiras do Exército dispunham para fazer política e remediar a sua condição, todo esse processo evidencia o “Estado feito por baixo” que Kraay elege como um dos objetos de seu interesse. A relevância do reconhecimento de uma política de caráter popular no século XIX, renovando constantemente os horizontes de uma “segunda independência”, faz Kraay acenar para uma tradição historiográfica brasileira, inspirado na qual ele diz:
os soldados (e seus aliados na sociedade civil) reformularam o Exército, assim como – para usar um exemplo mais familiar aos historiadores do Brasil – as ações dos escravos em suas relações cotidianas com seus senhores transformaram a escravidão (p.106).
Assim, unindo os temas centrais da discussão enfrentada pelo autor em sua obra, a comparação feita no início dessas notas entre as frases de Alencastro e de Kraay cobra sentido, no fim, com uma breve referência a Karl Marx e o seu “Sobre a Questão Judaica” (Boitempo, 2010). Nesse trabalho, Marx, polemizando com Bruno Bauer acerca dos direitos políticos dos judeus na Alemanha do século XIX, promove sua seminal distinção entre “emancipação política” e “emancipação humana”. Com ela, poderíamos dizer, retomando o fio das profundas transformações havidas na estrutura do Exército brasileiro, que a reforma liberal que, em 1831, extingue as milícias racialmente segregadas e as substitui por uma Guarda Nacional racialmente “cega”, em nome da igualdade formal entre as pessoas, essa reforma representa a emancipação política dos cidadãos brasileiros em relação às suas diferenças de cor. Tal como na defesa por Bauer da emancipação dos alemães frente às suas distinções religiosas, o Estado brasileiro emancipava politicamente seus cidadãos, vale dizer, declarava-os livres e iguais, abstratamente, nos limites de sua cidadania. Essa emancipação, porém, não convenceu Francisco Xavier Bigode, ex-Tenente Coronel da milícia preta, extinta em 1831. Para ele, a igualdade diante da lei era “sem significado, a menos que ela reconhecesse as distinções raciais que a legislação colonial havia incorporado” (p.340).
Marx diria que a emancipação política eleva abstratamente os indivíduos de suas diferenças de castas e crenças, que ela os torna iguais formalmente, mas, não sendo emancipação humana, permite que suas diferenças concretas sigam agindo à sua maneira. Vale dizer, sigam à maneira das ordens sócio-políticas e econômicas que as produzem. Assim, nas palavras de Hendrik Kraay, nesse quadro “as afirmações de igualdade caíam em ouvidos ensurdecidos por atitudes profundamente arraigadas” (p.164). De fato, lembremos, não poderia ser diferente: o Império não tinha ainda o seu Livro Branco.
Douglas Guimarães Leite – Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF-Niterói/Brasil). E-mail: [email protected]
KRAAY, Hendrik. Política Racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência: Bahia, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2011. Resenha de: LEITE, Douglas Guimarães. A cor da política: carreira, identidade racial e formação do Estado nacional no Exército baiano do entre-impérios (1790-1850). Almanack, Guarulhos, n.4, p. 154-158, jul./dez., 2012.
Gente de guerra e fronteira: estudos de história militar do Rio Grande do Sul | Paul César Possamai
Como afirma Vitor Izecksohn na apresentação da coletânea organizada por Paulo César Possamai, a guerra e as forças armadas tiveram um papel de destaque na região meridional do Brasil, onde a luta armada, a partir das últimas décadas do século XVII, foi o resultado da colisão de projetos expansionistas das potências coloniais ibéricas, e, a partir do século XIX, do confronto de distintos projetos de Estado-Nação. Os doze capítulos da coletânea apresentam, em sua maioria, abordagens vinculadas à Nova História Militar, salientando a inserção das forças armadas na sociedade sul-rio-grandense, as relações familiares, o recrutamento, as tensões e o cotidiano dos soldados das tropas regulares e auxiliares. O título – Gente de guerra e fronteira – explicita essa mudança de foco em relação às obras tradicionais de história militar, sendo as grandes batalhas e os heróis substituídos por protagonistas anônimos que vivenciam a guerra nessa região de fronteira.
Em A guarnição da Colônia do Sacramento, Paulo César Possamai aborda as condições de vida e estratégias de sobrevivência dos homens mobilizados para a defesa lusa deste posto comercial à margem esquerda do Rio da Prata, objeto de disputa entre as coroas ibéricas entre 1680 e 1777. Apesar do povoamento com casais, o efetivo militar desse posto avançado da fronteira dependeu do recrutamento forçado, o que implicou em um contingente de degredados, condenados, indesejados, “doentes e aleijados” [p.17]; homens considerados despreparados e pouco afeitos à vida militar. Possamai analisa as formas de sobrevivência e resistência desses soldados. Soldos baixos e invariavelmente atrasados, instalações precárias, castigos corporais, alimentação e vestuário insuficientes faziam parte do cotidiano desses homens, empregados não apenas na defesa, mas também em obras diversas. A deserção era meio para escapar às dívidas com comerciantes locais e forma de resistência, a qual encontrava, muitas vezes, apoio e estímulo nas autoridades inimigas.
Outra via de resistência às adversidades da vida militar foi abordada por Francisco das Neves Alves em Uma revolta militar e social no alvorecer do Rio Grande do Sul. O autor analisa a revolta do Regimento de Dragões ocorrida em janeiro de 1742 no Presídio Jesus Maria José, ponto inicial de povoamento português no que viria a ser o Rio Grande do Sul. Com o apoio da escassa população e reafirmando a autoridade e o amor a S.M, os rebeldes representaram ao Comandante do presídio suas queixas. Essas não diferiam daquelas que motivam as deserções na Colônia do Sacramento, mas a essas se somavam aquelas relativas à rigidez da disciplina e aos severos castigos físicos a que eram submetidos os infratores. O arrefecimento da revolta não implicou na pacificação como demonstrou o relato de dois náufragos ingleses. Apesar da tensão e talvez pela proximidade das forças espanholas nessa fronteira indefinida, a ordem e os trabalhos cotidianos foram mantidos dentro da normalidade, mas a deserção e a possível adesão às tropas inimigas eram ameaças sempre consideradas pelas autoridades. Daí, a pacificação a partir da concessão do perdão, da reposição das provisões, do pagamento de soldos e de concessões no relaxamento da disciplina, sem que houvesse a punição dos revoltosos. Deste modo, a fronteira que obrigava à manutenção de uma rígida disciplina, também impunha a condescendência da Coroa em relação às demandas e ao comportamento de seus soldados.
A negociação de lealdades e posições, atendendo a interesses muitas vezes conjunturais, foi discutida por Tau Golin em A destruição do espaço missioneiro. O autor analisa a Guerra Guaranítica (1753-1756), evidenciando que a destruição do projeto de “sociedade alternativa” [p.65], construído pela Companhia de Jesus na região platina, foi resultado da união das potências coloniais ibéricas. Segundo Golin, as determinações do Tratado de Madri (1750) e a ação da expedição demarcadora de limites motivaram cisões internas nas lideranças missioneiras e alteraram as correlações de poder entre padres, caciques e cabildos. A resistência dos povos das missões da margem oriental do Rio Uruguai que deveriam ser trasladados à margem oposta também gerou condições para que Gomes Freire de Andrada expandisse o domínio português, procrastinasse a troca de territórios e transformasse um número expressivo de indígenas em vassalos do rei de Portugal. A Guerra Guaranítica contribuiu assim para o fracasso do Tratado de Madri, levando a sua anulação, mas também acelerou o processo de desestruturação do projeto missioneiro jesuítico na América.
Uma das estratégias lusas para expandir e garantir o domínio sobre o território em disputa era a construção e manutenção de guardas militares. Esse tema é explorado por Fernando Camargo em Guardas militares ibéricas na fronteira platina. Esses postos avançados, guarnecidos por um número pequeno de soldados e oficiais, demarcavam o avanço da soberania portuguesa (ou espanhola), principalmente após a instituição do princípio do uti possidetis pelo Tratado de Madri (1750).Também tinham por objetivo o combate ao contrabando e o controle sobre o movimento de pessoas pela fronteira. A partir do Tratado de Amizade, Garantia e Comércio de 1778, o sistema de guardas foi fator de policiamento e de equilíbrio entre as possessões portuguesa e espanhola. Mas a relativa paz que se seguiu a esse tratado e o reduzido efetivo dessas guardas contribuíram para a lenta degradação desse sistema. Segundo o autor, as guardas militares envolvem uma série de questões cujo estudo demanda o trabalho interdisciplinar como caminho para a compreensão da geopolítica dessa região.
No quinto capítulo intitulado Cabedais militares: os recursos sociais dos potentados da fronteira meridional (1801-1845), Luís Augusto Farinatti estuda o papel da vida militar na formação da “elite guerreira” na fronteira meridional do Brasil. Evidenciando que nem todo estancieiro era um “potentado militar”, o autor demonstra que era estratégia das famílias sul-rio-grandenses, através de casamentos, batizados, créditos, etc., integrar em suas relações pessoas de prestígio e que exerciam diferentes atividades, inclusive o militar, cujo “cabedal” era muito valorizado. Esse “cabedal” envolvia um “conjunto de recursos, juntamente com o prestígio” [p.89] construído por um comandante militar a partir de seu desempenho nas lutas da fronteira e que expressava sua capacidade de mobilizar, armar e liderar homens e de garantir o êxito nas batalhas. Era esse o substrato de sua relativa autonomia de ação, capacitando-o a negociar com subalternos, com aliados e com as autoridades régias/imperiais. Se as relações baseadas nas reciprocidades horizontais e verticais eram a base do poder e da autonomia desses potentados militares, eram também mecanismo de fortalecimento de poderes e, assim, de reprodução e consolidação “de uma hierarquia social desigual” [p.90]. Ou seja, as guerras no sul não eram fator de igualdade e oportunidade de enriquecimento e de ascensão social para todos, mas eram, antes de tudo, estratégias que viabilizavam a conservação da desigualdade. Segundo o autor, ao longo da segunda metade do século XIX, o poder desses homens construído nas guerras sofreu um processo lento de transformação, marcado pela progressiva consolidação do Estado brasileiro, com a paulatina constituição dos poderes civis nas cidades da fronteira e com a profissionalização do Exército.
Em A Revolução Farroupilha, José Plinio Guimarães Fachel afirma o caráter republicano desse movimento que opôs parte da elite sul-rio-grandense ao Império entre os anos de 1835-1845. Através da análise da evolução militar do conflito e dos principais líderes farrapos, o autor salienta os limites impostos às ações e posições defendidas por esses homens que, como membros da oligarquia provincial, eram um grupo heterogêneo e caraterizado pela fragmentação política e por posições controversas. Dentre essas, o autor destaca a questão do escravismo na República Rio-Grandense, cuja manutenção não era ponto pacífico, mas que impôs limites à capacidade farrapa de arregimentar homens e, ao mesmo tempo, ampliou os espaços de resistência dos escravos através da incorporação nas tropas, das fugas e dos quilombos.
Em Tudo isso é indiada coronilha (…) não é como essa cuscada lá da Corte”: O serviço militar na cavalaria e a afirmação da identidade rio-grandense durante a Guerra dos Farrapos, José Iran Ribeiro analisa o papel da cavalaria como elemento de distinção identitária entre os habitantes da Província do Rio Grande de São Pedro e aqueles provenientes de outros lugares do Brasil para servir nas forças legalistas no decorrer da Revolução Farroupilha. Observa que esse fator de distinção persistiu no tempo, apesar da reorganização do Exército Nacional a partir dos anos de 1820, a qual visava criar um corpo uniforme, enquanto grupamento profissional, superando as identidades regionais. Mas, no Rio Grande do Sul, a valorização do serviço na cavalaria teve origem nos conflitos na região platina, onde a topografia criou as condições para que essa arma se tornasse a principal, pois a “guerra gaúcha” impunha o movimento rápido e constante dos contingentes militares [p.118]. Assim, o autor constata que, dentre os batalhões de infantaria nas guerras do sul, predominavam os soldados provenientes de outras províncias brasileiras, já que os soldados sul-rio-grandenses buscavam principalmente o serviço na cavalaria. Fatos que tinham reflexos na composição da Guarda Nacional, com o predomínio dos regimentos de cavalaria. Por fim, o autor conclui que a instabilidade na região e a relevância da cavalaria como principal arma foram fatores para a permanência de oficiais militares rio-grandenses na província, contribuindo para fortalecer sua influência local e sua autonomia de ação frente ao poder central.
O contexto da Guerra do Paraguai mereceu um espaço destacado nessa coletânea, a começar pelo artigo de André Fertig: A Guarda Nacional do Rio Grande do Sul nas guerras do Prata: 1850-1873. Nesse texto, o autor aborda a Guarda Nacional sul-rio-grandense, a qual exerceu um papel estratégico na segunda metade do século XIX, já que era atribuição desses corpos, em regiões de fronteira, o auxílio do Exército regular nos conflitos externos. A eclosão da Guerra do Paraguai levou à formação de vários corpos provisórios que congregavam guardas nacionais e aumentou o ritmo dos destacamentos, com a incorporação de um volume expressivo de guardas nacionais aos Corpos de Voluntários. Terminado o conflito, a partir da década de 1870, teve início a lenta desmobilização e desorganização dessa milícia, passando progressivamente a predominar, também no Rio Grande do Sul, seu caráter honorífico em relação ao militar.
Em A Guarda Nacional sul-rio-grandense e a aplicação da Lei de Terras: expressão de uma política de negociação, Cristiano Luís Chistillino explora a relação entre a expressiva participação da Guarda Nacional sul-rio-grandense nos conflitos platinos da segunda metade do século XIX e a aplicação da Lei de Terras (1850), especialmente nas regiões de fronteira aberta do Planalto e das Missões na Província de São Pedro. Segundo o autor, a singularidade política dessa província que havia ameaçado por dez anos a unidade do Império e o controle da Guarda Nacional permitiram que a elite rio-grandense consolidasse seus laços com o governo central brasileiro; laços esses alicerçados em relações clientelísticas e no controle da terra. Assim, os processos de legitimação de terras teriam sido utilizados como instrumentos de cooptação da elite militar à política da Coroa.
Já Paulo Roberto Staudt Moreira, em Voluntários e negros da Pátria: o recrutamento de escravos e libertos na Guerra do Paraguai, estuda outro segmento da sociedade rio-grandense e sua forma de inserção no conflito: os homens de cor, libertos ou escravos, engajados às forças armadas. A Guerra do Paraguai estabeleceu novos parâmetros à formação das tropas de primeira e segunda linha ao permitir a crescente inserção de homens de cor, escravos ou livres, entre suas forças e ao utilizar novas formas de engajamento, para além do recrutamento forçado: a compra de escravos pelo governo imperial, a indenização de proprietários que cediam seus escravos para a guerra e a aceitação de substitutos. Para os escravos, a “liberdade fardada” [p.182] era esconderijo para os fugitivos, via para obtenção legal da liberdade e estratégia de melhoria de vida. No entanto, aqueles que sobreviveram ao conflito, desmobilizados ou desertores, passaram a enfrentar a repressão imposta pelas autoridades provinciais.
As diferentes visões acerca desse conflito foram abordadas por Mario Maestri em A guerra contra o Paraguai. História e historiografia: da instauração à restauração historiográfica [1871-2002]. O autor parte dos trabalhos que no final do século XIX analisavam a Guerra do Paraguai através da apologia do Estado, das classes dominantes representadas pelos “heróis” nacionais, chegando àqueles que, a partir da década de 1970 introduziram uma versão revisionista a estas interpretações. O revisionismo, chegado tardiamente no Brasil, foi marcado pelas obras de vários autores, com destaque para Julio Chivavenato. No entanto, o real objetivo do texto de Maestri parece ser apresentar sua apurada crítica à obra de Francisco Doratioto, com ênfase no livro “Maldita Guerra: nova história da Guerra do Paraguai” publicado em 2002. Segundo o autor, nessa obra, Doratioto, desconsidera os avanços da historiografia revisionista, promove a “homogeneização das nações em luta” [p.226], atribuindo a responsabilidade exclusiva da guerra à personalidade de Solano Lopez e faz um “elogio apologético” [p.227] de diversas autoridades da Tríplice Aliança. Ou seja, segundo Maestri, “Maldita Guerra” pode ser considerada uma “ampla restauração da velha historiografia nacional-patriótica” [p.228], exemplo da “historiografia restauradora” brasileira.
A questão da identidade dos militares “gaúchos” é retomada por Jacqueline Ahlert em Teatralmente Heróicos: a participação dos gaúchos na Guerra dos Canudos. Estes gaúchos, integrantes das tropas federais participantes da quarta expedição contra Canudos (1897), aparecem entre as fotografias que compõem a coleção de Flávio de Barros. Em fotos posadas que visavam retratar uma determinada visão sobre a guerra, os soldados provenientes do Rio Grande do Sul distinguem-se pela indumentária: bombachas, lenços, chapéus de abas largas e botas. No entanto, outros aspectos, além da indumentária e da “pose altiva” [p.240], marcaram a participação desses homens, como a banalização da degola como forma de dizimar os prisioneiros, prática disseminada no Rio Grane do Sul no decorrer da Revolução Federalista (1893-95). Concluindo, segundo a autora, essas fotografias “ilustram a ideia da guerra como ato cultural” [p.249], retratando homens que se consideravam identificados com a vida militar e com a guerra.
Observa-se assim, que o livro Gente de guerra e fronteira é uma das primeiras coletâneas que traz alguns dos recentes estudos sobre a nova história militar do Rio Grande do Sul. Desde sua publicação em 2010, outros livros e artigos tem trazido ao público pesquisas que exploram antigos temas da historiografia rio-grandense com novas e promissoras abordagens.
Marcia Eckert Miranda – Professora no Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH/UNIFESP – Guarulhos/Brasil). E-mail: [email protected]
POSSAMAI, Paulo César (Org.). Gente de guerra e fronteira: estudos de história militar do Rio Grande do Sul. Pelotas: Ed. da UFPel, 2010. Resenha de: MIRANDA, Marcia Eckert. Fronteira feita por homens, cavalos e armas. Almanack, Guarulhos, n.4, p.159-163, jul./dez., 2012.
Las alcabalas mexicanas (1821-1857). Los dilemas en la construcción de la Hacienda nacional | Ernest Sánchez Santiró; La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857 | Israel Arroyo García
Em quê estudos sobre o México pós-independência poderiam interessar aos historiadores brasileiros? Em muitos aspectos, como espera-se aqui mostrar. Em primeiro lugar, explicar processos tão prolongados e complexos como a quebra e fragmentação dos impérios espanhol e português e o surgimento das novas nações latino-americanas é sem dúvida um grande desafio. Isto porque não se trata apenas de explorar as rupturas mais evidentes, mas também, e em boa medida fundamentalmente, a profunda relação de continuidade entre o regime colonial e os estados independentes. Nesse sentido, ambos os livros constituem duas maneiras diferentes de contar a história de uma mesma época: a mudança política decorrente da independência do México.
O livro de Israel Arroyo, correponde à versão refundida de sua tese doutoral apresentada ao Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México em 2004, e tem como fontes três acervos: os tratados constitucionais e políticos (livros, folhetos, planos políticos, editoriais de jornais), as atas e minutas constitucionais e as leis secundárias (convocatórias constituintes e leis eleitorais). O primeiro atende ao estudo da parte doutrinária sobre as formas de governo, a representação política e a cidadania. Diferentemente do historiador das ideias, o texto vincula a doutrina com o pensamento constitucional dos atores individuais e coletivos: as ideias dos tratadistas ou políticos não giram sobre si mesmas, adquirem seu peso a partir de que impactem ou não a dimensão constitucional. Já as atas constitucionais permitem ver o processo de criação das normas e as instituições políticas. Cem páginas de anexos estatísticos em que o primeiro discute os critérios metodológicos adicionam maior consistência ao estudo.
O autor não se limitou a extrair o argumento das maiorias, mas analisa o ponto de vista das minorias ou dos grupos ou indivíduos que souberam combinar ambas as possibilidades. A obra está dividida em duas partes. Na primeira, em três capítulos, o autor examina o momento fundacional das formas de governo. Aqui destaque-se que o uso do plural não é casual. Isto porque no México não houve uma única forma de governo, mas diferentes projetos que se alternavam. O primeiro capítulo aborda a disputa original entre os dois tipos de monarquias constitucionais: a borbonista e a iturbidista (1821-1822). As diferenças entre um projeto e outro se situaram em dois itens: no poder executivo – monarca mexicano ou estrangeiro – e na origem e peso diferente que deram aos poderes públicos. A segunda fase da disputa se deu entre os propugnadores de uma república confederal e os de uma república federalista (1823-1824). O objetivo aqui foi rastrear as principais características da república no México, assim como a inclusão das diferentes visões de tipo confederalista que existiram na época. Arroyo García propõe nesse primeiro capítulo que inicialmente se constituiu uma “república parlamentar”. Se o argumento for convincente, perderia valor a apreciação de que os tratadistas mexicanos foram imitadores dos Estados Unidos. No capítulo seguinte, sua atenção volta-se para o pensamento constitucional dos anos 1840. A premissa central é que surgiu a projeção de uma república federal e liberal que buscou acomodar-se entre as repúblicas confederalista e unitária de seu imediato passado, ou, inclusive, frente ao ressurgimento do monarquismo constitucional de 1845 e 1846. E no terceiro capítulo, examina não só o pensamento constitucional dos tratadistas mexicanos sobre os termos “federalismo”, “república”, mas também as continuidades e rupturas do liberalismo jusnaturalista a respeito dos constituintes dos anos 1840. A tese principal é que não se pode compreender as novidades sugidas em 1857 sem examinar as conexões em indivíduos e conteúdos constitucionais dos congressos de 1842 e 1847.
A segunda parte da obra dedica-se à análise do processo de constituição da representação política e da cidadania no período. No primeiro capítulo dessa segunda parte é examinada a passagem da representação política no México independente, em torno de quatro eixos de discussão: as instruções frente aos “poderes amplísimos”, a construção de uma divisão eleitoral própria, a definição dos requisitos para exercer um cargo de representação e o voto por “diputaciones”. No México, em termos gerais, experimentou-se uma tríade de modelos de representação: pelo “modo honesto de viver”, por renda anual e de acordo com paradigmas fiscal. Isso significa que os constituintes mexicanos não compartilharam – salvo em situações restritas e como requisitos de exceção – as exigências censitárias. Em matérias de direitos políticos, os hispano-americanos teriam se adiantado aos ideais igualitários dos liberalismos democráticos contemporâneos, feito que contrasta com experiências como a francesa (modelo fiscal) ou a inglesa (modelo censitário). A frequência com que foi utilizado o voto por “diputaciones” como instrumento eleitoral e de representação política levou os constituintos de 1856 a propô-lo como mecanismo alternativo ao Senado da república. No capítulo seguinte o autor passa em revista outro aspecto da representação política: a cidadania ativa (o direito de votar e ser eleitor). Parte da pressima de que devem diferenciar-se os direitos políticos dos procedimentos de eleição. O argumento central é que o direito ao sufrágio no México foi amplo e os métodos de eleição restritivos. Contudo, persistiu um modelo dual de cidadania (o dos preceitos gerais e o dos estados), o que explica que se desse uma gama diferenciada de “cidadanias” pelo país. Ainda assim, a herança gaditana – o método de eleição de quatro graus – foi transcendida precocemente, e em geral se anulou o grau dos compromissários desde 1823. Ao final do trajeto estudado, 1857, se passou a um sistema de um grau uniforme para todos os poderes públicos gerais. Em todo o período referido o comum foi o afastamento – nisto similar ao ocorrido na representação política – dos modelos censitários de cidadania, com um predomínio dos paradigmas do modo honesto de viver e de renda anual. E conclui: “no México, houve cidadãos terrenos, não de ficção ou de papel”.
Já quanto ao livro de Ernest Sánchez, conta-nos uma outra parte da mesma história por meio de um imposto, o mais importante de todos no México das primeiras quatro décadas após a independência – as “alcabalas”. As alcabalas corresponderiam a um tributo inexistente no Brasil colonial: as sisas. O que efetivamente havia no Brasil eram impostos sobre importação e exportação, mas não propriamente sobre a circulação.
A independência do México implicou a quebra das ideias e das instituições políticas do Antigo Regime colonial da Nova Espanha após uma década de agudos conflitos militares, sociais e políticos. Esta ruptura com a monarquia espanhola gerou um espaço de incerteza no qual a irrupção do liberalismo, no marco da conformação do novo Estado-nação, concedeu à política uma preeminência inusitada, já que os novos valores e práticas a seguir seriam dirimidos naquela arena. Ernest Sánchez parte da premissa, a meu ver absolutamente correta, de que neste contexto os dilemas da política alcançaram medularmente a esfera das finanças públicas. De fato, a fiscalidade veio a constituir-se como um dos temas mais decisivos da construção do Estado nacional, ao constituir-se não apenas numa manifestação de sua capacidade de controle sobre o território e os habitantes do México, mas também na base financeira chamada a sutentar a nova maquinária política.
Certamente que uma exposição conduzida unicamente em termos de facções políticas enfrentadas, com seu corolário de projetos fiscais, que prescindisse totalmente do marco socio- econômico seria uma análise excessivamente voluntarista do processo histórico. Não é que a estrutura sócio- econômica marcasse irremediavelmente a fiscalidade, mas ao menos estabelecia possibilidades ao projetismo liberal em matéria fiscal.
O autor pergunta-se: por quê o advento do Estado-nação mexicano, radicalmente diferente da monarquia católica em sua natureza polítca, não implicou a instauração de um regime fiscal acorde com os princípios básicos do primeiro liberalismo, isto é, as “contribuições diretas” (as que gravam uma manifestação duradoura da capacidade de pagamento dos contribuintes, seja a partir das fontes dos rendimentos econômicos (contribuições de produto), seja a partir da renda que percebe as pessoas (contribuições pessoais)? Por quê, apesar da condenação quase unânime de políticos, publicistas e economistas políticos, as “contribuições indiretas” (gravames que recaem sobre manifestações transitórias da capacidade de pagamento, que se percebem por ocasião de atos contratuais – no caso das alcabalas, os atos de compra e venda ou troca de bens móveis e imóveis) sobre o comércio interno, herdadas do antigo regime colonial da Nova Espanha, constituíram-se num dos suportes fundamentais da fiscalidade da nova nação? Quando podemos detectar na ordem política, o abandono de tal primazia e que elementos tornaram-no possível? Estas são as questões que vertebram o livro. A solução proposta pelo autor articula-se em torno de três elementos básicos: 1. a práxis fiscal das diversas soberanias políticas, com uma atenção preferencial ao problema da arrecadação; 2. as diferentes posições da economia política ilustrada e liberal com relação às contribuições indiretas sobre o comércio interno; e 3. os projetos de reforma fiscal que, em alguns casos, pretenderam sua abolição, embora em outros significaram um claro reconhecimento.
Apesar de tratado de modo tangencial, dado o escopo do livro, avança-se na discussão sobre como implantar, por exemplo, um amplo sistema fiscal liberal de contribuições diretas, que pressupunha coisas tão básicas mas fundamentais como a existência de cidadãos e de propriedade privada, em um país onde os primeiros estavam se formando em termos políticos e culturais e onde a propriedade corporativa civil e eclesiástica era ubíqua e numerosa. Ou seja, em que medida o desenvolvimento dos intercâmbios mercantis internos e externos do México fazia rentável a manutenção das alcabalas herdadas do período colonial? Na década de 1850, por sua vez, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, pois implicava responder à questão de como combinar o desenvolvimento das ferrovias e a manutenção das alfândegas internas e as alcabalas.
É exatamente por conta destes argumentos que as alcabalas foram tomadas como observatório privilegiado da mudança política e da modernização fiscal do México no século XIX: era a rubrica líquida mais importante em termos quantitativos para os erários estatais e departamentais. Apesar de a data inicial do estudo situar-se em 1821, Ernest Sánchez estuda as alcabalas desde o final do período colonial.
O lugar das alcabalas e dos impostos em geral e, sobretudo, o “contingente” não deixam dúvida sobre a relação de coletivos entre os poderes locais e os poderes confederais: os estados reservaram para si o controle completo sobre os recursos públicos, decidiam que tipo de contribuições aplicar e como gastá-las, negaram-se sistematicamente a terminar com as alcabalas e os impostos de capitação ou então o que foi mais decisivo, se opuseram a criar uma verdadeira Fazenda liberal e federal. “Contingente” era o nome dado a um montante de recursos que cada unidade da federação mexicana aportava anualmente aos cofres da Fazenda nacional. Era a materialização, no plano fiscal, do federalismo mexicano: como o governo nacional e cada estado tinham seus próprios orçamentos, este mecanismo foi desenhado no sentido de harmonizar o pacto federal com os poderes regionais. Ernest Sánchez questiona a ideia de que o debate sobre o tema do “contingente” em relação à definição das formas de governo não pode ponderar-se a partir da eficiência arrecadatória, mesmo no caso de que fosse de 100%: o fundamental seria o tipo de vinculação qualitativa que entabulavam as partes. O contingente mede sim a eficiência e os vínculos em uma república confederal. O autor retorna a esta questão mais adiante, no âmbito da constituinte de 1842, em que assinala que este modelo não conseguiu saldar a ausência de uma burocracia federal própria e o domínio quase absoluto dos recursos, diretos e indiretos, gerados pelos departamentos.
Retornemos à questão inicial: em quê estudos sobre o México pós-independência poderiam interessar aos historiadores brasileiros? Creio que a rápida apresentação de ambas as obras permite mostrar que a comparação do quadro brasileiro com o mexicano reserva ainda muitos resultados interessantes. Ter comungado um passado colonial seria um argumento. Mas fiquemos com outro: centralização e descentralização, unitarismo e federalismo (e mais ainda, confederalismo), pacto federativo, para ficar apenas nas palavras e expressões mais visíveis, remetem a questões que sem dúvida interessam a todos quantos estudam a política oitocentista brasileira. Inevitável, por exemplo, deixar de mencionar as implicações desta discussão em trabalhos recentes da historiografia brasileira, inaugurados pela professora Mirian Dolhnikoff (DOLHNIKOFF, Mirian. Construindo o Brasil: unidade nacional e pacto federativo nos projetos das elites (1820-1842). Doutorado em História. São Paulo: FFLCH/USP, 2000). Ambos os textos têm certamente muito a contribuir.
Angelo Alves Carrara – Professor no Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-Juiz de Fora/Brasil). E-mail: [email protected]
SÁNCHEZ SANTIRÓ, Ernest. Las alcabalas mexicanas (1821-1857). Los dilemas en la construcción de la Hacienda nacional. México: Instituto de Investigaciones Dr. Jose María Luis Mora, 2009. ARROYO GARCÍA, Israel. La arquitectura del Estado mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857. México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Universidad Autónoma de Puebla, 2011. Resenha de: CARRARA, Angelo Alves. Da colônia à nação: impostos e política no México, 1821-1857. Almanack, Guarulhos, n.4, p. 164-167, jul./dez., 2012.
Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido | Laura de Mello e Souza
A coleção Perfis Brasileiros, coordenada por Elio Gaspari e Lilia Moritz Schwarcz, tem oferecido aos leitores biografias, algumas delas de excelente nível, prestando importante serviço ao gênero biográfico. Agora vem a lume Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido, da historiadora Laura de Mello e Souza, o que só confirma o acerto dos editores em mobilizar pesquisadores de qualidade acadêmica para biografar personagens de relevo pertencentes ou conectados à tradição histórica brasileira.
A narrativa da vida e morte de Cláudio Manuel da Costa – poeta mineiro do setecentos, quase esquecido fora dos círculos literários mais eruditos ou dedicados aos estudos arcádicos – é mais que a biografia do homem que virou nome de rua em Belo Horizonte, Sorocaba ou Curitiba. Mais do que uma mera biografia, o livro é um mergulho na história das Minas do século XVIII. Sem abdicar da força da erudição histórica, nem desconsiderar a contribuição da cultura acadêmica mais atualizada, a autora soube produzir um texto elegante e fluído que, ao narrar a vida de um homem, estabelece o fundo histórico no qual ele viveu.
Ao reconstruir a trajetória do poeta, Laura de Mello e Souza alude à formação histórica de uma das mais remotas e importantes províncias do Império português. Para o pequeno Reino de Portugal, e seu vasto Império, que se estendia por três continentes, o século XVIII amanheceu sob o impacto da descoberta de ouro no interior da América, que viria rapidamente a se tornar o fulcro de todo o sistema português. A atenção da Coroa e de seus agentes – bem como de reinóis e colonos, modestos ou afidalgados – voltou-se para os ermos do continente, muito além da Serra da Mantiqueira. Ao abordar o homem, a autora expõe a sociabilidade urbana de Ribeirão do Carmo, depois denominada Mariana, e Vila Rica, depois Ouro Preto, com suas festas, igrejas e ordens religiosas. No texto aparecem as relações políticas entre os homens bons e a Coroa. Ou ainda as estratégias de ascensão social, típicas das sociedades do Antigo Regime, ávidas por insígnias, nas quais as relações sociais estavam assentadas em critérios de fidelidade, parentesco, amizade, honra e serviço. Também aparece o peso da escravidão, “talvez o elemento mais importante da sociedade surgida nas Minas: sociedade conflituosa, tensa, complexa e mestiça desde o nascedouro” (p.34). Ao narrar a morte do poeta já idoso – rico e prestigiado, mas inconfidente e preso – a autora contempla em discretas e precisas pinceladas a Inconfidência Mineira, amparada pela leitura dos autos e por fina interpretação histórica, em que o rigor analítico dialoga com a leitura dos poemas.
Cláudio, dilacerado
Cláudio Manuel da Costa nasceu no distrito da Vargem do Itacolomi, perto do Ribeirão do Carmo, hoje Mariana, no dia 5 de julho de 1729. Seu pai, um modesto português de nome João Gonçalves da Costa, e sua mãe, Teresa Ribeiro de Alvarenga, de antiga e tradicional família paulista, haviam sido atraídos pelo ouro, como milhares de outras pessoas. E prosperaram, pois tiveram escravos, terras, minas e honra. Mas não se tornaram verdadeiros potentados da terra, como sugere a documentação relativa ao inventário da morte de João, pai de Cláudio: “A simplicidade da vida material dos cônjuges contrastava vivamente com o fato de terem enviado cinco filhos – todos os homens que nasceram – para estudar em Coimbra” (p.40). Se João e Teresa reuniram recursos o suficiente para mandarem seus rapazes a Coimbra, é lícito imaginar que amealharam alguma riqueza, tiveram gana de ascensão social e certa sofisticação cultural, além de amigos importantes. Entre eles estava o poderoso contratador João Fernandes (pai de outro João Fernandes, talvez ainda mais poderoso e célebre por esposar Chica da Silva). João Fernandes, o velho, era amigo de João Gonçalves da Costa e padrinho de seu filho, o menino Cláudio.
Aos 15 anos o jovem Cláudio atravessa as Gerais a fim de estudar no colégio jesuíta, no Rio de Janeiro. E aos 18, cruza o Atlântico. No dia primeiro de outubro de 1749, já matriculado na Universidade de Coimbra, inicia sua carreira de homem de letras. Às margens do Mondego, entre aulas, leituras e convivências – e versos – começa a construir sua fama de erudito. Cláudio foi capaz de adquirir uma sólida bagagem cultural humanista permanentemente alimentada ao longo da vida.
Em 1754, aos 24 anos, contrariado, retorna a Minas, de onde nunca mais sairia. Jamais abandonou os versos, mas ganhou a vida (e fez fortuna) como advogado e homem de Estado, exercendo diversas funções, de almotacé a cargos na Fazenda pública e na Câmara de Vila Rica. Ao narrar a vida pública de Cláudio, a autora traça interessante perfil do modo como Estado e a administração atuavam, com seus meandros, labirintos e interesses (lícitos e escusos). Naquele mundo bruto, Cláudio jamais deixou de ser poeta e foi capaz de transpor à sua obra a contradição expressa na convivência tensa entre uma cultura urbana e letrada e outra matuta e iletrada, tão característica das Minas do século XVIII, na qual se sentia “vítima estrangeira” na própria terra.
O poeta não apenas viveu em Minas, mas a expressou, sem jamais esquecer a cultura árcade da Europa. O confronto e a convivência entre a civilização e a barbárie no Novo Mundo é um tema recorrente na Ilustração. A saudade da civilização do Reino é sempre lembrada para falar da desolação de sua terra. “Ser letrado na aldeia não o livrava contudo dos tormentos internos. Em 1768, no ‘Prólogo’ à Obras, desabafou que as boas influências recebidas em Coimbra – ‘alguns influxos, que devi às águas do Mondego’ – estavam destinados a sucumbir, uma vez retornado às Minas: ‘aqui entre a grossaria dos seus gênios, que menos pudera eu fazer que entregar-me ao ócio, e sepultar-me na ignorância!’” (p.138).
A saudade – e o sentimento de inferioridade – perante a Europa, que já acometia Cláudio Manuel da Costa, parece ser um antigo traço do homem de letras brasileiro. Um século e meio depois das saudades metropolitanas de Cláudio, Mário de Andrade, em carta a Carlos Drummond, repreendendo-o, diria: “O dr. Chagas descobriu que grassava no país uma doença que foi chamada de moléstia de Chagas. Eu descobri outra doença mais grave, de que todos estamos infeccionados: a Moléstia de Nabuco. (…) Moléstia de Nabuco é isto de vocês andarem sentindo saudade do Sena em plena Quinta da Boa Vista e é isso de você falar dum jeito e escrever covardemente colocando o pronome carolinamichaelisticamente” (referência à filóloga portuguesa Carolina Michaëlis). (Lélia Coelho Frota, Carlos e Mário, 2002, p.128). Muitos dos conflitos vividos por Cláudio, ainda antes da modernidade, são dramas existenciais constantemente reatualizados por certos estratos da elite brasileira, que vivem cindidos entre a crença profunda de pertencer ao Ocidente e o sentimento igualmente profundo de estar à margem.
Concepção e narrativa
Narrar a vida – e de certo modo a obra – de um homem e seu mundo é uma luta com o tempo e com as palavras. Luta ainda mais árdua quando o acervo documental é exíguo e já se vão mais de dois séculos entre o tempo do narrador e do narrado. Reconstruir um tempo e um mundo que já nos são estrangeiros é tarefa por excelência do historiador, cuja missão é traduzir o passado, reconstruindo demoradamente filias e fobias, conceitos e projetos, paixões e ódios, decifrando códigos cuja fluência se perdeu. O Cláudio Manuel exumado por Laura nem é o “verdadeiro”, irremediavelmente perdido, nem é um personagem inventado à maneira de um ficcionista, mas um Cláudio reconstruído a partir de um acurado tratamento documental e bibliográfico, assentado em seu contexto histórico. Para que esse Cláudio exista foi necessário imaginar – ao modo dos grandes historiadores do XIX, como Jules Michelet, que, primando pela qualidade da reflexão e pela exploração crítica das fontes, não recusaram o estilo e a potência interpretativa, capazes de criar uma perspectiva autoral, inconfundível.
Para narrar a viagem de Cláudio Manuel entre o Rio de Janeiro e as Minas, na longa volta para casa, em 1754, depois de seus anos de estudo em Coimbra, a historiadora soube encontrar soluções aos problemas que a pesquisa impunha: na falta de quaisquer documentos relativos à viagem do jovem bacharel, a autora utilizou o relato do reinol Costa Matoso, que na qualidade de ouvidor nomeado àquela capitania, registrou a viagem em minúcias, em 1749; assim, ficamos sabendo que nos estreitos e tortuosos caminhos de Minas não raro a bagagem senão as próprias mulas despencavam ribanceira abaixo; que as chuvas de verão praticamente impediam a viagem entre novembro e março. Narra a biógrafa que, à “medida que a baía do Rio de Janeiro ia ficando para trás, encoberta por véus esgarçados de neblina, ficava também o oceano que ligava a colônia à metrópole, ficavam os navios atracados no cais, as igrejas, os conventos, o palácio dos governadores, o mundo mais lusitano e mais polido que havia desempenhado um papel tão importante na sua formação, e ao qual ele se ligara profundamente, com admiração e culpa” (p.70).
A riqueza do texto, submetido ao rigor da pesquisa histórica, garante à narrativa pelo menos duas camadas de leitura: o leitor especializado encontrará acurada perspectiva analítica, ancorada em erudição bibliográfica e documental; já o leitor não especialista reconhecerá no texto sabor e interesse.
No livro não há notas de rodapé, nem longos balanços historiográficos, como é comum nos textos vazados em linguagem acadêmica. No entanto, no fim do volume, já depois dos agradecimentos, entre as páginas 201 e 215, há uma importante contribuição aos estudantes e estudiosos das Minas do século XVIII. Em “Indicações e comentários sobre bibliografia e fontes primárias” a autora, professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo, oferta aos interessados um valioso roteiro de leitura, com comentários acerca da bibliografia e da documentação.
Uma das qualidades da abordagem de Laura está na construção de um retrato de Cláudio e sua época que transcende a dimensão local ou mesmo “nacional”. Inclusive porque o Brasil enquanto nação não existia, nem existiam as nações modernas, com suas sensibilidades românticas e seus projetos de unidade política, cultural, linguística e legal. Consciente de que a história de Cláudio transcorre numa província do Império português, não é de se estranhar que um dos poucos autores citados no livro seja Charles Boxer, historiador que não escreveu sob a égide do estruturalismo e dos recortes estritos (embora aprofundados) no espaço e no tempo, de onde emerge o particular. A obra de Boxer, mais tributária da hermenêutica documental do que da especulação teórica, construiu grandes painéis interpretativos, narrativos, abertos à multiplicidade temporal e espacial da história, como em O império marítimo português, 1415-1825 ou Portuguese Society in the Tropics. The Municipal Councils of Goa, Macao, Bahia, and Luanda, 1510-1800. Quando as historiografias brasileira e portuguesa – por melhor que fossem – ainda estavam presas aos recortes nacionais, Boxer já praticava uma historiografia de dimensão imperial, o que não significa menosprezar as instituições locais, como a Câmara, ao contrário, pois era através dela que o braço régio atingia os lugares mais remotos do império. Na “vereação de 1781”, da qual Cláudio fazia parte, todos os membros da Câmara, com exceção de um deles, também pertenciam à Santa Casa da Misericórdia, “compondo, assim, o modelo da oligarquia local detectado pelo historiador britânico Charles Boxer para o conjunto do Império português: quem não estava na Câmara, estava na Misericórdia, quando não estava nas duas” (p.90).
A biógrafa é especialista nas Minas do século XVIII, o que, por certo, ajudou a assentar o biografado no chão histórico em que viveu o poeta árcade. Quanto à apreciação propriamente histórico-literária da obra de Cláudio Manoel da Costa, a historiadora travou diálogo com Sérgio Alcides, autor de Estes penhascos. Cláudio Manuel da Costa e a paisagem das Minas (1753-1773) e com a incontornável referência de Sérgio Buarque de Holanda, em Capítulos de literatura colonial. Como Lucien Febvre, nos seus Combates pela História, a autora apostou na contextualização e na humanização do personagem, sem, contudo, desconsiderar o enquadramento do estilo retórico de Claudio Manuel e sua época.
Mapas e viagens
“Viagem dilatada e aspérrima” é a frase com a qual Cláudio descreveu o périplo empreendido pelo governador da capitania, entre agosto e dezembro de 1764, comitiva da qual era integrante. Este é também título do capítulo 15 do livro, em que Laura narra a viagem de 40 léguas, ou 2640 quilômetros, pelo interior selvagem das Minas. A viagem expõe os caminhos, as vilas, os rios, as montanhas, os índios, os negros, os sertanistas, os contrabandistas. O lugar seria perfeito (em linha com a criativa concepção do livro) para presentear os leitores com os esforços cartográficos produzidos nas Gerais do século XVIII. Afinal, mapas ocupavam a imaginação do poeta: “Cláudio guardava duas imagens de santos dentro de redomas de vidro, que ficavam em cima de algum móvel ou dentro de um oratório, ou ainda quem sabe ao pé da cama: as paredes, ele reservava para uma de suas paixões, os mapas” (p.144). Não é possível resgatar os mapas das paredes da casa de Cláudio, mas teria sido interessante imaginá-los, especulando (e integrando ao texto) mapas da época, que nelas poderiam ter estado. Há no livro, no entanto, dois pequenos e extraordinários mapas: um que apresenta a setecentista Vila Rica, em que aparece circulada a fazenda de Cláudio Manuel da Costa (e que havia sido do casal João e Teresa, seus pais); e outro que exibe uma vista panorâmica de Mariana. Mas outros poderiam ter sido evocados, inclusive algum que mostrasse o traçado do caminho que havia sido percorrido por Cláudio (e descrito por Costa Matoso) entre o Rio e as Minas. Ele próprio, conta a autora, havia preparado um mapa, hoje desaparecido, para o governo local. Mapas eram uma das suas obsessões, aliás, não apenas sua, mas de seu tempo.
Honra, lei e a vida
Cláudio Manuel da Costa – um luso-brasileiro branco, educado em Coimbra, enriquecido nas lidas de advogado de prestígio, e um dos maiores poetas da língua portuguesa de seu tempo – jamais se casou, porém viveu por mais de 30 anos com Francisca Arcângela de Souza, negra, provavelmente escrava alforriada, com quem teve ao menos cinco filhos (tampouco se sabe o número exato). Para um homem de sua posição, casar-se com uma moça branca, de sua extração social, teria sido fácil, mas naquele mundo, assumir Francisca impunha um custo elevadíssimo.
Em seu esforço para se nobilitar, Cláudio empenhou-se em ingressar na Ordem de Cristo, a mais aristocrática das ordens militares portuguesas, fundada na Idade Média e herdeira dos templários. Na época dos descobrimentos, o “mestre” da Ordem era El Rei D. Manuel, o Venturoso, o que denota a importância da honraria, cujo valor era simbólico, destinando-se a “homens que haviam se distinguido tanto em feitos de armas como em outras ações dignas de nota, nas letras, no governo, na religião” (p.110). Além disso, pessoas que trabalhassem com as mãos ou fossem de “raça infecta” (ou casadas com gente de “sangue impuro”), por ascendência moura, judaica, negra ou indígena, estavam legalmente impedidas de pertencer à Câmara, às ordens militares ou à Santa Casa da Misericórdia. “Cláudio não podia. Nem casar com a companheira negra que lhe deu cinco filhos, e com quem permaneceu até o final. Como ficariam as honrarias que perseguia, o hábito de Cristo, o cargo de procurador da Fazenda, tudo amarrado pelas exigências restritivas do status e da legislação sobre pureza de sangue?” (p.160). Cláudio – cultor de Ovídio, leitor de Góngora, em termos políticos razoavelmente simpático às reformas do despotismo ilustrado de Pombal – foi, e não poderia deixar de ser, um “homem de seu tempo e de seu país”, parafraseando Machado de Assis (Instinto da Nacionalidade. Obra completa, vol.3, 1994, p.811). Afinal, vivia numa sociedade escravocrata e num Império cioso da pureza de sangue. Apesar da sóbria simpatia que lhe dedica, a biógrafa não deixa de revelar as contradições do poeta: “Cláudio se afeiçoou a uma negra pobre e não teve a coragem do desembargador João Fernandes de Oliveira, filho de seu padrinho, que, milionário e poderoso, assumiu publicamente tanto Chica da Silva quanto a filharada que nasceu da união” (p.141).
Cai o mundo de Cláudio
A partir da década de 1780 vigia, nas Gerais, um clima de sedição e conspiração, manifesto no que Laura de Mello e Souza chamou de “conversas perigosas”. O descontentamento prevalecia entre os grandes da terra – num contexto pós-pombalino, em que o governador nomeado por Lisboa, Luís da Cunha Meneses, gozava de péssima reputação, na medida em que buscava cortar foros e privilégios da elite local. A inquietação se agravava com a rígida política tributária que onerava as finanças dos endividados homens bons. Nesse clima, abundavam reuniões frequentadas pelo cônego de Mariana Luís Vieira da Silva, por Alvarenga Peixoto, que vivia em São João del Rei, por Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, entre muitos outros, como Domingos de Abreu Vieira, Joaquim Silvério dos Reis e, decerto, Tiradentes.
O sentimento de contradição – que opunha interesses locais e o dever de lealdade à Coroa – deve ter calado fundo no já atormentado Cláudio, de certo modo tão português, mas também sensível às coisas do mundo em que habitava. Além dos conflitos latentes, havia um pano de fundo que a autora nota com muita sensibilidade, o que nem sempre percebem os historiadores ávidos de concretude e pouco afeitos a interpretações mais ousadas: “para completar seu desespero, (Cláudio) deve ter percebido com clareza que os luso-brasileiros não eram, no fundo portugueses: nem se sentiam mais assim, nem eram vistos como tais, quando olhados do Reino” (p.180).
O desastre era iminente. A devassa havia começado no Rio de Janeiro, onde Tiradentes fora encarcerado. Em Minas, na manhã de 22 de maio de 1789 fora preso Tomás Antônio Gonzaga. Outra escolta prendera Abreu Vieira. No dia 24, Alvarenga Peixoto e o padre Toledo foram presos. Todos seguiram para o Rio, “montados em cavalos que os soldados puxavam pelas rédeas e, humilhação das humilhações, agrilhoados nos pés e nas mãos” (p.182). Cláudio contava sessenta anos, era o mais velho dos inconfidentes e estava doente, talvez n’alma também. Ele, cavaleiro da Ordem de Cristo, educado em Coimbra, membro ativo da elite imperial, estava prestes a ser preso por alta traição ao Rei. Na madrugada do dia 25 de maio sua casa fora cercada. O poeta de prestígio, proprietário de escravos, advogado de quase todos os grandes contratadores, rico o suficiente para emprestar dinheiro aos ricos, estava preso. Ele que conhecia como poucos a legislação do Reino, agora era réu e devia depor. O depoente, alquebrado e acovardado, acostumado ao outro lado do balcão, foi logo incriminando amigos e confessando. “Mal lhe perguntaram se desconfiava do motivo que o levara a tal situação e já confessava o terror que o acometera ao saber do envolvimento de Gonzaga ‘numa espécie de levantamento com ideias de República’ e o receio de que o considerassem ‘sócio consentidor ou aprovador de semelhantes ideias’” (p.184). Além de trair seu Rei, traía seus amigos, convivas da Rua Gibu de poucas semanas antes. Ele, que tanto lutara por honra, já não a tinha. Os cargos, já não valiam mais nada. O hábito de Cristo devia soar ridículo.
No dia 4 de julho de 1789 Cláudio decidiu pôr termo à vida.
Ele que, talvez, nem desejasse um efetivo rompimento com a metrópole, contentando-se com maior autonomia da Capitania, um governo mais ilustrado e menos voraz e, principalmente, mais sensível às demandas locais. Cláudio Manuel da Costa foi a primeira vítima da Inconfidência. Antes do degredo de Gonzaga e Alvarenga, ou da morte esquartejada de Tiradentes, fora ele o primeiro a sucumbir.
Laura de Mello e Souza, convincentemente, opta pela tese do suicídio, o que seria visto como algo herético pela historiografia patriótica do século XIX (e por vários outros autores), para quem Cláudio foi assassinado, o que jamais saberemos. Resta ao historiador compreender, reunindo documentos, observando contextos, cotejando informações e refletindo sobre o passado – esse país estrangeiro que, à maneira de um etnógrafo, deve ser inquirido. O historiador não é um ficcionista, mas pode ser um narrador criativo, embora refém das fontes – por isso é também um detetive. Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido é um painel das Minas do século XVIII, acessado a partir da leitura de um homem e suas circunstâncias. Empresa intelectual em que se percebe a influência do historiador italiano Carlo Ginzburg – não por acaso, um cultor do método indiciário. E, ainda mais se nota a herança de Sérgio Buarque de Holanda, que leu a poesia árcade de Cláudio como “o contraste entre o espetáculo da rudeza americana e a lembrança dos cenários europeus (…). Nos poemas que, restituído a terra natal, passa a compor, domina insistente e angustiada a nostalgia de quem – são palavras suas – se sente na própria terra peregrino” (Sergio Buarque de Holanda, Capítulos de história colonial, Brasiliense, 1991, p.227). Laura narrou a vida cindida de Cláudio, como Sérgio havia compreendido a obra cindida do poeta.
Alberto Luiz Schneider – Professor temporário de História Colonial no Departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH /USP-São Paulo/Brasil). E-mail: [email protected]
SOUZA, Laura de Mello e. Cláudio Manuel da Costa: o letrado dividido. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. Resenha de: SCHNEIDER, Alberto Luiz. A vida (e a morte) de Cláudio Manuel da Costa: poeta árcade, escravocrata e inconfidente. Almanack, Guarulhos, n.4, p. 168-173, jul./dez., 2012.