Posts com a Tag ‘Verso (E)’
The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution | Julius S. Scott (R)
Julius Sherrard Scott / Foto: Scholars and Publics /
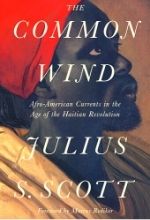
É difícil entender o intervalo de mais de trinta anos entre a defesa da tese e a impressão do livro, sobretudo porque o conteúdo manteve-se praticamente inalterado, porque o assunto é relevante e a narrativa é bem construída. Desinteresse editorial, desejo do autor em rever sua obra ou espera por um momento oportuno para reavivar a lembrança coletiva de que o Haiti ainda existe, como o terremoto de 2010, talvez possam ser elencados como hipóteses possíveis para essa longa espera. A bibliografia sobre o Haiti e, de forma mais ampla, o Grande Caribe, como Scott aborda no livro, não é extensa em inglês e é praticamente inexistente em português. [2] Por isso, talvez o primeiro ponto a ser destacado nesta resenha seja a necessária iniciativa de traduzir esse livro no Brasil, sem esperar a passagem de outras três décadas para que os leitores possam acessar uma experiência tão próxima à história colonial e imperial do país e tão inspiradora para os estudos históricos sobre a formação cultural brasileira e a história marítima ainda pouco praticada por aqui.
Chama a atenção a profusão e diversidade de materiais de que Scott se valeu para a escrita de sua história da circulação de ideias revolucionárias no Caribe setecentista: manuscritos oficiais de agentes da Coroa em arquivos espanhóis e cubanos, o mesmo tipo de fontes para a administração britânica em Londres e nas Índias Ocidentais, documentos de fundos privados em coleções estadunidenses, baladas cantadas por marinheiros negros e brancos em circulação por aquelas águas, narrativas de viajantes, propaganda abolicionista e jornais editados na América do Norte, nas Antilhas, no Reino Unido e na França. Exceto por periódicos que circularam em Portau-Prince e Cap Français, as fontes haitianas são praticamente ausentes do estudo, sinal de seu desaparecimento ou inacessibilidade ao longo da conturbada história humana e natural do país desde o século XVIII. “Pandora’s Box: The Masterless Caribbean at The End of the 18th Century”, o capítulo inicial, anuncia o contexto da ação revolucionária no Caribe. A perspectiva não é exatamente comparativa, mas leva em conta a diversidade de experiências coloniais e a grande expansão econômica baseada no boom da produção de açúcar na região. Aqui são consideradas também as formas de dominação oriundas de diferentes autoridades europeias a partir da vitória contra os piratas, bucaneiros e renegados que ocupavam aquelas ilhas e se organizavam por meio de regras próprias. Foi ao longo do século XVIII que a presença de escravizados africanos passou a se dar no Caribe de forma massiva – o que, se veio a transformar substantivamente a região, ao mesmo tempo manteve a imagem daquelas ilhas como lugares atrativos para desertores, escravos fugidos e toda a multidão de gente espoliada que pretendia viver sem obedecer às ordens de senhores.
O capítulo 2, “Negroes in Foreign Bottoms’: Sailors, Slaves, and Communication”, remete à visão de mundo de escravizados e seus senhores. Ambos reconheciam o potencial transformador do conhecimento das técnicas e formas de navegação. Tratava-se de algo perigoso e que criava homens insolentes, na visão senhorial, e que tendia para a construção de uma igualdade, no entendimento dos escravos. Olaudah Equiano, escravo marinheiro em meados do século XVIII e autor de uma celebrada autobiografia que parece guiar o capítulo, percebeu claramente que a mobilidade advinda dessa ocupação permitia certa igualdade com seus senhores, e não hesitou em “dizê-lo para sua mente”. Desgraçadamente para os senhores, muitos escravos com dificuldades de aceitar a disciplina que se lhes queria impor se engajaram no mundo do trabalho marítimo, inclusive porque seus senhores queriam se ver livres deles justamente por serem indisciplinados.
O terceiro capítulo, “The Suspense Is Dangerous in a Thousand Shapes’: News, Rumor, and Politics on the Eve of the Haitian Revolution”, pretende dar um aporte maior ao entendimento da revolucionária década de 1790 considerando seus antecedentes. O foco está dirigido à mobilidade de escravos, homens livres de cor e desertores militares e da marinha mercante que circulavam entre uma propriedade e outra, entre o campo e as cidades e entre as diversas ilhas, colocando em questão o controle social e a autoridade imperial. Ao fazer isso, alimentaram uma tradição de “resistência móvel” construída ao longo do Setecentos e que se radicalizaria nas décadas finais daquele século e no início do Oitocentos. As reações e tentativas de controle social mais severo por parte de autoridades metropolitanas e coloniais inglesas, espanholas e francesas são apresentadas nesse capítulo.
O capítulo 4, “Ideas of Liberty Have Sunk So Deep’: Communication and Revolution, 1789-93”, lança novas luzes sobre a repercussão da Revolução no Haiti nas demais ilhas. Ideias revolucionárias circularam não apenas em busca de adeptos, mas também como estratégia das autoridades imperiais em interação repressiva. Além de informações, oficiais baseados em uma ilha trocavam, com seus homólogos de outras Coroas, ajuda de todo tipo, militar inclusive. Os da Martinica pediram tropas ao governador de Cuba em 1790, diante das desordens que enfrentavam naquela colônia e da confusão revolucionária em que a própria metrópole francesa mergulhara em 1789, inviabilizando o envio de qualquer apoio. A causa da manutenção do controle social ultrapassava fronteiras linguísticas, imperiais e senhoriais. Mas os acontecimentos de 1789 e 1790 no Caribe, como afirma Scott, também ativaram as redes de comunicação afro-americanas. Se autoridades e proprietários ingleses, espanhóis e franceses construíram diálogos e articularam ações para se autopreservarem no Caribe ao longo do tempo, os escravos e homens livres de cor fizeram o mesmo.
O quinto capítulo, “Knows Your Interests’: Saint-Domingue and the Americas, 1793-1800”, concentra-se no impacto pós- -revolucionário nos impérios coloniais remanescentes e nos Estados Unidos. Porém, a amplitude geográfica do capítulo é menor do que o título promete. Houve mobilização militar nas colônias, num esforço para manter a ordem. Os escravos, por sua vez, mobilizaram- se e articularam ações que não foram apenas respostas ao aumento da severidade e da vigilância, mas que diziam respeito às suas próprias tradições organizativas. Esse processo foi intenso em Cuba [3], na porção oriental de Hispaniola, na Venezuela, em Curaçao e na Luisiana, apenas para mencionar algumas colônias em que a escravidão era a base da exploração dos trabalhadores. Desafortunadamente, a América portuguesa, maior colônia escravista do continente, ficou fora do quadro comparativo, decerto pela falta de domínio da língua portuguesa por parte do autor e pela reduzida bibliografia sobre a repercussão da Revolução Haitiana produzida no Brasil e em Portugal.
A circulação ou mobilidade espacial é o grande tema do livro. Negros africanos ou nascidos no Caribe e mestiços iam de uma colônia às outras, navegando distâncias que, embora relativamente curtas, lhes davam acesso a comunidades estrangeiras, com diferentes línguas e experiências de escravização e resistência. As oportunidades de disseminar conhecimentos e ideias e trocar informações objetivas não foram perdidas por aqueles escravos que se ganharam o mar e o mundo além do horizonte. O movimento dos navios e dos marinheiros oferecia não só oportunidades de desenvolver habilidades ou viabilizar fugas, mas criava formas de comunicação de longa distância e permitia que os afro-americanos transportassem, física e simbolicamente, seus modos de enfrentar as adversidades do cativeiro a outras partes, construindo resistências e concepções de liberdade globais.
A cultura marítima no Caribe era multirracial e multinacional. Escravos africanos ou nascidos nas colônias americanas eram partes importantes do contingente de trabalhadores do mar, mas o “submundo dos marinheiros” na região ao fim do século XVIII era formado também por milhares de britânicos e franceses. Tratava-se de uma população instável e que, por vezes, em razão de questões de mercado de trabalho ou de saúde, se estabelecia em alguma ilha à espera de melhores condições, enraizando- -se na cultura local de transitoriedade e de exposição às informações que circulavam rapidamente para os padrões daqueles tempos. No Caribe sabia-se dos acontecimentos das ilhas vizinhas, da Europa e da América do Norte: ali era a encruzilhada do mundo Ocidental, mais especificamente do hemisfério Norte, graças às correntes de comunicação estimuladas pela relativa proximidade, pelas facilidades da navegação e pelo aumento da atividade agroexportadora caribenha ao longo do século XVIII.
O axioma segundo o qual marinheiros eram desordeiros em terra encontrava plena comprovação no Caribe. Milhares de homens em trânsito representavam um problema para as autoridades locais responsáveis pela manutenção da ordem. Inúmeras leis foram postas em vigor para discipliná-los, do mesmo modo como se fazia para tentar regular a conduta dos escravos. Em tempos mais explicitamente conflituosos, como na Guerra dos Dez Anos (1780-1790), chegou-se a proibir que marujos britânicos nas Índias Ocidentais servissem a príncipes ou Estados estrangeiros. A proibição mostrou-se ineficaz.
A comparação entre escravos e marinheiros não é aleatória no trabalho de Scott. Ele nos deixa ver como ambos tiveram experiências em comum e causas pelas quais militavam juntos: o engajamento compulsório independentemente da condição, a submissão a punições arbitrárias, a pressão para embarcarem em navios mercantes contra sua vontade e a visão sobre ambos como perturbadores da ordem pública. Bom exemplo foi um ato policial de 1789, em Granada, prevendo penalizar escravos, mestiços livres e marinheiros que atentassem contra a própria saúde e a moral, porque seus comportamentos, vistos como dissolutos, eventualmente seduziam pessoas de outras condições.
Escravos e marinheiros conviviam a bordo, como tripulantes dos mesmos navios, mas a experiência também replicava em terra. Marinheiros eram os consumidores naturais das roças escravas caribenhas e, apesar do empenho policial, era difícil impedir que escravos lavradores ou em fuga fizessem comércio com marinheiros famintos e fragilizados depois de uma longa viagem, ávidos sobretudo por frutas e outros alimentos frescos. O contato e o convívio entre marinheiros e negros naquelas ilhas não tiveram apenas consequências econômicas, mas também forjaram elementos da cultura: muitas canções de trabalho populares no mar, disseminadas por marujos britânicos pelo mundo afora no século XIX, têm extraordinária semelhança com as canções escravas do Caribe. Scott afirma haver evidências consideráveis de que muitas canções podem ter se originado da interação de marinheiros e negros nas docas das Índias Ocidentais e que a teoria da origem e desenvolvimento das línguas crioulas no Caribe enfatiza o contato entre marinheiros europeus e escravos africanos e africano-americanos.
O ponto de intersecção de toda essa gente trabalhando em trânsito era Saint-Domingue, lugar de extraordinária diversidade de grupos de marinheiros europeus, a julgar pelos relatos do próprio ministério da Marinha francês na década de 1790. Mesmo com os monopólios coloniais e suas diferentes nomenclaturas (a flota espanhola, o exclusif francês, o British Navigation Act inglês), o contrabando grassava por ali, pondo em contato colonos europeus, marinheiros de diferentes metrópoles e escravos caribenhos e de variadas origens africanas. A razão dessa diversidade também entre os escravos, para além do tráfico direto com a África, era a sede por mão de obra em Saint-Domingue, o que fazia daquela colônia francesa um repositório de escravos fugidos a partir de 1770, vindos de Jamaica, Curaçao e, a julgar pela língua de alguns deles, também do Brasil. Muitos desses escravos em fuga se engajaram ativamente em rebeliões antes mesmo de 1789 e desempenharam papéis relevantes nos anos revolucionários – por exemplo Henry Christophe, segundo presidente do Haiti independente, nascido em St. Kitts, nas Índias Ocidentais britânicas.
O comércio e a circulação de marinheiros por aquelas bandas não só traziam notícias de fora como transmitiam ao resto do mundo o que se passava em Saint-Domingue. Scott reconhece que as revoltas de negros no Caribe em fins do século XVIII inspiraram os escravos nos Estados Unidos e em muitas das Antilhas. Em termos materiais, a afirmação encontra base no volume comercial entre Estados Unidos e Saint-Domingue em 1790: o montante das trocas, nessa altura, excedia aquelas feitas com todo o restante do continente americano, e era superado apenas pelo comércio com a Grã-Bretanha.
Scott foi um dos primeiros historiadores a identificar na mobilidade espacial advinda da navegação um importante indicador de autonomia e, eventualmente, liberdade para os cativos que conseguissem trilhar esse caminho. Os navios carregados de açúcar e rum circulando pelo Caribe possibilitavam escapar do rigoroso controle social existente nas sociedades escravistas e principalmente os navios menores eram vistos como instrumentos de fuga. Problemas diplomáticos e policiais decorriam dessa mobilidade não autorizada, mas o foco do autor se firma nos marinheiros e escravos desertores que elegeram as ilhas caribenhas como seus locais preferidos.
No Atlântico, mais do que em outros oceanos, e no Caribe, de forma concentrada, o comércio marítimo de longa distância e de cabotagem envolvia homens escravos e livres de cor. No caso dos escravos, envolvia também perspectivas de autonomia e liberdade dadas não só pela mobilidade como também pelas chances de se diluir em meio à multidão reunida nos portos, formada por indivíduos que, ao serem observados, não podiam ser definidos como livres ou cativos apenas pela cor de suas peles. Os mesmos jornais jamaicanos que publicavam anúncios de senhores vendendo negros especializados em trabalhos marítimos também publicavam anúncios de fuga de gente que certamente usara o mar como rota para desaparecer das vistas de seus senhores. Scott interpreta a “mística do mar” nas sociedades escravistas insulares do Caribe, ao salientar a vida a bordo de um pequeno navio de cabotagem ou do comércio intercolonial como uma alternativa atrativa à vida marcada pela hierarquia severa nas lavouras açucareiras. Mesmo escravos sem experiência marítima podiam conhecer alguns termos náuticos graças aos versos das canções populares e fingirem serem marinheiros livres. Ávidos por força de trabalho, os capitães dos navios quase nunca inquiriam cuidadosamente cada marinheiro engajado. Durante a década de 1790, antes e depois da Revolução de Saint-Domingue, sujeitos envolvidos no mundo do trabalho marítimo – marinheiros da navegação de longa distância, de pequenos navios de cabotagem no comércio intercolonial, escravos fugidos, marujos desertores brancos e negros – assumiram o centro do palco. No mar ou em terra, homens e mulheres sem senhores desempenharam um papel vital, espalhando rumores, reportando notícias e atuando como correia de transmissão de movimentos antiescravistas e, finalmente, da revolução republicana em curso na Europa.
A Revolução do Haiti tornou-se lendária não só porque foi a primeira experiência de liberdade coletiva e de construção de uma nação por ex-escravizados que retiraram à força seus senhores de cena, mas também pelo que representou como possibilidade na imaginação de escravos e senhores espalhados pelo mundo ocidental onde a escravidão era a base da acumulação de riquezas. A crença na determinação histórica, fruto da autocondescendência pela suposta descoberta de modelos explicativos eficazes, encontra nesta encruzilhada do Ocidente um incômodo para os historiadores mais seguros de suas opções teóricas. O passado torna-se sempre mais complexo quando é considerado da perspectiva de seus agentes.
Referências
ANDRADE, Everaldo de Oliveira. Haiti, dois séculos de história. São Paulo: Alameda, 2019.
FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana e a Revolução Haitiana. Almanack, n. 3, p.37-53, jun. 2012.
FERRER, Ada. A sociedade escravista cubana na época da Revolução Haitiana. In: CUNHA, Olívia Maria Gomes da.
Outras ilhas: espaços, temporalidades e transformações em Cuba. Rio de Janeiro: Aeropolano/FAPERJ, 2010. p. 37-64.
GRONDIN, Marcelo. Haiti. Col. Tudo é História. São Paulo: Brasiliense, 1985.
JAMES, Cyril Lionel Robert [1938]. Os jacobinos negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São Domingos. São Paulo: Boitempo, 2000.
REDIKER, Marcus. O navio negreiro: uma história humana. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
REDIKER, Marcus; LINEBAUGH, Peter. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
SCOTT, Julius S. The Common Wind: Afro- American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Londres; Nova York: Verso, 2018.
Notas
- Autor de A hidra de muitas cabeças: marinheiros, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário (em parceria com Peter Linebaugh) (2008) e O navio negreiro: uma história humana (2011).
- Exceções são os livros de Grondin (1985); de Andrade (2019) e, é claro, a tradução muito tardia de James (2000), editada pela primeira vez em 1938.
- O impacto da Revolução do Haiti em Cuba pode ser conhecido pelo leitor brasileiro com mais detalhes pelos trabalhos já traduzidos de Ada Ferrer (2010 e 2012).
Jaime Rodrigues – Professor da Universidade Federal de São Paulo / Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas / Departamento de História, Guarulhos/SP – Brasil. E-mail: [email protected].
SCOTT, Julius S. The Common Wind: Afro-American Currents in the Age of the Haitian Revolution. Londres; Nova York: Verso, 2018. 246p. Resenha de: RODRIGUES, Jaime. Uma encruzilhada do Ocidente: o Caribe setecentista como espaço histórico Topoi. Rio de Janeiro, v.22, n.46, jan./abr. 2021. Acessar publicação original [IF].
No God but Gain: The Untold Story of Cuban Slavery/the Monroe Doctrine & the Making of the United States | Stephen Chambers
O livro de Stephen Chambers traz uma contribuição impressionante e relevante para a história dos Estados Unidos (EUA) e sua relação com a América Latina, especificamente com Cuba. A historiografia das relações econômicas e diplomáticas dos EUA com a América Latina durante o século XX é vasta e diversa; mas não foi senão recentemente que os historiadores começaram a prestar mais atenção ao estudo das atividades comerciais e do comércio exterior dos EUA dentro dos territórios hispano-americanos, e como tais práticas influenciaram aquelas relações no período 1790-1830. Esses historiadores trouxeram novas perspectivas sobre como o comércio de reexportação com a América Espanhola proporcionou a negociantes, banqueiros e investidores grandes lucros e importantes remessas de capital que foram usados nos primórdios da industrialização dos EUA.1 Leia Mais
Racecraft: the soul of inequality in American Life – FIELDS; FIELDS (RBH)
FIELDS, Karen E.; FIELDS, Barbara J. Racecraft: the soul of inequality in American Life. London and New York: Verso, 2012. 302p. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.33, n.65, 2013.
Karen e Barbara Fields são irmãs e, seguindo um gesto conforme à convenção racial norte-americana – principal objeto de análise deste livro, do seu fim abertamente iconoclasta e da indignação das autoras –, ‘afro-americanas’ por definição. Elas, no entanto, não pretendem disputar, nesta obra, o uso de outros termos nas terminologias raciais e de origem. Muito pelo contrário. Preferem tornar claro que, como projeto intelectual, mais que a liberdade de escolha entre tipologias, elas defendem o desenraizamento da ideologia da ‘construção social da raça’ (racecraft) do discurso político e de propostas de ordem social e convívio humano. Assim, em análises que pretendem iluminar como essa ideologia se atualiza e mantém-se contemporânea desde a Revolução Americana, as autoras buscam enfaticamente demonstrar por que elas a consideram, ao mesmo tempo, uma irracionalidade, uma fraude intelectual, uma evasão historiográfica, um crime político e um problema ético.
Naturais de uma centenária família da Carolina do Sul, radicada em Charleston – cidade tornada emblemática no memorialismo sulista, graças à importância de ilustres nativos na Confederação e na defesa do escravismo –, elas problematizam seu aprendizado intelectual e memórias familiares para expor que a manipulação da classificação racial tem limites estratégicos e éticos. Herdeiras de uma tradição praticamente defunta, o antirracismo com programa e raízes na Nova Esquerda, em uma era de agendas liberais e multiculturalismos, elas falam do interior dessa frente que as alcançou nos anos 1960 entre a longa história de luta e desobediência civil contra o Jim Crow 1 e o racismo reproduzido na ideologia da ‘construção social da raça’.
Publicado pela Verso – órgão da New Left Books, famoso por publicar a New Left Review nos anos 1960 –, o livro é composto de dez capítulos, entre textos inéditos e reeditados, e corresponde a uma trajetória intelectual que se iniciou, nos anos 1980, na investigação das formas populares das ideologias raciais, para alcançar, nos anos 2000, sua produção no universo acadêmico. Karen, socióloga e africanista, atualmente radicada na Duke University, é estudiosa das religiões e responsável pela nova tradução inglesa (1995) do clássico As formas elementares da vida religiosa, de Émile Durkheim. Barbara, historiadora da Columbia University, realizou vários trabalhos premiados sobre a história norte-americana e da escravidão, dentre os quais Slavery and freedom on the Middle Ground: Maryland during the Nineteenth Century (1985); The destruction of slavery (1985); Slaves no more: three essays on emancipation and the Civil War (1992), e Free at last: a documentary History of slavery, freedom, and the Civil War (1992), em coautoria.
Contra as expectativas e intenções de Barbara J. Fields, todavia, nenhum dos seus trabalhos se tornou tão influente quanto o ensaio de 1982, Ideology and Race in American History. Desde então, ela tem lutado contra a celebridade desse texto e a avaliação de que ele ofereceria suporte às visões sobre a história norte-americana como trajetória de caldeamentos e construção de distintos arranjos de ‘relações raciais’. Racecraft, pode-se dizer, é sua mais recente tentativa de explicar, aos expoentes dessas leituras, que estudar o Jim Crow não corresponde a aceitar sua fundamentação no truísmo da ‘construção social da raça’ como pressuposto analítico. Encerra-se no livro o argumento de que a ‘raça’ é sempre um predicado do racismo, e que a historiografia, contra o anacronismo, deve levar em conta que raça e racismo pertencem a modalidades diferentes de ‘construção social’.
O que as irmãs Fields propõem amiúde é a análise do lugar-comum da ‘raça’ como algo ‘socialmente construído’, resultado da produtividade ideológica do racismo. Tornando claro que não entendem por ideologia ideias como doutrina, dogma, propaganda, conjunto de atitudes ou crenças, e sim o “vocabulário descritivo da existência cotidiana, através da qual as pessoas estabelecem o sentido da realidade social na qual vivem e cuja materialidade criam e recriam dia a dia” (p.134), elas inventariam o modo como opera essa narrativa, definidora do laço social nas unidades humanas, sociais e políticas nas suas leituras da história norte-americana. O racismo se realizaria como uma atividade de duplo padrão – em sociabilidade, estratificação social, parentesco e percepção da alteridade –, na qual se confere a sujeitos atributos de objetos. Transforma-se, em ato, a ação do racista (aquele que reconhece na noção de ‘raça’ um princípio de realidade) em atributo racial. A dinâmica da ‘construção social da raça’ seria estruturada por esse hábito fundamental. Sua principal operação ideológica, a transformação de predicados em objetos de ação, cerca-se de um procedimento fundamental, o da obsessiva classificação, e encerra, segunda as autoras, dois resultados importantes: tornar relações humanas ‘relações raciais’ e distinguir o racismo (quando tomado como problema) de outras formas de desigualdade.
Essa evasão, do racismo transformado em raça, para elas central na história dos Estados Unidos desde a guerra de independência, teria apoiado a consolidação da anômala posição de classe dos escravos e, posteriormente, trabalhadores ‘afro-americanos’, em uma sociedade constitucional e militantemente democrática, como para sancionar, com o veto do racismo, as pressões por alterações nesse posicionamento. A linha predominante da historiografia norte-americana, ao registrar essa experiência no rol de ‘minorias’ – um eufemismo racial – teria, segundo elas, construído uma narrativa característica, que buscou (e ainda encontra) amparo em quatro posições principais:
- a) na limitação ao Sul, e à vida dos negros, das experiências de subordinação, divisão e convívio racial;
- b) na desconsideração da escravidão como dinâmica importante para a vida nas demais regiões do país, e na negação de que há um legado da escravidão, partilhado pelos norte-americanos;
- c) na redução analítica, mediante a oposição ‘segregação-integração’, do complexo universo de estratégias de ordenamento social produzidas e vividas nos Estados Unidos;
- d) na negação de qualquer legitimidade às agendas políticas que se expressam em ressentimentos e projetos de classe, sobretudo os levantados pelos ‘brancos’, supostamente do outro lado da ‘linha de cor’.
O nó-cego dessa narrativa histórica está, dizem as autoras, na pretensão em provar que a segregação, uma marca da vida norte-americana, gerou o que o Sul (mas não apenas) conheceu por Jim Crow. Para elas, “a escravidão era um sistema de expropriação do trabalho e não de administração das relações raciais” (p.161), explicando que o racismo, diversamente ao que se sustenta, inventou a separação de ‘grupos raciais’, e não o contrário. Na datação proposta, a formação dessa ideologia racial teria correspondido ao projeto revolucionário de defesa às liberdades dos homens livres, se atualizado como sustentáculo do escravismo e, em nova volta do parafuso, no estabelecimento, no plano político e intelectual, de eixo permanente de conversão de ressentimentos de classe em raciais, verdadeiro dilema dos Estados Unidos, concluem elas – ter múltiplos ressentimentos de classe, mas nenhuma linguagem para expressá-los.
Para as irmãs Fields, aqueles que tratam descendentes de africanos ou outras ancestralidades como raça – atualmente, menos sob organizações como a KKK que sob o discurso acadêmico das ‘identidades’ ou da ‘agência’ – realizam um ato de exclusão da História e da política. Com esse impulso, a preeminência da raça na linguagem pública sobre as desigualdades nos Estados Unidos reforçaria outro fenômeno norte-americano, talvez mais importante: a recusa em aceitar a problemática de classe como presença legítima na esfera pública, tornando ‘raças’ grupos cuja exclusão é pretendida.
Nesse registro, a posição das autoras diante da importância das cotas raciais nas agendas de políticas sociais segue a mesma avaliação: seriam incapazes de sustentar qualquer sentido de justiça que não represente concessão de prestígio à raça. A ‘tolerância racial’, corolário dessa agenda de ‘inclusão’, é igualmente execrada. Dizem, acompanhando argumento exposto por Richard Sennett em Respect in a world of inequality (2004), que ela seria inútil à democracia: como não se dirige às desigualdades e à exclusão que assolam a vida social e política norte-americana, a tolerância serviria à divisão da sociedade entre os que alegam respeito como direito e os que solicitam tolerância como expressão de boa vontade.
Em meio às expectativas de que a presidência de Obama e a reforma das categorias do censo norte-americano prenunciariam uma era ‘pós-racial’, o que Karen e Barbara Fields apontam é a renovada credibilidade da ciência e do folclore racial na inscrição de noções populares e velhas metáforas do sangue (parentesco e descendência) na ciência genética e do genoma, e delas, seu contrabando para a História e a Etnologia. Assistiríamos, no fascínio por tudo aquilo que pareça designar-se multirracial/multicultural, à atualização do debate novecentista sobre ‘variedades de mistura’ (miscigenação) – como hibridação e mesmo como poligenia – e à intrusão de noções racistas populares e eruditas, renovadas formas de afirmação da ‘pureza racial’.
Para quem o “conceito de raça pertence à mesma categoria do geocentrismo e da bruxaria” (p.100), o trabalho fundamental está em desenraizar a enorme produtividade terminológica e o potencial de ordenamento social do racismo com o seu legado de irracionalidade. Essa atividade de livramento da ‘superstição’ do racismo, essa amarra do passado, como acreditam, tem potencial para estimular a imaginação de novas linguagens políticas.
Notas
1 Por Jim Crow designavam-se todas as medidas de segregação e subordinação racial aplicadas nos Estados Unidos desde, aproximadamente, a década de 1870. O termo começou a circular no país nos anos 1830, em esquetes teatrais nas quais homens, pintados de preto, satirizavam o escravo como criatura bestial, ou degradada. A partir dos anos 1840, o termo passou a ser associado às medidas legais e consuetudinárias destinadas a estabelecer o lugar social e a forma de tratamento a ser devida à população branca pela população negra. A plena consolidação do Jim Crow, como categoria política e jurídica, foi alcançada após o período da chamada Reconstrução Sulista (1865-1877).
Wanderson da Silva Chaves – Pós-doutorando. Universidade de São Paulo (USP), Departamento de História. Avenida Professor Lineu Prestes, 338, Cidade Universitária. 05508-000 São Paulo – SP – Brasil. E-mail: [email protected].
[IF]
Representing Capital – JAMESON (FU)
JAMESON, F. Representing Capital. London/New York: Verso, 2011. Resenha de: FLECK, Amaro de Oliveira. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.13, n.1, p.90-94, jan./abr., 2012.
O novo livro de Fredric Jameson, Representing Capital: A Commentary on Volume One, tem por finalidade oferecer uma releitura do primeiro livro de O Capital de Karl Marx. A obra está dividida em sete capítulos, sendo os três primeiros uma apresentação central da argumentação marxiana – o primeiro capítulo é dedicado inteiramente à primeira seção, o segundo trata da segunda à sétima e o terceiro unicamente da oitava (a edição de O Capital em língua inglesa contém oito seções, e não sete, como as traduções em português e o original em alemão, sendo a oitava os dois capítulos finais, que, na edição em português e no original alemão, pertencem à sétima seção). Os três capítulos posteriores são análises detalhadas da questão do tempo (o quarto), do espaço (o quinto) e da dialética (o sexto), e o capítulo final é um rápido estudo sobre as conclusões políticas a serem tiradas de um livro que, segundo Jameson, não é ele mesmo político. Se O Capital não é um livro político, que será então? Ora, segundo Jameson, este não é um tratado filosófico (pois não lida primariamente com questões de verdade), e tampouco um econômico, no sentido especializado da maioria dos departamentos universitários; não tem por objetivo formular esta ou aquela concepção de capital, nem mesmo é um livro sobre trabalho; mas sim, em uma declaração que o próprio Jameson chama de escandalosa, é um livro sobre desemprego (retornarei a esta afirmação no último parágrafo da presente resenha). A questão da representação, que já aparece no próprio título da obra de Jameson, se refere ao fato de o capitalismo não ser visível como tal, de este ser uma totalidade que só é perceptível através de seus sintomas. Cada representação que se faz dele é, portanto, parcial, e somente por intermédio de uma pluralidade de perspectivas pode-se abordá-lo. Deste modo, a pesquisa não visa exaurir a totalidade, mas sim chegar a seu centro ausente utilizando distintas abordagens incompatíveis, tal como o “método” žižekiano da visão de paralaxe.
O primeiro capítulo, intitulado “o jogo das categorias”, discute a primeira seção da obra marxiana, seção esta que, segundo Jameson, é um tratado autônomo completo, tal como “o ouro do Reno” frente à tetralogia do anel wagneriana. Esta primeira seção lida com um enigma, o enigma de como coisas qualitativamente diferentes podem ser quantitativamente equiparadas, isto é, a velha questão da identidade e da diferença, porém agora remetida ao problema concreto do intercâmbio de mercadorias. E eis um dos pontos altos, a meu ver, do livro de Jameson: em vez de resolver falsamente o problema, aceitando o dogma marxista mas não marxiano de que este enigma é resolvido quando se percebe que a diferença qualitativa das mercadorias revela uma identidade do trabalho indiferenciado que subjaz nestas, Jameson segue atentamente a argumentação marxiana e nota que o próprio Marx não resolve tal enigma, mas o deixa em suspenso, de modo que “o quiasmo prevalece no estilo de Marx” (p. 23). Este problema não resolvido é transmudado na seção seguinte em um novo enigma, enigma este que ocupará as seções centrais de O Capital. De tal modo, conclui Jameson: “Toda a seção um pode então ser entendida como um ataque em bloco à ideologia do mercado, ou, se preferires, como uma crítica fundamental do conceito de troca e, na verdade, da verdadeira equação de identidade como tal” (p. 17).
“A unidade dos opostos”, capítulo seguinte do livro, começa com a transformação do enigma da equivalência do qualitativamente distinto no mistério do aumento do valor, isto é, de “como um lucro pode ser feito da troca de valores iguais?” (p. 47), sendo que este é o verdadeiro enigma a ser resolvido (o primeiro, diz Jameson, era uma falsa questão, falsamente resolvido com a aparição do dinheiro, que cristaliza a relação social que envolvia aquela questão). A esfera da circulação, na qual a troca ocorre, é insuficiente para resolver este enigma. Torna-se necessário, assim, analisar como as mercadorias são produzidas, aliás, torna-se necessário perceber a peculiaridade de uma mercadoria sui generis, a força de trabalho, que cria, na esfera da produção, mais valor do que aquele que é pago por ela na esfera da circulação. Isto é, o capitalista paga um tanto para contratar o trabalhador, mas este, durante o tempo no qual é contratado, cria mais valor do que o tanto inicial que foi pago por ele. O tom das quatro últimas seções analisadas neste capítulo (a saber, da quarta à sétima, mas que se manterá na oitava) é o que dá nome a ele. Segundo Jameson, há uma unidade dos opostos, de dois clímax antagônicos, positivo e negativo, otimista e pessimista, heroico e trágico. Assim Marx tratará a cooperação, a manufatura e a maquinaria, os aumentos da produtividade do trabalho, tanto com admiração quanto com pesar, notando que o progresso traz miséria e a riqueza privação. Jameson aponta ainda para o fato de Marx fechar a porta para regressões nostálgicas de formas mais simples e mais humanas de produção, diferentemente das críticas mais tradicionais ao capitalismo; mais tarde (no quarto capítulo), Jameson notará que, ao contrário do antimodernismo de Heidegger que propõe superar a alienação da técnica por algum modo de regressão, é justamente a alta produtividade introduzida pela maquinaria que poderia permitir um sistema econômico radicalmente diferente. Por fim, Jameson fala que os capitalistas nunca são o sujeito da história, mas suportes (Jameson cita o termo alemão, usado diversas vezes por Marx, Träger, também traduzido como “portador”) do capital, algo que, segundo ele, Marx nunca utiliza para se referir ao proletário (mas voltarei também a esta questão no parágrafo final).
“História como coda” (“coda” denota a seção conclusiva de uma composição, o seu arremate), o terceiro capítulo do livro de Jameson, que termina a seção expositiva do primeiro livro de O Capital, é um estudo focado na oitava seção da referida obra marxiana, parte esta que, segundo Jameson, pode também ser lida como um tratado autônomo, e mantendo a analogia musical, que vê na primeira seção uma “abertura” independente, este é a “coda”, o arremate, um capítulo propriamente histórico, ou, como o próprio Jameson afirma, “aquilo que geralmente tem sido estigmatizado como ‘filosofia da história’ – isto é, uma narrativa dos vários modos de produção, uma história das histórias” (p. 74). Neste capítulo, Jameson expõe a genealogia marxiana do capital, apontando para os processos de acumulações primitivas (conseguidas, em grande parte, com a caça de escravos no continente europeu e com o trabalho escravo nos trabalhos de mineração feitos no continente americano) que criaram a possibilidade de um mesmo capitalista empregar simultaneamente um grande número de assalariados, sendo que é a venda da força de trabalho por parte do trabalhador para o proprietário dos meios de produção que marca o começo do capitalismo, nos séculos XVI e XVII. Jameson observa também que “estruturas não capitalistas coexistem com estruturas capitalistas” (p. 84), de tal modo que a passagem do modo de produção feudal para o capitalista não é súbita, mas um longo processo transicional. Seguindo a proposta do livro, que é mostrar que há dois clímax antagônicos que se interpõem ao longo da obra, Jameson irá apontar para o fato de haver duas suposições acerca do final do capitalismo, uma heroica, a outra cômica. O final heroico está no término do capítulo sobre “a assim chamada acumulação primitiva”, e consiste na “expropriação dos expropriadores”, na transformação da propriedade privada capitalista em propriedade social; já o final cômico está no exemplo do infeliz Sr. Peel (no começo do capítulo final de O Capital, sobre “a teoria moderna da colonização”), um capitalista que migra para a Austrália com 3 mil trabalhadores para montar uma indústria, mas que vê seus trabalhadores se dissiparem tão logo chegam ao novo mundo, mundo este no qual encontram terra fértil barata em vez das relações inglesas de produção.
O quarto e o quinto capítulo de Representing Capital, denominados, respectivamente, “Capital em seu tempo” e “Capital em seu espaço”, tratam, como o título aponta, das questões da temporalidade e da espacialidade do sistema capitalista. A partir da observação de Althusser de que cada modo de produção específico produz e oculta a temporalidade apropriada a ele, Jameson aponta para o fato de haver uma dualidade no tempo capitalista na qual o capital tanto produz mercadorias quanto reproduz a si mesmo concomitantemente, de modo que o capital “oblitera os vestígios de sua própria pré-história” (p. 105), transformando-se a si mesmo em algo aparentemente “natural”. Se o tempo, segundo Jameson, corresponde à dimensão da quantidade, já que é ele que mede o valor de cada mercadoria, o espaço corresponde, portanto, à dimensão da qualidade. Com esta afirmação, Jameson visitará os capítulos mais “empírico-descritivos” da obra marxiana, revelando a precariedade das condições de trabalho nas apertadas fábricas capitalistas, assim como o modo farsesco pelo qual os capitalistas seguiam a legislação que regulava suas atividades, criando escolas, por exemplo, nas quais o próprio professor assinava em “x” por ser analfabeto.
O sexto capítulo, “Capital e a dialética” – a meu ver o outro ponto alto do livro de Jameson – é uma forte defesa da dialética contra seus detratores, em especial contra aqueles que querem ler Marx analiticamente (a escola do “marxismo analítico” de Cohen, Roemer e Elster), estruturalmente (tal como Althusser), ou a partir do historicismo (exemplificado com Karl Korsch). Jameson insiste sobre a dimensão antagônica do capitalismo, apresentada por Marx de modo positivo e negativo simultaneamente, de modo que sofrimento humano e alta produtividade tecnológica, vidas desperdiçadas e progresso científico, possam ser entendidos como fenômenos oriundos de um mesmo processo, processo este que só quando apresentado dialeticamente consegue explicar o antagonismo como tal (Jameson chega mesmo a nomear o antagonismo como “lei geral absoluta”, a unidade da produção capitalista com o desemprego). A negatividade e a contradição tem um papel central em O Capital, e privá-lo destas categorias, algo necessário nas leituras não dialéticas, conduz a “conclusões socialdemocratas de um tipo familiar, a saber, bem-estar, criação de novos tipos de ocupações, e outros remédios keynesianos” (p. 129).
“Conclusões políticas”, capítulo final da obra, volta a defender a ideia de que O Capital não é um livro político, seja no sentido de visar a uma prática, estratégia ou tática política, tal como os livros de Lênin, Maquiavel, ou mesmo do Marx do Manifesto comunista; seja no sentido de uma teoria política, algo que, para Jameson, é idêntico à teoria constitucional, desde sua origem em Aristóteles e Políbio. Mas não ser um livro político, para Jameson, é antes uma vantagem do que uma desvantagem. Segundo o referido autor, a centralidade da leitura do primeiro livro de O Capital deve ser o conceito de desemprego, já que Marx “mostra que o desemprego é estruturalmente inseparável da dinâmica de acumulação e expansão que constitui a verdadeira natureza do capital” (p. 149). Marx assim mantém em aberto duas possíveis experiências políticas resultantes da leitura de sua obra, como já notara Korsch (algo que, mais uma vez, remete ao antagonismo que o perpassa): por um lado, um voluntarismo oriundo da piedade pelas vítimas do sistema capitalista e da indignação frente a tal sistema; por outro lado, um fatalismo, associado a um cinismo passivo de desesperança e impotência frente este mesmo sistema todo-poderoso. Jameson, contudo, altera esta dualidade em outra, a saber, a tensão estrutural notada por Althusser entre as categorias de dominação e de exploração. O autor defende que se deve dar ênfase à categoria de exploração, que resulta em uma crítica ético-moral, frente à categoria de dominação, centralmente política, de tal modo que a balança tenda mais para o socialismo, resultante da crítica radical da exploração econômica do que simplesmente à democracia, resultante da crítica radical à dominação política.
Se, por um lado, a meu ver, o livro de Jameson tem a virtude de reapresentar o conteúdo do primeiro livro de O Capital de um modo claro e sucinto, com ótimas observações quanto ao método e à exposição da obra marxiana, além de instigantes e ousados comentários que convidam a revisitar uma obra que muito ainda tem a dizer; por outro lado, parece-me inegável que o autor comete alguns deslizes e que algumas de suas interpretações são, no mínimo, improváveis. Quando Jameson diz, por exemplo, que Marx só se refere ao capitalista como “suporte” do capital, e nunca atribui ao proletário a mesma função, ele deixa de perceber que Marx usa o adjetivo “agente” e “sujeito do processo” (ou ainda “sujeito automático”) para a própria categoria do capital, ignorando assim a passagem do capítulo “A reprodução simples” na qual Marx diz: “Do ponto de vista social, a classe trabalhadora é, portanto, mesmo fora do processo direto de trabalho, um acessório do capital, do mesmo modo que o instrumento morto de trabalho”(Marx, 1985, p.158, ênfase minha). Também, ao afirmar que O Capital é um livro sobre desemprego, Jameson reduz todo o antagonismo estrutural do capitalismo, que ele tão bem descreve, a uma única dimensão, obliterando assim as demais, como se o capitalismo superasse sua própria contradição fundante no momento que assegurasse o pleno emprego, algo que a social-democracia, que Jameson tanto critica, algumas vezes efetivamente conseguiu. O Capital é um livro sobre um processo estruturante das sociedades modernas ocidentais (a saber, o próprio processo capitalista) e que possui implicações políticas, filosóficas e econômicas, que são desdobradas ao longo do primeiro livro desta obra. Nada se ganha centrando sua leitura na questão do desemprego, um tópico sem dúvida importante, mas não por isso prioritário. Por fim, Jameson não consegue deixar claro no que concorda e no que discorda frente ao marxismo mais tradicional, algo problemático para um livro que se apresenta como uma releitura; não dialoga com as leituras mais recentes (e quiçá mais interessantes) da obra madura marxiana (como Moishe Postone, Christopher Arthur, Tony Smith, dentre tantos outros), dando um tom antiquado ao texto (o comentário de referência, ao qual ele se aproxima e distancia ainda é Althusser); e deixa diversas questões em aberto (Qual a dominação específica do capitalismo? Qual a importância da questão das classes? Por que a categoria de dominação é política e sua crítica conduz à democracia e não ao socialismo, ou, melhor ainda, a um socialismo democrático?). Enfim, com altos e baixos, o livro de Jameson deve servir, ao menos, para atiçar os debates entre aqueles que renovam a crítica ao capitalismo.
Referências
MARX, K. 1985. O Capital: Livro I, Volume II. São Paulo, Nova Cultural, 158 p.
Amaro de Oliveira Fleck – Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: [email protected]
[DR]
The Invention of the Jewish People | Shomo Sand
Shomo Sand é professor de História Contemporânea na Universidade de Tel Aviv, Israel, autor deste livro, grande best-seller na sua versão original em hebraico, ganhador do prêmio Aujourd’hui, na França e cuja edição em inglês também foi muito difundida, tendo merecido numerosas resenhas, por nomes como Eric Hobsbawm e Tony Judt, entre outros. Sand destacou-se, nas últimas décadas, pelo estudo de temas centrais para entender o mundo contemporâneo, em particular, o papel dos intelectuais na formulação das identidades nacionais, questão da mais alta relevância para compreender a dinâmica da modernidade.
Nesta obra, não hesita as controvérsias, para tratar da invenção de uma identidade, a judaica, cujas características e contradições talvez parecessem por demais complexas e difíceis para outros estudiosos menos arrojados. Na esteira de Eric Hobsbawm, de Benedict Anderson e de outros pioneiros observadores da construção das identidades nacionais modernas, Sand procura mostrar que também a identidade judaica foi forjada em tempos modernos, tendo em vista, como nos outros países, a criar passados imaginários que substanciam relações políticas, econômicas, sociais e culturais da modernidade. Leia Mais
Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-first Century | Giovanni Arrighi
O bom leitor de Adam Smith em Pequim bom por aceitar a recomendação do autor de lê-lo por inteiro não deixará de ser intelectualmente estimulado e, em muitos casos, surpreendido, durante o itinerário dessa leitura. A começar pelo intrigante título. A meu ver, Adam Smith em Pequim apresenta um duplo e complementar sentido. O primeiro, extraído das páginas de A Riqueza das Nações, refere-se à reiterada referência de Smith a respeito do padrão chinês para a maturidade econômica como “o progresso natural para a opulência” ou “o curso natural das coisas”, de acordo com suas próprias palavras. Aqui, Smith exalta o virtuosismo do capital investido domesticamente primeiramente na agricultura e, em seguida, no comércio varejista como aquele que produz os efeitos mais sólidos e duradouros pelas conseqüências positivas para o crescimento do salário e da renda nacional. Contrasta o caminho chinês com o holandês, o caso “extremo de país que seguiu o caminho europeu para a maturidade econômica…. (percurso) não natural e retrógrado (p. 57) por assentar-se no grande comércio atacadista que “parece não ter residência fixa e pode vagar de um lugar para outro em busca de lugar onde possa comprar barato e vender caro.” (p. 59) Leia Mais


