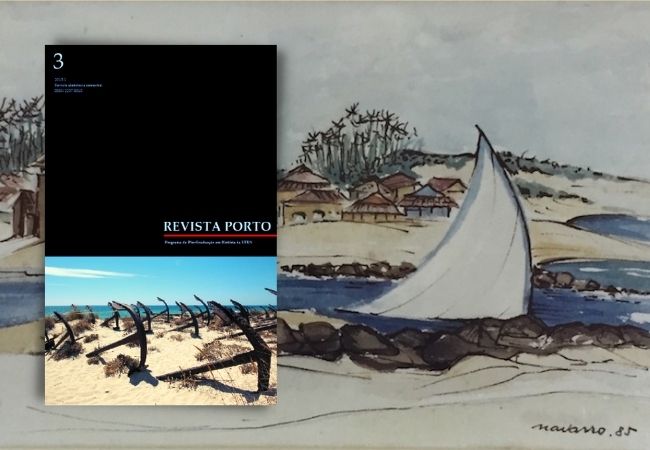Posts com a Tag ‘Revista Porto (RP)’
Imperialism, power, and identity. Experiencing the Roman Empire / David Mattingly
David Mattingly / Foto: Archaeological Institute of America /
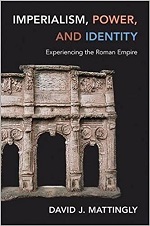
Imperialism, power, and identity. Experiencing the Roman Empire é formado, em sua maior parte, por ensaios resultantes de conferências realizadas por Mattingly na Tufts University, Massachusetts (EUA), em abril de 2006. A temática geral trata de um assunto muito debatido ultimamente na academia, que diz respeito, sobretudo, à aplicabilidade (ou não) do conceito de Romanização para os estudos do Império Romano. Mattingly opta pelo viés do Imperialismo, do poder e da identidade para formular sua proposta atual de pesquisa para o Império Romano, focalizando nas experiências locais como uma nova forma de interpretação dos vestígios arqueológicos. Segundo Mattingly, o termo Romanização não mais serve aos nossos propósitos atuais. O “seu” Império Romano, como realça, é o resultado de trinta anos de estudo. Após inúmeros trabalhos de campo e pesquisas científicas, o autor chegou à conclusão que as condições do Império Romano eram situacionais, pois a percepção do que era o Império variava de região para região. Os estudos pós-coloniais foram, neste sentido, essenciais para o desdobramento de sua tese atual.
Os capítulos do livro são formados por ensaios direcionados a temáticas variadas, mas sempre partindo de um eixo central – a questão do poder. São quatro as partes que compõem a estrutura interna do livro, a saber: 1) Imperialismos e Colonialismos; 2) Poder; 3) Recursos e 4) Identidade. A primeira parte é constituída por dois capítulos. No primeiro deles, intitulado “Do Imperium ao Imperialismo: escrevendo sobre o Império Romano”, Mattingly discorre a respeito de vários termos utilizados pela historiografia que trata de Roma Antiga. Conceitos como Império, Imperialismo, Colonialismo, Globalização e Romanização são colocados em pauta e debatidos. Partindo de uma revisão historiográfica sobre o Império Romano, o autor descortina as influências que o Imperialismo do século XIX, sobretudo o britânico, exerceu na interpretação do que foi Roma na Antiguidade.
A historiografia tradicional considerava que o Império Romano teria expandido a civilização para os povos bárbaros, assim como os europeus ocidentais estavam procedendo quanto às suas colônias na África e na Ásia. De uma maneira geral, os classicistas foram os grandes responsáveis por nos imputar a ideia de que somos herdeiros e beneficiários das ações civilizatórias romanas. Tal atitude é severamente criticada por Mattingly, que interpreta as atitudes romanas em relação às províncias como atos imperialistas, em muitos aspectos semelhantes àqueles perpetrados pelo Imperialismo contemporâneo. Segundo ele, o conceito de “Imperialismo” pode ser aplicado a Roma Antiga, pois Roma era um Estado excepcional na Antiguidade. A natureza das relações desiguais entre Roma e os estados conquistados, o exercício do poder e as diferentes respostas a ele indicam ao autor que o termo Imperialismo cabe bem à sua proposta de estudo. O desejo de poder é o ponto central que une todas as épocas e lugares que vivem sob um Império. Justifica-se também o uso do conceito de Imperialismo pelo fato de os administradores do Império Britânico considerarem a Roma Antiga como exemplo e modelo a ser seguido.
A maior parte das fontes que dispomos sobre Roma Antiga diz respeito aos grupos que compunham a elite. Faltam estudos que mostrem as reações e atitudes dos povos conquistados pelos romanos. As abordagens pós-coloniais estão sendo consideradas apropriadas para quem se dedica a estudar os efeitos do colonialismo e da colonização exatamente pela possibilidade de darem voz aos oprimidos. Muitos arqueólogos têm, ultimamente, utilizado esta perspectiva de análise para verificar questões relativas à identidade local. Este é o caso de Mattingly, cuja preocupação é saber como as pessoas sujeitas ao Império viviam e como esta situação afetava o seu comportamento e a sua cultura material. A partir do conceito de experiência discrepante (discrepant experience), desenvolvido por Edward Said [1], Mattingly estabeleceu o seu próprio, diferindo em certos aspectos quanto à ideia original proposta por seu criador. Said havia pensado neste conceito como definidor de uma dicotomia entre governantes e governados, onde cada um tinha a sua própria história. No entanto, Mattingly prefere usar o termo “experiência discrepante” no sentido de incorporar todos os impactos e reações ao colonialismo rejeitando a ideia de bipolaridade, no seu caso específico entre romanos e nativos (p. 29).
Ao tratar da “Romanização” Mattingly é bem claro em recusar o uso do conceito. Atualmente, muitos arqueólogos e historiadores continuam a usar o termo “Romanização” pensando, sobretudo, nas negociações entre os membros da elite local romana e o agente nativo. Entretanto, embora tenha usado este conceito no passado, Mattingly agora se mostra enfático em suas objeções a ele: seria um paradigma falho, pois possui múltiplos significados; é um termo inútil, pois implica que a mudança cultural foi unilateral e unilinear; faz parte do discurso moderno colonial; dá grande ênfase aos vestígios da elite como grandes monumentos; leva os estudiosos a adotarem posturas pró-romanas; não destaca os elementos que sugerem uma continuidade das tradições culturais da sociedade indígena; reforça uma interpretação da cultura material que é simplista e estreita (como aculturação e emulação); enfim, focaliza a atenção no grau de semelhança entre as províncias e não na diferenciação e na divergência entre elas.
No segundo capítulo, intitulado “De um colonialismo a outro: o Imperialismo e o Magreb”, Mattingly discorre a respeito de um estudo de caso da África Romana, região também marcada pela estrutura colonialista contemporânea. As pesquisas arqueológicas no Magreb (Argélia, Tunísia, Marrocos e Líbia) foram influenciadas, segundo Mattingly, pela ação colonialista de franceses e italianos, que se consideravam herdeiros dos romanos na região. A população local, de origem berbere, foi classificada como selvagem, bárbara e não civilizada. Buscando paralelos entre os imperialismos, antigo e moderno, Mattingly estabelece a existência de uma ação direta entre o exército de ocupação francês e os assentamentos romanos na região. A arqueologia foi, inicialmente, dominada por ex-militares, que procuravam vestígios de fortificações romanas. Na verdade, o que aconteceu foi que muitos sítios arqueológicos que eram áreas agrícolas na Antiguidade foram interpretados como sendo assentamentos militares romanos. Houve uma manipulação dos dados em benefício dos colonizadores.
Com o desenvolvimento dos estudos pós-coloniais, baseados em atitudes de nacionalismo e de resistência, passou-se a considerar que a africanidade estava presente nos nomes púnicos das inscrições de época romana, na religião e em outros aspectos da sociedade dominada, fato que é demonstrativo da atuação dos agentes locais que viviam sob o Império Romano. Mattingly aponta as novas perspectivas necessárias, segundo ele, para que haja o desenvolvimento da arqueologia do norte da África: os estudiosos europeus devem abandonar o discurso colonial; a fase de ocupação romana precisa ser restabelecida no Magreb como uma parte importante de sua herança cultural; é importante a criação de uma nova agenda para a arqueologia clássica na região, uma que servirá às necessidades do turismo, mas que também se preocupará com a história do Magreb e, em última instância, uma mudança na atitude da Academia criará as circunstâncias certas para a utilização da teoria pós-colonial.
A segunda parte do livro de Mattingly é dedicada ao “Poder”. No terceiro capítulo, nomeado “Mudança de regime, resistência e reconstrução: Imperialismo antigo e moderno”, o autor discorre a respeito da atuação romana frente aos seus reinos clientes. Mais uma vez procura-se associar o Imperialismo antigo e o moderno. Apesar das diferenças entre eles, Mattingly defende a ideia de que todos os impérios têm uma base comum na dominação de terras, mares e povos, cujo elemento principal é o “poder”. No final da República e início do Principado foi comum a existência de governantes clientes. Tratava-se de reis locais, que mantinham o seu poder graças ao apoio romano. Estes reinos amigos eram uma forma econômica de se conseguir recursos e extrair tributos. Entre o final do século I a.C. e início do seguinte muitos reinos clientes foram anexados por Roma. O momento de anexação coincidia com a morte do rei e a não aceitação de seu sucessor. Um exemplo famoso é o de Cleópatra Selene, filha de Cleópatra VII e Marco Antônio, casada com o rei Juba II e colocada junto com ele no trono da Mauritânia, reino que originalmente não era de seus pais. Era comum que os governantes romanos apresentassem uma imagem negativa dos reis clientes que foram por eles depostos. No caso da Britânia, Mattingly ressalta que os historiadores colocaram a culpa pela invasão romana nos governantes dos reinos clientes, sendo que os romanos tiveram a intenção de dominar a região e, por isso, incentivavam atritos entre os habitantes locais.
No capítulo seguinte, “Poder, sexo e Império” a temática principal gira em torno da relação entre corpo e poder. Para tanto, Mattingly se apropria dos estudos pós-coloniais e compara aspectos do sexo no mundo romano com as atitudes observadas nas sociedades coloniais modernas. Um assunto específico chamou a atenção do autor – a questão do poder sexual e seus efeitos na formação das atitudes sexuais romanas. Mattingly está preocupado em verificar a influência negativa do poder na sociedade romana, que causou alterações na conduta dos romanos à medida que o Império se expandiu e conquistou vastos territórios. É comum os estudiosos considerarem que as relações culturais entre Roma e suas províncias eram, em certo sentido, igualitárias. No entanto, embora Roma não fosse racista e exclusivista como as metrópoles modernas, o impacto da conquista romana sobre os povos conquistados não pode ser negligenciado. O Imperialismo Romano estava baseado em poder assimétrico, coerção, exploração e violência. Enquanto as antigas abordagens a respeito do Imperialismo Romano tendiam a considerar que os povos dominados não possuíam nenhum papel ativo no seu destino, Mattingly enfatiza que todos os atos de colaboração, participação seletiva e resistência tomava lugar na estrutura dinâmica das relações de poder.
As teorias pós-coloniais servem para observarmos a relação entre ambas sociedades – a que domina e a subjugada – também no que diz respeito ao comportamento sexual. Segundo Mattingly, o comportamento considerado bizarro de certos imperadores é, geralmente, descrito pelos historiadores, mas não analisado. E este deveria ser compreendido em um contexto amplo de sexualidades alternativas proporcionadas pela existência de sociedades coloniais. Orgias romanas míticas podem, então, ser relocadas neste discurso. As fontes romanas e o vocabulário sexual latino revelam um padrão de dominação e práticas que atravessam os limites normativos da moral, do gênero, da classe e da etnicidade. Existem paralelos, neste sentido, entre os imperialismos romano, britânico e norte-americano. Os efeitos desta prática de domínio sexual podem ser observados na população dominada. Mas outra característica importante é a corrupção psicológica da humilhação e degradação sexual – que tem sido um poderoso instrumento de sustentação das diferenças sociais entre governantes e governados nas sociedades coloniais.
A sexualidade romana, no decorrer do tempo, sofreu alterações. De uma tradição comportamental austera adquiriu aspectos eróticos jamais vistos anteriormente. Mattingly se questiona sobre o que aconteceu. A resposta é algo interno à sociedade romana ou foi resultado de seu domínio colonial? Nos primórdios da civilização romana se falava de castidade, respeitabilidade e virtude e o comportamento adequado para as mulheres da aristocracia eram o de fidelidade sexual e de modéstia. Já os homens tinham suas licenças para ter sexo fora do casamento. Com a expansão da riqueza advinda das terras conquistadas e o aumento na quantidade de escravos, a sociedade romana teria sofrido transformações também em relação ao seu comportamento sexual. O exército estabelecido fora da Itália poderia experimentar novas formas de luxúria, colocada por Mattingly em termos de bens materiais, artísticos e acesso a uma culinária diferenciada.
Mattingly propõe deslocar o fenômeno da permissividade romana para o discurso colonial, onde temos a violência e a exploração em relação à sexualidade. O poder colonial inclui exercer o poder sobre os dominados inclusive no âmbito da sexualidade. Nas sociedades coloniais a distância do colonizador da sua terra de origem e sua permanência em um lugar desconhecido favorecia a transgressão às regras. A humilhação sexual dos colonizados, homens e mulheres, era comum. No vocabulário latino e nos relatos das práticas sexuais romanas fica evidente que o falo era um símbolo de poder, além de possuir seu significado propriamente religioso de proteção e de fertilidade. Termos linguísticos para o intercurso sexual estão sempre relacionados aos soldados. É o caso de verbos como penetrar, cortar, cavar e atacar, normalmente associados ao ato sexual masculino. Tanto a vagina (cunnus) quanto o reto (culus) estavam associados metaforicamente a animais, campos, grutas e objetos domésticos. As mulheres e aqueles que se sujeitavam ao papel passivo em uma relação sexual eram considerados de status social inferior. A palavra stuprum significa, em latim, vergonha. Era, por exemplo, chamado de stuprum o ato de um homem exercer a função passiva em uma relação sexual com outro homem, o que o equiparava a um escravo.
Ao tratar das relações de poder Mattingly nos remete às ideias de Michel Foucault (p. 102-103). A sexualidade não é considerada como uma condição natural e sim como produto das relações de poder e resultado do efeito de operações historicamente específicas de diferentes regimes de poder sobre o corpo. Embora Mattingly concorde com Foucault no sentido de considerar a existência de múltiplas formas de relações de poder, discorda deste pela não observação dos fatores que se opunham ao poder. Esta crítica a Foucault foi apresentada primeiramente por Said, preocupado com questões relativas à resistência ao poder dominante. Geralmente, quando se estuda sexo e desejo no mundo antigo não se faz pelo viés das relações de poder e sob a ótica do Colonialismo e do Imperialismo, tarefa a que Mattingly se propõe neste capítulo.
A terceira parte do livro aborda a temática “Recursos”. A questão relativa à economia e à exploração dos recursos das áreas conquistadas é central nos três capítulos que consideraremos a seguir. No capítulo V, denominado “Regiões governadas, recursos explorados”, Mattingly retoma um antigo debate a respeito da economia antiga. Durante muito tempo a historiografia foi dominada pelas ideias de Moses Finley, para quem a economia antiga não poderia ser considerada de mercado ou capitalista como queria alguns autores marxistas, entre eles Michael Rostovtzeff (p. 125). Finley seguia, neste sentido, as ideias desenvolvidas por Karl Polanyi, que postulou o conceito de uma economia “embededd”, imbuída em todas as esferas da sociedade. Estas opiniões divergentes polarizaram o discurso em dois matizes: os formalistas e os substantivistas. Os primeiros considerando a existência de uma economia de mercado, de cunho racionalista e, os últimos, sendo partidários de uma economia primitiva. Mattingly defende que a economia romana possuía ambos os aspectos, primitivo e progressivo, sendo uma economia híbrida. O objetivo de Mattingly é focalizar sua pesquisa no papel do Estado como motor da atividade econômica através de seu status de poder imperial. Sua análise parte das questões atuais a respeito do discurso colonial e não se define pela teoria econômica.
No capítulo VI, “Paisagens do Imperialismo. África: uma paisagem de oportunidade?”, Mattingly aborda uma temática recorrente nas pesquisas arqueológicas atuais, que diz respeito aos estudos da paisagem. A África seria, neste sentido, uma paisagem da oportunidade para os romanos. Pelo trabalho arqueológico foi possível, segundo o autor, identificar o crescimento econômico intensivo nas províncias da África Proconsular e a Numídia, entre os séculos II e IV d.C. Enquanto esta província cresceu, outras, como a da Acaia, diminuiu após a conquista romana. As paisagens provinciais foram o produto de processos complexos de coerção, negociação, acomodação e resistência, sendo exploradas tanto pelos colonizadores como também pela população nativa.
Em “Metais e Metalla: paisagem de uma mina de cobre romana em Wadi Faynan, Jordânia”, capítulo VII, o enfoque está colocado sobre a paisagem desta importante mina de cobre romana, cuja exploração intensiva tinha por objetivo manter o exército romano e o próprio império. Em comparação com as atividades industriais atuais, Mattingly salienta que a poluição causada ao meio-ambiente derivada desta ação humana passada permanece na localidade até os dias de hoje, sendo muito comum a contaminação do solo com chumbo, o que afeta a produção de alimentos e causa doenças em pessoas e animais. Estudos de caso como este de Mattingly são importantes, pois revelam a existência de vários tipos de relações de trabalho nas minas exploradas pelos romanos. Era comum que em uma mesma mina trabalhassem escravos e homens livres. Enquanto na mina de Wadi Faynan prevaleciam indivíduos condenados a trabalhos forçados, geralmente oriundos de populações que tinham se rebelado contra Roma, outras minas como as de granito e pórfiro do Egito (Monte Porfirius e Monte Claudianus) possuíam trabalhadores contratados, que recebiam salário.
“Identidade” é a temática da quarta parte, dividida em dois capítulos. No capítulo oitavo, intitulado “Identidade e Discrepância”, Mattingly apresenta uma nova abordagem para explicar a mudança cultural, que oferece uma alternativa àquela da Romanização. A história tradicional considerava as áreas conquistadas como tendo um papel passivo frente à civilização romana. Uma postura corrente nos estudos atuais, adotada, por exemplo, por autores como Martin Millet e Greg Woolf (p. 206), é considerar o papel ativo das elites locais que estavam sob o domínio imperial romano. Enquanto os membros pertencentes à elite adotavam a língua latina e os novos tipos de vestimenta, adornos e um comportamento romano, aqueles das camadas mais humildes teriam uma experiência mais diluída da Romanização. No entanto, para Mattingly, este modelo falha por considerar que a maioria da população nativa era passiva frente ao Império Romano. Mattingly conclui que, como a identidade está relacionada ao poder, a criação das identidades provinciais não pode ser tomada isoladamente da negociação de poder entre o Império Romano e os povos conquistados. E o que falta no modelo de Romanização é saber como as dinâmicas do poder operam tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Outra abordagem que busca se diferenciar dos estudos tradicionais foi proposta por Jane Webster com o uso do termo “crioulização” (p. 203-204), com a finalidade de visualizar na cultura material vestígios da cultura escrava crioulizada. Mattingly acredita que o uso deste termo é perigoso, pois acabamos por substituir um conceito elitizado, o de Romanização pelo seu oposto, que prioriza os indivíduos de baixo status social. Segundo ele, uma abordagem que combine ambos os lados se faz necessária.
Como observar esta diversidade em uma pesquisa arqueológica? Mattingly retoma as ideias de Sian Jones [2], que defende ser a etnicidade uma forma de identidade que a sociedade constrói (p. 209-210). A solução de Jones para este problema é focar a pesquisa nas culturas locais e comparar grupos de sítios como assentamentos rurais e fortes romanos, por exemplo. Ao trabalhar com estudo de caso de sítios rurais ela demonstra que havia considerável diversidade, que era obscurecida pelo modelo de Romanização com sua tendência em enfatizar a homogeneidade. Mattingly tem dúvidas em dar à etnicidade muita importância nos estudos sobre identidades passadas, mas sabe que tanto no mundo grego quanto no romano os discursos de etnicidade tinham um importante papel. Se a etnicidade era um dos pontos de significância para marcar a identidade, a evidência arqueológica sugere que ela não era uma constante no tempo e no espaço.
Para Mattingly, a identidade deve ser estudada em termos de poder e de cultura. E embora considere a importância do agente ativo nativo na mudança cultural sabe que há limites sobre a habilidade de escolher nossa identidade aos olhos dos outros. Enquanto o processo de conquista e assimilação ao Império Romano promoveu uma delineação profunda de identidades étnicas, vários fatores militaram contra a manutenção disto na longa duração. A identidade étnica dificultava e criava uma barreira para estas sociedades negociarem com Roma. As distinções étnicas, que tornaram-se grandes e significantes durante o processo de expansão imperial, foram, mais tarde, diminuídas como estratégias múltiplas para lidar com a identidade individual e comunal. A construção romana de identidade étnica servia ao propósito de facilitar a violência colonial, ao passo que a nativa servia como forma de resistência durante a fase de conquista.
A heterogeneidade de respostas a Roma não era uniforme e variava conforme o local. Alguns estudos recentes de identidade têm empregado o termo hibridização para definir o resultado do contato cultural entre romanos e nativos. Mattingly, ao priorizar a diferença ao invés da semelhança, defende a utilização do termo “discrepante”, que indica “discordância” e “desarmonia”. O ponto é que as sociedades provinciais romanas poderiam algumas vezes exibir discordância cultural assim como similaridades, que são geralmente celebradas por meio da teoria da Romanização. A principal preocupação do autor é mostrar que os indivíduos e os grupos no período romano foram multifacetados e dinâmicos. O que foi previamente descrito como Romanização representa as interações de múltiplas tentativas de definir e redefinir a identidade.
“Identidade discrepante” possui similaridades com os trabalhos que usam o conceito de agência e teoria da estruturação.[3]Estas teorias enfatizam as escolhas do sujeito na estrutura social (p. 216-217). Mas, no caso de sistemas imperiais, há uma limitação nesta escolha. Então, é preciso balancear o conceito de agência com um exame profundo das influências estruturais. Um ponto a considerar é que as estruturas imperiais afetam os atores locais de diferentes maneiras. Os impactos imperiais sobre as áreas dominadas podem ser observados, geralmente, por meio de atos intencionais perpetrados pelo Império Romano e o consequente comportamento dos sujeitos afetados. Alguns fatores importantes a se considerar pelo pesquisador são elencados por Mattingly (p. 217): 1) o status social (escravos, livres, libertos, bárbaros, cidadãos romanos, não cidadãos etc.); 2) riqueza – as formas de produção econômica (economia de subsistência, de mercado etc.); 3) localização (espaço urbano, rural, zonas civil, militar etc.); 4) trabalho (artesãos, membros de guildas, soldados do exército etc.); 5) religião – sobretudo as seitas exclusivistas como o Mitraísmo, os Cultos de Mistério, Judaísmo e Cristianismo); 6) origem (geográfica ou étnica, tribal etc.); 7) associação por serviço ou profissão ao governo imperial (ou não); 8) aqueles que viviam sob lei civil ou marcial; 9) linguagem e literatura; 10) gênero e 11) idade.
Mattingly exemplifica sua proposta de encaminhamento de pesquisa arqueológica com os dados provenientes da Britânia e do norte da África. Sua abordagem inicial para o estudo da Britânia foi isolar as evidências da comunidade militar, da população urbana e das sociedades rurais. Um dos vestígios mais prementes para observar a identidade discrepante diz respeito à religião, pois é uma esfera recorrente para a marcação de diferenciação social. A religião romano-britânica tem sido frequentemente apresentada como um amálgama de práticas romanas importadas e práticas nativas britânicas temperadas com influências galo-germânicas. Segundo Mattingly, a distribuição dos vestígios de certas práticas em santuários como a presença de altares e de inscrições com maldições são indicadores de que a religião estava associada à identidade social. O exército, por exemplo, tinha cultos muito diferentes daqueles dos civis. Enquanto nas áreas militares predominavam santuários romanos em outras comunidades os templos possuíam características celtas. Inscrições funerárias também servem para demonstrar as diferentes identidades do indivíduo no decorrer do tempo. Por exemplo, o relevo funerário de Regina, esposa de um mercador ou soldado de Palmira que vivia na Britânia, a retrata como uma respeitável matrona romana. Na representação iconográfica ela aparece usando vestimentas e adornos símbolos deste status social. No entanto, pela inscrição da lápide, em texto bilíngue, ficamos sabendo que antes do casamento Regina havia sido escrava de seu futuro marido (p. 218, fig. 8.3).
Em comparação com a Britânia a África era mais rica e próspera, possuindo maior quantidade de inscrições latinas. Léptis Magna, por exemplo, era uma grande cidade da Tripolitânia, habitada por líbios-fenícios, oriundos de casamentos mistos entre fenícios (púnicos, originários de Cartago) e líbios. A identidade púnica era muito parecida com a dos egípcios que viviam sob o domínio romano: servia à elite provincial que circulava pelas estruturas do poder romano, assim como era um marco da identidade local. A cultura material de cunho funerário como estelas, tipos de enterramento e inscrições bilíngues é demonstrativa deste tipo de comportamento.
O último capítulo, o nono, denominado “Valores familiares: Arte e Poder em Ghirza no pré-deserto líbio”, trata da relação entre arte e poder. Nos estudos historiográficos sobre a arte romana normalmente a arte das províncias é retratada como inferior, como sendo uma imitação inadequada daquela produzida no centro do Império. Não havia a preocupação em indagar qual iconografia ou estilo servia aos propósitos indígenas. Faltava também aos historiadores de arte considerar que na Antiguidade não existia separação entre arte e artesanato e também não havia um padrão estético que valesse para todo o Império Romano. A arte era usada por diferentes grupos na sociedade para expressar relações de poder. A arte oficial romana, que se expandia a todas as camadas da sociedade, servia para dar suporte à dominação imperial. No entanto, sabemos que a interpretação da iconografia dependia do contexto e da audiência. Para Mattingly, a adoção do estilo romanizado facilitou a continuação das tradições indígenas.
As tumbas de Ghirza, na Líbia, servem para exemplificar esta questão. Interpretadas à luz da arte romana eram vistas como degenerativas pelos escritores do século XIX e início do XX. Para Mattingly, estas tumbas devem ser consideradas não apenas como monumentos aos mortos, mas também como estruturas que tinham uma continuidade na significância religiosa dos vivos. O objetivo principal de Mattingly, nesta sua pesquisa, foi relacionar a imagética presente nas tumbas com as redes de poder construídas ao redor dos membros vivos e mortos das principais famílias de Ghirza. Sua hipótese é de que existiam duas famílias principais da elite em Ghirza, que procuravam demonstrar poder e status social por meio dos enterramentos e da iconografia funerária. Os chefes das famílias aparecem retratados nas tumbas com cetros e outros elementos simbólicos associados ao poder: vestimentas e adornos, cavalos, cães etc. As mulheres, por sua vez, aparecem representadas usando joias romanas. No entanto, Mattingly conclui que os retratos seguiam o padrão de representação púnico e serviam ao culto ancestral líbio.
Esta série de ensaios de David Mattingly é elucidativa do caminho que a arqueologia romana tem percorrido nos últimos tempos. O conceito de Romanização tem sido colocado em xeque e debatido em vários sentidos. Por isso mesmo, vem sendo utilizado com cautela no sentido de ser uma via de mão dupla, que permita vislumbrar não apenas a ação romana nas províncias, mas também as respostas dos sujeitos subordinados ao Império Romano. O desenvolvimento da teoria pós-colonial foi imprescindível para que vários arqueólogos e historiadores passassem a adotar uma postura mais crítica em relação à Romanização. Este livro de Mattingly é importante no sentido de trazer luz ao debate atual e por propor novas diretrizes para arqueologia romana. O caráter do Imperialismo e Colonialismo romanos, seu impacto econômico, a operacionalidade do poder nas sociedades coloniais e o modo como os indivíduos sob governo imperial construíram suas identidades são pontos-chave de sua proposta (p. 269).
A existência de um “Imperialismo Romano” é defendida enfaticamente no decorrer da obra, sendo que Mattingly não considera que haja problemas na utilização de termos como “Império”, “Imperialismo”, “Colonialismo” e “Colonização”, quando se trata de Roma Antiga. Os estudos sobre Roma foram pautados, no passado, pelo discurso colonialista europeu do final do século XIX e início do XX, do qual os norte-americanos foram herdeiros. Tal fato afetou toda a produção historiográfica que se dedicava aos estudos do Império Romano e possui repercussões até hoje. A teoria da “Romanização” é rejeitada e por meio das abordagens pós-coloniais outros aspectos da sociedade romana podem ser observados, segundo o autor: o dinamismo de seu Imperialismo e Colonialismo; a questão do poder, central para a compreensão da relação entre Roma e suas províncias; a existência de uma “economia imperial”, sendo o vetor econômico pautado pela exploração de recursos um dos pontos que caracteriza o Imperialismo Romano e, por fim, o conceito de “Identidade”, que pode ser usado para se estudar a diversidade e o hibridismo resultado do contato entre romanos e nativos.
Além das proposições teóricas propriamente ditas, Mattingly apresenta sua metodologia de pesquisa, que se detém em interrogar o registro arqueológico procurando exemplos de diferenças no uso da cultura material com o objetivo de saber se tais ocorrências podem ser atribuídas a práticas sociais distintas que foram sendo usadas para expressar noções de identidade na sociedade. O método, derivado da proposta de Sian Jones, está relacionado à abordagem da Arqueologia pós-processual, cuja preocupação com o contexto arqueológico e as questões de status social e poder definem bem este paradigma científico. Desta forma, as “experiências” que se busca traçar do Império Romano estão relacionadas aos vários tipos de ações de Roma e às múltiplas respostas ao Império, que são condicionadas pela região e o período que estivermos analisando. Os estudos arqueológicos permitem esta consideração do contexto para a verificação da atuação das identidades locais. Mattingly exemplifica com suas pesquisas realizadas no Norte da África e Britânia. Mas sua metodologia, resguardadas as diferenças regionais, pode ser aplicada para o Império Romano como um todo.
Alguns autores podem fazer críticas ao modelo de Mattingly pela sua ênfase na questão da diferença e da não uniformidade do Império Romano e, sobretudo, pela sua comparação da atitude imperial romana com a ação imperialista das nações contemporâneas. Ele seria anacrônico ao tomar a experiência de épocas recentes para tentar entender os romanos? Mattingly, em suas considerações finais, tem plena consciência deste fato e se defende dizendo ter uma postura crítica analítica e não se interessar em construir um Império Romano totalmente negativo, em contraposição aos estudos mais antigos, que vangloriavam a grandeza de Roma (p.274-275). Concordo com o autor neste aspecto. A abordagem pós-colonial trouxe novas perspectivas para entendermos situações de colonização e ações imperialistas. Sua utilização em conjunto com a análise do contexto local, por meio de comparações de sítios arqueológicos e da cultura material, é que traz o equilíbrio necessário ao desenvolvimento da pesquisa. É por meio desta combinação de teoria e dados que poderemos tomar ciência da grande diversidade que constituía o Império Romano.
Notas
1. SAID, Edward W. Culture and Imperialism. London: Vintage, 1993. Edição brasileira: SAID, Edward W. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
2. JONES, Sian. Archaeology of ethnicity: Constructing identities in the past and present. London: Routledge, 1997.
3. A referência principal do autor para a Teoria da Estruturação é derivada das ideias de Anthony Giddens, em sua obra: GIDDENS, Anthony. The constitution of society: Outline of a theory of structuration. Cambridge: Polity Press, 1984.
Marcia Severina Vasques – Professora Adjunta do Derpartamento de História – UFRN. Doutora em Arqueologia – USP.
MATTINGLY, David. Imperialism, power, and identity. Experiencing the Roman Empire. Princeton: Princeton University Press, 2011. 342p. Resenha de: VASQUES, Marcia Severina. Revista Porto. Natal, v.1, n.2, p.136-149, 2012. Acessar publicação original [IF].
Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI / Giovanni Arrighi
Para o leitor bem informado o esforço de ler uma nova resenha de um livro editado em 2008 deve parecer inútil, ainda mais se outras resenhas sobre esse livro já tiverem sido feitas. Embora se deva esperar que muitas pessoas não tenham lido Adam Smith em Pequim nem suas resenhas, deixe-me oferecer uma recompensa para quem o leu. Ofereço-lhe uma resenha das outras resenhas, brasileiras e estadunidenses, desse livro. É um movimento surpreendente? Pouco atraente? Qual a minha intenção? Explico: quero instigar tanto a releitura quanto a leitura de Adam Smith em Pequim informando antigos e novos leitores das diferentes recepções desse livro nos dois países.
Deve-se esperar isto de uma resenha? Não, se buscarmos o Aurélio, pois nele encontramos uma definição muito restrita da palavra ‘Resenha’: “relato minucioso, enumeração, descrição pormenorizada”. Contudo, entendo que deveríamos nos deixar levar pelas definições mais amplas do termo latino ‘Resigno’, que é traduzido como: “rasgar o selo, abrir uma carta ou um testamento; violar o segredo; desvendar, descobrir; anular, cancelar, rescindir, romper, violar; entregar; renunciar, resignar”. Por esta definição do termo original, pode-se dizer que quem resenha, desvela e desvenda, mas também renuncia e resigna. Se resenharmos as resenhas antigas desvelaríamos seus segredos, violaríamos suas renúncias? Talvez.
Se começarmos nosso exercício pela ‘Apresentação’ escrita pelo economista Theotonio dos Santos para ‘Adam Smith em Pequim’, podemos observar que, em lugar de apenas expor a obra e o seu autor, Santos se preocupou mais em resenhar o livro para o leitor brasileiro. Nomeada ‘No rastro de Giovanni Arrighi’, a apresentação foi, portanto, a primeira resenha de Adam Smith em Pequim no Brasil, primus inter pares, uma vez que os brasileiros são levados a lê-la antes do texto de Arrighi. Estes são logo advertidos do “abismo que vem se cavando entre a intelectualidade brasileira e o pensamento de esquerda mundial” e que a obra “é dedicada a Andre Gunder Frank, conhecido no Brasil apenas por seu livro de 1966 (!) [sic] sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento”. Trabalhando o que chama de “alegoria teórica” de Arrighi, a saber, o paradoxo da China e a Inglaterra do XIX e XXI poderem servir como representações das doutrinas de Adam Smith e Marx, Theotonio dos Santos apontou que a crise do projeto imperialista estadunidense teria a ver com a resolução do paradoxo, pois em nosso século se engendraria um acomodamento entre o “novo hegemón”, a China, ou um “enfrentamento radical” desse país com os Estados Unidos que “nos faria voltar ao período da Guerra Fria ou, pior ainda, ao princípio do século XX […]”.[1]
Influenciado pelo raciocínio anterior, a resenha feita pelo embaixador Amaury Porto de Oliveira também apontou que a publicação de Adam Smith em Pequim no Brasil veio corrigir o “atraso com que tem a intelectualidade brasileira tomado conhecimento dos esforços de toda uma plêiade de cientistas sociais, nos EUA, na Europa e no Leste Asiático, com vistas ao melhor entendimento de aspectos fundamentais do mundo moderno”. Continuando na argumentação historicista de Theotonio dos Santos, Oliveira explicou que o objetivo principal de ‘Adam Smith em Pequim’ é responder se a China atual estaria em “rota de transição para o Capitalismo” e que Arrighi trabalha o problema por meio de seu paralelo com o período da dinastia Qing. Assim, os dois períodos históricos se distinguiriam exatamente pelo socialismo, “a integração na modernidade sociológica trazida pela Revolução de 1949, de cuja dinâmica não se desligou Deng Xiaoping”.[2]
No mesmo rastro historicista, o sociólogo Antônio José Escobar Brussi, desenvolveu a compreensão de que ‘Adam Smith em Pequim’ proporia que a liderança chinesa se ancorava numa legitimidade teórica e moderna avant la lettre, a partir do que entendeu ser a questão central do trabalho de Arrighi – apontar a “incontrastável decadência” estadunidense e a ascensão chinesa enquanto “mensageira de maior igualdade e respeito mútuo entre europeus e não europeus… (ponto que) que Smith antecipou e defendeu 230 anos atrás.”[3] Nesse caminho, Wagner de Melo Romão escreveu que “a crise de hegemonia norte-americana não se refere apenas à perda de credibilidade de sua posição como força invencível ou à sua débâcle econômico-financeira”, assim como “o próprio american way of life, que sustentou a pujança consumista da maior economia do mundo e a admiração de populações de todos os países, aparece como o grande responsável pela devastação ecológica de nosso tempo”. Nesse sentido, Romão entendeu que a China poderia se tornar um modelo para o mundo.[4] Finalmente, esse entendimento foi mais afinado por Marina Scotelaro de Castro e Rodrigo Correa Teixeira, na medida em que apontaram que Arrighi colocaria que a expansão chinesa já estaria sendo contida pelos Estados Unidos e que a liderança da China constituía “uma nova ordem internacional mais favorável aos povos do hemisfério sul”.[5]
Contudo, a compreensão brasileira de que ‘Adam Smith em Pequim’ anuncia a nova liderança mundial chinesa, mais benévola porque moderna e socialista, difere grandemente da compreensão da esquerda estadunidense, problema importante por conta dos intelectuais estadunidenses fazerem parte daquilo que os autores das resenhas brasileiras evocaram como “o novo pensamento da esquerda mundial”.
No final de 2008, dezesseis meses depois da publicação de ‘Adam Smith em Pequim’ [6] o Journal of World-Systems Research iniciou uma chamada de artigos para discutir o livro a partir de sua resenha, visando um debate que deveria ser subsidiado pelo próprio Giovanni Arrighi caso este não houvesse falecido em junho de 2009. A despeito disto, os artigos foram publicados já na edição do segundo semestre de 2009 do Journal of World-Systems Research.
No caso, verificamos existir uma convergência de todos os artigos em torno de um ponto, a ideia de que Giovanni Arrighi possuía uma compreensão continuada do problema da transição do atual ‘ciclo de acumulação sistêmica’, uma dimensão do pensamento arrighiano que seria mais desenvolvida pelo próprio Journal of World-Systems Research em dossiê do primeiro semestre de 2011.[7] Assim, ‘Adam Smith em Pequim’ deveria ser entendido como uma continuação das duas obras principais de Giovanni Arrighi, a saber, O longo século XX e Caos e Governabilidade e que nesta compreensão Arrighi se encontrava em diálogo com outros autores que trabalhavam a partir da perspectiva do Sistema Mundo, dentre os quais Andre Gunder Frank.
Partindo deste enfoque, podemos notar para nosso leitor que em O longo século XX, [8] escrito em 1994, Arrighi já entendia que o ciclo sistêmico de acumulação estadunidense e o poder hegemônico dos Estados Unidos estariam dando lugar a um novo ciclo, desta vez Asiático. Giovanni Arrighi citava o Japão como o país capaz de localizar o núcleo da transição sistêmica, mas, ao mesmo tempo, salientava que o Japão não preenchia todos os pré-requisitos para a transição completa do centro da Economia-Mundo. Já no livro Caos e Governabilidade, [9] publicado nos Estados Unidos em 1999, Giovanni Arrighi continuaria demonstrando a compreensão de que as hegemonias ocidentais deveriam ser entendidas numa perspectiva histórica mais ampla e que estas hegemonias se realizaram posteriormente a um ciclo sistêmico desenvolvido na Ásia, especificamente na China, e que a retorno do centro dinâmico da Economia-Mundo para esse continente dependeria do “surgimento de uma nova liderança global nos centros principais da expansão econômica do Leste da Ásia”, posição em que o Japão poderia se encaixar.
Assim, o livro Adam Smith em Pequim consolidaria uma visão já longamente esboçada desde 1994, que previa a transição do ciclo sistêmico de acumulação estadunidense para a Ásia, mas apenas neste livro o papel da China seria mais bem clarificado. Analisando as origens e dinâmicas da ascensão chinesa, Arrighi procura recuperar determinados conceitos que já haviam sido esboçados por Adam Smith em A Riqueza das Nações, no caso, para defender a ideia de que a China teria realizado o chamado ‘caminho natural’ para a riqueza nacional. Este poderia ser visualizado no gradualismo do desenvolvimento econômico e no papel central do Estado, gerenciando as reformas de mercado e promovendo objetivos particulares, especialmente o resguardo da estabilidade social. Nesse raciocínio, poder-se-ia reconhecer atitudes e dinâmicas já profundamente enraizadas na história chinesa e que demonstrariam o papel central da China no desenvolvimento da Ásia Oriental, interrompido pela subordinação da região a um regime de acumulação centrado na Europa.
Voltando aos artigos do Journal of World-Systems Research, podemos observar que Robert A. Denemark, único a centrar seu raciocínio no diálogo com Andre Gunder Frank, colocou que a ascensão asiática não estava relacionada ao socialismo, mesmo porque o socialismo não deveria ser compreendido enquanto um par comparativo com o capitalismo, uma vez que Arrighi, tal como Frank, teriam passado a considerar o capitalismo apenas como um sistema local ou regional e não mais como um sistema explicativo global.[10]
Em entendimento semelhante, Ganesh Trichur e Steven Sherman apontaram a impossibilidade de predizer se a China assumiria a liderança global, embora ressaltassem que a estrutura civilizacional e a sociedade de mercado daquele país seriam um fator chave na reestruturação das relações internacionais.[11] Essa incerteza foi também reforçada por Jennifer Bair, a partir de constatar a incapacidade de se definir os próprios passos da política chinesa.[12] Thomas E. Reifer, salientando a complexidade do trabalho de Arrighi, colocou que seu objetivo fora oferecer uma interpretação do deslocamento do epicentro da economia política global para a Ásia Oriental.[13] Por sua vez, John Gulick enfatizou que a China poderia formar uma comunidade de estados na Ásia Oriental, mas sem que se constituísse ali um centro dominante.[14] Dentre todos os intelectuais participantes do debate promovido pelo Journal of World-Systems Research, apenas Gary Coyne colocou a ideia de que poderia surgir, a partir dessas transformações, uma “comunidade de civilizações” [meu grifo] baseada em nações que respeitassem o direito de todos.[15]
Em reforço às compreensões dos estadunidenses, a recém-publicada entrevista de Giovanni Arrighi no mesmo Journal of World-Systems Research, mostra que ele considerava que a China não poderia ser um modelo para outras regiões e que, quanto ao controle do poder político nesse país, Arrighi acreditava que a hipótese mais plausível era a de que o Estado não estivesse sob o controle estrito de nenhum dos atores tradicionais, dentre os quais o Partido Comunista.16
Portanto, velhos e novos leitores de Adam Smith em Pequim, acredito que a diferença de foco e da compreensão entre as resenhas brasileiras e as estadunidenses nos instiga uma primeira leitura ou a releitura desse complexo e inteligente livro, seja porque nele se aventa uma das chaves para a compreensão das transformações do XXI, seja porque nos permite entender certos afastamentos entre os intelectuais brasileiros e os estadunidenses.
Notas
1. SANTOS, Theotonio. Apresentação – No rastro de Giovanni Arrighi. In: ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI. São Paulo: Boitempo Editorial, 2008, p. 9-12.
2. OLIVEIRA, Amaury Porto de. Resenha de “Adam Smith em Pequim”, de Giovanni Arrighi, por Amaury Porto de Oliveira. Blog de Theotonio dos Santos. Disponível em: <http://theotoniodossantos.blogspot.com.br/2009/10/resenha-de-adam-smith-em-pequim-de.html>. Acesso em: 10 de outubro de 2012.
3. BRUSSI, Antônio José Escobar. A pacífica ascensão da China: perspectivas positivas para o futuro? Revista Brasileira de Política Internacional, v.51, n.1, Brasília, 2008, p. 187-191.
4. ROMÃO, Wagner de Melo. Resenha de Giovanni Arrighi, Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI. Tempo Social USP, v. 21, n. 1, jun. 2009.
5. CASTRO, Marina Scotelaro de; Teixeira, Rodrigo Correa. Adam Smith em Pequim, por Giovanni Arrighi. Conjuntura Internacional – PUC Minas. Ano 8, n. 11, 17 a 30 set. 2011.
6 ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI. São Paulo: Boitempo Editorial, 2008. Originalmente publicado em inglês no ano de 2007.
7. ‘The World-Historical Imagination: Giovanni Arrighi’s The Long Twentieth Century in Prospect and Retrospect’ Ed. Jason W. Moore In Journal of World-Systems Research’, v. XXVII, n. 1, 2011.
8. ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX. São Paulo: UNESP, 1996.
9. ARRIGHI, Giovani; SILVER, Beverly J. Caos e Governabilidade no Moderno Sistema Mundial. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2001.
10. DENEMARK, Robert A. World System History: Arrighi, Frank, and the Way Forward. Journal of World-Systems Research, v. XV, n. 2, 2009, p. 233-242.
11. TRICHUR, Ganesh; SHERMAN, Steven. Giovanni Arrighi in Beijing. Journal of World-Systems Research, v. XV, n 2, 2009, p. 256-263.
12. BAIR, Jennifer. The New Hegemon? Contingency and Agency in the Asian Age. Journal of World-Systems Research, v. XV, n. 2, 2009, p. 220-227.
13. REIFER, Thomas E. Histories of the Present: Giovanni Arrighi & the Long Duree of Geohistorical Capitalism. Journal of World-Systems Research, v. XV, n. 2, 2009, p. 249-256.
14. GULICK, John. Giovanni Arrighi’s Tapestry of East & West. Journal of World-Systems Research, v. XV, n. 2, 2009, p. 243-248.
15. COYNE, Gary. Natural and Unnatural Path’. Journal of World-Systems Research, v. XV, n. 2, 2009, p. 228-232.
16. Interview with Giovanni Arrighi “At Some Point Something Has To Give” – Declining U.S. Power, the Rise of China, and an Adam Smith for the Contemporary Left, by Kevan Harris’ In Journal of World-Systems Research, v. 18, n. 2, Summer 2012, p. 157-166.
ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI. Tradução de Beatriz Medina: Boitempo, 2008. 448p. Resenha de: PEIXOTO, Renato Amado. Adam Smith Reloaded. Revista Porto. Natal, v.1, n.2, p.130-135, 2012. Acessar publicação original [IF].
Porto
A Revista Porto (2011-2016), publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em História da UFRN, pretende ser um veículo de difusão e produção de conhecimentos e formação de pesquisadores.
Publicará artigos, ensaios, entrevistas e resenhas dos domínios da História e áreas afins, voltados para diferentes recortes espaciais e temporais, privilegiando os estudos que enfoquem as formas de apropriação, modificação e representação dos espaços.
Poderão propor artigos pessoas que tenham o título de doutor.
A Revista Porto tem periodicidade semestral e os itens da revista serão publicados em conjunto.
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento.
Los que ganaron: la vida en los countries y barrios privados / Maristella Svampa
Em 2008, realizei um trajeto de ônibus entre Buenos Aires e La Plata. Pela janela, descortinou-se uma paisagem perturbadora. Nos 57 quilômetros de ocupação humana contínua entre as duas cidades, intercalam-se ajuntamentos de habitações miseráveis, grandes amontoados de lixo a céu aberto, pequenos cursos de água visivelmente degradados e placas de indicações dos acessos a vários condomínios fechados de luxo.
Naquele mesmo ano, publicou-se a segunda edição – revista e aumentada – da obra Los que ganaron, de Maristella Svampa, socióloga argentina, pesquisadora do Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas em Buenos Aires (CONICET) e professora da Universidad de La Plata. Em um novo capítulo, incorporado sob a forma de posfácio, a autora considera o aprofundamento das tendências de privatização da sociedade argentina, apontadas na primeira edição de 2001 como a principal chave para a compreensão do fenômeno da expansão estrondosa dos condomínios privados nesse país desde os anos 1990.
Numa sociedade contemporânea crescentemente fragmentada, composta de ilhas que se constituem como universos autocentrados, os condomínios privados apresentam-se como uma metáfora emblemática e poderosa dos modelos neoliberais hegemônicos. A gravidade da crise argentina de 2001-2002, o avanço do neoliberalismo e o retraimento do Estado social, o esvaziamento das práticas de cidadania, o declínio da cidade como local de convivência social e política e o empobrecimento da população justificam, segundo a autora, o aprofundamento da reflexão sobre essas comunidades segregadas. Trata-se de romper com a sua naturalização, mostrar como surgiram a partir de certo momento da história das cidades argentinas e, sobretudo, criticar a forma como reproduzem e aprofundam uma “cartografia dura de nossa sociedade, marcada de maneira iniludível pela cristalização de grandes assimetrias” (p. 291) [1].
Os marcos cronológicos da pesquisa são 1989 e 1999, período da longa presidência de Carlos Menem, que inaugurou políticas de privatização radical dos serviços de utilidade pública e medidas para a livre circulação de capitais financeiros, desfavorecendo os setores produtivos, gerando forte desindustrialização e taxas de desemprego galopantes. Frente à redução dos trabalhadores a condições miseráveis, e ao depauperamento de grandes fatias das classes médias, aprofundaram-se as desigualdades sociais, cresceram a violência e o sentimento de insegurança urbana.
Foi nesse contexto que pequenas parcelas da população argentina – classes médias altas e elites enriquecidas (os „ganhadores‟, em contraposição aos „perdedores‟, ou „losers‟) – passaram a privilegiar amplamente a escolha de habitar em áreas isoladas, protegidas de um „mundo externo‟ caracterizado negativamente pela insegurança, destruição ambiental e heterogeneidade social. O „mundo de dentro‟ dos condomínios passou a ser valorizado como local de refúgio verde, contato com o mundo natural, liberdade para os filhos em ambientes seguros. Essas „ilhas‟ apresentam-se cercadas por altos muros, minuciosamente controladas por portarias monitoradas, tudo garantido pela presença de guardas particulares armados.
As entrevistas foram a principal fonte da autora, que chega a definir os principais tipos de bairros privados, desde aqueles originários dos primeiros „countries‟ dos anos 1930, até os mais recentes e mais luxuosos, com fachadas cinematográficas, frutos de mega-empreendimentos de grandes incorporadoras. Apesar das diferenças do nível econômico de seus moradores, assim como das construções arquitetônicas, é possível delinear uma série de pontos em comum, entre os quais o principal é a espacialização hierárquica das relações sociais. Dentro do condomínio vive-se junto ao seu igual. Esses „ganhadores‟ partilham ideais de prestígio, freqüentam os mesmos lugares (o golfe, a hípica, a quadra de tênis, etc.), enquanto seus filhos estudam nas mesmas escolas. Os „pobres‟ chegam todos os dias para a prestação de serviços, vigiados quase sempre com extrema rigidez nas portarias. Há também os que vivem nos bolsões de miséria entorno dos condomínios e para os quais se olha com terror. Somam-se aqueles para os quais se dirigem ações de caridade organizadas pelas mulheres e escolas dos condomínios. Entre a desconfiança e a beneficência, essas elites reforçam cotidianamente uma identidade do „entre nós‟, em contraposição a um mundo externo ameaçador.
Algumas questões percorrem toda a obra, e trazem um viés político para a análise da autora: qual tipo de sociedade se delineia nessas práticas segregacionistas? Que modelo de cidadania fazem prevalecer? Através da exposição sistemática das dezenas de entrevistas realizadas com moradores de condomínios privados na Argentina, Svampa argumenta o declínio dos espaços públicos. O sucesso dos condomínios favoreceu a formação de „microcidades‟ privadas com regras próprias e o delineamento de uma „cidadania patrimonialista‟ onde as pessoas são sócias e não cidadãos comprometidos com um pacto político. O „detalhe‟ de que os condomínios são acessíveis apenas para quem pode pagar algumas vezes gera culpa (aliviada na beneficência) ou simplesmente satisfaz a sede de prestígio e status. O que se encontra em jogo é o modelo de „cidade aberta‟ e dos encontros nela possíveis. A vida entre muros, a „cidade fechada‟ evidencia um processo de estreitamento das possibilidades de ação política.
A cidade passa a ser reconhecida apenas por suas funções econômicas ou turísticas. Seu papel político é obscurecido, pois os condomínios cada vez mais se regem por regras próprias, desconhecem a municipalidade e se tornam autosuficientes em serviços básicos. A cidade como centro cultural e social também se esvai, pois deixa gradativamente de ser opção de local de encontro entre diferentes. Antes, desenvolve-se uma vasta rede delivery dos mais diversos serviços, desde a entrega de alimentos e pratos prontos até livros e filmes. A história dos centros urbanos é também oculta à medida que esses novos espaços são naturalizados como destino inexorável para a qualidade de vida num mundo globalizado e ambientalmente deteriorado.
Para os leitores brasileiros, Svampa oferece estudo pioneiro sobre um fenômeno que se espalha por inúmeros países da América Latina, incluindo o Brasil.[2] Os condomínios „verdes‟ invadem o entorno de nossas cidades. Ao longo de nosso litoral, inúmeras praias são controladas por resorts internacionais e acessíveis apenas aos seus refinados hóspedes. As portarias de condomínios passaram a integrar nossas paisagens e se transformaram no grande ícone dos folhetos de propaganda imobiliária.
Para o grupo específico dos historiadores, Los que ganaron, apesar de sua abordagem marcadamente sociológica, instiga principalmente a reflexão sobre a história das cidades latino-americanas, as práticas políticas que nelas se desenvolveram ao longo do século XX e a relação entre as novas configurações espaciais e os desafios políticos contemporâneos. Se a história da América Latina não pode ser estudada sem que se investigue a história de suas cidades, a ruptura nas formas de vida urbana ocorrida nas últimas décadas é expressiva das escolhas que vêm prevalecendo nessas sociedades, e nas quais se delineia seu futuro.
Notas
1. Todos os trechos citados foram traduzidos pela autora desta resenha.
2. Outro estudo importantíssimo é o de Caldeira, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: Editora 34/EDUSP, 2000.
Regina Horta Duarte – Professora Associada do Departamento de História – UFMG. Doutora em História – Unicamp.
SVAMPA, Maristella. Los que ganaron: la vida en los countries y barrios privados. 2ed. Buenos Aires: Biblos, 2008, 301 p. Resenha de: DUARTE, Regina Horta. Revista Porto. Natal, v.1, n.1, p.127-130, 2011. Acessar publicação original [IF].
Les larmes de Rio / Laurent Vidal
Há muito os leitores de obras de história deixaram de se surpreender com livros que concentram o interesse de pesquisa no limite temporal de um único dia. Nos anos 1970, quando a história dos processos e estruturas parecia haver desterrado o evento, esse vilão encastelado na historiografia do século XIX, o medievalista George Duby consagrou um livro a um daqueles “dias memoráveis” da história da França, o 27 de julho de 1214.1 O argumento utilizado por Duby para justificar esse seu “retorno ao acontecimento”, foi que ele lhe permitiria alcançar os movimentos obscuros que fazem deslocar lentamente os alicerces de uma cultura.
O cerne do livro Les larmes de Rio (ele será traduzido para a língua portuguesa como As Lágrimas do Rio?), de Laurent Vidal, é um dia da vida da cidade do Rio de Janeiro, o dia 20 de abril de 1960, o dia do fechamento dos portões do Palácio do Catete e do embarque do presidente Juscelino Kubitschek para a nova capital, Brasília. Contudo, a relação entre evento e estrutura não está mais no centro da preocupação dos historiadores e o que Laurent Vidal tem em vista, enfrentando o trabalho com o tempo, esse desafio permanente dos historiadores, é voltar àquele dia e indagar sobre o que está contido nele.
O livro se orienta por três planos que permitem capturar esse adensamento de tempos diferentes. Deixemos que o próprio autor sintetize essa conjunção: ele se propõe a enfocar “Um acontecimento esperado (já que enunciado), vivido (o dia de seu desenrolar), e por fim percebido, integrado num discurso retrospectivo” (p. 11). O livro está assim organizado: um Prólogo; Parte I (“Quando o poder deixa a cidade”); Parte II (Poética do acontecimento) e Epílogo. Dirigiremos a maior parte dos nossos comentários à Parte I, que se divide em dois itens (“A perigosa entrada em cena de Juscelino Kubitschek” e “Juscelino, como Janus”) e cinco “Atos” sucessivamente intitulados “A cortina se levanta… sobre a Cinelândia”; “Quanto a cidade entra em cena”; “O apelo aos cariocas”; “Onde Juscelino se desfaz dos últimos laços com o Rio” e “A porta das lágrimas”. Segue um último tópico desta parte, sob o título de “à beira da cena, o herói e suas dúvidas”. A Parte II se intitula “Poética do acontecimento”, em que o autor busca reconstituir as “modalidades de percepção”, reconstituindo não o sentido do evento, mas “o modo como ele nos afeta” (p. 115), explorando para isso os escritos de intelectuais ligados à vida carioca.
O movimento do poder se desligando e se despedindo da cidade, produzindo um estado de suspense e despertando uma excepcional força coletiva, propiciou ao autor excelente matéria para sua narrativa. A separação entre cidade e poder é o problema central do livro. O autor inscreve seu problema no campo da historiografia, a partir da seguinte questão: há muitos estudos sobre a entrada do poder na cidade; em contrapartida, os historiadores têm dedicado pouco interesse aos momentos em que o poder deixa a cidade levando consigo as instituições, seus símbolos, sua corte de funcionários. No Rio, restará um palácio de portas fechadas, e como pretenso prêmio de compensação aos cariocas, a criação do estado da Guanabara.
A efetivação da transferência da capital foi um processo delicado. Num ambiente de ardentes ambições políticas, a mudança da capital abriu o caminho para a insegurança, o temor e fortes expectativas em relação ao futuro. O Rio de Janeiro, corte no período imperial e capital federal no período republicano, perderia a condição de capital e os cariocas reagiram revelando sentimentos os mais diversos (entre os principais estava o ressentimento e o alívio).
As lágrimas do Rio não é resultado de uma primeira aventura transoceânica de Laurent Vidal. Como outros trabalhos do autor, ele foi pensado e vivido. Vidal cruzou o oceano na direção do Brasil pela primeira vez há alguns anos, aterrissou em Brasília, morou no Rio de Janeiro e divide sua vida entre a França e o Brasil. Enquanto realizava suas próprias travessias, ele estudava outras travessias, todas relacionadas com o lado de cá do Atlântico.
Por exemplo: a travessia das utopias no curso do tempo, desvelando o poder exercido pelas imagens do futuro sobre o presente, em sua tese de doutoramento “Un projet de ville: Brasília et la formation du Brésil moderne, 1808-1960”, defendida na Universidade de Paris III, no ano de 1995, e que tomou a forma de livro publicado na França em 2002, com o título “De Nova Lisboa à Brasília: l´invention d´une capitale” e no Brasil, em 2008, com o título de “De Nova Lisboa a Brasília: a invenção de uma capital (séculos XIX-XX).2 A imaginação dos homens já aparece neste livro como força mobilizadora. Nele, o mundo dos sonhos e dos desejos extrapola o tempo vivido, se projeta no futuro sob a forma de utopias, mas estão enraizados na vida social do presente.
Outra linha de orientação, associada à anterior, é o esforço teórico e poético dedicado à captura dos movimentos do tempo, que se projeta para diante e para trás sob a forma de nascimentos, mortes e renascimentos das cidades brasileiras entre os séculos XVIII-XX3, desenhando uma dinâmica que se exprime nas diversas experiências de deslocamento que lançaram na direção do Brasil franceses das mais variadas origens e nas mais variadas circunstâncias.4 Desse modo, o historiador identifica as fissuras naquilo que é aparentemente compacto, naquilo que está aparentemente imobilizado no espaço, paralisado no tempo do presente. Vidal tem chamado à atenção para isso em vários ensaios em que vem esboçando uma história social da espera, e os primeiros sinais dessa história se encontram no livro magnífico que liga e cruza, dentro da tessitura da lógica colonial e da memória dos indivíduos, três continentes e a história de um deslocamento: Mazagão: la ville qui traversa l´Atlantique.5 Em As lágrimas do Rio ele retoma, agora explorando o movimento dentro do tempo consagrado à espera, na curtíssima duração, dentro de uma cidade, o tempo que se volta para o passado mítico e o tempo que se projeta no futuro do Brasil moderno.
A pergunta que atravessa todo o livro é: diante da instabilidade agudizada pelo processo de separação entre cidade e poder, como assegurar essa transição, como superar esse “vazio” do poder legítimo, como administrar os sentimentos dos cariocas em face do despojamento do Rio de Janeiro de sua condição de capital federal? A mobilização do rito cumpre exatamente esse papel de reestabelecer o equilíbrio nesse momento delicado:.
Na cidade, o político se apodera do tempo e, criando a ilusão de dominá-lo, se instala na duração – como se estivesse protegido das inquietações do mundo. Ora, eis que, no Brasil, o político (Juscelino Kubitschek) decide se colocar a caminho e deixar definitivamente a cidade (Rio de Janeiro). Deixá-la no discretamente, mas ao contrário, magnificamente, fazendo de sua saída, de seus adeuses, um ato cerimonial. E como se trata de uma saída de cena, é preciso fazer da cidade um teatro onde o poder, representado, pode-se colocar em movimento. (p. 19).
Laurent Vidal narra os momentos decisivos (horas, minutos) daquele dia intenso para Juscelino e para a cidade do Rio de Janeiro. O narrador acompanha o deslocamento do interesse da cena do espaço público para os ambientes privados, o papel decisivo dos pronunciamentos do Presidente, o magnetismo de seus atos, o impacto das imagens, o modo como cada ator ou grupo de atores entra em cena, extraindo de cada imagem, gesto e sinal o significado que eles assumem no momento em que aparecem. Ele captura o efêmero, empregando com desenvoltura os instrumentos da antropologia, da sociologia e da literatura, enlaçando com naturalidade os fatos e a teoria. Vidal dispõe os fios da trama dos eventos, escandindo o tempo para reconstituir o ritmo certo dos acontecimentos, mostrando o adensamento e a dispersão dos fatos, e assim revelando ao leitor a tessitura fina daquele dia 20 de abril.
As qualidades para a tarefa, o autor já as havia revelado em obras anteriores: o estilo competente, o manejo eficaz da teoria, o olhar formado nas sutilezas, requisitos necessários para que possa dar conta da descrição de um momento delicado como aquele. Porque não é tarefa fácil para o historiador lidar com esses objetos: o tempo que extrapola a cronologia, os atos políticos que se movem e articulam o desejo do futuro e o apelo ao passado, os sentimentos complexos dos homens do poder, dos intelectuais e dos populares, as hesitações de Juscelino Kubitschek, a participação popular, o modo como cada voz deveria entrar nesse concerto (e como efetivamente entra), a oposição parlamentar, a ritualização elaborada com a finalidade de “reativar o mito da unidade do grupo”. (p. 35).
O centro do drama vivido por Juscelino é precisamente este: no curso de mudança da capital, como separar essas duas dimensões do poder sem abrir as portas às ambições políticas da oposição, sem colocar em perigo a ordem social, diante do temor de que a população carioca reagisse mal à perda de privilégios que a condição de capital federal lhes assegurava? Ao mesmo tempo, o vazio produzido por essa operação de separação é preenchido por uma operação de produção de novas identidades, recorrendo à história, mobilizando gestos, imagens, palavras. Palavras “que separam a função de capital da cidade e que convidam a preencher esse vazio pela busca de uma identidade mais autêntica.” (p. 49).
O livro inicia com a apresentação do contexto político da chegada de Juscelino Kubitschek à presidência, as forças políticas em jogo, a situação crítica em que ele sobe ao poder. A seguir, Vidal mostra as hesitações de Juscelino diante da complexidade dos fatos relacionados à transferência. Esses dois primeiros capítulos tratam do período anterior ao drama do dia 20, enfocado os eventos e os processos que preparam o drama. Sob o ponto de vista organizacional, a estrutura do livro, construída sobre uma ordem cronológica, favorece a clareza, sobretudo tendo-se em vista o público de língua francesa, desconhecedor da história do Brasil, a quem o livro inicialmente se destinou. Mas para o leitor brasileiro (pelo menos o leitor culto), que domina os elementos básicos do processo político que levou Kubitschek ao poder, essa estrutura talvez tenha sido demasiado benevolente e isso repercute no livro, que tem a sua primeira parte enfraquecida porque o que interessa é a dramatização do dia 20. Não é que esse diretor de cena (Laurent Vidal e não Juscelino Kubitschek) tenha errado a marcação da luz. Mas há leitores que prefeririam ver tudo isso reunido, toda a matéria do livro contida num único dia, absorvendo e subordinando dentro dela os antecedentes históricos, os elementos desencadeadores do “drama”, tudo encravado dentro da narrativa do dia 20 e não figurando na exterioridade dos “antecedentes históricos”. Se assim tivesse sido concebida a obra, esses tempos entrelaçados no dia 20 ganhariam em dramaticidade, em complexidade e em densidade. Isso não é um reparo à estrutura de As lágrimas do Rio. É provável que essa ousadia de composição da peça dedicada ao dia 20 de abril requeresse um esforço extraordinário e uma sofisticação no tratamento do tema impossível nesse momento. Mas é cabível pensar que o avanço das reflexões e das experiências do autor em torno da “história social da espera”, a que ele tem consagrado suas energias, lhe permita futuramente aventurar-se nessas audácias, se elas lhe interessarem.
As lágrimas do Rio é um livro que instiga, porque dá conta da tarefa a que se propõe e ainda provoca no leitor um repertório de indagações suplementares, indagações a que, ressalte-se, o autor não pretendeu responder. Apontarei duas, uma decorrente da outra, extraídas do centro mesmo do livro, do enredo e do cenário desse drama do dia 20. É Vidal quem escreve: “Kubitschek vai representar a saída do poder como um drama clássico”, protagonizando o grande espetáculo para uma multidão de espectadores e de ouvintes, “atentos a todas as posturas, a todas as palavras”. Trata-se de um drama, segundo Vidal, onde Juscelino “é ao mesmo tempo o autor, o diretor e o ator principal”. (p. 33). Juscelino é o mobilizador de mitos (p. 37). Ele é Janus, o deus de face dupla, o deus que deve presidir as situações de passagens.
O desenrolar do livro demonstra exatamente isso. O cálculo, as estratégias, as decisões, a escolha dos rituais adequados, as palavras medidas, uma vontade excepcionalmente dotada para todas as ocasiões, ainda que não possa evitar instantes de hesitação, é isso que distingue Juscelino. Juscelino é o centro desencadeador, tudo provém dele (exceção feita a dois colaboradores pontuais: um amigo que escreveu a história das mudanças das capitais, e um coronel que, em depoimento a Vidal, afirmou que sugeriu ao presidente transformar o palácio do Catete em Museu da República). E a peça é conduzida dentro do roteiro previsto, com pequenas transgressões ocorridas no calor dos entusiasmos, mas sem chegar a alterar o seu curso.
Esse poder extraordinário que vemos irradiar de Juscelino pode surpreender os historiadores mais sensíveis às estruturas do poder e aos rituais que costumam ser mobilizados para a legitimação do poder. Juscelino revela um poder taumatúrgico que reforça no leitor brasileiro a imagem de um presidente sedutor que está nas evocações pessoais de quem conviveu com ele e que alimenta a memória política dos grandes homens. Impõe-se a indagação a respeito de como num Estado que estava se organizando em bases modernas (a mudança da capital para Brasília, e Laurent Vidal o demonstra neste livro e em livro anterior, é um momento de separação, ruptura e de formação de um novo Brasil, o Brasil moderno) o presidente reine como uma figura solitária na condução das coisas, imperando sobre o protocolo, sobre os assessores, dispensando a figura de um conselheiro permanente, montando sozinho o roteiro do seu espetáculo, organizando os atos, estabelecendo os ritos que acompanharão essa retirada do poder…
Não aparecem no livro de Laurent Vidal os mecanismos burocráticos, o corpo especializado de auxiliares, a rede de poder que a gente imagina se movimentando em torno dele. Como se pensar nesse quadro um Brasil moderno desprovido de uma estrutura burocrática que interfira nos movimentos do poder num momento tão decisivo? Teriam os burocratas e tecnocratas relegado a programação espetacular do dia 20 de abril a um domínio exterior às razões da política, fazendo dela uma espécie de resíduo inofensivo encerrado no campo das prerrogativas e do personalismo de Juscelino? A indagação incide, na verdade, sobre a nossa modernidade política, e evidentemente não cabe a esse livro que cabe respondê-la. Não podemos dizer que essas questões aparecem como fios soltos na tessitura que Laurent Vidal oferece ao leitor. Mas se elas tivessem sido contempladas, o tecido do dia 20 de abril apresentaria a nossos olhos outras cores e desenhos ainda mais ricos.
E para o leitor que aceitar a interpretação proposta por Vidal, ficará mais uma indagação a respeito desse artífice e ator da cena de 20 de abril: afinal, como se produziu esse êxito de Juscelino nos efeitos de persuasão do ritual coletivo que apaixonou a vida dos cariocas naquele dia? Uma resposta poderia ser arriscada aqui. Ela talvez possa ser obtida se examinarmos a formação pessoal de Juscelino e se enveredarmos nos caminhos da sua memória. É provável que na memória desse homem no poder estivesse vivo o repertório recolhido da infância das cidades mineiras do ouro. Os ouvidos formados sob o estímulo sensorial das procissões da cidade engalanada, embriagando os atores e a assistência com os sons, as cores, o cintilar de luzes na noite, ritualizando a fé naquele teatro barroco que se deslocava nas ruas do velho Arraial do Tijuco, a cada novo ciclo do ano – é possível que tudo isso tenha lhe fornecido instrutivas lições de psicologia coletiva, pensada e sentida, a respeito da força dos rituais coletivos sobre as almas dos indivíduos, mineiros ou cariocas… É perfeitamente plausível que o presidente Juscelino conservasse na memória algo mais do que a canção cordial vinda dos fundos das Minas Gerais, o Peixe Vivo.
Quando fizer a travessia das línguas e chegar ao leitor carioca e brasileiro, o belo livro de Laurent Vidal provavelmente ganhará o sentido duplo que a língua francesa recusa a seus leitores. Afinal, para os francófonos, Les larmes de Rio é só (e tudo) isso: as lágrimas da cidade do Rio de Janeiro. Mas para os ouvidos lusófonos o título reserva essa ambiguidade das lágrimas da cidade que são ao mesmo tempo as águas do rio, promovendo o encontro semântico entre essas imagens ancestrais e muito brasileiras das lágrimas do rio que corre e das águas dos olhos que choram… É difícil pensar que Laurent Vidal, amoroso do Rio de Janeiro, não tenha concebido essa ambiguidade linguística no interior de um território de encontro entre duas culturas. Escrevendo para franceses, ele pensou como brasileiro.
O autor começa o livro com o relato de uma tarde de 21 de junho de 2006, narrando a sua aproximação do Palácio do Catete, contemplando-o, dialogando com ele. As Lágrimas do Rio é o resultado daquelas indagações. Concluída a leitura do livro, tendo presenciado, por força dessa narrativa evocadora, a intensidade do gesto de fechamento do palácio esvaziado de suas funções, o leitor (em especial o leitor carioca) nunca mais deverá olhar com os mesmos olhos os portões do Museu da República. Do mesmo modo que não sentirá mais essa passagem entre os dias 20, 21 e 22 de abril dominada pela memória da morte de Tiradentes e do Descobrimento do Brasil. A transferência da capital inscreveu dentro desse calendário o dia que suscitou a experiência que mobilizou com intensidade os cariocas, quando eles choraram vendo o despojamento de sua cidade, se dobraram sobre o seu luto e logo renasceram.
Notas
1. DUBY, Georges. O Domingo de Bouvines: 27 de Julho de 1214. São Paulo: Paz e Terra, 1993.
2. VIDAL, Laurent. De Nova Lisboa à Brasília: l´invention d´une capitale, XIXe-XXe siècle, Paris: IHEAL éditions, 2002. VIDAL, Laurent. De Nova Lisboa a Brasília: a invenção de uma capital (séculos XIX-XX). Trad. Florence Marie Dravet. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2009.
3. La ville au Brésil (XVIIIe-XXe siècles): naissances, renaissances.(Dir. Laurent Vidal). Paris: Les Indes Savantes, 2008.
4. Franceses no Brasil: séculos XIX-XX (org. Laurent Vidal e Tania de Luca).São Paulo: Editora UNESP, 2009.
5. VIDAL, Laurent. Mazagão, la ville qui traversa l´Atlantique: du Maroc à l´Amazonie (1769-1783). Flammarion, 2008. Traduzido para a língua portuguesa: VIDAL, Laurent. Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico: do Marrocos à Amazônia (1769-1783). Trad. Marcos Marcionilo. São Paulo: Martins, 2008.
Raimundo Pereira Alencar Arrais – Professor Associado do Departamento de História – UFRN. Doutor em História Social – USP.
VIDAL, Laurent. Les larmes de Rio. Paris: Éditions Flammarion, 2009. 255p. Resenha de: ARRAIS, Raimundo Pereira Alencar. Revista Porto. Natal, n.1, v.1, p.131-137, 2011. Acessar publicação original [IF].