Posts com a Tag ‘Princeton University Press (E)’
In the Shadow of Justice. Postwar Liberalism and the Remaking of Political Philosophy | Katrina Forrester
Notas
1 Un esfuerzo similar puede verse en el estudio de la interacción entre “constelación de ideas” y los diferentes tipos de instituciones (departamentos académicos, comités de investigación y think thanks) que fundaron las bases de las teorías de la modernización emergentes en el contexto de la Guerra Fría. Véase Nils GILMAN, Mandarins of the Future. Modernization Theory in Cold War America, Nueva York, Johns Hopkins University, 2007. Leia Mais
The Mexican Heartland: How Communities Shaped Capitalism, a Nation, and World History, 1500-2000 | John Tutino
John Tutino | Imagem: Duke University Press
John Tutino’s The Mexican Heartland: How Communities Shaped Capitalism, a Nation, and World History, 1500-2000 (2018) examines Mexico’s long modern and contemporary histories, spanning from the sixteenth century, with the emergence of a silver economy, to the consolidation of Mexico City as a major world city in the twentieth century. Dr. Tutino is a professor of history based in Washington D.C. While focusing on Mexico, his work encompasses the transnational history of Latin America, and its centrality in the development of capitalism. Tutino’s book centers Latin America in global processes, namely those attached to the development and expansion of capitalism. While commodity-focused works are not particularly new, Tutino’s (2018) piece is not a work on silver or other Mexican commodities. It focuses on the agency and on the deep level of negotiation that had to exist, through centuries, for powerful actors – either Spain or postindependence elites – to exercise their dominance. While not particularly tied to Atlantic history, but rather to global movement and the convergence of Pacific and Atlantic economies and societies, Tutino’s book serves as a good example of a work that moves away from particular nation-state centric perspectives, also focusing on diverging communities within the nation-state, and their relationship to processes that go beyond the national borders. Leia Mais
What is Global History? | Sebastian Conrad
El historiador alemán Sebastian Conrad (1966) a lo largo de su carrera ha trabajado en los campos de la historia transnacional y de la historia global. Ello tanto desde la refl exión teórica como mediante la aplicación de sus metodologías en el análisis de casos de estudio concretos. Actualmente detenta la cátedra de historia moderna en la Freie Universität de Berlín, donde también dirige la maestría en Historia Global. En 2018, su trayectoria académica fue reconocida al nombrársele miembro de la Academia Europaea y de la Academia de ciencias de Berlín-Brandemburgo1. En su libro, What is Global History, Conrad se propuso realizar una discusión de alcance teórico sobre este tipo de historia y su práctica, discutiendo, por ejemplo, la política implícita en su ejercicio y los efectos del enfoque global en las categorías utilizadas por los historiadores, como las nociones de espacio y tiempo2.
En su texto, Conrad plantea una defi nición heurística de esta práctica historiográfi ca, concibiéndola como un enfoque diferenciado que exploraría “alternative spatialities, is fundamentally relational, and is self-refl ective on the issue of Eurocentrism”3. Leia Mais
Bedeviled: A Shadow History of Demons in Science | Jimena Canales
La sabiduría de los antiguos, del barroco y del gótico fue
extirpada de nuestro repertorio de conocimientos
avanzados. Sin embargo, a medida que los filósofos y los
científicos intentan comprender el mundo reduciéndolo
a sus elementos esenciales, acaban recurriendo a
criaturas, categorías y conceptos imaginarios. La
contradicción es cada vez más difícil de ignorar.2
Jimena Canales (2020, p. 316)
Platón transcribió en diálogos los consejos de sus demonios. Siglos más tarde, Descartes, como Fausto, prefirió el soliloquio, que el diablo adora interrumpir. Laplace vislumbró una inteligencia capaz de ver el pasado y el futuro que el presente esconde. Maxwell imaginó un demiurgo que logra mantener los fluidos fuera de equilibrio térmico tras seleccionar la velocidad de sus moléculas. Desde entonces, de la astronomía a la termodinámica, de la selección natural a la bolsa de valores, del nacimiento de la cibernética a la computadora donde se escribe este texto, los demonios de la ciencia se multiplican.
Por fin la historia y filosofía de la ciencia han puesto plena atención a un tema que se mantenía en un letargo inducido. ¿A qué ritual se consagran los científicos cuando hablan de demonios? Quizá el primer tratado sistemático sobre el tema fue el libro The Demons of Science: What They Can and Cannot Tell Us About Our World de 2016. Allí, Friedel Weinert concluye que los demonios de la ciencia son experimentos mentales provocadores que ponen a prueba la coherencia del conocimiento existente. Aunque las peroratas audaces de estos seres imaginarios pueden llegar a abrir el camino a conclusiones alternativas, difícilmente resultan concluyentes, pueden ser engañosos y no aportan al acervo de conocimientos empíricos.
La aproximación al tema que hace Weinert es directa. Primero aclara (con base en la obra de Irving, 1991) la función de los experimentos mentales, luego introduce los demonios. La colección comienza con el famoso argumento de Arquitas sobre la infinitud del universo en el que llegado a los límites del espacio, el explorador podría estirar su mano.
Aunque los humanos carecen de la posibilidad física de explorar los límites del espacio, el viajero espacial de Arquitas –en tanto demonio– no sufre tales limitaciones. Lo que sigue siendo una mera posibilidad lógica para los humanos sin violar las leyes de la naturaleza –caminar sobre el agua, volar sin ayuda por el aire–, se convierte en una posibilidad física para un demonio. El viajero espacial de Arquitas debe ser un demonio. (Weinert, 2016, p. 55)
Después de mencionar los demonios de Freud, Descartes y Mendel, la discusión toma mayor calado a partir de las audaces aseveraciones de los demonios de Laplace, Maxwell y Nietzsche:
El Demonio de Laplace sostiene que el mundo es determinista, lo que parece privarnos de las flechas del tiempo y del libre albedrío. El Demonio de Maxwell muestra que la Segunda Ley de la Termodinámica es probabilística, en lugar de determinista, lo que parece cuestionar la noción de entropía como medida útil de la anisotropía del tiempo. El Demonio de Nietzsche anuncia que el universo es cíclico, condenándonos a una eterna recurrencia de acontecimientos. Los demonios son como jóvenes exaltados, pero una consideración calmada de sus afirmaciones revela puntos de vista más equilibrados con respecto a las flechas del tiempo y la mente humana. Las provocaciones de los demonios son, sin embargo, ejercicios útiles porque – como toda buena filosofía– nos obligan a detenernos y a reconsiderar nuestros supuestos filosóficos. (Weinert, 2016, p. 229)
Del libro de Weinert puede señalarse su novedad y utilidad, pues suma herramientas críticas a la literatura de los experimentos mentales. Aun así, palidece en comparación con la obra de Canales. No solo las referencias de Canales son más robustas y culturalmente enriquecidas, el tratamiento dado permite al libro escapar del trillado estante de la filosofía de la ciencia y colocarse como un tomo de la historia de la tecnología dedicado a la imaginación, un elogio al Homo imaginor. No quisiera dejar de resaltar la tensión, la palabra “tecnología” ni siquiera aparece en el libro de Weinert.
Si bien es claro que la tecnología desencanta al mundo, no es menos claro, paradójicamente, que la tecnología se desarrolla en términos de encantamiento. Situada entre los demonios de la tecnología y la tecnología de los demonios, Canales sabe que debe aclarar su postura, por ello anticipa la introducción con un prefacio literario y redondea las conclusiones de diez largos capítulos con un epílogo filosófico. Curiosamente, es en las notas donde Canales pule su diatriba contra el momento “¡eureka!” y esas otras caricaturas con las que hemos oscurecido la importancia de la imaginación en el conocimiento:
En la furia por entender la ciencia como una actividad que trasciende las artimañas de la ficción, la seducción de la poesía, las vicisitudes de la política, la imprecisión de los sentimientos y la intolerancia de la religión, la mayoría de los académicos han descuidado el estudio del papel de la imaginación en la ciencia. En los escasos casos en que se toma en consideración, se suele considerar que pertenece al “contexto de descubrimiento”, delimitado a esos oscuros (y en gran medida míticos) momentos de inspiración ocasional, en los que las mentes preparadas obtienen de repente la idea correcta, como de la nada. . . . [Así,] [l]a mayoría de los relatos de los estudios sobre ciencia y tecnología (CTS) siguen pensando en la imaginación como una actividad que precede al trabajo científico y que es más evidente en disciplinas ajenas a la ciencia, como la ciencia ficción y la literatura, desde donde se siente su impacto. Un ejemplo de esta postura lo representa el argumento de que “la innovación tecnológica suele seguir los pasos de la ciencia ficción, rezagando la imaginación de los autores por décadas”. Mi enfoque contrasta con ese planteamiento al estudiar el uso de la imaginación en la ciencia de forma concurrente con ella, no antes o fuera de ella, sino simultáneamente y dentro de ella. (Canales, 2020, pp. 325-326)
Muchos de los demonios del mundo se creían reales y ya han sido desmentidos, todos los demonios de la ciencia fueron imaginarios y, sin embargo, algunos ya han sido construidos. Gracias a este sombrío libro, el lector descubre que la mayoría de los momentos de la ciencia más divulgados tuvieron como punto de partida argumentos donde figuraban demonios. Darwin mismo redactó El origen de las especies pensando en demonios. Por su parte, Asimov (1962, p. 79) creyó que había acuñado el término “Demonio de Darwin” en analogía al demonio de Maxwell. No podía estar más errado. Como Canales muestra en detalle, el término se venía extendiendo con fluidez entre físicos y biólogos por igual, en especial, gracias al trabajo de Pittendrigh sobre “El relojero ciego”, que luego Dawkins retomaría (Canales, 2020, p. 257).
Entre condes, duques y príncipes del infierno, en Ars Goetia, el popular grimorio anónimo del siglo XVII, se clasifican 72 demonios. En Bedeviled se cuentan más de treinta. La lista la encabezan los demonios de Descartes, Laplace, Maxwell y Darwin. Siguen el demonio de la gravedad exorcizado por Einstein según Eddington (p. 106) y Einstein mismo como demonio según Ehrenfest (p. 120). Después llegan los demonios de Marie Curie (que permiten “obtener diferencias debidas a las leyes de radiación descritas estadísticamente, al igual que los demonios de Maxwell nos permiten obtener diferencias debidas a las consecuencias de los principios de Carnot”, p. 115) y el demonio mecánico de Maxwell de Compton (que mide la energía cinética de distintas moléculas, p. 121). Por otra parte, Henry Adams creyó ver al presidente Roosevelt como el demonio de Maxwell de EUA (p. 140). Grete Hermann habló del asistente del demonio de Laplace (p. 148). También están los demonios brownianos, metaestables y cibernéticos de Weiner (“organismos vivos, como el propio ‘Hombre’, pero también eran elementos no vivos, como ‘enzimas’ y otros ‘catalizadores’ químicos” p. 162). Broullin, por su parte, otorgó una linterna al demonio de Maxwell (“El demonio simplemente no ve las partículas, a menos que lo equipemos con una linterna” p. 166). También están el demonio imperfecto de Maxwell de Gabor (p. 169), el demonio cuántico-causal de Rothstein3 (“que puede ver de una manera completamente diferente y ajena a la de los humanos, pero no físicamente imposible”, p. 173) y el demonio de Bohm (“simplemente capaz de ver las variables ocultas del sistema”, p. 176). En el terreno de la computación se encuentran las series de demonios y sub-demonios de Selfridge (“En lugar de que las computadoras sigan unas reglas establecidas de antemano, los programas con demonios probarían diferentes estrategias y opciones y se ajustarían sobre la marcha, en función del éxito o el fracasso en la realización de la tarea”, p. 188); los demonios basados en microchips de Ehrenberg (“Estos dispositivos son análogos a los hipotéticos artilugios que traducen el movimiento ascendente y descendente de una partícula browniana en un movimiento puramente ascendente, que realizan el viejo truco del demonio de permitir que sólo las moléculas rápidas vayan de izquierda a derecha”, p. 199); los demonios de Charniak (“que enseñan a las computadoras a entender las historias”, p. 202); y los demonios y daemonios de UNIX (p. 239). “Bekenstein conjuró una nueva criatura llamada ‘demonio de Wheeler’. Esta criatura podía hacer desaparecer la entropía creada en un proceso termodinámico dejándola caer en un agujero negro” (p. 216). También está el demonio de Feynman (“una serie de máquinas vivas y no vivas que podían producir trabajo a partir de fluctuaciones casi aleatorias”, p. 233). Una variación distinta es el demonio de la elección de Zureck (“versión inteligente y selectiva del demonio de Maxwell”, p. 244). Según Diersh, el demonio de Maxwell existe, somos nosotros (p. 248). Para Schrödinger, la verdadera morada del demonio de Laplace es la biología (p. 250). “Monod concluyó que las ‘fibras polipeptídicas’, portadoras de información genética, ‘desempeñan el papel que Maxwell asignó a sus demonios hace cien años’” (p. 262). No todos los demonios van sueltos, Eigen concibió sus tres demonios encadenados: “El primero, el demonio de Maxwell, explicaba el sentido unidireccional disipativo de la naturaleza. El segundo, el demonio de Loschmidt, mostraba sus aspectos reversibles. El tercero, el demonio de Monod, creó los efectos aparentemente irreversibles que a menudo se atribuyen a los seres vivos” (p. 265). Por su parte, “Morton describió el ‘trabajo del gerente’ como ‘la innovación de la innovación’” (p. 274). Bourdieu escribió que “El sistema escolar actúa como el demonio de Maxwell. Mantiene el orden preexistente, es decir, la diferencia entre alumnos con cantidades desiguales de capital cultural” (p. 275). La lista sigue con el demonio de la suerte de Maurice Kendall, que actúa en el mercado financiero (p. 280). “Según Georgescu-Roegen, la acción básica que sustenta toda la actividad económica es la ‘clasificación’. Por ello, el Homo economicus podría entenderse como un demonio de Maxwell” (p. 282). Por supuesto, no podía faltar el demonio de Searle (mejor conocido como “el cuarto chino”, que busca minar el programa fuerte de IA, p. 218). Por último, Hofstadter invocó dos demonios, el demonio-S y el demonio-H, uno antropomórfico y el otro no, para mostrar las falencias del argumento de Searle (p. 225). Con todo esto, Canales logra –como en su libro anterior (Canales, 2016)– poner en realce a figuras sustanciales del pensamiento científico, que por distintas razones –nada obvias–, quedaron rezagados a un segundo plano en los recuentos usuales.
Si hay elogio en los párrafos anteriores es porque se trata de un libro bien meditado. Aun así, sus lagunas no son pocas ni poco hondas. Desde la mitad del tratado queda claro que no todos los demonios ni sus artífices reciben un tratamiento igualmente sustancioso. Algunas de las ambiciosas páginas del libro se reducen a un mero anecdotario y simplemente terminan por desviarlo de su leitmotiv. El resultado, un catálogo demasiado corto si se pretendía exhaustivo; demasiado largo, si abocado a su premisa. Aun acordando que el tratado no empiece con Arquitas como hace Weinert, o con Agrippa como podría haber sugerido Borges, ¿dónde están los demonios de Arrenhius4 y de Landsberg (1996), por mencionar únicamente a la cosmología?
En el libro de Weinert el lector no encuentra una genealogía de los demonios ni una discusión sobre lo que la presencia de estos seres pre-modernos implica en la modernidad, aspectos finamente trabajados en la obra de Canales. Lamentablemente esta última tampoco escapa a sus deudas. Canales presenta invocaciones y exorcismos, pero no disecciones. Falta una lección de anatomía que deje expuesto el interior de los demonios.
La insistencia en que la incapacidad de conocer simultáneamente la posición y el momento de las partículas en la mecánica cuántica vuelve promesa vacía al demonio de Laplace, ha robado luz a otros análisis no menos importantes. Más interesante resulta advertir que, cada vez que el demonio de Laplace ha sido puesto en la mesa de operaciones, nuevos amasijos epistémicos han sido revelados. “El famoso rompecabezas de la calculadora de Laplace está lleno de confusiones…”, se lee en una exquisita referencia clásica que Canales no incluye,
“Defiende, de hecho, poco más que la proposición de que en cualquier momento de la existencia del mundo, el futuro del mundo ‘será lo que será’. Pero lo que será no puede predecirlo, porque el mundo mismo está en el Tiempo, en perpetuo crecimiento, produciendo nuevas y frescas combinaciones” (Alexander, 1920, p. 328).
Para el filósofo australiano, el tiempo era tan real y vivo que ni dios mismo podría predecir su propio futuro. Alexander tuvo razón al denunciar, tempranamente además, que el demonio confundía determinismo y predictibilidad, que el determinismo era compatible con la impredictibilidad, y la libertad con la predictibilidad.
Por su parte, Cassirer también auscultó detenidamente a este demonio. La referencia sí se encuentra en el libro, pero Canales le dio un uso muy limitado. Cassirer encuentra que “la fórmula de Laplace es tan capaz de una interpretación científica como de una puramente metafísica, y es precisamente este doble carácter el que explica la fuerte influencia que ejerció” (Cassirer, 1954, p. 5). Ya entrado en la disección, Cassirer se pregunta cómo puede el demonio laplaciano ser susceptible de conocer un instante de todo el universo. Si lo hace de manera mediata –midiendo como nosotros humanos lo hacemos–, entonces sus mediciones portan indefectiblemente el error introducido por los aparatos. De manera que solo le resta hacerlo de manera inmediata. Pero una inteligencia así equipada, no necesita pasar por el cálculo para llegar al futuro, ya que puede acceder intuitivamente a cualquier instante de la realidad. La conclusión inevitable es que el demonio combina dos tendencias heterogéneas e incompatibles. Alexander ya había sentenciado de manera similar esta imposibilidad: “Ya sea, pues, que la mente calculadora infinita de la hipótesis es incapaz de predecir, o es supuesto por una petitio principii que puede saber más de lo que realmente sabe, y toda predicción es innecesaria” (Alexander, 1920, p. 329).
Una aporía distinta es la siguiente. No obstante que el demonio sea ciego a la flecha del tiempo, en tanto predictibilidad no se reduce a determinismo, la equiparación entre retrodicciones y predicciones debe ser asegurada y no supuesta. En otras palabras, en una vivisección se encontrará que el demonio de Laplace no es uno sino la fusión de dos seres distintos: un predictor (oráculo) y un retrodictor (dialabio5 ). Cabe señalar que desde siempre la retrodicción ha permanecido a la sombra de la predicción. Difícilmente se la encuentra en índices enciclopédicos y en dado caso es adentro de paréntesis. De cualquier forma, que la predicción a futuro es esencialmente equivalente a una sobre el pasado, no es sino un fuerte presupuesto heredado del demonio de Laplace, que debiera hacerse al menos explícito, si no exorcizar de una vez por todas.
A todas luces el libro está bien escrito y cuenta con una erudición notable, ello no lo libra de ciertos reparos literarios. Por razones de brevedad, considérese una única y pequeña línea de la página 60: “Maxwell’s demon was small, but milquetoast he was not”. El adjetivo no podría ser más provinciano. Hace referencia cerrada a una caricatura estadounidense cuya fama llevó a Webster, su autor, a la portada de la revista Time el 26 de noviembre de 1945. La nota dice que millones de estadounidenses conocen a Caspar Milquetoast tan bien como conocen a Tom Sawyer y mucho mejor que a figuras mundiales como Don Quijote, porque lo conocen casi tan bien como a sus propias debilidades. Entonces, en un vasto mundo agobiado por las referencias de unos pocos, ¿por qué insistir en más de lo mismo? Qué lejos, en todo caso, queda la directriz de Santayana para escribir con propia mente en lingua franca: “to say plausibly in English as many un-English things as possible” (Santayana, 1940/ 2009, p.7).
No son pocas las preguntas que Canales no responde y no son menos las que ni siquiera formula: ¿Dónde están los demonios de la química? ¿Las conjeturas en matemáticas juegan un lugar análogo a los demonios en la física? La literatura sobre el pasaje de Laplace es legión, ¿por qué no hay ni una sola ilustración del demonio? Ni el demonio de Descartes ni el de Laplace nacieron como demonios, fueron bautizados así más tarde, ¿hay casos de criaturas primeramente llamadas demonio que perdieron luego el apelativo? No obstante, Canales debe ser aplaudida por traer al banquete un plato tan fino como difícil de digerir. Contada desde sus demonios, la historia de la ciencia yace definitivamente más cerca del discurso de sus artífices que de sus comentadores.
Notas
2 Todas las traducciones son del autor.
3 Al parecer, Rothstein consideraba que el lenguaje de los demonios era útil porque obligaba a los físicos a alejarse de la jerga y volver a la sustancia: ‘El uso de demonios puede ser una especie de higiene semántica –dijo–, para evitar que los científicos digan tonterías sin darse cuenta’” (p. 179).
4 Así acuñado por Poincaré (1911/2002, p. 101).
5 La mitología está llena de criaturas que vaticinan el futuro. Asombrosamente parece estar vacía de estos otros monstruos que solo miran el pasado, situación por la cual me permito introducirlos: Tras penosas marchas uno puede encontrar un Dialabio, el gran retrodictor, y entonces confiarle un objeto desconocido, algún resto de algo que no es más. El Dialabio tendrá un rapto, no sabremos si intuye, rememora o calcula, pero al final escupirá la historia perdida, haya o no memoria para comprobarlo.
Referencias
ALEXANDER, S. (1920). Space, time and deity: The Gifford lectures at Glasgow, 1916-1918 (Vol. II). London: Macmillan & Company.
ASIMOV, I. (1962). Science: The modern demonology. Magazine of Fantasy and Science Fiction. (January), 73–83.
CANALES, J. (2015). The physicist & the philosopher: Einstein, Bergson, and the debate that changed our understanding of time. Princeton University Press.
CASSIRER, E. (1954). Determinism and indeterminism in modern physics; historical and systematic studies of the problem of causality. Yale University Press.
IRVINE, A. D. (1991). Thought experiments in scientific reasoning. En T. Horowitz & G. Massey (Eds.), Thought experiments in science and philosophy (pp. 149–166). Lanham: Rowman & Littlefield.
POINCARÉ, H. (2002). Le Demon d’Arrhenius. En H. Poincaré, L. Rollet (Ed.), & L. Rougier (comp.) Scientific opportunism – L’Opportunisme scientifique: an anthology (pp. 101– 4). Birkhäuser. (Obra original de 1911)
LANDSBERG. P. T. (1996). Irreversibility and time’s arrow. Dialectica, 50(4), 247–258. https://www.jstor.org/stable/42970694
SANTAYANA, G. (2009). A general confession. En The essential Santayana: Selected writings (pp. 4–22). Indiana University Press. (Obra original de 1940)
WEINERT, F. (2016). The demons of science: What they can and cannot tell us about our world. Springer.
Resenhista
Alan Heiblum Robles – Investigador independiente. E-mail: [email protected] Orcid 0000-0003-1678-9686
Referências desta Resenha
CANALES, Jimena. Bedeviled: A Shadow History of Demons in Science. Princeton University Press, 2020. Resenha de: HEIBLUM ROBLES, Alan. Epistemología e Historia de la Ciencia. Córdoba, v.5, n.2, p.105-111, 2021. Acessar publicação original [DR]
Agrarian Crossings: Reformers and the Remaking of the US and Mexican Countryside | Tore C. Olsson
In Agrarian Crossings: Reformers and the Remaking of the US and Mexican Countryside, Tore C. Olsson adeptly traces the ways that Mexican and US actors developed parallel and mutually influenced projects aimed to restructure the countryside during the 1930s and 1940s. In a fascinating account of individuals committed to transforming their societies, Olsson makes a powerful and convincing case that agrarian reforms, though situated in a specific geographic place, were not isolated occurrences but rather formed within a cauldron of exchange not bound to national borders. Moreover, this entangled history underscores how political decisions eroded small-scale agriculture in favor of large-scale production, a shift with continued profound environmental and social effects into the present. Leia Mais
Citizenship/inequality and difference: Historical perspectives | Frederick Cooper
Publicado em 2018 pela Princeton University Press, Citizenship, Inequality and Difference, de Frederick Cooper, torna-se um importante ensaio para refletirmos a respeito da constituição e implantação da cidadania em diferentes temporalidades, contextos e espaços. Professor da University of New York e especialista em “colonialização”, “descolonialização” e História africana, Cooper parte da crise humanitária imigratória contemporânea, resultado do colapso dos impérios na África e na Ásia, para fazer a necessária constatação de que cidadania não é sinônimo de igualdade, nem de justiça. O livro está estruturado em três capítulos: “Imperial citizenship from the Roman Republic to the Edict of Caracalla”, “Citizenship and Empire – Europe and beyond” e “Empires, nations and citizenship in the twentieth”, além de Introdução e Conclusão. Leia Mais
What Is Global History? – CONRAD (FH)
CONRAD, Sebastian. What Is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016. 299p. Resenha de: CALÇA, Elaine. História global: uma solução ou um retorno? Faces da História, Assis, v.6, n.1, p.478-482, jan./jun., 2019.
A tentativa de construir uma história não eurocêntrica surge a partir da crise contemporânea do Estado Nacional e dos acontecimentos do final do século XX, consequentemente, surgiram diversas abordagens dentro da historiografia, como história atlântica, história transnacional e história global. Dentre estas correntes, a história global demonstra ser a alternativa menos empregada pelos historiadores brasileiros. Diante disso, esta resenha pretende apresentar o trabalho publicado pela editora da Universidade de Princeton, em 2016, do renomado teórico do campo da História Global na Alemanha, Sebastian Conrad, professor da Frei Universität Berlin e do programa de pós-graduação em História Global na mesma instituição.
A obra de Sebastian Conrad parte da necessidade de esboçar os motivos da popularidade repentina que a História Global ganhou em espectro mundial no início do século XXI dentro do meio acadêmico, em especial, no campo da História; revistas como The American Historical Review e Past & Present estão publicando estudos nessa área, e em 2006 foi fundado pela Cambridge o Journal of Global History.
O trabalho de Conrad nos apresenta uma perspectiva atual da história que, segundo nossa análise, se contrapõe diretamente tanto à tradição historiográfica do século XX, quanto à tradição dos antropólogos, filósofos e cientistas alemães do século XIX, desde Immanuel Kant até Alexander von Humboldt e Adolf Bastian. Enquanto a tradição antropológica alemã alegava que as culturas africanas não possuíam história e, portanto, eram estáticas, a História Global, segundo Conrad, consiste na saída do continente europeu e na busca da história a partir do enfoque nos sujeitos, ideias e comércio em movimento.
Em geral, o autor defende esta corrente por considerar que a tal engaja-se em quebrar a relação estabelecida entre os historiadores do final do século XIX e o Estado Nação, relação esta que é fruto da fundação da História enquanto disciplina.
Entretanto, sabe-se que a reivindicação em história de uma metodologia relacional ou comparativa é presente em outras vertentes como História Comparativa, História Cruzada, História Transnacional, História Atlântica e esta reivindicação é justamente vista como meio de desvincular a atual disciplina com as instituições estatais, as quais a história vinculava-se durante o século XIX e parte do século XX. Essas correntes também tencionam abordar o tema e o objeto de forma diferente da tradicional, dominantemente presente na historiografia. Apesar desse anseio, José d’Assunção Barros pontua que a intencionalidade de transgredir ou se desvincular com a abordagem tradicional não implica no sucesso garantido do trabalho, já que os historiadores também estão inseridos em “categorias e formas estereotipadas de pensamento que os amarram” que exercem “pressões que sobre eles” (BARROS, 2014, p. 279), ou seja, também produzimos estereótipos e pré-conceitos de nosso tempo.
Na introdução o autor apresenta as diversas formas em que a História Global se apresenta, auxiliando o leitor a se orientar dentro desse debate e a definir o termo não enquanto objeto de estudo ou metodologia específica, mas como perspectiva que enfatiza as interações ou transformações estruturadas em nível global. Dividido em introdução e 9 capítulos, este livro é um manual que sistematiza como a história global foi e é utilizada pelos historiadores, nos apresentando os problemas e apreensões que a escrita da história, dentro deste campo, pode encontrar, bem como algumas possíveis soluções.
“História em sua maior duração foi sinônimo de história nacional” (CONRAD, 2016, p. 3), afirma Conrad nas primeiras páginas da introdução, onde explicita que a abordagem da história global objetiva suprimir tal história, já que o Estado Nação tem sido tão problematizado pela historiografia desde o final do século XX. O objetivo não é escrever uma história total do planeta ou ser um sinônimo de macro-história, mas uma tentativa de ressaltar conexões globais e condições estruturais que, na verdade, sempre houve, mas em níveis de impacto diferentes. Sendo assim, tudo pode se tornar história global. Sobre esta perspectiva, o trabalho, enquanto conceito, é uma das temáticas que pode ser analisada numa perspectiva global, por exemplo, como parte da economia da escravidão, que estabeleceu relações entre Brasil, Angola e Portugal.
O capítulo II, “Historiografia Ecumênica”, apresenta ao leitor autores que teriam uma visão planetária da história, como o otomano Mustafa Ali (1541–1600) ou o historiador mongolês Tahir Muhammad (ca. 1560). Conrad (2016) afirma que esses autores teriam produzido uma História Mundial na época da hegemonia ocidental, entretanto, não obtiveram reconhecimento, pois eram considerados historiadores amadores. Ampliando o conceito de história global, segundo o autor, Heródoto e Ibn Khaldun também já teriam escrito uma história considerada planetária. Além disso, pesquisa olhares de pensadores periféricos sobre a Europa, um dos temas deste capítulo, como o exemplo do livro História da Índia Ocidental (Tarih-i Hind-i garbi), escrito em Istambul, em 1580, por um turco em anonimato, que tentava compreender a inesperada ampliação de horizonte e do dilema cosmológico apresentado pela descoberta do “Novo Mundo”.
Ademais, o autor reconhece que fazer uma história global não seria algo novo, e cita que a teoria da dependência produzida na América Latina, os estudos subalternos e de gênero, o pan-africanismo e o movimento de negritude, produzidos por autores como Frantz Fanon (1925-1961), Aimé Césaire (1913-2008) e Léopold Senghor (1906-2001), seriam o ponto de partida para ou uma tentativa de produzir uma história global.
História comparativa, transnacional, estudos pós-coloniais, concepção de múltiplas modernidades e teoria dos sistemas mundiais são abordados no capítulo III, “Disputa de Abordagens”. Estas correntes são colocadas em diálogo com a História Global pelo autor. Ele explicita a influência destas sobre os historiadores globais (por vezes sem reconhecimento), que são potencialmente usadas para escrever uma narrativa global coerente. Cada uma dessas abordagens é apresentada também com seus limites. No conjunto da produção de história comparativa, os estudos permaneceram vinculados ao conceito de diferentes “civilizações” e muitas vezes foram escritas a partir da perspectiva da cultura europeia. A concepção de múltiplas modernidades pressupõe a existência de vários modelos de modernidade, que não são construídos sobre o paradigma da ocidentalização, todavia esta metodologia acaba por negligenciar conectividades globais. Para o autor, os estudos pós-coloniais e as múltiplas modernidades são abordagens historiográficas que derivam da falta de satisfação com a teoria da modernidade, mas também possuem diversas limitações.
Essas vertentes possuem nomes diversos que, no entanto, têm mais semelhanças do que divergências, as quais geraram um debate ainda atual. O uso do método comparativo, por exemplo, acabou sendo um dos argumentos para que estas correntes se diferenciassem. Sean Purdy, em seu artigo A História Comparada e o Desafio da Transnacionalidade, apresenta que historiadores da história transnacional negam o método comparativo. O autor nos propõe uma crítica não ao conceito de transnacionalidade, mas como este é utilizado (PURDY, 2012, p. 65).
Ainda dentro desse panorama, Sebastian Conrad afirma que o marxismo, apesar de ser vulgarmente reconhecido como uma abordagem que daria ênfase aos estágios de desenvolvimento, e seu método materialista histórico, apresentaria análises das muitas interações que ocorrem em nível global ao analisar o desenvolvimento social, o qual vai ao encontro com a proposta dialética apresentada também pela história global.
Diante dos apontamentos críticos que o autor faz as outras abordagens teórico-metodológicas citadas até agora, o capítulo IV, “História Global como uma abordagem distinta”, defende que a História Global responde a urgente necessidade de se repensar a história ao propor a análise de fenômenos, processos e eventos sob o aspecto global, os quais permitem ver relações entre histórias e experiências em tempo e espaço diversos, o que não seria possível dentro da investigação tradicional da história. Os historiadores que desejarem utilizar a história global, segundo o autor, deverão não apenas fazer conexões entre os espaços, mas também revisitar as abordagens e métodos citados anteriormente para a elaboração de uma nova história.
As diferenças entre história global e história da globalização serão apresentadas ao leitor no capítulo 5, bem como as potencialidades que os historiadores possam encontrar ao utilizar tal abordagem para analisar as estruturas e as interações globais. Neste momento do texto, são apontados seis campos de pesquisa como já cristalizados na História Global, são eles: História do Oceano; dos Bens; da Migração; da Nação; História Ambiental e dos Impérios. Em relação a última área, destaca-se que a interpretação trazida pela História Global tem mudado substancialmente a área de estudos sobre Imperialismo, ao olhar para aspectos como as concepções de domesticidade, família, infância, sexualidades e masculinidades.
O autor retoma a necessidade dos historiadores repensarem o tempo e o espaço de formas alternativas nos capítulos 6 – “Espaço segundo a História Global”, como pela micro-história ou pelas interações networks; e 7 – “Tempo segundo a História Global”, com a ideia de curta e longa duração, metodologia consagrada desde a obra de Fernand Braudel (1902-1985), bem como os revestimentos (ou escalas) temporais – Zeitschichten, de Reinhart Koselleck (2000).
Em “Posicionamentos e abordagens centradas”, capítulo 8, o autor questiona se uma versão transcultural da história é acessível em todo o mundo, bem como realça a importância das ciências sociais a despeito de sua origem europeia. Tal discussão é mantida no capítulo 9, “Os conceitos da história global e a construção de mundo”, onde o autor aborda o eurocentrismo, a posicionalidade, a ascensão, a queda e o retorno ao modelo de civilizações.
No último capítulo, “História Global para quem? A Política da História Global”, se discute as diferenças entre escrever sobre globalização e a globalização enquanto uma ideologia presente na política. Esta diferenciação pode ser tênue e utilizada acriticamente, levando a equívocos em relação às desigualdades sociais que, além de econômico e estrutural, também está presente nas tradições historiográficas ocidentais, orientais e africanas, que acaba por prevalecer a historiografia eurocêntrica em detrimento das demais. Além da contribuição da hegemonia do inglês como um instrumento de disseminação do conhecimento que é produzido em um espaço delimitado, ou seja, por instituições e mídias europeias e americanas, sobre todo o mundo.
Por fim, é importante ressaltar que as versões da obra em inglês e em alemão (Globalgeschichte, publicada pela editora C.H. Beck em 2013), apesar de possuírem o mesmo título, são diferentes entre si. É importante salientar que na edição de 2016, a qual nos baseamos para esta resenha, o autor pôde revisar, acrescentar capítulos e descartar outros.
Referências
BARROS, José d’Assunção. História cruzada: considerações sobre uma nova modalidade baseada nos procedimentos relacionais. Anos 90, Porto Alegre, v. 21, n. 40, p. 277-310, 2014.
CONRAD, Sebastian. Globalgeschichte: Eine Einführung. München: C.H. Beck Verlag, 2013.
_________. What Is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016.
KOSELLECK, Reinhart. Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch Verlag 2000.
PURDY, Sean. A História Comparada e o Desafio da Transnacionalidade. Revista de História Comparada, UFRJ, Rio de Janeiro, p. 64-84, 2012.
Elaine Calça – Graduada pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Assis-SP, Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História e docente bolsista de alemão do Departamento de Letras Modernas na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Assis-SP. Bolsista de mestrado CNPq. E-Mail: [email protected].
[IF]What is Global History?
Um dos temas mais discutidos nos departamentos de humanidades ultimamente é a História Global. Nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxão em geral, tem havido uma proliferação de trabalhos que procuram adotar a história global seja como uma perspectiva, seja como um objeto de estudo. Centros de pesquisa como o Center for Global history na Universidade de Oxford, o Institute for Global and Transnational History na Universidade de Shandong (China) e o centro para História global da Freie Universitat Berlin; publicações como o Global History Journal e o New Global Studies Journal [1] e ainda redes de pesquisadores tal qual a Global History Collaborative e a European Network in Universal and Global History demonstram o crescente interesse pela temática que aqui tratamos [2].
Para o historiador Sebastian Conrad, a História global nasceu da convicção de que os instrumentos que os historiadores vinham utilizando para explicar o passado já não eram mais suficientes. Há duas razões para isso, dois pecados originais das ciências humanas que foram formadas no século XIX. Primeiro, elas foram fundadas a partir de uma ideia de estado-nação, de um “nacionalismo metodológico”, isto é, uma tendência a considerar o Estado-Nação como unidade fundamental de análise. E o segundo pecado original seria o eurocentrismo, ou seja, a tendência das ciências humanas de ver a Europa como o motor da história mundial.
No entanto, não é possível dizer que os historiadores globais foram os primeiros a reagirem a essas limitações. Modelos de História-Mundo já existiam desde Heródoto, Sima Qian e Ibn Khaldun, pois eles produziram narrativas que pensavam a história de seus próprios povos mas também a de outros, mesmo que fossem para constratar civilização com barbárie. Mais recentemente, a História comparada, as teorias de sistema-mundo e os estudos pós-coloniais já desafiavam a compartimentalização arbitrária do passado.
Assim, se temos consciência das origens remotas das formas de pensar globalmente o passado, resta saber o que distingue a Global History dessas outras abordagens? O que, afinal, é a História Global? Essa é a questão que o livro de Sebastian Conrad busca responder.
Sebastian Conrad é professor de História na Freie Universität Berlin, interessado em abordagens de História global e transnacional, em História da Europa Ocidental, da Alemanha e do Japão. Outras publicações conhecidas suas são German Colonialism: A Short History e Globalisation and the Nation in Imperial Germany. Desde 2006, ao menos, o autor vêm publicando artigos, capítulos e livros de cunho teórico-metodológico sobre História global, como o que aqui tratamos, What is Global History?.
No primeiro e introdutório capítulo deste livro, o autor contextualiza brevemente o surgimento dessa abordagem, afinal, provavelmente não haveria História global sem globalização, e disserta sobre o por quê a maneira como os historiadores reconstrõem o passado está mudando, na medida da crescente integração do mundo presente. Além disso, ele aponta três variedades de História Global, a ver: História de Tudo, História das Conexões e História baseada no conceito de Integração.
Na sequência, em “A short history of thinking globally”, ele reconstitui a trajetória das formas de pensar a história para além das fronteiras nacionais, desde as narrativas ecumênicas na Antiguidade e Idade Média, na Época Moderna, a partir da hegemonia ocidental no século XIX, chegando até a World History do Pós-Guerra.
No terceiro capítulo, Conrad mostra como diferentes abordagens mais recentes contribuiram para construir visões do passado que ultrapassam a fronteira do Estado-Nação. Uma delas, a História Comparada, que busca olhar para similitudes e diferenças entre dois ou mais casos, bem como estabelecer conexões entre eles sempre que possível. Ainda, há a História Transnacional, surgida na década de 90, e que pode ser considerada uma mãe da Global History, pois já procurava abertamente transcender a o Estado-Nação. Adicionamos a teoria dos sistemas-mundo que não busca ver a nação, mas blocos regionais e sistemas como unidades primeiras de análise, enfatizando a integração de mercados (economia-mundo) e a integração política em extensos territórios (império-mundo). E, enfim, os estudos pós-coloniais e as modernidades múltiplas que contribuiram, cada um a sua maneira, para crítica ao eurocentrismo.
No capítulo 4, Sebastian Conrad finalmente oferece ao leitor uma definição de História Global enquanto uma perspectiva particular, distinta dos estudos pós-coloniais, da História Comparada e das modernidades múltiplas. Para ele, há um foco nos contatos e interações que marcam os trabalhos dessa corrente. A palavra-chave mais associada a essa linha é a “conexão”, porém a busca por redes e nexos globais não é suficiente para delimitar o que é História global. A Global History, além disso, explora espacialidades alternativas (parte de uma “spatial turn”), busca entender unidades históricas (civilização, nação, família, etc) sempre em relação a outras e é crítica, ou pelo menos auto-reflexiva, quanto à questão do eurocentrismo. No mais, os historiadores globais se distinguem pelo exame de transformações estruturais em larga escala e pela tentativa de rastrear cadeias causais a nível global. Essas são algumas mudança heurísticas que marcam a passagem dos antigos modelos de História-mundo para a atual História Global.
No quinto capítulo, o autor trata da relação entre História e integração global. Deve-se lembrar que História Global não é uma história da globalização, mas a integração global é o contexto em que o historiador, com essa perspectiva, trabalhará. Obviamente, o impacto das conexões a serem estudadas depende do grau de integração de sua época.
Na parte seguinte, Conrad disserta, em dois capítulos, a respeito do espaço e do tempo. Em primeiro lugar, existem algumas espacialidades privilegiadas para historiadores globais. Os oceanos, por exemplo, permitiram interconexões econômicas, políticas e culturais por toda história humana e as redes, enquanto partes amplas de estruturas de poder, são objetos comuns nesses estudos. Mas nem sempre história global quer dizer narrativas planetárias, é possível fazer uma micro- história do global, se quisermos olhar como processos amplos se manifestam localmente. Dessa maneira, uma consequência imediata de se transcender as fronteiras nacionais é ter que adotar uma outra periodização, é preciso periodizar o passado não só localmente, como também globalmente.
Nos três últimos capítulos, o autor se debruça sobre a questão dos “lugares de fala”, ao observar que, mesmo que historiadores queiram contar uma história global, eles sempre o fazem de uma origem geográfica em particular. Além disso, ele mergulha na noção de “world-making” do filósofo Nelson Goodman. E conclui, num dos capítulos mais interessantes do livro, fazendo uma sociologia da Global History, ponderando os seus impactos políticos, seus desafios e horizontes.
Um dos méritos do trabalho de Sebastian Conrad é encontrar a originalidade de cada abordagem que ele trata, sem perder de vista as semelhanças entre cada uma delas. Como é comum nos bons trabalhos de historiografia e História intelectual, ele consegue estabelecer a relação entre os objetivos de cada escolha metodológica (seu programa) e seus resultados nas obras mais representativas de cada uma, às vezes lançando mão de críticas e apontando os limites de algumas perspectivas.
Ademais, Conrad faz um percurso que coloca a História Global ao lado de suas antecessoras, a insere em seu contexto acadêmico e político e a distingue de outras correntes históricas também avessas ao “nacionalismo metodológico”. Neste sentido, podemos dizer que o autor responde a pergunta do livro “ O que é História Global?” tanto diacronicamente, ao investigar as raízes da Global History até as narrativas ecumênicas de Heródoto e de outros, bem como sincronicamente, ao destaca-la de outras formas contemporâneas de narrativas transnacionais.
Por fim, o autor considera e analisa as diferente maneiras de se fazer História Global, na longa e curta duração, na ampla e pequena espacialidade. Ele enxerga a Global History não como uma tentativa de se fazer uma história de tudo, em escala planetária, mas como um perspectiva que não necessariamente exclui outras abordagens históricas como a marxista, a micro- história, os estudos pós-coloniais, etc. Justamente por ser um paradigma abrangente, talvez a História Global possa se consolidar nos meios acadêmicos do Brasil e do mundo. Como Conrad afirmou em tom otimista no final de seu livro: “O gradual desaparecimento da retórica do global irá então, paradoxalmente, assinalar a vitória da História Global como um paradigma” (p.235).
Notas
1. Além disso, revistas importantes como a American Historical Review e a Past & Present têm cada vez mais publicado artigos nesse campo.
2. Nos Estados Unidos, por exemplo, a História global vem respondendo a demandas de inclusão étnica no âmbito do ensino de História tanto nos níveis escolares quanto no superior. As tentativas (nem sempre sem reações) de substituição de cursos de “Civilização Ocidental” e “História dos Estados Unidos” por cursos de “História Global” vão no sentido de construir narrativas que dêem voz a todo o conjunto de imigrantes que construiram o país. Para um panorama desse debate, ver: ÁVILA, A. L. “A quem pertence o passado norte-americano?: A controvérsia sobre os National History Standards nos Estados Unidos (1994-1996)”, Anos 90, Porto Alegre, v. 22, n. 41, p.29-53, jul. 2015.
Filipe Robles – Graduando em História pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: [email protected]
CONRAD, Sebastian. What is Global History? Princeton: Princeton University Press, 2016. Resenha de: ROBLES, Filipe. Escrevendo e pensando a História globalmente. Cantareira. Niterói, n.28, p. 235-237, jan./jun., 2018. Acessar publicação original [DR]
A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830 | Aurelian Craitu
Em A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830, lançado em capa dura em 2012 e impresso em brochura três anos depois, o cientista político e historiador Aurelian Craiutu, professor da Universidade de Indiana, Estados Unidos, oferece aos leitores um livro desafiador e paradoxal.
Autor de vários textos sobre o liberalismo europeu dos séculos XVIII e XIX, dentre os quais se destaca seu livro de 2003 sobre os doutrinários franceses (Liberalism under Siege: The Political Thought of the French Doctrinaires ), Craiutu é tradutor e organizador de outros trabalhos sobre importantes pensadores liberais, tendo apresentado e traduzido para o inglês duas obras fundamentais para a doutrina liberal do século XIX, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française , de Mme. De Stäel, e Histoire des origines du gouvernement représentatif, de François Guizot, além de ter ajudado a organizar dois livros sobre Tocqueville. O estudioso reuniu o vasto arsenal adquirido em mais de uma década e meia de estudos sobre a doutrina liberal para avançar a seguinte tese: a moderação é a quintessência da virtude política, um “arquipélago perdido” que historiadores e cientistas políticos ainda estão por descobrir (p. 1).
Dividido em duas partes – cada qual contendo três capítulos -, o livro oferece um estudo aprofundado de certos autores liberais francófonos que, exceção feita ao clássico e bastante conhecido Montesquieu, se destacaram no cenário público francês entre os momentos de crise do Antigo Regime e a Revolução de 1789, muito embora não tenham recebido a devida atenção da academia e do público em geral no passado como no presente. São eles, na ordem, os líderes monarchiens (monarquianos), designação pejorativa que os jacobinos atribuíram a um grupo heterogêneo de deputados da Assembleia Constituinte formado por Mounier, Malouet, Lally-Tollendal e Clermont-Tonnerre entre outros, e os quais se destacaram por defender o bicameralismo e o veto absoluto do monarca (capítulo 3); o banqueiro suíço Jacques Necker, o célebre ministro das Finanças de Luís XVI, cujas reflexões sobre a Revolução Francesa e a relação entre o Poder Executivo e os demais Poderes continuam largamente ignoradas até hoje (capítulo 4); Germaine Necker ou Mme. de Stäel, a filha de Necker e prolífica autora de artigos, panfletos e livros, além de importante ativista política nos quadros do Diretório e da Restauração (capítulo 5); o suíço Benjamin Constant (capítulo 6), parceiro afetivo, intelectual e político de Mme. de Stäel sobretudo nos períodos do Diretório e do Consulado e, como ela, autor igualmente prolífico – depois de Montesquieu, certamente o mais conhecido e estudado entre os elencados.
Além do prólogo, no qual expõe as justificativas e a metodologia da pesquisa, e do epílogo, no qual conclui com uma espécie de “decálogo” explicativo da moderação, o livro apresenta um esboço sobre o lugar ocupado pelo conceito de moderação no pensamento político ocidental, da antiguidade clássica e pensadores cristãos aos humanistas da época Moderna e filósofos franceses da Ilustração (capítulo 1), bem como um longo capítulo dedicado ao autor de O Espírito das Leis (1748), o barão de Montesquieu (segundo 2) – a meu ver o melhor do livro e, não por acaso, a pedra-angular da obra.
A escolha de Montesquieu como marco epistemológico inicial do estudo e da Revolução Francesa como tela de fundo do trabalho se justificam. O primeiro, pelo fato de haver delegado papel central à moderação política em sua grande obra, a qual teve o mérito de destacar os traços constitucionais, institucionais e legais da moderação para além das considerações de ordem ética sobre o caráter dos governantes ou dos legisladores. Ademais, as reflexões políticas de O Espírito das Leis e das produções dos demais autores ilustram os dois principais temas do livro de Craiutu: a moderação como conteúdo de uma agenda crítica e reformista do Antigo Regime; e as diversas tentativas de institucionalização da moderação política durante e após a Revolução de 1789, o eixo ou pano de fundo do livro. Inspirado no conceito de Sattelzeit (“tempo-sela”, tempo de aceleração histórica), cunhado por Reinhart Koselleck, e ecoando reflexões de François Furet acerca dos impactos da Revolução Francesa sobre a cultura política contemporânea, Craiutu justifica a centralidade daquele evento pelo fato de que “continuamos a viver num mundo democrático moldado e construído pelos ideais e princípios da Revolução Francesa” (p. 2).
É tendo por base as reflexões políticas de Montesquieu e de seus intérpretes envoltos no fenômeno revolucionário francês que Craiutu desdobra o que ele próprio designou como as quatro meta-narrativas do livro: I. a moderação abordada pelo aspecto político e institucional (e não como uma virtude pessoal ou individual), cujo propósito é salvaguardar não apenas a ordem, mas também a liberdade individual; II. a afinidade existente entre a moderação política e a complexidade institucional ou constitucional, conforme ilustraram Montesquieu por meio de seu conceito de “governo moderado”, os monarquianos com a defesa do bicameralismo e do veto absoluto, Necker mediante sua teoria da “soberania complexa” ou do “entrelaçamento dos poderes”, Mme. de Stäel com a sua busca de um “centro complexo” para consolidar a república termidoriana e Benjamin Constant em sua teoria do poder neutro; III. a moderação como a defesa sensata da liberdade, o que não se confunde com o conceito filosófico do juste milieu, pois a moderação pode se traduzir em atitudes tanto equilibradas como radicais de acordo com o contexto político; IV. por isso, a ação moderadora não pode ser analisada por meio do vocabulário político usual (direita ou esquerda), uma vez que possui conotações radicais ou conservadoras conforme o tempo e o espaço. Como bem destacou o autor no prólogo, há momentos em que as intenções moderadoras deixam de ser virtude e passam a significar fraqueza ou traição de princípios – poderíamos exemplificá-lo com o infame Pacto de Munique celebrado entre as potências europeias e a Alemanha nazista, que suscitou um célebre discurso de Churchill.
Na esteira do caráter elástico de seu tema, Craiutu optou por uma abordagem eclética na qual o contextualismo linguístico da Escola de Cambridge e a tradição historiográfica revisionista de Furet e seus discípulos (especialmente Lucien Jaume, destacado estudioso do liberalismo francês do século XIX) se articulam para dotar o livro de um caráter duplo. A Virtue for Courageous Mind pode ser lido ora como obra de filosofia política, ora como trabalho de história das ideias, dado o constante diálogo entre a análise textual e interpretação contextual.
Além das referências citadas acima, é possível identificar outras figuras importantes para o desenvolvimento da hipótese do autor, tais como Jonathan Israel, Judith Shklar, Norberto Bobbio e Isaiah Berlin. De acordo com Craiutu, cientistas sociais ignoram o conceito político da moderação por vários fatores, dentre os quais se destacam a persistência de uma tradição filosófica radical que associa a agenda moderada à defesa conservadora do status quo (de Marx a Israel); a tendência a enxergar na moderação um programa minimalista pautado pelo medo ou pela oposição aos extremos (provável alusão a Shklar e seu artigo ”Liberalism of fear”, de 1989); por fim, indo ao encontro de Bobbio e de Berlin, a visão dominante, não restrita à academia, que vincula a moderação à sagacidade de um determinado agente político, o qual, para conquistar seus objetivos, recorre a quaisquer tipos de compromissos ou manobras (o político encarado como um leão ou uma raposa).
Na contramão do insistente e vigoroso senso comum acerca do tema, Craiutu sustenta – inspirado numa citação do liberal-conservador Edmund Burke, de quem toma de empréstimo nada menos que o título do livro – que a moderação é “uma arrojada virtude para mentes corajosas” (p. 9). Ela não deve ser reduzida a mero meio-termo entre extremos nem tampouco representa sinônimo de pusilanimidade, hesitação ou cálculo cínico de realismo político. Com implicações institucionais e, segundo o autor, desempenhando um papel crucial na aquisição ou fortalecimento dos valores democráticos e liberais, a agenda moderada dos autores selecionados possui em comum pluralismo (de ideias, interesses e forças sociais), reformismo (reformas graduais em vez de rupturas revolucionárias) e tolerância (postura cética que reconhece limites humanos, especialmente para a ação política).
Antes de comentar o que, a meu ver, constitui o problema central do livro, a saber, a identidade das reflexões moderadas desses autores para a aquisição, manutenção e fortalecimento da democracia liberal (p. 9), gostaria de destacar alguns méritos da obra.
O primeiro ponto que saliento é, se não a originalidade, ao menos a correção no tratamento de um autor clássico como Montesquieu. Craiutu sugere que, mais do que propor um governo moderado fundado na separação dos poderes, equívoco reproduzido por incontáveis intérpretes, o que Montesquieu efetivamente sustentou foi uma teoria sobre a divisão dos poderes na qual o Executivo e o Legislativo exerciam controles recíprocos e moderavam as iniciativas de cada um – sua visão, no espírito da doutrina do equilíbrio de poder vigente na época e inspirada na constituição inglesa, pode ser traduzida na fórmula de que só um poder é capaz de controlar e regular outro poder, de modo que a estrita separação entre ambos daria margem a usurpações ou levaria à paralisia institucional. Nos quadros da Revolução Francesa, esse tópico da complexidade constitucional/institucional como condição sine qua non para a obtenção de um governo livre (moderado) se desenvolve nas obras dos monarquianos (bicameralismo e veto absoluto), de Necker (teoria do entrelaçamento dos poderes) e, sobretudo, de Benjamin Constant (teoria do poder neutro). Para demonstrá-lo, Craiutu procedeu a uma criteriosa pesquisa de fontes primárias (obras e discursos dos autores e de seus interlocutores, além de textos legais ou constitucionais) e secundárias (nas mais diversas línguas, do francês e inglês ao alemão), bem como a um erudito exercício de interpretação e reconstrução contextual. Do ponto de vista formal, os únicos senões correm por conta da omissão de um importante intérprete atual da obra de Benjamin Constant (Tzvetan Todorov), bem como da inusitada ausência de uma bibliografia no final do livro, o que dificulta a leitura de suas inúmeras e ilustrativas notas.
Craiutu foi feliz na escolha e no tratamento dos autores, na medida em que eles possuem um núcleo conceitual comum, a moderação vista sob o prisma da complexidade institucional, e defendem princípios filosóficos semelhantes: de Montesquieu a Constant, a mesma preocupação com a moderação das penas e com a absoluta liberdade de expressão; os benefícios do comércio; as garantias para a propriedade privada; o entendimento das desigualdades sociais como resultantes da fortuna ou do intelecto, numa visão otimista da meritocracia; o estabelecimento de pesos, contrapesos e divisões entre os poderes, o que é diferente da separação entre eles; a necessidade de um Judiciário independente do Legislativo e do Executivo; e a crítica às visões monistas ou absolutistas do poder que, da vontade geral de Rousseau às críticas de Paine ao governo misto da Inglaterra, redundaram na mera transferência do poder absoluto do monarca para o poder absoluto do Legislativo (como sabemos, trata-se de uma das principais teses de Furet sobre a Revolução Francesa).
Segundo Craiutu, o pensamento liberal, devido em grande medida à experiência da Revolução Francesa e do traumático período do Terror, teria passado por uma nítida evolução. Aos poucos seus autores teriam se preocupado menos com quem exerce a soberania (o monarca, uma maioria popular ou uma minoria abastada e ilustrada) e mais com a maneira em que a soberania é exercida, até concluírem que o que realmente importa é o estabelecimento de limites ao poder a fim de proteger os indivíduos da autoridade política – ainda que exercida em nome do povo, da nação, da vontade geral, ou sob a bandeira de ideais generosos e humanitários como a igualdade.
Exceção feita a Montesquieu, que não viveu a tempo de testemunhar a Revolução Francesa, os demais autores apresentaram diagnósticos lúcidos sobre as causas que conduziram à “derrapagem” daquele grande evento. Para além das já conhecidas interpretações liberais de Mme. de Stäel e Benjamin Constant para o período de 1789-1794 – as quais são de conhecimento dos iniciados na historiografia da Revolução Francesa -, Craiutu resgata as valiosas contribuições teóricas e balanços históricos dos monarquianos, especialmente Mounier (Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres, 1792), e de Necker, cujo panfleto De La Révolution Française, de 1796, não recebeu uma única edição sequer ao longo de mais de 200 anos!
A despeito de uma visão consolidada pelos próprios revolucionários franceses, dos jacobinos aos girondinos, que viam na retórica dos deputados monarquianos intenções aristocráticas ou conspiratórias a serviço da Corte, Craiutu reabilita esse grupo, sustentando, à guisa de Tocqueville, que os monarquianos eram dotados de um verdadeiro espírito revolucionário. Embora lutassem pelo estabelecimento de um governo moderado balizado por garantias constitucionais, eles seriam unânimes na oposição aos privilégios da nobreza. Craiutu sugere, após reconstruir as causas que levaram à derrota política dos monarquianos, que o Terror poderia ter sido evitado se as propostas de Mounier, Malouet, Clermont-Tonnerre, Lally-Tollendal & Cia. tivessem sido adotadas, observando que o projeto constitucional triunfante em 1814 e consolidado durante a Monarquia de Julho guardava estreitas afinidades com os diagnósticos políticos do grupo (p. 106).
Outro ponto alto do livro é o tratamento nada condescendente dispensado a figuras tão complexas quanto Mme. de Stäel e Benjamin Constant, as quais, sobretudo no período em que apoiaram o governo republicano do Diretório, sustentaram posições dificilmente classificáveis como moderadas ou liberais. Embora Craiutu tenha examinado bem os panfletos termidorianos da dupla e o crítico contexto de sua elaboração, ele poderia ter devotado um pouco mais de atenção à questão religiosa – como fez, por exemplo, Helena Rosenblatt em seu estudo sobre Constant, autora com a qual Craiutu dialoga frequentemente e concorda sobre a importância da religião para o pensamento político da dupla (p. 200).
Por fim, o autor conclui que as modernas democracias devem ser encaradas como formas mistas de governo representativo, não como simples expressões do “governo do povo”, e que a moderação política “pode promover ideais democráticos” (p. 248). Esta última afirmação nos coloca diante de um problema e de um paradoxo. Problema, porque apesar de os autores em destaque apoiarem a igualdade civil, todos defendiam uma ou mais cláusulas de exclusão (nível de renda, posses ou conhecimento formal) quando o assunto era a participação ativa dos cidadãos na política – o que, ademais, constituía a regra para os liberais da época, sendo Thomas Paine, referência bastante citada no livro, rara exceção no campo liberal do período. Diante dessa constatação, e levando-se em conta o meticuloso trabalho de reconstrução histórica de Craiutu, é uma pena que este importante detalhe tenha sido inexplorado. Por outro lado, e aqui adentramos o paradoxo, o autor acerta em cheio ao apontar a relevância dessa agenda moderada para os estudiosos dos regimes democráticos do presente, na medida em que estes, para além do sufrágio universal como fundamentação e método de funcionamento do sistema, baseiam-se no pluralismo, nos direitos individuais e nos direitos das minorias (vide Lucien Jaume, Le discours jacobin et la démocratie).
Antes de encerrar, caberia levantar uma questão: afinal de contas, o autor logra ou não convencer o leitor de que a moderação é a quintessência da virtude política? Com base no problema relatado acima, arrisco dizer que não. Por outro lado, concordo com Craiutu (e Burke) quando ele (s) afirma (m) que a moderação deve ser encarada como virtude para mentes corajosas. Ao contrário do que afirmou Nietzsche, e com base nas trágicas experiências do século XX, podemos concluir que coube justamente aos estadistas moderados reconstruir o mundo após o apocalipse de guerras e regimes tirânicos engendrados a partir da “mentalidade de rebanho”.
José Miguel Nanni Soares – Universidade de São Paulo, São Paulo SP, Brasil. E-mail: [email protected]
CRAIUTU, Aurelian. A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought 1748-1830. Princeton: Princeton University Press, 2015. Resenha de: SOARES, José Miguel Nanni. Revisitando um arquipélago quase esquecido. Almanack, Guarulhos, n.14, p. 314-320, set./dez., 2016.
On Inequality – FRANKFURT (M)
FRANKFURT, Harry G. On Inequality. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2015. 102p. Resenha de: FAGGION, Andrea Luisa Bucchile. Manuscrito, Campinas, v.39 n.3 July/Sept. 2016.
Frankfurt begins by making a familiar point against the imposition of strict economic equality: “Inequality of incomes might be decisively eliminated […] just by arranging that all incomes be equally below the poverty line” (p. 3). We should not infer from this, however, that Frankfurt reduces egalitarianism to economic egalitarianism, a trend of thought that argues for a brand of equality according to which everybody enjoys the same wealth.
Moreover, Frankfurt’s refusal to grant moral relevance to equality as such does not entail that he does not regard poverty as a moral problem. This is why he replaces egalitarianism with a doctrine of sufficiency – “the doctrine that what is morally important with regard to money is that everyone should have enough” (p. 7) – which also proscribes “economic gluttony” (p. 3). According to Frankfurt, egalitarianism misconstrues the real challenge of reducing “poverty and excessive affluence” (p. 4). Indeed, Frankfurt suggests that most people agree with him on this; what we really find repugnant when we express disapproval of inequality is another feature of the situation: the fact that some people have too little (p. 40).
However we determine the concept of sufficiency, it is not a comparative concept. In other words, according to Frankfurt, the amount of money available to others is not directly relevant to determining what is needed for a certain kind of life (p. 10). Thus, instead of focusing on alleged conflicts between the pursuit of equality and freedom, Frankfurt emphasizes what he considers a form of moral disorientation caused by the pursuit of equality. The pursuit of equality as a good in itself distracts us from what is truly significant (p. 13).
Frankfurt is willing to admit that the concept of having enough is hardly precise: “[I]t is far from self-evident precisely what the doctrine of sufficiency means, and what applying it entails” (p. 15). When he returns to the question “What does it mean for a person to have enough?” he notes that the assertion that a person has enough entails only that a requirement has been met, not that a limit has been reached. In other words, it’s not bad to have more than enough (p. 47).
Certainly, the main problem is how to specify the content of such a requirement, especially if one keeps in mind that this content entails claims of justice to be addressed by public policies. What counts in this specification? Is it the attitudes people actually have about the issue, or the attitudes it would be reasonable for them to have (p. 99, n. 15)? If the latter, what criterion of reasonableness would be useful here?
Frankfurt rejects the possibility that sufficiency is related to having enough to avoid misery (p. 49), which would be the only easy way to determine a pattern of sufficiency. The above questions are thus as difficult as they are important. They are also questions, however, that go beyond the limits of Frankfurt’s essay. In this work, Frankfurt merely warns against hastily adopting an inadequate alternative in the face of the difficulties associated with the doctrine of sufficiency (p. 15).
Frankfurt emphasizes that his interest is analytical rather than political (p. 65). In the end, however, it will seem obvious to some that Frankfurt’s doctrine of sufficiency risks ultimately being much less economically feasible than egalitarianism if developed as a theory of justice – even if Frankfurt is right about the fact that this does not count as a reason to adopt egalitarianism. Indeed, this does not even count against the claim that what lurks behind our disapproval of inequality is really the ideal of sufficiency.
With this noted, what really matters here is whether Frankfurt is right about its being unreasonable for someone to be unsatisfied about her life only because her standard of living is bellow that of others (p. 73). In other words, is equality an important component of sufficiency itself? Would it be unreasonable to be unsatisfied with your life if everyone else were at least ten times wealthier than you? Some will understandably doubt Frankfurt’s take on this issue.
Still on the topic of economic equality, Frankfurt considers arguments based on marginal utility, according to which economic equality would maximize the aggregate satisfaction of members of society. The idea is that the marginal utility of money necessarily diminishes for the wealthy, and thus that the redistribution of income and wealth provides money to those for whom it has more marginal utility. An argument along these lines is presented by Abba Lerner, who is quoted by Frankfurt as follows:
The principle of diminishing marginal utility of income can be derived from the assumption that consumers spend their income in the way that maximizes the satisfaction they can derive from the good obtained. With a given income, all the things bought give a greater satisfaction for the money spent on them than any of the other things that could have been bought in their place but were not bought for this very reason. From this it follows that if income were greater the additional things that would be bought with the increment of income would be things that are rejected when income is smaller because they give less satisfaction; and if income were greater still, even less satisfactory things could be bought. The greater the income, the less satisfactory are the additional things that can be bought with equal increases of income. That is all that is meant by the principle of the diminishing marginal utility of income. (qtd. on p. 28)
Frankfurt’s first reply to this kind of argument is grounded in his concept of a “threshold effect”. The satisfaction obtained via the purchase of the last item in a series may be greater than the satisfaction obtained by purchasing the other items because the last item represents the crossing of a threshold. The experience of collectors illustrates this point. Frankfurt’s second reply involves the refusal to accept Lerner’s assumption that if a consumer refrains from obtaining a certain good until his income increases, this necessarily means that he rejects it when his income is lower (p. 32). According to Frankfurt, even where a consumer does not save money to purchase a certain good, this doesn’t necessarily mean that he rejects that good and prefers the good he actually purchases. The consumer may regard saving for a particular purchase as pointless because he believes that he will not be able to save enough money within an acceptable period of time (p. 97, n. 10).
Thus Frankfurt claims that it is not the case that economic egalitarianism maximizes aggregate utility in society. Indeed, Frankfurt believes that an egalitarian distribution may minimize aggregate utility in certain circumstances: “[W]hen resources are scarce, so that it is impossible for everyone to have enough, an egalitarian distribution may lead to disaster” (p. 36). Frankfurt’s example is a situation in which there is enough medicine and food to enable some members of a population to survive but where an equal distribution of these resources would result in nobody’s receiving enough, and thus in everybody’s death (p. 34). This line of thought is reminiscent of theories of justice according to which justice is meaningless in contexts of extreme scarcity and abundance (see, for instance, Hume, 2006, p. 93-94). Frankfurt is thus open to the objection that it is not only egalitarianism but indeed any conception of justice that would be inapplicable in such circumstances.
With the above noted, the ideal of equal respect and concern is much more relevant to contemporary theories of justice than strict economic equality. The most important part of Frankfurt’s book is therefore his analytical attempt to illustrate what he takes to be a conceptual confusion at the root of this ideal:
Enjoying the rights that it is appropriate for a person to enjoy, and being treated with appropriate consideration and concern, have nothing essentially to do with the consideration and concern that other people are shown or with the respect or rights that other people happen to enjoy. Every person should be accorded the rights, the respect, the consideration, and the concern to which he is entitled by virtue of what he is and what he has done. The extent of his entitlement to them does not depend on whether or not other people are entitled to them as well. (p. 75)
Frankfurt’s point – perhaps echoing Aristotle – is that philosophers like Dworkin (see, for instance, 1985 and 2011) have mistaken the moral requirement to be impartial or avoid arbitrariness for the moral requirement to treat people with equal respect and concern: “To avoid arbitrariness, we must treat likes alike and unlikes differently. This is no more an egalitarian principle than it is an inegalitarian one” (p. 101, n. 3).
Importantly, Frankfurt is not denying that there are rights that belong to every human being by virtue of their humanity. Where this is the case, however, your having the right in question is not grounded in a principle of equal treatment. Your right is explained by your having a characteristic that others also have. In other words, impartiality requires us to treat equals as equals, but it doesn’t require of us that we view everybody as equal.
According to standard contemporary conceptions of justice, equality is not to be embraced no matter what the circumstances. On the standard egalitarian view, equality is more like an original position, for which justifications are unnecessary and from which divergences must be justified. Nonetheless, if Frankfurt is right, equality is not this species of moral position by default, or a constitutive moral principle. It is necessary to argue for the requirement of equal treatment (by showing that there are no relevant differences between two persons, for instance) (p. 77-78).
To sustain his thesis, Frankfurt challenges a scenario made famous by Berlin. It’s worth reproducing the passage quoted by Frankfurt in full:
The assumption is that equality needs no reason, only inequality does so… If I have a cake and there are ten persons among whom I wish to divide it, then if I give exactly one tenth to each, this will not, at any rate automatically, call for justification; whereas if I depart from this principle of equal division I am expected to produce a special reason. (qtd. on p. 80)
Frankfurt claims that it is not the moral priority of equality that explains why we should divide Berlin’s cake into equal shares. In Frankfurt’s view, the key feature of the situation is the lack of relevant information. If a distributor has no information at all about those among whom she is to distribute something, this amounts to a situation in which each person is identical to the others. This is why the cake should be divided into equal shares:
It is the moral importance of respect, and hence of impartiality, rather than of any supposedly prior or preemptive moral importance of equality, that constrains us to treat people the same when we know nothing that provides us with a special reason for treating them differently. (p. 81)
It is true that Frankfurt’s point here looks like a dispute about words, since both Frankfurt and the egalitarian agree that Berlin’s cake should ultimately be divided into equal shares. Yet the implications of Frankfurt’s point are highly relevant. If equality on its own cannot justify, say, a rights claim, then the discussion is really about entitlement. The concept of entitlement is generally neglected in contemporary philosophical debates about social justice. It’s as if the resources discussed in these debates appeared from nowhere, such that the only relevant issue is whether there is justification for departing from a policy of equal distribution – such as differences between conceptions of the good, as in (Dworkin, 1985), or the fact that the “cake” diminishes when divided into equal shares, as in (Rawls, 1999). Against this background, Frankfurt’s essay is a breath of fresh air for contemporary philosophy.
References
DWORKIN, RONALD. A Matter of Principle. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 1985. [ Links ]
______. Justice for Hedgehogs. Cambridge, Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 2011. [ Links ]
HUME, DAVID. Moral Philosophy. Ed. Geoffrey Sayre-McCord. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 2006. [ Links ]
RAWLS, JOHN. A Theory of Justice: Revised edition. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999. [ Links ]
Andrea Luisa Bucchile Faggion – Universidade Estadual de Londrina – Filosofia Rodovia Celso Garcia Cid | Pr 445 Km 380 | Campus Universitário Cx. Postal 10.011 | CEP 86.057-970 | Londrina – PR, Londrina 86057-970 Brazil. E-mail: [email protected]
Périclès, la démocratie athénienne à l’épreuve du grand homme – AZOULAY (RMA)
AZOULAY, Vicent. Périclès, la démocratie athénienne à l’épreuve du grand homme. Paris: Armand Colin, 2010, 280p. AZOULAY, Vicent. Pericles of Athens. Princeton: Princeton University Press, 2014. (translated by Janet Lloyd, with a foreword by Paul Cartledge), 312 p. Resenha de: FUNARI, Pedro Paulo A. Revista Mundo Antigo, v.3, n.6, dez., 2014.
Péricles (495-429 a.C.) pode ser considerado um dos personagens históricos mais citados e referidos em todos os tempos. Marcou não apenas a história de Atenas, no seu auge, como exerceu influência nos milênios posteriores, graças, em parte, às narrativas do historiador Tucídides no próprio século V a.C. e do filósofo de época romana Plutarco, autor de uma biografia do estadista. O historiador Vincent Azoulay aceitou o desafio de retratar o ateniense para a coleção de “novas biografias históricas” da editora parisiense, tendo o grande êxito da edição francesa e sua premiação (Prix du Sénat du livre d’histoire 2011), levado à tradução para o inglês e à edição recente em Princeton. O jovem historiador francês tem se dedicado à História cultural do mundo grego, a partir de uma perspectiva fundada na teoria social, e com o recurso sistemático não só à tradição textual, como à epigrafia e à Arqueologia. Pode considerar-se, ainda, que sua perspectiva se insere nos estudos de recepção e usos do passado, como neste belo volume. Desde a introdução, explicita que se trata de um ir e vir constante entre presente e passado, nessa ordem, com o uso de abordagens de cunho sociológico (como o conceito de habitus de Pierre Bourdieu), mas também com destaque para as evidências arqueológicas, referidas com frequência ao decorrer do volume. Leia Mais
Child Migration and Human Rights in a Global Age | Jacqueline Bhabha
O tema das migrações internacionais tende a ser mais estudado nas Ciências Sociais do que nas Relações Internacionais (RI). Ainda assim, esse é um assunto que transcende fronteiras nacionais e que também poderia ser explicado pelas teorias das RI. Dentre as muitas óticas pelas quais as migrações podem ser vistas, destaca-se o número de crianças desacompanhadas atravessando a fronteira rumo aos Estados Unidos da América (EUA). Ainda que isso não seja uma novidade, o volume desse fluxo vem aumentando nos últimos anos, sendo inclusive noticiado pela mídia internacional. Nessa linha, Jacqueline Bhabha analisa o tema da migração infantil.
A autora adota uma ótica da criança como sujeito de direitos, presentes na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989) para estudar como os Estados lidam com a migração das crianças desacompanhadas (incluindo o seu direito à reunificação familiar), a situação das crianças cidadãs cujos pais são imigrantes irregulares, a adoção internacional, as crianças traficadas, as crianças soldado, as crianças refugiadas e os adolescentes migrantes por causas econômicas. As crianças começam a aparecer nos estudos migratórios relacionadas em trabalhos sobre migrações femininas e familiares. Contudo, a abordagem das crianças como atores com voz própria nem sempre é observada, pois essas normalmente são tratadas como objeto. Ao mesmo tempo, nas RI, os temas que envolvem esse grupo são considerados low politics e recebem pouca atenção internacional e da Academia. Apesar disso, Watson (2006) defende que as crianças são atores da disciplina que impactam as relações interestatais. Leia Mais
A cooperative species: human reciprocity and its evolution – BOWLES (RFA)
BOWLES, Samuel; GINTIS, Herbert. A cooperative species: human reciprocity and its evolution. Princeton: Princeton University Press, 2011. Resenha de: ROSAS, Alejandro. Revista de Filosofia Aurora, Curitiba, v.25, n.36, p.343-359, jan./jun., 2013.
¿Cómo evolucionaron las preferencias sociales?1
Reciprocidad fuerte: Tesis centrales y dudas recurrentes
Explicar la cooperación humana, y en particular los mecanismos psicológicos que evolucionaron para sustentarla, es uno de los proyectos más desafiantes de la investigación científica interdisciplinaria en años recientes. Una Especie Cooperativa es un intento serio y reflexivo por aportar una explicación completa, sofisticado tanto en la teoría como en la evidencia empírica reunida para ese fin. Bowles y Gintis (B & G), dos economistas de renombre con amplio conocimiento en biología evolucionista y comprometidos con el poder explicativo de los modelos evolucionarios, pertenecen a un grupo de investigadores que en los últimos 10 años ha desarrollado una teoría sobre el carácter único de la cooperación humana, basados en una estrategia de interacción que denominan “reciprocidad fuerte”. La teoría conjuga dos tesis fundamentales: primero, el mecanismo próximo (psicológico) del comportamiento cooperativo humano incluye preferencias sociales y particularmente motivaciones altruistas. Esto contradice la tesis convencional en economía, según la cual la cooperación se basa en un egoísmo racional de largo plazo y en la mano invisible de Adam Smith. La tesis convencional fracasa en virtud del carácter necesariamente incompleto de los contratos y ante los retos planteados por interacciones del tipo del dilema de prisioneros (PD) y de la tragedia de los comunes (p. 5-6). Hardin (1968)2 propuso el castigo como solución alternativa; pero si los castigadores (C) tienen motivos altruistas (p. 25-26, p.31-32, p.91- 92, p.165), el egoísmo no puede explicar la cooperación. Es preciso, entonces, concebir al agente económico como dotado de preferencias sociales y de emociones que apoyan el comportamiento cooperativo. El verdadero enigma a resolver es explicar qué procesos evolucionarios condujeron a este resultado (p. 6).
La otra tesis central de la teoría está ligada a la idea de que el sentido de equidad y las emociones morales son biológicamente costosas, es decir, altruistas (A) en el sentido de acarrear un costo neto en aptitud (fitness). Ello plantea una paradoja: la selección natural tenderá a favorecer a los no-altruistas (N), salvo que existan mecanismos evolucionarios especiales para favorecer los comportamientos que acarrean costos y pérdida en aptitud. Los autores proponen un mecanismo de selección de grupos (SG). Pero en los modelos de SG “el diablo está en los detalles”. Así, su solución comprende al menos cinco componentes que se sostienen mutuamente: un modelo novedoso y empíricamente relevante de extinción selectiva de grupos por guerra inter-tribal (Cap. 7), que incorpora estimaciones empíricas de muertes por guerra y de la distancia genética entre tribus ancestrales. Dado los valores modestos de la distancia genética entre esos grupos (Cap. 6), el coeficiente de beneficio a costo de la conducta altruista debe ser muy alto. Esos valores altos se consiguen gracias a la extinción selectiva de grupos por la guerra, estimada empíricamente (Cap. 6). Dos componentes adicionales sirven de auxilio para reducir la desventaja en aptitud de los A frente a los N: una institución ancestral de compartir alimento soportada en motivos egoístas/ prudenciales y concebida como biológicamente egoísta; y una asociación entre altruistas dentro de los grupos o tribus, fenómeno que B & G llaman “segmentación”, probablemente para recalcar el hecho de que, además de la estructura en grupos modestamente diferenciados de la población humana global, estos grupos a su vez están estructurados en su interior, lo cual aumenta la asociación positiva entre altruistas, para beneficio evolucionario del rasgo altruista (Cap. 7, p.125). Los dos componentes restantes se entienden también como complementarios, a saber, normas e instituciones que promueven los bienes públicos (BP) y sancionadas con castigos (Cap. 9); y emociones morales como culpa y vergüenza, que incrementan la eficiencia de los castigos, pues una pequeña inversión en castigos moviliza esas emociones y produce una tasa alta de contribuciones al BP (Cap. 11).
Todos los componentes son importantes, pero prestaré aquí atención especial a la extinción selectiva de grupos y a las normas sancionadas con castigo altruista (estrategia C) para promover la provisión de BP, porque esos mecanismos cargan un peso mayor en el argumento a favor del carácter biológicamente altruista de la cooperación. El argumento tendría su mayor poder de convencimiento si estos dos mecanismos evolucionarios estuvieran apropiadamente coordinados. Sorprendentemente, los autores los presentan en dos modelos que explican, con independencia mutua, la evolución de la cooperación biológicamente altruista en la provisión de BP. Esa independencia es un problema, pues el modelo de normas y castigos para la provisión de BP no es, en mi opinión, un modelo de SG, aunque los autores así lo presenten. Y si las preferencias sociales evolucionan en el modelo de normas y castigos sin la necesidad de SG, eso es una seria objeción a la tesis del carácter biológicamente altruista de la cooperación humana, en particular porque el modelo de normas y castigos pretende recoger la evidencia empírica a favor de las preferencias sociales que se deriva de experimentos económicos (Cap. 3). Con todo, este contratiempo es bienvenido y apunta a una teoría alternativa, a saber, que las preferencias sociales y las emociones que sustentan la cooperación pueden evolucionar sin la ayuda de la SG y, felizmente, sin atribuir un rol causal considerable a guerras las inter-tribales entre nuestros ancestros.
Además de la doble tesis descrita hasta aquí: 1. Los humanos cooperan sobre la base de preferencias sociales, y 2. Estas preferencias son biológicamente altruistas y evolucionan por SG, el libro contiene una tesis adicional 3. Las preferencias sociales no pueden evolucionar por selección en encuentros diádicos (reciprocidad directa e indirecta). B & G defienden firmemente la tesis que, dondequiera que una estrategia cooperativa evolucione por el beneficio a individuos en lugar de a grupos, el mecanismo psicológico que evoluciona excluye preferencias sociales o altruistas a favor de preferencias ego-céntricas (self-regarding) (p. 60, 76). Esta manera de conectar el egoísmo evolucionario o biológico con la motivación egoísta se atribuye también a Trivers (1971)3 , con lo cual “altruismo recíproco” aparece así necesariamente como un equívoco (p. 52). Más adelante argumento que B & G malinterpretan a Trivers (1971).
A pesar de los esfuerzos serios de los autores por probar las tesis 2 y 3, este reseñista no se da por convencido. La idea de que la reciprocidad fuerte incurre en un costo biológico neto (altruista), ha sido convincentemente criticada en Guala (2012)4 . Los experimentos económicos muestran que la cooperación humana descansa sobre preferencias sociales y emociones morales, que subyacen a la cooperación y al castigo contra desertores en dilemas sociales. Pero los experimentos en el laboratorio no pueden demostrar que los casos de castigo “en el campo” son biológicamente costosos para la estrategia C que los aplica. De hecho, los reportes antropológicos que describen las reglas sociales en pequeños grupos de cazadores y recolectores no aportan evidencias en favor de castigo costoso o altruista en el campo. Lo que los mismos autores dicen en su breve reseña de la evidencia antropológica en la Secc. 6.4 no sugiere que el castigo sea costoso para C. En particular, el acoso en grupo a los ofensores y la incitación a sus familiares a asumir la aplicación de los castigos, son mecanismos ingeniosos, propios de esas sociedades pequeñas, para eliminar los costos relativos del castigo. Con esos mecanismos se busca impedir el surgimiento del problema del gorrón (free-rider) de segundo orden, que coopera pero se evita los costos del castigo. La defensa del carácter biológicamente altruista del castigo de los desertores empeora con el modelo computacional y matemático presentado por los autores (cap. 9). Argumento más adelante que no es un modelo de SG y que no presenta al castigo contra desertores como biológicamente altruista, a pesar de que B & G así lo creen. Por eso es razonable explorar una concepción alternativa, según la cual las preferencias sociales y las motivaciones altruistas evolucionan como mecanismos próximos de comportamientos como el altruismo recíproco, que los autores no ven como casos de altruismo biológico. La teoría biológica actual contiene profundos desacuerdos sobre lo que cuenta como altruismo biológico (ROSAS, 2010)5 . Pero como no puedo entrar aquí en esas controversias, presentaré la concepción alternativa como aquella según la cual las preferencias sociales, que sustentan la escala única de la cooperación humana, evolucionan por medio de mecanismos biológicos que no son casos de SG en ningún sentido aceptado.
Preferencias sociales
El homo oeconomicus de la teoría económica clásica es un agente quien se interesa sólo en sí mismo, es decir, no da ningún peso en sus deliberaciones, o sólo un peso instrumental, al efecto positivo o negativo de sus acciones sobre el bienestar de otras personas. Tener una preferencia social es tener lo que precisamente el homo oeconomicus no tiene: ‘‘Las preferencias sociales incluyen un interés, positivo o negativo, en el bienestar de otras personas, así como el deseo de cumplir con normas éticas” (p. 3). Si obtienes satisfacción al cooperar con cooperadores o crees que es tu deber hacerlo, tienes preferencias sociales. Si crees que es tu deber castigar a los desertores en dilemas sociales o te satisface hacerlo, tienes preferencias sociales. Y también las tienes si te sientes culpable o avergonzado por haber desertado con quienes han cooperado contigo. Sostener que los humanos tenemos preferencias sociales es equivalente a sostener que somos agentes morales y no sólo agentes auto-interesados, y que la moralidad no se puede reducir al auto-interés.
Las preferencias sociales permiten coordinar las estrategias en dilemas sociales para obtener resultados óptimos. Cuando se analiza la estructura de una interacción entre dos jugadores, es relevante tener en cuenta si los jugadores tienen o no preferencias sociales. Si a los jugadores sólo les importa su propia paga, el equilibrio de Nash es la mutua deserción en un DP de un solo período. Pero si se interesan por la paga de otros, la cooperación mutua es un equilibrio de Nash en el mismo juego, que se transforma por ello en un juego de seguridad (assurance game), también conocido como “caza del ciervo”: cada jugador prefiere cooperar si tiene la seguridad de la cooperación del otro (p. 12).
El capítulo 3 revisa una multitud de experimentos que proporcionan evidencia de preferencias sociales en los humanos. Por ejemplo, sujetos castigados responden a castigos simbólicos, es decir, castigos que no acarrean costos materiales para el castigado. Al responder al castigo simbólico, los castigados muestran que no los motiva primariamente un interés en reducir costos. Más bien, los castigados “intentan reparar un daño ante los otros miembros del grupo” (p. 31). Los experimentos donde un observador no involucrado en el juego, es decir un tercero, castiga al desertor, muestran que hay castigo aunque el castigador no espere beneficios de su acción. Es interesante que en estos experimentos el tercero observa un juego diádico y lo concibe como regido por normas de cooperación; un hecho importante sobre el que regresaremos en la sección 4.
Cuando los escépticos respecto de la existencia de preferencias sociales discuten evidencias de este tipo, señalan que en la vida real (a diferencia del laboratorio) el comportamiento en cuestión se presenta en contextos en los que la reputación está en juego y el castigo trae beneficios a C. Esto es correcto, pero sólo cuestiona los costos objetivos del comportamiento, es decir, el altruismo biológico. La tesis en favor de las preferencias sociales no es una tesis sobre costos biológicos netos, sino sobre los motivos e intenciones del agente, el lado psicológico del comportamiento. La posibilidad interesante, ignorada por los autores y por algunos críticos, es que una preferencia social altruista pueda tener, incluso dentro de los confines de un mismo grupo, una utilidad biológica positiva y mayor a la obtenida por una preferencia egoísta y calculadora.
B & G sostienen que “si el único mecanismo que condujo a la evolución de la cooperación hubiese sido el altruismo recíproco o la señal costosa (costly signaling) los motivos próximos para ayudar y los procesos cognitivos que los activan se habrían derivado [de la representación, AR] de beneficios personales” (p. 76). Nuestro principal objetivo en esta reseña es cuestionar la concepción que vincula las preferencias sociales al altruismo biológico y busca mecanismos especiales de SG para explicar su evolución. B & G se adhieren a la tesis de que los motivos desinteresados sólo pueden evolucionar por mecanismos que implican SG y particularmente favoritismo intra-grupal y hostilidad y guerra inter-grupal. El castigo que se implementa en la reciprocidad directa e indirecta negando o retirando la cooperación a los desertores, es motivado según B & G de manera egoísta y difiere por ello del castigo en la reciprocidad fuerte: “La retaliación contra desertores con el expediente de retirarles la cooperación puede forzar a los individuos auto-interesados a cooperar. Esta literatura culmina en los teoremas folk [de la teoría de juegos, AR]” (p. 80). Pero como veremos más adelante, es sorprendente que B & G sostengan que las preferencias egoístas pueden explicar la cooperación en interacciones diádicas repetidas del tipo de la reciprocidad directa. Su exposición y discusión de los “teoremas folk” en el Cap. 5 concluye con la tesis que la cooperación en los juegos diádicos repetidos – y por supuesto también en juegos de bienes públicos – no puede darse sin las normas sociales (aquellas que implican preferencias sociales). Haré un breve análisis de esa discusión en la última sección. Pero antes, debemos examinar y comparar sus dos modelos independientes para la evolución del altruismo biológico en humanos.
¿Es la cooperación humana realmente altruista en sentido biológico?
Los autores sostienen que la cooperación humana apoyada psicológicamente en preferencias sociales, en especial cuando se trata de la provisión de BP, es biológicamente altruista y evoluciona como tal. Esto implica que su explicación evolucionaria debe recurrir a modelos de SG. Los autores presentan dos modelos de SG en los Cap. 7 y 9 respectivamente. Voy a presentar y discutir ambos modelos en esta sección. Pretendo mostrar que el modelo de normas sancionadas con castigos (Cap. 9) no convence como modelo de SG y no permite defender la tesis de que la cooperación humana es biológicamente altruista.
El modelo desarrollado en los Cap. 6 y 7 presenta la evolución de la cooperación altruista gracias a la extinción selectiva de grupos en guerras inter-tribal ancestrales. Llamemos a este modelo el modelo-E. El modelo-E hace esfuerzos novedosos por ser empíricamente relevante. Usando datos arqueológicos y etnográficos, incorpora estimaciones empíricas tanto de la distancia genética como de la ocurrencia de conflicto letal entre grupos ancestrales. La distancia genética entre grupos mide el grado de asociación (assortment) entre los A. La asociación entre los A determina que ellos reciban los beneficios del altruismo más que los N. Las estimaciones empíricas muestran que la distancia genética entre grupos es pequeña (Tabla 6.1, p.100). Es decir, la asociación entre A no es lo suficientemente grande para que evolucione el altruismo por selección de parentesco (p. 102). Pero los modelos de SG también necesitan valores significativos de asociación. Valores reducidos o mínimos implican que el altruismo sólo puede evolucionar si el coeficiente de beneficio a costo del altruismo es extraordinariamente elevado (p. 102). Los valores estimados de asociación en bandas de cazadores y recolectores indican que los beneficios deben ser aprox. 15 veces los costos (p. 76). Los autores defienden que estos coeficientes extraordinarios se dan gracias a la competición a nivel de grupos en la guerra inter- -tribal, que ellos también estiman empíricamente con datos arqueológicos sobre porcentajes de muerte violenta (evidencias óseas de muerte por proyectiles o armas corto-punzantes) (Tabla 6.2, p.104). Grupos en donde prevalecen los A tienen mayor probabilidad de ganar conflictos letales entre grupos. En el modelo que construyen, grupos con predominio de A sobre N ganan y se toman el territorio de los vencidos, doblando su número. Los autores calculan entonces cuál es el costo del altruismo que le permitiría aún evolucionar. Como ejemplo, para algunos parámetros que caen bajo el rango estimado, podría evolucionar un altruismo cuyo costo haría que, en ausencia de SG, una población con 90% de A quedase con sólo el 10 % de A en 150 generaciones (p. 123). Es justo decir que los autores, a pesar de construir su modelo-E con la guerra inter-tribal, también contemplan las posibilidad de que la extinción se produzca por el fracaso de grupos de N para enfrentar exitosamente (mediante cooperación) las frecuentes crisis ambientales a las que estuvieron sometidos nuestros ancestros (p. 97-98, p.146-147).
En el modelo-E el castigo no juega un papel en la evolución de la cooperación altruista. Cuando comienzan a construir su segundo modelo (Cap. 9), que contiene la estrategia C (castigadores), los autores se refieren al modelo-E como un modelo de SG para el “altruismo indiscriminado” (p. 148). El A no discrimina entre cooperadores y desertores y no vincula su altruismo a la reciprocidad o al castigo. Sin embargo, el modelo-E se ayuda con la inclusión de instituciones como la de compartir alimento, que reduce la diferencia en aptitud entre A y N. Los autores defienden que esa institución no habría necesitado apoyarse en preferencias sociales o en castigos (p. 130). Pero su breve revisión de los reportes etnográficos acerca de bandas de forrajeadores, muestra que en ellas la institución de compartir el alimento se apoya en la psicología del reproche público: la tacañería se castiga primero simbólicamente, indicando que la receptividad psicológica propia de las preferencias sociales ya tiene que estar activa en quienes no comparten de acuerdo a las expectativas del grupo (p. 107-109). Quizás los autores quieren enfatizar que esas instituciones y los modos de hacerlas cumplir no son casos de altruismo biológico. Me uno decididamente a ese veredicto, pero insisto que se trata de comportamientos apoyados en preferencias sociales; y por tanto, estamos ante un caso claro en donde las preferencias sociales operan en un contexto ancestral que no es biológicamente altruista. Esto contradice la tesis 3. de los autores, formulada en la primera sección.
En el modelo desarrollado en la Cap. 9, el castigo de los desertores es esencial para la evolución de la cooperación; llamémoslo el modelo-C. El modelo-C es crucial para el argumento del libro, porque modela nada menos que la evidencia empírica proveniente de experimentos económicos con sujetos humanos en dilemas sociales. En ellos se pone de manifiesto que la cooperación alcanza niveles altos gracias a disposiciones a cooperar y a castigar a desertores. Esas disposiciones expresan preferencias sociales, pues los C castigan en el laboratorio aunque sepan que sus costos no serán compensados por interacciones futuras. La disposición que lleva a C castigar se apoya en el deseo intrínseco de hacer cumplir normas de cooperación (a diferencia del deseo de beneficiarse de tal cumplimiento). En el modelo-C, además, los motivos punitivos y las conductas que ellos activan acarrean un altruismo biológico, es decir, reducen la aptitud de C (p. 20). La estrategia de la reciprocidad fuerte defendida por B & G es al mismo tiempo psicológica- y biológicamente altruista y no podría haber evolucionado sin SG. El modelo-C, por tanto, pretende ser un modelo de SG, en donde la estrategia C evoluciona e invade desde frecuencias bajas en una población sin la ayuda de la extinción selectiva de grupos, aunque el modelo-C también supone que la población esta estructurada en grupos. Dado que la distancia genética entre grupos no puede ser mayor en el modelo-C que lo que se estimó para el modelo-E, los lectores pueden empezar a sentir curiosidad: cómo puede evolucionar la cooperación biológicamente altruista sin los coeficientes extraordinarios de beneficio a costo proporcionados por la extinción selectiva?
En lo que sigue, explico el modelo-C con la intención de convencer a los lectores de que, a pesar de lo que piensan su propios creadores, no es realmente un modelo de SG. Como ocurre en el modelo-E, hay dos estrategias en la población: los N que no contribuyen a los BP salvo que sean castigados, y los cooperadores A que contribuyen espontáneamente a los BP. Pero como los A están dispuestos a castigar a N y esa disposición es esencial para su evolución, la estrategia A en el modelo-C es en realidad la estrategia C. N y C juegan un juego de BP iterado en grupos, donde C castiga y fuerza a N a cooperar. Pero el castigo se aplica de manera coordinada, sólo cuando el número de C en cada grupo alcanza un quórum predefinido. El castigo coordinado es una forma inteligente y eficiente de castigo que refleja las prácticas reportadas en la etnografía de sociedades de pequeña escala. En la primera ronda del juego, los C emiten una señal pública a un costo que anuncia su disposición a castigar. Si el número de señales alcanza o supera el quórum, los C cooperan, y castigan a los N que desertan en esa ronda; de lo contrario los C ni cooperan ni castigan. El costo de la señal marca su desventaja en aptitud frente a N. N coopera en todas las rondas posteriores a la ronda en que es castigado. En el modelo analítico, los autores muestran que la población evoluciona hacia uno de dos equilibrios estables, dependiendo de los valores para el quórum de castigadores y en la frecuencia y distribución de C en la población. Los dos equilibrios estables son, o todos N, o un polimorfismo estable de N y C (Figura 9.1, p.152).
En las simulaciones que se basan en el modelo analítico, la población inicia en un estado en que todos los agentes son N. Los grupos tienen en promedio 30 individuos. El quórum de castigadores es de 6 en todos los grupos. El quórum se alcanza por azar: hay mutación azarosa de N a C y también migración azarosa, de manera que, por azar, 6 castigadores se encuentran en algunos grupos. Este proceso azaroso puede llevar a la población al punto en donde las zonas de atracción de ambos equilibrios estables se encuentran en una frontera, el “filo de la navaja”, que representa un equilibrio inestable. La población puede o no cruzar el filo hacia la zona de atracción del equilibrio polimórfico. En esa zona los C tienen, en promedio, una ventaja selectiva sobre los N. Si la población cruza y entra a la zona de atracción del equilibrio polimórfico, la ventaja de los C sobre los N se incrementa primero, y luego decrece hasta alcanzar el punto en que C y N tienen la misma aptitud y permanecen en un equilibrio polimórfico. Es conveniente simplificar su modelo-C eliminando de la primera ronda la fase de emisión de una señal pública. En su lugar, los C cooperan en la primera ronda de BP y esa acción costosa sirve de señal de su disposición a cooperar. C coopera en la primera ronda a un costo c, publicando así su disposición a castigar. Pero C castiga sólo si observa que el número de señales (acciones cooperativas) alcanza o supera el quórum. Si no hay quórum, C no coopera en rondas subsiguientes y tampoco castiga. N no coopera si no es castigado, pero si lo es coopera en todas la rondas que siguen al castigo. Todos, N y C, se benefician b/n de cada acto de cooperación, donde n es el número de individuos en un grupo. Cuando la población alcanza estocásticamente el “filo de la navaja”, la ventaja selectiva de C sobre N se debe a los grupos donde el número de C está en o por encima del quórum. En estos grupos hay una ronda donde los N son castigados por primera vez y C tiene una ventaja dada por p – c – k/nc 2
El primer término es el costo de ser castigado p, que es pagado por los N cuando el quórum de C es alcanzado; el segundo término es el costo de cooperar c, pagado por los C; y el tercer término es el costo de castigar k, que es compartido por el número de castigadores nc y pagado con la probabilidad 1/nc de que la amenaza de castigo no disuada y tanto el castigador como el castigado paguen costos (p. 150). Según los valores del modelo, donde p = k = 0.015 and c = 0.01, C tiene una ventaja selectiva sobre N en los grupos donde hay castigo cuando nc ≥ 3. En la simulación esto se satisface en todos los grupos donde se castiga, pues el quórum para castigar se fijó en nc = 6. Esta ventaja de C sobre N sólo se da en una ronda, en todas las rondas subsiguientes C y N empatan pues ambos cooperan y ya nadie castiga ni es castigado. En los grupos en donde no hay quórum C tiene una desventaja de c, que es el costo de cooperar o contribuir al BP, pagado en la ronda en la que C anuncia su disposición a castigar (en el modelo simplificado se hace cooperando).
B & G dicen que C es altruista tanto en grupos por debajo como en grupos por encima del quórum. En los grupos que están por debajo del quórum, C paga c en una ronda, y luego deserta. C es altruista. Pero en los grupos que están por encima del quórum, a pesar de que todos los C pagan k/nc 2 + c en una ronda, no es verdad que C sea altruista. Supongamos una población en donde nc > 6 en todos los grupos. En todos los grupos, algunos C pagan costos de castigo innecesariamente, porque la cooperación de los N puede asegurarse con menos castigadores. Así las cosas, parece que algunos C se beneficiarían cambiando a N. Sin embargo, los C que pagan innecesariamente costos de castigo tienen una ventaja en aptitud sobre los N en todos los grupos donde N es castigado, dada por p – c – k/nc 2 en una ronda, asumiendo que hay una ronda en donde esos C que no necesitarían castigar cooperan y castigan. Pero esto sucede solo si muchos C migran simultáneamente a un grupo que estaba sin quórum y sobrepasan el quórum. En la ronda siguiente a su entrada, los recién llegados cooperan y todos los C del grupo castigan porque hay quórum. Pero si varios C entran a un grupo que ya tenía quórum, estos recién llegados cooperan pero no castigan, pues en el grupo ya todos los N cooperan. Además, hay que tener en cuenta que un C que cambia a N sólo se beneficia del ahorro en costos de castigo si coopera inmediatamente, pues en su grupo por hipótesis hay castigo para los que no cooperan. Si no coopera y es castigado debe pagar k – el costo de ser castigado – que es más costoso que el costo de castigar dado por k/nc 2 . Intuitivamente, este no es un modelo de SG. Aunque se puede decir que algunos C están malgastando recursos y por tanto aptitud, esos C superan, con todo y su malgasto, la aptitud de los N de su grupo. Un rasgo no se dice altruista por el hecho de malgastar recursos, si a pesar del malgasto supera en aptitud a los desertores del grupo. En efecto, la única razón por la que el castigo es altruista es el problema del gorrón de segundo orden, donde los C son explotados por los cooperadores que no castigan. Pero esto no sucede en el modelo-C de B & G, porque allí los C aplican el castigo en grupo y de manera coordinada para hacerlo eficiente. B & G son conscientes de ello (p. 156), pero inexplicablemente no sacan las consecuencias obvias. Al parecer fueron víctimas de la definición de altruismo con la que operan: un rasgo es altruista si aumenta su aptitud dejando de ser altruista (p. 153, 161). Esta definición captura muchos casos, pero da algunos falsos positivos, como lo muestra aquí el caso de los C que malgastan recursos en castigo innecesario. Una definición más precisa podría construirse con la idea de asociación positiva entre altruistas: la sección 4.8 de su libro apunta en esa dirección (ver también ROSAS, 2010). Pero esta manera de definir altruismo arroja serias dudas sobre el concepto estándar de SG que manejan los autores. En todo caso, C no es altruista en un modelo en donde C castiga sólo si el grupo alcanza un umbral de Cs que asegura que los beneficios del castigo superen los costos, y donde los C no compiten con gorrones de segundo orden. En este caso no se cumple que, dentro de los grupos con castigo, los N superen en aptitud a los A (que son siempre C), que es lo que exige el concepto estándar de SG.
¿Por qué no invaden los C hasta fijarse en la población y llegan más bien a un equilibrio polimórfico con N? La razón es que siempre quedan algunos grupos en donde C no alcanza el quórum. En esos grupos C no castiga y tiene menor aptitud que N. En sus simulaciones esos grupos son responsables de una tasa de deserción del 15% (p. 159), pues en ellos C nunca castiga y N nunca coopera. En esos grupos C es altruista, pero el número de C no aumenta en la población en virtud de lo que allí sucede. No hay un proceso de SG que lleve a los C al “filo de la navaja”. El proceso que los lleva es el azar; y una vez cruzado el filo, los C aventajan en promedio en aptitud a los N, en virtud de que los aventajan dentro de los grupos donde hay castigo.
Preferencias sociales y altruismo recíproco
El modelo-C es un modelo en donde un comportamiento cooperativo biológicamente egoísta está motivado, según lo que muestran los experimentos económicos, por una psicología altruista de preferencias sociales. Es por tanto un mero prejuicio seguir sosteniendo que las motivaciones altruistas no pueden evolucionar por un mecanismo biológicamente egoísta. Este prejuicio se expresa en varios pasajes del libro. Algunos son directos (p. 52, 76) mientras que otros son ambiguos. Un ejemplo de ambigüedad se da en su discusión de Tit for Tat. Cuando Tit for Tat está rodeado de sus semejantes, Tit for Tat no es altruista, “porque maximiza la utilidad esperada del actor” (p. 60). La observación es exacta en sentido biológico, porque si los vecinos interactuantes son Tit for Tat, la paga de un Tit for Tat es mayor que la de un desertor en ese contexto, independientemente de cuál sea su móvil psicológico. Pero inmediatamente los autores dicen que si un Tit for Tat está rodeado de desertores, entonces sus móviles psicológicos no pueden ser egoístas, sino altruistas (p. 60). Aquí B & G asumen que si un Tit for Tat sacrifica recursos (aunque sólo en la primera movida) en un vecindario de desertores, debe estar motivado por un altruismo psicológico. Esto sugiere que cuando niegan que Tit for Tat es altruista en un vecindario dominado por Tit for Tat, lo están diciendo en sentido psicológico y no sólo biológico. Sin embargo, una lección que deberíamos sacar de su discusión en el Cap. 5 del teorema folk, es que la existencia de estrategias cooperativas en un dilema de prisioneros iterado no nos permite inferir motivos egoístas en los agentes, salvo que la sombra del futuro sea indefinidamente larga, la información sea perfecta y los agentes sean perfectamente racionales. Pero estas condiciones no se dan en la vida real. Por ello no es posible inferir el egoísmo psicológico en interacciones repetidas en las que, objetivamente, cooperar da más utilidad que desertar. Esto, recordemos, pone en duda la tesis 3 defendida por los autores (ver Sección 1.)
El argumento de los autores en el Cap. 5 es que el teorema folk prueba la existencia de múltiples equilibrios de Nash para estrategias cooperativas que obtienen mayor utilidad que la deserción mutua en juegos iterados con información imperfecta o privada; pero el teorema no da “ninguna razón para creer que los jugadores se pueden coordinar en alguno de los muchos equilibrios posibles demostrados por el teorema” de modo que esos equilibrios son “evolucionariamente irrelevantes” (p. 87). El peor caso es cuando la información es privada, “porque los jugadores no concuerdan siquiera sobre lo que sucedió en el pasado y no pueden coordinar su conducta” (p. 89). Los autores señalan que los equilibrios evolucionariamente relevantes para favorecer la cooperación se alcanzan por medio de normas e instituciones “que evolucionaron a lo largo de milenios por ensayo y error” (p. 91). Estas normas son impensables sin suponer compromisos “con el cumplimiento de estándares de conducta altruistas y éticos” (p. 92). La conclusión de esto es que no es posible explicar la cooperación humana sin apelar a las preferencias sociales. Este resultado vale tanto para interacciones diádicas iteradas como para juegos de BP, en los que el número de jugadores es muy superior a 2.
Pero a pesar de este resultado, los autores nos sorprenden sosteniendo decididamente que la reciprocidad directa e indirecta en interacciones diádicas lleva y ha llevado en el pasado a la evolución de conductas cooperativas basadas en motivaciones egoístas y totalmente ajenas a las preferencias sociales. Pero su propia discusión del teorema folk nos enseña que una psicología egoísta no podría sustentar la cooperación, ni siquiera en interacciones diádicas, si la información es imperfecta o privada. Precisamente esta misma tesis se encuentra ya en Trivers (1971), por razones muy similares a las que los autores esgrimen en su discusión del teorema folk. Agentes psicológicamente egoístas son los que Trivers llama “tramposos sutiles” (1971, p.51), es decir, agentes que “inician actos altruistas desde una disposición calculadora más bien que generosa”. Ellos no son confiables, como sí lo son los agentes movidos por la generosidad o por un sentido de equidad. “La selección [natural, AR] promueve la desconfianza hacia quienes actúan de manera altruista sin las bases emocionales de la generosidad o la culpa, porque sus tendencias altruistas son menos confiables a futuro” (TRIVERS, 1971, p.50-51)6 .
De hecho, la experiencia común enseña que los individuos egoístas tienden a usar trucos para explotar a los cooperadores en interacciones diádicas; manipulan la información para ocultar su carencia de generosidad o equidad y su carácter calculador y egoísta; fingen emociones que no tienen; consistentemente bloquean y distorsionan los canales que procuran convertir la información privada en pública; y manipulan la información sobre la sombra del futuro, ocultando a sus contrapartes que secretamente han decidido el último período de la interacción, en el cual darán su golpe tramposo. Después de eso desaparecen. En el argumento de Trivers, los egoístas que hacen trampa y engañan impiden que haya una inferencia del egoísmo a la cooperación en interacciones diádicas iteradas. Debido a que agentes enteramente egoístas (sin preferencias sociales) no tienen razones para ser veraces, el altruismo recíproco sólo es posible si las preferencias sociales han evolucionado ya en este contexto. En suma, la cooperación evoluciona en interacciones diádicas no gracias a motivos egoístas, sino sólo si esas interacciones han moldeado la psicología humana para albergar también preferencias sociales. Toda cooperación humana debe concebirse basada en las normas que son facilitadas por la preferencias sociales. El hecho de que los experimentos muestren que las terceras partes castigan a los desertores cuando observan un juego diádico, indica que ellas ven el juego diádico como regido por normas de cooperación. No hay razón para pensar que los jugadores lo vean de otra manera. Trivers argumentó que el altruismo recíproco debía ser biológicamente egoísta para evolucionar, pero negó que pudiera apoyarse en una psicología enteramente egoísta. La emociones sociales son necesarias. Desafortunadamente, esta es una alternativa que los autores desatienden por completo.
Un razonamiento similar se puede aplicar al fenómeno de la reputación. B & G señalan con razón que la reputación no debe concebirse meramente como mecanismo para obtener mejores utilidades en interacciones futuras (p. 44-45). Esto corresponde al sentido psicológico egoísta de reputación, que es el cuadra con los agentes puramente egoístas – los que Trivers denomina impostores egoístas. Pero hay también un sentido altruista de reputación que es imposible sin preferencias sociales. Los autores dicen : ‘‘A las personas les importa mucho cómo otros las evalúan, independientemente de las recompensas materiales o los castigos que se deriven de esa evaluación.” (p. 44). Adam Smith (2000)7 , citado por B & G, lo expresó de este modo: ‘‘Cuando la naturaleza moldeó al ser humano para la sociedad, lo dotó con un deseo original de complacer…a sus prójimos. Ella hizo que la aprobación de sus semejantes sea halagüeña y agradable por sí misma… (parte III, Sect. I, Paragr. 13, resaltado añadido)’’ (p. 45). ¿Qué razón tenemos nosotros para negar que esta forma altruista de reputación haya evolucionado en el contexto de la reciprocidad directa e indirecta en interacciones diádicas? No veo ninguna razón pertinente.
He sido crítico con la concepción defendida por los autores porque la alternativa aquí esbozada parece más parsimoniosa. Pero aun queda mucho por decir en torno a este fascinante proyecto. Uno desearía que los autores se animen a recoger algunos de los puntos de crítica expresados aquí y los usen para seguir desarrollando su investigación, para beneficio de la investigación que busca una explicación evolucionaria de la cooperación humana.
Notas
1 Una versión en inglés de esta reseña está en prensa en Biological Theory, v.6, n.2, p.169-175, 2012. doi 10.1007/s13752- 012-0013-y
2 HARDIN, G. The tragedy of the commons. Science, v.162, p.1243-1248, 1968
3 TRIVERS, R .The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, v.46, n.1, p.35-57, 1971.
4 GUALA, F. Reciprocity: weak or strong? What punishment experiments do (and do not) demonstrate. Behavioral and Brain Sciences, v.35, p.1-59, 2012.
5 ROSAS, A. Beyond inclusive fitness? On a simple and general explanation for the evolution of altruism. Philosophy and Theory in Biology, v.2, 2010.
6 TRIVERS, R .The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, v.46, n.1, p.35-57, 1971.
Alejandro Rosas – Departamento de Filosofía. Universidad Nacional de Colombia. E-mail: [email protected]
[DR]
Why Cats Land On Their Feet: And 76 Other Physical Paradoxes and Puzzles – LEVI (EPEC)
LEVI, Mark. Why Cats Land On Their Feet: And 76 Other Physical Paradoxes and Puzzles. New Jersey: Princeton University Press, 2011. 190p. Resenha de: CLADEIRA, Pedro Zany. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v.15, n. 01, p. 209-210, jan./abr., 2013.
Em Why Cats Land On Their Feet: And 76 Other Physical Paradoxes and Puzzles, Mark Levi, professor de matemática na Pennsylvania State University e autor do livro The Mathematical Mechanic: Using Phisical Reasoning to Solve Problems ( publicado pela mesma editora), apresenta 77 paradoxos e enigmas da Física (que de fato correspondem a mais de uma centena de problemas), seguindo uma estrutura simples de exploração de cada um deles: Problema / Questão, (Pista), Resposta e Explicação (por vezes mais de uma). Como o próprio autor afirma, “um bom paradoxo físico é (1) uma surpresa, (2) um enigma e (3) uma lição, tudo embrulhado num pacote divertido. Um paradoxo em muitas ocasiões apresenta um argumento muito convincente que conduz a uma conclusão errada que parece certa, ou a uma conclusão certa que parece errada ou surpreendente” (p. 1). E os paradoxos e enigmas não são apenas divertidos, eles também treinam a intuição, a lógica e o pensamento crítico (seja qual for a área de estudo ou ensino).
Os paradoxos e enigmas explorados por Mark Levi resultam de um desafio colocado a ele por seu pai, após o próprio autor ter apresentado a ele um que ocorreu, após uma aula no Ensino Médio, sobre o efeito de capilaridade (paradoxo esse também presente no livro).
Mark Levi tem a capacidade de apresentar problemas complexos de Física associando-os a situações do cotidiano e sem a necessidade de os explorar por meio da matemática, usando apenas (ou sobretudo) a intuição física (quase totalmente ausente nos conteúdos escolares, segundo o autor): É possível a navegação espacial sem propulsores? Os icebergs sentem a rotação terrestre? Conseguimos perder peso numa fração de segundo? Podemos usar nossa respiração como propulsor? Como conseguimos nadar? Se uma pedra cai com aceleração constante, por que, então, para as mesmas distâncias (digamos, 1 metro), numa mesma sequência os ganhos de velocidade vão decrescendo? Como controlar a direção de um carro no gelo? Como mudamos de direção quando estamos a andar de bicicleta? Um dos incentivos que o autor fornece ao leitor logo de início está, precisamente, na incapacidade de muitas pessoas inteligentes (também) não conseguirem encontrar a resposta certa para muitos dos paradoxos e enigmas explorados no livro (o que torna ainda mais divertida a sua experiência de leitura).
O livro é constituído por quatro partes interdependentes: (1) indicação de outros livros que também apresentam problemas de Física sem a necessidade de (muita) matemática: The Flying Circus of Physics (de J. Walter), Thinking Physics (de L. Epstein), Mad about Physics (de C. P. Jagordzki e F. Potter), Physics for Entertainment (de Y. Perelman) e The Nature of Light and Color in the Open Air (de M. Minnaert); (2) os 77 paradoxos e enigmas; (3) o apêndice, que apresenta de forma simples e didática as leis e temáticas da Física envolvidas em diversos paradoxos e teoremas e regras de cálculo aplicados em esses mesmos paradoxos: i. Leis de Newton, ii. Energia Cinética, Energia Potencial e Trabalho (e Conservação de Energia), iii. Centro da Massa, iv.
Momento Linear, v. Torção, vi. Momento Angular, vii. Velocidade Angular e Velocidade Centrípeta, viii. Força de Coriolis, Força Centrífuga e Exponenciais Complexos e o ix. Teorema Fundamental do Cálculo; (4) a bibliografia completa.
Muitos dos paradoxos e enigmas (ou todos) se relacionam a temáticas exploradas nas disciplinas de Física do Ensino Médio, podendo se tornar bons auxiliares para a preparação de aulas e exercícios a serem desenvolvidos em sala de aula.
Why Cats Land On Their Feet: And 76 Other Physical Paradoxes and Puzzles é um livro que pode ser explorado não apenas por professores de Física, mas por professores de outras áreas das ciências, pois vai muito além da simples sugestão de uso de atividades em sala de aula ao apontar que a atração pelo que é surpreendente é um instinto básico na maioria dos mamíferos, e que esse instinto pode ser usado pelo sistema educacional potencializando as aprendizagens dos alunos (principalmente se eles não se detiverem apenas na matematização dos problemas).
Pedro Zany Caldeira – Doutor em Gestão de Informação pela Universidade Nova de Lisboa (UNL). Membro da Unidade de Investigação em Educação e Desenvolvimento (UIED) da UNL e do consórcio NEEMM – Núcleo de Estudos de Espaços em Mutação e Mídia (UFMG / UFTM / UFU). Professor do Instituto Superior de Educação e Ciências – Lisboa E-mail: [email protected]
[MLPDB]Philosophy of Language – SOAMES (M)
SOAMES, Scott. Philosophy of Language. [?]: Princeton University Press, 2010. 199p. Resenha de PINTO, Silvio Mota. Manuscrito, Campinas, v.36 n.1 Jan./June 2013
Attempts to summarize the achievements of the last one and half century of work and the open problems in the field of the anglo-american philosophy of language there have been various. And yet to my knowledge none have so sharply pointed out the main contributions of both the pioneering work in the field and their follow-up as well as succeeded in diagnosing the most relevant topics of controversy as Scott Soames does in his short recent book titled Philosophy of Language. One may even disagree with certain of his views, while at the same time recognizing his penetrating diagnosis of what the most important theses are and where the deep problems lie.
The book is organized with an introduction and seven chapters, of which the first four belong to the longer first part, while the last three constitute the second part. The first part tells us about the solid ground built by the forefathers and their intellectual heirs. The second rather short part examines such polemical subjects as: a) how to conceive of propositions so that they could play an explanatory role within a theory of meaning for a natural language (NL) together with the notion of a possible state of the world (chapter five); or b) how to understand the interaction between epistemic and metaphysical modalities, particularly in Kripke’s preferred examples where we are supposed to know a priori of certain contingent propositions that they are true (chapter six); or c) how best to view the distinction between the semantics and pragmatics of NL when it comes to their respective contributions to the propositions expressed or asserted by literal uses of NL sentences (chapter seven). The first chapter examines Frege’s and Russell’s contributions to the philosophical study of language. Frege is legitimately considered to be the founder of contemporary philosophy of language by first applying the mathematical notion of a function to the semantic analysis of any scientific language. Frege’s second insight consisted in his carefully distinguishing between the sense and the reference of every relevant constituent part of a meaningful sentence, while insisting that both the sense and reference of complex expressions must be conceived as obeying their respective principles of compositionality. Given that truth-values are preserved for sentences when we apply Leibniz’s principle of substitutivity of co-referential sub-sentential expressions salva veritate, Frege took them to be their referents. The apparent violation of this principle for attributions of propositional attitudes led him to propose that within these oblique contexts expressions refer rather to the sense they normally possess in an extensional context while their new sense would correspond to a mode of presentation or way of determining the thought in question.
The problem with this proposal is well-known: it leads to a potentially infinite class of indirect higher-order senses which makes it difficult, if not impossible, to explain how this semantic hierarchy could be systematically learned. Soames discusses two alternative approaches to Frege’s proposal for accounting for the semantics of attributions of propositional attitudes (the first in terms of acquaintance with senses and the second in terms of a non-extensional that-operator on senses of sentences), only to conclude that Frege’s is more problematic than its alternatives.
Chapter one’s second part is dedicated to Russell’s work. Soames begins with the similarities and differences between Russell’s and Frege’s accounts of propositions and their constituents. Thus, both use the notion of a propositional function to account for the semantic structure of general statements. According to Frege and Russell after The Principles of Mathematics, the existential and universal quantifiers are second-level functions. Soames rightly criticizes this way of explaining the semantics of quantified statements in terms of higher level predication, which will in turn require explanation in terms of quantification, which must be analyzed away in terms of higher level predication, finally generating an explanatory circle. Soames also criticizes Russell for trying to force the semantic analysis of natural language general statements by using only unrestricted universal and existential quantifiers. Treating natural language expressions like ‘all philosophers’ or ‘most students’ as corresponding to genuine semantic constituents of their respective propositions is a more straightforward way of analyzing such English general statements.
Russell’s contention that definite descriptions are covert quantified expressions is recognized by Soames as a real insight. As already expected, he disagrees with Russell with respect to the latter’s analysis of definite descriptions in terms of unrestricted quantifiers. Better would have been to treat them as restricted quantifiers (‘the x: x authored Waverley’) and therefore to conceive them as corresponding to semantic constituents of the propositions associated with their respective sentences. However, the phenomenon of scope of an operator, applied to definite descriptions when it interacts with other operators, is mentioned as proof that Russell was right in his contention that definite descriptions are quantified expressions in disguise.
Soames levels two further criticisms of Russell’s “On denoting” semantic theory. The first is directed against Russell’s famous principle of acquaintance, which requires that the constituents of our worldly thoughts and propositions be cognitively transparent to us. When Russell applies his principle to occurrences of ordinary proper names in sentences, he is forced to hold the weird view that they are no genuine proper names, since we have no direct, infallible epistemic access to their referents. Soames’ second critique of Russell’s semantic theory concerns the latter’s argument to the effect that the expression ‘exist’ cannot play the semantic role of a first level predicate in statements like ‘Aristotle doesn’t exist’, because positive and negative existential statements involving ordinary proper names are really statements involving definite descriptions and these already contain an existential quantifier. But, as Soames correctly argues, there is no problem in conceiving such descriptive expressions as involving restricted quantifiers (‘the x: x authored The Nichomachean Ethics‘) to whose unique satisfier the propositional function x doesn’t exist applies, if the above statement is true.
Chapter two discusses Tarski’s analysis of truth and its importance for the philosophy of language. According to Soames, Tarski was led to focus on the concept of truth because he was interested in the expressive power of mathemathical theories and in the possibility of characterizing metatheoretical semantical notions in them. Truth was a central one although it was known since the Ancient Greeks that our pre-theoretical conception of the predicate ‘true’ leads to paradox. Tarski’s proposal was to abandon the pre-theoretical concept of truth in favor of an explicitly defined truth-predicate for certain well-behaved languages, which he then showed how to explicate in such a way that would avoid paradox. As to the relevance of the Tarskian notion of truth for casting light on our pre-theoretical concept of meaning, Soames remains definitely pessimistic.
In the rest of the chapter, he criticizes two later attempts to philosophically explain linguistic meaning appealing to Tarski’s truth concept: Carnap’s and Davidson’s. The semantics Carnap proposes in the 40’s aims at clarifying notions like meaning, synonymy and analyticity for all the sentences of correctly regimented scientific languages in terms of Tarskian truth and designation as well as the notion of a complete description of a possible state of the world. Among other difficulties, he rightly complains about the very poor notion of proposition that issues from Carnap’s semantics, according to which two logically equivalent sentences express the same proposition. As to Davidson’s proposal to account for meaning in NL in terms of the semantic conception of truth, Soames’ main objection concerns what he calls the problem of justifying the claim that a given Tarski-style theory that yields truth-conditions for all sentences of a certain natural language would qualify as a correct theory of meaning for that language. Since there can always be many truth theories which are both empirically and extensionally equivalent, then the claim that one of them is the correct theory for interpreting the language in question lacks a reasonable justification.
Having shown that truth-conditional semantics of the kind Davidsonians propose as well as intensional semantics of the sort Carnapians suggest are both inadequate as theories of meaning, Soames proceeds in the third chapter to review the prospects of more recent intensional semantics. Concerning the application of Kripkean possible worlds semantics and its deeper theoretical insight into the intuitive distinction between epistemic and metaphysical modalities, Soames maintains that it still would prove inadequate as a theory of meaning for NL. According to him, one illustration of this inadequacy would be the case of two different necessary and a priori sentences which would be true at every epistemically possible situation, and yet whose respective meaning would intuitively differ.
An interesting and successful application of a possible world semantics to give robust truth-conditions of counterfactuals is provided by Stalnaker and Lewis. The idea is that a sentence like “if it were the case that P, then it would be the case that Q” is true at a state of the world w if and only if Q is true at states of the world w* sufficiently similar to w and where P is also true. Here Soames carefully distinguishes between the possible world semantic account of such conditionals and their philosophical analysis in terms of the notion of causation. According to him, a possible circularity in the analysis of counterfactuals in terms of causality and of the latter in terms of counterfactuals is something that doesn’t affect the semantic account of these conditionals’ truth-conditions in terms of possible states of the world.
Soames concludes the third chapter with a discussion of Montague’s proposal of an intensional semantics for NL. Instead of using first-order logic together with more powerful logical systems in order to regiment NL, Montague proposes more direct syntactic and semantic rules for generating complex expressions from their constituents and for interpreting these constituents and their complexes in terms of extensions and intensions. One of the most surprising features of Montagovian semantics is its classifying quantifier phrases and proper names in the same semantic category, that is: both denote sets of sets (for example: ‘John’ denotes the set of all sets which include its bearer as an element; ‘every man’ denotes the set of all sets containing every man). Soames’ argument against Montague’s similar treatment of proper names and quantified phrases maintains that it is more plausible to suppose that ordinary speakers use NL proper names as expressions designating individuals. His most substantial objections to Montagovian semantics, however, are that: a) as an intensional semantics it is incapable of dealing with sentences attributing propositional attitudes to speakers and b) as a sort of truth-conditions semantics it is strictly incapable of playing the role of a theory of meaning for NL.
Chapter four discusses two more specific features of Kripkean intensional semantics, namely: its semantic treatment of ordinary proper names and natural kind terms via the notion of rigid designation and of indexicals as expressions of direct reference. According to Soames, essentialism, rigid designation and the notion of de re necessity come to play a fundamental role in this type of intensional semantics because these are the doctrines and concepts needed in order to apply quantified modal logic for the semantic analysis of a sufficiently rich language like NL. He praises Kripke’s modal argument designed to show that ordinary proper names are rigid designators whereas their associated descriptions are non-rigid. He also endorses Kripke’s argument against the view that each name has a descriptive content, whose semantic role would be that of fixing its referent. He finally agrees with the author of Naming and Necessity‘s rough externalist and communitarian account of how the reference of NL names is determined. Overall he takes the view that the position being attacked by the rigid designation semanticist makes the mistake of conceiving the role of reference determination as an aspect of the meaning of names when this is rather an aspect of their use.
In the second half of chapter four, Soames discusses Kaplan’s direct reference semantics for indexicals. The semantics of pure indexicals is taken up first. According to Kaplan, the meaning rules associated with indexicals of this sort relate contexts of use with their respective semantic content, which together with the semantic contents of the other expressions occurring in a sentence have truth-conditions with respect to a possible circumstance of evaluation. Various other features of direct reference semantics are clarified like, for example, the distinction between rigid designators and expressions of direct reference. Further complications come up when it is a matter of providing a semantic treatment of demonstratives, since the meaning rules attributed to them relate contexts of use plus subjective elements like demonstrations or speaker’s referential intentions with their respective content. Soames overall assessment of Kaplan’s logic of indexicals is mixed: although it brilliantly explains the intuitive a priori character of contingent sentences like “I am here now” and contains also invaluable insights about the meaning of pure indexicals, the logic of indexicals fails, according to him, to provide a plausible semantics for NL demonstratives.
In chapter five, Soames insists on his argument for the semantic indispensability of the notions of proposition and possible world. According to him, an independent theory of propositions is needed, although it is not to be found in Russell or Frege, who took propositions to be intrinsically representational independently of us. Rather, such a theory should be part of a naturalistic account of the representationality of propositions in terms of the intrinsic representational properties of our cognitive states. By conceiving propositions as types of mental cognitive events by means of which agents most basically and atomically predicate properties and relations of n-uples of objects and besides by conceiving these events as objects of first-person acquaintance, Soames hopes to solve the problems related to the old Platonistic account of propositions and in particular the problem of the unity of the proposition, i.e. the problem of predication.
Essentially linked to the concept of proposition is that of a possible state of the world. This is the notion required for explaining the semantic evaluation of propositions with respect to truth. According to Soames, it makes no sense to speak of the truth of a proposition unless it is relative to a possible state of the world w, which is in turn characterized as a maximal consistent set containing either structured true atomic and normally non-modal propositions or their true negations. Of course, this notion of world-state must be enriched in order to account for the semantics of modal and belief propositions; for example, a proposition like possibly there are Higgs bosoms is true at w if and only if it is true at some world-state(s) metaphysically possible from w. It must also be enriched in the sense that it must include singular propositions about objects that do not exist in the actual state of the world. Soames closes the chapter with the rather puzzling remark according to which possible world semantics in the rich sense mentioned above should not be taken as theories of the meaning for NL modal and nonmodal sentences like belief attribution sentences.
The penultimate chapter deals with the epistemic modalities and particularly with Kripke’s controversial examples of a priori contingent propositions. According to him, paradigmatic examples of such propositions are those for which the referent of a rigid designator is fixed by the conceptual complex associated with a non-rigid definite description (for example: the proposition that one meter is the length of the platinum stick kept in Paris’ Institute for weights and measurements). Soames disagrees, by arguing that knowledge of the singular proposition associated with these cases is normally a posteriori, that is: based on his own perceptual experience, the reference fixer knows of this length [one meter] that it is the length of the famous Parisian stick. Better examples of a priori contingent, according to Soames, are propositions of the form p if and only if actually p (for instance: Princeton University has a philosophy department if and only if actually Princeton University has a philosophy department), where the actuality operator applies to propositions and predicates of them the property of being true at the actual state of the world.
Philosophy of Language‘s last chapter deals with the controversial question of how to draw the boundaries between the respective provinces of NL semantics and its pragmatics. Soames discusses, more specifically, the relations between the semantic (meaning) and pragmatic (contextually determined presuppositions, conversational implicatures, etc.) contributions to the propositions literally asserted by the utterances of NL sentences (S) or expressed by uses of S in thought. Two conceptions of such relations are discussed. According to the traditional conception, the semantic content associated with concrete literal uses of S is always a complete proposition, which might be enriched as a result of pragmatic factors operating in the context of communication, whereas Soames conceives such semantic content or meaning as a set of constraints on literal uses of S, which in the case of sentences with demonstrative indexicals or incomplete descriptions doesn’t suffice to determine a proposition but requires pragmatic information shared by language users to do so.
If Soames is right, then the most adequate way to draw the line between NL semantics and pragmatics would proceed by identifying the invariant minimal content common to all literal uses of NL sentences-its semantic contribution to the proposition asserted or expressed by such uses-and the difference between asserted or expressed content and invariant semantic content belongs to the province of pragmatics.
In my opinion, the greatest merit of Soames’s book is that of finding a perfect balance between the lucid and penetrating exposition of the most relevant problems in contemporary philosophy of language with carefully thought-out solutions to them. All those who are really interested in the topic must read it.
Silvio Mota Pinto – Departamento de Filosofia. UAM – Iztapalapa. MÉXICO. [email protected]
Not fot Profit: Why Democracy Needs the Humanities – NUSSBAUM (RA)
NUSSBAUM, Martha. Not fot Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton University Press, 2010. Resenha de: FAVERSANI, Fábio. Revista Archai, Brasília, n.8, p.145-148, jan., 2012.
Martha Nussbaum, professora de filosofia da Universidade de Chicago, e helenista de formação, reuniu neste livro muitos elementos importantes para uma reflexão sobre as sociedades que estamos construindo e o papel que a educação tem tido neste processo. Ela se volta sobretudo para um problema importante e que está no centro dos debates: a educação tem se voltado por demais para produzir pessoas que possam gerar lucros, mas sem se preocupar com a capacidade delas atuarem em sociedade; as escolas estão se voltando para ter excelentes notas em testes padronizados, mesmo que isto signifique formar alunos sem nenhuma capacidade de pensar criticamente ou formular um saber original. O ideal é que os alunos estejam ajustados ao mercado e sejam tremendamente competitivos, que se saiam bem nos testes reproduzindo fórmulas prontas e se exercitando em como dar a resposta certa. Para estes propósitos, a autora chama a atenção, as humanidades têm parecido ter pouca serventia. Ainda mais, como ela também ressalta, na atual onde de corte de despesas por parte do Estado pelo mundo afora, as humanidades são as primeiras a serem eliminadas nas esferas da educação pública. As consequências disto é que as humanidades têm feito falta a “fazedores-de-lucro”e têm produzido sociedades menos saudáveis, menos democráticas. O alerta que a autora faz é pertinente e merece reflexão. Ela afirma, já no final do livro: “Desviados para a busca da riqueza, nós pedimos cada vez mais para nossas escolas para nos darem úteis fazedores-de-lucro (profit-makers) mais do que cidadãos reflexivos. Sob a pressão de cortar custos, botamos fora exatamente aquelas partes dos esforços educacionais que são cruciais para a preservação de uma sociedade saudável”(pp. 141-2)
Trata-se de uma reflexão importante e muito bem organizada. Ainda que a autora deixe claro que não se trata de um estudo empírico, percebe-se uma boa pesquisa para sustentar os argumentos, sendo os exemplos concretos apresentados bastante numerosos e diversificados. O livro se organiza em sete capítulos, antecedidos por uma apresentação escrita por Ruth O’Brien. No primeiro capítulo ela trata do que qualifica como “uma crise silenciosa”. Tipifica muito bem como a educação tem passado por uma mudança progressiva e geral nos Estudos Unidos e na Índia (mas o mesmo quadro poderia com certeza ser pensado com certeza para outros países, como por exemplo o Brasil), em que uma educação orientada por princípios humanistas e liberais, preocupados em dar uma formação geral e educar cidadãos, cada vez mais está deixando de existir. O diagnóstico da autora é claro: a educação tem piorado. No capítulo 2 ela indica dois modelos de educação, um voltado para a construção de sociedades mais democráticas e outra devotada ao aumento da lucratividade. Nos capítulos 3 a 6 a autora mostra quais as características deste modelo de uma educação para as sociedades democráticas, enfatizando alguns valores e resultados que ela acredita que devam dar corpo a este tipo de educação, sempre indicando como as humanidades, incluídas com bastante ênfase as artes, são centrais a este tipo de educação. As humanidades são aparentemente desnecessárias para o aumento da lucratividade através da educação, mas se a educação se volta para a formação de cidadãos que construirão e vivenciarão uma experiência democrática plena, elas são centrais e indispensáveis. É através das humanidades que se constroem várias das habilidades necessárias ao exercício da cidadania em sociedades democráticas. Sem elas, ao contrário, é impossível ter estes resultados e, em decorrência, o corte do ensino de humanidades pode ser traduzido na inviabilização de sociedades democráticas. No capítulo 7 a autora evidencia que educação democrática está nas cordas (“on the ropes”). As humanidades estão sendo atacada e a ponto de ser nocauteada. O capítulo conclusivo reforça assim o caráter sensível e importante de apelo deste trabalho, talvez até mesmo de manifesto, mais do que de estudo empírico – que a obra não pretende ser.
Parece-nos ter a força de uma constatação os aspectos principais que Nussbaum salienta. As mudanças na educação, que se afasta mais e mais do que poderia se chamar de ideias humanistas ou democráticos (seja lá que sentido se queira dar a estas palavras), voltando-se apenas para a formação de mão-de-obra por processos que cada vez mais se aproximam de um adestramento, são ruins para a sociedade pensada como uma experiência democrática e de realização humana e também parecem ruins para formar mão-de-obra para uma produção cada vez mais complexa e que exige que os trabalhadores tomem decisões de forma independente. A autora aponta para estes pontos fundamentais no debate atual. Outro aspecto central da obra é deixar claro que os cortes de recursos na educação são especialmente perniciosos porque atingem diferentemente as áreas do conhecimento, com as restrições praticamente eliminando as possibilidades de uma educação rica e plural em humanidades e fazendo com que desapareçam por completo sinais de educação em artes. O livro aponta com clareza para problemas que temos no cenário atual e que reclamam uma resposta da sociedade. As mudanças em curso são ruins para a sociedade e são ruins para as pessoas. Nussbaum tem toda razão em seu apelo: isto precisa parar. Mas creio que seja importante pensar para os caminhos que ela aponta para chamar a atenção também para o dato de que a construção de alternativas exige muita reflexão.
Nussbaum contrapõe a educação para o cresci- mento econômico que é cada vez mais predominante, a uma educação para a democracia, que foi vivida nos melhores exemplos da educação liberal clássica estadunidense e no modelo construído pelo educador indiano Rabindranath Tagore. A análise da autora se concentra na experiência dos Estados Unidos e Índia. A educação para a democracia se volta para o desenvolvimento do pensamento crítico, da compaixão, da imaginação, da simpatia e da criatividade. Por outro lado, a educação para o crescimento econômico se devota a estimular a obediência, a competitividade, levando à instrumentalização dos outros seres e, como meio para tanto, sua submissão. Na maior parte do livro a autora procura opor estes dois propósitos como antitéticos, mas em outros ela defende que as humanidades servem aos propósitos de uma educação para o crescimento econômico. Ela busca convencer o leitor de que não faz sentido uma disputa entre projetos: “Se o nosso único objetivo é o crescimento econômico nacional, ainda assim devemos proteger a educação liberal em artes e humanidades”(p. 112). Ela faz parecer que bastaria que todos sentassem na mesma mesa e, conversando com calma, todos se convenceriam de que o que ela propõe é o melhor para todos, sob todos os pontos de vista. Adotando este ponto de vista, a autora deixa de problematizar quais são os projetos e interesses que estão levando às atuais mudanças na educação e como eles são incompatíveis e irreconciliáveis com os interesses da maioria da população. As mudanças atuais parecem à autora apenas o resultado de uma má compreensão da realidade e que podem ser reformuladas explicando aos gestores desta mudança que eles estão errados. O mesmo ponto aparece quando ela trata do corte dos recursos que financiam a educação. O apelo dela é para que os gestores percebam que as humanidades não custam tão caro assim e faz elogios às iniciativas do terceiro setor que cobrem os espaços deixados pela ausência do financiamento do Estado (este ponto se faz especialmente claro no capítulo IV). Os adversários das humanidades na educação pública em específico, e do financiamento da educação pública em patamares razoáveis, de um ponto de vista mais geral, simplesmente não são tipificados, qualificados. A autora parece pensar que todos podem entrar em uma grande e positivo acordo sobre isto se sentarem em uma mesa e conversarem com calma. Claramente, não é o caso.
A autora é professora da Universidade de Chicago e se orgulha de não precisar buscar recursos do Estado, uma vez que, segundo ela, ex-alunos orgulhosos da educação que receberam sempre estão dispostos a doar para os projetos de humanidades da Universidade de Chicago, propiciando às novas gerações a mesma educação humanista que tiveram (p. 132). Este visão do lugar de onde fala é que talvez a faça tão otimista. Mas seria importante que ela percebesse que nem só de bondosos momentos de seus ex-alunos é que se faz a gestão da educação e que os alunos oriundos das maiores e melhores universidades do mundo é que são os formuladores e gestores das políticas educacionais que ela critica. Estes alunos receberam a melhor educação humanista, que ela recomenda. O livro não trata, como se vê por este exemplo, deste problema em todas as suas consequências.
Um problema na abordagem da autora, a meu ver, é que ela é tão prescritiva e normativa quanto a atual hegemonia que ela critica. Já na apresentação, escrita por Ruth O’Brien, lemos na p. x. que a arte e as humanidades seriam importantes para gerar pessoas “como tanto a democracia quanto a cidadania global exigem”“Mas quem responde à pergunta: o que é requerido da educação pela democracia e cidadania global? A resposta não é simples e, se ela é única, já não é uma boa resposta a meu ver. Os excessos desta fórmula que inspira a autora têm gerado condutas que beiram a censura mais esdrúxula. Para lembrar aqui um caso recente – e nos esquivarmos das críticas ao insosso domínio do “politicamente correto”–, recordamos da polêmica decisão do Conselho Nacional de Educação que restringia a leitura das obras de Monteiro Lobato nas escolas por conta de seu conteúdo “racista”(http://www1.folha.uol.com.br/saber/822230-conselho-de-educacao-quer- -vetar-livro-de-monteiro-lobato-em-escolas.shtml). Mais recente ainda é a solicitação do Ministério Público de Minas Gerais para que o dicionário Houaiss fosse retirado de circulação. A fundamentação indica que o verbete “cigano”contém “expressões pejorativas e preconceituosas”contra esta população, como “aquele que trapaceia, velhaco, burlador”. (Cf. Folha de São Paulo, n. 30.284, de 2 de março de 2012, p. A2.)
O problema que se pode apontar aqui, contrariamente ao que defende a autora, é que não se pode defender que as humanidades devem estar a serviço de um projeto político instrumental dado, mesmo que seja o da defesa da democracia, voltando-se primevamente para agendas que interessem a certos setores políticos que vejam como importante os debates sobre raça, gênero e sexualidade, por exemplo. Esta instrumentalização das humanidades para ensinar os alunos o que alguém específico acha que todos eles devem saber para serem bons cidadãos tem feito mais mal do que bem à defesa das humanidades nas escolas.
Trata-se de um livro, portanto, cuja leitura recomendamos fortemente, uma vez que aponta para um tema central de nossa época, através de uma reflexão bastante sofisticada que propicia ao leitor refletir acerca do problema tendo a frente horizontes bastante amplos que são descortinados pela autora.
Fábio Faversani – Universidade Federal de Ouro Preto.
Europe in the Era of Two World Wars. From Militarism and Genocide to Civil Society, 1900-1950 – BERTGHAHN (LH)
BERGHAHN, Volker R. Europe in the Era of Two World Wars. From Militarism and Genocide to Civil Society, 1900-1950. Princeton: Princeton University Press, 2006. 163 pp. Resenha de: NEVES, João Campos. Ler História, n.62, p.216-219, 2012.
1 Volker R. Berghahn é professor de História na Universidade de Columbia, em Nova Iorque. É doutorado pela Universidade de Londres e lecionou na Alemanha e em Inglaterra, antes de passar pela Brown University dos Estados Unidos. Trata-se de um especialista em história da Alemanha contemporânea e da relação entre os Estados Unidos e a Europa, focando-se essencialmente no estudo da Guerra Fria, sob esta perspetiva. É autor de uma obra relevante e diversificada, na qual se inclui The German Empire, 1871-1914: Economy, Society, Culture and Politics, que se centra no império conduzido por Bismarck, e mais tarde por Guilherme II. Trata-se de um estudo que pretende explicar como é que a Alemanha imperial eminentemente aristocrática, como foi a Alemanha do Kaiser e do chanceler Bismarck deu lugar ao Terceiro Reich, a partir de 1933. Publicou também America and the Intellectual Cold Wars in Europe que aborda as relações entre os Estados Unidos e a Europa durante a Guerra Fria, assente numa análise sobre a influência cultural americana na Europa do após II Guerra Mundial.
2 Europe in the Era of Two World Wars é um estudo histórico focado na análise das dinâmicas modernizadoras, económicas, sociais, culturais e políticas que marcaram a história europeia desde finais do século XIX até ao após II Guerra Mundial. O autor aplica o seu modelo teórico à história da Alemanha deste período, fazendo aproximações mais generalizantes à história do pensamento político, cultural e intelectual europeu, indissociável daquilo que levou ao eclodir dos dois conflitos mundiais. A sua proposta para compreender a Europa entre guerras baseia-se em duas alternativas políticas radicalmente opostas, que consubstanciavam formas de organização social modernas. Ao contrário dos teóricos liberais, Volker recusa categoricamente associar à modernidade a existência exclusiva de comunidades políticas baseadas nos princípios de abertura política, económica e cultural, avessas à violência e regidas pelos pressupostos democráticos da solidariedade e da justiça. As sociedades governadas pelos «homens de violência» são também um produto e uma consequência da modernidade. A dicotomia central da obra é entre uma sociedade democrática, parlamentar e liberal, que deveria adotar o modelo económico americano dos anos 1920, orientando a produção industrial para o consumo e satisfação das necessidades materiais dos seus cidadãos numa conjuntura de paz, e uma sociedade totalmente militarizada, que deveria reproduzir a utopia da «comunidade das trincheiras» da I Guerra Mundial, governada por «homens de violência», com o desiderato de dirigir toda a produção industrial para o futuro esforço de guerra. Os Estados Unidos formaram a alternativa de sociedade pacífica ainda antes de 1914, em oposição aos regimes europeus que propugnavam a guerra total. A paz entre os cidadãos só poderia ser garantida pelo contínuo progresso económico e material; de outro modo, um clima de conflito e guerra civil poderia pôr em causa a democracia, como aconteceu na República de Weimar.
3 A metodologia utilizada no livro consistiu no transporte de dois modelos de análise teóricos, aplicáveis ao passado histórico europeu, inserindo a teoria no trabalho empírico. A opção metodológica de analisar a Alemanha explica-se pelo conhecimento profundo que Volker tem da história e da cultura alemãs e pelo facto dos dois modelos de sociedade que caracterizam a sua análise terem tido uma concretização histórica na Alemanha entre guerras. A república de Weimar, antes da sua progressiva decadência consubstanciada nos últimos executivos de Brüning, Von Papen e Sleicher, foi um regime democrático, com uma constituição moderna que garantia a liberdade dos cidadãos e da imprensa, encaixando cabalmente na definição de sociedade cívica. Já o nazismo foi o apogeu do regime comandado pelos «homens de violência», alicerçados numa visão racial e biológica da história e da humanidade. O autor não cai em determinismos redutores nem aceita propostas contra-factuais aplicáveis ao passado histórico, não existindo no seu entendimento uma noção de inevitabilidade perante o triunfo dos «homens de violência» durante os anos 30. Esta visão da sociedade materializou-se, mas para Volker a alternativa cívica também poderia ter tido sucesso, não fossem as condicionantes históricas estruturais que pesaram sobre a Alemanha, como as imposições decorrentes do tratado de Versalhes que alimentaram o ressentimento e o sentimento de vingança do povo alemão, a que se juntou uma crise económica irresolúvel e um clima de guerra civil que sucedeu ao armistício de 1918 e reapareceu no aftermath do crash bolsista de 1929. O precário estabelecimento da primeira experiência democrática alemã fracassou devido à ação dos «homens de violência» e à subsequente adesão das massas ao programa de militarismo e racismo extremo de Hitler como solução para a crise económica, institucional e social.
4 O livro foca-se numa narrativa que pretende explicar como as diferentes propostas de sociedade surgiram e foram entendidas pelos protagonistas políticos da primeira metade do século XX. Sendo um estudo muito específico, não tem como objetivo narrar exaustivamente a história política, militar e cultural do século XX europeu. Tem propósitos menos ambiciosos que se coadunam com a perspetiva teórica e analítica adotada, fornecendo uma explicação para o desenvolvimento de uma violência de massas sem grandes precedentes na história, excetuando a violência colonial em África, que é descrita em detalhe no primeiro capítulo. As noções de violência de massas, mobilização total da nação para a guerra e de aniquilação do inimigo não foram um exclusivo do militarismo alemão, sendo as comparações realizadas com outros Estados europeus um dos trunfos do livro, ao desmistificar esta falsa ideia. Os Estados-Maiores da França, da Rússia e do Império Austro-húngaro também planearam e pensaram a guerra em termos da aniquilação total do inimigo.
5 Os objetivos teóricos, analíticos e conceptuais que presidiram à reflexão de Volker têm elementos de continuidade que se complementam e justificam entre si, baseados na contradição estruturante da história da Europa contemporânea: ao ser simultaneamente o berço da cultura democrática, cívica e liberal e das formas mais violentas de militarismo, expansionismo e extremismo ideológico. A sua explicação para o sucesso dos «homens de violência» resulta duma conjugação de fatores, entre os quais o ethnonationalism, aliado ao culto dos valores heroicos da violência e à presença dum darwinismo social radical que se coadunou com o desenvolvimento de noções pseudocientíficas sobre o valor constitutivo da raça.
6 O capítulo «Violence Unleashed, 1914-1923» versa sobre o acontecimento fundador do século XX europeu, rutura decisiva em todos os aspetos da vida social e humana. Nos impérios centrais, a elite militar tomou uma posição de predomínio devido à excecionalidade da situação internacional, afastando os políticos da condução da guerra. A mobilização total dos recursos humanos e materiais da nação foi aqui inaugurada, incluindo tanto a frente de guerra como a home front; tal como a violência de massas dirigida contra as populações civis em solo europeu, compreensível à luz da necessidade de aniquilar totalmente as nações adversárias.
7 A maior originalidade da proposta de Volker está em não considerar o caminho para a rutura revolucionária e violenta preconizada pelos movimentos fascistas como o inevitável destino para parte da Europa dos anos 1920. Não procedendo a um exercício de história contra-factual, que é necessariamente do domínio da literatura e não da história científica, o autor pensa que a possibilidade de formação de sociedades cívicas no coração da Europa foi muito real. Reproduzindo a organização social americana, deveriam ser comunidades políticas democráticas e parlamentares, em que o bem-estar dos cidadãos seria assegurado pela produção em massa de matriz fordiana, que levaria aos mercados produtos de qualidade a um preço comportável para o indivíduo comum. A assinatura do pacto de Locarno, em 1925, e a adesão à Liga das Nações em 1926 dá credibilidade ao pressuposto de que a Alemanha nos anos 1920 não era propriamente um pária internacional e que, inevitavelmente, iria assistir à ascensão dos «homens de violência».
8 Entre os aspetos menos conseguidos do livro, saliente-se a importância exagerada dada aos dois modelos conceptualizados, como se estes tivessem sido as duas únicas alternativas políticas na Europa entre-guerras. Diversos regimes não se enquadram nem no modelo de sociedade cívica, nem no de sociedade totalmente militarizada, e dominada pelos «homens de violência»: o Estado Novo de Salazar ou o franquismo, em Espanha, não se adequam cabalmente aos paradigmas propostos, tal como a França de Vichy ou o «austro-fascismo» de Dolfuss. A explicação da organização e estruturas paramilitares dos «homens de violência» é superficial, existindo uma ausência interpretativa do papel fulcral desempenhado pelos partidos políticos na sua ascensão e legitimação eleitoral e política. A utilização dos meios de comunicação modernos e da cultura de massas pelos extremistas não é devidamente enquadrada, havendo somente pequenas referências à sua importância decisiva para a adesão ao fascismo vinda debaixo. O sentimento de decadência civilizacional e de apocalipse, produto da filosofia e do pensamento intelectual do século XIX está totalmente ausente da obra, tendo este sido um propulsionador fundamental para a destruição dos regimes liberais. A apologia da violência e da guerra por grupos de intelectuais, como o da Action Française não é referida, nem a repercussão que as suas ideias tiveram na extrema-direita europeia. Os movimentos artísticos, obcecados com a violência, como os Surrealistas, os Expressionistas e os Futuristas, que transportaram o sentimento de decadência civilizacional para o século XX também não estão presentes na obra nem tão pouco a influência que tiveram sobre uma ideologia centrada nos valores heroicos da guerra, da rutura revolucionária e da violência.
João Campos Neves – Doutorando em História Moderna e Contemporânea e membro do CEHC, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. A sua área de pesquisa é a história política e militar em Portugal durante o Estado Novo. E-mail: [email protected]
Imperialism, power, and identity. Experiencing the Roman Empire / David Mattingly
David Mattingly / Foto: Archaeological Institute of America /
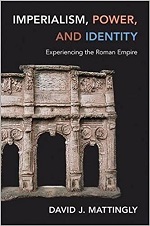
Imperialism, power, and identity. Experiencing the Roman Empire é formado, em sua maior parte, por ensaios resultantes de conferências realizadas por Mattingly na Tufts University, Massachusetts (EUA), em abril de 2006. A temática geral trata de um assunto muito debatido ultimamente na academia, que diz respeito, sobretudo, à aplicabilidade (ou não) do conceito de Romanização para os estudos do Império Romano. Mattingly opta pelo viés do Imperialismo, do poder e da identidade para formular sua proposta atual de pesquisa para o Império Romano, focalizando nas experiências locais como uma nova forma de interpretação dos vestígios arqueológicos. Segundo Mattingly, o termo Romanização não mais serve aos nossos propósitos atuais. O “seu” Império Romano, como realça, é o resultado de trinta anos de estudo. Após inúmeros trabalhos de campo e pesquisas científicas, o autor chegou à conclusão que as condições do Império Romano eram situacionais, pois a percepção do que era o Império variava de região para região. Os estudos pós-coloniais foram, neste sentido, essenciais para o desdobramento de sua tese atual.
Os capítulos do livro são formados por ensaios direcionados a temáticas variadas, mas sempre partindo de um eixo central – a questão do poder. São quatro as partes que compõem a estrutura interna do livro, a saber: 1) Imperialismos e Colonialismos; 2) Poder; 3) Recursos e 4) Identidade. A primeira parte é constituída por dois capítulos. No primeiro deles, intitulado “Do Imperium ao Imperialismo: escrevendo sobre o Império Romano”, Mattingly discorre a respeito de vários termos utilizados pela historiografia que trata de Roma Antiga. Conceitos como Império, Imperialismo, Colonialismo, Globalização e Romanização são colocados em pauta e debatidos. Partindo de uma revisão historiográfica sobre o Império Romano, o autor descortina as influências que o Imperialismo do século XIX, sobretudo o britânico, exerceu na interpretação do que foi Roma na Antiguidade.
A historiografia tradicional considerava que o Império Romano teria expandido a civilização para os povos bárbaros, assim como os europeus ocidentais estavam procedendo quanto às suas colônias na África e na Ásia. De uma maneira geral, os classicistas foram os grandes responsáveis por nos imputar a ideia de que somos herdeiros e beneficiários das ações civilizatórias romanas. Tal atitude é severamente criticada por Mattingly, que interpreta as atitudes romanas em relação às províncias como atos imperialistas, em muitos aspectos semelhantes àqueles perpetrados pelo Imperialismo contemporâneo. Segundo ele, o conceito de “Imperialismo” pode ser aplicado a Roma Antiga, pois Roma era um Estado excepcional na Antiguidade. A natureza das relações desiguais entre Roma e os estados conquistados, o exercício do poder e as diferentes respostas a ele indicam ao autor que o termo Imperialismo cabe bem à sua proposta de estudo. O desejo de poder é o ponto central que une todas as épocas e lugares que vivem sob um Império. Justifica-se também o uso do conceito de Imperialismo pelo fato de os administradores do Império Britânico considerarem a Roma Antiga como exemplo e modelo a ser seguido.
A maior parte das fontes que dispomos sobre Roma Antiga diz respeito aos grupos que compunham a elite. Faltam estudos que mostrem as reações e atitudes dos povos conquistados pelos romanos. As abordagens pós-coloniais estão sendo consideradas apropriadas para quem se dedica a estudar os efeitos do colonialismo e da colonização exatamente pela possibilidade de darem voz aos oprimidos. Muitos arqueólogos têm, ultimamente, utilizado esta perspectiva de análise para verificar questões relativas à identidade local. Este é o caso de Mattingly, cuja preocupação é saber como as pessoas sujeitas ao Império viviam e como esta situação afetava o seu comportamento e a sua cultura material. A partir do conceito de experiência discrepante (discrepant experience), desenvolvido por Edward Said [1], Mattingly estabeleceu o seu próprio, diferindo em certos aspectos quanto à ideia original proposta por seu criador. Said havia pensado neste conceito como definidor de uma dicotomia entre governantes e governados, onde cada um tinha a sua própria história. No entanto, Mattingly prefere usar o termo “experiência discrepante” no sentido de incorporar todos os impactos e reações ao colonialismo rejeitando a ideia de bipolaridade, no seu caso específico entre romanos e nativos (p. 29).
Ao tratar da “Romanização” Mattingly é bem claro em recusar o uso do conceito. Atualmente, muitos arqueólogos e historiadores continuam a usar o termo “Romanização” pensando, sobretudo, nas negociações entre os membros da elite local romana e o agente nativo. Entretanto, embora tenha usado este conceito no passado, Mattingly agora se mostra enfático em suas objeções a ele: seria um paradigma falho, pois possui múltiplos significados; é um termo inútil, pois implica que a mudança cultural foi unilateral e unilinear; faz parte do discurso moderno colonial; dá grande ênfase aos vestígios da elite como grandes monumentos; leva os estudiosos a adotarem posturas pró-romanas; não destaca os elementos que sugerem uma continuidade das tradições culturais da sociedade indígena; reforça uma interpretação da cultura material que é simplista e estreita (como aculturação e emulação); enfim, focaliza a atenção no grau de semelhança entre as províncias e não na diferenciação e na divergência entre elas.
No segundo capítulo, intitulado “De um colonialismo a outro: o Imperialismo e o Magreb”, Mattingly discorre a respeito de um estudo de caso da África Romana, região também marcada pela estrutura colonialista contemporânea. As pesquisas arqueológicas no Magreb (Argélia, Tunísia, Marrocos e Líbia) foram influenciadas, segundo Mattingly, pela ação colonialista de franceses e italianos, que se consideravam herdeiros dos romanos na região. A população local, de origem berbere, foi classificada como selvagem, bárbara e não civilizada. Buscando paralelos entre os imperialismos, antigo e moderno, Mattingly estabelece a existência de uma ação direta entre o exército de ocupação francês e os assentamentos romanos na região. A arqueologia foi, inicialmente, dominada por ex-militares, que procuravam vestígios de fortificações romanas. Na verdade, o que aconteceu foi que muitos sítios arqueológicos que eram áreas agrícolas na Antiguidade foram interpretados como sendo assentamentos militares romanos. Houve uma manipulação dos dados em benefício dos colonizadores.
Com o desenvolvimento dos estudos pós-coloniais, baseados em atitudes de nacionalismo e de resistência, passou-se a considerar que a africanidade estava presente nos nomes púnicos das inscrições de época romana, na religião e em outros aspectos da sociedade dominada, fato que é demonstrativo da atuação dos agentes locais que viviam sob o Império Romano. Mattingly aponta as novas perspectivas necessárias, segundo ele, para que haja o desenvolvimento da arqueologia do norte da África: os estudiosos europeus devem abandonar o discurso colonial; a fase de ocupação romana precisa ser restabelecida no Magreb como uma parte importante de sua herança cultural; é importante a criação de uma nova agenda para a arqueologia clássica na região, uma que servirá às necessidades do turismo, mas que também se preocupará com a história do Magreb e, em última instância, uma mudança na atitude da Academia criará as circunstâncias certas para a utilização da teoria pós-colonial.
A segunda parte do livro de Mattingly é dedicada ao “Poder”. No terceiro capítulo, nomeado “Mudança de regime, resistência e reconstrução: Imperialismo antigo e moderno”, o autor discorre a respeito da atuação romana frente aos seus reinos clientes. Mais uma vez procura-se associar o Imperialismo antigo e o moderno. Apesar das diferenças entre eles, Mattingly defende a ideia de que todos os impérios têm uma base comum na dominação de terras, mares e povos, cujo elemento principal é o “poder”. No final da República e início do Principado foi comum a existência de governantes clientes. Tratava-se de reis locais, que mantinham o seu poder graças ao apoio romano. Estes reinos amigos eram uma forma econômica de se conseguir recursos e extrair tributos. Entre o final do século I a.C. e início do seguinte muitos reinos clientes foram anexados por Roma. O momento de anexação coincidia com a morte do rei e a não aceitação de seu sucessor. Um exemplo famoso é o de Cleópatra Selene, filha de Cleópatra VII e Marco Antônio, casada com o rei Juba II e colocada junto com ele no trono da Mauritânia, reino que originalmente não era de seus pais. Era comum que os governantes romanos apresentassem uma imagem negativa dos reis clientes que foram por eles depostos. No caso da Britânia, Mattingly ressalta que os historiadores colocaram a culpa pela invasão romana nos governantes dos reinos clientes, sendo que os romanos tiveram a intenção de dominar a região e, por isso, incentivavam atritos entre os habitantes locais.
No capítulo seguinte, “Poder, sexo e Império” a temática principal gira em torno da relação entre corpo e poder. Para tanto, Mattingly se apropria dos estudos pós-coloniais e compara aspectos do sexo no mundo romano com as atitudes observadas nas sociedades coloniais modernas. Um assunto específico chamou a atenção do autor – a questão do poder sexual e seus efeitos na formação das atitudes sexuais romanas. Mattingly está preocupado em verificar a influência negativa do poder na sociedade romana, que causou alterações na conduta dos romanos à medida que o Império se expandiu e conquistou vastos territórios. É comum os estudiosos considerarem que as relações culturais entre Roma e suas províncias eram, em certo sentido, igualitárias. No entanto, embora Roma não fosse racista e exclusivista como as metrópoles modernas, o impacto da conquista romana sobre os povos conquistados não pode ser negligenciado. O Imperialismo Romano estava baseado em poder assimétrico, coerção, exploração e violência. Enquanto as antigas abordagens a respeito do Imperialismo Romano tendiam a considerar que os povos dominados não possuíam nenhum papel ativo no seu destino, Mattingly enfatiza que todos os atos de colaboração, participação seletiva e resistência tomava lugar na estrutura dinâmica das relações de poder.
As teorias pós-coloniais servem para observarmos a relação entre ambas sociedades – a que domina e a subjugada – também no que diz respeito ao comportamento sexual. Segundo Mattingly, o comportamento considerado bizarro de certos imperadores é, geralmente, descrito pelos historiadores, mas não analisado. E este deveria ser compreendido em um contexto amplo de sexualidades alternativas proporcionadas pela existência de sociedades coloniais. Orgias romanas míticas podem, então, ser relocadas neste discurso. As fontes romanas e o vocabulário sexual latino revelam um padrão de dominação e práticas que atravessam os limites normativos da moral, do gênero, da classe e da etnicidade. Existem paralelos, neste sentido, entre os imperialismos romano, britânico e norte-americano. Os efeitos desta prática de domínio sexual podem ser observados na população dominada. Mas outra característica importante é a corrupção psicológica da humilhação e degradação sexual – que tem sido um poderoso instrumento de sustentação das diferenças sociais entre governantes e governados nas sociedades coloniais.
A sexualidade romana, no decorrer do tempo, sofreu alterações. De uma tradição comportamental austera adquiriu aspectos eróticos jamais vistos anteriormente. Mattingly se questiona sobre o que aconteceu. A resposta é algo interno à sociedade romana ou foi resultado de seu domínio colonial? Nos primórdios da civilização romana se falava de castidade, respeitabilidade e virtude e o comportamento adequado para as mulheres da aristocracia eram o de fidelidade sexual e de modéstia. Já os homens tinham suas licenças para ter sexo fora do casamento. Com a expansão da riqueza advinda das terras conquistadas e o aumento na quantidade de escravos, a sociedade romana teria sofrido transformações também em relação ao seu comportamento sexual. O exército estabelecido fora da Itália poderia experimentar novas formas de luxúria, colocada por Mattingly em termos de bens materiais, artísticos e acesso a uma culinária diferenciada.
Mattingly propõe deslocar o fenômeno da permissividade romana para o discurso colonial, onde temos a violência e a exploração em relação à sexualidade. O poder colonial inclui exercer o poder sobre os dominados inclusive no âmbito da sexualidade. Nas sociedades coloniais a distância do colonizador da sua terra de origem e sua permanência em um lugar desconhecido favorecia a transgressão às regras. A humilhação sexual dos colonizados, homens e mulheres, era comum. No vocabulário latino e nos relatos das práticas sexuais romanas fica evidente que o falo era um símbolo de poder, além de possuir seu significado propriamente religioso de proteção e de fertilidade. Termos linguísticos para o intercurso sexual estão sempre relacionados aos soldados. É o caso de verbos como penetrar, cortar, cavar e atacar, normalmente associados ao ato sexual masculino. Tanto a vagina (cunnus) quanto o reto (culus) estavam associados metaforicamente a animais, campos, grutas e objetos domésticos. As mulheres e aqueles que se sujeitavam ao papel passivo em uma relação sexual eram considerados de status social inferior. A palavra stuprum significa, em latim, vergonha. Era, por exemplo, chamado de stuprum o ato de um homem exercer a função passiva em uma relação sexual com outro homem, o que o equiparava a um escravo.
Ao tratar das relações de poder Mattingly nos remete às ideias de Michel Foucault (p. 102-103). A sexualidade não é considerada como uma condição natural e sim como produto das relações de poder e resultado do efeito de operações historicamente específicas de diferentes regimes de poder sobre o corpo. Embora Mattingly concorde com Foucault no sentido de considerar a existência de múltiplas formas de relações de poder, discorda deste pela não observação dos fatores que se opunham ao poder. Esta crítica a Foucault foi apresentada primeiramente por Said, preocupado com questões relativas à resistência ao poder dominante. Geralmente, quando se estuda sexo e desejo no mundo antigo não se faz pelo viés das relações de poder e sob a ótica do Colonialismo e do Imperialismo, tarefa a que Mattingly se propõe neste capítulo.
A terceira parte do livro aborda a temática “Recursos”. A questão relativa à economia e à exploração dos recursos das áreas conquistadas é central nos três capítulos que consideraremos a seguir. No capítulo V, denominado “Regiões governadas, recursos explorados”, Mattingly retoma um antigo debate a respeito da economia antiga. Durante muito tempo a historiografia foi dominada pelas ideias de Moses Finley, para quem a economia antiga não poderia ser considerada de mercado ou capitalista como queria alguns autores marxistas, entre eles Michael Rostovtzeff (p. 125). Finley seguia, neste sentido, as ideias desenvolvidas por Karl Polanyi, que postulou o conceito de uma economia “embededd”, imbuída em todas as esferas da sociedade. Estas opiniões divergentes polarizaram o discurso em dois matizes: os formalistas e os substantivistas. Os primeiros considerando a existência de uma economia de mercado, de cunho racionalista e, os últimos, sendo partidários de uma economia primitiva. Mattingly defende que a economia romana possuía ambos os aspectos, primitivo e progressivo, sendo uma economia híbrida. O objetivo de Mattingly é focalizar sua pesquisa no papel do Estado como motor da atividade econômica através de seu status de poder imperial. Sua análise parte das questões atuais a respeito do discurso colonial e não se define pela teoria econômica.
No capítulo VI, “Paisagens do Imperialismo. África: uma paisagem de oportunidade?”, Mattingly aborda uma temática recorrente nas pesquisas arqueológicas atuais, que diz respeito aos estudos da paisagem. A África seria, neste sentido, uma paisagem da oportunidade para os romanos. Pelo trabalho arqueológico foi possível, segundo o autor, identificar o crescimento econômico intensivo nas províncias da África Proconsular e a Numídia, entre os séculos II e IV d.C. Enquanto esta província cresceu, outras, como a da Acaia, diminuiu após a conquista romana. As paisagens provinciais foram o produto de processos complexos de coerção, negociação, acomodação e resistência, sendo exploradas tanto pelos colonizadores como também pela população nativa.
Em “Metais e Metalla: paisagem de uma mina de cobre romana em Wadi Faynan, Jordânia”, capítulo VII, o enfoque está colocado sobre a paisagem desta importante mina de cobre romana, cuja exploração intensiva tinha por objetivo manter o exército romano e o próprio império. Em comparação com as atividades industriais atuais, Mattingly salienta que a poluição causada ao meio-ambiente derivada desta ação humana passada permanece na localidade até os dias de hoje, sendo muito comum a contaminação do solo com chumbo, o que afeta a produção de alimentos e causa doenças em pessoas e animais. Estudos de caso como este de Mattingly são importantes, pois revelam a existência de vários tipos de relações de trabalho nas minas exploradas pelos romanos. Era comum que em uma mesma mina trabalhassem escravos e homens livres. Enquanto na mina de Wadi Faynan prevaleciam indivíduos condenados a trabalhos forçados, geralmente oriundos de populações que tinham se rebelado contra Roma, outras minas como as de granito e pórfiro do Egito (Monte Porfirius e Monte Claudianus) possuíam trabalhadores contratados, que recebiam salário.
“Identidade” é a temática da quarta parte, dividida em dois capítulos. No capítulo oitavo, intitulado “Identidade e Discrepância”, Mattingly apresenta uma nova abordagem para explicar a mudança cultural, que oferece uma alternativa àquela da Romanização. A história tradicional considerava as áreas conquistadas como tendo um papel passivo frente à civilização romana. Uma postura corrente nos estudos atuais, adotada, por exemplo, por autores como Martin Millet e Greg Woolf (p. 206), é considerar o papel ativo das elites locais que estavam sob o domínio imperial romano. Enquanto os membros pertencentes à elite adotavam a língua latina e os novos tipos de vestimenta, adornos e um comportamento romano, aqueles das camadas mais humildes teriam uma experiência mais diluída da Romanização. No entanto, para Mattingly, este modelo falha por considerar que a maioria da população nativa era passiva frente ao Império Romano. Mattingly conclui que, como a identidade está relacionada ao poder, a criação das identidades provinciais não pode ser tomada isoladamente da negociação de poder entre o Império Romano e os povos conquistados. E o que falta no modelo de Romanização é saber como as dinâmicas do poder operam tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Outra abordagem que busca se diferenciar dos estudos tradicionais foi proposta por Jane Webster com o uso do termo “crioulização” (p. 203-204), com a finalidade de visualizar na cultura material vestígios da cultura escrava crioulizada. Mattingly acredita que o uso deste termo é perigoso, pois acabamos por substituir um conceito elitizado, o de Romanização pelo seu oposto, que prioriza os indivíduos de baixo status social. Segundo ele, uma abordagem que combine ambos os lados se faz necessária.
Como observar esta diversidade em uma pesquisa arqueológica? Mattingly retoma as ideias de Sian Jones [2], que defende ser a etnicidade uma forma de identidade que a sociedade constrói (p. 209-210). A solução de Jones para este problema é focar a pesquisa nas culturas locais e comparar grupos de sítios como assentamentos rurais e fortes romanos, por exemplo. Ao trabalhar com estudo de caso de sítios rurais ela demonstra que havia considerável diversidade, que era obscurecida pelo modelo de Romanização com sua tendência em enfatizar a homogeneidade. Mattingly tem dúvidas em dar à etnicidade muita importância nos estudos sobre identidades passadas, mas sabe que tanto no mundo grego quanto no romano os discursos de etnicidade tinham um importante papel. Se a etnicidade era um dos pontos de significância para marcar a identidade, a evidência arqueológica sugere que ela não era uma constante no tempo e no espaço.
Para Mattingly, a identidade deve ser estudada em termos de poder e de cultura. E embora considere a importância do agente ativo nativo na mudança cultural sabe que há limites sobre a habilidade de escolher nossa identidade aos olhos dos outros. Enquanto o processo de conquista e assimilação ao Império Romano promoveu uma delineação profunda de identidades étnicas, vários fatores militaram contra a manutenção disto na longa duração. A identidade étnica dificultava e criava uma barreira para estas sociedades negociarem com Roma. As distinções étnicas, que tornaram-se grandes e significantes durante o processo de expansão imperial, foram, mais tarde, diminuídas como estratégias múltiplas para lidar com a identidade individual e comunal. A construção romana de identidade étnica servia ao propósito de facilitar a violência colonial, ao passo que a nativa servia como forma de resistência durante a fase de conquista.
A heterogeneidade de respostas a Roma não era uniforme e variava conforme o local. Alguns estudos recentes de identidade têm empregado o termo hibridização para definir o resultado do contato cultural entre romanos e nativos. Mattingly, ao priorizar a diferença ao invés da semelhança, defende a utilização do termo “discrepante”, que indica “discordância” e “desarmonia”. O ponto é que as sociedades provinciais romanas poderiam algumas vezes exibir discordância cultural assim como similaridades, que são geralmente celebradas por meio da teoria da Romanização. A principal preocupação do autor é mostrar que os indivíduos e os grupos no período romano foram multifacetados e dinâmicos. O que foi previamente descrito como Romanização representa as interações de múltiplas tentativas de definir e redefinir a identidade.
“Identidade discrepante” possui similaridades com os trabalhos que usam o conceito de agência e teoria da estruturação.[3]Estas teorias enfatizam as escolhas do sujeito na estrutura social (p. 216-217). Mas, no caso de sistemas imperiais, há uma limitação nesta escolha. Então, é preciso balancear o conceito de agência com um exame profundo das influências estruturais. Um ponto a considerar é que as estruturas imperiais afetam os atores locais de diferentes maneiras. Os impactos imperiais sobre as áreas dominadas podem ser observados, geralmente, por meio de atos intencionais perpetrados pelo Império Romano e o consequente comportamento dos sujeitos afetados. Alguns fatores importantes a se considerar pelo pesquisador são elencados por Mattingly (p. 217): 1) o status social (escravos, livres, libertos, bárbaros, cidadãos romanos, não cidadãos etc.); 2) riqueza – as formas de produção econômica (economia de subsistência, de mercado etc.); 3) localização (espaço urbano, rural, zonas civil, militar etc.); 4) trabalho (artesãos, membros de guildas, soldados do exército etc.); 5) religião – sobretudo as seitas exclusivistas como o Mitraísmo, os Cultos de Mistério, Judaísmo e Cristianismo); 6) origem (geográfica ou étnica, tribal etc.); 7) associação por serviço ou profissão ao governo imperial (ou não); 8) aqueles que viviam sob lei civil ou marcial; 9) linguagem e literatura; 10) gênero e 11) idade.
Mattingly exemplifica sua proposta de encaminhamento de pesquisa arqueológica com os dados provenientes da Britânia e do norte da África. Sua abordagem inicial para o estudo da Britânia foi isolar as evidências da comunidade militar, da população urbana e das sociedades rurais. Um dos vestígios mais prementes para observar a identidade discrepante diz respeito à religião, pois é uma esfera recorrente para a marcação de diferenciação social. A religião romano-britânica tem sido frequentemente apresentada como um amálgama de práticas romanas importadas e práticas nativas britânicas temperadas com influências galo-germânicas. Segundo Mattingly, a distribuição dos vestígios de certas práticas em santuários como a presença de altares e de inscrições com maldições são indicadores de que a religião estava associada à identidade social. O exército, por exemplo, tinha cultos muito diferentes daqueles dos civis. Enquanto nas áreas militares predominavam santuários romanos em outras comunidades os templos possuíam características celtas. Inscrições funerárias também servem para demonstrar as diferentes identidades do indivíduo no decorrer do tempo. Por exemplo, o relevo funerário de Regina, esposa de um mercador ou soldado de Palmira que vivia na Britânia, a retrata como uma respeitável matrona romana. Na representação iconográfica ela aparece usando vestimentas e adornos símbolos deste status social. No entanto, pela inscrição da lápide, em texto bilíngue, ficamos sabendo que antes do casamento Regina havia sido escrava de seu futuro marido (p. 218, fig. 8.3).
Em comparação com a Britânia a África era mais rica e próspera, possuindo maior quantidade de inscrições latinas. Léptis Magna, por exemplo, era uma grande cidade da Tripolitânia, habitada por líbios-fenícios, oriundos de casamentos mistos entre fenícios (púnicos, originários de Cartago) e líbios. A identidade púnica era muito parecida com a dos egípcios que viviam sob o domínio romano: servia à elite provincial que circulava pelas estruturas do poder romano, assim como era um marco da identidade local. A cultura material de cunho funerário como estelas, tipos de enterramento e inscrições bilíngues é demonstrativa deste tipo de comportamento.
O último capítulo, o nono, denominado “Valores familiares: Arte e Poder em Ghirza no pré-deserto líbio”, trata da relação entre arte e poder. Nos estudos historiográficos sobre a arte romana normalmente a arte das províncias é retratada como inferior, como sendo uma imitação inadequada daquela produzida no centro do Império. Não havia a preocupação em indagar qual iconografia ou estilo servia aos propósitos indígenas. Faltava também aos historiadores de arte considerar que na Antiguidade não existia separação entre arte e artesanato e também não havia um padrão estético que valesse para todo o Império Romano. A arte era usada por diferentes grupos na sociedade para expressar relações de poder. A arte oficial romana, que se expandia a todas as camadas da sociedade, servia para dar suporte à dominação imperial. No entanto, sabemos que a interpretação da iconografia dependia do contexto e da audiência. Para Mattingly, a adoção do estilo romanizado facilitou a continuação das tradições indígenas.
As tumbas de Ghirza, na Líbia, servem para exemplificar esta questão. Interpretadas à luz da arte romana eram vistas como degenerativas pelos escritores do século XIX e início do XX. Para Mattingly, estas tumbas devem ser consideradas não apenas como monumentos aos mortos, mas também como estruturas que tinham uma continuidade na significância religiosa dos vivos. O objetivo principal de Mattingly, nesta sua pesquisa, foi relacionar a imagética presente nas tumbas com as redes de poder construídas ao redor dos membros vivos e mortos das principais famílias de Ghirza. Sua hipótese é de que existiam duas famílias principais da elite em Ghirza, que procuravam demonstrar poder e status social por meio dos enterramentos e da iconografia funerária. Os chefes das famílias aparecem retratados nas tumbas com cetros e outros elementos simbólicos associados ao poder: vestimentas e adornos, cavalos, cães etc. As mulheres, por sua vez, aparecem representadas usando joias romanas. No entanto, Mattingly conclui que os retratos seguiam o padrão de representação púnico e serviam ao culto ancestral líbio.
Esta série de ensaios de David Mattingly é elucidativa do caminho que a arqueologia romana tem percorrido nos últimos tempos. O conceito de Romanização tem sido colocado em xeque e debatido em vários sentidos. Por isso mesmo, vem sendo utilizado com cautela no sentido de ser uma via de mão dupla, que permita vislumbrar não apenas a ação romana nas províncias, mas também as respostas dos sujeitos subordinados ao Império Romano. O desenvolvimento da teoria pós-colonial foi imprescindível para que vários arqueólogos e historiadores passassem a adotar uma postura mais crítica em relação à Romanização. Este livro de Mattingly é importante no sentido de trazer luz ao debate atual e por propor novas diretrizes para arqueologia romana. O caráter do Imperialismo e Colonialismo romanos, seu impacto econômico, a operacionalidade do poder nas sociedades coloniais e o modo como os indivíduos sob governo imperial construíram suas identidades são pontos-chave de sua proposta (p. 269).
A existência de um “Imperialismo Romano” é defendida enfaticamente no decorrer da obra, sendo que Mattingly não considera que haja problemas na utilização de termos como “Império”, “Imperialismo”, “Colonialismo” e “Colonização”, quando se trata de Roma Antiga. Os estudos sobre Roma foram pautados, no passado, pelo discurso colonialista europeu do final do século XIX e início do XX, do qual os norte-americanos foram herdeiros. Tal fato afetou toda a produção historiográfica que se dedicava aos estudos do Império Romano e possui repercussões até hoje. A teoria da “Romanização” é rejeitada e por meio das abordagens pós-coloniais outros aspectos da sociedade romana podem ser observados, segundo o autor: o dinamismo de seu Imperialismo e Colonialismo; a questão do poder, central para a compreensão da relação entre Roma e suas províncias; a existência de uma “economia imperial”, sendo o vetor econômico pautado pela exploração de recursos um dos pontos que caracteriza o Imperialismo Romano e, por fim, o conceito de “Identidade”, que pode ser usado para se estudar a diversidade e o hibridismo resultado do contato entre romanos e nativos.
Além das proposições teóricas propriamente ditas, Mattingly apresenta sua metodologia de pesquisa, que se detém em interrogar o registro arqueológico procurando exemplos de diferenças no uso da cultura material com o objetivo de saber se tais ocorrências podem ser atribuídas a práticas sociais distintas que foram sendo usadas para expressar noções de identidade na sociedade. O método, derivado da proposta de Sian Jones, está relacionado à abordagem da Arqueologia pós-processual, cuja preocupação com o contexto arqueológico e as questões de status social e poder definem bem este paradigma científico. Desta forma, as “experiências” que se busca traçar do Império Romano estão relacionadas aos vários tipos de ações de Roma e às múltiplas respostas ao Império, que são condicionadas pela região e o período que estivermos analisando. Os estudos arqueológicos permitem esta consideração do contexto para a verificação da atuação das identidades locais. Mattingly exemplifica com suas pesquisas realizadas no Norte da África e Britânia. Mas sua metodologia, resguardadas as diferenças regionais, pode ser aplicada para o Império Romano como um todo.
Alguns autores podem fazer críticas ao modelo de Mattingly pela sua ênfase na questão da diferença e da não uniformidade do Império Romano e, sobretudo, pela sua comparação da atitude imperial romana com a ação imperialista das nações contemporâneas. Ele seria anacrônico ao tomar a experiência de épocas recentes para tentar entender os romanos? Mattingly, em suas considerações finais, tem plena consciência deste fato e se defende dizendo ter uma postura crítica analítica e não se interessar em construir um Império Romano totalmente negativo, em contraposição aos estudos mais antigos, que vangloriavam a grandeza de Roma (p.274-275). Concordo com o autor neste aspecto. A abordagem pós-colonial trouxe novas perspectivas para entendermos situações de colonização e ações imperialistas. Sua utilização em conjunto com a análise do contexto local, por meio de comparações de sítios arqueológicos e da cultura material, é que traz o equilíbrio necessário ao desenvolvimento da pesquisa. É por meio desta combinação de teoria e dados que poderemos tomar ciência da grande diversidade que constituía o Império Romano.
Notas
1. SAID, Edward W. Culture and Imperialism. London: Vintage, 1993. Edição brasileira: SAID, Edward W. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
2. JONES, Sian. Archaeology of ethnicity: Constructing identities in the past and present. London: Routledge, 1997.
3. A referência principal do autor para a Teoria da Estruturação é derivada das ideias de Anthony Giddens, em sua obra: GIDDENS, Anthony. The constitution of society: Outline of a theory of structuration. Cambridge: Polity Press, 1984.
Marcia Severina Vasques – Professora Adjunta do Derpartamento de História – UFRN. Doutora em Arqueologia – USP.
MATTINGLY, David. Imperialism, power, and identity. Experiencing the Roman Empire. Princeton: Princeton University Press, 2011. 342p. Resenha de: VASQUES, Marcia Severina. Revista Porto. Natal, v.1, n.2, p.136-149, 2012. Acessar publicação original [IF].
Power/ Interdependence and Nonstate Actors in World Politics | Andrew Moravcsik e Helen V. Milner
“Power, Interdependence and Nonstate Actors in World Politics”, organizado por Andrew Moravicsik e Helen V. Milner (não traduzido para o português), procura homenagear Robert O. Keohane, um dos fundadores da corrente Neoliberal ou Liberal Institucionalista das Relações Internacionais (RI), junto a Joseph S. Nye Jr.
O livro se divide em três partes: Institutions and Power, The Role of Institutions across Issue Areas e Power and Interdependence in a Globalized World, além da introdução de Milner, que descreve as premissas neoliberais, e a conclusão de Moravicsik, que sumariza e coloca a obra em perspectiva histórica. Leia Mais
Silence in the Land of Logos | Silvia Montiglio
Os antigos gregos possuíam uma “cultura da palavra” ─ todas as esferas da vida pública, como os debates na assembléia, os rituais e o teatro, eram marcados pelo uso dos discursos. A ascensão da Polis contribuiu para desenvolver um tipo específico de “logos” que visava a persuasão por meio de argumentos. [2] Na esteira destas constatações a escritora Silvia Montiglio com seu livro “Silence in the Land of Logos” coloca-nos o seu importante tema de pesquisa: o silêncio e as diferentes práticas do silêncio como um modo discursivo no mundo grego.
O livro é a adaptação da tese de pós-doutorado da autora, defendida em 1995 na École des Hautes Études en Sciences Sociales sob a orientação de Nicole Loraux. Montiglio dialoga então com os grandes nomes do helenismo francês, como Louis Gernet, Jean-Pierre Vernant, Marcel Detienne e Pierre Vidal-Naquet. Já a importância que Montiglio dá à noção de cultura coloca o seu trabalho em uma perspectiva de antropologia histórica.
Na introdução (pp. 3-8) a autora defende o silêncio como uma prática cultural específica que pode ter diferentes significados para variados grupos e que assim pode se transformar de acordo com as mudanças sociais: “If silence is a culturally specific notion, its meanings may be expected to change not only from civilization to civilization, but also within the same civilization across the time.”[3] (p. 4) Montiglio coloca-nos o seguinte questionamento para desenvolver o texto: “Como o silêncio ressoa neste mundo marcado pela voz?” (“How does silence resonate against this vocal background?” – p. 3) É em busca dessa especifidade do silêncio e guiada por sua interrogação que Silvia Montiglio desenvolve os seus oito capítulos que tratam do mundo arcaico ao período clássico ateniense, abarcando desde Homero aos oradores e não esquecendo a leitura dos textos trágicos.
No primeiro capítulo (pp. 9-45), “Religious Silence without an Ineffable God,” Montiglio tenta demostrar o erro em universalizar o significado do silêncio em diferentes práticas religiosas. A análise da autora parte do significado da noção de “inefável” para mostrar que no panteão grego existem graus de silêncio (degrees of silence) exigidos pelas divindades. Assim, são mostrados os silêncios ligados à “iniciação religiosa”, mistérios órficos e a relação entre silêncio, pureza e impureza.
O segundo capítulo (pp. 46-81), “A Silent Body in a Sonorous World: Silence and Heroic Values in the Iliad,” é centrado na Ilíada de Homero, sendo que a autora deseja reconhecer as diferentes representações do silêncio feitas pelo Aedo. O mundo da Ilíada é o lugar da nobreza guerreira, no qual o corpo desempenha um importante papel de diferenciação social. Com este indício, Montiglio procura reconhecer expressões corporais no momento de “estar em silêncio.” É assinalada pela autora a existência de um vocabulário homérico para o silêncio ─ basta citar como exemplo a palavra aneôi, que é usada diante do maravilhoso ou o ficar mudo diante do fantástico, e também o silêncio da concordância que é colocado junto com o verbo agamai.
No capítulo seguinte (pp. 82-115), “The Poet’s Voice against Silence,” é discutida a figura do Aedo e a sua relação com a voz, a verdade e o silêncio. Parte-se então de uma afirmação de Marcel Detienne que coloca o silêncio na poesia arcaica como equivalente ao esquecimento e a culpa e como oposição à memória, a qual é a glória e a verdade cristalizada pela voz. Montiglio desenvolve a sua análise na poesia de Píndaro, na qual ela descreve a oposição entre voz ─ memória e silêncio ─ esquecimento como um mediador poético.
O quarto capítulo (pp. 116-157), “’I Will Be Silent’: Figures of Silence and Representations of Speaking in Athenian Oratory,” concentra-se no silêncio como um artifício de retórica. A pergunta que pode ser feita ao texto de Montiglio é: Como o silêncio é explorado como argumento? Para responder a esta indagação, a autora explica alguns recursos retóricos muito usados na Antigüidade. Entre eles, um chamado praeteritio, que consiste em dizer que não falará de um tema em particular para chamar a atenção do auditório sobre este tema e a aposiopesis, que consiste em fazer um silêncio brusco ao fim de uma frase, de forma a eufemizar certas questões.
Na segunda metade do livro, nos quatro capítulos restantes, Montiglio passa a se dedicar exclusivamente à análise do silêncio na tragédia grega. A especificidade do texto trágico em relação às outras formas discursivas do mundo grego está no problema da ambiguidade. A tragédia grega é construída em sua estrutura por relações ambíguas entre as personagens, entre o coro, entre os atores e os espectadores, entre os homens e o mundo dos deuses. A linguagem do texto não escapa dessa relação na qual a dúvida é sempre intrínseca.
O helenista Jean-Pierre Vernant lembra-nos de uma “multiplicidade de nível” no vocabulário trágico, ou seja, a mesma palavra liga-se a diferentes campos semânticos, pertencendo ao vocabulário religioso, jurídico e político. Cabe retomar uma pequena citação de Vernant que expõe a complexidade da palavra no texto trágico: “As palavras trocadas no espaço cênico têm, portanto, menos a função de estabelecer a comunicação entre as personagens que a de marcar os bloqueios, as barreiras, a impermeabilidade dos espíritos, a de discernir os pontos de conflito”.[4]
A autora, consciente do desafio que é interpretar a linguagem do texto trágico, desenvolve o seu quinto capítulo (pp. 158-192), “Words Staging Silence,” mostrando ao leitor que não podemos esperar semelhanças entre o silêncio no teatro moderno e o silêncio no teatro grego. Montiglio defende a idéia de que a tragédia grega rejeita o vazio em cena e favorece a continuidade do som; por isso, não podemos imaginar longos silêncios em cena no teatro grego. A menção ao silêncio na tragédia pode ser compreendida naquilo que a autora considera uma tendência cultural no mundo grego de associar o não-dito com o não-visto.
O sexto capítulo (pp. 193-212), “Silence and Tragic Destiny,” analisa o silêncio na trama trágica e os resultados que a escolha do falar ou não falar pode dar ao texto. O silêncio é comparado ao Kairos, ou seja, o momento oportuno ─ diferente do Kairos, o silêncio no mundo dos homens pode não refletir o destino, mas um momento confuso das personagens. Montigio ressalta então a diferença entre o silêncio do profeta, o qual mostra um conhecimento superior pois este seu silencio é uma vontade dos deuses, e o dos homens, que ficam em silêncio quando não sabem o desenrolar do próprio destino. No texto são analisadas principalmente as tragédias de Ésquilo e de Eurípides, mas não podemos deixar de lembrar que o Édipo Rei escrito por Sófocles também coloca em cena as diferenças entre a sabedoria do profeta e do herói trágico.[5]
O sétimo capítulo (pp. 213-251), “Silence, a Herald of Death,” anuncia uma complexa relação entre o silêncio e a morte. Montiglio analisa-a e compara diferentes textos gregos com a tragédia, inclusive os textos hipocráticos, nos quais a autora sinaliza diferenças entre o silêncio masculino e feminino. Já o oitavo capítulo (pp. 252-288), “Silence, Ruse, and Endurance: Odysseus and Beyond,” concentra-se na figura de Ulisses e os seus diferentes silêncios dentro do pensamento grego. Inicialmente a autora nos lembra que o silêncio de Ulisses está ligado à mètis, que é um tipo de inteligência ligado ao mundo prático. Nas épicas de Homero os silêncios de Ulisses estão ligados a um jogo de segredo, enquanto que no texto trágico Ulisses aparece com um silêncio ligado à estratégia e ao engano. Cabe lembrar o emblemático Ulisses da peça Filoctetes de Sófocles, o qual é retratado como um sofista dotado de poucos escrúpulos para alcançar o seu objetivo.
Assim, o livro “Silence in the Land of Logos” de Silvia Montiglio é de grande importância para uma historiografia que se preocupa com representações, lutas de representações e práticas discursivas. O tema do silêncio, como colocado pela autora, nos inspira a reavaliarmos a “fala” e a eloquência do “não-falar”. O projeto ambicioso de fazer uma pesquisa abrangente sobre o silêncio na Grécia Arcaica e Clássica, centrada em preocupações culturais, e o caráter antropológico que Montiglio dá ao estudo da História possibilitam uma leitura da autora a partir dos pressupostos da “Nova História Cultural”.
Para terminar esta resenha cabe lembrar de um fragmento de uma tragédia de Sófocles que diz: “My son, be silent! Silence has many beauties.” [6] O livro de Montiglio ensina-nos a compreender algumas dessas belezas.
Notas
2. Para aprofundar o problema do Logos ver o livro de Michel Fattal: FATTAL, Michel. Logos, pensée et vérité dans la philosophie grecque. Paris: L’Harmattan, 2001.
3. Tradução: “Se o silêncio é uma noção culturalmente específica, é de se esperar que os seus significados mudem não só de civilização para civilização, como também dentro da mesma civilização através do tempo.”
4. VERNANT, Jean-Pierre. Mito e tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 1999. p. 20.
5. MARSHALL, Francisco. Édipo Tirano: a tragédia do saber. Porto Alegre: Ed UFRGS, 2000.
6. SOPHOCLES. Fragments. Edited and translated by Hugh Lloyd -Jones. London: Loeb Classical Library, 2003. P. 34, fragment 81. Tradução: “Meu filho, silencia! O silêncio tem muitas belezas.”
Mateus Dagios – Mestrando em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (bolsista CNPq). E-mail: [email protected]
MONTIGLIO, Silvia. Silence in the Land of Logos. Princeton: Princeton University Press, 2000. Resenha de: DAGIOS, Mateus. Aedos. Porto Alegre, v.3, n.8, p.260-263, jan. / jun., 2011. Acessar publicação original
A constitution of many minds: Why the founding document doesn’t mean what it meant before – SUNSTEIN (FU)
SUNSTEIN, C.R. A constitution of many minds: Why the founding document doesn’t mean what it meant before. New Jersey: Princeton University Press, 2009. Resenha de: CONSANI, Cristina Foroni. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.11, n.3, p.343-347, set./dez., 2010.
Uma boa forma de começar a ler um dos mais recentes trabalhos do renomado constitucionalista norte-americano Cass Sunstein é compreendendo o que o autor entende por A Constitution of Many Minds, conceito esclarecido logo no prefácio de seu livro, a saber: quando muitas pessoas pensam algo, seu ponto de vista deve ser levado em consideração nos momentos de interpretação da Constituição, interpretação esta que, segundo seu entendimento, não se restringe ao Poder Judiciário, mas, ao contrário, envolve as opiniões da sociedade democrática como um todo. É exatamente a necessidade de incorporar as considerações públicas relevantes às decisões referentes à legislação constitucional que fundamenta o many minds argument, princípio norteador desse livro que analisa a interpretação constitucional a partir de três enfoques distintos, quais sejam: o tradicionalismo, o populismo e o cosmopolitismo, e que tem como meta principal mostrar o quanto e por que o many minds argument pode ou não ter grande valor.
A estrutura da obra é definida pela possibilidade de encontrar, em cada uma das correntes interpretativas analisadas, um apelo ao many minds argument. O livro é composto por quatro partes. A primeira delas contém apenas um capítulo e está dedicada a discutir e problematizar questões de interpretação constitucional em geral. O autor deixa claro o quão complexa a interpretação pode ser ao apresentar distintas correntes que disputam o modo pelo qual a hermenêutica constitucional pode se dar a fim de aprimorar a Constituição vigente, entre elas são destacadas o originalismo, o perfeccionismo, o tradicionalismo, o populismo e o cosmopolitismo, sendo que a estas três últimas são dedicadas as outras partes da obra. A segunda parte, contendo os capítulos 2, 3 e 4, explora o tradicionalismo, dando principal atenção ao que o autor chama de minimalismo burkeano. A terceira parte, que inclui os capítulos 5, 6 e 7, analisa o Populismo e a forma pela qual o judiciário e outras instituições governamentais devem lidar com a opinião pública nos momentos de decisão de questões controversas, sempre tendo em vista a manutenção da ordem social e o aperfeiçoamento do sistema legal. A quarta e última parte do livro contém somente o capítulo 8 e trata do cosmopolitismo. A principal questão analisada é se e quando as cortes constitucionais devem fazer uso da jurisprudência estrangeira para orientar e fundamentar seus julgamentos.
O debate acerca da influência do many minds argument é introduzido por Sunstein recorrendo à consagrada divergência entre James Madison e Thomas Jefferson, ocorrida nos primórdios da aprovação da Constituição americana, acerca do processo de alteração desse documento. Enquanto para o primeiro as mudanças constitucionais poderiam ocorrer apenas em situações extraordinárias, para o segundo uma constituição deveria ser repensada pelas muitas opiniões de cada geração e, dessa forma, estar sempre aberta a reformas. Sunstein relembra que parece haver um entendimento padrão na sociedade americana: Madison estava certo, Jefferson estava errado, e os Estados Unidos da America têm sido governado pela mais antiga constituição existente, a qual sofreu poucas modificações ao longo de mais de 200 anos.1 Para Sunstein, entretanto, a estabilidade constitucional é um mito e, na prática, ocorre aquilo que o ele chama de “ a vingança de Jefferson”, ou seja, a Constituição americana tem sofrido frequentes reformulações, não por meio de emendas formais, mas sim por meio de práticas sociais e interpretações que tornam o documento atual diferente daquele erigido pelos pais fundadores. A mudança constitucional, assegura Sunstein, “tem ocorrido por meio de julgamentos de muitas opiniões e de gerações sucessivas, de tal forma que captura algumas das esperanças de Jefferson” (Sunstein, 2009, p.3). O ponto central defendido pelo autor é que as mudanças constitucionais “têm sido um produto de processos democráticos ordinários, produzindo ajustes na compreensão constitucional ao longo do tempo” mais do que fruto da interpretação judicial.2 Nesse sentido, sempre que a Suprema Corte estabelece um novo princípio constitucional ou um novo entendimento de um velho princípio, isso nunca se dá em um vácuo social, mas, ao contrário, frequentemente endossa retroativamente um julgamento que encontra amplo suporte social.
A fim de corroborar sua tese a respeito da influência do many minds argument no processo de interpretação constitucional, Sunstein recorre ao Teorema do Júri de Condorcet, segundo o qual grupos agirão melhor do que indivíduos e grandes grupos melhor do que pequenos, desde que duas condições sejam encontradas: (a) a regra da maioria seja utilizada; (b) quando for mais provável que cada pessoa não esteja certa. O autor acredita que o Teorema do Júri possa servir de parâmetro para a lei constitucional uma vez que, enfatizada “a aritmética por trás da teoria pode-se ter pistas de quando many minds argument faz sentido e quando falha” (Sunstein, 2009, p.9).
As possibilidades de sucesso ou de fracasso do many minds argument são então analisadas dentro de cada um dos enfoques eleitos por Sunstein. O primeiro deles é o tradicionalismo. Os defensores desta corrente interpretativa entendem que, no momento da decisão de questões controversas, tradições estabelecidas há longo tempo devem ser levadas em consideração. O autor confere especial atenção, nesta parte de seu trabalho, ao que chamou de minimalismo burkeano, que encontra fundamento nas teses de Edmund Burke, as quais enfatizaram a necessidade de confiar na experiência e especialmente na experiência de gerações, demonstrando grande respeito pelas tradições. Inicialmente Sunstein adverte que existem muitas formas de minimalismos e que o burkeano é apenas uma delas. As interpretações minimalistas caracterizam-se por se realizarem de modo superficial e limitado, considerando poder evitar, desta forma, grandes equívocos e, por outro lado, mostrando um alto grau de respeito com aqueles que discordam em grandes questões. O que chama a atenção de Sunstein nessa corrente interpretativa é exatamente o fato de que as regulações minimalistas deixam amplo espaço para o debate e a discussão democrática.
Além disso, Susntein relaciona o entusiasmo de Burke a respeito das tradições com o Teorema do Júri de Condorcet. Burke considera que as tradições incorporam o julgamento de muitas pessoas operando ao longo do tempo. Se incontáveis pessoas tiverem comprometido a si mesmas com certas práticas, então isso é de fato possível; de acordo com o fundamento de Condorcet, “a ‘sabedoria latente’ permanecerá com eles, principalmente se a maior parte das pessoas estiver certa e não errada. O fato da tradição persistir proporciona uma salvaguarda adicional aqui: a persistência atesta sua sabedoria e funcionalidade, pelo menos como regra geral” (Sunstein, 2009, p.51).
Embora encontre um apelo ao many minds argument nas interpretações tradicionalistas, Sunstein não nega que decisões apoiadas em tradições podem ser problemáticas, pois “algumas tradições não são produzidas pela sabedoria, mas por uma espécie de cascata social, em que práticas persistem não porque diversas pessoas decidem independentemente em seu favor, mas porque as pessoas simplesmente imitam outras” (Sunstein, 2009, p.52). Nesse caso, segundo ele, o tradicionalismo é bastante atrativo quando se trata de temas como separação de poderes, federalismo e direitos de possuir armas, mas, quando se fala em igualdade, esse enfoque tem menos força. Há um grande temor de que as tradições sejam injustas ou arbitrárias, haja vista a sociedade frequentemente progredir submetendo-as a sérias mudanças (como, por exemplo, quando a Suprema Corte considerou inconstitucional a discriminação sexual contra as mulheres, a qual estava pautada no hábito e na tradição, mas não encontrava suporte racional, ou ainda, a decisão que derrubou a proibição da sodomia homossexual). Por fim, o autor considera que uma posição mais adequada seria aceitar a tradição como “o local para começar, mas não para terminar”, uma vez que as cortes poderiam fazer uso de um enfoque mais racionalista, “testando se a tradição é sensata em princípio” (Sunstein, 2009, p.120).
Sunstein definitivamente não é um simpatizante de uma supremacia judicial na interpretação constitucional e também encontra pouca legitimidade nas interpretações originalistas, haja vista não verificar a possibilidade de decisões serem tomadas de forma abstrata, sem considerar o contexto social e o conjunto institucional existente em cada país em uma determinada época. Segundo ele:
Se nós acreditamos que o significado da Constituição é estabelecido pelo entendimento original de seus ratificadores, então o próprio povo está provavelmente pouco equipado para descobrir esse significado, e juízes prestariam pouco ou nenhuma atenção ao desejo do povo. Mas se nós acreditamos que o significado da Constituição é legitimamente estabelecido pela referência a julgamentos morais e políticos, e se as cortes não são especialmente boas para fazer esses julgamentos, então o constitucionalismo popular […] tem uma apelo maior (Sunstein, 2009, p.126).
Assim, o constitucionalismo popular, contrapondo-se ao Originalismo, considera que a interpretação constitucional requer julgamentos de princípios básicos, os quais são mais confiáveis se feitos pelo público do que pelo judiciário. Sunstein analisa essa corrente interpretativa levando em consideração principalmente três aspectos: public backlash (definido como a intensa e sustentada desaprovação pública de uma regulação judicial, acompanhada de passos agressivos de resistência à decisão para retirar sua força legal); as consequências que podem advir de se ignorar o public backlash; e, por fim, a adoção de uma espécie de humildade judicial (judicial humility), que deveria ser encampada pelos juízes diante de casos pouco comuns e de grande relevância, para os quais não houvesse aprovação popular para o seu posicionamento inicial. Sunstein reconhece que, para as visões mais convencionais sobre a interpretação constitucional, a opinião pública é considerada irrelevante, uma vez que a meta central da lei constitucional, ou pelo menos da revisão judicial, é impor supervisão e controle aos julgamentos públicos e, às vezes, até mesmo anular esses julgamentos. Questionando essa visão, o autor apresenta duas razões pelas quais as convicções públicas intensamente asseguradas poderiam importar. A primeira é consequencialista; a segunda é epistêmica.
O consequencialismo é um modo de interpretação segundo o qual o juiz leva em consideração a repercussão de sua decisão, a qual pode implicar o ultraje (outrage) à população. O ultraje é o caso extremo de conflito entre a Corte e a nação, podendo causar até mesmo o não cumprimento da determinação judicial pelos oficiais do governo – Poderes Executivo e Legislativo. Um diferente modo de lidar com o public backlash seria o julgamento kantiano, que consiste em julgar de acordo com a lei, não importando de forma alguma as consequências do julgamento. De acordo com este enfoque, o papel da Corte é dizer o que a lei é, e suas conclusões sobre esse ponto não deveriam ser afetadas pela vontade pública. De fato, uma aguda separação entre lei e política poderia ser pensada para contar com um compromisso com o julgamento kantiano. No contexto de potenciais invalidações, o argumento para o julgamento kantiano parece até mesmo mais forte. Por que deveriam os juízes apoiar medidas inconstitucionais (por exemplo, discriminação racial ou detenções sem o devido processo legal ou restrições à liberdade de expressão) meramente porque o público seria ultrajado se eles se recusassem a fazer isso? A deferência ao ultraje (do) público parece inconsistente com o papel dos juízes em um sistema constitucional. Considerando o ultraje e seus efeitos, restam duas opções: talvez o julgamento kantiano seja realmente a melhor, porque a cegueira em relação às consequências provavelmente produzirá melhores resultados. Contudo, Sunstein considera que, em alguns casos, os juízes têm como obter informações suficientes para saber se o ultraje ocorrerá ou não. Assim, o autor aposta em um uso equilibrado do julgamento kantiano com o julgamento consequencialista.
A razão epistêmica, por outro lado, considera quem teria melhores condições de tomar a decisão correta. Trata-se então de um teste para a força do many minds argument. Para que esse princípio seja realmente levado em consideração, Sunstein acredita que o público deve ter uma visão clara a respeito de fatos e valores capazes de sustentar um posicionamento jurídico. Neste ponto surgem também os problemas relacionados à formação da opinião pública tais como a influência de preconceitos, preferências sistemáticas, efeito cascata e polarização. Entretanto, considerando que o Constitucionalismo Popular, cujas raízes podem ser encontradas no período fundacional, concede amplo papel de interpretação da Constituição ao We the People, mais que ao judiciário, o autor defende que, em circunstâncias raras, mas de grande relevância, os juízes deveriam levar em consideração as convicções públicas não apenas em razão das consequências que podem advir de um julgamento contrário, mas também porque elas podem trazer informações importantes sobre a melhor interpretação da Constituição. Essa atenção dispensada às convicções populares enquadra-se no que Sunstein chama de judicial humility (humildade judicial), que coloca o judiciário numa posição de questionamento a respeito de sua própria capacidade de tomar a decisão correta (se é que a respeito de questões morais e políticas pode-se falar em decisão correta).
A última parte da obra, bastante sucinta, é dedicada à análise do Cosmopolitismo constitucional e, especificamente, se e quando as cortes constitucionais devem levar em conta a jurisprudência estrangeira no momento de interpretar a Constituição. Considerando o many minds argument, o autor acredita que poderia ser interessante para nações cujos sistemas democráticos são bastante jovens buscar informações nos julgamentos de democracias mais antigas.3 Por outro lado, ele entende que nações com longa prática democrática, como os Estados Unidos, possuem um grande número de precedentes e a consulta à jurisprudência estrangeira apenas tornaria mais difícil a decisão ao acrescentar mais elementos para análise. Claro que, fora do campo especificamente judiciário, Sunstein reconhece que os oficiais do governo – dos Poderes Executivo ou Legislativo – não podem ignorar como outros países têm decidido em questões como segurança nacional, mudanças climáticas, legislação trabalhista, entre outras.
Enfim, o many minds argument é invocado para demonstrar que, ao longo do tempo, diversas correntes interpretativas têm atuado, incorporando anseios populares, de forma que o próprio texto da Constituição Americana, no entendimento de Sunstein, não significa atualmente aquilo que significou na época em que foi aprovado. Contrastando com o entendimento de Ackerman4 a respeito dos momentos constitucionais em que o povo se manifesta, Sunstein considera que
[…] mudança constitucional não é meramente um produto de ‘momentos’ em que cidadãos mobilizados suportam reformas em grande escala. Há uma continuidade de pequenas mudanças, produzidas em períodos de relativa estabilidade, para as principais, produzidas quando crises ou movimentos sociais clamam por mudanças (Sunstein, 2009, p.5-6).Sunstein reconhece que o apelo de Jefferson por mudanças constitucionais dirigidas popularmente não é abarcado por essa compreensão de alteração constitucional, haja vista que os mecanismos de mudança raramente invocam procedimentos formais, como Jefferson defendeu. Ao final, a compreensão de Constituição e do processo de alterações delineada nessa obra por Sunstein parece ter um viés mais hegeliano do que jeffersoniano, haja vista ressaltar, assim como Hegel, que as mudanças constitucionais fazem parte de processos contínuos de autointerpretação popular do texto original.5
Por fim, trata-se de um texto bastante didático, o qual aborda e explica alguns dos principais enfoques da interpretação constitucional desenvolvidos no contexto americano e, neste aspecto, é bastante interessante para aqueles que querem iniciar o estudo do tema. Mas também apresenta uma tese, a qual segue na esteira de um antigo debate que se iniciou junto com a própria constituição americana, tendo como interlocutores James Madison e Thomas Jefferson, a respeito das formas de interpretação e das alterações constitucionais. Para Sunstein, a Constituição deve ser mantida como um documento vivo, atual e atualizável pelos anseios da sociedade.
Notas
1 Sunstein enumera as mudanças significativas sofridas pelo texto constitucional de 1787: o Bill of rights – 1789; emendas que ocorreram após a guerra civil – abolição da escravidão, concessão do direito de voto aos afroamericanos, aumento do poder do governo nacional sobre os estados; emendas posteriores que instituíram eleições diretas para senadores e presidente e garantiram às mulheres o direito de voto (Cf. Sustein, 2009, p.2-3).
2 O autor cita como exemplo de mudança que não envolve um julgamento por tribunais a grande autoridade que o presidente tem sobre a segurança nacional, autoridade esta muito maior do que aquela dada originalmente pela constituição; segundo o autor, essa autoridade não é produto de um julgamento da suprema corte, mas sim de julgamentos de uma variedade de pessoas e instituições e, em última análise, do “We the people” (Sustein, 2009, p.4).
3 Dentre essas nações, Sunstein cita Canadá, África do Sul, Hungria e Polônia.
4 De acordo com Bruce Ackerman, existem duas formas de se compreender o processo político: a partir da política constitucional – que consiste nos momentos raros em que o povo é chamado a decidir questões políticas consideradas fundamentais, como ocorreu na elaboração das emendas constitucionais após a guerra civil norte-americana ou no New Deal; e a partir da política normal – aquela feita corriqueiramente pelo Congresso.
5 A compreensão hegeliana a respeito da Constituição pode ser encontrada na obra Linhas fundamentais da filosofia do direito.
Cristina Foroni Consani – Doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista CAPES no PDEE (Columbia University/USA-2010). Florianópolis, SC, Brasil. E-mail: [email protected]
[DR]
The Barbarians Speak: How the conquered peoples shaped Roman Europe | Peter S. Wells
A maioria das pessoas tem a mesma impressão do mundo romano: que a expansão de Roma pelo centro da Europa aculturou os povos dominados, substituindo a cultura nativa existente pelo modo de vida romano. Esta impressão é reforçada pelo fato de que há muito pouca informação ou documentos preservados referentes às populações que habitavam, nos tempos romanos, a área em que hoje ficam a França, Alemanha, os Países Baixos, a Escandinávia, as ilhas britânicas e a Europa oriental. O livro do Prof. Peter S. Wells, quebrando esta impressão hegemônica, se propõe a buscar entender, através da arqueologia, na perspectiva da teoria pós-colonial, o processo de interação entre as populações conquistadas e o império romano.
O relacionamento entre o exército expansionista romano e os povos desta área da Europa teve um evento divisor de águas: a batalha da floresta de Teutoburg. Nesta batalha, cerca de 20 mil soldados romanos foram atacados e completamente derrotados por bandos de guerreiros daqueles povos que os Romanos chamavam de germânicos. Tal derrota chocou o mundo romano e determinou que a fronteira do império se estabelecesse a oeste do Reno e ao sul do Danúbio. Porém, mais importante que isso, os despojos deixados por esta batalha e outros vestígios da ocupação romana, encontrados em escavações arqueológicas de hoje, podem dizer muito sobre a interação dos nativos com os romanos.
A primeira informação importante que pode ser fornecida pelas escavações é a de que espadas romanas, juntamente com outros tipos de material romano, podem ser encontradas em sítios arqueológicos que ficam centenas de quilômetros além da fronteira do império. Estes achados mostram significativa atividade romana em áreas não conquistadas. Wells comenta que o império romano é uma das maiores forças de unificação de que se tem notícia, ligando povos política, econômica, cultural e militarmente, desde o norte da Bretanha e do Estreito de Gibraltar até o Eufrates e o sul do Egito. Comercialmente, a influência romana foi ainda mais longe, de tal forma que Wells traça paralelos do mundo romano com o mundo globalizado de hoje. Neste livro, o exército romano é de grande importância, porque foi responsável pelas conquistas de território e também o principal mediador entre Roma e os povos locais.
A segunda informação importante revelada pelas escavações é a de que o relacionamento dos povos do norte da Europa com os povos mediterrâneos precede a chegada dos romanos na região e, apesar de não compreender-se totalmente a natureza deste relacionamento, atualmente pensa-se que girava em torno do comércio. O relacionamento das elites da região com a cultura mediterrânea era, no entanto, mais complexo que apenas comercial. Professor Wells declara que o aspecto mais significante de toda esta evidência de interação é o de que algumas pessoas na região norte da Europa, num período de até quinhentos anos antes da ocupação romana, começaram a se familiarizar com aspectos do estilo de vida mediterrâneo e claramente os achavam atraentes.
Numerosos autores clássicos falam de mercenários celtas – ou Keltoi, nome dado pelos gregos (Celtae para os romanos) aos povos da Europa central – servindo em exércitos de povos mediterrâneos durante os IV e III séculos a.C. Esta experiência dos mercenários serviu para familiarizar muitos homens da Europa central com o mundo mediterrâneo. A maioria destes homens provavelmente retornou para casa depois de seu serviço, e quando o fizeram, levaram com eles riqueza, conhecimento e ideologias provenientes dos povos mediterrâneos; em pelo menos alguns destes casos deve ter havido o desejo de “imitar” aspectos deste estilo de vida.
O livro descreve os povos que César encontrou na Gália e no norte da Europa como pertencentes a sociedades dinâmicas que estavam passando por processos complexos de mudança em sua economia, organização política e estrutura social. É especialmente importante a evidência cada vez maior de interação entre os habitantes de diferentes regiões da Europa no último século a.C. Havia uma quantidade crescente de bens romanos chegando a comunidades ao norte dos Alpes; o crescente desejo de adquirir estes bens, junto à sua cada vez maior disponibilidade, levou ao desenvolvimento de redes de comércio, por onde estes bens eram levados da Itália romana até a Europa central e ocidental, e mesmo a comunidades mais ao norte.
Por serem as sociedades heterogêneas e complexas quando os romanos marcharam pela Gália Central, não podemos compreender as interações que se iniciaram como simplesmente o exército romano conquistando as “massas” locais. Estes eventos ocorriam em uma época de feroz rivalidade entre as diferentes tribos da Gália. Desde o início dos conflitos, César e outros generais fizeram uso de tropas e métodos de luta locais para alcançar as metas imperiais romanas. César teve sucesso baseado na construção e no cultivo de alianças com muitos grupos de povos da Gália, que se uniram a ele para derrotar os outros.
Segundo Wells, hoje se entende que muito do que Roma construiu na Europa central se deve a alianças com os grupos nativos e a associações com a elite local. Precisamos portanto considerar as populações locais como agentes decisivos no processo. Eles não eram apenas hostis. Em muitas situações, as elites se utilizaram de oportunidades criadas pela aliança com a administração romana, porquanto traziam o aumento de status, poder, prestígio e riqueza.
Como parte das campanhas, os romanos estabeleceram uma série de instalações na região, que não eram apenas fortes militares, mas também bases de suprimentos. Algumas comunidades locais já estabelecidas podem ter assumido esse papel de fornecedor ao exército romano. A presença de grandes forças militares deve ter tido um efeito profundo nos sistemas econômico, social e político locais, mesmo que o confronto militar direto não tenha ocorrido com estas comunidades.
Uma evidência disto é que, em meados do I século d.C., o território em torno do Reno estava se tornando economicamente ativo e rico, em parte por causa da presença de tropas estabelecidas na área. Vilarejos conhecidos como vici se formaram próximos às comunidades militares. Estes lugarejos muitas vezes se desenvolveram e transformaram em centros comerciais e manufatureiros de bom tamanho, e serviam a clientes militares e civis.
Portanto, a mudança que ocorreu na época da conquista romana não foi o estabelecimento de contato e o início da interação entre Roma e os povos que habitavam as terras ao norte dos Alpes. O que ocorreu foi uma mudança de interações causadas por motivos econômicos para uma situação onde Roma exercia alguma medida de controle militar e político sobre estas terras européias. Em todas as situações, evidência textual e arqueológica mostra que existia um padrão complexo de combinação das tradições locais e elementos introduzidos pelo aparato militar e administrativo de Roma.
De uma forma geral, o que se tinha era diversidade. Além disso, a reação às mudanças variava de região para região, de indivíduo para indivíduo. Após a conquista, os grupos locais continuaram a fazer muitas coisas da forma que faziam durante o período pré-histórico. A evidência mais clara da continuidade de práticas tradicionais pode ser encontrada nas cerâmicas. Os arqueólogos que trabalham em escavações do período romano há muito reconheceram a presença de cerâmica do estilo tardio da Idade do Ferro nestes locais.
Wells pede que consideremos dois processos opostos que operavam ao mesmo tempo. Em contraste com as forças de homogeneização representadas pelos centros urbanos romanos, as bases militares e o seu pessoal, e as elites locais que em muitos aspectos se transformaram em membros da aristocracia imperial, a evidência arqueológica mostra que muitas populações nativas reagiram contra a tendência para a uniformidade através da criação de padrões regionais distintos de enterros, práticas rituais e estilos de cerâmica, usando estas formas de expressão para criar um necessário senso de identidade pessoal e coletiva, mesmo que de modo geral continuassem sob dominação de uma autoridade estrangeira.
Existe evidência arqueológica e textual de interação através das fronteiras. Esta interação teve dois resultados para a Europa central: o primeiro foi a gradual homogeneização das sociedades dos dois lados da fronteira; outro foi a formação, durante o século III, de grandes confederações tribais entre os povos além da fronteira. A dinâmica criada por estes dois processos criou as condições necessárias para que se iniciasse a luta na região pela independência de Roma. Por mais de duzentos anos as fronteiras do império sobreviveram intactas. Então, por volta de meados do século III d.C., Roma se rendeu aos freqüentes ataques na fronteira e tirou suas defesas da parte superior do Danúbio e do Reno.
O resultado da interação entre estes povos e o império romano foi a formação de novas e dinâmicas sociedades, que incorporavam de maneira diversa tanto elementos da tradição local quanto os do mundo mediterrâneo. Este livro sugere que o modelo de interação estudado pode ser aplicado a outros impérios em outros períodos históricos; que em todas as instâncias de interação entre uma sociedade maior e mais complexa e uma menor e menos complexa, não podemos presumir que a maior irá predominar através de força política, militar ou econômica. Sociedades menores têm recursos diversos e pouco estudados que possibilitam que elas tenham um papel determinante no resultado desta interação.
Assunção Medeiros – Professora (Cândido Mendes). E-mail: [email protected]
WELLS, Peter S. The Barbarians Speak: How the conquered peoples shaped Roman Europe. Princeton/New Jersey: Princeton University Press, 1999. Resenha de: MEDEIROS, Assunção. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.1, n.2, p.68-70, 2001. Acessar publicação original [DR]
Houses and Society in Pompeii and Herculaneum | Andrew Wallace-Hadrill
Resenhista
Pedro Paulo A. Funari
Referências desta Resenha
WALLACE-HADRILL, Andrew. Houses and Society in Pompeii and Herculaneum. Princeton: Princeton University Press, 1994. Resenha de: FUNARI, Pedro Paulo A. Diálogos. Maringá, v.2, n.1, 233 -236, 1998. Sem acesso a publicação original [DR]



