Posts com a Tag ‘Raça’
The religion of life: eugenics/race/and Catholicism in Chile | Sarah Walsh
Las trayectorias biográficas del ex dictador militar Augusto Pinochet y el ex presidente socialista Salvador Allende parecen tener puntos de encuentro. Ambos, nacidos en las primeras décadas del siglo XX, fueron testigos de una serie de cambios culturales, políticos y sociales en la historia contemporánea de Chile. Pinochet y Allende realizaron sus estudios secundarios en prestigiosos colegios en la ciudad de Valparaíso, y ambos compartieron valores sociales que emergieron como ejes claves del bienestar del país: la familia, los vínculos matrimoniales y el compromiso público por la nación. Leia Mais
A Vulva é uma Ferida Aberta e Outros Ensaios | Gloria Anzaldúa
Gloria Anzaldúa | Imagem: American-Statesman
O ato de falar e de escrever é marcado por relações de poder e atravessado por modelos epistemológicos que tentam suprimir línguas e formas de existir (Conceição EVARISTO, 2021). Questiona-se: quem ousa falar tem o poder de se fazer ouvir? É da complexidade que envolve essa pergunta que sugerimos a leitura de Gloria Anzaldúa. A autora, ao produzir teorias sobre a sua existência nas fronteiras, dá cores e tons a sua linguagem insubmissa que desafiou os olhos do homem branco. A tradução do livro de Gloria Anzaldúa, A Vulva é uma Ferida Aberta e Outros Ensaios, foi lançada no Brasil em 2021, pela editora A Bolha.
O livro reúne seis ensaios e um poema produzidos em momentos distintos da sua carreira. Neles se encontra uma amálgama de discussões sobre as questões de mestiçagem, fronteira, raça, gênero, sexualidade, classe, saúde, espiritualidade, escrita e linguagem, que são questões centrais em sua obra. Cláudia de Lima Costa e Eliana Ávila (2021), tradutoras da obra de Gloria Anzaldúa no Brasil, assinam o prefácio do livro e destacam a importância da autora para o surgimento da discussão sobre diferenças – sexual, étnica e pós-colonial – no bojo feminismo norte-americano. Já o posfácio é um ensaio de AnaLouise Keanting (2021), professora na Texas Women’s University, em estudos de mulheres, e é a atual depositária do Gloria Anzaldúa Literary Trust. Nesse texto encontramos uma importante reflexão sobre as teorias mais recentes de Gloria Anzaldúa, pós-Borderlands/La Frontera, tornando a leitura de A Vulva é uma Ferida Aberta e Outros Ensaios ainda mais instigante. Leia Mais
O Massacre dos Libertos. Sobre Raça e República no Brasil (1888-1889) | Matheus Gato
Matheus Gato I Imagem: CBN Campinas
O Massacre dos Liberto. Sobre Raça e República no Brasil (1888-1889) de Matheus Gato traz para a “sala de estar historiográfica” um acontecimento relegado pela calendário oficial, ocorrido em São Luís do Maranhão, durante o processo de instauração da República Brasileira, chamado “Massacre de 17 de Novembro”. 1
O boato que o golpe militar iria restaurar a escravidão mobilizou a grande população negra da cidade para protestar contra a Proclamação da República, em frente a sede do jornal republicano O Globo. A mobilização foi reprimida pela tropa postada na frente do edifício para garantir a “lei e ordem”, que abre fogo contra a multidão de negros ocasionando mortes e muitos feridos. Leia Mais
Estados Unidos. Uma História | Vitor Izecksohn
Vitor Izecksohn é professor do Instituto de História da UFRJ e pesquisador do CNPq e tem tido, nos últimos anos, uma trajetória dupla. De um lado, é autor de vários estudos relacionados à história militar brasileira, especialmente no diálogo com a história social. Destacam-se, nessa produção, seus trabalhos relacionados ao exército imperial: a formação do corpo de oficiais, o recrutamento, a organização das milícias, etc. De outro, ele é um especialista na história dos Estados Unidos, especialmente a história militar, entre a independência e o final da Guerra Civil, ou seja, entre 1776 e 1865. Leia Mais
In the shadow of Enoch Powell: Race/ locality and resistance | Shirin Hirsch
Shirin Hirsch | Imagem: MEN
In the spring of 1968, Enoch Powell gave his infamous ‘Rivers of Blood’ speech (p 1). In the shadow of Enoch Powell: Race, locality and resistance explores its aftermath, successfully synthesising histories of Powell as a political figure, the local community of Wolverhampton, and, to a lesser extent, the nation.
The greatest strength of the book is its nuanced approach to this history. It adds complexity to our understanding of this period of British history by exploring the contradictory ambiguities present in daily lives. Hirsch writes that Powell’s populist racism was ‘challenged by the realities of work and changes within the trade union movement’ (p 92). Reflecting experiences of the racialised migrant communities of Wolverhampton, the book brings to light the interconnected histories of antiracism and of fear (p 112). Hirsch balances moments of racial tensions with moments of joy and solidarity throughout. She presents a positive history of Black people in Britain, a celebration of antiracist resistance, and an assertion that this is important British history. Leia Mais
Selling Black Brazil: Race/Nation/ and Visual Culture in Salvador/Bahia | Anadelia Romo
Em seu novo livro, a historiadora Anadelia Romo explora a construção de Salvador da Bahia como uma cidade “negra” por meio de uma fonte inovadora: guias turísticos ilustrados da cidade, escritos em português, dirigidos ao público nacional, em um momento de expansão do turismo doméstico (décadas de 1940-1960). Os guias, na sua maioria escritos por romancistas, jornalistas ou acadêmicos conhecidos, documentam mudanças importantes nas concepções de identidade local e regional. Mas eles são especialmente reveladores, argumenta Romo, pelas formas com que suas ilustrações ajudaram a estabelecer uma nova iconografia da cidade – uma iconografia que, ela argumenta, tornou-se “aceita como comum e natural” (p. 9), mas (naturalmente) possui uma história complexa e reveladora. Selling Black Brazil conta essa história. Leia Mais
Modernidade em preto e branco: arte e imagem/raça e identidade no Brasil | Rafael Cardoso
De vez em quando, aparece um livro que desloca o debate em torno de um determinado assunto de tal forma que se torna impossível, ou, no mínimo, desaconselhável, entrar na discussão sem lidar com ele. Estes livros raramente apresentam argumentos inteiramente novos, mas conseguem captar e sintetizar de modo instigador uma crítica que circula há algum tempo. Como trechos de pavimentação sobre caminhos de terra, eles se estendem e solidificam trilhas previamente batidas. É o caso do novo estudo de Rafael Cardoso, Modernidade em preto e branco, que defende uma compreensão temporalmente expansiva do modernismo brasileiro que desafia o “mito de 1922” associado à Semana de Arte Moderna em São Paulo, descrita como uma cidade “ainda provinciana apesar de sua grande prosperidade” (p. 18). As inovações estéticas da geração anterior foram ofuscadas por este mito propagado por intelectuais paulistas durante a segunda metade do século XX. O centenário da Semana de 1922 ocasionou uma infinidade de eventos e publicações, em grande parte comemorativas, tornando a Modernidade em preto e branco uma intervenção bem-vinda. Bem escrito e enriquecido com uma impressionante coleção de ilustrações coloridas, está destinado a se tornar um clássico da historiografia da modernidade cultural brasileira. Leia Mais
De que lado você samba? Raça/ política e ciência na Bahia do pós-abolição | Gabriela dos Reis Sampaio, Wlamyra Ribeiro de Albuquerque
Os historiadores da escravidão no Brasil têm feito milagres com os documentos dos períodos colonial e imperial para escrever uma valiosa história dos escravizados. Está menos estabelecida, contudo, a questão sobre o que aconteceu com esses mesmos indivíduos com o advento da abolição e, especialmente, com o advento da República. E a natureza ambígua da Primeira República no Brasil ― imposta por um golpe militar contra uma monarquia que presidira a abolição ― torna a realidade dessa transição política ainda mais ambivalente. De que maneira os ideais republicanos abriram espaço para garantir direitos e autonomia aos negros, e de que maneira os mesmos ideais foram usados para impor a continuidade e o controle? Gabriela dos Reis Sampaio e Wlamyra Ribeiro de Albuquerque examinam ambos os lados desse debate para concluir que os primeiros anos da era republicana trouxeram tanto novos espaços como novos controles para a população negra; mas a análise elegante das autoras imprime uma ênfase decisiva no último aspecto e expõe as atitudes repressivas das elites republicanas para manter suas posições no topo das hierarquias racial e política. Conforme elas escrevem com eloquência, Leia Mais
O massacre dos libertos: sobre república e raça no Brasil | Matheus Gato
À luz da “sociologia histórica do racismo”, a obra de Matheus Gato narra e analisa um trágico confronto envolvendo libertos, policiais e republicanos, em São Luís do Maranhão, dois dias após o golpe militar que derrubou a Monarquia. Aos gritos de morras à República, um grande número de homens negros (alguns sobrestimaram em 3000 deles) cruzou as ruas da cidade desde a manhã daquele dia. Leia Mais
Sex, skulls, and citizens: gender and racial science in Argentina (1860-1910) | Ashley Elizabeth Kerr
Todos nuestros huesos persisten al paso del tiempo. Son los últimos registros del archivo viviente que llamamos cuerpo. Frágiles e indestructibles, los restos óseos resisten archivados bajo tierra (o minan) nuestro vínculo con el pasado. Esto parece aún más evidente en una Argentina en la que los restos humanos se han transformado en poderosos agentes de las narrativas históricas. Quizás un ejemplo paradigmático de esto sean los restos de las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar, que, activados por los equipos de antropología forense y los organismos de derechos humanos, se transformaron en actores indiscutibles en los procesos por la verdad, la memoria y la justicia.
Sex, skulls and citizens aborda otros restos: aquellos que durante décadas permanecieron como botines de guerra en las vitrinas de los museos. Este libro se ocupa de aquellos cuerpos violentados por el proyecto expansionista del Estado argentino para indagar sobre los puntos de contacto entre ciencia, raza y sexualidad en la formación de la argentina moderna. Leia Mais
Modernity in Black and White, art and image, race and identity in Brazil, 1890–1945 | Rafael Cardoso
Pensar modernidade nos grandes centros urbanos nas primeiras décadas do século XX é, principalmente quando se leva em consideração a perspectiva dos trabalhadores nacionais de origem afrodescendente, acompanhar o processo de reorganização do espaço urbano de forma a reproduzir os padrões europeus em detrimentos de influências culturais negras. As principais cidades do Brasil foram buscar inspiração, principalmente, nas referências francesas e mobilizaram os recursos possíveis para controlar as manifestações de origem africanas ou indígenas. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, em nome da modernidade, as populações empobrecidas foram empurradas para os locais mais distantes e sem estruturas, iniciando um processo histórico de marginalização nos principais centros urbanos.
Os pesquisadores do campo da História Social, a partir de diferentes olhares e fontes, observaram o entusiasmo de estadistas com a construção de grandes avenidas, o empenho de sanitaristas com o combate às epidemias que assolavam a população, além de práticas do cotidiano que possibilitaram a contenção de indivíduos não brancos em espaços que representariam o progresso da nação brasileira1. Entre os temas debatidos também destacaram o impacto dos imigrantes europeus nas dinâmicas sociais daquele período, que convergiam para a construção de um Brasil moderno embranquecido. A partir de ideias concebidas no pensamento raciológico europeu, parte da classe política e da intelectualidade brasileira passou a condicionar o lugar do país na modernidade à constituição de uma nação branca nos trópicos em um período de longo prazo. Leia Mais
Madre y patria!: eugenesia, procreación y poder en una Argentina heteronormada | Marisa Adriana Miranda
Marisa Adriana Miranda | Foto: Universidad Nacional de La Plata
 El último libro de la investigadora Marisa Miranda es una obra crucial para el desarrollo de los estudios sobre las sexualidades, la eugenesia y los cuerpos en Argentina. Situado y crítico, este trabajo establece una línea de tiempo de larga duración, donde da cuenta de los complejos dispositivos que legitiman el ideario de la preocupación por la descendencia. Atraviesa y desnuda las lógicas que construyen el ideario eugenésico en el país, en clave de género, y propone volver a mirar la preocupación poblacional bajo la lupa de la maternidad y la raza como obligaciones patrióticas durante el siglo XX. Este libro constituye un aporte superador a los debates sobre la eugenesia en Argentina. El lugar de la heteronormatividad – como dimensión futura del eugenismo –, el catolicismo, sus dimensiones legales y culturales, y sus instituciones son parte esencial del análisis innovador de la prolífera investigadora.
El último libro de la investigadora Marisa Miranda es una obra crucial para el desarrollo de los estudios sobre las sexualidades, la eugenesia y los cuerpos en Argentina. Situado y crítico, este trabajo establece una línea de tiempo de larga duración, donde da cuenta de los complejos dispositivos que legitiman el ideario de la preocupación por la descendencia. Atraviesa y desnuda las lógicas que construyen el ideario eugenésico en el país, en clave de género, y propone volver a mirar la preocupación poblacional bajo la lupa de la maternidad y la raza como obligaciones patrióticas durante el siglo XX. Este libro constituye un aporte superador a los debates sobre la eugenesia en Argentina. El lugar de la heteronormatividad – como dimensión futura del eugenismo –, el catolicismo, sus dimensiones legales y culturales, y sus instituciones son parte esencial del análisis innovador de la prolífera investigadora.
Miranda avanza en el estudio de las lógicas que imperaron en el modelo patriarcal en Argentina. Desde una matriz foucaulteana, propone ejes que ordenan su trabajo y provocan a sus lectores a la hora de construir una problematización sobre los cuerpos. La temporalidad abordada requiere de una dimensión densa y profunda de variables relacionadas. Leia Mais
Becoming Free – Becoming Black: Race Freedom and Law in Cuba – Virginia and Louisiana | Alejandro de la Fuente e Ariela J. Gross
Ariela J. Gross e Alejandro de la Fuente | Foto: Medium |
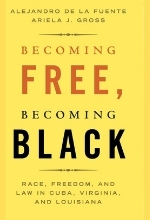 Em tempos que reascendem os debates sobre o racismo institucional nas Américas, a publicação de Becoming Free, Becoming Black responde tanto às demandas do presente quanto aos dilemas que moveram as ciências humanas ao longo do século XX. Após décadas de pesquisas que revelaram as desventuras de sujeitos escravizados, pelo cotidiano do cativeiro e pelos labirintos jurídicos, Ariela Gross e Alejandro de la Fuente dão um passo à frente, assim como uma mirada atrás. Reivindicando teórica e metodologicamente uma história “de baixo para cima”, os autores revisitam os debates clássicos sobre a relação entre a escravidão, o direito e a constituição de diferentes regimes raciais no continente, ao empreender um ambicioso estudo comparativo sobre Cuba, Virgínia e Louisiana entre os séculos XVI e XIX. [3]
Em tempos que reascendem os debates sobre o racismo institucional nas Américas, a publicação de Becoming Free, Becoming Black responde tanto às demandas do presente quanto aos dilemas que moveram as ciências humanas ao longo do século XX. Após décadas de pesquisas que revelaram as desventuras de sujeitos escravizados, pelo cotidiano do cativeiro e pelos labirintos jurídicos, Ariela Gross e Alejandro de la Fuente dão um passo à frente, assim como uma mirada atrás. Reivindicando teórica e metodologicamente uma história “de baixo para cima”, os autores revisitam os debates clássicos sobre a relação entre a escravidão, o direito e a constituição de diferentes regimes raciais no continente, ao empreender um ambicioso estudo comparativo sobre Cuba, Virgínia e Louisiana entre os séculos XVI e XIX. [3]
De partida, Gross e de la Fuente fazem de Frank Tannenbaum seu antagonista e, também, em menor grau, uma inspiração. Assim como em artigos publicados anteriormente, eles reforçam as críticas a Slave and Citizen, em especial às premissas teóricas, que atribuíram às normas escritas nas metrópoles um papel determinante dos rumos das sociedades coloniais. Igualmente contestada foi a projeção das diferenças raciais entre os Estados Unidos e a América Latina ao passado, como se decorressem de um devir inevitável, fundado pelos regimes jurídicos anglo-saxão e ibéricos. Por outro lado, tanto a historiografia revisionista (que preteriu o direito e a religião pela economia e a demografia) quanto os estudos recentes no campo da cultura legal, se limitaram a demolir o modelo de Tannenbaum, sem oferecer uma interpretação definitiva sobre as origens das diferenças raciais nas Américas. Assumindo o desafio, Gross e de la Fuente resumiram ainda na introdução seu postulado: não foi o direito da escravidão, mas o direito da liberdade o elemento crucial para a constituição dos regimes raciais no continente.[4]
Embora a maioria dos homens e mulheres escravizados jamais tenha rompido as correntes do cativeiro, a minoria que conquistou a alforria, constituindo comunidades negras livres, teria sido a chave para a construção da raça nas Américas. Gross e de la Fuente convidam o leitor a embarcar em uma longa jornada, que se inicia na travessia atlântica e na colonização de Cuba, Louisiana e Virgínia, perpassa as águas turbulentas da Era das revoluções, para enfim desembarcar nos regimes raciais do século XIX, cujos legados se estendem até hoje. Antecipando suas conclusões, os autores sustentam que as diferenças entre as três regiões não decorreram do reconhecimento da humanidade dos escravizados e tampouco da fluidez racial. O fator determinante teria sido o grau de sucesso das elites escravistas na imposição da relação entre branquitude e liberdade, e entre negritude e escravidão. O enunciado contém um dos principais manifestos políticos do livro, mas deixa uma questão em aberto-que será retomada adiante.
Os dois capítulos iniciais transitam pelas sociedades coloniais de Cuba, Virgínia e Louisiana, partindo do regime jurídico e da experiência espanhola das Américas. Embora as Siete Partidas reconhecessem a humanidade das pessoas escravizadas, o efeito prático do precedente social e legal dos ibéricos foi a definição prévia das distinções raciais por lei. A inversão do pressuposto de Tannenbaum é radical. A escravidão em Portugal e o princípio da limpeza de sangre na Espanha ofereceram aos ibéricos as pré-condições para o pioneirismo na criação de regimes legais racializados na América. Nesse ponto, os autores cederam em parte a Tannenbaum, identificando, na raiz romanista do direito ibérico, a alforria como instituição sólida. Mas incorporando as contribuições da historiografia recente, eles avançaram ao demonstrar como, em solo americano, foram os escravizados-no caso, os da ilha de Cuba-que fizeram da norma uma tradição e, por conseguinte, um direito.
Em paralelo, o colonialismo francês constituiu seu próprio regime no Caribe por meio das diferentes versões do Code Noir, que progressivamente restringiram tanto a alforria e os direitos das comunidades negras livres. À época da ocupação da Louisiana, a experiência e os precedentes normativos serviram à constituição do regime mais excludente do Império francês, mas que ainda assim não cerceou em absoluto a liberdade e o direito de negros livres, especialmente em Nova Orleans. A Virgínia, por sua vez não contou com precedentes legais ou experiências coloniais prévias. Sem incorporar os precedentes de Barbados e da Carolina do Sul, a colônia inglesa se converteu em uma espécie de laboratório, onde as diferenças raciais não estavam pré-determinadas jurídica ou socialmente. Invertendo mais uma vez as premissas de Tannenbaum, Gross e de la Fuente desvelam uma Virgínia relativamente aberta à prática da alforria e à formação de comunidades de negros livres no início do século XVII.
Privilegiando as fontes jurídicas, com destaque para as ações de liberdade, os autores esbanjam rigor metodológico sem comprometer a fluidez da narrativa de pessoas escravizadas que recorriam à justiça. Embora esse procedimento fosse comum nas três regiões no século XVII, ela se manteve constante em Cuba, enquanto rareou na Virgínia e na Louisiana no século XVIII, onde também aumentaram as restrições aos casamentos inter-raciais. De acordo com Gross e de la Fuente, essa progressiva distinção na trajetória das sociedades escravistas em questão não foi o resultado da pretensa benevolência ibérica, mas de razões econômicas, demográficas e de gênero. Eram principalmente as mulheres que conquistavam a alforria, predominantemente de forma onerosa, e consequentemente serviam à reprodução das comunidades negras livres. Os franceses precocemente haviam fechado o cerco às manumissões, embora incapazes de pôr fim à presença de negros livres em Nova Orleans. Enquanto isso, a Virgínia transitou gradualmente de uma sociedade desregulada para a mais restritiva das três, especialmente após a Rebelião de Bacon, em 1676.
Recuperando a interpretação de Edmund Morgan, segundo o qual as restrições visavam à solidariedade branca contra a aliança entre servos brancos, indígenas e negros, os autores acrescentam argumentos econômicos e políticos. A conversão da Virgínia em uma sociedade escravista começara antes mesmo da revolta, por conta do barateamento do preço de africanos em relação ao custo da servidão. Fortalecida, a elite virginiana conseguiu a um só tempo restringir as alforrias e solidificar a solidariedade branca na colônia, diferentemente de seus pares de Louisiana e de Cuba, que foram incapazes de abolir um precedente jurídico estabelecido. A consequência foi a formação de comunidades negras livres e miscigenadas de diferentes tamanhos nas três regiões, e não favorecidas pelas elites, mas maiores ou menores de acordo com sua capacidade de resistir aos esforços para evitá-las. No final do segundo capítulo, Gross e de la Fuente retomam sua hipótese, insistindo que as elites de Cuba, Virgínia e Louisiana tentaram igualar a raça negra à escravidão, pois enxergavam nos negros livres uma ameaça à ordem. As diferenças, contudo, não decorreram do precedente legal, mas das diferentes realidades sociais e demográficas que permitiram o maior sucesso na Virgínia e na Louisiana, e o menor em Cuba.[5]
Tema do terceiro capítulo, a Era das Revoluções consistiu no período de maior aproximação entre as três regiões, onde tanto as alforrias quanto as comunidades negras livres cresceram. Ao mesmo tempo, a escravidão avançou nos territórios, respondendo aos estímulos do mercado mundial. Em Cuba e na Louisiana, o paradoxo era apenas aparente, pois a alforria era uma tradição jurídica e socialmente vinculada ao cativeiro. Já na Virgínia a libertação de escravizados se associou ao ideário da independência. Enquanto as comunidades negras livres de Havana e de Nova Orleans eram fruto do Antigo Regime, a de Richmond respirava os ares da revolução. Consequentemente, as elites virginianas reagiram ao horizonte que se abria, seguidos por seus pares do Vale do Mississippi, recentemente integrados aos Estados Unidos e movidos pelos interesses açucareiros e algodoeiros. Entre 1806 e 1807, a promulgação do Black Code da Louisiana e de uma série de leis na Virgínia restringiram a alforria e os direitos dos negros livres, dando o tom de um regime racial que chegaria à maturidade em meados do século XIX, apartando em definitivo o modelo estadunidense do cubano.
O movimento esboçado nos Estados Unidos se agravou entre as décadas de 1830 e de 1860, das quais tratam os capítulos finais do livro. Neles, Gross e de la Fuente esboçam uma guinada metodológica, organizando-os a partir de eixos temáticos, em vez de compararem pormenorizadamente as ações de liberdade em cada um dos espaços. Nas páginas que seguem, os autores descrevem o recrudescimento das forças e discursos escravistas nos Estados Unidos, como reação ao avanço do abolicionismo e de revoltas como a de Nat Turner. A elite cubana enfrentou seus próprios inimigos, pressionada pela campanha da Inglaterra contra o tráfico de africanos e ameaçada frontalmente por um ciclo de resistência dos escravizados, que se estendeu da revolta de Aponte, em 1812, à de la Escalera, em 1844. As três elites compartilharam do temor de que se formassem alianças entre negros livres e escravizados, como ensaiado mais propriamente em Cuba. Por meio de leis restritivas à alforria, além de políticas de remoção das populações negras livres, para fora dos estados ou do país, as elites da Virgínia e da Louisiana deram passos largos no sentido da construção de um regime racial pleno, em que a negritude fosse sinônimo não apenas de degradação, mas do cativeiro. De acordo com os autores, houve esforços similares em Cuba, assim como ataques às comunidades negras livres, mas estes não foram sistêmicos ou capazes de cindir as mesmas linhas raciais dos Estados Unidos.
Na década de 1850, Cuba, Virgínia e Louisiana eram sociedades escravistas maduras, nas quais os negros eram tidos como social e legalmente inferiores. No entanto, o processo de destituição de direitos foi muito além nos Estados Unidos, dando forma a um regime racial particular, que destoava daqueles desenvolvidos na América Latina. Retomando o debate com Tannenbaum na conclusão do livro, Gross e de la Fuente, arrolaram as variáveis que incidiram sobre a diferenciação dos regimes nos três territórios. As tradições legais teriam tido o seu peso, embora não nos termos propostos em Slave and Citizen. Os ibéricos teriam sido pioneiros na criação de legislações raciais, mas o reconhecimento jurídico da alforria cindiu a brecha por onde mulheres e homens escravizados encontraram seus tortuosos caminhos para a liberdade. A agência dessas pessoas e a mobilização do direito “de baixo para cima”, portanto, teria cumprido um papel central, tão ou mais importante que o precedente normativo. Consequentemente, os negros livres de Cuba fizeram da tradição um direito e de suas comunidades uma realidade incontornável para a elite da ilha.
Nesse sentido, o fator determinante na formação dos diferentes regimes raciais, segundo os autores, foi o tamanho das comunidades negras livres, que pressionavam pelo reconhecimento de direitos e dificultavam o cerceamento das alforrias. Um segundo ponto levantado pelos autores foram os diferentes regimes políticos. A constituição de uma democracia liberal nos Estados Unidos entrelaçou os princípios da liberdade, da igualdade e da cidadania, tendo por contrapartida os esforços reacionários que negaram seu acesso à população negra. Enquanto a democracia branca se consolidava ao Norte, Cuba preservou sua condição colonial, assim como as hierarquias políticas locais. A liberdade de uma parcela minoritária de negros respondia antes a uma tradição do Antigo Regime do que à extensão da cidadania. Não havia necessidade de uma ideologia supremacista racial onde sequer vigia o pressuposto da igualdade.
Na conclusão, Gross e de la Fuente reforçam o postulado de abertura, segundo o qual as elites de Cuba, da Virgínia, da Louisiana buscaram constituir a dicotomia perfeita entre raça e escravidão. Frente à resistência das comunidades negras livres, nenhuma delas obteve o êxito pleno, mas as estadunidenses foram mais bem sucedidas. Não há dúvidas de que na Virgínia, na Louisiana e em grande parte do sul dos Estados Unidos, prevaleceram esforços nesse sentido. Mas a despeito de discursos e medidas legais apresentados pelos autores, não se depreende da narrativa e das fontes que a elite cubana tenha se dedicado à questão com o mesmo afinco. Em mais de uma passagem, Gross de la Fuente relativizam seu próprio enunciado, reconhecendo que as autoridades de Cuba preferiram não se contrapor à tradição legal e aos direitos de comunidades estabelecidas. Seguindo os passos dos próprios autores, é possível levar a questão além.
Se como dizem Gross e de la Fuente, os ibéricos foram pioneiros da constituição de regimes raciais legalizados, eles também foram os primeiros a conhecer os efeitos da alforria na escravidão negra nas Américas. A formação de comunidades negras livres não foi resultado de um projeto, mas das condições demográficas e da ação dos próprios escravizados. Por conseguinte, os ibéricos foram também os primeiros a usufruir desse arranjo social e racial que, na maior parte do tempo, contribuiu para a preservação do cativeiro. A proximidade entre negros livres e escravizados era um risco real, mas a experiência histórica revela que na maior parte das vezes, a aliança entre os livres de diferentes cores prevaleceu sobre a solidariedade racial, ainda mais em sociedades marcadas por um alto grau de miscigenação. O sucesso das elites estadunidenses em cindir as raças também conteve em si a chave de seu fracasso, reforçando a identidade e a solidariedade negra, que se voltaram contra a supremacia branca durante a Guerra Civil e tantas vezes após a abolição. Em contrapartida, o suposto fracasso da elite cubana, nos termos dos autores, conteve o segredo de seu sucesso. Afinal, o escravismo experimentado pelos ibéricos não foi apenas pioneiro nas Américas, mas o mais longevo, tendo perdurado em Cuba e no Brasil até o último quartel do século XIX. Não à toa, as elites desses países tantas vezes se valeram dos Estados Unidos como contraponto, para preservar suas próprias hierarquias sob o mito das “democracias raciais”.[6]
São os próprios autores que fornecem os dados e argumentos para esse breve contraponto. Em mais de uma passagem, eles descrevem a alforria como instituição escravista em Cuba, assim como reconhecem a hesitação das elites em cerceá-la. Ao enunciarem na introdução e na conclusão que as três elites escravistas compartilharam de um mesmo horizonte racial, Gross e de la Fuente miraram dois alvos. A crítica se voltou tanto às elites do passado, quanto aos discursos mais recentes que, na política e na historiografia, ainda se valem da escravidão e do racismo explícito nos Estados Unidos como um contraexemplo, a fim de sustentar a suposta benevolência do cativeiro e a pretensa harmonia das relações raciais na América Latina. A posição dos autores no debate público é mais do que bem-vinda, e contribui para a desmistificação do tema. De todo modo, o próprio livro revela como Cuba antecedeu e sucedeu o cativeiro na América do Norte, e como sua elite constituiu o seu próprio regime racial. Sem cindir a ilha entre o branco e o negro, ela preservou por mais tempo a escravidão valendo-se de um racismo velado, tão eficaz e talvez mais perverso que o estadunidense.
Nas derradeiras páginas do livro, Gross e de la Fuente alçam voo sobre os anos que se seguiram à abolição, contrastando os Black Codes e as Leis Jim Crow no Sul dos Estados Unidos com o relativo reconhecimento dos direitos dos negros em Cuba. Em seus termos, a transição da escravidão à cidadania resultou das lutas políticas dos negros de cada região. Nas entrelinhas, os historiadores convidam seus pares a desbravar o campo das relações raciais nas sociedades do pós-abolição, à luz de suas importantes contribuições. Trazendo mais uma vez Tannenbaum ao debate, Gross e de la Fuente concluem que o tecido de conexão entre o negro escravizado e o cidadão negro, no pós-abolição, não decorreu da relação entre “slave and citizen” mas de “black to black”. Como enunciado no título e na introdução, não teria sido o direito da escravidão, mas a mobilização do direito à liberdade pelos próprios sujeitos escravizados que selou o caminho para a construção, não só dos regimes, mas das identidades raciais. É possível questionar se o direito à liberdade existiria senão como contradição interna do direito da escravidão, em uma relação dialética. No entanto, foi por meio dessa inversão do prisma que Gross e de la Fuente miraram um velho debate sob um ângulo novo, trazendo à luz outros sujeitos e respostas.
Becoming Free, Becoming Black coroa os resultados de uma tradição historiográfica que trouxe à luz a complexidade da escravidão e das disputas sobre os sentidos da liberdade e da justiça nas Américas. Reivindicando os ganhos metodológicos e políticos da história “de baixo para cima”, e preservando no centro da narrativa os sujeitos escravizados e sua agência, Gross e de la Fuente deram um passo além. Instigados pelos debates postos no presente, ousaram revisitar os clássicos para oferecer respostas e questionamentos originais. Em tempos de crise das representações e de revisionismos históricos, Becoming Free, Becoming Black nos reabre uma janela ao passado, exibindo as raízes pérfidas de mazelas que ainda nos assolam. No entrepasso do caminhar de tantos homens e mulheres, os autores nos lembram das lutas pretéritas, e quiçá nos apontam possíveis caminhos para os embates que se anunciam no horizonte.
Notas
1. Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
2. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
3. Apenas para citar a principal referência dos autores, ver Rebecca J. Scott, Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005; e mais recentemente Scott, R., & Hébrard, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
4. Frank Tannenbaum, Slave and Citizen. Boston, 1992). Sobre as publicações anteriores de Gross e de la Fuente, ver De la Fuente, Alejandro, & Gross, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485. Gross, Ariela, & De la Fuente, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699. De la Fuente, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173. De la Fuente, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369.
5. Morgan, Edmund. American slavery, American freedom: The ordeal of colonial Virginia. New York: W.W. Norton &, 2003.
6. A título de exemplo, ver os discursos de representantes de Cuba e do Brasil sobre a questão dos negros livres, assim como suas divergências, em Berbel, Marcia., Marquese, Rafael, & Parron, Tamis. Escravidão e política: Brasil e Cuba, c. 1790-1850. São Paulo: Editora Hucitec: FAPESP, 2010. Sobre o racismo em Cuba no século XX, é o próprio Alejandro de la Fuente que sustenta a interpretação aqui esboçada. Ver Fuente, Alejandro de la. A Nation for All: Envisioning Cuba. The University of North Carolina Press, 2011.
Referências
DE LA FUENTE, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173.
DE LA FUENTE, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369
DE LA FUENTE, Alejandro, & GROSS, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485.
GROSS, Ariela, & DE LA FUENTE, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699.
SCOTT, Rebecca. Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005;
SCOTT, R., & HÉBRARD, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
TANNENBAUM, Frank. Slave and Citizen. Boston, 1992).
Marcelo Rosanova Ferraro – Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
DE LA FUENTE, Alejandro; GROSS, Ariela J. Becoming Free, Becoming Black: Race, Freedom, and Law in Cuba, Virginia and Louisiana. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Resenha de: FERRARO, Marcelo Rosanova. O direito à liberdade e a dialética das raças nas Américas. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]
Becoming Free/Becoming Black: Race/ Freedom/ and Law in Cuba/Virginia and Louisiana | Alejandro De La Fuente, Ariela Gross
Conquistar a liberdade sempre foi o objetivo das pessoas escravizadas nas Américas. Em todas as sociedades escravistas do continente mulheres e homens negros desenvolveram estratégias que, de alguma maneira, acabaram refletidas nos sistemas legais das colônias e nações onde viviam. As respostas das elites senhoriais às tentativas de alforria orientavam as leis, que acabaram constituindo critérios para uma cidadania de poucos, além de concessões e suspensão de direitos, ao mesmo tempo em que produziam hierarquias raciais. Alejandro de La Fuente e Ariela Gross afirmam que o livro que escreveram é um exercício de comparação que trata da ação de pessoas escravizadas e libertas sob os regimes escravistas nos estados de Luisiana e Virgínia, nos Estados Unidos, e em Cuba. Leia Mais
Corpos em Aliança: Diálogos Interdisciplinares sobre gênero, raça e sexualidade | Ana Claudia Martins e Elias Ferreira Veras
Nas últimas décadas, temos testemunhados constantes transformações sociais, históricas, políticas e culturais, que abalaram as estruturas cishetonormativas dos antigos padrões de gênero, raça e sexualidade. As lutas feministas, as conquistas LGBTQIA+, os movimentos trabalhistas e a descolonização dos países africanos, por exemplo, que perpassaram o século passado, desdobrando-se até os dias atuais, culminam em novas formas contemporâneas de fazer política e ciência.
A obra Corpos em Aliança: Diálogos Interdisciplinares sobre gênero, raça e sexualidade, organizada por Elias Ferreira Veras e Ana Claudia Aymoré Martins, professor/a da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), aparece nesse contexto teórico-metodológico-político de transformações, sendo oriundo dos debates realizados durante o II Colóquio diálogos interdisciplinares sobre gênero, raça e sexualidade: corpos em aliança, organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Gênero e Sexualidade (GEPHGS/CNPq), do Curso de História da UFAL – com apoio do CNPq -, em Maceió (AL), no mês de maio de 2019. Leia Mais
Mulheres, raça e classe | Angela Davis
Angela Davis é umas das mais importantes feministas contemporâneas. Sua potente história de luta política encarnou uma geração de reivindicações por humanidade, igualdade e liberdade não só para o povo negro, mas para todas as parcelas oprimidas da sociedade. O sentido de suas reflexões aliaram, como ninguém, teoria e prática, em uma leitura da história, da sociedade e da política, que estiveram e ainda estão fundamentalmente conectadas com um novo devir, uma transformação profunda da realidade e, portanto, seu pensamento entra no rol das teorias críticas, do pensamento produzido desde a subalternidade e de profundo valor para um outro mundo possível.
Em 2016, a obra “Mulheres, raça e classe”, escrita por Davis em 1981, ganhou uma edição brasileira, lançada pela Editora Boitempo. Ainda que nesse espaço de trinta e cinco anos, feministas brasileiras se esforçaram para se apropriar dessa e de outras obras de Davis, organizando estudos e traduções livres, o lançamento da obra no Brasil, nesse momento, tem um significado importante. De fato, o reencontro das brasileiras e brasileiros com Davis é requerido, mais do que nunca, em um momento que, de um lado, exige novas reflexões e apropriações críticas para enfrentamento do recrudescimento das forças conservadoras e seu sentido privatista, racista e patriarcal e, de outro lado, acompanha um processo importante de fortalecimento da luta feminista e, especialmente, da revalorização e mobilização das leituras e práticas das mulheres negras para o feminismo. Leia Mais
Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça / Reni Eddo-Lodge
Em uma conversa em um grupo de WhatsApp, diante de uma tirinha que ridicularizava a questão da representatividade, uma colega de profissão, negra e mãe de uma filha de três anos, também negra, comentou como a interpretação da tirinha a incomodava, porque era rasa. Recebeu como resposta de um colega de área, professor universitário, que “o incômodo faz parte da vida. É assim mesmo.”
Reni Eddo-Lodge, autora do livro Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça, escreve que desde os quatro anos ela entende viver em um mundo de privilégio branco (Eddo-Lodge, 2019, p. 81), ao reconhecer na televisão a divisão entre mocinhos e vilões representados por pessoas brancas x negras. Aparentemente, muitos de nós, brancos e brancas, ainda não nos entendemos privilegiados e esse é o motivo pelo qual a jornalista se viu motivada a escrever esse livro. Estava cansada de ouvir os mesmos argumentos contestando esse tal de privilégio branco vindos de pessoas próximas e decidiu publicar sua resposta em livro para se livrar desse fardo (o que, evidentemente, como a própria afirma, não aconteceu). Gabi de Pretas, que faz a apresentação do livro e que é criadora do canal de YouTube DePretas, recomenda o livro a pessoas brancas que se perguntam sobre seu papel na luta antirracista, àquelas que nunca se perguntaram sobre sua branquitude e a seus colegas negros e negras que já não aguentam mais esses debates.
Diante de uma conversa como a que mencionei no começo deste texto, é compreensível o cansaço que parte de nossos colegas negros, indígenas ou mulheres sentem ao se deparar repetidas vezes com a necessidade de confrontar parentes, amigos e colegas de profissão, em ambientes que deveriam ser seguros, sobre temas como esses, e ainda sair como as “encrenqueiras”, “intolerantes”, “imaturas” ou qualquer versão eufemística que nossos colegas encontram para não usar o já condenado “racismo reverso”. Eddo-Lodge faz o serviço de mostrar que a discussão do privilégio branco é ainda mais urgente. É muito mais simples contestar extremistas e supremacistas brancos, uma vez que seu posicionamento já é muito claro. Mas a insídia do racismo está em justamente passar despercebido pelas nossas relações mais íntimas e cotidianas. Como a própria Eddo-Loge afirma: “Parece haver uma crença entre alguns brancos de que ser acusado de racismo é muito pior do que o próprio racismo” (Eddo-Lodge, 2019, p. 116). E é em espaços como grupos de WhatsApp, festas familiares, ambientes de trabalho em que muitas vezes ele adquire maior perniciosidade psicológica, uma vez que são exigidas classe e elegância aos nossos colegas pretos e pretas ao retorquir seus colegas brancos.
Não encontramos, no livro, referências a teorias ou autorias que construam um arcabouço conceitual, teórico e/ou epistemológico para o racismo. Reni Eddo-Lodge, em linguagem jornalística, direta e sem muitas notas de rodapé, se utiliza principalmente de dados estatísticos, legislação e coberturas jornalísticas referentes à Inglaterra desde a 1ª Guerra Mundial e entrevistas e depoimentos de pessoas brancas e mestiças [1] para provar seu argumento: o da existência de um privilégio branco. Seu raciocínio é apresentado pela generalização de argumentos que ela destrincha capítulo após o outro, e que servem como um material didático para nos educar sobre temas recorrentes em nossas trajetórias como docentes, colegas, parceiros e parceiras: punitivismo e violência policial; cotas, representatividade e tokenismo [2]; racismo e preconceito; queda de estátuas e liberdade de expressão; interseccionalidade; acusações de fragmentação e diversionismo pela própria esquerda. Para ao fim compreendermos que racismo não é algo referente apenas a ações individuais, morais. Racismo é problema estrutural, que organiza todas as nossas relações sociais, cegando a branquitude e permitindo-lhe que chegue ao ponto de responder a uma mãe negra que o incômodo faz parte da vida (“Quando focam em ofensas, ao invés de sua própria cumplicidade em um sistema drasticamente injusto, eles transferem, com sucesso, a responsabilidade de consertar o sistema dos beneficiados por ele para aqueles mais inclinados a perder por causa dele” [Eddo-Lodge, 2019, p. 116-117]). Ironicamente, se há uma coisa para que “Porque não converso mais com pessoas brancas sobre raça” serve é para incomodar. É muito desconfortável, como bem alertou Gabi de Pretas, ler Reni e se perceber como alguém a quem já ocorreram alguns dos argumentos que ela contesta.
A reivindicação não é apenas por igualdade, já que isso presume ainda a manutenção de um sistema que permanece exclusivo, com apenas o revezamento dos indivíduos que ocupam os espaços de poder. A reivindicação de Reni, e de tantas outras, e que incomoda a tantos de nós ao ponto de rechaçá-las, acusando-as de reivindicação de superioridade moral, é de reformulação total do sistema: “O ônus não está em mim para mudar. Ao contrário, está no mundo ao meu redor” (Eddo-Lodge, 2019, p. 155).
Ao final do livro, Eddo-Lodge tem a generosidade de sugerir algumas possibilidades para essa mudança. Que reconstruamos, pois, esse mundo. Nossas crianças não merecem se conformar com a inevitabilidade de seus incômodos.
Notas
1. Esse é o termo utilizado no livro para indicar filhos de casamentos interraciais.
2. No livro, a tradutora Elisa Elwine define tokenismo da seguinte forma: “tokenismo é uma expressão inglesa que se refere à prática de fazer esforço simbólico com o objetivo de ser inclusivo para membros de minorias. Seria uma forma de aparentar igualdade racial ou sexual” (Eddo-Lodge, 2019, p. 72).
Aryana Costa – Professora do Departamento de História / UERN – campus Mossoró, trabalha com ensino de História e historiografia.
EDDO-LODGE, Reni. Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça. Belo Horizonte: Letramento, 2019. 214 p. Tradução de Elisa Elwine. Resenha de: COSTA, Ariana. “Mas nem todo branco…”. Humanas – Pesquisadoras em Rede. 20 jul. 2020. Acessar publicação original. [IF]
Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no período entreguerras
O autor da obra é o historiador Vanderlei Sebastião de Souza, professor adjunto do Departamento de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), do Programa de Pós-Graduação em História pela mesma instituição e do Programa de Pós-Graduação em História Pública da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR). É graduado em História (2002), com mestrado (2006), e doutorado (2011) em História das Ciências pela Casa de Oswaldo Cruz – Fiocruz.
Assim, o livro denominado Renato Kehl e a eugenia no Brasil: ciência, raça e nação no período entreguerras (2019), é dividido em quatro capítulos, sendo o prefácio da obra assinado pelo sociólogo Robert Wegner, professor do Departamento de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz (COC/FIOCRUZ). Fazendo uma análise do processo metodológico instrumentalizado pelo autor, Robert Wegner afirma que “além de ser um livro bem escrito e embora denso, de agradável leitura, atinge uma técnica exemplo na articulação entre o desenvolvimento do argumento e a utilização das fontes” (p. 24-25). Leia Mais
Mandarin Brazil: race, representation, and memory. | Ana Paulina Lee
A obra Mandarin Brazil , premiada como melhor livro em humanidades na seção Brasil pela Latin American Studies Association, é uma leitura importante para a compreensão das representações dos chineses na cultura popular brasileira. O livro remonta a construção e ressignificação dos estereótipos raciais associados ao imigrante chinês na literatura, na música e no teatro nos séculos XIX e XX. A obra extrapola o enfoque da historiografia nacional sobre os debates e as construções raciais em torno da imigração chinesa entre 1850 e 1890. Ana Paulina Lee (2018) priorizou a elaboração, reprodução e apropriação da chinesness , expressões culturais que elaboram conceitos e estigmas raciais referentes à China e aos seus habitantes. Essas imagens foram concebidas e apropriadas em meio a um intenso diálogo global fortalecido após a abolição do tráfico negreiro. Tais representações circulam dentro de uma memória circum-oceânica, um processo criativo por meio do qual a cultura da modernidade se inventa ao transmitir um passado que pode ser esquecido, recriado ou transformado em uma memória coletiva. Leia Mais
Shifting the Meaning of Democracy: Race, Politics/and Culture in the United States and Brazil | Jessica Lynn Graham
A atual ascensão da extrema-direita mostra contornos verdadeiramente globais. Com maior ou menor intensidade, ocorre em todos os continentes e ganha corpo em países de trajetórias históricas as mais distintas. Dada a natureza dos problemas que ele coloca às democracias mundo afora, o fenômeno tem tornado lugar-comum a comparação da presente conjuntura com o período de gestação do fascismo e do nazismo na Europa. A profunda recessão econômica, já esperada como decorrência da pandemia de coronavírus, que grassa o mundo no momento mesmo em que escrevo estas linhas, faz com a Crise de 1929 uma comparação cada vez mais atraente. Leia Mais
Darwinismo, raça e gênero: projetos modernizadores da nação em conferências e cursos públicos (Rio de Janeiro, 1870-1889) | Karoline Carula
A década de 1870 assinala o momento da chegada ao Brasil das “ideias novas”, como destacou Silvio Romero. Entre estas ideias, uma, o darwinismo, logrou grande sucesso entre os pensadores que buscavam fazer do Brasil um país moderno e civilizado. O darwinismo sofreu diversas apropriações e direções discursivas, sendo isto perceptível nas discussões que ocorriam nos jornais e revistas da Corte. Como exemplo dessa ampla difusão do darwinismo, temos o encontro do cientista francês Louis Couty com um fazendeiro de nome Tibiriçá. Dizia Couty (1988, p.98): “Estava eu percorrendo os títulos dos livros que via sobre a mesa de meu anfitrião, [Charles] Darwin, [Herbert] Spencer” e admitia “sem surpresa que os via ali, e que os via trazerem as marcas de uma leitura prolongada”.
O leitor que abrisse os jornais, como a Gazeta de Notícias ou o Jornal do Commercio , entre as décadas de 1870 e 1880, encontraria várias chamadas para conferências e cursos públicos na Corte que tratavam dos mais diversos assuntos discutidos pela ciência na época, quase todos perpassados pela perspectiva do darwinismo. O homem de letras desse período tinha uma ampla programação de ciência para realizar nos espaços públicos da capital do Império. Decorriam disso discussões e sociabilidades novas, permeadas pelas várias interpretações da teoria de Charles Darwin. Esse assunto é objeto de exame do livro Darwinismo, raça e gênero , escrito por Karoline Carula e publicado pela Editora Unicamp. O livro é resultado de sua pesquisa de doutoramento em história social defendida na Universidade de São Paulo. Atualmente, Carula é professora de história na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Leia Mais
Raza Sí, Migra No: Chicano Movement Struggles for Immigrant Rights in San Diego – PATIÑO (THT)
PATIÑO, Jimmy. Raza Sí, Migra No: Chicano Movement Struggles for Immigrant Rights in San Diego. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 2017. 356p. Resenha de: RODRÍGUEZ, Elvia. The History Teacher, v.52, n.3, p.533-535, may., 2019.
In his book, Jimmy Patiño analyzes how the United States’ immigration policies became a focal point for Chicano Movement activists, particularly in San Diego.
San Diego, being a borderland region, emerges as a site of unity between Chicanos and Mexican nationals, as both groups were often victims of brutality from Border Patrol agents and/or experienced the negative effects of immigration laws (family separations, wage suppression, etc.). This unity is a “raza sí, migra no” stance that propels social and political action.
Part I of the book addresses activism around immigration through the 1930s-1950s with groups like El Congreso del Pueblo que Habla Español (Congress of Spanish-Speaking People) and Hermandad Mexicana (Mexican Brotherhood). Chicanos’ activism in the 1960s and 1970s is the focus of Part II.
Here, readers learn about the efforts of organizations such as CASA Justicia and La Raza Unida Party to resist what Patiño calls the “deportation regime” and how individuals in these organizations bring about a shift in the Chicano Movement’s agenda, not only by taking on the issue of immigration, but in so doing, adopting a transnational identity that unites Chicanos and Mexicans. “Raza sí, migra no” activists then focused on appealing to both the United States and Mexico to address the root causes of illegal immigration. The final chapter in Part II momentarily moves away from immigration to look at another form of persecution that people of color encountered—police brutality. Part III deals with San Diego organizations, especially the Committee on Chicano Rights (CCR), protesting the Carter and Reagan administrations’ oppressive immigration procedures. Patiño uses Herman Baca, who headed many of those efforts, as a connecting thread throughout the narrative. For decades, Baca and his print shop served as the center of resistance against the deportation regime.
Raza Sí, Migra No is a book that could be assigned in an upper-division course dealing with American, immigration, or Chicano history. A discussion on labor history would also benefit from the information presented by Patiño. Chapter 2, one of the strongest sections of the book, would be a valuable addition to any women’s history class. Here, Patiño discusses how white Border Patrol agents asserted their dominance over the Mexican/Chicano community by sexually harassing and/or assaulting women of Mexican ancestry. Patiño also demonstrates the patriarchal norms of Mexican culture as women were usually seen only as wives and mothers. Due to its very specific scope, the best place for this book, however, may be in a graduate seminar. Students would certainly receive greater insights into the debates and aims of the Chicano Movement, such as organizations’ diverging stance on support for amnesty or who is a member of la raza and who is not (many Chicano individuals excluded Mexicans from this community). Raza Sí, Migra No could also be used in a seminar on social movements, as Patiño does a masterful job at tracing the evolution and sometimes collapse of organizations seeking rights for minorities. Aside from students, educators may also find the book useful, especially when discussing the Carter administration as well as immigration policies of the late twentieth century.
Patiño’s critical look at Chicano activism makes his book a fine addition to the field. He does not shy away from presenting fractures and even failures within the Chicano movement. Moreover, Patiño’s examination of the coalition between Chicanos and African Americans (against police brutality in San Diego) is not typically found in this scholarship, but is a welcome contribution. While Raza Sí, Migra No presents fascinating issues, in some instances, the reader is left wanting more. For example, in Chapter 7, Patiño brings up the Ku Klux Klan’s plan to start a patrolling program on the U.S.-Mexico border, and he goes on to discuss the press coverage the Klan received over their plan, but then readers do not get more information on this very intriguing matter. Similarly, Patiño raises the idea that “the amnesty provisions of [the Reagan administration’s] IRCA co-opted social movement forces that could have focused on uprooting the deportation regime” (p. 265), but does so in the conclusion and devotes only a few sentences to this assertion. These exceptions aside, Raza Sí, Migra No absolutely furthers the scholarship of Chicano activism, but in addressing immigration policies, this book also sheds light on a matter that is at the forefront of today’s political climate.
Elvia Rodríguez – California State University, Fresno.
[IF]
Raza y política en Hispanoamérica – PÉREZ VEJO; YANKELEVICH (RHYG)
PÉREZ VEJO, Tomás; YANKELEVICH, Pablo (coords.). Raza y política en Hispanoamérica. Ciudad de México: Iberoamericana, El Colegio de México y Bonilla Artiga Editores, 2018 (1ª edición 2017). 388p. Resenha de: ARRE MARFULL, Montserrat. Revista de Historia y Geografía, Santiago, n.41, p.199-205, 2019.
El conjunto de trabajos presentados en esta compilación realizada por Tomás Pérez Vejo y Pablo Yankelevich, que en total suman diez, incluyendo dos capítulos de los compiladores, es un apronte serio y actualizado del ya muy referido –aunque nunca agotado– tema de la construcción nacional en las diversas repúblicas americanas. El elemento novedoso en este caso es la sistemática inserción de la discusión sobre la “raza” que guía cada uno de estos trabajos, en un esfuerzo por hacer converger los idearios de identidad nacional que emergieron en América tras las independencias y las conflictivas relaciones político-sociales evidenciadas en estos espacios, a las que, con cada vez más fuerza y honestidad, definimos como racializadas .
Para los compiladores, proponer el análisis de estas dinámicas nacio- raciales en los siglos XIX y XX aparece como necesario ya que, según indican, “no es que la raza formase parte de la política, sino que era el fundamento de la política misma” (p.12). Partiendo, así, de esta premisa, los diez autores convocados ensayan y demuestran cómo es que las ideologías racialistas que se gestaron en América desde la conquista o desde el siglo XVIII ilustrado, calaron profundamente y configuraron de manera compleja las propuestas romántico-nacionalistas, liberales y cientificistas de los siglos XIX y XX –a lo menos–, hasta mediados del siglo pasado. Leia Mais
Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano (1750-1890) – NEVES et. al (LH)
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das; MELO FERREIRA, Fátima Sá; NEVES, Guilherme Pereira das (org). Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano (1750-1890). Jundiaí: Paco Editorial, 2018, 322 pp. Resenha de: ARAÚJO, Ana Cristina. Ler História, v. 75, p. 284-288, 2019.
1 Este livro resulta do projeto internacional “Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano : classes, corporações, castas e raças, 1750-1870”, coordenado atualmente por Fátima Sá e Melo Ferreira e por Lúcia Bastos. Procura identificar, na linguagem e nos conceitos dos personagens históricos, traços constantes que vinculam ideias, expectativas, convenções, práticas e representações comuns, ou seja, expressões coletivas e atuantes de modos de ser, pensar e dizer a realidade no mundo ibero-americano, no período compreendido entre 1750 e 1890. A cronologia de longa duração evidencia permanências estruturais e diferentes fenómenos de contágio político que encontram eco em linguagens e conceitos partilhados. Os marcadores de identidade e alteridade de que nos falam os organizadores do livro são precisamente os conceitos e as linguagens usados, nos planos territorial, étnico, político e social, para exprimir laços de pertença e desatar nós diferenciadores de formas de nomeação coletiva, como sejam, “brasileiros” versus “portugueses”, “pueblos orientales” versus “cisplatinos”, no processo de independência e união da região do Rio da Prata, “bascos” e “espanhóis”, na revista Euskal-Erria de San Sebastián (1880-1918).
2 Nos campos em que se buscam agregações convergentes ou divergentes de sentido – território, raça, formações nacionais ou transnacionais – os conceitos são encarados não como entidades estáticas ou atemporais mas como ferramentas de temporalização histórica. Daqui advém o potencial hermenêutico da linguagem para nomear o social. Existe, todavia, uma brecha entre os acontecimentos históricos e a linguagem utilizada para os dizer ou representar. A consciência da historicidade do intérprete, neste caso, do historiador, afasta a compreensão do passado do tradicional objetivismo factualista, centrado na pretensa evidência do facto. Por outro lado, na relação com as linguagens do passado, a noção de historicidade previne um outro perigo, o das extrapolações conceptuais fundadas na atualidade, fonte de anacronismos e de todo o tipo de “presentismos” deformantes e esvaziadores da memória histórica. Neste contexto, é aconselhável aliar a História analítica à História conceptual para responder às questões centrais colocadas por Reinhart Koselleck e pela tradição da Begriffsgeschichte.
3 Para simplificar, talvez se possam formular assim algumas das questões levantadas neste livro : qual é a natureza da relação temporal entre os chamados conceitos históricos e as situações ou circunstâncias que ditaram a sua utilização ? Os conceitos e especialmente os conceitos estruturantes, a que Koselleck chama “conceitos históricos fundamentais” (como, por exemplo, o moderno conceito de revolução), permaneceram na semântica histórica para lá do tempo em que foram formulados ? Será que cada conceito fundamental contém vários estratos profundos, ou várias camadas de significados passados unidos por um mesmo “horizonte de expectativa” ? Na resposta a estas questões, Koselleck assinala, no processo de construção da semântica histórica da modernidade, quatro exigências básicas de novo vocabulário, social, político e histórico : a temporalização, a ideologização, a politização e a democratização. Porém, como bem sublinham os organizadores deste livro, nem sempre são sincronamente documentáveis estas quatro condições nos processos analisados na era das revoluções no mundo ibero-americano.
4 A mudança conceptual no campo da história intelectual e das ideias é também valorizada tendo em atenção o contributo de Quentin Skinner que aponta para uma linha mais analítica e contextualista nos usos da linguagem, partindo da fixação lexicográfica consagrada nos dicionários. Ao estudar as técnicas, os motivos e o impacto das mudanças conceptuais valoriza também a utensilagem retórica, aquilo a que chama rethorical redescription, que consiste em usar relatos diferentes para descrever uma mesma situação, recorrendo a certas palavras e a certos conceitos que, pelo seu impacto social, instauram novas interpretações e se impõem como guias de compreensão de outros discursos. A ideia de um léxico cultural de base conceptual ilumina, numa outra perspetiva, o horizonte compreensivo da história intelectual, dado que os usos da linguagem não são desligados da intencionalidade dos autores e dos efeitos que os seus discursos produzem.
5 Neste livro, as questões relacionadas com a classificação e a nomeação preenchem a primeira parte da obra. Os três ensaios, da autoria, respetivamente, de Fátima Sá e Melo, Guilherme Pereira das Neves e Javier Fernández Sebastián, revestem-se de um carácter problematizador e sinalizam bem a abrangência do conceito mutável de identidade que, como explica Fátima Sá e Melo, começa por conotar, no século XVIII, aquilo que é similar, por exclusão do que é diferente, para, cem anos mais tarde, e segundo o Dicionário de Moraes Silva (1881), traduzir uma forma de autorrepresentação. A este respeito, Fátima Sá e Melo salienta que esta definição de identidade começa por ser fixada primeiro num dicionário espanhol de 1855, acabando por ser consagrada pela lexicografia portuguesa em 1881. Logo a seguir, coloca o problema da formulação do conceito de identidade na primeira pessoa e na terceira pessoa.
6 Na ausência de uma perspetiva individualista, fundada no autorreconhecimento do poder e vontade dos indivíduos, valiam as categorias jurídicas do Antigo Regime que fixavam, numa base particularista e corporativa, a visão do todo social (A. M. Hespanha). Nos umbrais das revoluções liberais o nós identitário forjado no mundo ibero-americano não se desfaz de um dia para o outro dos traços orgânicos e particularistas do passado colonial. Estes traços são bem evidentes no estudo de Ana Frega sobre a revolução artiguista de 1810-1820 e no ensaio de Lúcia Bastos Pereira das Neves que analisa “antigas aversões” reconstruídas no decurso do processo de independência entre ser português e ser brasileiro ou ter direito a ser brasileiro, por lei de 1823. A autora sublinha que apesar das persistências sociais e culturais, o discurso político da independência e em defesa da Constituição contribuiu para reconfigurar a sociedade brasileira pós-independência apontando para uma vaga identidade, forjada na variedade de povos e raças que compunham a população brasileira. Estes traços de autorreconhecimento foram objeto da retórica antibrasileira do jornal baiano Espreitador Constitucional, favorável à causa portuguesa, que lamentava, em 1822, que “os netos de Portugal – estabelecidos no Brasil – abandonassem os sobrenomes dos seus antepassados para adotarem orgulhosos os de Caramurus, Tupinambás, Congo, Angola, Assuá e outros” (p. 139).
7 Sobre a questão da adequação das classificações e marcas de linguagens pretéritas às classificações e conceitos do historiador, Javier Fernández Sebastián assina um esclarecedor capítulo, de cunho teórico. Segundo este historiador, o problema das classificações conceptuais reside em saber se é razoável usar retrospetivamente conceitos e categorias atuais que não existiam numa determinada época para classificar e dar sentido às linguagens do passado. Considera que o conceito de identidade forma com outros conceitos uma espécie de galáxia significante. O seu campo semântico convoca distinções jurídicas, étnicas, políticas, socioeconómicas e ideológicas. Assim, e apreciando cada contexto histórico focado neste livro, é razoável o uso do conceito de identidade associado a classes, etnias e territórios. Dois estudos documentam este ponto de vista. O primeiro remete para o enfrentamento da escravatura negra e da emigração branca em Cuba ao longo do século XIX. Como explica Naranjo Orovio, o ideal de cubanidade condensa elementos culturais e étnicos patentes nas linguagens de identidade insular, nas quais o estigma negativo e o medo do negro se combinam com a atração pelo discurso civilizacional dos reformistas criollos (1830-1860).
8 O binómio civilização versus barbárie aparece também associado à forma como são percecionados os afrodescendentes em Buenos Aires até 1853-1860. Segundo Magdalena Candioti, num primeiro momento, as diferenças físicas, morais e culturais atribuídas aos afrodescendentes limitam a sua participação política. Os negros e pardos são definidos como os “outros” do novo corpo soberano e excluídos da cidadania instaurada pela nova república, porque a abstração requerida pelo conceito de cidadania igualitária ou tendencialmente igualitária colidia com as marcas impressas pela natureza e pela cultura herdadas da colonização espanhola. Formalmente, a partir dos anos 20 do século XIX, os textos legais não estabelecem reservas especiais ao sufrágio dos negros libertos, contudo persistem as representações estigmatizadas sobre a negritude, impedindo, na prática, a consagração plena da cidadania política. Este tipo de exclusão viria a ser ideologicamente suportado pelas linguagens cientificistas da segunda metade do século XIX, inspiradas no positivismo e no darwinismo social. A visão evolucionista da sociedade, assente na constituição física, na hierarquia das raças e, consequentemente, na superioridade do homem branco, acabou por complementar, com outros argumentos, o binómio civilização/barbárie constitutivo das identidades em construção na Ibero-América. A mesma visão antinómica caracteriza as distinções gentílicas da nova entidade política e cultural nascida com a revolução Bolivariana, ajudando a forjar o mito da nação mista criolla na Venezuela, conforme salienta Roraima Estaba Amaiz.
9 A uma escala transnacional – e este é também um dado a destacar neste livro –, o desenvolvimento do conceito de raça no mundo latino-americano associa-se ao aparecimento do pan-hispanismo, que, de certo modo, retomou, numa perspetiva expansionista, a autoperceção etnocêntrica e neocolonial dos países de matriz hispânica da América do Sul, conforme detalha David Marcilhacy. Este tópico tem ressonâncias fortes e remete, a cada passo, para a porosidade entre discursos, ideologias e linguagens vulgares ou de uso corrente. Como sublinha Ana Maria Pina, o conceito de raça, entendido em termos biológicos, é tardio. Antes do século XIX andava associado à pecuária e era também usado para identificar linhagens, nações ou povos. No século XIX ganha uma conotação biologista e essencialista, porque se aplica à classificação de tipos humanos, distinguidos pela sua origem, cor de pele e características físicas. Para esta mutação muito contribuíram as teses racistas e poligenistas de Gobineau, bastante divulgadas na época, os tratados de Darwin e também as teses antropométricas de Paul Broca, fundador da Sociedade Antropológica de Paris.
10 O eco destas influências em Portugal é percetível em autores como Teófilo Braga, Júlio Vilhena e outros nomes menos conhecidos. Subtilmente, insinua-se na linguagem artística e na literatura, nomeadamente em Eça de Queirós e Ramalho Ortigão. E se, antes deles, Almeida Garrett e Alexandre Herculano haviam sinalizado as idiossincrasias da raça portuguesa, foi, porém, Oliveira Martins quem melhor exprimiu a ideia da miscigenação de raças na raiz do ser português. Oliveira Martins estava genuinamente interessado em compreender a originalidade dos povos ibéricos e a originalidade da civilização que se desenvolveu, ao longo de séculos, na Península Ibérica, conforme assinala Sérgio Campos Matos. A História da Civilização Ibérica, título de uma obra de Oliveira Martins, engloba, num “nós transnacional”, portugueses, espanhóis e outros povos de descendência hispânica. Temos assim um conceito totalizante que fixa uma conceção de história, uma visão antropológica territorializada e uma unidade de experiência com sentido político, social, económico, cultural e moral para ele, Oliveira Martins, e para os seus contemporâneos portugueses e espanhóis.
11 O capítulo final de Sérgio Campos Matos convoca a atenção do leitor para a reflexão em torno da “história como instrumento de identidade”, tema também tratado por Guilherme Pereira das Neves. Este autor realça a ideia de que a história funcionou, desde o século XIX, no Brasil, como instância compensadora e conservadora de aspirações sociais e políticas das elites brasileiras, referindo a formação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o contributo da metanarrativa de Varnhagen. Questiona não só a ideia de história mas também o lugar do historiador, dos curricula liceais e das universidades brasileiras, desde os anos 30 do século XX em diante. Refere que com os governos de Getúlio Vargas se assiste à criação da Universidade de São Paulo, em 1934, e se institucionaliza a formação estadual de professores diplomados em história. Por fim, salienta que os maiores sucessos editoriais no campo da história no Brasil pouco devem à historiografia académica. Entre a ação e o discurso, entre a história que se faz e a linguagem que dela se apropria para uso público parece haver espaço para uma espécie de imaginário alternativo, fantasiado, é certo, envolvendo numa trama insignificante episódios históricos narrados livremente mas não totalmente desprovidos de marcas de identidade.
12 Em síntese, a leitura desta obra é fundamental pelo enfoque transnacional dos seus capítulos e pela perspetiva de história conceptual comparada que preside à reavaliação dos processos e linguagens de identidade e alteridade forjados no espaço ibero-americano, especialmente no decurso do século XIX. Sendo tributário dos caminhos de pesquisa abertos pelo Diccionario político y social del mundo ibero-americano, dirigido por Javier Fernández Sebastián, este livro concita também outros estudos, quiçá diferentes, mas igualmente indispensáveis para a compreensão das ideias e dos nexos sociais e culturais que presidiram à constituição e à renovação política dos territórios independentes ibero-americanos.
Ana Cristina Araújo – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal. E-mail: araujo.anacris@sapo.pt.
Health Equity in Brazil: Intersections of Gender/Race/and Policy | Kia Lilly Caldwell
No livro Health Equity in Brazil: Intersections of Gender, Race, and Policy (Equidade em saúde no Brasil: intersecções de gênero, raça, e política Pública), Kia Caldwell, professora da Universidade da Carolina do Norte, procura analisar como fatores estruturais e institucionais contribuíram e continuam a contribuir para a precarização da saúde de milhares de mulheres e homens negros. Caldwell chama a atenção para o insucesso do Brasil em desenvolver políticas que resolvam as questões de saúde que impactam desproporcionalmente a população negra até o início do século XXI. Ela enfatiza, ainda, o fato de o país não apresentar longa tradição de pesquisas ou de políticas em saúde focadas nas desigualdades raciais ou étnicas. Discorre, por um lado, sobre os esforços do Brasil no que se refere ao enfrentamento da epidemia de HIV/AIDS, e, por outro, sobre os desafios para assegurar equidade em saúde para a população afrodescendente. No que se refere à questão da garantia de saúde de qualidade para seus cidadãos, em particular para negras e negros, Caldwell examina o fato de o país ter sido bem-sucedido em certos desafios, mas ter falhado em confrontar outros. Leia Mais
Historica racialized toys in the United States – BARTON; SOMERRVILLE (RA)
BARTON, C. P.; SOMERVILLE K.. Historica racialized toys in the United States. Walnut Creek, Califórnia: Left Coast Press, 2016. 102p. Resenha de ALVES, Daniela Maria. Revista de Arqueologia, v.31, n.2, 2018. Especial: Arqueologia da Infância.
O livro Historical Racialized Toys in the United States, de Barton e Somerville, recentemente publicado, apresenta uma abordagem multidisciplinar, contemplando um estudo arqueológico, sociológico e antropológico da cultura Vitoriana nos Estados Unidos, a partir do estudo da cultura material. Os autores compilaram 172 brinquedos advindos de dados de colecionadores e antiquários, de catálogos e coleções de museus. Esses brinquedos foram datados entre os anos de 1865 a 1930.
A obra contempla seis capítulos, distribuídos ao longo de 102 páginas. Primeiramente, Barton e Somerville conceituam a ideologia de raça e argumentam sobre a teoria de habitus de Pierre Bourdieu (1997, 1984). O trabalho é um exame de como os brinquedos produzidos em massa geraram visões preconceituosas a respeito de populações asiáticas, irlandesas, negras e nativas americanas. Tais estereótipos funcionaram como método de socialização das crianças entre a última metade do século XIX e início do século XX, em uma visão de mundo racializada e racista. A priori, atenta-se à ideologia de raça, que sugere haver diferenças inatas na espécie humana. Essa categorização é hierárquica e possivelmente conduz à práticas de racismos, isto é, um ou mais grupos raciais recebem privilégios em detrimento da desumanização dos “outros”. Similarmente a qualquer construção social, raça é uma ideologia que tem sua origem fabricada, assim como sua manutenção e reprodução realizadas por meio da socialização da criança.
Os brinquedos não foram os únicos objetos a mostrar representações do “outro”, no entanto talvez sejam os mais chocantes para a sensibilidade moderna, pois são objetos especificamente feitos para crianças. Como explica Bourdieu, os indivíduos não aderem cegamente às estruturas sociais, mas operam dentro de uma “área cinza” que aplica, rejeita e modifica tradições pré-existentes. A habilidade de mediar a estrutura social é baseada sobre a socialização de um indivíduo que cultiva um habitus. O habitus permite e restringe as práticas individuais dentro das situações de mudança social. As práticas individuais diárias causam reações nas relações sociais, um habitus individual é alterado para conformar as situações de mudança e depois transformar a estrutura social. O resultado é uma relação dinâmica na qual as estruturas sociais coletivas influenciam as práticas individuais, e as práticas individuais podem afetar a estrutura social, o que possibilita a continuação e modificação da sociedade através do tempo e do espaço. Desse modo, as relações sociais não são estáticas, mas são constantemente sujeitas à renegociação. Assim, a teoria de Bourdieu possibilita entender as relações entre estrutura, habitus e prática, facilitando o modelo teórico no qual pode-se interpretar a disposição reflexiva e constitutiva da cultura material analisada.
Em seguida, as discussões giram em torno de conceitos como raça, classe e capitalismo na América. Barton e Somerville retomam o conceito de raça, afirmando tratar-se de construção ideológica para promover a hegemonia de classes dominantes por meio da criação falsa de uma percepção entre e dentro dos grupos marginalizados. No século XIX até o início do século XX da era capitalista, a possibilidade de qualquer união solidária entre esses grupos marginalizados era negada. Assim, essas ideologias posicionavam as “raças” como competidoras umas com as outras, ao contrário de desafiar o poder das classes dominantes. Tal poder ideológico da raça sugere que as classes trabalhadoras brancas tinham mais em comum com as elites brancas. Durante o período de institucionalização da escravidão nos Estados Unidos, houve uma associação semiótica direta entre pele negra e percepção biológica e social de inferioridade. A combinação entre escravidão e ideologia racial expandiu-se nas sociedades escravocratas do Sul e depois invadiu todo o país. No nordeste dos Estados Unidos, o medo do crescimento da população negra, entre os séculos XVIII e XIX, resultou em estratégias institucionais e práticas diárias usadas para minar a influência negra na política, na economia e na sociedade. Com o fim da escravidão, o país experienciou uma grande expansão do racismo. Um aspecto marcante da influência suscitada pela ideologia racista, popularizada por volta da década de 1830, era os espetáculos de interpretação, performance e música, denominados de blackface minstrel show. Nessas performances figuravam homens brancos como atores interpretando atitudes e comportamentos tidos como característicos dos negros. Muitos desses atos apresentavam comportamentos infantis ou pessoas negras felizes com a escravidão. Homens afro-americanos eram representados como jovens trapaceiros ou como empregados bem preguiçosos. Tais estereótipos racistas foram cultivados não somente por meio de interações com pessoas negras, mas também pela socialização em uma visão de mundo racista.
O texto também perpassa pela temática da criança e da infância. A infância é descrita como um período prolongado de dependência, durante o qual as crianças tornam-se socializadas e aceitas na sociedade em que nasceram e isso varia de acordo com a cultura, assim como as atividades e comportamentos considerados permitidos. Essas atividades e comportamentos estão relacionados à construção de gênero e encontram-se centradas nas categorias de biologia, sexo e idade. Os adultos costumam usar diferentes estratégias, como leituras, premiação/punição, exposição/restrição a certas experiências, para incutir nas crianças valores e comportamentos considerados culturalmente aceitos.
Em seguida, são expostas definições e reflexões sobre o brinquedo e a brincadeira, além da análise sobre a influência da Era Vitoriana britânica na sociedade americana. Os autores salientam a perspectiva comportamental do brincar como um comportamento orientado e ativo, cuja estrutura é altamente variável, na qual aparentemente não há intenção imediata e há acompanhamento específico de sinais que incluem odores, sons, ausência de submissão, inversão das relações de dominação, mudanças nas atitudes motoras individuais, etc. Na época Vitoriana, os brinquedos tinham uma função utilitária e serviam como instrumento para desenvolver habilidades físicas e mentais, além de incutir valores culturais nas crianças. Enfatizavam diferenças de gênero e refletiam a crença da época de que a infância é um período fundamental para o desenvolvimento da moral e da ordem no ser que futuramente será adulto. O período vitoriano foi sinônimo de capitalismo industrial, rápida industrialização e sistema socioeconômico baseado em classes. Com isso, os brinquedos manufaturados rapidamente se tornaram um grande negócio nos Estados Unidos e na Europa. O desenvolvimento tecnológico facilitou a produção em massa de brinquedos de ferro, lata, de bonecas, livros, jogos de tabuleiro e tornou possível aos pais de todas as classes sociais a compra de brinquedos para seus filhos em diferentes graus de qualidade.
Posteriormente, é apresentada a metodologia, bem como os resultados da análise da cultura material. Os 172 brinquedos foram classificados do seguinte modo: 53 cofres mecânicos (possuíam mecanismos que eram acionados quando ali se colocava uma moeda), 18 cofres não mecânicos, 63 brinquedos de corda, 9 brinquedos de puxar e empurrar, 6 jogos de alvo, 6 pistolas, 12 bonecas/conjunto de bonecas, 3 fantasias e 2 jogos de tabuleiro. Muitos desses brinquedos em sua aparência e nas descrições dos rótulos das embalagens sugerem inferioridade e falta de autocontrole do “outro”, particularmente considerando as representações dos brinquedos afro-americanos. Observa-se a fascinação das pessoas com a novidade, com a inovação e com o desejo de estimular a vida pelo significado mecânico. Os brinquedos automatizados da época representam intrincada convergência da concepção vitoriana do corpo do outro e da performatividade do corpo, que servia para criar e recriar estruturas racializadas e de racismo, além de socializar as crianças nessas estruturas.
Quatro raças não brancas foram representadas nos brinquedos, quais sejam: os nativo-americanos, os asiáticos (japoneses e chineses), os irlandeses e os negros.
Os nativo-americanos foram representados em 10 brinquedos examinados. Dois tipos de estereótipos foram destacados pelos autores: o guerreiro violento e o “nobre selvagem”. O guerreiro violento foi notado nos jogos de tiro ao alvo, cujo objetivo era acertar com espingarda figuras de homens nativo-americanos, juntamente com leões, bisões e tigres. Como exemplificação para o estereótipo do “nobre selvagem”, os autores relatam um cofre mecânico, no qual encontrava-se a figura de Cristóvão Colombo fumando um cachimbo. Além da mensagem de paz, o brinquedo apresenta a posição de subjugados dos indígenas em relação aos europeus.
Os chineses foram representados em 14 brinquedos, enquanto os japoneses foram representados em apenas 4 deles. A partir de 1849 a imigração chinesa nos Estados Unidos cresceu vertiginosamente. Os chineses foram os primeiros a serem empregados no trabalho manual nos campos minados e nas ferrovias do Oeste. Nos brinquedos, os homens chineses eram especialmente associados a uma longa trança. Outra associação perigosa era baseada na religião. No século XIX, qualquer prática religiosa fora da visão protestante era considerada ameaçadora para a sociedade. Os chineses foram vistos como incapazes de boa moral, por causa das práticas religiosas e sociais, e, por fim, acreditava-se que eles poderiam arruinar a seguridade econômica da classe trabalhadora.
Os irlandeses foram representados em 2 brinquedos. Um deles trata-se de um cofre mecânico, no qual um homem irlandês é retratado com testa proeminente, queixo símio, prognatismo facial, pele e cabelos claros. O homem segura um porco entre as pernas. Isso porque a maioria dos imigrantes irlandeses vivia na zona rural e com limitado capital social e econômico. Exerciam trabalhos manuais, eram relegados ao empobrecimento, à vida nos guetos, convivendo com altas taxas de criminalidade e poluição. A aparência e os movimentos do homem que parece lutar com o porco por dinheiro mostra o elemento de classe associado aos irlandeses no século XIX e XX, imigrantes malvestidos realizando qualquer trabalho degradante para conseguir poucos ganhos.
Os afro-americanos foram representados em 142 brinquedos. Um dos mais impressionantes são as bonecas topsy-turvy, uma boneca com cabeça e torso de menina branca atada na cintura à cabeça de uma menina negra, com uma longa e ampla saia separando as duas. Alguns pesquisadores afirmam que as bonecas foram feitas por mulheres escravas como significado de contestação à repressão sexual pelo homem branco; outros sugerem que as bonecas foram utilizadas para socializar garotas negras a fim de entender a dualidade da maternidade e assim ensiná-las a importância do cuidado com suas próprias crianças e com as crianças de seus donos brancos.
Para concluir, Barton e Somerville ressaltam que não havia sistema social à parte das práticas sociais padronizadas. Essas práticas eram criadas e reproduzidas conforme eram postas em ação, como afirma Bourdieu. Os brinquedos do período Vitoriano se preocupavam em ensinar valores e moralidade. Esses valores formavam as bases para o capital social e cultural da classe média e os brinquedos racializados foram os meios pelos quais a classe média gerou capital simbólico. Nesse sentido, esses objetos foram analisados não apenas como produtos para o divertimento, mas também como diálogo e locus frequente de conflito entre adultos e crianças e entre crianças e seus pares. Os brinquedos da era Vitoriana tentavam impor ordem entre garotos e garotas para que eles se tornassem modelos, indivíduos que conhecessem seus papéis tão bem quanto conhecessem o papel e o lugar do outro na sociedade. Os brinquedos racializados de todos os tipos e de todos os períodos de tempo revelam muito mais sobre os adultos que ofereceram os brinquedos às crianças do que sobre as crianças que os receberam.
É certo que o trabalho dos autores é de suma relevância para a temática da criança e da infância. Apesar de se tratarem de objetos desassociados de seu contexto arqueológico, o livro explora as interconexões entre a cultura material e a identidade social da época Vitoriana nos Estados Unidos, tão marcada pelas desigualdades sociais. Os brinquedos reunidos pelos autores contribuem ainda para aclarar sobre tipos de artefatos do período histórico mais recente, além de revelar as crianças como componentes do registro arqueológico e histórico, e como agentes nas relações sociais da época abordada.
Daniela Maria Alves – Mestre em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia MAE/USP. E-mail: danymalves@gmail.com.
[IF]Crítica da razão negra – MBEMBE (Topoi)
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. 1. ed., Lisboa: Antígona, 2014. Tradução de Marta Lança. Resenha de: ROBYN, Ingrid. Capitalismo, esquizofrenia e raça. O negro e o pensamento negro na modernidade ocidental. Topoi v.18 n.36 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2017.
Crítica da razão negra, de Achille Mbembe (original em francês pela editora La Découverte, 2013), é um desses livros que nasceu já clássico: clássico não no sentido de antigo, ou imune à passagem do tempo, mas no sentido borgeano de ter sido escolhido por uma comunidade de leitores como leitura obrigatória. E o livro é, de fato, leitura obrigatória não apenas para aqueles que se interessam pela questão do “negro”,1 mas para todos aqueles que, de alguma forma, se interessam pela relação entre raça e modernidade, ou posto de outra maneira: raça, Estado e mercado. Porque o que o autor denomina devir-negro do mundo é, concretamente, uma teoria explicativa das relações entre o pensamento racial no mundo ocidental e a emergência da modernidade em sua relação intrínseca com o desenvolvimento do Estado moderno e do capitalismo, sobretudo da chamada acumulação primitiva do capital (que, diga-se de passagem, tanto Mbembe como a teórica italiana Silvia Federici não veem como uma etapa superada do desenvolvimento do capitalismo, e sim como algo ainda em curso). Situando-se entre a filosofia, a história e a crítica, Crítica da razão negra é, ao mesmo tempo, uma abrangente e provocadora reflexão sobre os conceitos de “raça”, “negro” e “África” no ocidente, e um panorama histórico das relações raciais no mundo ocidental entre os séculos XV e XXI. Ao mesmo tempo que analisa os processos históricos dos quais derivam estes conceitos, Mbembe também nos oferece um recorrido do que eu chamaria “pensamento negro” – a sua “razão negra” -, dialogando criticamente com uma série de filósofos, teóricos e escritores negros que se debruçaram sobre a sua condição e refletiram sobre as possibilidades de emancipação do negro no mundo ocidental; uma tradição cujo ponto alto o autor localiza entre as décadas de vinte e setenta do século XX, mas de cuja ideias ele se apropria para pensar o século XXI.
Apesar de que percorre um longo caminho histórico, a maior parte do livro se concentra em dois momentos históricos especialmente paradigmáticos da história das relações entre Europa e África, assim como a construção dos conceitos de “negro” e “raça”: o pensamento ilustrado do século XVIII francês e o colonialismo europeu sobre o continente africano no século XIX. Se bem faz remontar o termo “negro” ao século XVI, e conceda especial atenção à maneira como esta categoria opera nas Américas francesa e inglesa, é durante o iluminismo e o neocolonialismo europeus que Mbembe localiza o ponto nodal da construção do negro como sujeito racializado no Ocidente e, como tal, contraponto à humanidade encarnada pelo “branco”:
o Negro e a raça têm significado, para os imaginários das sociedades europeias, a mesma coisa. (…) a sua aparição no saber e no discurso modernos sobre o homem (e, por consequência, sobre o humanismo e a Humanidade) foi, se não simultâneo, pelos menos paralelo; e, desde o início do século XVIII, constitui, no conjunto, o subsolo (inconfessado e muitas vezes negado), ou melhor, o núcleo complexo a partir do qual o projeto moderno de conhecimento – mas também de governação – se difundiu. (p. 10)
Antes de entrar a fundo no conteúdo do texto, no entanto, proponho uma pergunta: por que a tradução portuguesa do livro saiu três anos antes da sua tradução ao inglês, quando o mercado de editoras acadêmicas nos Estados Unidos – para ficar apenas com os Estados Unidos – é reconhecidamente mais ativo e mais lucrativo que o mercado editorial português tomado em seu conjunto?
A pergunta permite um sem-fim de hipóteses. Uma hipótese seria a de que foram os portugueses os primeiros europeus a ocupar as costas africanas e estabelecer o tráfico de escravos daquele continente, para o resto do mundo. A teoria, no entanto, é preguiçosa: sabemos do papel de companhias inglesas no tráfico de escravos de origem africana e, mais importante, do papel preponderante das colônias da América do Norte no que diz respeito à construção da categoria “negro”. Além disso, tal hipótese apelaria ao nacionalismo português, algo do que o livro de Mbembe se afasta de forma notável.
Outra hipótese seria o interesse que o livro poderia suscitar em outros países de língua portuguesa, sobretudo as ex-colônias portuguesas na África e o Brasil. Mais condizente, esta hipótese não explica o outro lado da história: o fato de que o livro tenha demorado tanto em publicar-se em língua inglesa, quanto Mbembe na verdade confere certo protagonismo à Inglaterra e aos Estados Unidos tanto no que diz respeito ao tráfico negreiro e à escravidão como à construção das fabulações responsáveis pelo surgimento da figura do negro, e que em última instância determinariam os rumos da ideologia racial na modernidade.
Uma possível resposta encontra-se, talvez, na tese central que Mbembe desenvolve ao longo deste livro, e que encontra particular resistência no mundo anglo-saxão: a ideia de que o liberalismo – tanto econômico, como político – não é incompatível com a escravidão e o racismo; ao contrário, é o liberalismo que cria o negro e a noção de “raça”, indissociável desta figura. Para Mbembe, ao mesmo tempo que o Estado moderno surge com e para o mercado global – é a máquina de guerra do Estado moderno que permite a empresa colonial, isto é, a escravidão em massa, o sistema de plantação e a acumulação primitiva de capital -, o liberalismo é a ideologia que justifica esta operação. Obviamente, Mbembe diferencia os processos históricos e ideologias específicos que distinguem o colonialismo dos séculos XV-XVIII, daqueles que irão caracterizar o século XIX e boa parte do século XX. No entanto, o autor não observa uma real ruptura entre esses dois tipos de colonialismos – e capitalismos – no que diz respeito à questão do negro. Ao contrário, é o surgimento da noção de humanidade, no esteio do iluminismo e o liberalismo, o que garante a definitiva separação desta entre “brancos” – sinônimo de “homem”, neste contexto – e “negros” – vistos como uma outredade absoluta, como espécie de semi-homens cuja diferença radical frente ao “homem branco” justificaria a empresa colonizadora. Nos termos de Walter Migonolo, seria no século XVIII que se processa a separação dos homens entre humanitas e anthropos.
É esta a tese que o autor desenvolve nos três primeiros capítulos do livro, “A questão da raça”, “O poço da alucinação” e “Diferença e autodeterminação”. Seu ponto de partida, o questionamento das categorias “negro” e “África”, e com elas, da noção de “raça”. Para Mbembe, o negro é uma ficção, um conjunto de fabulações elaboradas no esteio do capitalismo mercantil e do estabelecimento do sistema de plantação. A criação da categoria “negro”, à qual logo se vincularia a noção de “raça”, teria por finalidade estabelecer uma diferença radical, entendida como insuperável, entre a humanidade europeia e esse outro, o negro, sobre o qual se projetam todo tipo de medos e ansiedades. Esse outro, prossegue Mbembe, não seria homem no sentido pleno da palavra, mas sim objeto: pré-humano, vivendo em estado primitivo, incapaz de autogovernar-se, o negro seria então reduzido à condição de escravo – mercadoria e trabalho – e a empresa colonial justificada como obra “civilizatória” e inclusive “humanitária”; algo que, segundo o autor, continuaria informando o neoliberalismo do século XXI e os processos de globalização.
Junto com as categorias “negro” e “raça”, surge a “África”, terra desconhecida e que não se quer conhecer, sobre as quais se projetariam também uma série de fabulações. A partir de então, negro e África passariam a ser diretamente associados: o colonialismo e o desenvolvimento do capitalismo dariam lugar, ao mesmo tempo, a uma territorialização da raça e racialização do espaço. Essa associação sine qua non entre negro e África é algo que os próprios sujeitos negros abraçariam em seus primeiros intentos de emancipação, reclamando sua “africanidade essencial” como parte de sua identidade, e canibalizando assim o discurso europeu.
Outro aspecto fundamental destes capítulos são as íntimas relações que se estabelecem entre o Estado moderno, o mercado e o racismo. Para Mbembe, o Estado moderno surge como instrumento do mercado e produto da razão mercantilista, a partir dos quais não apenas se estabelece uma partilha do mundo, mas uma partilha na qual a raça ocupa um papel central. Se o principal objetivo da lei e da burocracia é a coerção e controle dos corpos, e o medo é o principal instrumento do Estado – como já afirmara Michel Foucault -, é sobre o negro que irá se projetar este medo, e portanto sobre seu corpo que se exercerá o controle do Estado. Além do mais, o surgimento do direito moderno, na Europa, implicou entender tudo o que está além dela – homens incluídos – como ao mesmo tempo além e aquém da lei. Para Mbembe, o Estado moderno e o liberalismo surgem, então, como instrumentos biopolíticos por excelência que irão permitir e justificar a escravização do negro – entendido como ameaça, como conjunto de fabulações e de disparates que por sua vez disparam afetos -, o estabelecimento do sistema de plantação e, com isto, de um mercado global:
No ensaio La Naissance de la biopolitique, Foucault defende que, na origem, o liberalismo “implica intrinsecamente uma relação de produção/destruição [com] a liberdade”. Esquece-se de explicar que, historicamente, a escravatura dos Negros representa o ponto culminante desta destruição da liberdade. Segundo Foucault, o paradoxo do liberalismo é que “é necessário, por um lado, produzir a liberdade, mas esse próprio gesto implica que, do outro lado, se estabeleçam limitações, controles, coerções, obrigações apoiadas em ameaças, etc.” A produção da liberdade tem portanto um custo cujo princípio de cálculo é, acrescenta Foucault, a segurança e a protecção. Por outras palavras, a economia do poder característica do liberalismo e da democracia do mesmo tipo assenta no jogo cerrado da liberdade, da segurança e da protecção contra a omnipresença da ameaça, do risco e do perigo. (…) O escravo negro representa este perigo. (p. 143)
É neste sentido que o liberalismo e inclusive o discurso sobre direitos humanos solidificam o racismo. O liberalismo econômico tem por base o comércio de escravos, responsável pelo desenvolvimento do capitalismo e pelo que hoje chamamos globalização. Neste contexto, o negro ocupa o papel de mercadoria e de matéria energética: ele é, ao mesmo tempo, homem-mineral (não homem, natureza), homem-metal (escravo, instrumento de extração) e homem-moeda (produtor de mercadorias e mercadoria em si mesmo). Por sua vez, o liberalismo político e o discurso sobre os direitos humanos, herdeiro do iluminismo, utilizam a escravidão como metáfora da condição humana em seu conjunto, ao mesmo tempo que apagam a existência do racismo sob a bandeira da igualdade e da fraternidade: trata-se de um discurso universalizante que, por isso mesmo, é incapaz de dar conta da diferença histórica sobre a qual se fundam as categorias “negro” e “raça”. Ao contrário, sugere Mbembe, trata-se de reafirmá-las ante a suposta impossibilidade de conciliação entre a “raça branca”, portadora de humanidade e cidadania plenas, e a “raça negra”:
O direito é, portanto, neste caso, uma maneira de fundar juridicamente uma certa ideia de Humanidade enquanto estiver dividida entre uma raça de conquistadores e uma raça de servos. Só a raça de conquistadores é legítima para ter qualidade humana. A qualidade do ser humano não pode ser dada como conjunto a todos e, ainda que o fosse, não aboliria as diferenças.2 (p. 111)
O século XIX concluiria o trabalho de exclusão a partir do qual a África e o negro se vêm separados da “história da civilização”: sem lei e nem razão, a África e o negro deveriam ser paulatinamente “introduzidos” ao processo civilizatório sob a égide europeia. A noção de “decadência do ocidente”, bastante popular nas primeiras décadas do século XX, e o exotismo com o qual se recobre o continente africano – visto pela vanguarda europeia e também caribenha como portador de uma vitalidade perdida no velho continente -, não fazem senão reafirmar esses discursos, ainda quando se buscava reivindicar o termo “negro” como categoria de autodeterminação, e não mera projeção alheia.
Paralelamente à descrição dos processos históricos que discute, Mbembe vai deslindando o pensamento negro, a sua “crítica da razão negra”, à que irá se dedicar de maneira mais direta a partir do capítulo três. Durante os séculos XV-XVIII, o negro expressa uma espécie de cisão a partir do qual habita a si mesmo como um outro, expressando mesmo um desejo de ser outro – como já o havia sugerido Franz Fanon. Neste primeiro momento, o negro abraçaria os discursos e fabulações que o constroem como tal e lhe retiram a sua humanidade, ao mesmo tempo que está obrigado a reconhecer sua condição humana. Mesmo com o fim do tráfico de escravos e os movimentos de emancipação do século XIX, afirma Mbembe, o pensamento negro reproduziria as três respostas elaboradas pelo Ocidente no que diz respeito ao “problema africano”: a noção de que África representaria uma humanidade sem história, aquém da razão e da lei; a noção de que a diferença radical do negro é algo a emendar-se, para o qual se faria necessário administrar, ainda que de forma indireta, tanto os escravos libertos e seus descendentes como o continente africano como um todo; a ideia de que o negro deve assimilar-se ao projeto civilizatório europeu para tornar-se um ser humano e um cidadão.
Se nesse primeiro momento o negro experimentaria um processo de desapropriação e de degradação, num segundo momento, o pensamento negro se caracterizaria pela vitimização. Para Mbembe, o pensamento negro do século XIX e inícios do século XX teria sido incapaz de escapar do universalismo e humanismo liberal-ilustrados, abraçando a noção de reabilitação como forma de afirmar a sua humanidade. Neste contexto, o pensamento negro não nega, mas sim incorpora a noção de raça, fazendo dela fundamento para sua ideia de nação:
A reafirmação de uma identidade humana negada por outro participa, neste sentido, do discurso da refutação e da reabilitação. Mas se o discurso da reabilitação procura confirmar a co-pertença negra à Humanidade, não recusa, no entanto – exceto em raros casos -, a ficção de um sujeito de raça ou da raça em geral. Na realidade, abraça esta ficção. Isto é tão válido para a negritude como para as variantes do pan-africanismo. (p. 158)
Além disso, e como vítima, o negro passaria a ver a sua própria história como série de fatalidades causadas por um inimigo externo, planteando a necessidade de superar o seu passado e inclusive esquecê-lo, para poder gerar uma possibilidade de futuro.
É este, em grande medida, o tema do capítulo quatro deste livro, “O pequeno segredo”, dedicado à questão da memória e ao que o autor denomina “modos de inserção da colônia no texto negro”. Como origem da cisão fundamental a partir da qual emerge o negro, locus de uma perda originária, a colônia será contraditoriamente algo comemorado e relegado ao esquecimento. A colônia, afirma Mbeme, se apresenta para o negro ao mesmo tempo como violência e como espécie de espelho no qual se reconhece a si mesmo. Neste sentido, a memória da colônia se apresentará como ponto fulcral da literatura negra, e com ela, o problema do olhar: é o olhar do colonizador que cria o negro, um olhar que não vê mais além de um corpo sobre o qual projeta todo tipo de ansiedade sexual, e que se alimenta da sua própria ignorância:
África propriamente dita – à qual acrescentaria o Negro – só existe a partir do texto que a constrói como ficção do outro. (…) Por outras palavras, África só existe a partir de uma biblioteca colonial por todo o lado imiscuída e insinuada, até no discurso que pretende refutá-la, a ponto de, em matéria de identidade, tradição ou autenticidade, ser impossível, ou pelo menos difícil, distinguir o original da sua cópia e, até, do seu simulacro. (p. 166)
Outro aspecto que Mbembe associa à colônia é seu papel como produtora de desejos e alucinações. A colônia, afirma ele, faz circular no continente africano toda uma série de mercadorias e bens simbólicos que excitam o desejo dos colonizados, que passam quase imediatamente a ser considerados signos de prestígio, status, classe etc. Nesse sentido, a colônia é, também, objeto de desejo. Sua memória, então, apresenta-se à literatura africana como algo que ultrapassa os limites daquilo que a linguagem pode expressar, mas também como inelidível.
O quinto capítulo de Crítica da razão negra, “Réquiem para o escravo”, está dedicado quase exclusivamente à literatura negra. Neste capítulo, Mbembe se debruça sobre certos motivos correntes na literatura contemporânea, e que remetem à duplicidade de que nela se recobre a figura do negro: reverso da humanidade, mas incapaz de ignorar sua condição humana, o negro se identifica com seu duplo, a sua sombra, convertendo-se em espécie de fantasma, alienado do próprio corpo. Na realidade – e aqui Mbembe se afasta notavelmente do marxismo clássico -, dissociar-se do próprio corpo, metamorfosear-se, seria condição fundamental para a emancipação do negro, uma vez que a operação básica do capitalismo racial consiste precisamente em converter o negro em corpo para o trabalho, isto é, em objeto.
O último capítulo do livro, “Clínica do sujeito”, nos oferece um recorrido do pensamento negro no século XX, analisando criticamente diferentes propostas de emancipação que marcaram o período: especificamente, as de Marcus Garvey, Aimé Césaire, Franz Fanon e Nelson Mandela. Após comentar em detalhe cada um desses pensadores, Mbembe propõe dividir o pensamento negro contemporâneo em dois períodos: um primeiro no qual o desejo de autodeterminação passaria pela afirmação da diferença e celebração da negritude, do qual o exemplo máximo seria Aimé Césaire; e um outro, o do século XXI, no qual se abraçaria o significante negro não como forma de autoafirmação ou autocompadecimento, mas sim para melhor livrar-se dele. Para Mbembe, o atual mundo globalizado requereria uma crítica radical da raça, tanto política como ética, a partir da qual seria possível passar de uma afirmação da diferença para uma afirmação da comunidade humana. Valendo-se, sobretudo, de Fanon, e estendendo a questão do negro ao que o autor chama “novos condenados da terra”, Mbembe afirma que qualquer projeto efetivamente emancipador, nos dias de hoje, requer que o negro abandone o papel de vítima, por um lado, e que os colonizadores assumam a sua responsabilidade, de outro. Trata-se, segundo ele, de insistir na lógica da justiça; algo que se observa em movimentos negros contemporâneos como Black Lives Matter:3
Enquanto persistir a ideia segundo a qual só se deve justiça aos seus e que existem raças e povos desiguais, e enquanto se continuar a fazer crer que a escravatura e o colonialismo foram grandes feitos da “civilização”, a temática da reparação continuará a ser mobilizada pelas vítimas históricas da expansão e brutalidade europeia no mundo. Neste contexto, é necessária uma dupla abordagem. Por um lado, é preciso abandonar o estatuto de vítima. Por outro, é preciso romper com a “boa consciência” e a negação da responsabilidade. Será nesta dupla condição que é possível articular uma política e uma ética novas, baseadas na exigência de justiça. (p. 297)
Seria impossível dar conta aqui de toda a riqueza intelectual e gama de ideias que desenvolve Achille Mbembe nesse livro. Para finalizar, ressaltaria a contribuição teórica que oferece o autor, que compartilha com Fanon a qualidade de não poupar a sensibilidade do leitor. Claramente inspirado nas obras de teóricos como Gilles Deleuze e Michel Foucault, Crítica da razão negra responde a esses teóricos apontando a centralidade do negro e da noção de raça para o desenvolvimento da modernidade. Ao mesmo tempo, Mbembe incorpora em sua escritura as contribuições de toda uma série de teóricos negros – africanos, caribenhos e norte-americanos -, e até mesmo de teóricos latino-americanos como Walter Mignolo. Trata-se portanto de um arcabouço teórico que apenas em aparência deriva direta ou exclusivamente da tradição francesa. Ao demonstrar a relação inelidível entre o pensamento sobre raça no Ocidente, a constituição do Estado moderno e o mercado, Mbembe desloca o centro de preocupações da crítica de esquerda europeia da história do capital e dos chamados direitos humanos para a questão da raça. Ao mesmo tempo, o autor denuncia também as contradições do pensamento libertário e nacionalista negros, ressaltando suas dívidas para com a “razão branca” e insuficiências no que diz respeito a qualquer perspectiva de futuro. Por fim, apesar de enfocar-se na questão do negro em sua relação com a África e o colonialismo europeu – o negro como homem de origem ou descendência africana – as teses desenvolvidas em Crítica da razão negra, como indica o próprio autor, referem-se antes ao que ele denomina um devir-negro do mundo; expressão que introduz a possibilidade de pensar outros sujeitos racializados – muçulmanos, por exemplo – como os “novos negros” do mundo contemporâneo, e que reforça a ideia de que a categoria negro não passa de uma ficção útil. Não humano ou sub-humano, e ainda, ameaça ao mundo dos “brancos” – o que equivale a dizer, à “humanidade” mesma – o negro é portanto passível de ser explorado, isolado do resto da “humanidade” e, inclusive, exterminado. Neste sentido, Crítica da razão negra oferece não apenas chaves fundamentais para pensar-se a experiência do outro na modernidade, mas também a sua emancipação; aspecto fundamental para o desenvolvimento da humanidade mesma.
1“Nègre” no original, “black” na tradução ao inglês. Como veremos adiante, Mbembe analisa a categoria “negro” como uma construção histórica de longa duração que não se refere apenas aos sujeitos africanos e afrodescendentes, mas ao contrário se constrói como sinônimo de uma outredade absoluta; trata-se, portanto, de uma “ficção útil” que ultrapassa a questão da cor da pele, a origem ou a localização geográfica do sujeito negro.
2Mbembe se refere aqui ao direito moderno, e que continua informando tanto o funcionamento do Estado como o discurso sobre direitos humanos. Fundado numa noção universalizante de humanidade, o discurso sobre direitos humanos, de acordo com Mbembe, teria como resultado a obliteração da cisão fundamental que se estabelece a partir da própria criação da categoria “homem”.
3Refiro-me ao principal slogan do movimento BLM, “No justice, no peace!” (Sem justiça não há paz!), mas também ao fato de que o movimento rejeita a “boa consciência branca”, que via de regra se limita a converter o negro em vítima e portanto reproduz a lógica paternalista a partir da qual operam as relações raciais.
4Como citar – Mbembe, Achille . Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona, 2014. Tradução de Marta Lança. 1. ed. Resenha de ROBYN, Ingrid. Capitalismo, esquizofrenia e raça. O negro e o pensamento negro na modernidade ocidental. Topoi. Revista de História, Rio de Janeiro, v. 18, n. 36, p. 696-703, set./dez. 2017. Disponível em: <www.revistatopoi.org>.
Ingrid Robyn – Professora do Departamento de Línguas e Literaturas Modernas/Instituto de Estudos Étnicos. Universidade de Nebraska-Lincoln. E-mail: irobyn2@unl.edu.
Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881) – MATA (RBH)
MATA, Iacy Maia. Conspirações da raça de cor: escravidão, liberdade e tensões raciais em Santiago de Cuba (1864-1881). Campinas: Ed. Unicamp, 2015. 303p. Resenha de: CHIRA, Adriana. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.36, n.73, set./dez. 2016.
O complicado relacionamento entre as pessoas de cor e os movimentos nacionalistas latino-americanos esteve no centro de um vasto conjunto de pesquisas historiográficas. Algumas das questões que os estudiosos enfrentaram foram estas: o que levou as pessoas de cor a participar nesses movimentos? Como os modelaram? E por que endossaram ideologias nacionalistas que celebravam a harmonia racial e que as elites brancas viriam a usar como meio para silenciar as reivindicações baseadas na raça? As pessoas de cor foram sendo cooptadas pelas elites brancas, ou conseguiram dar forma ao teor geral dos movimentos e das ideologias nacionalistas? Historiadores cubanos envolveram-se nessas discussões, muito embora Cuba tenha discrepado cronologicamente em comparação com outras colônias espanholas nas Américas, alcançando sua independência apenas em 1898. O paradoxo que faz de Cuba um tema particularmente interessante de pesquisa é por que o maior produtor de açúcar para o mercado global poderia abrigar um ideal nacionalista de fraternidade racial, no momento em que o racismo científico tornava-se o lastro ideológico para os segundos impérios europeus na Ásia e na África, e para as chamadas leis Jim Crow no sul dos Estados Unidos. Realizando rica pesquisa em arquivos cubanos e espanhóis e tecendo uma bela narrativa que coloca na frente e no centro as vozes e as ações das próprias pessoas de cor, Iacy Maia Mata oferece, em sua monografia, novas abordagens sobre essas questões.
Estudos anteriores sobre fraternidade racial em Cuba centraram o foco sobretudo na experiência militar durante a prolongada Guerra de Independência contra a Espanha (1868-1898). Estudiosos e intelectuais já desde José Martí argumentaram que o esprit de corps militar que se desenvolveu entre os rebeldes pró-independência através das linhas de segregação oficiais serviu como catalisador de ideologias radicais de inclusão nacional e racial. Mata, porém, sustenta que há indícios nos arquivos de uma cultura política popular em Santiago que parece ter preexistido à campanha militar de 1868. Introduzindo um novo recorte cronológico para a emergência de ideologias de igualdade racial em Cuba, Iacy Mata não está apenas oferecendo o relato mais completo. Ela também está sugerindo que a população de cor de Santiago havia considerado a igualdade antes mesmo de as elites liberais de pequenos proprietários na província vizinha de Puerto Príncipe terem iniciado a guerra de independência.
O objetivo de Iacy Mata é traçar as origens da cultura política popular de Santiago e explicar como, entre meados dos anos 1860 e o início da década de 1880, a população de cor local superou as divisões de status e criou laços e solidariedades que alcançaram sua expressão completa na ideia de uma raza de color unificada. A autora argumenta que essa visão particular de uma comunidade política centrada na raça estava alinhada com a causa nacionalista de uma Cuba livre. Como ela coloca adequada e incisivamente, as pessoas de cor de Santiago passaram, no começo da década de 1860, da condição de la clase de color, um rótulo oficial nelas fixado pelas autoridades coloniais espanholas, para a de la raza de color, termo que intelectuais e líderes políticos e militares de cor começaram a usar para se autoidentificar no início da década de 1880.
Ao longo da maior parte de sua existência colonial, Santiago de Cuba, província situada na extremidade leste da ilha, foi uma zona de fronteira colonial, ator marginal na política imperial e local de pouco investimento da agricultura de plantation em larga escala. Os refugiados da Revolução Haitiana que migraram para essa região por volta de 1803 ali introduziram plantações de café, muitas das quais faliram no começo da década de 1840. Até o final dos anos 1850, as principais fontes de renda locais eram a criação de gado, a plantação de café e tabaco e a mineração de cobre (que as autoridades concederam a uma companhia inglesa). Como resultado da localização de Santiago nas margens do domínio açucareiro, a pequena propriedade permaneceu ali muito mais comum do que na parte centro-oeste de Cuba. Além do mais, Santiago também se destacou entre as demais províncias cubanas pelo peso demográfico relativamente maior da população de cor. No começo dos anos 1860, muitos deles eram pequenos proprietários e alguns possuíam um pequeno número de escravos. Era essa população que começou a se mobilizar politicamente no início daquela década, argumenta a autora, em resposta aos acontecimentos econômicos locais e aos movimentos internacionais antiescravagistas.
Nos primeiros anos da década de 1860, o açúcar começou a deitar raízes mais profundas em Santiago e a produção de café voltou a se expandir ali. Como consequência, as plantações começaram a invadir áreas onde os pequenos proprietários ou arrendatários cultivavam tabaco, deixando a população de cor insatisfeita. Ademais, em meados da década, teriam chegado a Santiago notícias e rumores sobre a emancipação dos escravos no sul dos Estados Unidos. A população local também teria consciência, havia bastante tempo, dos protestos britânicos contra a escravidão e o comércio de escravos para o Império Espanhol (em razão da proximidade da Jamaica), bem como da reputação do Haiti como república construída a partir de uma bem-sucedida revolução de escravos. Fazendo uma leitura cuidadosa de registros criminais e judiciais, Iacy Mata recupera como essas notícias impactaram a vida cotidiana entre os escravos e a população de cor livre e o que fizeram com elas. Quer fosse a exibição sutil e irônica de uma bandeira haitiana, trazendo inscrita a palavra Esperança, quer fosse o uso de um vocabulário pró-republicano, antiescravidão e antidiscriminação, sustenta a autora, as conversas de natureza política se espalharam pela cidade e pelas áreas rurais antes de 1868.
As conversas políticas locais culminaram em uma série de conspirações que transpirou entre 1864 e 1868 na província de Santiago e em áreas adjacentes. Iacy Mata interpreta a evidência dessas conspirações cuidadosamente, identificando os objetivos e as alianças dos participantes que emergiam entre escravos, população de cor livre e brancos. Os desiderata incluíam uma república independente, o fim da escravidão e a igualdade de direitos no que diz respeito ao status de raça. Nos dois capítulos finais, a autora coloca em discussão que essas metas políticas receberiam maior articulação durante a Guerra de Independência, quando as pessoas de cor tentariam radicalizar a agenda principal da liderança branca liberal para incluir a igualdade política e a abolição imediata.
A monografia baseia-se em extensa pesquisa nos arquivos imperiais espanhóis (Arquivo Histórico Nacional, Arquivo Geral das Índias), bem como em fontes dos Arquivos Nacionais Cubanos e do Arquivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Esses diferentes repositórios forneceram a Iacy Mata fontes que lhe permitiram deslocar-se entre diferentes percepções dos mesmos eventos ou processos: elite/subalterno, centro imperial (Madri)/elite política centrada no açúcar (Havana)/zona de fronteira cubana (Santiago). Adicionalmente, o trabalho de Iacy Mata mostra como o estudo de uma área de fronteira do Caribe pode ser importante para se entender o radicalismo político na região. Por muito tempo, os historiadores permaneceram focando as áreas produtoras de açúcar como os principais espaços onde a mudança social se deu. Embora seu trabalho tenha nos munido de ferramentas e abordagens analíticas indispensáveis, Iacy Mata sugere que é importante olhar para além dessas áreas se quisermos compreender a cultura política local.
A monografia também abre importantes caminhos para novas pesquisas. A unidade discursiva do termo raza de color esconde as complexas políticas e as fraturas existentes entre as pessoas de cor em Santiago que sobreviveram nos anos 1880 e moldariam a política clientelista nos primórdios da Cuba republicana. Seria fundamental considerar que as origens e os desdobramentos posteriores dessas fraturas estariam em Santiago. Em segundo lugar, o estudo de Iacy Mata alude à presença de aliados brancos liberais em Santiago, que, ocasionalmente, ajudaram os combatentes pela liberdade ou participaram de conspirações antiescravidão. A historiadora cubana Olga Portuondo Zúñiga explorou a história do liberalismo na parte ocidental da ilha, revelando um vibrante campo de ideias liberais que se mostravam, às vezes, contraditórias ou contraditórias em si mesmas. Puerto Príncipe e Bayamo foram terrenos particularmente férteis para o pensamento liberal, mas Santiago não esteve alheia a ele antes da Guerra de Independência (ver, por exemplo, o governo de Manuel Lorenzo nos anos 1830). Algumas dessas ideologias liberais podem também ter escoado através de redes que alcançaram ex-colônias latino-americanas depois da década de 1820 e a República Dominicana durante a Guerra da Restauração nos anos 1860. Estudar os ideais políticos da população de cor de Santiago em relação a essas outras correntes políticas, tanto internas quanto externas à ilha, parece ser um terreno especialmente importante para futuras pesquisas.
O trabalho de Iacy Mata é uma bela ilustração de como as ferramentas da história social e política podem capturar a dinâmica dos movimentos políticos populares. Assim sendo, eu o recomendo vivamente para os estudiosos interessados em sociedades escravistas e pós-escravistas e nos papéis que as pessoas de cor desempenharam no interior delas.
Adriana Chira – Ph.D., University of Michigan. Assistant Professor of Atlantic World History, Emory College of Arts and Sciences (USA). Emory College of Arts and Sciences. Atlanta, GA, USA. E-mail: adriana.chira@emory.edu.
[IF]Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a NineteenthCentury Brazilian Penal Colony | Peter M. Bettie
Publicada em 2015 por Peter M. Beattie, professor da Universidade de Michigan, a obra“Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a Nineteenth-Century Brazilian Penal Colony” consiste em um ambicioso estudo de caso, em que a colônia penal de Fernando de Noronha se converte em um microcosmo para a análise de temas como raça, cor, escravidão, gênero, sexualidade, punição, justiça e direitos humanos, tanto em relação à sociedade e ao Estado brasileiros quanto ao quadro atlântico ou global.
Em primeiro lugar, o autor possui o mérito de escapar das armadilhas teóricas e metodológicas de estudos sobre prisões e punições, evitando a mera reprodução ou negação do paradigma foucaultiano (“Vigiar e Punir: O Nascimento da Prisão “). Tampouco recai nas versões simplificadas do debate sobre “ideias fora de lugar” ou no reducionismo binário de categorias como arcaico e moderno, afastando-se de alguns dos vícios que acometem obras de referência sobre o tema na América Latina e no Brasil. A partir de uma apropriação muito particular dos estudos e aportes teóricos e conceituais de Erving Goffman, Lewis Coser e David Garland, Beattie esboça uma criativa analise em que a ilha, o Império do Brasil e o Atlântico (quiçá o globo) se cruzam em múltiplas escalas geográficas, sociais e discursivas do oitocentos.
Os primeiros capítulos perpassam a historia da ilha desde a colonização portuguesa até o século XIX, com sua progressiva conversão na principal colônia penal do Estado brasileiro. O autor descreve o cenário e os atores envolvidos sem perder de vista o quadro mais amplo da sociedade brasileira e do Estado e suas instituições em formação, dando-se a um luxo do qual não usufruíam os condenados em seu isolamento, em que remetiam à sua ilha como “Fernando” em oposição ao “mundo” (continente). Fernando de Noronha adquire ao longo do texto tanto a condição de espaço físico, geográfico e social quanto a de representação compartilhada e disputada pelos agentes históricos, ora como cenário idílico ora como cárcere. Assim como a escravidão, a ilha se converteu em metáfora nas representações sobre liberdade e sua negação, servindo aos mais variados discursos e interesses.
Muito transparente em relação à metodologia adotada e à documentação analisada, Beattie apresenta as contradições entre o caráter normativo dos discursos de autoridades da alta burocracia imperial, da legislação vigente e dos regimentos oficiais e a realidade cotidiana da ilha, em que militares e condenados de diversas cores e condições civis (inclusive escravos) reinventaram suas vidas e identidades. Enquanto os discursos penais da primeira metade do século XIX remetiam a um estrito controle do tempo e do espaço, a arquitetura e a rotina da colônia possuíam condições muito particulares, não decorrentes de um caráter arcaico da sociedade escravista e das instituições brasileiras, mas em parte pela própria condição geográfica insular e pelas relações sociais muito particulares desse microcosmo social. Por entre as brechas do sistema, pessoas livres conviviam com condenados, e formas de comércio e de contrabando se misturavam à rotina imposta pelos regimentos. Contudo, esse submundo de Fernando de Noronha não é tomado como a negação de sua função, mas como a face complementar (“dark twin”) típica de todo ambiente penal planejado, sendo inclusive incorporado e defendido nos discursos dos administradores.
Ao abordar o trabalho dos presos nos campos agrícolas e outras atividades, o autor apresenta um interessante paralelo entre prisão e plantation, resvalando em uma tradição de estudos de cunho marxista que relacionam a esfera da produção e as práticas punitivas (Georg Rusche e Otto Kirchheimer, “Punishment and Social Structure”; Dario Melossi e Mario Pavarini, “The Prison and the Factory”). No entanto, as aproximações sugeridas por Beattie não se pautam pela dimensão econômica, especialmente tendo em vista o caráter deficitário da produção da colônia – em oposição à alta lucratividade de grande parte das plantations do continente – e o fato de que a maioria dos condenados não retornaria à sociedade na condição de mão-de-obra disponível. Amparado nas reflexões de David Garland, Beattie adota uma abordagem pluralista e multidimensional da punição, sem recair nas fórmulas do marxismo, do paradigma foucaultiano ou do simbólico durkheimniano, mas buscando combinar esses referenciais clássicos da sociologia da punição. É o caráter de instituições disciplinares que faz convergirem os ambientes e as práticas da colônia penal, das fazendas escravistas e até mesmo de agrupamentos militares.
Ao dialogar com outras duas referências do campo da sociologia, Erving Goffman e Lewis Coser, o autor apresenta uma das contribuições mais originais da obra no quinto capítulo. Por meio do uso alargado dos conceitos “instituição total” e “instituição gananciosa” (“greedy institution”), Beattie contradiz a suposta tensão entre a instituição da família e outras instituições disciplinares nas práticas narradas em Fernando de Noronha. Na gestão da colônia penal as autoridades passaram a questionar as diretrizes normativas referentes a gênero e sexualidade – isolamento e abstinência dos condenados -, defendendo a presença de mulheres e a constituição de laços familiares heterossexuais. O casamento se converteria em política abertamente defendida pelas autoridades da ilha, como instituição voltada à disciplina e à produtividade dos condenados: a “instituição ciumenta da conjugalidade heterossexual” (“jealous institution of heterossexual conjugality”).
Outra importante contribuição decorre da análise dos conflitos entre os militares que geriam a colônia penal e as autoridades da alta burocracia estatal, em geral pressionados pelos interesses de proprietários de escravos. Desde os primeiros capítulos o autor demonstra a politização das questões penais e prisionais no processo de formação do Estado. É evidente ainda o papel da política partidária no que se refere a nomeações de cargos e práticas clientelistas, que atrelavam a gestão da ilha ao jogo político do continente. Na segunda metade do século XIX, diante dos sucessivos embates sobre a escravidão e as constantes comutações de penas de morte pela ação do poder moderador, a colônia penal de Fernando de Noronha se converteu em uma representação disputada pelos agentes sociais. Curiosamente, tanto abolicionistas como defensores da manutenção da escravidão faziam uso da comparação entre a condição prisional e a escravidão no mesmo sentido, apontando a segunda como pior que a primeira. Entretanto, enquanto abolicionistas questionavam o cativeiro como indigno e pior que a prisão, escravocratas criticavam as comutações de penas de morte em galés ou prisão, sugerindo o risco de se incentivar a criminalidade dos escravos que prefeririam correntes e grades às senzalas. Nesse discurso, a colônia penal se tornava a ilha do rei, onde os escravos se livrariam do cativeiro. Como insiste o autor, tal percepção não correspondia à realidade dos números dos crimes e de escravos em Fernando de Noronha, o que, todavia, não invalida a importância de sua representação no imaginário oitocentista.
Nesse contexto, as autoridades locais passaram a ser questionadas por membros da alta burocracia sobre as praticas de gestão da Ilha, especialmente a partir da década de 1880, com a visita de inspetores nomeados pelo Ministério da Justiça. Entre as principais divergências estavam a própria política de promoção de casamentos (“jealous institution”), o reduzido controle do tempo e do espaço de circulação dos condenados, a quantidade de trabalho imposto e a falta de segregação e hierarquização da população prisional com base na condição civil. Quanto último quesito, as autoridades respondiam aos anseios de uma sociedade que ainda legitimava a escravidão e aos interesses de proprietários que se sentiam ameaçados pela crescente rebeldia de seus cativos e pela ascensão do movimento abolicionista. Entretanto, administradores da colônia se negavam a adotar uma gestão que segregasse e punisse de forma diferenciada escravos ou libertos. Esse dado permite ao autor sugerir uma estratificação menos clara entre os condenados das mais diversas cores e condições civis, aglomerados na categoria dos pobres intratáveis (“intractable poor”), pois, na colônia penal, condenados que fossem escravos ou livres compartilhariam de condições de vida e oportunidades muito semelhantes. O autor é cauteloso e nega qualquer subsídio à ideia de uma democracia de condição civil ou racial nas prisões, argumentando apenas contra estudos que avaliaram a condição de escravos nas prisões a partir da legislação e regulamentos.
O capitulo que antecede a conclusão, intitulado “Direitos Humanos em Perspectiva Atlântica” (“Human Rights in Atlantic Perspective”) destoa em forma e conteúdo do restante do livro. No entanto, se a escolha aparentemente rompe a harmonia do texto, a reflexão de cunho ensaístico e as hipóteses levantadas conferem maior profundidade e relevância à obra. A proposta comparativa tem por foco principal Brasil e Estados Unidos no século XIX, mas inclui outros espaços do globo, inclusive para além do Atlântico. Entre os pontos levantados, dois merecem destaque. Em primeiro lugar, o autor aponta o paradoxo de o Brasil, último país a abolir a escravidão, ter sido um dos primeiros a abolir de facto a pena de morte. Esse fenômeno negligenciado pelos que estudam o tema contradiz argumentos da historiografia sobre os Estados Unidos que defendem a relação intrínseca entre pena de morte e escravidão para justificar as divergências regionais do judiciário no país. Ainda nesse quesito, o autor se une aqueles que defendem a importância da atuação de D. Pedro II na política nacional, especialmente no que se refere ao judiciário, pois se a abolição da escravidão era um tema essencialmente do Legislativo, as prerrogativas do poder Moderador lhe permitiram atuar para por fim às execuções de penas capitais, inclusive no sentido de defender internacionalmente a imagem do país.
Em segundo lugar, Beattie sustenta a hipótese de que reformas referentes às penas corporais, à pena de morte e à escravidão se cruzaram e se estimularam mutuamente, e que aquelas que se referiam a melhorias no tratamento de algumas categorias sociais abriam possibilidades para futuras reformas referentes aos grupos ainda marginalizados. A título de exemplo, reformas contra penas corporais a homens livres teriam aberto a possibilidade de debates acerca das condições de prisioneiros e, inclusive, escravos. Além do mais, como se referiam a diferentes integrantes dos grupos marginalizados da sociedade, a hipótese de reformas graduais é utilizada pelo autor para defender a categoria relativamente indiferenciada dos “pobres intratáveis” (“intractable poor”).
Por fim, o trabalho margeia o anacronismo ao se escorar no conceito de direitos humanos para retratar o fim do século XIX, sem, contudo, comprometer seus argumentos centrais. Diante da tendência de estudos sobre escravidão e raça se valerem de tal discurso, esse pecado dos historiadores pode se converter em virtude no que se refere ao posicionamento político no presente em que a obra se insere.
A partir de um estudo de caso original e ambicioso, Peter Beattie apresenta uma obra de múltiplas escalas, descrevendo as minucias do cotidiano desse microcosmo, perpassando o imaginário e os discursos da sociedade oitocentista brasileira, e utilizando de forma criativa modelos clássicos da sociologia. Um dos pontos altos do estudo, o voo panorâmico atlântico esboçado nos últimos capítulos apresenta uma promissora proposta de história comparada, que se levada adiante trará grandes contribuições para historiografia. Ainda que Brasil (ou o Atlântico) não caiba em Fernando de Noronha, Beattie faz dessa colônia penal uma janela para muitas dimensões do século XIX.
Marcelo Rosanova Ferraro – Universidade de São Paulo, São Paulo – SP, Brasil. Bolsista de Mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). E-mail: marcelo.rosanova.ferraro@usp.br
BEATTIE, Peter M. Punishment in Paradise: Race, Slavery, Human Rights, and a NineteenthCentury Brazilian Penal Colony. Durham / London: Duke University Press, 2015. Resenha de: FERRARO, Marcelo Rosanova. Fernando de Noronha e o Mundo: A Colônia Penal do Império em Perspectiva Atlântica no Século XIX. Almanack, Guarulhos, n.10, p. 498-501, maio/ago., 2015.
Racecraft: the soul of inequality in American Life – FIELDS; FIELDS (RBH)
FIELDS, Karen E.; FIELDS, Barbara J. Racecraft: the soul of inequality in American Life. London and New York: Verso, 2012. 302p. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.33, n.65, 2013.
Karen e Barbara Fields são irmãs e, seguindo um gesto conforme à convenção racial norte-americana – principal objeto de análise deste livro, do seu fim abertamente iconoclasta e da indignação das autoras –, ‘afro-americanas’ por definição. Elas, no entanto, não pretendem disputar, nesta obra, o uso de outros termos nas terminologias raciais e de origem. Muito pelo contrário. Preferem tornar claro que, como projeto intelectual, mais que a liberdade de escolha entre tipologias, elas defendem o desenraizamento da ideologia da ‘construção social da raça’ (racecraft) do discurso político e de propostas de ordem social e convívio humano. Assim, em análises que pretendem iluminar como essa ideologia se atualiza e mantém-se contemporânea desde a Revolução Americana, as autoras buscam enfaticamente demonstrar por que elas a consideram, ao mesmo tempo, uma irracionalidade, uma fraude intelectual, uma evasão historiográfica, um crime político e um problema ético.
Naturais de uma centenária família da Carolina do Sul, radicada em Charleston – cidade tornada emblemática no memorialismo sulista, graças à importância de ilustres nativos na Confederação e na defesa do escravismo –, elas problematizam seu aprendizado intelectual e memórias familiares para expor que a manipulação da classificação racial tem limites estratégicos e éticos. Herdeiras de uma tradição praticamente defunta, o antirracismo com programa e raízes na Nova Esquerda, em uma era de agendas liberais e multiculturalismos, elas falam do interior dessa frente que as alcançou nos anos 1960 entre a longa história de luta e desobediência civil contra o Jim Crow 1 e o racismo reproduzido na ideologia da ‘construção social da raça’.
Publicado pela Verso – órgão da New Left Books, famoso por publicar a New Left Review nos anos 1960 –, o livro é composto de dez capítulos, entre textos inéditos e reeditados, e corresponde a uma trajetória intelectual que se iniciou, nos anos 1980, na investigação das formas populares das ideologias raciais, para alcançar, nos anos 2000, sua produção no universo acadêmico. Karen, socióloga e africanista, atualmente radicada na Duke University, é estudiosa das religiões e responsável pela nova tradução inglesa (1995) do clássico As formas elementares da vida religiosa, de Émile Durkheim. Barbara, historiadora da Columbia University, realizou vários trabalhos premiados sobre a história norte-americana e da escravidão, dentre os quais Slavery and freedom on the Middle Ground: Maryland during the Nineteenth Century (1985); The destruction of slavery (1985); Slaves no more: three essays on emancipation and the Civil War (1992), e Free at last: a documentary History of slavery, freedom, and the Civil War (1992), em coautoria.
Contra as expectativas e intenções de Barbara J. Fields, todavia, nenhum dos seus trabalhos se tornou tão influente quanto o ensaio de 1982, Ideology and Race in American History. Desde então, ela tem lutado contra a celebridade desse texto e a avaliação de que ele ofereceria suporte às visões sobre a história norte-americana como trajetória de caldeamentos e construção de distintos arranjos de ‘relações raciais’. Racecraft, pode-se dizer, é sua mais recente tentativa de explicar, aos expoentes dessas leituras, que estudar o Jim Crow não corresponde a aceitar sua fundamentação no truísmo da ‘construção social da raça’ como pressuposto analítico. Encerra-se no livro o argumento de que a ‘raça’ é sempre um predicado do racismo, e que a historiografia, contra o anacronismo, deve levar em conta que raça e racismo pertencem a modalidades diferentes de ‘construção social’.
O que as irmãs Fields propõem amiúde é a análise do lugar-comum da ‘raça’ como algo ‘socialmente construído’, resultado da produtividade ideológica do racismo. Tornando claro que não entendem por ideologia ideias como doutrina, dogma, propaganda, conjunto de atitudes ou crenças, e sim o “vocabulário descritivo da existência cotidiana, através da qual as pessoas estabelecem o sentido da realidade social na qual vivem e cuja materialidade criam e recriam dia a dia” (p.134), elas inventariam o modo como opera essa narrativa, definidora do laço social nas unidades humanas, sociais e políticas nas suas leituras da história norte-americana. O racismo se realizaria como uma atividade de duplo padrão – em sociabilidade, estratificação social, parentesco e percepção da alteridade –, na qual se confere a sujeitos atributos de objetos. Transforma-se, em ato, a ação do racista (aquele que reconhece na noção de ‘raça’ um princípio de realidade) em atributo racial. A dinâmica da ‘construção social da raça’ seria estruturada por esse hábito fundamental. Sua principal operação ideológica, a transformação de predicados em objetos de ação, cerca-se de um procedimento fundamental, o da obsessiva classificação, e encerra, segunda as autoras, dois resultados importantes: tornar relações humanas ‘relações raciais’ e distinguir o racismo (quando tomado como problema) de outras formas de desigualdade.
Essa evasão, do racismo transformado em raça, para elas central na história dos Estados Unidos desde a guerra de independência, teria apoiado a consolidação da anômala posição de classe dos escravos e, posteriormente, trabalhadores ‘afro-americanos’, em uma sociedade constitucional e militantemente democrática, como para sancionar, com o veto do racismo, as pressões por alterações nesse posicionamento. A linha predominante da historiografia norte-americana, ao registrar essa experiência no rol de ‘minorias’ – um eufemismo racial – teria, segundo elas, construído uma narrativa característica, que buscou (e ainda encontra) amparo em quatro posições principais:
- a) na limitação ao Sul, e à vida dos negros, das experiências de subordinação, divisão e convívio racial;
- b) na desconsideração da escravidão como dinâmica importante para a vida nas demais regiões do país, e na negação de que há um legado da escravidão, partilhado pelos norte-americanos;
- c) na redução analítica, mediante a oposição ‘segregação-integração’, do complexo universo de estratégias de ordenamento social produzidas e vividas nos Estados Unidos;
- d) na negação de qualquer legitimidade às agendas políticas que se expressam em ressentimentos e projetos de classe, sobretudo os levantados pelos ‘brancos’, supostamente do outro lado da ‘linha de cor’.
O nó-cego dessa narrativa histórica está, dizem as autoras, na pretensão em provar que a segregação, uma marca da vida norte-americana, gerou o que o Sul (mas não apenas) conheceu por Jim Crow. Para elas, “a escravidão era um sistema de expropriação do trabalho e não de administração das relações raciais” (p.161), explicando que o racismo, diversamente ao que se sustenta, inventou a separação de ‘grupos raciais’, e não o contrário. Na datação proposta, a formação dessa ideologia racial teria correspondido ao projeto revolucionário de defesa às liberdades dos homens livres, se atualizado como sustentáculo do escravismo e, em nova volta do parafuso, no estabelecimento, no plano político e intelectual, de eixo permanente de conversão de ressentimentos de classe em raciais, verdadeiro dilema dos Estados Unidos, concluem elas – ter múltiplos ressentimentos de classe, mas nenhuma linguagem para expressá-los.
Para as irmãs Fields, aqueles que tratam descendentes de africanos ou outras ancestralidades como raça – atualmente, menos sob organizações como a KKK que sob o discurso acadêmico das ‘identidades’ ou da ‘agência’ – realizam um ato de exclusão da História e da política. Com esse impulso, a preeminência da raça na linguagem pública sobre as desigualdades nos Estados Unidos reforçaria outro fenômeno norte-americano, talvez mais importante: a recusa em aceitar a problemática de classe como presença legítima na esfera pública, tornando ‘raças’ grupos cuja exclusão é pretendida.
Nesse registro, a posição das autoras diante da importância das cotas raciais nas agendas de políticas sociais segue a mesma avaliação: seriam incapazes de sustentar qualquer sentido de justiça que não represente concessão de prestígio à raça. A ‘tolerância racial’, corolário dessa agenda de ‘inclusão’, é igualmente execrada. Dizem, acompanhando argumento exposto por Richard Sennett em Respect in a world of inequality (2004), que ela seria inútil à democracia: como não se dirige às desigualdades e à exclusão que assolam a vida social e política norte-americana, a tolerância serviria à divisão da sociedade entre os que alegam respeito como direito e os que solicitam tolerância como expressão de boa vontade.
Em meio às expectativas de que a presidência de Obama e a reforma das categorias do censo norte-americano prenunciariam uma era ‘pós-racial’, o que Karen e Barbara Fields apontam é a renovada credibilidade da ciência e do folclore racial na inscrição de noções populares e velhas metáforas do sangue (parentesco e descendência) na ciência genética e do genoma, e delas, seu contrabando para a História e a Etnologia. Assistiríamos, no fascínio por tudo aquilo que pareça designar-se multirracial/multicultural, à atualização do debate novecentista sobre ‘variedades de mistura’ (miscigenação) – como hibridação e mesmo como poligenia – e à intrusão de noções racistas populares e eruditas, renovadas formas de afirmação da ‘pureza racial’.
Para quem o “conceito de raça pertence à mesma categoria do geocentrismo e da bruxaria” (p.100), o trabalho fundamental está em desenraizar a enorme produtividade terminológica e o potencial de ordenamento social do racismo com o seu legado de irracionalidade. Essa atividade de livramento da ‘superstição’ do racismo, essa amarra do passado, como acreditam, tem potencial para estimular a imaginação de novas linguagens políticas.
Notas
1 Por Jim Crow designavam-se todas as medidas de segregação e subordinação racial aplicadas nos Estados Unidos desde, aproximadamente, a década de 1870. O termo começou a circular no país nos anos 1830, em esquetes teatrais nas quais homens, pintados de preto, satirizavam o escravo como criatura bestial, ou degradada. A partir dos anos 1840, o termo passou a ser associado às medidas legais e consuetudinárias destinadas a estabelecer o lugar social e a forma de tratamento a ser devida à população branca pela população negra. A plena consolidação do Jim Crow, como categoria política e jurídica, foi alcançada após o período da chamada Reconstrução Sulista (1865-1877).
Wanderson da Silva Chaves – Pós-doutorando. Universidade de São Paulo (USP), Departamento de História. Avenida Professor Lineu Prestes, 338, Cidade Universitária. 05508-000 São Paulo – SP – Brasil. E-mail: wanderson_schaves@yahoo.com.br.
[IF]
A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro – FISCHER (RBH)
FISCHER, Brodwyn. A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro. Stanford, California: Stanford University Press, 2008. 488p. Resenha de: OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.33, n.66, jul./dez. 2013.
O livro A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro é o resultado da tese defendida por Brodwyn Fischer, em 1999, na Universidade Harvard. A autora analisa o processo de formação dos direitos na organização do Estado e da sociedade brasileira e os conflitos de classe, raça e gênero que permearam a constituição do espaço urbano carioca.
Por eleger como cerne de sua análise os embates estruturados no cotidiano dos pobres do Rio de Janeiro, A Poverty of Rights é uma contribuição original à história social da pobreza urbana. O trabalho relaciona-se à renovação da historiografia em tempos recentes, dando destaque ao tema das favelas. Como observou Brum,
se a história urbana e, em especial, a história da cidade do Rio de Janeiro se consolidaram como campo de pesquisa institucionalizado de historiadores a partir da década de 1980, será apenas na primeira do século XXI que começou a tomar corpo uma produção dos programas de pós-graduação em história em que a favela é tomada como objeto de estudos históricos. (Brum, 2012, p.121)
Junto aos livros Um século de Favela (2001), organizado por Alba Zaluar e Marcos Alvito, Favelas Cariocas (2005), de Maria Lais Pereira da Silva, A invenção da favela (2005), de Lícia do Prado Valladares, e Favelas cariocas: ontem e hoje (2012), organizado por Marco Antônio da Silva Mello, Luiz Antônio Machado da Silva, Letícia de Luna Freire e Soraya Silveira Simões, a obra de Fischer inscreve-se na renovação dos estudos históricos sobre a cidade do Rio de Janeiro, tendo como eixo a problematização das práticas e representações da pobreza e do espaço urbano.
O diferencial da pesquisa de Fischer é o recorte temporal, o escopo de fontes que utiliza e a maneira como enfoca o tema da cidadania. Ao enfrentar uma questão de ampla tradição na História e nas Ciências Sociais que tratam do Brasil e da América Latina – a relação entre desigualdade, direito e espaço urbano –, Fischer desenvolve um argumento centrado em processos que transcorreram entre a década de 1920 e o início da década de 1960. Esse foi o período de rápida urbanização, industrialização e expansão dos subúrbios, favelas e outras formas urbanas. O corte temporal também se justifica em vista da estrutura de poder que presidiu o campo político carioca. Desde a primeira Constituição republicana (1891) até 1960, o Rio de Janeiro tinha um prefeito indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado, elegia vereadores para o legislativo municipal e deputados e senadores para o legislativo federal. Sendo a capital da República, as reformas no sistema político encontravam ampla repercussão e expressão na vida política e cultural da cidade. Além disso, o governo de Lacerda (1961-1965) foi um marco para os estudos sobre a pobreza urbana no Rio de Janeiro: ao iniciar uma política de remoção que culminaria no despejo parcial ou completo de cinquenta a sessenta favelas (atingindo cerca de 100 mil pessoas), alterou profundamente a rotina e a conformação do espaço urbano carioca.
Além do recorte temporal, a autora usa diversos tipos de documentos para desenvolver o seu argumento. Uma vez que as classes subalternas não deixam arquivos organizados que informem sobre suas práticas, justifica-se o uso de sambas, jornais, fotografias, discursos políticos, relatórios de agências do poder público, projetos de lei, legislação, cartas e processos de justiça, entre outros documentos, para compreender as estratégias dos pobres na conquista da cidadania. O material acumulado pela autora é eclético, encontra-se disperso numa miríade de lugares e instituições, e estabelece vários filtros culturais para representar a pobreza urbana. Somente com a leitura de um caleidoscópio de registros, somada à análise da bibliografia específica sobre a relação entre direito e cidadania, consegue-se colocar em pauta problemas relevantes na análise da sociabilidade e das práticas dos grupos subalternos.
Para analisar o corpus documental heterogêneo que acumulou, a autora organizou a análise em quatro partes que possuem certa autonomia, cada uma das quais é constituída por dois capítulos. Na primeira parte, intitulada “Direitos na Cidade Maravilhosa”, analisa o processo de formação do espaço urbano do Rio de Janeiro e a classificação das formas de habitar da população pobre. Interessa à autora salientar como a construção do status de ilegalidade para as formas de habitar e viver na cidade, a restrição do espaço político dominado pela interferência do governo federal e as legislações restritivas ao crescimento das favelas contribuíram para a reprodução de uma incorporação clientelista dos pobres na política urbana. Na segunda parte, intitulada “Trabalho, Direito e Justiça Social no Rio de Vargas”, Fischer tem como principal material de análise as cartas enviadas para o presidente Getúlio Vargas. A promulgação da legislação trabalhista, o discurso varguista incorporando o trabalhador na comunidade política nacional, e as estratégias dos grupos populares para conquistar direitos sociais são o eixo de sua análise. Na terceira parte, intitulada “Direito dos pobres na Justiça Criminal”, a autora analisa a forma como o crime era definido por critérios do sistema jurídico e de uma moralidade popular, e como esse jogo de força foi alterado pela reforma do Código Penal na década de 1940, com o surgimento da noção de ‘vida pregressa’. Na última parte, intitulada “Donos da Cidade Ilegal”, Fischer analisa os conflitos pela terra e pelo direito à moradia travados na zona rural e nas favelas do Rio de Janeiro.
A “Era Vargas” (1930-1945) foi um período de grandes transformações no que toca o direito da classe trabalhadora. Esse fato político e social já foi analisado por diferentes autores, constituindo-se em uma questão clássica para a historiografia brasileira. Fischer consegue trazer uma novidade para o tema, pois não restringe a análise ao direito social e político, mas aborda como as reformas penal e urbanística do Rio de Janeiro também afetaram a cidadania dos grupos populares. Destarte, a política de massa e o Código Eleitoral de 1932, o direito à cidade e o Código de Obras de 1937 do Rio de Janeiro, o direito civil e o Código Penal de 1940, e o direito social e a Consolidação das Leis Trabalhistas (1943) são os eixos de sua análise, como fica evidenciado na divisão das partes do livro.
A autora mostra que a conquista de direitos para os ‘pobres’, para os trabalhadores informais e parcela significativa da população brasileira sem registro civil delineou-se em situações de grande ambiguidade. Longe de desenvolver uma narrativa linear da evolução do Estado e da sociedade na sedimentação dos direitos, como na análise clássica de T. H. Marshall em Cidadania, classe social e status, ou de incorporar o discurso das ideologias políticas que transformaram Vargas em um mito, a autora apresenta a contingência das situações vivenciadas pelos ‘pobres’. Preocupa-se com a forma pela qual as pessoas com baixa educação formal e com pouco poder econômico e político construíram várias estratégias para lutar por direitos, sempre marcadas pela contingência de suas vidas e experiências sociais.
Ao sublinhar o processo de formação dos direitos e da cidadania, Fischer enfatiza que os pobres “formam a maioria numérica em várias cidades brasileiras, e eles compartilham experiências de poucas conquistas, exclusão política, discriminação social e segregação residencial”, conformando “uma identidade e em alguns momentos uma agenda comum” (Fischer, 2008, p.4). Ela compreende que esse grupo não tem sido pesquisado de forma verticalizada, visto que a história social do período posterior à década de 1930 tem privilegiado a análise da consciência da classe trabalhadora, dos afrodescendentes, dos imigrantes estrangeiros e das mulheres. Segundo a autora,
a verdade é que no Rio – como em outros lugares, da Cidade do México a Caracas, a Lima ou Salvador – nem raça, nem gênero, nem classe trabalhadora foram identidades generalizadas e poderosas o suficiente para definir a relação entre a população urbana pobre e sua sociedade circundante, durante a maior parte do século XX. Muito poucas pessoas realmente pertenciam à classe trabalhadora organizada; muitas identidades raciais e regionais competiram umas com as outras em muitos planos; muitos laços culturais, econômicos e pessoais vinculavam os mais pobres aos clientes, empregadores e protetores de outras categorias sociais; também muitos migrantes foram para a cidade para alimentar suas esperanças. O povo pobre no Rio compreendeu a si mesmo, em parte, como mulheres e homens, em parte como brancos e negros, nativos ou estrangeiros, classe trabalhadora ou não. Mas eles também se entenderam como um segmento específico, simplesmente como pessoas pobres tentando sobreviver na cidade. (Fischer, 2008, p.3, tradução nossa)
Nesse sentido, Fischer também enfatiza que a experiência da pobreza urbana não pode ser reduzida à definição de classe trabalhadora no sentido clássico do marxismo. Ao reduzir a experiência da pobreza urbana a uma situação de classe, corre-se o risco de perder as dimensões étnicas, raciais e de gênero que moldam as identidades e as relações tecidas com as variadas instâncias sociopolíticas. A desigualdade social foi tomada no livro como uma condição que atravessa diversos tipos de situações e que perpassa transversalmente as relações tecidas na sociedade e no Estado brasileiros.
Por tudo isso, A Poverty of Rights constitui um importante trabalho para a renovação dos estudos sobre a cidadania no período posterior à década de 1930 e da história social da pobreza urbana no Rio de Janeiro.
Referências
ALVITO, M.; ZALUAR, A. (Org.) Um século de favela. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. [ Links ]
BRUM, Mario Sergio Ignácio. Cidade Alta: história, memórias e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de Janeiro. (Prefácio de Paulo Knauss). Rio de Janeiro: Ponteio, 2012. [ Links ]
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. [ Links ]
MELLO, M. A. da Silva; MACHADO DA SILVA, L. A.; FREIRE, L. L.; SIMÕES, S. S. (Org.) Favelas cariocas: ontem e hoje. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. [ Links ]
SILVA, Maria Lais Pereira da. Favelas Ccariocas (1930-1964). Rio de Janeiro: Contratempo, 2005. [ Links ]
VALLADARES, Lícia do Prado. A invenção da favela: do mito de origem à favela.com. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005. [ Links ]
Samuel Silva Rodrigues de Oliveira – Doutorando, Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC-FGV). Bolsista Faperj. E-mail: samu_oliveira@yahoo.com.br.
[IF]Marking samba: A new History of race and music in Brazil – HERTZMAN (NE-C)
HERTZMAN, Marc. A. Marking samba: A new History of race and music in Brazil Durhcham: University Press, 2015. Trad. Livre Dmitri Cerbonicine Fernandes. Resenha de: FERNANDEZ, Dmitri Cerbonicine. De “pelo telefone” a “internet”: tensões entre raça, direitos, gênero e nação. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n.102, Jul, 2013.
Nos últimos quinze anos, os chamados brasilianistas norte-americanos e britânicos voltaram seus olhos a temas anteriormente circunscritos aos nativos – caso geral da música popular brasileira e, em específico, do samba e do choro1. Se, por um lado, nossas obras musicais populares desde há tempos são bastante apreciadas e (re) conhecidas, chamando a atenção de vasto público, o mesmo não se poderia dizer das reflexões acadêmicas tecidas sobre essas obras e seus criadores.Os trabalhos da nova geração de brasilianistas são,por isso mesmo,um alento em diversos sentidos.A mera existência de um interesse estrangeiro por objetos de pesquisa tradicionalmente relegados a segundo plano nas ciências humanas auxilia a modificação do panorama de certo desapreço pelo assunto, forçando a universidade e demais instituições a reverem suas posições.A lastimável ausência de tradução dessas pesquisas para o português e a falta de interlocução dos estudiosos brasileiros – muitas vezes encerrados apenas na discussão em língua pátria e,quando não,em sua própria área ou subárea-talvez estejam com os dias contados; prenúncio de uma possível maturação de um campo de estudos que, embora secundário se comparado com o dos “grandes temas” – políticos, históricos, sociais -, não se iniciou ontem2.
Conquanto os resultados das análises empreendidas por esse novo grupo de brasilianistas variem bastante em termos de metodologia empregada, escopo, materiais coletados e ineditismo, são evidentes o impacto e a qualidade, se não de todas, pelo menos de algumas delas, o que as equipara ao que de melhor já foi escrito por aqui sobre a música popular em seus diversos aspectos. Dentre os livros que se destacam, um deles, sem dúvida, é Making samba: a new history of race and music in Brazil, do professor da Universidade de Illinois, Estados Unidos, Marc A. Hertzman. Originalmente uma tese de doutorado em História da América Latina defendida na Universidade de Wisconsin-Madison, em 2008, o livro recebeu dois prestigiosos prêmios nos Estados Unidos3, o que o gabaritaria, por si só, à tradução imediata.
Logo de início, Marc Hertzman propõe um novo mergulho em águas passadas, quer dizer, ele se dispõe a revisitar pelo menos três eixos estruturantes de nossa música que já foram, em separado, alvos da bibliografia específica: 1) o lugar do negro e as possibilidades de ação, repressão e reconhecimento no nascente universo artístico4; 2) o aparecimento das instituições comerciais em meio ao fazer musical popular e as resistências e colaborações que essas instituições passaram a alimentar da parte de artistas, intelectuais, jornalistas, políticos, folcloristas etc.5; 3) os sentidos do entrelaçamento da ascendente forma musical popular brasileira no início do século XX com a ideia emergente de nação e a instauração da República6. No entanto, há em sua problematização um entrelaçamento entre esses três eixos, algo que nunca havia sido tentado antes. O resultado é um livro que traz inúmeros dados, situações, fotos e declarações que recebem nova luz interpretativa, fornecendo no conjunto um panorama inédito de questões que se pensavam solucionadas.Os que,mesmo assim,ainda imaginarem que se trata de mero exercício desnecessário e repetitivo de diletantismo rapidamente se convencerão do contrário por conta de outro motivo: a presença de um elemento que confere o tom central à obra e que, sozinho, já a justificaria de imediato. Falamos aqui da postura epistemológica adotada por Hertzman, que o diferencia do viés que predominou durante largo espaço de tempo na academia brasileira: o do ensaísmo.
Por um lado, é bem verdade, tal pendor ao ensaio conformou uma maneira toda especial, muito criativa e prolífica de interpretação em um ambiente científico inóspito e incipiente,momento em que financiamentos para a realização de surveys e a disposição de arquivos e materiais minimamente organizados eram escassos em nosso país. Em tal conjuntura, onde sobravam erudição e capacidade de síntese aos nossos intelectuais “heroicos”, a necessidade teve de se fazer virtude, e os clássicos pioneiros demarcaram o início de uma profunda autocompreensão que ensejou, por linhas tortuosas, trabalhos como os do próprio Marc Hertzman. Por outro lado, há até hoje resquícios desse modo de fazer que, desacompanhados das antigas virtudes, mais servem para escamotear resultados duvidosos, destilar arrogância, falta de empenho e de energia em vasculhar bibliotecas, museus e arquivos do que em iluminar o que quer que seja. Atêm-se ou a materiais recauchutados, apropriando-se de modo acrítico de “verdades” jornalísticas que rondam os mais diversos estudos sobre música no Brasil há tempos, ou a letras de canções e células musicais, como se a partir delas, e só delas, fosse possível, sem um objetivo claro ou um problema teoricamente orientado, reconstruir toda a história de um gênero musical ou de uma época.
Nesse sentido, Hertzman desdobrou-se como poucos haviam feito nos estudos históricos sobre o samba; correu atrás de comprovações documentais, muitas delas localizadas em acervos pessoais de difícil acesso ou em museus que, geralmente, sofrem e sofreram durante décadas com o descaso governamental, a falta de verbas, incêndios, desfalques, perdas, desorganização. O resultado dessa tarefa árdua e minuciosa de levantamento de informações não o tornou mero coletor nem fez de seu trabalho uma descrição insossa de materiais repertoriados,o que costuma ocorrer quando tamanha energia tem de ser gasta tão somente no serviço de garimpagem. Pelo contrário, ele logrou conectar a criatividade intelectual e a audácia interpretativa de nossos antigos ensaístas com o emprego de uma empiria embasada em recolhimento e análise de dados, descortinando de maneira surpreendente, aos nativos e aos gringos, um novo universo em torno de um domínio que, à primeira vista, nada mais ou muito pouco ainda tinha a render. Dito isso, não se trata, assim, de qualquer “revisita” às três questões apontadas; antes, de uma pesquisa de fôlego que tenta fornecer, se não a última palavra sobre o assunto, ao menos uma palavra muito mais balizada, material e metodologicamente bem orientada do que as que tínhamos à mão até o presente momento.
O livro percorre um largo período cronológico ao longo de seus nove capítulos: passa-se desde a abolição da escravidão no Brasil, em 1888,até meados da década de 1970,quando se dá a instauração definitiva das modernas leis de proteção aos direitos autorais – embora as análises mais consistentes do livro, com fartura de materiais inéditos, estejam concentradas nas quatro primeiras décadas do século XX. Apenas o último capítulo se dedica ao escrutínio da conjuntura musical da década de 1960 em diante, o que, no conjunto da obra, representa mais elemento de verificação das teses defendidas sobre a “época de ouro” do que uma parte autônoma. O acompanhamento da noção de autoria, em termos legais e materiais, e seu correlato simbólico, qual seja, a individuação dos artistas, bem como o desenvolvimento das instituições que lidavam com essas questões e a legislação pertinente serviram como o fio de Ariadne de toda a estruturação do argumento de Hertzman; ele empregou uma embocadura até então menosprezada pelos demais estudiosos no intento de penetrar, de modo inovador, por veredas já caminhadas: “Embora estudiosos de muitas disciplinas venham se fascinando com a construção da autoria, poucos se interessaram pela relação entre propriedade intelectual e constituição nacional pós-colonial – sobretudo nas Américas – ou as histórias imbricadas entre raça, propriedade intelectual e nação” (p. 3)7.Em outras palavras,os marcos legislativos e as instituições que regulamentavam o fazer musical, a distribuição monetária e o papel desempenhado pelo Estado na garantia,manutenção e modernização de todo o engenho assomado no espaço de tempo compreendido pela pesquisa fizeram render uma nova visão sobre processos há muito mal compreendidos, pois faltavam materiais pertinentes ao demais autores,conforme argumentado,a fim de que pudessem chegar a conclusões mais robustas e precisas, que ultrapassassem o acolhimento acrítico dos depoimentos de quem viveu os acontecimentos em tela – referenciais fartamente empregados até então por alguns estudiosos.E é justamente a esta tarefa que Marc Hertzman se propõe:buscar no emaranhado que se formou entre as questões que envolvem raça, propriedade intelectual e nação o sentido da constituição do samba e, em uma via de mão dupla, a partir da problematização que parte da constituição do samba enquanto gênero musical negro, comercial e nacional, enxergar de modo mais exato e minucioso a imbricação de todo o processo cultural,econômico e político que conformou o Brasil.
No primeiro capítulo, Hertzman procura traçar uma espécie de pré-história das formas musicais populares que desaguariam no samba, bem como dos condicionantes sociais que assomavam ao final do século XIX com elas, isto é, os lugares de raça, de autoria e do vínculo possível dessas formas artísticas e seus produtores correspondentes com a ideia de nação em uma sociedade escravocrata. Hertzman, no entanto, passa longe de um denuncismo vazio ou de tomar um parti pris tão comum nos estudos atuais sobre raça e nação. O autor deixa claro desde o início que não guarda o propósito de esposar asserções como as que essencializam o samba como puro produto de uma “resistência negra” em abstrato nem as que retiram a agência dos negros, outorgando aos intelectuais brancos ou ao Estado varguista a proeminência na conformação dos traços das expressões culturais brasileiras. Hertzman tampouco se vincula seja à visão que adula a intermediação efetuada pelos meios de reprodução comercial da música popular,seja à que a rechaça apriori,pois considerada maléfica ou deturpadora de uma imagem “pura” e “autêntica”.Pelo contrário,colocar todas essas cosmovisões nativas abraçadas pela academia em perspectiva, fazê-las confrontarem-se umas com as outras para que, ao fim e ao cabo, venha à tona um panorama mais complexo do que aquele com o qual a literatura específica se habituou: este sim é um dos propósitos centrais de Hertzman, alcançado justamente por meio do que anunciamos como o grande feito de seu trabalho, quer dizer, a confrontação com materiais inéditos, que auxiliam a desvendar mitos até então inquestionáveis e uma visão que não se detém em fronteiras específicas do saber.
Um desses mitos que fundamentaram o memorialismo da música popular brasileira é o do que o autor denomina de “paradigma da punição” (p. 31). A ação supostamente praticada por parte do Estado de maneira sistemática,que penalizava os praticantes do samba com a prisão, de acordo com declarações à imprensa de sambistas que viveram a “época gloriosa dos primórdios”,é posta em suspenso no segundo capítulo. Hertzman, por meio de pioneiro mergulho nos arquivos penais das primeiras décadas do século XX,descobre que jamais houve uma única punição estatal por conta da prática do samba,ao contrário do que é alardeado em quase todos os trabalhos acadêmicos que lidam com a época. Tal relato mais servia como estratégia discursiva – um tanto exagerada para antigos sambistas firmarem-se como mártires de uma época ou para construírem a autenticidade requerida do gênero samba e, de lambujem, de si mesmos, dentro do circuito de valores que aos poucos foi se estabelecendo naquele gênero – do que refletia fielmente os processos históricos, entremeados na realidade de alianças e colaborações entre a polícia, o Departamento de Imprensa e Propaganda de Vargas e os órgãos representativos dos músicos.Isso não quer dizer, por outro lado, que Hertzman pinte um ambiente de igualdade e liberalidade generalizados para a prática musical popular no início do século XX, conforme veremos a seguir.
O olhar atento do historiador,que busca em uma miríade de eventos nem sempre vinculados imediatamente ao fenômeno a ser explicado os desenvolvimentos possíveis dos caminhos da história, evidencia-se no terceiro capítulo, em meio à interpretação de uma ilustração de um jornal da década de 1910 trazida à baila por Hertzman. O desenho tentava retratar uma tragédia: um dos primeiros artistas populares de relativo sucesso à época, um negro de apelido “Moreno”, havia sido supostamente traído por sua esposa,uma branca portuguesa.Ele resolveu matá-la a facadas e, em seguida, se matar. A representação da situação congregava todas as chaves necessárias para o desvendamento da figuração que ascendia na primeira década do século XX, para os temores que suscitava, para as apreensões que fazia refulgir: um novo universo estava se abrindo,com possibilidade de fama e sucesso àqueles que sempre foram apartados da ribalta da vida nacional, embora prenhe de todas as contradições que tão bem expressam a nossa formação. Que se atentasse para o “perigo” de permitir que essas figuras tão fascinantes quanto temerárias, aos olhos dos brancos, prosseguissem por uma via de acesso a patamares que já tinham dono: as mulheres brancas, o dinheiro, a fama. Isso é o que argumentavam os jornalistas que comentaram a mencionada cena de “Moreno”:o negro não tinha estruturas psicológicas nem sociais para angariar sucesso, para se manter na independência econômica, para se casar com uma mulher branca, em suma, para deixar de ser negro naquela sociedade dominada pelos brancos (p. 87). A igualdade democrática, o reino do direito abstrato e universal, a possibilidade de uma vida econômica e socialmente digna em seu próprio país não passavam de quimeras. Afinal, “quem eles pensavam que eram?”. Em contrapartida, alguns conseguiam escalar parcialmente as trilhas abertas pelo desenrolar da individuação artística e pelo novo comércio, por mais que tivessem que forjar por meio de suas mãos,do sangue de “Moreno”,ou de oportunidades ímpares, por um lado, ou apoiados em trajetórias distintas e caminhos compartilhados com os dominantes, por outro.
O que importa até aqui é que não cabem mais,de acordo com a proposta do autor,a aceitação pura e simples de quaisquer generalizações de categorias, como as de “o samba”, “a raça”, “a nação”, “a autoria” ou “o comércio”: há nas entrelinhas dos processos constitutivos de cada um dos fatores assinalados minúcias geralmente ignoradas, tensões e conflitos constitutivos dos próprios conceitos e processos que, se vistos desvinculados dos artífices que lhes deram viço,de seus tempos históricos, das funções que cumpriram e das atuações concretas dos atores que as encarnavam, mais borram a compreensão historiográfica do que a auxiliam em sua missão de reconstituição da figuração em pauta. Assim, Hertzman dá à mostra que existiram projetos autorais, intelectuais mesmo, por trás de cada grupo e personagens distintos que ocupavam posições díspares na sociedade brasileira das primeiras décadas do século XX. Figuras que, ao mesmo tempo que se confrontavam, teciam por vezes alianças e podiam ainda manter certo grau de cumplicidade, de animosidade, de distanciamento ou de proximidade, a depender de coordenadas e de conjunturas específicas.
Uma das mais expressivas comprovações diz respeito ao escrutínio dos que rodeavam a famosa casa de Tia Ciata, figuras centrais que participaram do que se convencionou denominar de “a nossa música” (p. 95): Hertzman demonstra no quarto e no quinto capítulos que jamais eles poderiam ser equiparados sem mediação a outros artistas que não tivessem nem a inserção socioeconômica deles, nem o conhecimento formal de música, nem o trânsito com jornalistas, industriais da arte e figurões da política e da intelectualidade nacional, nem a decorrente capacidade de mediação, seja artística ou intelectual. Igualar um Pixinguinha a um Baiaco ou a um Brancura, ou até mesmo a um Ismael Silva, pelo simples fato de serem negros esconde um abismo muito revelador do próprio modo pelo qual o racismo à brasileira se constituiu: por meio de reentrâncias e sutilezas, ou, mais especificamente, por meio de um engenhoso dégradé. Se é verdade que em determinado momento de suas trajetórias artísticas todos os citados enfrentaram alguma face do racismo, não se pode dizer que tenha sido da mesma maneira: as margens de manobra variavam muito, bem como o grau de sofrimento que os acometia,a depender da posição social que ocupavam. No caso de Pixinguinha e dos seus, tratou-se de notícias jornalísticas denominando-os de “negroides pardavascos”, incapazes de representar o Brasil,ou de pretendentes a um patamar mais elevado, como Catulo da Paixão Cearense, a desatiná-los (p. 113); no caso de Brancura, Baiaco e Ismael, tratou-se de uma vida tortuosa e de pobreza, de marginalidade, eivada de prisões, brigas e outros eventos manifestos de violência. Embora todos eles, de alguma forma, tenham contribuído para a criação e sustentação de símbolos guindados à condição de “nacional”, Hertzman chama a atenção para o fato de que cumpre visualizar com cuidado os modos pelos quais quando e cada um deles pôde – e se pôde – e por meio de quais contextos e estratégias ser alçado e se alçar ao panteão do samba e, por que não e por consequência, ao panteão nacional. A luta que envolveu a imposição de certa visão que concedia às suas criações a imagem de autêntica, única, sofisticada e respeitável toma, assim, lugar de destaque na análise (p. 115).
Transparecem, destarte, por meio de diversos exemplos, elementos intrínsecos à formação da nação, caracterizada sobretudo pelo tipo de estrutura social herdada da escravidão. Pela primeira vez tal situação é sistematicamente levada em consideração em conjunto com os efeitos simbólicos e econômicos que incidiram nas atividades artísticas populares. Hertzman demonstra no capítulo sexto como até mesmo intelectuais e artistas do porte de Villa-Lobos,Mário de Andrade e Luciano Gallet compartilhavam com maior ou menor ênfase de visões de época, segundo as quais se deveriam abrir alas à construção de um desejado Brasil “civilizado” e seu pressuposto, as correntes da modernidade, o que incorria em algum tipo de rebaixamento do que era apreendido como hierarquicamente inferior em uma escala artística de sensibilidade e racionalidade. Nesses casos, iniciavam-se discussões sobre o que podia ser aproveitável ou não para se entabular o concerto da nação,e aquilo que identificassem como “africano” era posto na berlinda.O mesmo se passava entre os intelectuais nativos do samba, como Tio Faustino, Vagalume ou China, irmão de Pixinguinha,que buscavam enfatizar a autenticidade de certa herança da África contra o que viria a ser uma África corrompida (p.156).Nesse cenário, alguns podiam tanto desempenhar o papel de dominantes em meio aos dominados como podiam ser defenestrados e ter as portas fechadas em diversos âmbitos. Em outros momentos, conforme frisado por Hertzman no capítulo sétimo, alguns podiam até mesmo se reportar diretamente ao presidente da República, como ocorreu em 1930 com os mencionados Pixinguinha e Donga, que clamavam a Getúlio Vargas,em meio a uma procissão de músicos,o auxílio do “pai dos pobres” à música nacional (p. 170). Já dentre os diversos artistas negros, sobretudo os semidesconhecidos resgatados pelo autor na intenção de iluminar comparativamente as possíveis trajetórias artísticas e seus liames com suas posições sociais, a situação era distinta: torna-se claro como os empecilhos enfrentados por eles dificultavam não só suas condições simbólicas naquelas instituições como ainda a simples manutenção econômica de suas vidas. A vinculação desses e de vários estorvos com outros fatores, como o de gênero, foi realizada no trabalho também de modo pioneiro.
A ascensão do samba em sua concretude pôde ser vislumbrada por meio de representações monetárias de quanto ganhava um grande artista – um cantor branco como Francisco Alves, por exemplo – em comparação com um compositor negro à margem dos estabelecimentos comerciais da música, como Ismael Silva (p. 129); de outro lado,a partir da constatação de uma tal pista micro,quer dizer, da assimetria econômica existente entre figuras de um mesmo universo, passa-se ao escrutínio do modo pelo qual se organizavam as instituições políticas e culturais, e como os elementos “raça”, “classe” e “gênero” se vinculavam de forma intrínseca ao funcionamento dessas instituições. É o que se vê com nitidez nos capítulos sétimo e oitavo. No caso das que lidavam com a música popular, como a Sociedade Brasileira de Autores (SBAT, fundada em 1917), a primeira que tomou para si a função de arrecadação e distribuição monetária dos proventos das atividades artísticas em geral no Brasil, percebia-se em suas entranhas a reprodução de todas as desigualdades de nossa sociedade em termos econômicos e simbólicos. O mesmo ocorrendo com os produtos de seus cismas ao longo do tempo,casos da União Brasileira dos Compositores (UBC),a Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música (SBACEM) etc., todas as que deram origem ao moderno sistema de arrecadação e distribuição de direitos ainda hoje vigente.Seus dirigentes,em maioria homens brancos vinculados a atividades consideradas “nobres” à época – como o teatro ou a “grande” música, em meados dos anos 1910 e 1920,ou os mais bem-sucedidos em termos econômicos com a ascensão do universo musical popular, a partir dos anos 1930 -, não se fizeram de rogados para eternizar a posição subalterna que os artífices negros, sobretudo os socialmente mais desprivilegiados, ocupavam em meio às estruturas das instituições à primeira vista “universais” que dirigiam, o que sublinha o caráter racial e economicamente assimétrico que perpassou a constituição de todas as nossas instituições democráticas, quando vistas de mais perto.
Emerge, assim, uma verdadeira história “materialista” do samba – e, por que não, do choro -, na melhor acepção do termo: em primeiro lugar, pelo fato de Hertzman lidar com estimativas sistematizadas de vendas de discos, com cifras relativas aos direitos autorais de canções, de lucros de gravadoras e de estações de rádio, de execuções de canções e de várias operações econômicas que dão à mostra a real dimensão das transformações estruturais ocorridas em meio à atividade musical popular. Em segundo lugar, o aspecto eminentemente “materialista” de sua proposta também se revela por conta do método: a visada totalizante, que pressupõe uma aguçada capacidade comparativa entre fatos, personagens e momentos aparentemente despidos de qualquer relação ou pertinência a fim de iluminar, a partir de distintos vieses, uma mesma questão específica. Hertzman arrisca, destarte, uma espécie de história total, onde condicionantes institucionais, geográficos, raciais, econômicos e culturais são movimentados para dar vida à agência dos atores (p. 11). Modificando seu foco a todo instante,passando de uma interpretação de um fato micro a uma correlação estrutural macro,e vice-versa,um verdadeiro mosaico das relações que davam viço àquela figuração nascente vem à tona. Embora a incursão na justificativa teórica de seu trabalho seja deveras enxuta,haja vista Hertzman nomear,e muito de relance,apenas Homi Bhabha, Michel Foucault e Peter Wade como inspiradores da empreitada (p. 10), é notória a contribuição tácita de autores como Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Fernand Braudel, E. P. Thompson, Raymond Williams,dentre outros grandes nomes das ciências humanas,em seu modo de reconstituir a urdidura da história em voga. Mas essa explicitação, enfim, é o que menos importa, pois o primordial foi efetuado, quer dizer, o manejo teoricamente orientado do material levantado para além das fronteiras disciplinares artificialmente demarcadas.
Notas
1 Ver, por exemplo, DAVIS, DARIÉN J. White face, black mask: Africaneity and the early social history of popular music in Brazil. East Lansing: Michigan State University Press, 2009; Livinsgton-Isenhour, Tamara E. e Garcia, Thomas G. C. Choro: a social history of a Brazilian popular music. Bloomington: Indiana University Press, 2005; McCann, Bryan. Hello, hello Brazil: popular music in the making of modern Brazil. Durham: Duke University Press,2004;Stroud,Sean.The defence of tradition in Brazilian popular music: politics, culture and creation of Música Popular Brasileira. Aldershot: Ashgate, 2008; Shaw, Lisa. The social history of the Brazilian samba. Aldershot: Ashgate, 1999.
2 Ressalte-se a ausência de obras dedicadas à reflexão sobre música popular nos principais centros brasileiros produtores de conhecimento até meados da década de 1970, que vê, muito timidamente em sua segunda metade, o início de estudos regulares e sistematizados sobre o assunto. Balanços críticos de publicações na área podem ser encontrados em Béhague, Gerard. “Perspectivas atuais na pesquisa musical e estratégias analíticas da Música Popular Brasileira”. Latin American Music Review. Austin: University of Texas Press, v. 27, no 1, 2006; Napolitano, Marcos. “A Música Popular Brasileira (MPB) dos anos 70: resistência política e consumo cultural”. In: IV Congreso de la Rama Latinoamericana del IASPM, 2002, Nicarágua. Atas del IV Congreso de la Rama Latinoamericana del IASPM, 2002, mimeo; Naves, Santuza C. et alli. “Levantamento e comentário crítico de estudos acadêmicos sobre música popular no Brasil”. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais — BIB. São Paulo: ANPOCS, no 51, 2001.
3 Trata-se do prêmio de melhor tese de doutorado da New England Council of Latin American Studies (NECLAS) e de uma menção honrosa do Bryce Wood Book Award pelo livro, comenda concedida anualmente pela Latin American Studies Association ao melhor livro que verse sobre a América Latina.
4 Como, por exemplo, RODRIGUES, Ana Maria. Samba negro, espoliação branca. São Paulo: Hucitec, 1984.
5 Como, por exemplo, FROTA, Wander Nunes. Auxílio luxuoso: samba símbolo nacional, geração Noel Rosa e indústria cultural. São Paulo: Annablume, 2003.
6 Como, por exemplo, WISNIK, José Miguel e SQUEFF, Enio. Música: o nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo:Brasiliense,2a ed.,1983.
7 Tradução livre realizada pelo autor da resenha.
Dmitri Cerboncini – Fernandes– Professor de Sociologia na Universidade Federal de Juiz de Fora.
Hotel Tropico: Brazil and the challenge of African decolonization, 1950-1980 | Jerry Dávila
‘We are going to be Africans, we are going to be Africans!’ It’s going to
be great! `We are all Africans, all Africans.’
Maria Yedda Linhares
Esta resenha examinará o livro Hotel Tropico: Brazil and the challenge of African decolonization, 1950-1980. O trabalho é de autoria de Jerry Dávila e foi publicado ano passado pela Duke University Press (2010, 328 páginas, ISBN: 0822348675). O livro é leitura essencial para historiadores (relações Brasil-África), antropólogos (debate sobre raça e identidade), economistas (promoção comercial e relações econômicas Brasil-África) e internacionalistas (um dos primeiros ensaios da diplomacia sul-sul brasileira). Ele é dividido em nove capítulos – além de introdução e epílogo. Há alguns temas recorrentes, como o impacto das relações com Portugal, o ideário da “democracia racial” e seus desdobramentos na diplomacia, a reconstrução dos laços na década de 1970 e a dimensão comercial. Apesar de falar da descolonização do continente, Gana, Senegal, Nigéria e Angola são, na verdade, os únicos países examinados com profundidade. Os temas também não são novos. Muitos atores já se debruçaram sobre as questões examinadas no livro – de José Honório Rodrigues a Adolpho Bezerra de Menezes, de Alberto da Costa e Silva a Florestan Fernandes, de Maria Yedda Linhares a José Flávio Saraiva. O autor tampouco é neófito no tema, pois publicou artigo na Revista de Antropologia em 2008 sobre a experiência de diplomatas brasileiros na Nigéria (Dávilla: 2008). Leia Mais
Raça como questão: história, ciência e identidades no Brasil / Marcos Maio
Raça como questão reúne um conjunto de textos que analisam a problemática racial no Brasil, desde o século XIX até os dias atuais. Como os próprios organizadores afirmam na apresentação do livro, “tratam de temas variados e contextos diversos desde os debates sobre as interrelações entre identidade nacional e raça no fim do século XIX até as presentes vinculações de raça com as tecnologias genômicas”.1 Isso nos permite entender o fio temático dos textos, não obstante possam ser lidos isoladamente.
Para Jean-François Véran, no prefácio à obra, “o conceito de raça [é colocado] na interface entre os três domínios nos quais ele vem sendo elaborado historicamente”,2 quer seja o domínio científico, a dimensão política e o plano social. Decerto, o grande valor de Raça como questão não é somente instigar o leitor a participar da discussão sobre o entendimento de “raça” na dinâmica histórica, mas também compreender como esse conceito é formulado nos âmbitos da ciência, da política e do social.
O primeiro capítulo, “Entre a Riqueza Natural, a Pobreza Humana e os Imperativos da Civilização, Inventa-se a Investigação do Povo Brasileiro”, de Jair de Sousa Ramos e Marcos Chor Maio, serve como uma espécie de introdução, pois contextualiza os primórdios da apropriação do conceito europeu de raça pelos intelectuais brasileiros, na segunda metade do século XIX e início do século XX. Esse fato não estava dissociado do que se entendia por civilização, cujo eixo central era a Europa em relação à periférica América Latina.
Nesse período do pensamento ocidental, em que a ideia bipolar do mundo era suficiente para explicar a realidade, havia um projeto de dominação no plano político, ao lado de certo desinteresse em desvendar cientificamente a origem do homem. Nesse sentido, criou-se por parte de escritores europeus a explicação a cerca do “povo” brasileiro, a partir da noção de “natureza exuberante versus raça deficiente”.3
Influenciados pelo pensamento europeu, intelectuais brasileiros tentaram, paradoxalmente, formular uma ideia positiva de civilização brasileira. É com esse ponto de vista que irá se desenvolver a argumentação do primeiro capítulo de Raça como questão. Foi no século XIX que essa ideia ganhou maior expressividade, tendo como apoio teórico “os determinismos climáticos e raciais”, bem como “a ideia de evolução”.4 Tanto o meio físico quanto a raça se tornaram elementos importantes para o cientificismo determinista, que defendia não somente as diferenças entre os povos, mas, sobretudo a hierarquia entre eles. Como informam os autores do texto em apreço:
Assim, a suposta hierarquia racial entre os homens era tomada como expressão de um movimento evolutivo da espécie humana, evolução essa definida pela sobrevivência dos mais aptos e que explicaria o porquê da expansão europeia em todo o globo terrestre e seu domínio sobre outros povos.5
Nesse sentido, Jear de Sousa Ramos e Marcos Chor compreendem que a noção de clima e raça migra do âmbito da ciência para as relações políticas, que, naquela época, reconfiguravam-se a partir do olhar que os europeus tinham, principalmente, sobre a América. A partir daí, criou-se uma imagem pejorativa do Brasil, cuja argumentação principal estava na “população atrasada em termos evolutivos”.6 Entretanto, o texto problematiza a questão, quando põe em evidência os motivos pelos quais as ideias evolucionistas europeias “tiveram ampla aceitação entre intelectuais e políticos latino-americanos”, cuja resposta a essa questão se encontra nas “relações entre centro e periferia desenvolvidas entre Europa e América Latina”.7
Foi durante a Independência do Brasil que “as teorias raciais vão ganhar importância”, devido ao objetivo do país de estabelecer-se como uma nação civilizada, com povo homogêneo. Com a República, encontra-se um espaço mais favorável às teorias deterministas, haja vista que ela “motivou o aparecimento de um novo conjunto de representações sobre a identidade brasileira”.8
Com objetivo de compreender melhor a maneira pela qual os intelectuais brasileiros lidavam com essa questão, os autores discutem o pensamento de três escritores da segunda metade do século XIX e início do século XX, quer seja Sílvio Romero, Raimundo Nina Rodrigues e Euclides da Cunha. Estes intelectuais, embora tenham dialogado com as teorias raciais europeias, interpretaram cada um a seu modo, o Brasil da época como um lócus onde seria possível um avanço social e político, no sentido de nação civilizada.
No segundo capítulo de Raça como questão, intitulado “Raça, Doença e Saúde Pública no Brasil”, propõe-se uma interpretação diferente da que Sidney Chalhoub desenvolve sobre o pensamento higienista do século XIX. Este no capítulo “Febre Amarela”, do livro Cidade febril (1996), defende o ponto de vista que, durante o combate à febre amarela nos séculos XIX e XX, havia uma postura racista e de classe social. Diferentemente, Marcos Chor Maio não concebe determinismo racial, mas uma “continuidade com o ideário neo-hipocrático do século XIX no Brasil”.9
Contextualizando os argumentos históricos de Chalhoub, Marcos Chor mostra-nos que, ao lado da defesa do branqueamento a favor de uma classe privilegiada, havia um conjunto diversificado de ideias que giravam em torno da questão social. Nem todos os intelectuais defendiam a mestiçagem como degenerescência e o branqueamento como a única solução para o progresso do Brasil. Para concluir seu ponto de vista, o autor cita Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freire, em que vê influência do neo-hipocratismo de Cruz Jobim.
Em “Mestiçagem, Degeneração e a Viabilidade de uma Nação”, Ricardo Ventura Santos analisa as investigações feitas por Baptista Lacerda (final do século XIX) e Roquette-Pinto. Ambos, segundo Ventura, posicionam-se favoravelmente à noção de uma mestiçagem não degenerativa. O que importa no debate sobre a questão racial posta em evidência é, sobretudo, a ambientação, o contexto e as condições sociais. O texto de Ricardo Ventura é significativo, pois revela certos intelectuais brasileiros que, não obstante dialogarem com as ideias evolucionistas em voga na época, souberam impor sua autonomia intelectual, numa tentativa de interpretar melhor a nação brasileira. O autor, enfim, desloca a postura bipolar dos fatos para alcançar uma visão mais próxima da complexa realidade.
Continuando o assunto sobre Antropologia no Museu Nacional, o capítulo quatro, de Raça como questão, “Crânios, Corpos e Medidas”, trata de refletir sobre o impacto e a projeção que as pesquisas desenvolvidas no Setor de Antropologia Biológica tiveram no contexto social e histórico brasileiro. A partir de estudos de instrumentos de medição de crânios, percebe-se um conjunto de teorias postas em prática com a finalidade de compreender a moral humana, levando em consideração elementos físicos e biológicos das raças.
Desde a década de 1950, os equipamentos de medição foram transformados em peças do Museu Nacional, mas continuam a representar o pensamento de intelectuais brasileiros que buscaram uma explicação antropológica para a população brasileira, numa certa época e contexto. Decerto, o capítulo em apreço busca despertar o leitor para a dinâmica da interpretação e dos conceitos sobre a realidade histórica.
Outro interessante capítulo é o “Estoque Semita: a presença dos judeus em Casa-Grande & Senzala”, de Marcos Chor Maio. Trata-se de uma releitura da obra de Gilberto Freyre, focalizando a presença “positiva dos judeus ao processo de colonização do Brasil”, em contrapartida com a “ideia que concebe a existência de uma proposta antissemita na obra do sociólogo pernambucano”.10
Com essa interpretação acerca das ideias freyreanas, que relacionam raça e cultura, Marcos Chor redimensiona Casa-Grande & Senzala no debate sobre a questão racial no Brasil. Atribui à referida obra certa importância e novo significado para o pensamento brasileiro, cuja projeção vem se tornando internacional. Observando o diálogo com as ideias de Roquette-Pinto, com a vertente culturalista de Franz Boas e com a perspectiva neolamarckiana, Marcos Chor analisa o avanço de Casa-Grande & Senzala a respeito das questões raciais no Brasil. No cerne dessa análise, está o judeu que contribui para a miscigenação do povo brasileiro. Sem desconsiderar os elementos culturais e ambientais, Gilberto Freyre põe em evidência conceitos chaves para o entendimento sobre os portugueses em “incorporar características de outros povos: adaptação, plasticidade e mobilidade”.11
Em “Cientificismo e Antirracismo no Pós-2ª Guerra Mundial”, Marcos Chor e Ricardo Ventura analisam a Primeira Declaração sobre Raça da Unesco e seus impactos para a comunidade científica, em 1950. A Unesco, com a intenção de resolver a problemática ocasionada pelo genocídio nazista, defendeu uma postura antirracista em tal declaração. Procura, pois, resolver um problema político e social, através da ciência. Por conta dessa abordagem cientificista, a Unesco sofreu severas críticas de biólogos, geneticistas e antropólogos físicos, o que a forçou a organizar um segundo encontro com especialistas. A fragilidade maior do discurso da Unesco, segundo os autores deste artigo, estava na controvérsia sobre o conceito de raça. As considerações acerca da declaração da Unesco são importantes, porque revelam não somente uma tentativa política por intermédio da ciência, mas sobretudo nos mostra que a problemática racial é mais complexa do que se pensava naquele momento.
Em seguida, o sétimo capítulo, cujo título é “Antropologia, Raça e os Dilemas das Identidades na Era da Genômica”, traz a discussão sobre raça, identidade, ciência e política para o contexto do início do século XXI. Constatou-se que, a partir de críticas feitas por grupos diferentes às pesquisas geneticistas realizadas sobre a população de Queixadinha, localidade ao norte de Minas Gerais, a complexa relação entre o conhecimento biológico e as políticas sociais ainda não esta devidamente compreendida. Ricardo Ventura e Marcos Chor, por isso, lançam uma série de questionamentos a fim de problematizar o modo como à construção de identidades culturais é observada tanto pela ciência como por grupos sociais que objetivam um lugar na sociedade.
A construção argumentativa desse capítulo resguarda a mesma imparcialidade e clareza dos textos anteriores de Raça como questão. Apresentam e contextualizam a temática. Depois, relatam o fato e o seu impacto para a sociedade. Finalmente, analisam temas antropológicos numa relação conflituosa com a biologia e a política. No caso do presente capítulo, são aprofundadas as discussões sobre o papel da “nova genética” e as políticas sociais acerca das questões de raça, no contexto atual. Integram esse debate temas como essencialismo, racismo, racialismo e identidade.
“No Fio da Navalha: raça, genética e identidades”, continuam a discussão a respeito das identidades raciais no contexto contemporâneo. Entretanto, o corpus agora se trata de um comercial de testes genéticos na Internet. Compreender até que ponto a biotecnologia e a utilização de testes de DNA interferem nas novas descobertas e quais são os seus impactos sociais e políticos hoje é a preocupação da análise feita pelos autores.
Nesse capítulo, depreende-se da conclusão dos autores o importante papel mediador da biotecnologia em “situações [que] nos falam de encontros, tensões e distanciamentos de pessoas consigo mesmas e com outras de seu entorno”,12 ou seja, as pessoas buscam se entender a partir de certa identidade, que se evidencia não só pelas semelhanças, mas também pelas diferenças. Isso fica percebido tanto no apelo comercial do site da empresa como na procura significativa de pessoas pelo serviço oferecido: o teste de ancestralidade genômica. Os resultados desse exame são, segundo os autores, “racializados e etnicizados, tendo como pano de fundo dinâmicas identitárias particulares”,13 bem como culturais e políticas.
No capítulo nove, “A Cor dos Ossos”, Verlan Valle Gaspar Neto e Ricardo Ventura Santos apresentam um texto repleto de reflexões em torno de “Luzia”, crânio de uma mulher achado em Minas Gerais, com mais ou menos 11.500 anos. Os discursos e representações criados sobre essa peça pré-histórica revelam, a partir de apropriações das descobertas científicas, toda uma questão sócio-histórica e política. Os autores, para comprovar seu ponto de vista, lançam mão de quatro exemplos que veicularam na imprensa, em livros didáticos e na Internet. Analisando-os, observaram neles a tentativa de ressignificação do conceito de racialização, para uma nova configuração no plano social e político.
Em volta da reconstituição subjetiva da face de Luzia, feita com argila por cientistas ingleses, cria-se no Brasil um complexo simbólico, de acordo com o texto em apreço. Na verdade, Gaspar Neto e Ricardo Ventura nos chamam atenção para a relatividade e a apropriação dos conceitos, à medida que a dinâmica histórica nos descortina um novo contexto.
No capítulo “Política de Cotas Raciais, os ‘Olhos da Sociedade’ e os Usos da Antropologia”, Marcos Chor e Ricardo Ventura discutem e analisam o significado de um evento de expansão das políticas públicas de teor racial. Trata-se da vinculação do sistema de cotas raciais para o vestibular na Universidade de Brasília. Nesse evento, segundo os autores, há relação entre história, antropologia e problemas contemporâneos. Logo na introdução, o texto adverte sobre o modo como a UnB procedeu no processo de seleção para pessoas negras. O critério utilizado se assemelhou às práticas comuns entre o final do século XIX e o começo do século XX. As ferramentas podem ser outras, mas a essência é a mesma: a identificação de “negros com base em características físicas como a cor da pele, textura do cabelo e formato do nariz”.14
Justamente por ter o objetivo de retratar uma injustiça histórica e social com os afrodescendentes brasileiros, a maneira como foi conduzido o processo de cotas na UnB revela-se contraditório. Para fundamentar, portanto, a análise a esse respeito, Marcos Chor e Ricardo Ventura afirmam que “é necessário historiar a atuação dos diversos agentes e agências (…) envolvidos nesse processo”.15 Não se trata, entretanto, apenas de relatar a contradição abrupta entre o programa político-social e os procedimentos usados no processo seletivo. O importante, nesse sentido, é compreender de que forma a política de cotas raciais para o ingresso no ensino superior irá impactar na discussão mais ampla e na efetivação de políticas de ação afirmativa, no contexto atual do Brasil. Esse fato, concluem nossos autores, possibilitou uma forte tensão no seio da antropologia contemporânea.
Finalmente, no último capítulo de Raça como questão, “Política Social com Recorte Racial no Brasil”, Marcos Chor Maio e Simone Monteiro analisam a relação entre raça e saúde. Para tanto, abordam o modo como estão sendo implementadas as medidas do Sistema Único de Saúde (SUS) especificamente para pessoas consideradas “negras”. A partir da contextualização e discussão desse processo, que vem sendo colocado em prática desde o final de 1990, o texto mostra que raça representa tanto um mecanismo para evidenciar as desigualdades sociais, como também “um instrumento político de superação das iniquidades históricas existentes no Brasil”.16
Devidamente contextualizada, a temática se desenvolve de maneira a suscitar no leitor uma reflexão sobre o papel positivo dessas ações racializadas no setor da saúde pública no Brasil. Depois da leitura dos capítulos anteriores, compreende-se melhor que o significado da política de saúde para a população negra é apenas mais uma estratégia de política pública, cuja finalidade é a afirmação social. Entretanto, a forma como se operacionalizam as ações é equivocada. Isso se deve ao fato “da existência de concepções variadas sobre o passado e o presente da nação, assim como de distintas visões sobre a identidade cultural do país”.17 Apesar de os autores não negarem, na conclusão, que a reforma da Saúde significa um avanço importante para “segmentos com expressiva presença de negros”,18 advertem-nos que é preciso pensar sobre as consequências de um processo cujas categorias são conceitualizadas pelos próprios opressores.
Ao concluir os onze capítulos que integram o livro Raça como questão, o leitor atento depreende, entre outras coisas, a preocupação dos autores em refletir e compreender o processo histórico que envolve o entendimento de raça, sobretudo, por partes setoriais da sociedade brasileira, tais como intelectuais, mídia, ONGs, programas governamentais, desde o final do século XIX até a atualidade. Percebe-se, também, que há, no conjunto dos textos, o diálogo com as dimensões da realidade histórica: a economia, a política, o cotidiano, o cultural e o biológico, entre outros. Esses elementos fortalecem o argumento analítico que dá sustentação teórica ao livro, sem cair em abstrações universalistas.
Portanto, Raça como questão trata de trabalhar em torno de categorias históricas tais como identidade cultural, raça, mestiçagem, políticas públicas no Brasil, e seus impactos representativos para a sociedade. Os autores abordam essas categorias não de maneira isoladas ou estagnadas, mas buscam observá-las em suas historicidades e em suas temporalidades.
Notas
1 MAIO, Marcos Chor (org.). Raça como questão: história, ciência e identidades no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010, p. 22.
2 Idem, p. 9.
3 Idem, p. 27.
4 Idem, p. 28.
5 Idem, p. 30.
6 Idem, p. 31.
7 Idem, p. 33.
8 Idem, p. 34.
9 Idem, p. 55.
10 Idem, p. 130.
11 Idem, p. 135.
12 Idem, p. 200.
13 Idem, p. 213.
14 Idem, p. 255.
15 Idem, p. 257.
16 Idem, p. 287.
17 Idem, p. 288.
18 Idem, p. 310.
José Wellington Dias Soares – Professor assistente do curso de letras da FECLESC/UECE e doutorando em história pela UFMG. wellitonds@yahoo.com.br
MAIO, Marcos Chor (org.). Raça como questão: história, ciência e identidades no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010. Resenha de: SOARES, José Wellington Dias. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.19, p.84-91, ago./dez., 2011. Acessar publicação original. [IF].
Atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo – BICUDO (EH)
BICUDO, Virgínia Leone. Atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo. Introdução e edição de Marcos Chor Maio. São Paulo: Editora Sociologia e Política, 2010. Resenha de: DIÉGUEZ, Carla Regina Mota Alonso. “Negro é negro”: a contribuição da obra de Virginia Leone Bicudo aos estudos de relações raciais. Estudos Históricos, v.24 n.47 Rio de Janeiro Jan./June 2011.
A questão racial é tema de pesquisa das Ciências Sociais brasileiras desde sua institucionalização. Na década de 1940, um grupo de pesquisadores, orientados pelo Prof. Dr. Donald Pierson, empreendeu pesquisas sobre o tema e desenvolveu teses de mestrado e doutorado na recém-criada Divisão de Estudos Pós-Graduados da Escola Livre de Sociologia e Política. Entre eles estava Virgínia Leone Bicudo.
Mas, quem foi e o que fez Virgínia Leone Bicudo? Esta resposta está no livro Atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo. Publicado pela Editora Sociologia e Política em 2010, ano em que Virgínia completaria 100 anos, e organizado por Marcos Chor Maio, o livro apresenta a figura ímpar de Virgínia Leone Bicudo e sua tese de mestrado defendida em 1945 na Escola Livre de Sociologia e Política (ELSP).
O prefácio, escrito por Élide Rugai Bastos, localiza a tese de Virgínia no contexto teórico e metodológico da época, permitindo-nos conhecer mais sobre a influência norte-americana nos estudos da nascente Ciência Social brasileira, especialmente o interacionismo simbólico, que já apontava na obra de Virgínia e apareceu, de forma mais contundente, nos trabalhos de Oracy Nogueira (1998, 2009), companheiro de Virginia na primeira turma de mestrado da ELSP. Como é sabido, a ELSP, em seus anos de formação, contou com a presença de professores norte-americanos, com destaque para Horace Davis, Samuel Lowrie e Donald Pierson, este último o responsável pela criação da Divisão de Estudos Pós-Graduados da ELSP e pelo desenvolvimento das pesquisas conhecidas por estudos de comunidade.
Ao usar Ciência Social, evidenciamos a intersecção entre a Antropologia, a Sociologia e a Psicologia Social, presente nas pesquisas realizadas na ELSP, explícita na tese de Virgínia e ressaltada por Maio na introdução do livro. Esta era a forma que Pierson concebia a ciência desenvolvida e praticada na ELSP, que extrapolava as divisões disciplinares e buscava a comunhão entre teoria e empiria
É esta, também, a impressão que o leitor possui ao mergulhar na obra de Virginia. A autora mostra que não é preciso desfiar teorias para realizar um trabalho expressivo, reflexivo e crítico, mas sim saber usá-las. Baseada nos trabalhos de Donald Pierson, Negroes in Brazil, e de Everett Stonequist, The Marginal Man, ela busca construir hipóteses sobre as atitudes sociais de pretos1 e mulatos quanto às questões raciais. Entretanto, mais do que hipóteses, consideramos que Virgínia chega a conclusões sobre como pretos e mulatos veem as relações raciais.
Virgínia realizou sua pesquisa entre os anos de 1941 e 1944, ao longo dos quais entrevistou 31 pessoas, divididas segundo os fenótipos (termo utilizado pela autora) de pretos e mulatos e a classe social, inferiores e intermediárias. Ela buscava, dessa forma, estabelecer uma relação entre seu trabalho e o de seu orientador, Donald Pierson, o qual anunciou a existência de um preconceito de classe que se sobrepunha ao preconceito de cor (Pierson, 1945). Virgínia, porém, acabou distanciando-se da análise de Pierson, dado que suas hipóteses caminharam para a afirmação da existência de um preconceito de cor, autônomo do preconceito de classe. Nesse caminho também seguiu Oracy Nogueira, que viria a cunhar, posteriormente, um termo para este tipo de preconceito, o de preconceito de marca (Nogueira, 1998).
Virgínia também entrevistou membros da Associação de Negros Brasileiros, nome fictício dado por ela para a Frente Negra Brasileira (FNB), e utilizou passagens do jornal mensal da FNB, Voz da Raça, chamado na tese de “Os Descendentes de Palmares”.
Com base nesses dados, ela expõe os casos, as opiniões e atitudes dos entrevistados. Ela os apresenta conforme a divisão metodológica – pretos de classe inferior, pretos de classe intermediária, mulatos de classe inferior e mulatos de classe intermediária. Após a exposição de cada parte, são feitas reflexões sobre as atitudes apresentadas, depreendendo algumas hipóteses, as quais são reunidas na conclusão do trabalho.
Alguns depoentes têm suas entrevistas transcritas quase integralmente. O que poderia ser maçante torna o trabalho riquíssimo, demonstrando a importância dada por Virginia ao discurso do nativo, no sentido de compreender os aspectos objetivos e subjetivos que o levam a determinadas atitudes raciais. Também transforma a obra em excelente fonte documental, possibilitando a outros pesquisadores, nos dias atuais, fazerem uso desse material e compreenderem, a partir de dados primários, como as relações raciais desenvolviam-se na década de 1940.
Os dados sobre a FNB também são de extrema importância, pois mostram como essa associação procurou agremiar pretos e mulatos no sentido de transpor as barreiras da cor e construir uma sociedade mais justa e igualitária no que concerne às relações raciais. Tanto as entrevistas com membros da FNB quanto as passagens extraídas do mensário e expostas no trabalho apresentam essa preocupação.
Ao final da tese, Virgínia elenca sete hipóteses. No que concerne à relação entre raça e classe, afirma que a ascensão do preto ou do mulato é feita pela ocupação e a educação, mas que isso não diminui a distância social em termos de cor. Os mulatos integram-se mais facilmente ao grupo dominante, talvez, como aponta a autora, pela sua condição de híbrido, o que a leva a hipótese final. Para Virgínia, trata-se “de discriminação baseada na cor, visto perder significação desde que o indivíduo apresente características do grupo dominante e na medida em que sua pele vai ‘branqueando’, não sendo, portanto, levada em conta sua origem” (Bicudo, 2010: 163)
Com orelha assinada por Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e depoimentos na quarta capa de Antonio Sergio Alfredo Guimarães, Peter Fry, Mariza Correa, Joel Rufino dos Santos, Maria Angela Moretzsohn e Maria Helena Teperman, a tese de Virginia Leone Bicudo – visitadora sanitária, socióloga e psicanalista, publicada pela primeira vez na íntegra –2 é uma excelente fonte para compreendermos não só o desenvolvimento das Ciências Sociais no Brasil, mas principalmente, para entendermos as relações raciais na primeira metade do século XX.
Referências
BICUDO, Virgínia Leone. Atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo. Sociologia, São Paulo, Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, v.9, n.3, p. 196-219, 1947. [ Links ]
______. Atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo. Introdução e edição de Marcos Chor Maior. São Paulo: Editora Sociologia e Política, 2010. [ Links ]
NOGUEIRA, Oracy. Preconceito de marca. As relações raciais em Itapetininga. Apresentação e edição de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti. São Paulo, Edusp, 1998. [ Links ]
______. Vozes de Campos de Jordão: experiências sociais e psíquicas de turbeculoso pulmonar no estado de São Paulo. 2. ed. organizada por Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. [ Links ]
PIERSON, Donald. Brancos e Pretos na Bahia: estudo de contato racial. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1945 [ Links ]
Notas
1 Usarei aqui os termos utilizados pela autora.
2 Parte da tese foi publicada em artigo pela revista Sociologia (Bicudo, 1947).
Carla Regina Mota Alonso Diéguez – Doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e professora e pesquisadora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo, Brasil (carlaregina@fespsp.org.br).
A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário – LINEBAUGH; REDIKER (A)
LINEBAUGH, Peter; REDIKER, Marcus. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Resenha de: GONZÁLEZ, Martín P. Antítese, v. 3, n. 6, jul./dez. 2010.
Si bien tanto Peter Linebaugh como Markus Rediker realizaron otras publicaciones antes y después de La Hidra de la Revolución, 1 nunca lograron alcanzar el reconocimiento que les valió este libro. En la presente reseña crítica nos proponemos, entonces, recuperar las diversas dimensiones que hacen del presente trabajo una innovación dentro de un escenario historiográfico un tanto hostil a los nuevos abordajes y las propuestas analíticas novedosas. Para facilitar la lectura, estructuraremos nuestro análisis en seis apartados diferenciados, para así dar cuenta de la riqueza y los matices que posee el libro. El primero estará centrado en analizar los debates historiográficos, metodológicos y teóricos en los cuales La Hidra se posiciona, buscando así establecer vínculos y relaciones con otros autores. Los siguientes cuatro apartados se centrarán en comentar el libro a partir de su propia estructura, buscando ir más allá de una mera enumeración de capítulos, indagando en las aristas problemáticas que pueda presentar el abordaje de los autores. Finalmente, el último apartado presentará una conclusión crítica. Existe también una publicación en español La Hidra de la Revolución. Marineros, esclavos y campesinos en la historia oculta del Atlántico, publicada por Crítica en Barcelona durante 2005.
Galardonado con el “International Labor History Association Book Prize”, el presente trabajo de Linebaugh y Rediker generó grandes controversias en los círculos académicos, a partir no sólo de su novedosa interpretación de la historia atlántica entre los siglos XVII y XIX, sino también de la forma en que utilizan ciertas categorías de la tradición analítica propia de la historiografía marxista inglesa, estableciendo diálogos con la teoría antropológica y sociológica. Así, si bien el libro está claramente orientado hacia problemáticas analizadas por historiadores de la talla de Rodney Hilton, Edward Palmer Thompson o Christopher Hill2 –como por ejemplo las resistencias campesinas y esclavas, las ideologías radicales de las multitudes sin voz, los conflictos y resistencias en el proceso de trabajo, o la constitución de clases sociales a partir de la experiencia de los sujetos–, podemos notar en el análisis de Linebaugh y Rediker la intención de trascender los límites nacionales –específicamente ingleses– de esos procesos. En este sentido, La Hidra retoma algunas de las hipótesis que guiaron los trabajos tempranos de George Rudé y Eric Hobsbawm,3 quienes buscaron traspasar las barreras de la historia inglesa, analizando ideologías y movimientos populares más allá de los límites geográficos de los Estados nacionales. Nos encontramos entonces con una propuesta temática y un recorte espacial, cronológico y temático más amplio: el espacio del Atlántico, cuyas corrientes y mareas determinaron una serie de experiencias comunes a un proletariado atlántico compuesto de marineros, labradores, criminales, mujeres, radicales religiosos y esclavos africanos, desde el comienzo de la expansión colonial inglesa en el siglo XVII hasta la industrialización metropolitana de inicios del XIX. En este sentido, “los gobernadores recurrieron al mito de Hércules y la hidra para simbolizar la dificultad de imponer orden en unos sistemas laborales cada vez más globales” (p. 16): es precisamente sobre el origen, características, accionar y devenir de las múltiples cabezas de esa hidra, que está centrado el análisis de Linebaugh y Rediker. Entonces, en lugar de centrarse en analizar la constitución de una clase obrera industrial, las características de los piratas, el tráfico esclavista o las ideologías religiosas radicales como elementos independientes, los autores buscan rescatar –a partir de una mirada “desde abajo”- esta multiplicidad de experiencias de opresión, violencia y dominación en función de un abordaje holístico que recupere las conexiones existentes entre estos fenómenos aparentemente dispersos. Así, si bien estos conflictos tendrán diversos escenarios (principalmente los terrenos comunales, la plantación, el barco y la fábrica), el eje de análisis pasa por las relaciones, los quiebres, y las continuidades entre esta diversidad de espacios. Como los procedimientos de análisis de los autores presentan variaciones de capítulo en capítulo, consideramos oportuno abordar a continuación una descripción de los mismos, en función del recorte temático-temporal que realizan, estructurado en cuatro momentos en el desarrollo de este conflicto entre la globalización capitalista hercúlea y las resistencias planteadas por esa compleja hidra policéfala. Los dos primeros capítulos del libro se ocupan de la primera fase de este proceso de dominación hercúleo, que ocurre en los años de 1600 a 1640, signado por el crecimiento y desarrollo del capitalismo comercial inglés y la colonización del espacio atlántico. Estos años de expropiación serían fundamentales, entonces, para la conformación de una estructura económica de exclusión y transformación de las relaciones sociales existentes hasta el momento. El primer capítulo, “El naufragio del Sea-Venture”, sienta las bases de la metodología analítica de los autores. La misma parte de reconstruir casos concretos –como en este caso, el del naufragio de un barco inglés– para indagar en cuestiones estructurales de la época. Así, a partir de este suceso, se abordan cuestiones esenciales del naciente capitalismo atlántico de principios del siglo XVII: la expropiación –mediante la reconstrucción del contexto de competencia imperialista y desarrollo capitalista del cuál la Virginia Company fue uno de sus motores esenciales, a partir de las estrategias de colonización de tierras americanas trasladando poblaciones campesinas–, la lucha por crear modos de vida alternativos a esa expropiación –retomando así la tradición de uso de terrenos comunales, que llegó al territorio americano de la mano de los marineros–, las formas de cooperación y resistencia –fundamentalmente entre los mismos marineros, que, ante los peligros de altamar, iban más allá de sus condiciones de artesanos, proscriptos, campesinos pauperizados, o peones, uniéndose en pos de lograr objetivos comunes– y la imposición de una disciplina clasista –a partir de la respuesta que los funcionarios de la Virginia Company tuvieron frente a esas resistencias, imponiendo el terror de la horca y una disciplina laboral estricta. Este primer capítulo es también representativo en términos de los procedimientos de análisis que los autores realizan de los documentos. En este punto podemos observar un claro interés por hacer dialogar la teoría marxista – especialmente La ideología alemana y el capítulo veinticuatro (sobre la acumulación originaria) de El Capital de Marx–, con la historiografía inglesa – si bien el interlocutor privilegiado lo constituye el marxismo británico de Hill y Thompson, también se cuestionan otras interpretaciones, como podría ser la Hugh Trevor Ropper– y un extenso y detallado corpus documental del período, compuesto principalmente por relatos de viajes, documentos administrativos de la Virginia Company y obras literarias como La Tempestad de Shakespeare. Así, en el segundo capítulo, “Leñadores y aguadores”, los autores retoman los argumentos de algunos de los principales intelectuales de la primer parte del siglo XVII inglés, como Francis Bacon o Walter Raleigh, y cómo caracterizaban a los enemigos de ese Hércules explorador, colonizador y comerciante, a partir de la monstruosidad de esas multitudes variopintas. Centrándose entonces en los leñadores y aguadores, que desempeñaron funciones esenciales para el avance de este proceso globalizante –a saber, realizaron las tareas de expropiación mediante la tala de bosques y destrucción del hábitat de los terrenos comunales, construían los puertos y barcos, y desarrollaban las actividades domésticas cotidianas–, los autores reconstruyen el proceso de constitución de la “infraestructura” necesaria para la expansión del capitalismo comercial, así como la consolidación de un aparato represivo orientado a controlar estas poblaciones: el terror, la prisión, los correccionales, la horca, las campañas militares y los trabajos forzados en ultramar. Sin embargo, a partir de los vínculos de solidaridad y resistencia, estos grupos de “leñadores y aguadores” comenzaron a formar iglesias, regimientos politizados al interior del ejército y comunas rurales y urbanas. “La hidra, formada por marineros, obreros, aguadores, aprendices, es decir, las clases humildes y más bajas –o, por decirlo de otra manera, el proletariado urbano revolucionario– estaba emprendiendo acciones de un modo independiente” (p. 87). Estas cuestiones constituyen el transfondo de la segunda fase de este proceso. Los siguientes dos capítulos están centrados en la segunda fase de este proceso, que iría de 1640 a 1680, y que estaría signada por los levantamientos de esas múltiples cabezas de la hidra, mediante la revolución en la metrópolis y los levantamientos en las colonias. El interlocutor privilegiado de estos capítulos es Christopher Hill, ya que el contenido de los mismos está orientado hacia los mismos problemas y tópicos teóricos tratados por él, aunque con ciertas variaciones que enriquecen el análisis. El tercer capítulo, “Una ‘morita negra’ llamada Francis” constituye acaso la forma más acabada de aplicación de la metodología de estos autores. Como decíamos más arriba, Linebaugh y Rediker parten de casos concretos para reflexionar sobre la totalidad de un proceso, explotando los documentos al máximo e indagando en las condiciones estructurales a partir de coyunturas específicas. Pues bien, en este caso los autores analizan un único documento, un informe de Edward Terrill, dirigente eclesiástico de la Iglesia de Broadmead, en Bristol, sobre “una criada morita y negra llamada Francis”. Lo interesante es cómo, a partir de esta somera descripción de una carilla, los autores analizan la confluencia entre dinámicas sociales como la raza, la clase y el género en el contexto de la revolución puritana inglesa. Así, la reconstrucción de la posible trayectoria de Francis, lejos de centrarse en un abordaje biográfico, da cuenta de las diversas problemáticas del período. “La bifurcación de los debates de Putney”, el cuarto capítulo, está centrado específicamente en las ramificaciones que dichas polémicas tuvieron. Durante el otoño de 1647 tuvieron lugar, en el pequeño pueblo de Putney, una serie de debates de radical importancia para el futuro de Inglaterra –y del capitalismo.
Notas
1 Entre los numerosos trabajos realizados pos los autores, vale la pena resaltar: Marcus Rediker. Between the devil and the deep blue sea: merchant seamen, pirates, and the AngloAmerican maritime world, 1670-1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Peter Linebaugh. The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth-Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; y Douglas Hay, Peter Linebaugh, John G. Rule, Edward P. Thompson y Cal (eds.) Albion’s Fatal Tree. Crime and Society in Eighteenth-Century England. London: Penguin Books, 1988. Martín P. González Peter Linebaugh e Marcus Rediker.
2 Entre la numerosísima bibliografía de estos autores, resaltamos: Christopher Hill. Antichrist in Seventeenth-century England. Londres: Verso, 1990; El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo XVII. Madrid: Siglo XXI España, 1983; y Los orígenes intelectuales de la revolución inglesa, Crítica, Madrid, 1996; de Edgard P. Thompson. Costumbres en común. Barcelona: Crítica, 1984 y Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios de la crisis de la sociedad industrial. Barcelona: Crítica, 1984; y Rodney Hilton. (ed.) La transición del feudalismo al capitalismo. Barcelona: Crítica, 1982; y Hilton, Rodney. Siervos liberados. Madrid: Siglo XXI, 1978.
3 Hacemos referencia, principalmente, a trabajos como: George Rudé. La multitud en la historia. Madrid: Siglo XXI, 1971; y Eric Hobsbawm. Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing. Madrid: Siglo XXI, 1978; y Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Madrid: Crítica, 2001.
Martín P. González – Professor da Universidad de Buenos Aires (UBA) / Argentina.
Anti-racismo e seus paradoxos: reflexões sobre cota racial, raça e racismo.
AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Anti-racismo e seus paradoxos: reflexões sobre cota racial, raça e racismo. São Paulo: Annablume, 2004. Resenha de: DOMINGUES, Petrônio. Varia História, Belo Horizonte, v.23, n.37, p. 241-244, jan./jun., 2007
Como o racismo à brasileira deve ser enfrentado?
Célia Maria Marinho de Azevedo é professora de História aposentada da Universidade de Campinas (Unicamp). Seu campo de especialização é a história do negro e das “relações raciais”. Depois de ter publicado o importante trabalho, Onda Negra, Medo Branco: o negro no imaginário das elites, século XX, em 1987, foi a vez de Abolicionismo: Estados Unidos e Brasil, uma história comparada (século XIX), em 2003, e Anti-racismo e seus paradoxos: reflexões sobre cota racial, raça e racismo, um ano depois. É justamente esta última publicação o objeto da presente resenha. O livro é uma coleção de sete artigos que Célia de Azevedo escreveu entre 1997 e 2003.
No primeiro capítulo (Cota racial e Estado: abolição do racismo ou direitos de ‘raça’?), a autora sustenta a tese de que seria mais eficaz a adoção de medidas universalistas (de cunho social) para a abolição do racismo do que medidas diferencialistas (ou específicas), em que o Estado tem que reconhecer a existência de raças. No entendimento de Célia de Azevedo, o “combate ao racismo significa lutar pela desracialização dos espíritos e das práticas sociais. Para isso é preciso rechaçar qualquer medida de classificação racial pelo Estado com vistas a estabelecer um tratamento diferencial por raça, ou, para sermos mais claros, os direitos de ‘raça’” (p. 50).
Já no segundo capítulo (Cota racial e universidade pública brasileira: uma reflexão à luz da experiência dos Estados Unidos), a autora analisa basicamente duas questões: o debate em torno da validade ou não da política de cotas para minorias discriminadas nos Estados Unidos e como a experiência estadunidense pode servir de inspiração para os brasileiros engajados na luta anti-racista e até que ponto ela pode ser importada para nosso país.
O terceiro capítulo (Entre o universalismo e o diferencialismo: as políticas anti-racistas e seus paradoxos) trata do espinhoso dilema: afinal, as propostas mais adequadas para se combater o racismo são as de cunho universalista ou diferencialista. Para Célia de Azevedo, faz-se necessária a “criação de oportunidade para os segmentos da população historicamente discriminada – sem no entanto perder o sentido universal de humanidade” (p. 73).
No quarto capítulo (A nova história intelectual de Dominick LaCapra e a noção de raça), a autora esquadrinha, primeiramente, alguns postulados do historiador Dominick LaCapra acerca da Nova História Intelectual e, em um segundo momento, analisa como LaCapra e outros autores vêm criticando o uso da noção essencialista de raça na produção do conhecimento histórico.
O quinto capítulo (13 de Maio e anti-racismo) problematiza a substituição, nas últimas décadas, do 13 de Maio – data em que se comemora o aniversário da Lei de Abolição, assinada pela Princesa Isabel – pelo 20 de novembro, presumível data da morte do “herói” negro Zumbi dos Palmares. Célia de Azevedo defende a idéia de que a Abolição foi resultado da luta de um amplo movimento contestatório (protagonizado por escravos, libertos e seus aliados progressistas). Por isso, entende que não se podem distorcer os fatos: a liberdade foi uma conquista dos negros e não uma dádiva das elites brancas (ou da Princesa Isabel); logo, o 13 de Maio “dos escravos” tem que ser tão revalorizado quanto o 20 de novembro de Zumbi dos Palmares.
No sexto capítulo (Quem precisa de São Nabuco), Célia de Azevedo questiona um dos personagens mais “santificados” da História do Brasil, Joaquim Nabuco (1849-1910), daí o porquê do “São Nabuco” do título. A autora demonstra que seu personagem pensava como as pessoas ilustradas de seu tempo. Se do ponto de vista racial as teorias que apregoavam a superioridade biológica, intelectual e cultural do homem branco sobre o negro estavam em voga na Europa e no Brasil no final do século XIX, Nabuco não ficou imune e bebeu em tais postulados. Para além de abolicionista, Nabuco – como um bom proprietário, senhor de escravos e político de sua época – seria defensor de seus interesses de “raça e classe”, isto é, para a Célia de Azevedo, Nabuco concebia a Abolição em dupla perspectiva: como uma medida que garantiria a manutenção da ordem (e da grande propriedade) e como um mecanismo que facilitaria a entrada massiva de imigrantes brancos europeus a fim de promover a purificação racial da população brasileira.
Por fim, no sétimo capítulo (“Para além das ‘relações raciais’: por uma história do racismo”) a autora preconiza a necessidade de superar a noção de “raça”, bem como a de “relações raciais”, para eliminar “o racismo no dia-a-dia”. Em lugar de “raça”, a autora entende que deveria existir apenas a noção universalista de “humanidade”.
A despeito de o livro abordar temas correlatos, o escopo central é escrutinar a proposta de ações afirmativas para negro, especialmente em sua versão mais conhecida (e polêmica), as cotas raciais. Célia de Azevedo deixa patente que tal proposta não é a melhor solução para atacar as desigualdades raciais no Brasil. Primeiro, porque a “política de preferência racial esteve longe de ser um sucesso” nos EUA; segundo, porque existiriam programas mais eficazes para se combater o “racismo institucional” e o estado de penúria de boa parte da população negra. Esses programas não teriam um recorte racial e, sim, social, como o da reforma agrária, o da recuperação da qualidade das escolas públicas de ensino fundamental e médio; o Projeto de Renda Básica Universal e o Programa Bolsa-Escola. Que se sabe, os defensores das cotas raciais não são contrários à reforma agrária ou à melhoria da escola pública. Porém, o mais paradoxal é que alguns dos programas preconizados por Célia de Azevedo (como renda básica e bolsa-escola) estão no bojo das chamadas políticas compensatórias, e tais políticas seguem o mesmo princípio das ações afirmativas (do qual as cotas raciais fazem parte): reparar as injustiças do passado (e do presente) para os grupos que são discriminados negativamente, por motivo de cor, gênero, classe social ou orientação sexual.
Um dos motivos pelos quais Célia de Azevedo se opõe à política de cotas raciais é que ela consiste numa política pública específica (ou diferencialista). Em sua opinião, não são as políticas específicas e sim as universalistas as mais apropriadas para garantir a promoção dos negros. No entanto, não é isso o que as pesquisas apontam. A implementação de políticas públicas universalistas, quais sejam, programas governamentais que atacariam as causas sociais da desigualdade não sinalizam para a erradicação do racismo no país. Conforme apurado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no ano de 2001, todas as políticas públicas universalistas empreendidas pelo governo, desde 1929, não conseguiram eliminar a taxa de desigualdade racial no progresso educacional do brasileiro. Os brancos estudam em média 6,6 anos e os negros 4,4 anos. Esta distância, de 2,2 anos, é praticamente a mesma do início do século XX. A conclusão é reveladora: apesar de ter acontecido uma elevação do nível de escolarização do brasileiro, de 1929 para os dias atuais, a diferença de anos de estudos dos negros frente aos brancos permanece inalterada.
Isso significa que programas sociais ou políticas públicas universalistas, por si só, não evitam as desvantagens que os negros levam em relação aos brancos no acesso às oportunidades educacionais. Para se corrigir esta deficiência do sistema racial, são necessárias também políticas públicas específicas em benefício da população negra, ou seja, programas sociais que adotem um recorte racial na sua aplicação. Os problemas específicos dos grupos que historicamente sofreram (e sofrem) discriminação (como negros, mulheres, gays, entre outros) se resolvem, combinando medidas gerais e específicas. Portanto, a discriminação contra o negro deve ser enfrentada, igualmente, com ações anti-racistas.
Um outro motivo pelo qual Célia de Azevedo rejeita a política de cotas raciais é que ela exige que o Estado classifique racialmente a população. E, segundo a autora, enfrentar o racismo significa lutar pela “desracialização dos espíritos e das práticas sociais”. Se a “raça” foi uma invenção nociva aos destinos da humanidade, afirma Célia de Azevedo, “por que reivindicar a racialização pelo Estado?”. Ora, é sabido que “raça” é uma construção social, com pouca ou nenhuma base biológica, mas não adianta o Estado negligenciá-la, porque as pessoas classificam e tratam o “outro” de acordo com as idéias socialmente aceitas. Ademais, o Estado brasileiro nunca teve a tradição de desenvolver políticas de identidade racial junto à população (haja vista a decisão do governo federal de retirar o quesito “cor” ou “raça” do censo oficial em 1970), mas nem por isso o racismo deu sinais de subtração ou perecimento.
Como é de praxe nas coletâneas, o livro peca pela redundância das idéias e, em casos extremos, pela repetição literal de trechos, como o que acontece no primeiro parágrafo da página 72 e no terceiro da página 81. De toda sorte, o livro é uma equilibrada contribuição teórica para o importante debate que está pautando a agenda nacional no momento: como o racismo à brasileira deve ser enfrentado? Ninguém tem mais dúvidas que o Brasil é um país marcado pela desigualdade de oportunidades entre negros e brancos, seja no mercado de trabalho, na esfera educacional, na vida pública, etc.; entretanto, não há consenso acerca das medidas a serem tomadas para se atacar um mal que penaliza quase metade da população brasileira e a impede do pleno exercício da cidadania. Só existe um consenso: não dá mais para ficar de braço cruzado e aceitar a falácia de que o Brasil é o país do paraíso racial.
Petrônio Domingues – Doutor em História/USP. Professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: petrinio@usp.br
[DR]
Além da Escravidão: investigações sobre raça/trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação | Frederick Cooper, Thomas C. Holt e Rebecca J. Scott
Vivemos um momento singular na história brasileira. Depois de anos de luta dos afro-descendentes, nunca a questão da desigualdade racial esteve tão visível: políticas públicas com o objetivo de reparar anos de exclusão têm sido implementadas; a pesquisa histórica é sensível a essa nova condição; nos cursos de pós-graduação, trabalhos são produzidos sobre o período pós-abolição, no intuito de analisar a historicidade da exclusão racial e dos embates da população negra pelo alargamento das fronteiras sociais. Entretanto, esses estudos, alguns distantes do mercado editorial, ainda não progrediram para análises comparativas com outras sociedades que conviveram com a escravidão e que também tiveram que enfrentar as dificuldades do período pós-emancipação.
Em se tratando de uma instituição atlântica, que teve repercussões na América, na África e na Europa, a escravidão e os contextos pós-emancipação devem ser analisados da maneira mais abrangente possível. Afinal, a situação de desigualdade racial está presente em todos os lugares nos quais existiu o trabalho cativo negro. Por isso, o livro Além da Escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação, escrito por três renomados pesquisadores norte-americanos, Frederick Cooper, Thomas C. Holt e Rebecca Scott, é imprescindível. Ele é fruto de estudos subordinados ao projeto Postemancipation Societies que, desde o ano de 1982, vem coletando e selecionando fontes do Caribe, da África e do Brasil. O livro contém três ensaios comparativos, que analisam as sociedades pós-emancipação em diferentes partes do mundo – como o Caribe britânico (especialmente a Jamaica), Cuba, a Louisiana (nos Estados Unidos) e a África colonial – e abrangem o período de 1833, ano da abolição da escravatura na Jamaica, até 1946, quando o trabalho forçado extinguiu-se na África de colonização francesa. Leia Mais
Identidades a flor de piel. Lo negro entre apariencias y pertinências: categorias raciales y mestizaje en Cartagena – CUNIN (M-RDHAC)
CUNIN, Elisabeth. Identidades a flor de piel. Lo negro entre apariencias y pertinências: categorias raciales y mestizaje en Cartagena. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Universidad de los Andes, Instituto Francês de Estudios Antinos; Observatorio del Caribe Colombiano, 2003. 329p. Resenha de: DÍAZ, María José Almarales. Memorias – Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, n.2, jan./jun., 2005.
María José Almarales Díaz – Antropóloga e investigadora membro del Grupo de Investigación en Historia y Arqueologia del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte. Asistente editorial de Memorias.
[IF]A Touch of the Zebras – SADU; TAYLOR (CSS)
SADU, Itah; TAYLOR, Stephen Taylor. A Touch of the Zebras. Toronto: Women’s Press, 2003. 32p. Resenha de: HORTON, Todd. Canadian Social Studies, v.39, n.2, p., 2005.
Another in a long line of issue books written for children, A Touch of the Zebras is the story of Chelsea, a grade two student who does not want to go to school anymore. Her mother, Ms. Rose, tries to find out what is the matter but Chelsea is not telling, preferring to hide in her bed under the guise of sickness. Ms. Rose talks to the school principal to no avail and wisely rules out medical problems by consulting doctors and naturopaths. Input from caring relatives does not solve Chelsea’s problem but a kindly visit from Dr. Tara Lorimer does. It seems that Chelsea has taken a dislike to school because she is biracial and feels she must choose between her black and white friends. In short, Chelsea has a touch of the zebras, the feeling of being caught between two worlds.
Itah Sadu adequately captures the intellectual and emotional struggle that can develop when young children are confronted with words and behaviours that indicate race matters and people understand it in very different ways. Though we are never quite sure what transpired to make Chelsea feel like she must choose between her black and white friends, we know that whatever it was, lines of distinction have been drawn. She has heard a message that says she cannot have it both ways. The days of kindergarten play where everyone played with everyone else have gone forever and Chelsea must realize that we are grouped into racial categories. She must now choose the group with which she truly belongs. Living in a state of limbo is not an option. Sadly, the child is forced to make sense of that which is senseless.
The book also adequately captures the intellectual and emotional struggle of parents trying to understand their children and the lives they lead on a day to day basis. Ms. Rose consults her support system, asks questions and tries to fit pieces of answers together in an effort to figure out what her daughter is unable to clearly articulate. She knows that something has changed in the life of her once happy child but feels helpless to make it better. Almost every parent can relate to this feeling.
Amidst these struggles are subtle touches which lift this book above the ordinary. Stephen Taylor’s beautiful illustrations provide the story with a sense of cultural authenticity. The clothing and hair styles shown throughout are suggestive of Ms. Rose’s Guyanese heritage demonstrating the importance of culture(s) for our senses of identity and influence they have on the choices we make. The story demonstrates cultural accuracy in the names of Chelsea’s aunts and uncle along with a sense of tradition in the home remedies they suggest to help Chelsea get better. Each suggestion reflects the relative’s upbringing, highlighting the point that when confronted with something we do not understand we feel off balance and many of us turn to past practices to re-establish a sense of equilibrium. Finally, Dr. Tara Lorimer’s character quietly but effectively signals to the reader that women are not only doctors but that being a doctor is as much about listening and sharing as it is about surgery and the prescribing of medication. These touches enhance the overall credibility of the book as a tool for dealing with the issue at hand.
My one criticism of the story is the simplistic resolution provided for Chelsea’s problem. Though I am sensitive to the brevity of picture books and the age level at which they are aimed, I cannot help but feel that a quick personal story from a kindly doctor and a few slogans like rainbows come in all colours are not going to bring about feelings of exuberance at being biracial. The concept of race is incredibly complex and how people understand and respond to it is even more so, not to mention often idiosyncratic. The resolution is incredibly frustrating especially for anyone who has experienced feelings of in-between-ness like Chelsea’s.
That point withstanding, the book never strays into anger, hatred or self-pity, feelings that are very plausible for people who experience the challenges of being biracial in a racialized world. Indeed, the book strives to honour and celebrate diversity while revealing the common bonds of humanity. From this standpoint the book succeeds admirably.
The many benefits of children’s literature have been well documented. They arouse reader interest and more personal responses than textbooks. Children’s literature engages students aesthetically and according to some researchers allows readers to experience and empathize with other people, cultures, places and times. While not technically literature, picture books like A Touch of the Zebras can be used with young children as an entry point into discussions of what it is like to live in a multi-raced and multi-ethnic family. As well, we can not discount the power of picture books for older children. They can be effectively used as a hook or opener into more complex discussions about race, how it privileges some and is used to diminish others, how it affects individual and community esteem, impacts on our senses of social justice and overall social cohesion, how it is celebrated by some as an aspect of individual and social identity and of course how it is often ignored.
Todd Horton – Faculty of Education. Nipissing University. North Bay, Ontario.
[IF]Talking About Identity: Encounters in Race, Ethnicity, and Language – JAMES; SHADD (CSS)
JAMES, Carl E.; SHADD, Adrienne. Editors. Talking About Identity: Encounters in Race, Ethnicity, and Language. 2nd Edition. Toronto: Between the Lines, 2001. 323p. Resenha de: HORTON, Todd. Canadian Social Studies, v.39, n.2, p., 2005.
As editors of a narrative anthology, James and Shadd have compiled a compelling series of stories exploring the complex perspectives of Canada’s racial, ethnic and linguistic minorities. Quotations are used to indicate that the term minorities can be considered by some to be marginalizing to the extent that it positions entire groups of people outside the mainstream majority, perpetuating their Otherness. However, as James states in the introduction, the term also indicate[s] the power relationships in our society: ‘majority’ represents not simply numbers, but the cultural group with political and economic power, as compared to the ‘minority,’ which does not have access to that power (p. 7). Using the work of Stuart Hall, James notes that in talking about ‘identity’ they view this core concept as a ‘production,’ which is never complete, always in process and always constituted within, not outside representation (p. 2). In this vein, James and Shadd have successfully created a book that makes explicit the complex ways personal exchanges and interactions influence and inform understandings of race, ethnic and language identities. It does this by focusing on the vicissitudes of people’s daily encounters and, with each powerfully written story, the reader comes to appreciate the contingent, contextual and relational nature of identities.
The stories are clustered into five themed parts: Who’s Canadian Anyway?; Growing Up Different; Roots to Identity, Routes to Knowing; Race, Privilege, and Challenges; and, Confronting Stereotypes and Racism. Each part provides a space for the contributing authors to voice their individual experiences and interpretations of living in a world that defines people by their race, ethnicity and language.
In a selection from Part I entitled Where Are You Really From?: Notes of an ‘Immigrant’ from North Buxton, Ontario co-editor turned author Adrienne Shadd deftly weaves a story of invisibility and marginalization based on the title question. Shadd illustrates how the four hundred year history of Blacks in Canada has been made invisible in both this country and throughout the world leading to the widespread belief that there is no such thing as a Black Canadian save for recently arrived immigrants. She also draws on her experiences growing up in North Buxton, Ontario a rural Black community near Chatham once famous as a settlement of ex-slaves who escaped from the United States on the Underground Railroad to explore her views on the overlap of caste and class in the public consciousness and the affirmation that can come from education in segregated schools. However, the crux of the story is found in the complexity of daily encounters when varying forms of the question where are you really from are asked. Shadd explains how displays of frustration and annoyance to her answer of Canada and the pursuit of an answer that more satisfies the inquisitor’s conception of a Canadian marginalizes her in her own country. As Shadd explains, you are unintentionally denying me what is rightfully mine my birthright, my heritage and my long-standing place in the Canadian mosaic (p. 15). Still, Shadd is not content to tie up the point in a neat little package. Instead, she ends with an encounter that blows open the discussion again as a Guatemalan Canadian tells her that except for the Native people, the rest of us are just immigrants anyway (p. 16).
While the stories in Part I focus on issues of Canadian-ness, the stories in Part II explore the experiences of growing up, that precarious time when being seen as different or viewing oneself as different can be most traumatic. Stan Isoki, a teacher living in Ontario, relates his encounters with race in a story entitled Present Company Excluded, Of CourseRevisited. Here, Isoki takes the unusual step of updating his first edition manuscript by interjecting more recent commentary and reflection. The effect for the reader is the feeling of a dialogue between who and what the author was and who and what they have become. Isoki, a Canadian of Japanese heritage, shares his feelings of being made to feel both visible and invisible, saving his most potent criticism for several teachers who taught him as a boy and those with whom he worked as a colleague. The criticism is not vitriolic or vituperative, though he has every right to heap mountains of scorn on these individuals given their charge of educating young minds. Instead, Isoki’s critique is a cry for awareness and sensitivity on the part of teachers (and governments) as well as a call to action to re-create a vision of Canada that is truly multicultural.
One of the most insightful stories appears in Part III. Written by Howard Ramos and entitled It Was Always There: Looking for Identity in All the (Not) So Obvious Places, a road side encounter in northeastern New Brunswick is the catalyst for an exploration of the author’s feelings about his father’s identification with Canada and lack of connection to his native Ecuador. This also leads to a period of self-reflection about the ways the author has positioned his father as not quite Canadian and himself as having little or no relationship to his Ecuadorian heritage. Drawing on the work of Ernest Renan and Benedict Anderson, Ramos comes to understand that identity, like nation-building, is a process of forgetting, misinterpreting and re-creating symbols and markers (p. 108). His father, in an effort to become Canadian, forgot his past while subtly sharing that past, that part of who he is, with his son. Ramos, in turn had to acknowledge his misinterpretation of what it means to be Canadian and the boundaries he has created that prevent his father from being who he wishes to be. He also had to recognize his connection to his Ecuadorian heritage as something that was always there, waiting to be embraced in the fullest sense of Canada’s yet to be achieved society based on multiculturalism and acceptance of diversity.
One of the most compelling contributions to the book occurs in Part V. Entitled I Didn’t Know You Were Jewishand Other Things Not To Say When You Find Out, Ivan Kalmar’s piece initially caused me a great deal of discomfort which, I believe, was his intent. Written in a quasi-advice column style, Kalmar refers to the reader as you fostering the feeling of being spoken and occasionally lectured to directly. My feelings of consternation stemmed from indignation at his assumption that I, an educated person, would ever be culturally insensitive. This is mixed with feelings of guilt as I secretly admit to myself that I may indeed have said things or acted in just the ways he describes. Once passed what at times felt like an assault on my enlightened self, I read and re-read his reasoning for offering such advice. In each case, Kalmar thoughtfully demonstrates the challenge of being culturally sensitive, noting that what is often intended as a compliment or search for common conversational ground can also be interpreted as intolerant and insulting. This duality can be frustrating, but just as you feel like you will never be able to get it right or that no matter what you do someone will take offense, Kalmar acknowledges that most people have purity of intent and exhorts that he simply wishes to encourage consideration of his points and reconsideration of our words and actions. The coda to the piece emphasizes a generosity of spirit toward people as they struggle to live in a world characterized by multiple perspectives on identity, saying that even if we occasionally slip up, not to worry as we mean well. As he says, I’m not only a Jew. I am a human being, like you (p. 240).
James and Shadd’s book was written as an effort to make explicit how identities related to race, ethnicity and language influence and inform individuals’ life experiences and relationships (p. 2) and in this regard it succeeds brilliantly. Highly readable, the book is applicable to any university course wishing to delve into the complex world of identities. While not written for secondary school, portions of this book could be used by teachers to introduce a concept, encourage discussion or address a relevant issue. Indeed, there are few more effective entry points into discussions of race, ethnicity and language than the daily encounter.
Todd Horton – Faculty of Education. Nipissing University. North Bay, Ontario.
[IF]Power, Knowledge and Anti-Racism Education: A Critical Reader – SEFA DEI; CALLISTE (CSS)
SEFA DEI, George J. ; CALLISTE, Agnes (Eds.), with the assistance of Margarida Aguiar. Power, Knowledge and Anti-Racism Education: A Critical Reader. Fernwood Publishing, 2000. 188p. Resenha de: BECKETT, Gulbahar H. Canadian Social Studies, v.38, n.3, p., 2004.
Power, Knowledge and Anti-Racism Education: A Critical Reader is a volume edited by George J. Sefa Dei and Agnes Calliste. As the title suggests, this book is indeed a critical, informative, and thought provoking reader on power, race, gender, and education. The book includes eight chapters plus an introduction and conclusion that address questions of racism and schooling practices in a variety of educational settings in Canada, a country that practices multiculturalism and is considered to value and promote diversity. Most Canadians believe that the country’s multicultural policy was established with good intentions and has served the country and its people well. As such, we rarely ask ourselves questions such as: Who is benefiting from the policy and who is not? Why and why not? What are the strengths and limitations of the multicultural policy in empowering people of all origins? What more can be done to ensure equality in education and the larger society? This very well written book asks and answers these and many other very important questions.
Specifically, Power, Knowledge and Anti-Racism Education addresses critical issues such as multiculturalism, racism, equality, exclusion, and gender issues from theoretical as well as practical perspectives. It calls for a critical examination of and going beyond multiculturalism by challenging the status quo with critical anti-racist education. In Chapter 1, Dei contextualizes the book through his discussion of a critical anti-racist discursive theoretical framework that deals foremost with equity: the qualitative value of justice (p. 17). He is critical of multiculturalism arguing that it creates a public discourse of a colour-blind society and he calls for an acknowledgement of and confrontation with differences. According to Dei, confronting the dynamics and relational aspects of race, class, ethnic, and gender differences is essential to power sharing in colour-coded Euro-Canadian contexts.
In Chapter 2, Bedard continues the discussion of multiculturalism and anti-racist education through a deconstruction of Whiteness in relation to historical colonialism, imperialism, and capitalism. He reminds readers of the complexity of the race issue as we still live with the legacy of colonialism. He asserts that through their ideological and intellectual ruling of Canada, as well as many other parts of the world (e.g., Africa and Asia), white people enjoy more privileges that are not afforded to people from other racial backgrounds. In Chapter 3, Ibrahim revisits tensions surrounding curriculum relevance and demonstrates how popular culture, especially Black popular culture (e.g., Hip Hop and Rap), can be utilized to carry out anti-racism education as it relates to students identity formation, cultural and linguistics practices, and sense of alienation from or relation to everyday classroom practice. In Chapter 4, James and Mannette address issues related to visible minority students’ access to publicly funded post-secondary education. Through rich personal accounts from students, they illustrate how these students mediate systemic barriers, gain entry, and experience post-secondary education in Canada.
In Chapter 5, Henry presents a brief reflection of black teachers’ positionality in Canadian universities and schools through three vignettes: her personal experience, two teacher candidates’ experiences, and a veteran teacher’s experience. Through these vignettes, Henry makes a case that black women in Canadian universities and schools were isolated and bore the responsibility of raising the awareness and consciousness of the White people in their work environment (p. 97). She calls on all of us to reflect on every day acts of power and subordination and to use them to develop theories and workable strategies to end inequality (p. 97). In Chapter 6, Tastsoglou discusses various types of borders and the challenges and rewards of cultural, political, and pedagogical border crossing. As a transnational person who crosses various borders daily, I found the discussion to be particularly interesting. Among others, I like the points Tastsoglou makes about otherness (i.e., how all of us can be othered sometime or another) and the detailed illustration of border pedagogy (Giroux, 1991) that can enable us to engage in socially and historically constructed multiple cultural experiences.
In Chapter 7, Wright addresses issues of exclusion and engages in an anti-racist critique of progressive academic discourse in general rather than Canadian multiculturalism per se, using post-modernist, post-structuralist, post-colonialist, feminist, and Afrocentricist discourses. What I found particularly informative in this chapter is Wright’s discussion of what Afrocentricism and feminism are and how they can contribute to our understanding of inclusion and exclusion. In Chapter 8, Calliste presents and discusses some research studies on racism in Canadian universities. This chapter shows racism does exist in Canadian universities overtly as well as through hidden curriculum. As such, it supports Dei’s argument that Canada is a colour-coded society where racism and inequality exist and need to be addressed.
In summary, Power, Knowledge and Anti-Racism Education: A Critical Reader is a book that challenges us to be critical of the multiculturalism that has become part of Canadian social and public discourse. It reminds us that multiculturalism works with the notion of a basic humanness. As such, it downplays inequalities and differences by accentuating shared commonalities among peoples of various backgrounds. It advocates empathy for minorities on the basis of a common humanity, envisions a future assured by goodwill, tolerance, and understanding among all, but it also breeds complacency, creating the illusion that we live in a raceless, classless, and genderless society. For example, Dei points out that, while a raceless, classless, and genderless society is an ideal that we all aspire to and work towards, we must remember that, at present, such a society is a luxury that is only possible for people from a certain racial background, namely white people. He, therefore, urges us to acknowledge that while multiculturalism is an important first step in building an ideal nation, it is anti-racist education that seeks to challenge the status quo and aspires to excellence. According to Dei and Calliste, anti-racism education practice must lead to an understanding that excellence is equity and equity is excellence (p.164). I would recommend this book as a required text for undergraduate and graduate level sociology and educational foundations related courses.
References
Giroux, H. (1991). Post-modernism as border pedagogy: Redefining the boundaries of
race and ethnicity. In H. Giroux (Ed.). Postmodernism, feminism, and cultural
politics: Redrawing educational boundaries (pp. 217-56). Albany: State University of New York Press.
Gulbahar H. Beckett – College of Education, Criminal Justice, and Human Services. University of Cincinnati, Cincinnati, OH, USA.
[IF]
What It Means to be 98% Chimpanzee: Apes, People, and Their Genes – MARKS (CSS)
MARKS, Jonathan. What It Means to be 98% Chimpanzee: Apes, People, and Their Genes. Berkeley & Los Angeles, CA & London, England: University of California Press, Ltd. 2002, 312p. Resenha de: GOULET, Jean-Guy. Canadian Social Studies, v.39, n.1, p., 2004.
Imagine a Planet of the Apes on which a single specie, over seven million years, evolves into three related but distinct species: Homo, Pan (chimpanzee and bonobo), and Gorilla. Unique among them are human beings who ask What does it mean to be 98% chimpanzee? The answer is found in Jonathan Marks’s witty, insightful and critical essay.
In this book Marks accomplishes two important tasks. First, he convincingly argues that the reduction of important things in life to genetics is a recent cultural, non-scientific, phenomenon that calls for serious critical analysis. In a stance that some may find polemical he states unambiguously that technical sophistication and intellectual navet have been the twin hallmarks of human genetics since its origins as a science in the early part of the twentieth century (p. 2). Second, he challenges a wide range of taken-for granted views on race, inequality, sexual orientation, funding for research projects, and many other salient topics of public interest. In the process Marks offers refreshing insights into the fallacy of arguments put forward by authors, some of them scientists, who inappropriately use science to promote their social agenda.
While reading this book one comes to appreciate the kinds of questions and statements Marks come up with to get the reader to think. Consider the following: When a human skull encases 1400 cubic centimetres of brain, a chimp is luck to have a third of that. Is that 67% different? (p. 23); If we are similar but distinguishable from a gorilla ecologically, demographically, anatomically, mentally indeed every way except genetically does it follow that all the other standards of comparison are irrelevant, and the genetic comparison is transcendent? (p. 43); We are apes, but only in precisely the same way we are fish (p. 45); The overwhelming bulk of detectable genetic variation in the human species is between individuals in the same population. About 85% of it, in fact (p. 82); Irish Catholics and Irish Protestants are indistinguishable genetically, but they know who they are and who they are not, by virtue of their cultural difference (p. 87).
Observations such as these cut to the heart of the matter. In the same vein Marks reminds his readers that Races aren’t there as natural facts, they are there as cultural facts, which overwhelm and redefine the relatively minor biological component they have (p. 136). He writes: I’m always astonished to find it asserted in the sociobiological literature that humans have a deep hereditary propensity for ‘xenophobia,’ fear or hatred of others, or more grandiosely, a genetic basis for genocide (p. 141). Marks, who notes that the simplest answer to such assertions is to point out that genocide policies are carried out between people biologically very similar but culturally very different, such as the Hutu and Tutsi, Bosnians and Serbs, Israelis and Palestinians, Huron and Iroquois, Germans and Jews, English and Irish (p. 142). It is cultural values and social agendas that shape human lives as historically situated humans strive to promote this or that social and political agendas to create a world more to their liking.
Of the twelve chapters in the book, four are based on previously published papers and three, chapters 6, 7 and 8, are based on published reviews of books. These are: Taboo: Why Black Athletes Dominate Sports and Why We Are Afraid to Talk About It by J. Entine (2000); Demonic Males: Apes and the Origins of Human Violence by R. Wrangham and D. Peterson (1996); and, The Great Ape Project: Equality Beyond Humanity by P. Cavalieri and P. Singer (1993).
From one chapter to the next, Marks continuously keeps his sight on the ambiguous relationship between science and society. To illuminate the pitfalls of the uncritical and unwarranted misuse of poorly understood scientific knowledge he engages in lively discussions of the sociobiological view of males as naturally inclined to violence (chapter 7), of the Great Ape Project which promotes extending human rights to the great apes (chapter 8), of the Human Genome Project (chapter 8) and the Human Genome Diversity Project (chapter 9), of the controversy around the cloning of human beings (chapter 10), of the Creationist agenda (chapter 11), or of the eugenic movement (chapter 12).
In brief, this is a great book for all interested in contemporary debates in which claims are made about the social and cultural significance of genetic markers in humans and non-humans. The range of topics covered is wide. The writing is lively and thought provoking. The quest for sorting out science from pseudo science is relentless. In this way Marks accomplishes his purpose which is to challenge not science but scientism, an uncritical faith in science and scientists (p. 279).
Jean-Guy Goulet – Faculty of Human Sciences. Saint Paul University, Ottawa, Ontario.
[IF]Contesting Canadian Citizenship: Historical Readings – ADAMOSKI et al (CSS)
ADAMOSKI, Robert; CHUNN, Dorothy E.; MENZIES, Robert (eds). Contesting Canadian Citizenship: Historical Readings. Peterborough, ON: Broadview Press, 2002. 429p. Resenha de: MITCHELL, Tom. Canadian Social Studies, v.39, n.1, p., 2004.
Citizenship lies at the heart of the liberal state and forms of political modernity. Defined variously as a relational practice, a set of personal rights and obligations, or as a cultural idiom unique to particular societies, citizenship is to a greater or lesser degree always fluid, plastic, and internally contested (Brubaker, 1992, p. 13; on citizenship see also T. H. Marshall T. Bottomore, (1992). Its analysis offers an opening to modern approaches to power and social control, to forms of modern nations and nationalities; conceptually, idioms of citizenship are deeply implicated in most debates of public policy in the liberal state. And, as Contesting Canadian Citizenship discloses, such has been the case since the beginning of modern Canadian history.
The various and diverse chapters contained in Contesting Canadian Citizenship tell us about how modernist discourses of class, gender, race and discursive idioms of human pathology have shaped how Canadians have imagined each other. Such discourse furnished the theory upon which forms of unequal citizenship have been cast, institutional life has been ordered, and relations of power and vulnerability have been forged. For some citizenship promised power and opportunity, full citizenship within the liberal state; for others liberal discourse on citizenship led to non-citizenship, shame, subordination, incarceration, even sterilization.
The readings open with a nicely tailored introduction to the contemporary debate and varied usages of citizenship as a practical – and almost always contested – political and social idiom. Here the Canadian debate is effectively placed within the context of a broader international literature. Janine Brodie’s contribution to the introduction Three Stories of Canadian Citizenship focuses on three approaches to the development of citizenship in Canada: the legal, rights based and governance approaches. Under these headings Brodie moves from an account of the juridical nature of Canadian citizenship, to a discussion of the evolution of Canadian citizenship within a critical appraised account of T.H. Marshall’s seminal theorization of citizenship, to a historical survey of citizenship under the general rubric of governance.
Beyond the introduction, Contesting Canadian Citizenship has five sections. Constituting the Canadian Citizen contains essays by Veronica Strong-Boag on the debate around citizenship central to the Canadian Franchise Act of 1885. Gender, race, and class are illuminated as central features of the construction of citizenship within the Canadian liberal state. Ronald Rubin tackles citizenship in the evolving cultural politics of Quebec sovereignty, while Claude Denis provides a thoughtful and provocative account of the Hobson’s choice at the heart of the history of indigenous citizenship in Canada.
Under the heading Domesticity, Industry and Nationhood Sean Purdy relates a fascinating story of the implication of idioms of citizenship within debates over housing policy, while Jennifer Stephen considers industrial citizenship within the context of an account of employment, industrial relations and the creation of an efficient labour force during the era of crisis and reconstruction from 1916-1921. Deyse Baillargeon employs data from interviews with Francophone women in Montreal to provide a contextually specific glimpse into how women in Quebec, who possessed only a partial juridical citizenship, nevertheless made an important contribution to the maintenance of social stability during the Great Depression. Finally, Shirley Tillotson takes up the question of citizenship and leisure rights in mid-twentieth century Canada. In a nicely theorized account of the development of leisure rights sensitive to the implications of class, gender, race and rurality, Tillotson makes the argument that the imperatives of a moral economy of democratic citizenship in which the right to the prerequisites of health and culture led the liberal state to provide all Canadians not just the elite with access to leisure in the form of statutory and paid holidays and recreational programs.
Education has always been central to the Canadian debate on citizenship. This theme is treated at length under the heading Pedagogies of Belonging and Exclusion. Lorna R. McLean links the literature of class and masculinity with emerging forms of Canadian citizenship through an account of the adult education program of Frontier College. Katherine Arnup provides an illuminating account of the links between modernist discourses implicating motherhood with the manufacture of citizens. Here experts in child development typically, members of the medical profession cast a shaft of enlightenment on the benighted mothers especially those of non-Anglo-Canadian stock of future citizens of the country. Mary Louise Adams relates how the construction of citizenship was and remains implicated in the definition and policing of sexual identity and an orthodox sexuality. Bernice Moreau provides an account of the junction of race and citizenship in Nova Scotia. Here the shameful story of how Black Nova Scotians struggled to gain educational rights and civic equality against a state and civil society that denied them full citizenship is related.
Finally, four chapters address the theme of Boundaries of Citizenship. Here, Robert Adamoski relates the passage of children as wards of the state to productive citizenship. Adamoski argues that the philanthropic and child rescue movements that emerged in the late nineteenth century dealt with their charges within the class, gender and racial expectations of the time. Working class girls and boys would become solid working class citizens; only through assimilation could Aboriginal children enter the ranks of citizenship. Joan Sangster discusses the rescue of delinquents for the liberal state. In a chapter that considers developments from 1920-1965, Sangster provides illustrations and analysis of the changing and unchanging strategies used by the state and social experts to re-create model citizens. Dorothy E. Chunn deals with race, sex and citizenship through an examination how the criminal law in British Columbia was employed normatively to disseminate and sustain dominant conceptions of appropriate and inappropriate sexual and social relations. Her account illustrates how law worked to reinforce hierarchical social relations within the new settler society of British Columbia. Robert Menzies relates the story of mental hygiene and citizenship in British Columbia during the formative 1920s, an era in which the long shadow of eugenics discourse threatened dire consequences for those who for any number of reasons were deemed unworthy of citizenship. He develops a useful historical context for his account: relating how developments elsewhere from Ontario to Britain, Alberta to California shaped the course of the debate in British Columbia, and contributed to the shaping of social policy for some of Canada’s most vulnerable citizens.
This is a very useful publication. It brings together a diverse body of literature that speaks to the complex and evolving ideological core of the Canadian liberal state: citizenship and prose rendered with a minimum of jargon. Of course, each reader of this book will find some chapters more literate, interesting and useful than others. Such is to be expected in a volume containing seventeen chapters and almost as many authors.
References
Brubaker, R. (1992). Citizenship and Nationhood in France and Germany, London: Harvard University Press.
Marshall, T.H. Bottomore, T. (1992). Citizenship and Social Class. London: Pluto Press.
Tom Mitchell – Brandon University. Brandon, Manitoba.
[IF]Race/ Place/ and Medicine:The Idea of the Tropics in Nineteenth-Century Brazilian Medicine | Julyan G. Peard
Esse livro oportuno e bem escrito ilumina partes da ciência brasileira que até recentemente haviam permanecido esquecidas — tal como a Escola Tropicalista Bahiana que constitui o centro da pesquisa —, apesar mesmo da considerável bibliografia já produzida sobre a ciência e a medicina coloniais, quase sempre sinônimo de medicina tropical, que entretanto raramente consideraram os países latino-americanos pois já eram nações independentes nos períodos focalizados por essa historiografia.
Julyan Peard rejeita a antiga interpretação de que a ciência no Brasil era inexistente ou pouco significativa anteriormente ao século XX. Com uma respeitável coleção de fontes primárias e secundárias, ela conta aos leitores uma história diferente e agradável sobre a Escola Tropicalista Bahiana, que se iniciou previamente à revolução bacteriológica e à grande expansão colonial européia. Em suas palavras: “um grupo de médicos no século XIX no Brasil, visando adaptar a medicina ocidental para melhor atacar questões específicas desse país tropical, buscaram novas respostas para a velha questão de se as doenças de climas quentes seriam ou não distintas daquelas da Europa temperada. Em sua busca, usaram os instrumentos da própria medicina ocidental para se contrapor às idéias a respeito da fatalidade dos trópicos e de seus povos, e reivindicaram a competência brasileira”. Leia Mais
Race and the archaeology of identity | C. E. Orser
Resenhista
Pedro Paulo Abreu Funari – Professor do Departamento de História, IFCH-UNICAMP.
Referências desta Resenha
ORSER, C. E. (Ed). Race and the archaeology of identity. Salt Lake City: The University of Utah Press, 2001. Resenha de: FUNARI, Pedro Paulo Abreu. História Revista. Goiânia, v.6, n.2, p. 187-190, jul./dez.2001. Acesso apenas pelo link original [DR]
Rioting in America – GILIE (CSS)
GILIE, Paul A. Rioting in America. Bloomington: Indiana University Press, 1996. 248p. JAMES, Joy. Resisting State Violence: Radicalism, Gender and Race in U.S. Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. 280p. Resenha de: LEWIS, Magda. Canadian Social Studies, v.35, n.4, 2001.
I have thought a lot about the two books under examination in this short review: Rioting in America by Paul A. Gilje and Resisting State Violence by Joy James. I have read both of them more than once and have used them in my teaching in graduate courses in Cultural Studies. The critical frameworks by which both Gilje and James approach their topic, the first through a critical historical reading and the second by way of critical race and feminist theory, is essential to the understanding of the possibilities, as well a the impossibilities, of popular movements for social transformation. This is a timely question not only from a global perspective but in the local Canadian context as well.
Both texts are eminently readable and compelling. Although they have significantly different agendas and purposes, I found each text to be an interesting and important contribution toward an understanding of, what I have come to call, the globalization of the impotence of popular political action and what one might do about it.
Rioting in America is a studied and well researched history of popular political action in the United States from its beginnings as a British Colony to the 1990s. Although its attention is focused entirely on the history of the United States, offered sometimes in great detail, I find the book useful in a Canadian context. This is particularly so in regard to my current interest in understanding the dissonance between those who are popularly called the people and those who, as a result of apparently democratic processes, claim to govern on our behalf.
Rioting is not a political form that has a significant history in contemporary Canadian popular politics. For example, when, in the fall of 1996, Mike Harris’ Conservative government began its systematic dismantling of Ontario’s public education system in preparation for what he is hoping, still, to achieve through the privatization of large segments of it, almost 300,000 people, many of them teachers, many of whom voted for Harris, marched on the Ontario Legislature. I was there. Intriguingly, the positively carnivalesque atmosphere of the event, including beclowned entertainers, had the effect of masking the seriousness of the consequences to the public education system of the proposed legislation, Bill 160.
That same fall, there were protests in the streets of Paris for similar reasons: the colonizing forces of economic globalization fuelled by neo-conservative ideologies revealed in the bureaucratic dismantling of public schooling; the pricing out of range, for the children of the disappearing average family, of post secondary education; the undermining of the health care system; and the destruction of the social infrastructure that had heretofore provided at least minimum levels of subsistence for the most economically and socially disadvantaged.
As I reflect on that day of protest and recall a carefully paced walk along the lovely boulevard avenue that leads to the seat of government, where, having arrived, we settled in for a picnic while we heard carefully worded speeches delivered from platforms erected the day before (because this was a planned for event), and which Mike Harris never heard because he wasn’t there that day (equally planned for). Police in riot gear were discreetly out of sight.
That same month, over-turned cars burned in the streets of Paris. University students, my daughter among them, and some of their professors blockaded the university buildings, angry protestors marched with fists clenched and raised, and police in Darth Vadaresque riot gear, forming a human chain complete with one-way-view face shields, blocked every side street for the entire route of the protest. Unlike my day of protest, for these demonstrators, there was no way out. Yet, ironically at the end of the day, whether in Paris or in Toronto, we all quietly went home.
Gilje’s historical accounting within a well analyzed context calls me to think about popular movements: riots, revolutions, demonstrations. What compelled me about this book is the way it raised questions for me, about the effectiveness of popular movements at a time, when, not politics, but the hidden structures of the global economy, drive political decisions and possibilities. Rioting in America makes me question the implications of the dissonance between how individuals in democratically elected governments come to occupy their positions of power, on the one hand, and, on the other hand, how these individuals come to articulate their loyalties (most often, it seems, in these days of the Multilateral Agreement on Investments (MAI) and global conservatism, not always in the best interests of those who elected them).
In Canada, the peculiarities of Euro-American democratic processes are well demonstrated at the level of the everyday where the hegemony of conservatism, also known as corporate interest, at all levels of public institution, takes precedence over the interests of individuals who, nonetheless, believe themselves to be participating in democratic processes, apparently guaranteed by the vote. Given such a peculiar turn of democratic events, it seems that history has not yet decided at what gruesome cost the fragile gains of American democracy have come (Gilje, p. xi).
In this regard, Resisting State Violence, Joy James’ brilliant, engagingly autobiographical volume, is a perfect companion piece. Through a conceptual examination of the processes of racism and sexism, she uncovers the invisible underside of democracy, as we know it. The transformation of Euro-American democracy into state violence is thus revealed. Drawing on the personal/political engagement of the intellectual/activist, James accomplishes her stated agenda: to draw together, on the one hand, critique of, and on the other hand, confrontation with state violence (James, p. 4). For the former, she provides complex conceptual frames and, for the latter, she offers suggestions for and examples of practice.
As with Gilje, what I value in James’ work is the questions she moves me to ask and the conceptual tools she offers for exploration of these questions. Ultimately I ask, what are the possibilities and impossibilities, at the turn of the millennium, of popular movements aimed at effecting collective/state practices that support the best interests of the people, set against the logic of a democratic process dependant for its success, on the participation of an uninformed or partially informed population? And what are the implications of this for what we are able or allowed to do in schools, Academic Freedom notwithstanding.
For me, as an intellectual in present day Ontario, these are not academic questions even as they are pedagogical ones. How I resolve some sense of these questions will ultimately guide strategies not only for political participation but for what we do with students at all levels of the schooling enterprise. For helping me ask these questions I thank Gilje and James.
Magda Lewis – Associate Professor, Queen’s University. Kingston, Ontario.
[IF]Raça/ciência e sociedade | Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura Santos
Se compreendermos antropologia justamente como o estudo de raça, ciência e sociedade, a antropologia brasileira o que, apesar do que possam dizer teóricos de várias orientações, teria como marco inicial certo artigo do naturalista alemão Karl von Martius, publicado em 1845 no Jornal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, “no qual argumentava que, para se escrever a história do Brasil, era premente abordar as características cias três raças que o compunham” (p. 9). Para o estudo desse e de outros marcos iniciais está voltado o artigo que abre o livro em questão, a cargo de John Manuel Monteiro, As raças indígenas no pensamento brasileiro do Império’ (pp. 15-22). Destaquemos a atuação cie João Baptista de Lacerda Filho (1882, pp. 6-7, 20), várias vezes mencionado neste artigo e no de Giralcla Seyferth, ainda que nenhum antropólogo brasileiro cia atualidade, nem sequer os cio Museu Nacional, no qual trabalhou, o reivindicasse como antepassado intelectual. Através de muitas medições cie crânios e índices cio mesmo naipe, Lacerda chegaria à conclusão de que “o nosso indígena, mesmo civilizado, não poderia produzir a mesma quantidade de trabalho útil, no mesmo tempo que os indivíduos de outras raças, especialmente da raça negra… . Eis aí como de um problema antropológico deduz-se um problema econômico e industrial.” Apesar cia falta de progênie reconhecida deste ilustre pesquisador, muitos laivos de sua teoria vão ser encontrados em Gilberto Freyre e noutros autores de nossas ciências sociais, mais africanófilos que indianófilos. Leia Mais






