Posts com a Tag ‘MATA Sergio da (Res)’
Max Weber und die Erste Weltkrieg | Hinnerk Bruhns
Hinnerk Bruhns | Imagem: Hypotheses
Atribuem-se a Heráclito duas fórmulas memoráveis. A primeira, panta rhei, “tudo passa”, faz parte do repertório básico de qualquer aluno de primeiro semestre nas Humanidades. Já a segunda é bem menos citada: “a guerra é o pai de todas as coisas”. De fato, a ideia de que há algo não apenas de estranhamente sedutor, mas também de matricial na guerra, é confirmada à exaustão pela experiência histórica e mesmo por nossa sensibilidade estética. De Homero e do Mahabharata a Euclides da Cunha, da pintura de Otto Dix ao grande romance de Guimarães Rosa, a guerra aparece ora como epicentro narrativo, ora como pano de fundo. Tinha razão Ernst Jünger quando constatou que “a mania da destruição está profundamente enraizada na natureza humana” (Jünger, 2005, p. 48).
Como quer que seja, uma das conquistas fundamentais da modernidade, pelo menos desde a Guerra dos trinta anos, foi a de tendencialmente mitigar o fascínio que, desde sempre, cerca esse fato social total. Daí que, em suas memórias como soldado na Primeira Guerra, o historiador britânico R. H. Tawney não tenha escondido sua repulsa ante a “sensação de desempenhar um papel inútil” no que qualificou de “jogo disputado por macacos e organizado por lunáticos” (apud Stern, 2004, p. 254). Leia Mais
Der Begriff des Politischen. Synoptische Darstellung der Texte | Carl Schmitt
Autor e livro dispensam apresentações. O impacto suscitado por esse ensaio de 1927 pode ser medido por uma pequena lista dos seus resenhistas de primeira hora, que inclui nomes como Delio Cantimori, Karl Löwith, Eugenio Imaz, Herbert Marcuse, Sérgio Buarque de Holanda e Leo Strauss. A história de sua recepção é fascinante. Um mestre da suspeita como Habermas (2007, p. 80) advertiu que seria um grave erro tentar suprimir as notórias deficiências da teoria política marxista recorrendo à “crítica fascista de Carl Schmitt à democracia”. O tabu habermasiano jamais entusiasmou muita gente, pela simples razão de que Schmitt é um daqueles poucos autores a quem podemos chamar de “bons para pensar”. A esse respeito, uma pequena anedota: Jacob Taubes conta que, quando foi fellow na Universidade de Jerusalém, apenas quatro anos após o fim da Segunda Guerra, teve grande dificuldade para acessar a Teoria da constituição de Schmitt porque o exemplar da biblioteca fora requisitado pelo ministro da justiça, então ocupado com a formulação de um esboço da Constituição para o Estado de Israel (TAUBES, 1987, p. 19). Nos últimos anos, Chantal Mouffe tem apostado suas fichas num híbrido gramsciano-schmittiano que, acredita ela, seria capaz de recarregar as baterias da esquerda num mundo “pós-político”. Tal como o Koselleck de Crítica e crise, que via na moralização uma deturpação do político – uma conhecida tese schmittiana –, Mouffe reclama a mesma neutralização ética do político, além do abandono do racionalismo liberal que permita “[…] mobilizar as paixões para fins democráticos” (MOUFFE, 2007, p. 13-14). Para quem já teve oportunidade de ler Francisco Campos, o déjà vu é inevitável.
O festival de sinais trocados não é menor no campo liberal. Enquanto Johan Huizinga viu nas teses de Schmitt um inequívoco sintoma da “enfermidade espiritual” da Europa do Entreguerras, um influente historiador e teórico do direito como Ernst-Wolfgang Böckenförde assumiu publicamente sua dívida intelectual para com Schmitt e uma inabalada admiração por O conceito do político. E se Mark Lilla rejeita explicitamente toda “política do desespero teológico”, ele é honesto o bastante para admitir, não sem ironia, que o teorema amigo/inimigo, o antiliberalismo e o decisionismo schmittianos são uma espécie de ponto de fuga intelectual em que buscam refúgio e justificação muitos dos que se colocam nos extremos do espectro político. “Não surpreende, assim, que jovens revolucionários que um dia haviam cortado cana em Cuba tomassem o trem para Plettenberg, compartilhando as cabines com seus adversários conservadores” (LILLA, 2017, p. 63). Reinhart Koselleck, Giorgio Agamben e Sérgio Buarque são apenas três entre os muitos que, de fato ou imaginariamente, compraram seus bilhetes para o lugarejo onde se refugiara “o apocalíptico da contrarrevolução” (a expressão é de Taubes). Leia Mais
Poder y naturaleza humana – PLESSNER (Tempo)
Detalhe da Capa de Poder y naturaleza humana
PLESSNER, Helmuth. Poder y naturaleza humana: ensayo para una antropología de la comprensión histórica del mundo. Edición de Kilian Lavernia y Roberto Navarrete. Traducción de Kilian Lavernia, Madrid: Guillermo Escolar Editor, 2018. 128p.p. Resenha de: MATA, Sérgio da. Ser humano: político por natureza? Tempo. Niterói, v.26, n. 1, jan./abr. 2020.
No abarrotado gabinete de Reinhart Koselleck, em frente às pastas com o material empregado num seminário sobre os campos de concentração, ministrado entre 1968 e 1969, repousava uma foto sua. Não por acaso: ele elucidara parte das razões profundas que haviam levado seu país ao caminho de destruição do qual aqueles dois homens, um na condição de perseguido e outro na de combatente, só por pouco se salvaram. Koselleck (2014, p. 335, 347) enalteceu publicamente a sofisticação de suas análises histórico-sociológicas, a “visão extraordinária do passado e do futuro” que contém e sua aversão a toda forma dualista de pensar, própria de épocas em que prevalece a “tentação de seguir trilhas ideológicas baratas, que podem ser percorridas sem nenhum custo”.
O personagem da foto era Helmuth Plessner, cujas obras principais enfim começam a ser publicadas em inglês, francês e espanhol. Seu nome está indissociavelmente ligado à antropologia filosófica, uma corrente teórica que pretende responder à questão que, dizia Kant, encerra todos os grandes problemas da filosofia: o que é o ser humano? Se, formalmente, o papel de pioneiro coubera a Max Scheler, é consensual que em Plessner a antropologia filosófica atinge um patamar inteiramente novo. Depois de se familiarizar com neokantianos de prestígio como Max Weber (cujo círculo chegou a frequentar) e Paul Hensel, de acompanhar os cursos de Edmund Husserl em Göttingen e realizar sua livre-docência em Colônia com o filósofo da biologia Hans Driesch, Plessner estava como que predestinado a elaborar uma resposta radicalmente nova à pergunta pelo humano. A partir de Kant e de Dilthey, ele propõe uma rearticulação entre natureza e cultura na qual o humano não aparece como animal simbólico, nem, como infelizmente se tornou comum, mero epifenômeno de algum determinismo neuronal. Para Plessner, o humano, quando sistematicamente comparado às formas de vida vegetal e animal, não se revela como superior, mas como excêntrico: está simultaneamente além e aquém da natureza; tem um corpo e sabe que é um corpo. Graças à sua posicionalidade excêntrica, o ser humano pode ser considerado “constitutivamente apátrida” (Plessner, 1975, p. 310), isto é, incapaz de produzir sucedâneos culturais capazes de compensar plena e duradouramente esse desenraizamento constitutivo de si mesmo. “Quem quiser ir para casa, para a pátria, para o aconchego, tem de sacrificar-se à fé. Já aquele que se aferra ao espírito, porém, não retorna” (Plessner, 1975, p. 342).
Nas primeiras linhas de Poder e natureza humana, o autor afirma que a questão central da antropologia política é a de saber “até que ponto a política (…) pertence à essência do ser humano” (Plessner, 2018, p. 33). Para Plessner não há como desvincular entre si as questões do político e da historicidade, e seu argumento é construído a partir de uma tripla interlocução: uma negativa (a ontologia de Heidegger) e duas positivas (a teoria do político de Carl Schmitt e a epistemologia vitalista de Georg Misch). Em absoluto se trata, como veremos, de realizar uma síntese entre as perspectivas dos dois primeiros autores, que, aliás, reagiram imediatamente ao livro de Plessner. Na segunda edição de O conceito do político, de 1932, Schmitt (2018, p. 184) evoca Poder e natureza humana, considerando-o “uma antropologia política em grande estilo”. Estudos recentes (Ott, 2012; Grossheim, 2018) mostram que, embora tenha omitido o nome de Plessner em tudo o que publicou, Heidegger não apenas leu seus livros como reviu, em razão deles, algumas de suas próprias posições, incorporando conceitos cunhados por seu jovem crítico.
O objetivo de Plessner, como foi dito, é sustentar a tese de que o político e o humano estão inscritos um no outro, de maneira que a aversão à política, secularmente difundida nos setores médios da sociedade alemã, assentaria numa incompreensão profunda da natureza humana. A antropologia política não privilegia o nosso suporte biológico, nem se confunde com uma abordagem de tipo idiográfico (Peirano, 1998). Como subcampo da antropologia filosófica, para Plessner ela “abarca tanto o psíquico como o espiritual, o individual como o coletivo, tanto o coexistente num dado lapso temporal como o histórico” (p. 41).
Mas como chegar ao entendimento da essência do humano sem cair na armadilha das autoprojeções, por óbvio cultural e historicamente situadas? De uma sociedade, a europeia, que ao longo dos séculos desenvolveu uma porosidade considerável em relação à alteridade, e cuja ciência estava ao menos formalmente atravessada pelo sentimento de igualdade “de tudo o que possua um rosto humano”, dever-se-ia esperar que fosse capaz de se abster da própria absolutização (p. 42). Tal dificuldade não é a única e talvez nem mesmo seja a principal. Mais decisivo é saber se a questão da essência do humano deve ser perseguida empiricamente ou aprioristicamente. Ambos os caminhos encerram dificuldades próprias. Bem familiarizado com o pensamento de Husserl, Plessner sabia que “uma teoria empírica da essência é um absurdo” (p. 46). O procedimento a priori não é menos problemático. Scheler e Heidegger haviam tentado estabelecer ou identificar uma relação estável entre a essência do humano e determinadas estruturas formais e/ou dinâmicas. O primeiro, sabidamente, não foi capaz de livrar-se de premissas metafísico-religiosas. Submetida à prova da interculturalidade, também a “analítica do Dasein” se revela uma autoprojeção não apenas ocidental, mas cristã do humano (de resto evidente em sua antropomorfização da escatologia). Embora tenha pretendido “manter-se aberta face à vastidão de culturas e épocas”, a teoria de Heidegger redunda na verdade em um “estreitamento de seu campo visual como consequência de seu apriorismo metodológico”. A consequência necessária é uma “absolutização de determinadas possibilidades humanas” (p. 52-53; grifo nosso).
Plessner percebe que a tentativa de se chegar à essência do humano forçosamente leva a um autoenredamento. Aqui, ele acrescenta algo novo ao conceito de “posicionalidade excêntrica” desenvolvido em seu livro de 1928 (Plessner, 1975) sobre Os níveis do orgânico e o ser humano: o que é mais característico do ser humano não é propriamente uma essência, mas sim uma disposição fundamental. Ele é uma forma de vida “aberta”. Para encontrar uma unidade qualquer por detrás de toda sua imensa diversidade cultural, não haveria caminho outro senão o de pensá-lo a partir da categoria da insondabilidade (cunhado por Misch, o termo Unergründlichkeit significa algo como inescrutabilidade ou “infundamentabilidade”). O que significa dizer que o humano é insondável? Plessner recorre a Dilthey, no qual busca nem tanto o avesso do “fanatismo da exatidão”, mas a forma específica por meio da qual as ciências humanas formulam suas questões. Diferentemente das ciências naturais, que estão por assim dizer condenadas a responder suas perguntas – qualquer que seja o experimento empregado, a hipótese de trabalho inicial será confirmada ou refutada -, o mesmo não aconteceria nas humanidades. As ciências do homem não dispõem de quaisquer garantias de que atingirão seu fim cognoscitivo último; suas perguntas são e permanecem abertas. Seus objetos são insondáveis “por natureza”, e suas perguntas, perguntas em aberto. O constante deslocamento de seu horizonte cognoscitivo as impede de atingir o mesmo grau de estabilidade das ciências naturais. O que para estas seria renúncia – renúncia a oferecer respostas “definitivas” – é nas humanidades renúncia criativa, única atitude epistêmica apropriada para o tratamento de “realidades inconclusas” (p. 74).
Quando o olhar prospectivo se desloca momentaneamente para trás, a abertura humana para o agir se converte numa espécie de poder sobre o passado. E dado que “cada geração atua de maneira retroativa sobre a história”, o passado se converte em algo “inacabado, aberto e eternamente renovado”. Plessner vê no princípio da insondabilidade “a concepção ao mesmo tempo teórica e prática do ser humano como ser histórico e portanto político” (p. 76; grifo nosso). Ao dar-se conta da própria historicidade, o pensamento se enreda num duplo movimento – ele se sabe produto de uma história e, ao mesmo tempo, uma potência que reincide sobre ela e é capaz de reconfigurá-la.
Ver na “infundamentabilidade” o fundamento da condição humana implica, note-se bem, “abdicar da posição de predomínio do próprio sistema de valores e categorias” (p. 78). Segundo Plessner, tal movimento não deve ser visto como uma perda, mas, antes, como algo próprio de sociedades seguras de sua capacidade de futuro. A pergunta pelo ser humano deve permanecer em aberto, mantendo-se a salvo da tradicional inclinação de nos projetarmos enquanto critério e medida universais.
Incapaz de esclarecer o próprio fundamento, o ser humano é “possibilidade”, se reconhece “condicionante da história e condicionado por ela” (p. 82). Ao desenvolver sua consciência histórica, ele se dá conta de que é poder. Ver a si mesmo como poder significa para Plessner “necessariamente lutar por ele”. A alteridade, porém, não se resume ao inimigo nem pode ser claramente delineada. A fronteira entre identidade e alteridade, amigo e inimigo, não pode ser fixada. Para além de Schmitt e muito antes de Foucault, Plessner conclui que o político “atravessa todas as relações humanas” (p. 86). Assim, e como necessidade que brota “da constituição fundamental do ser humano”, o político torna-se seu “destino secreto”. Em “suas milhares de formas” possíveis, o adversário poderia ser definido como qualquer um que seja nocivo a meus interesses (p. 87). O ser humano vive cindido entre a necessidade de ser audaz e o temor ante ameaças que parecem brotar de todos os lados. Ele é poder, mas uma espécie de poder incapaz de atingir um porto inteiramente seguro. É força, mas sabe que é “artificial ‘por natureza’” e que “nunca está em equilíbrio” (p. 90). Decodificar o humano a partir do princípio da insondabilidade implica, enfim, dar pleno relevo ao “primado do político para o conhecimento da essência do ser humano” (p. 92), sem com isso cair no equívoco – ou na tentação – do essencialismo.
Poder e natureza humana não é apenas a ampliação das descobertas feitas em Os níveis do orgânico e o ser humano. Este ensaio pode ser lido como uma refutação das pretensões de uma filosofia, a de Heidegger, de se colocar na condição de filosofia primeira. Plessner a considera autocontraditória (p. 96), e mais, “perigosa e nociva” (p. 97). A “radicalização do conceito de sujeito” em Heidegger prolonga a tradição do dualismo cartesiano, não obstante sua pretensão de “destruir” toda tradição. Trata-se de uma reatualização do gnosticismo e, como tal, avessa à necessidade de salvaguardar a realidade do que é externo a nós mesmos. Plessner vê na “analítica do Dasein” um erro de princípio, o de tentar tornar fechada a pergunta pela essência do humano. O jargão da autenticidade revela incapacidade de se admitir o fato de que o humano bem pode optar pela impotência. Caso queira estar à altura do humano, a filosofia precisa reconhecer que, enquanto homo duplex, não raro nos inclinamos pela paradoxal negação de nossas próprias possibilidades. Pois o humano, diz Plessner, é também e sempre “o outro de si mesmo” (p. 115; cf. Plessner, 2009).
Resta saber como se dá o salto que leva dessa disposição intrínseca à formação das associações políticas, ou seja, como esse fato antropológico fundamental adquire expressão societária. Inegavelmente marcado pela pesada atmosfera de inícios da década de 1930, Plessner afirma que tal vinculação se dá por meio do pertencimento a um “povo”, e, por fim, à sua organização em bases nacionais.
Ao leitor que considere essa teoria como especulativa do início ao fim, convém lembrar que aquele que a concebeu, zoólogo de formação, não minimiza em momento algum sua crítica ao dualismo cartesiano: “Toda teoria, seja ontológica ou hermenêutico-biológica, que queira investigar o que faz do ser humano um ser humano, e que em seus métodos ou em seus resultados ignore a dimensão natural da existência humana, ou que a minimize como o não autêntico (…), considerando-a secundária para a filosofia ou para a vida, é falsa, porque demasiado frágil em seu fundamento, demasiado unilateral em seu desenho e dominada, em sua concepção, por preconceitos religiosos ou metafísicos” (p. 119). Cindido entre natureza e cultura, o ser humano está condenado a conduzir sua existência “sem saber qual dos lados acaba prevalecendo” (p. 120). Sua gradativa organização em comunidades políticas ou Estados visaria compensar essa fragilidade constitutiva, mitigando seus efeitos.
Plessner chega à conclusão de que o político está inscrito na própria condição humana, e isso bem antes que autores importantes da época (pense-se no caso de Hannah Arendt) realizassem seus respectivos political turns. Ele percebeu que um dos problemas centrais de Ser e tempo estava em legitimar uma já antiga tendência ocidental-cristã à subjetivação excessiva, em que a interioridade do ser aparece como o polo antagônico de uma “esfera pública degenerada”, e cujo resultado último é o indiferentismo político (p. 123). Uma das causas da tragédia alemã, cujo explosivo potencial Plessner evidentemente não podia antecipar em 1931, quando publicou seu livro, era o que ele chama de “a indiferença dos intelectuais face à política e sua trivialização através da filosofia” (p. 124).
Uma simples resenha não pode ter a pretensão de realizar uma discussão aprofundada das possibilidades e dos eventuais limites de uma antropologia filosófica do político como a proposta por Plessner, mas bastará assinalar aqui um ou outro aspecto que consideramos dignos de nota. Não se pode deixar de encarar com certa dose de ceticismo a tendência, volta e meia presente na argumentação, a se desontologizar o passado. A manutenção do fosso metodológico entre ciências humanas e ciências naturais não indica, ainda que num plano distinto, a tremenda resiliência daquele mesmo dualismo cartesiano que Plessner pretende ultrapassar? Soaria absurdo subscrever, hoje, a ideia de que perguntas científico-naturais sejam inteiramente “fechadas”, e muito menos que nas ciências humanas a demanda por explicação tenha se tornado uma relíquia epistemológica. Se de fato o político está inscrito na natureza humana, não será exagerada a preocupação com o indiferentismo? O processo por meio do qual o político gradativamente se institucionaliza não nos parece fundamentado o suficiente por Plessner; nem é fácil entender como se dá, em sua obra, uma inflexão significativa a respeito do humano, que no livro de 1928 aparece como “constitutivamente apátrida”, e em 1931 como “vinculado a um povo”.
Concluamos esta lista, que já vai longa. Dentre as patologias do político não será a hipertrofia tão grave quanto a neutralização? E nem falamos de totalitarismo, mas de algo que pode, talvez, se revelar igualmente perigoso. Uma deformação que nada tem de extracotidiana, que não raro é positivamente valorada e, assim, legitimada nos meios intelectuais: o radicalismo, fenômeno ao qual Plessner dedicou algumas páginas notáveis nos primeiros anos da República de Weimar. “O característico do radicalismo é a falta de prudência, sua perspectiva é a infinitude, seu pathos o entusiasmo, seu temperamento o ardor”. Dualismo cego e orgulhoso de sua cegueira, ele significa “a aniquilação da realidade dada em nome da ideia, seja racional, seja irracional” (Plessner, 2012, p. 31, 35).
Resta evidente que tais dúvidas, como outras que possam surgir de um escrutínio rigoroso do livro de Plessner, tendem antes a confirmar o caráter indiscutivelmente aberto de todas as perguntas que digam respeito ao humano, a impossibilidade de chegarem a seu termo, enfim: sua Unergründlichkeit. Uma das virtudes inegáveis da antropologia filosófica de Plessner, à medida que admite a ambiguidade constitutiva do ser humano, está em trilhar um caminho intermediário, ou antes conciliador, entre extremos. Não há por que optar entre universalismo e perspectivismo, seja este ameríndio ou não. Diante do atual esgotamento teórico e político da tendência pós-estruturalista à sobrevalorização da linguagem e do “anything goes”, diante dos riscos representados tanto pelas ambições desmedidas da neurociência quanto pelo assim chamado pós-humanismo, a senda aberta por Poder e natureza humana mantém-se, como poucas antes e depois dela, teoricamente robusta e intelectualmente produtiva.
Sérgio da Mata – Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), Mariana(MG), Brasil. sdmata@ufop.edu.br.
Referências
GROSSHEIM, Michael. Inspirierende Irritation: die Bedeutung der Anthropologie Helmuth Plessners für das Denken Martin Heideggers. Deutsche Zeitschrift für Philosophie (Jena). v. 66, n. 4, p. 507-531, 2018. [ Links ]
KOSELLECK, Reinhart. Estratos do tempo: estudos sobre história. Rio de Janeiro: Contraponto/PUC-RJ, 2014. [ Links ]
OTT, Konrad. “Man muss sich einschalten”: wie Plessner Heidegger aufforderte, politisch aktiv zu werden. Zeitschrift für philosophische Forschung(Frankfurt am Main). v. 66, n. 3, p. 448-459, 2012. [ Links ]
PEIRANO, Mariza. Antropologia política, ciência política e antropologia da política. In: PEIRANO, Mariza. Três ensaios breves. Brasília: UnB, Série Antropologia n. 230, 1998, p. 17-29. [ Links ]
PLESSNER, Helmuth. Die Stufen des Organischen und der Mensch. Berlin: Walter de Gruyter, 1975. [ Links ]
PLESSNER, Helmuth. O problema da monstruosidade. Artefilosofia(Ouro Preto).v. 7, p. 145-151, 2009. [ Links ]
PLESSNER, Helmuth. Límites de la comunidad: crítica al radicalismo social. Madrid: Siruela, 2012. [ Links ]
PLESSNER, Helmuth. Poder y naturaleza humana: ensayo para una antropología de la comprensión histórica del mundo. Edición de Kilian Lavernia y Roberto Navarrete. Traducción de Kilian Lavernia. Madrid: Guillermo Escolar Editor, 2018. [ Links ]
SCHMITT, Carl. Der Begriff des Politischen: synoptische Darstellung der Texte. Berlin: Duncker und Humblot, 2018. [ Links ]
Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung – KAISER; ROSENBACH (RH-USP)
KAISER, Michael; ROSENBACH, Harald. Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. 243 pp. Resenha de: MATA, Sérgio da. A weberianização do mundo. Revista de História (São Paulo) n.174 São Paulo Jan./June 2016.
Uma das mais sedutoras teses presentes na obra de Max Weber é a que postula um processo geral, inexorável, de racionalização do mundo. Vista de uma perspectiva brasileira, não é preciso dizer o quão ambiciosa, até mesmo quimérica, tal tese pode parecer. O virtual emperramento do nosso sistema político desde as grandes manifestações de junho de 2013 – com sua recusa explícita dos partidos e a denegação do direito de ir e vir como estratégia privilegiada de pressão dos grupos à margem (direita ou esquerda, pouco importa) do poder -, o caos das contas e da saúde pública, a recusa em encarar de frente o caráter finito dos recursos naturais, os níveis alarmantes de violência interpessoal, a crise de legitimidade de uma presidente recém-eleita, o autismo generalizado, tudo isso sugere que a perspectiva weberiana da história tem lá os seus limites.
Mas teria Weber dado um sentido literal à sua ideia da racionalização do mundo? Entre 1917 e 1919, ele acompanha atônito a derrota alemã na guerra, a renúncia do kaiser, a proclamação dos conselhos operários em diversas cidades alemãs e o caos político em seu país. Ele viu na democracia a única salvação possível, e sua última série de escritos lança luz, quando não por simples homologia, sobre os dilemas do Brasil contemporâneo. Weber constatava a ascensão da rua como o espaço privilegiado da política, e pressentia que se a revolução alemã tinha o potencial de mover o país, certamente não seria no rumo do socialismo, mas sim no da mais abjeta reação. Nos últimos parágrafos de Economia e sociedade, ele escreve que
um fator completamente irracional (…) é dado pelas “massas” não-organizadas: a democracia de rua. Esta é mais poderosa em países com um parlamento impotente ou politicamente desacreditado, e isto significa sobretudo: na ausência de partidos racionalmente organizados. Na Alemanha, (…) organizações como os sindicatos, mas também como o Partido Social-Democrata, constituem um contraponto muito importante ao atual domínio irracional da rua, típico de nações puramente plebiscitárias.1
Àquela altura Weber considerava o sistema político alemão ante bellum “completamente obsoleto”. No início de 1919, em meio às reuniões da comissão que elaborou a Constituição da República de Weimar, Weber – então no auge de sua popularidade como erudito e homem público – advertia que caso se mantivessem intocadas as bases de tal sistema,
a democracia política e economicamente progressiva não terá nenhuma chance num futuro previsível. As eleições mostraram que, por toda a parte, os antigos políticos profissionais conseguiram, contrariamente à disposição dos eleitores, eliminar os homens que gozam de confiança dessas massas em favor de uma mercadoria política ultrapassada. Como resultado, as melhores cabeças têm se afastado de toda a política.2
Poderíamos continuar indefinidamente, apontando as homologias existentes entre a Alemanha de 1917-1919 e o Brasil de 2013-2016. Que Weber tenha avaliado aquela época com notável clareza talvez seja uma razão a mais para ver em sua obra um potencial de esclarecimento que nem de longe se poderia encontrar no marxismo tardio de um Mészáros, no obscuro esteticismo de um Agamben, no cômico nonsense de Žižek ou nas incontinências verbais de um Olavo de Carvalho. Estamos condenados a pensar o hoje; mas em face do vazio de ideias contemporâneo, não nos resta outra saída senão buscar os clássicos de ontem. Chame-se a isso, se se quiser: aprender com a história.
A racionalização do mundo, tal como a descreveu Weber no preâmbulo do primeiro volume dos seus ensaios reunidos de sociologia da religião, não se concretizou. As grandes forças mobilizadoras deste processo (o direito, o capitalismo moderno, a ciência e a burocracia) nem sempre atuaram com o grau de integridade que se lhes atribuía.
Apesar de tudo isso, talvez se possa falar de uma weberianização do mundo. Num sentido muito preciso: o de uma gradativa mundialização de seu legado intelectual. Não apenas na condição de clássico das ciências sociais, mas também como um autor de cabeceira dos poderosos – de Theodor Heuss, o primeiro presidente da Alemanha após a catástrofe do nazismo, a FHC. De sua Alemanha natal à América Latina, dos Estados Unidos à Rússia, do leste europeu ao mundo árabe, o interesse pelo pensamento de Weber não encontra fronteiras nem padece do veto da história que se abateu sobre o marxismo após 1989.
Sendo assim, é apenas natural que, em julho de 2012, os institutos de humanidades alemães no exterior, há pouco rebatizados como Fundação Max Weber, tenham dedicado um simpósio internacional ao tema “Max Weber no mundo – Recepção e influência”. O volume resultante, publicado em 2014, é o que nos cabe aqui resenhar. Estudos sobre a recepção de Weber não são propriamente uma novidade, todavia o interesse a respeito tem adquirido força, entre outras razões graças à redescoberta de Weber nos países que compunham o antigo mundo socialista.
“Max Weber em tempos de transformações”, de Edith Hanke, abre o volume com um esboço de sociologia comparada da recepção da sociologia weberiana. A tese principal da autora é que o interesse por Weber tende a crescer especialmente em sociedades que passam por períodos de intensa transformação econômica, social e política (p. 2). Primeiramente, ela procede a uma avaliação do número de edições/traduções por país, o que nos revela algumas surpresas. A primeira delas é a liderança absoluta do Japão, com nada menos que 190 títulos entre 1925 e 2012. A carreira japonesa de Weber é, por assim dizer, inteiramente autóctone, deu-se sem intermediários. Mais que isso, os estudiosos daquele país produziram trabalhos sobre Weber que, vistos desde hoje, estavam muito à frente de seus congêneres anglo-saxões. Em 1981, Yoshiaki Ushida já criticava a perspectiva “a-histórica” da literatura internacional sobre Weber. Isso é tão mais impressionante se levarmos em conta que o início da publicação na Alemanha da edição crítica das obras de Weber (Max Weber Gesamtausgabe) só se iniciou em 1984. Hanke mostra ainda que, em países como Japão, Itália, Grécia e Coreia do Sul, as traduções mais recentes de Weber têm se baseado no gigantesco trabalho de erudição histórico-filológica da Gesamtausgabe. Poupemos ao leitor uma constrangedora comparação com o que, a esse respeito, se tem feito no Brasil.
Hanke identifica três tipos de transformação por detrás dos booms weberianos em diferentes países: (a) rápidas e drásticas mudanças de paradigmas científicos, (b) na estrutura socioeconômica e, por fim, (c) crises de legitimidade do ordenamento político. Tendo exercido o papel de pioneira (data de 1897 a tradução do opúsculo A bolsa), a Rússia assistiu a uma virtual proscrição de Weber após a década de 1920. Tornou-se famosa a passagem da Grande Enciclopédia Soviética de 1951, em que Weber é chamado de “sociólogo, historiador e economista alemão reacionário, neokantiano, inimigo maldoso do marxismo” (apud p. 15). Na década de 1980, sobretudo a partir de 1990, com a derrocada do regime comunista e o fim do veto ideológico, a situação se inverte. Em curto espaço de tempo mais que dobra o número de obras de Weber disponíveis em russo.
Situação semelhante se observa na China, onde o advento do turbo-capitalismo gerou uma demanda irrefreável por paradigmas alternativos. Graças aos esforços da germanista Rongfen Wang traduziram-se seções de Economia e sociedade, Confucionismo e taoísmo e as conferências Ciência como vocação e Política como vocação. A versão chinesa de A ética protestante e o espírito do capitalismo, publicada em outubro de 1986, esgotou-se em horas. Naquele mesmo ano, um jornal chinês publica uma entrevista com a sra. Wang com o significativo título “A febre Max Weber e a democratização política”. Em 1989, tal situação se alteraria dramaticamente. Num colóquio realizado em julho de 2014 na Universidade de Erfurt, este resenhista teve a oportunidade de ouvir da própria sra. Wang o impressionante relato de como o auditório reservado para acolher o primeiro grande simpósio sobre Weber em Pequim acabou sendo usado como depósito militar tão logo estourou a repressão ao movimento estudantil na praça da Paz Celestial. O evento evidentemente não pôde ocorrer, frau Wang mora há anos na Alemanha e os chineses ainda esperam pela democracia.
Como o maoísmo não passa hoje, na China, de uma formalidade vazia na autoencenação do poder, não paira ali qualquer proibição formal a Weber e é revelador do espírito dos novos tempos que em 2006 A ética protestante tenha se tornado um verdadeiro best seller naquele país. Situação muito diferente da do Irã, em especial depois da derrota da “Revolução verde” de 2009. Edith Hanke (p. 20) mostra que Said Hajjarian, “que estava entre os mais próximos estrategistas do presidente reformista Khatami, foi ameaçado com a pena de morte também por difundir as teorias de Weber”, e tendo de desculpar-se publicamente por isso.
O fato de Weber não ter produzido qualquer estudo sistemático sobre o islamismo decerto contribuiu para sua fraca recepção no mundo muçulmano, tema do ensaio de Stefan Leder (Max Weber in der arabischen Welt). Embora A ética protestante esteja disponível em árabe desde 1980, poucas traduções se seguiram. A recepção deve ali muito ao impulso de comentaristas franceses como Julian Freund, Colliot-Thélène e Philippe Raynaud. De forma geral, porém, Leder constata a inexistência de uma “confrontação produtiva com Max Weber” (p. 27). As razões não seriam apenas de natureza intelectual, posto que refletiriam também a ausência de uma relação dialética entre racionalismo prático (intramundano) e a ética religiosa islâmica. A conexão presente em toda a obra de Weber entre valores religiosos e a dinâmica da vida político-econômica, não se revelaria naquelas culturas uma chave heurística tão fértil quanto o foi no Ocidente.
Alexandre Toumarkine mostra, em “The introduction of Max Weber’s thought and its uses in Turkey”, que a Turquia diverge do padrão descrito acima. O autor evoca o interessante caso de Kayseri, uma capital de província famosa por seu tradicionalismo religioso e dinamismo empresarial. Um antigo prefeito da cidade, Şükrü Karatepe, chegou a declarar que, “para entender Kayseri, é preciso ler Max Weber” (apud p. 33). A possível existência de um islamic calvinism gerou um amplo debate na imprensa turca. Tornavam-se evidentes os resultados a que chegaram diversos pesquisadores, para os quais “a fé islâmica não é um obstáculo ao desenvolvimento econômico ou à modernização social” (p. 34). É interessante notar que a Turquia tem uma história de recepção análoga à do Brasil sob vários aspectos: a defasagem temporal em relação a outras comunidades intelectuais, a importância dos imigrados de origem germânica (Alexander Rüstow e Gerhard Kessler tiveram ali um papel similar ao de Otto Maria Carpeaux e Emílio Willems entre nós), a influência exercida pela tradução de livros como As etapas do pensamento sociológico de Raymond Aron, e a coletânea From Max Weber de Gerth e Mills.3 As apropriações de Weber na ciência social turca giram em torno de questões como a aplicabilidade do conceito de carisma a Ataturk, o fundador da república, e ainda à permanência de um forte componente patrimonialista naquele país. Para o historiador Halil Inalcik o Estado turco constituiria um caso extremo de patrimonialismo, chamado por Weber de sultanismo. Inalcik teria demonstrado que “a fusão entre poder político e espiritual na pessoa do sultão fez do Império otomano o tipo perfeito de sultanismo” (p. 46).
O weberianismo no islã é objeto de outro capítulo, “Max Weber and the revision of secularism in Egypt”. O autor, Haggag Ali, expõe as discussões que intelectuais egípcios têm feito nos últimos anos sobre a “secularização” numa chave weberiana. Atenção especial é dada à monumental Enciclopédia dos judeus, judaísmo e sionismo escrita por Abdel-Wahab El-Messiri (1938-2008), em que se faz uma distinção entre “secularismo parcial” e “secularismo compreensivo”, sendo o primeiro uma modalidade mais branda (e que El-Messiri acreditava ser compatível com o Islã), e o último uma forma mais radical de desencantamento do mundo. É interessante notar que o que adquiriu centralidade na recepção de Weber no Egito é talvez o aspecto mais frágil de sua visão da modernidade, qual seja, o conceito mesmo de “secularização”. Mas nada se compara ao mal-entendido que atribui a Weber a ideia de que somente no Ocidente teria havido racionalização, e que Haggag Ali repete um tanto acriticamente. Sob a influência da legenda segundo a qual a racionalização conduziu ao holocausto – é preciso desconhecer um livro como Mein Kampf para se estabelecer uma relação entre uma coisa e outra –, El-Messiri difunde em seu país um mal-entendido em cuja origem, curiosamente, está o antimodernismo judaico presente em autores como Horkheimer e Bauman. Sua preocupação maior era fazer um diagnóstico histórico-sociológico do sionismo, visto como “uma ideologia secular que aspira à salvação dos judeus, prometendo a seus adeptos (…) o fim das perseguições e do sofrimento no aqui-e-agora” (p. 57).
“Max Weber in the world of Empire” é o título da contribuição de Sam Whimster. Trata-se de situar Weber no contexto da época áurea do imperialismo, bem como as possíveis ressonâncias disso para sua obra. Com base em cartas inéditas até então, Whimster mostra a evolução das ideias de Weber a respeito das aspirações de grandeza da Alemanha – contudo não estamos certos de que ele de fato “olhava para o mundo através das lentes do império, mais que das do estado-nação” (p. 77). Excetuada a forte influência dos junkers, não há dúvida de que Bismarck e a Prússia das décadas de 1870-1890 permaneceram como uma espécie de modelo para Weber durante quase toda sua vida. Entretanto, é revelador que o conceito de imperialismo não seja definido com mais clareza por Whimster, o que lhe permite – assim nos parece – empregar o termo com uma liberdade demasiada, e assim classificar Weber como um “imperialista”. Sinceramente, não nos vem à memória algum texto deste autor que dê ensejo a tal classificação.
Seguem-se dois importantes estudos sobre a Rússia e a Polônia. O primeiro deles, da autoria de Dittmar Dahlmann (p. 81-102), examina o interesse de Weber pelo enigma russo, assim como o papel da Rússia em sua obra. Mantendo estreita relação com a comunidade eslava em Heidelberg, Weber publicou dois longos estudos sobre a fracassada revolução liberal de 1905 naquele país, e seu conceito de “pseudoconstitucionalismo” tornou-se influente nos meios jurídicos russos antes da ascensão dos bolcheviques. Cabe notar ainda que não foram sociólogos, mas historiadores (Dimitri Petrusevski, Nicolai Kareev, Alexandr Neusychin) os que deram início à recepção russa de Weber. Em artigo de 1923, Neusychin defendeu inclusive a tese, que nos inclinamos a abonar, de que a sociologia weberiana nada mais é que “a história traduzida na linguagem dos conceitos gerais” (apud p. 87). Igualmente curioso é o fato de que alguns excertos de A ética protestante e da Ética econômica das religiões mundiais tenham sido traduzidos e publicados no período soviético, precisamente num número de 1928 de uma revista chamada Ateísta. De resto, prevaleceu o veto ideológico a Weber. Uma tradução de A ética protestante chegou a ser feita em 1972 por Neusychin, mas como levava um selo com as palavras “apenas para o uso interno”, evidentemente não pôde ser publicada. Desnecessário dizer que uma Weber-renaissance digna desse nome teria de esperar pela Glasnost e pela derrocada definitiva do aparato de poder em 1990.
Marta Bucholc se dedica ao espinhoso capítulo polonês da weberianização do mundo em seu estudo “A reação dos sociólogos poloneses aos escritos de Max Weber sobre a Polônia”. Relação espinhosa nem tanto pelo fato de este país ter se tornado parte da Cortina de Ferro, mas porque as poucas menções de nosso autor aos poloneses estão entre as mais infelizes que ele escreveu.4 A ponto de ele próprio admitir em 1916: “Eu era tido como um inimigo da Polônia. Preservo ainda hoje uma carta assinada e enviada de Lemberg há vinte anos, em que se lamentava que meus antepassados não tivessem sido comidos por um porco mongol” (apud p. 111-112). O fato é que não houve influência alemã digna de nota sobre os pais fundadores da sociologia polonesa, Stefan Czarnowski e Florian Znaniecki, os quais reverberavam uma nítida ascendência francesa. Segundo Bucholc, esta situação não se alterou desde então.
Traduções de Weber em polonês só surgiram no alvorecer do século XXI. Mas mesmo com o advento da open society, observa Bucholc,
os escritos políticos de Weber provavelmente eram percebidos como irrelevantes na nova realidade da integração europeia, na qual Polônia e Alemanha há muito mantinham relações amigáveis (…). Os escritos políticos de Weber sobre a Polônia seriam então não apenas muito difíceis de se ler e de maneira alguma aceitáveis, mas seriam também desinteressantes (p. 118).
Caso inteiramente diverso e sob todos os aspectos digno de atenção nos é apresentado por Wolfgang Schwenkter em “Controvérsias japonesas sobre A ética protestante de Max Weber”. Um dos mais competentes estudiosos das relações intelectuais entre Japão e Alemanha, Schwenkter enumera em seu bem documentado ensaio as razões da ascendência japonesa nos estudos weberianos. A carreira japonesa de Weber deve muitíssimo a eruditos devotados à história econômica (Fukuda Tozuko, Kawada Shiro e Hani Goro). Não menos importante foi a passagem pelo Japão de autores influenciados por Weber, tais como Karl Löwith e Robert Bellah. Para que se tenha noção da singularidade do caso em tela, basta dizer que, desde 1964, existe uma versão japonesa integral de O judaísmo antigo. Praticamente toda a obra de Weber acha-se hoje traduzida naquele país, algo com que o pobre leitor brasileiro só pode sonhar. Em seu diagnóstico da situação atual, Schwenkter mostra que a chegada das teorias pós-modernas ao Japão se articula com o surgimento de uma nova geração de intelectuais japoneses que questionam – como é justo que seja – a atualidade do legado de Weber. O autor examina ainda a grande polêmica gerada em 2002 pela publicação de livro do sociólogo Hanyu Tatsuro, O crime de Max Weber. O “crime” em questão assenta no uso pouco rigoroso que Weber fez de certas fontes bíblicas na Ética protestante. Raramente se terá empregado uma terminologia tão forte numa querela essencialmente filológica, mas no final das contas há que dar razão a Schwenkter por sua crítica a Tatsuro por se valer de um título “inteiramente absurdo” por razões mercadológicas (p. 140).
Nos quatro ensaios seguintes de Max Weber in der Welt o leitor familiarizado com os estudos weberianos não consegue manter o mesmo nível de atenção. Ora o tratamento dos problemas não se aprofunda o suficiente, ora os resultados apresentados são magros demais para recompensar o esforço de leitura. Em “A estadia romana (1901-1903) e a relação de Max Weber com o catolicismo”, Peter Hersche trata de uma questão potencialmente relevante, mas para a qual, ao fim e ao cabo, nenhuma evidência nova chega a ser aportada.
Em “The American journey and the protestant ethic”, Lawrence Scaff oferece uma síntese de sua alentada monografia Max Weber in America (2011), revisitando os topoi da experiência americana de Weber: da longa viagem empreendida com sua esposa em 1904 à importância de nomes como Parsons e Edward Shils ou de instituições como as Universidades de Chicago, Columbia e a New School na recepção de sua obra. Scaff sublinha dois pontos que parecem mesmo relevantes. Por um lado, o impacto da viagem aos Estados Unidos sobre a redação da segunda parte da Ética protestante; de outro, o fato de que sua recepção norte-americana jamais teria sido a mesma, caso este escrito não oferecesse uma espécie de narrativa mestra do American dream.
Quanto ao ensaio “Max Weber e a Philosophie de l’art de Hippolyte Taine”, de Francesco Ghia, este parecerista não encontrou razões para traçar qualquer comentário a respeito, dado o seu caráter altamente especulativo e inconclusivo. Melhor seguir em companhia de Hinnerk Bruhns e seu capítulo “Max Weber na Guerra Mundial (1914-1920) – Com uma olhadela da França”. No país da escola durkheiminiana, a introdução do pensamento de Weber jamais teria sido algo fácil. Por muito tempo, intelectuais como Raymond Aron e Julian Freund amargaram uma solidão de mil desertos. A lentidão com que apareceram as traduções francesas é de fato impressionante. Até o ano de 2014 não havia uma versão francesa da pioneira biografia publicada por Marianne Weber em 1926. Bruhns explora a experiência de Weber na Primeira Guerra Mundial – ele foi encarregado de administrar os hospitais da região de Heidelberg – e como as vivências daquele período se traduzem em seus escritos posteriores. É sabido que Weber saudou o conflito entusiasticamente, sem, porém, aderir ao Hurrapatriotismus de um Max Scheler ou dos signatários do famoso manifesto “Ao mundo cultural”, em que eruditos alemães de prestígio defenderam as ações do exército alemão. Não é pequeno, em todo caso, o papel do fenômeno “guerra” na sua sociologia, e ninguém duvida que, ao definir a política como “luta”, ele pavimentou uma perspectiva do político que atingiria seu ápice em Carl Schmitt.
Chegamos finalmente ao último ensaio do volume, “Max Weber e os problemas histórico-universais da modernidade”, de Gangolf Hübinger (p. 207-224). O autor faz um criativo exercício de análise da modernidade – entendida enquanto um estágio da vida social marcado antes de mais nada pela aceleração civilizacional e pela tensão crescente entre visões seculares e religiosas de mundo (p. 208) – a partir das pistas deixadas por Weber em seus escritos. Hübinger distingue na sua obra quatro indicadores fortes do caminho alemão para a modernidade: o advento e afirmação do capitalismo, a crítica do historicismo, a cultura de massas e a democracia. Nas seções seguintes de seu capítulo, Hübinger trata de iluminar cada uma dessas variáveis à luz da erudição histórica e, sobretudo, de mostrar como o legado intelectual e científico de Weber constitui um lócus privilegiado para visualizarmos cada um desses processos. Tanto do ponto de vista econômico quanto do científico, cultural e político, o pensamento weberiano se presta, como poucos de seu tempo e posteriores a ele, a iluminar uma época que – a despeito de toda doxa pós-moderna – ainda não deixamos para trás.
Nesse sentido, e ao menos enquanto as quatro estruturas acima evocadas se mantiverem, o lugar de Max Weber no grande museu das antiguidades intelectuais do Ocidente permanecerá vazio. Ele continuará incontornável para nós, no sentido preciso daquele termo que volta e meia surge em seus escritos, a saber: como destino.
Referências
MATA, Sérgio da. Modernity as fate or as utopia: Max Weber’s reception in Brazil. Max Weber Studies, v. 16, 2016, p. 51-69. [ Links ]
VILLAS BÔAS, Glaucia. A recepção controversa de Max Weber no Brasil (1940-1980). Dados. Revista de Ciências Sociais, v. 57, n. 1, 2014, p. 5-33. [ Links ]
WEBER, Max. Economia e sociedade, vol. II. Brasília: EdUnB, 1999. [ Links ]
WEBER, Max. Escritos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2014. [ Links ]
1WEBER, Max. Economia e sociedade, vol. II. Brasília: Edunb, 1999, p. 580.
2WEBER, Max. Escritos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 385.
3Cf. MATA, Sérgio da. Modernity as fate or as utopia: Max Weber’s reception in Brazil. Max Weber Studies, v. 16, 2016, p. 51-69; VILLAS BÔAS, Glaucia. A recepção controversa de Max Weber no Brasil (1940-1980). Dados. Revista de Ciências Sociais, v. 57, n. 1, 2014, p. 5-33.
4WEBER, Escritos políticos, op. cit., p. 3-36.
Sérgio da Mata – Professor do Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. E-mail: sdmata@ichs.ufop.br.
Historiografia alemã pós-muro: experiências e perspectivas – GERTZ; CORREA (HH)
 René Gertz /ucsplay.ucs.br
René Gertz /ucsplay.ucs.br
GERTZ, René E.; CORREA, Sílvio Marcus de S. (orgs). Historiografia alemã pós-muro: experiências e perspectivas. Santa Cruz do Sul/Passo Fundo: Edunisc/Editora UPF, 2007, 245pp. Resenha de: MATA, Sérgio da.[1] História da Historiografia, Ouro Preto, n. 2, mar. 2009.
Poucas pessoas fizeram tanto pela divulgação, no Brasil, da historiografia alemã quanto René Gertz. Há 22 anos atrás, em conjunto com Abílio Baeta Neves, ele publicava sua excelente coletânea A nova historiografia alemã, ocasião em que, salvo engano, autores como Klaus Tenfelde, Jürgen Kocka e Jörn Rüsen se tornaram pela primeira vez acessíveis em português. O volume era na verdade uma excelente introdução ao que alguns dos mais importantes historiadores alemães do pós-guerra pesquisava e, sobretudo, como pesquisava. A revista “História e Sociedade” (Geschichte und Gesellschaft) transformara-se numa nova Meca, e autores como Hans-Ulrich Wehler e Wolfgang Mommsen desfrutavam de enorme influência.
Duas décadas depois, a situação dá mostras de ter mudado, e de forma surpreendente, tanto no Brasil quanto na Alemanha. Rüsen e Koselleck se tornaram referências obrigatórias mesmo entre nossos estudantes de graduação. Clássicos do pensamento histórico como Droysen, Ranke e Burckhardt têm sido revisitados e, aos poucos, contemplados com novas traduções. Até mesmo um interesse crescente pelo aprendizado da língua alemã pode ser diagnosticado por toda a parte. Em suma, um quadro impensável em 1987.
A publicação de Historiografia alemã pós-muro: experiências e perspectivas, livro composto de textos selecionados e traduzidos pelo mesmo Gertz e por Marcus Correa, mostra a que ponto a situação na Alemanha alterou-se significativamente. A referência no título do livro à reunificação tem toda a razão de ser, pois, grosso modo, até então seria correto falar em duas historiografias alemãs: a ocidental e a oriental. Em que pese a subserviência político-ideológica da maioria dos historiadores da Alemanha Oriental, como apontou há pouco Estevão Martins (Martins, 2007, p. 62), estudos como o de Middel (2005) mostram que a partir da década de 1950 homens como Walter Markov e Manfred Kossok desenvolviam ali sofisticados estudos de história comparada – na boa tradição da Universidade de Leipzig, cujas origens sabidamente remontam a Karl Lamprecht. A reunificação, em 1989, significou uma pá de cal sobre esta incipiente historiografia marxista renovada. Bem poucos sobreviveram no mundo acadêmico “pós-muro”.
No plano propriamente teórico, a influência da Escola de Frankfurt refluiu a olhos vistos. A morte de Niklas Luhmann e a desgastante polêmica mantida entre Habermas e Peter Sloterdijk, ambos fatos ocorridos em fins da década de 1990, pareciam assinalar o eminente declínio das teorias de longo alcance nas ciências sociais alemãs e, por conseguinte, nos meios historiográficos. À “escola de Bielefeld” restou a crítica às novas perspectivas advindas de outras comunidades historiográficas, tais como a história cultural, a história do cotidiano e a micro-história. Em que pese o muito de acertado que há nessas críticas (cf.
Wehler, 2002), percebe-se que setores do mainstream se enclausuraram nos cânones da ciência social histórica. Neste sentido, mais que um retrato da novíssima historiografia alemã, a coletânea de Gertz e Correa oferece-nos uma espécie de índice de uma comunidade historiográfica em plena crise de redefinição de paradigmas. Uma crise, diga-se de passagem, que parece ter nos aproximado.
Percebe-se que o que lá se pratica não é, hoje, muito distinto do que os historiadores brasileiros fazem – ou faziam, na década de 1990. Sente-se também que aquele plus de originalidade da “história social” e da “história da sociedade” – com seu alto rigor analítico e sofisticação teórica – se perdeu.
Os ensaios coligidos por Gertz e Correa não têm a pretensão de oferecer uma contribuição original aos dilemas teórico-metodológicos da historiografia “pós-muro”. Trata-se, em sua maior parte, de balanços historiográficos e de discussões de caráter introdutório, o que em todo o caso tem a vantagem de proporcionar um painel útil e didático a todo aquele que pretende se familiarizar com uma tradição que só conhecemos ainda muito epidermicamente. A seguir, nos limitaremos a fazer alguns apontamentos mais gerais, e a uma ou outra observação crítica sobre os pontos de vista dos autores.
Willibald Steinmetz abre o volume com uma exposição abrangente, intitulada “Da história da sociedade à ‘nova história cultural’”. Acompanhando o pensamento de Otto G. Oexle, Steinmetz tende inicialmente a superestimar o pioneirismo alemão no que se refere à Kulturgeschichte, minimizando, assim, a originalidade das abordagens surgidas na segunda metade do século XX. Mas reconhece que projetos editoriais inovadores como o Léxico de conceitos histórico-políticos de Brunner, Conze e Koselleck surgiram concomitantemente a desenvolvimentos aparentados no mundo anglo-saxão, no bojo do assim chamado linguistic turn. Steinmetz defende a história cultural da crítica de Wehler segundo a qual estaríamos passando por uma despolitização do discurso histórico. Os historiadores culturais, ao contrário, estariam se dedicando também “a áreas consideradas centrais pelos representantes da história social política” (p. 34). O que é sem dúvida correto. Mas ao sustentar que “os espaços de ação constituem-se na e por meio da linguagem” (p. 38), vê-se o quanto a tendência a se autonomizar a esfera da linguagem, a torná-la o a priori de toda análise histórico-social, encontra eco em Steinmetz. O uso do conceito de “comunicação” mostrar-se-ia quiçá mais profícuo, posto que evoca explicitamente a importância da interação entre os sujeitos na construção e reconstrução do sentido subjetivo de suas ações, bem como do mundo social como um todo. Todo agir comunicativo pressupõe ainda a existência de regras previamente estabelecidas (poderíamos chamá-las proto-instituições). Sem o “programa” por elas proporcionado, o indivíduo enfrentaria grande dificuldade para resolver seus problemas concretos de comunicação, seja ao manter uma simples conversa telefônica, seja ao redigir uma resenha acadêmica. Desatento a estas outras possibilidades analíticas, é natural que Steinmetz caia no beco sem saída do relativismo, tão comum àqueles que cedem à tentação do essencialismo culturalista. Partindo do princípio que “toda a realidade […] é simbolicamente construída” (p. 41), ele enreda-se no falso dilema que é o de se perguntar sobre o que vem a ser efetivamente “real” ou “fictício” nesta “multiplicidade de construções paralelas, mas, em princípio, equivalentes, da realidade” (p. 42, grifo nosso). Trata-se, a nosso ver, ora de construções primárias da realidade, ora de construções secundárias. Às primeiras, surgidas da interação social imediata e veículos de um saber pré-teórico, cabe o que Luckmann chama de “prioridade ontológica”, mas de forma alguma o estatuto de o “verdadeiro” por excelência. Todas as construções sociais da realidade são “verdadeiras”, o que não significa que se situam num mesmo plano e que não haja, entre elas, alguma hierarquia constitutiva.
O ensaio seguinte, de Ute Daniel, prossegue o debate sobre a história cultural. Diferentemente de Steinmetz, Daniel parte da Kulturgeschichte alemã de princípios do século passado apenas para mostrar que as referências atuais afastam-se radicalmente do pendor nomológico e monista de alguns dos nomes daquela geração. Na Alemanha, como por toda a parte, a ênfase tornou-se decididamente hermenêutica nas últimas décadas. Embora a autora acredite que “até o final do século XIX somente […] Jacob Burckhardt […] lidava com história cultural” no meio acadêmico de língua alemã (p. 54), o que cremos ser inexato, ela reconhece a importância de historiadores como Eberhard Gothein (sucessor de Max Weber em Heidelberg e futuro orientador de Ernst Kantorowicz), além de Kurt Breysig e Lamprecht. A respeito da famosa polêmica suscitada por este último, Daniel a reduz a um conflito entre historicismo/história política de um lado e evolucionismo/história cultural do outro, sem, porém, atentar para um inegável pano de fundo institucional do embate: o que também estava em jogo era a preeminência de Berlim como principal centro historiográfico de língua alemã. A intempestiva reação de Meinecke (barrando o acesso de Lamprecht à Historische Zeitschrift) e dos demais neo-rankeanos, bem como os reiterados ataques a todo e qualquer impulso renovador advindo das universidades de Basel, Heidelberg e Leipzig, tudo isso mostra a que ponto uma visão “culturalista” da história da historiografia esbarra em limitações mais ou menos sérias.
O que segue é um panorama convencional da pluralização crescente do mercado de idéias historiográficas na Alemanha após a década de 1960, um processo não muito distinto do ocorrido no Brasil, inclusive pelas resistências a ele impostas: lá, pela história social da “escola de Bielefeld”, aqui, pela história social de extração marxista. A mesma sensação de déjà vu acomete o leitor ao percorrer as páginas do texto de Wolfgang Hartwig, “História cultural política do entreguerras”. Uma discussão incomparavelmente mais densa e propositiva sobre a história cultural da política, feita por Thomas Mergel (2003) e inclusive já vertida por Gertz ao português, possivelmente teria sido uma opção mais interessante que o ensaio de Hartwig, cujo único ponto positivo é o de oferecer uma longa e atualizada bibliografia dos novos estudos desenvolvidos sobre o entreguerras alemão.
Já Johannes Fried dedica um extenso ensaio ao tema “História e cérebro: desafios à ciência histórica através da crítica à memória” (p. 97-141). Poderíamos resumi-lo à seguinte proposição: a memória, esta modalidade de relação com o passado situada numa encruzilhada entre o biológico e o cultural, não pode servir a uma historiografia entendida como ciência do passado. Se a memória é um fenômeno mais “coletivo” (Halbwachs) que “cultural” (Assmann), se se pode reduzi-la fenomenologicamente a estruturas da consciência (Ricoeur) ou associá-la à materialidade de monumentos e espaços específicos (Nora), é algo que não chega a interessar diretamente a Fried em sua discussão. Tem-se, a princípio, a impressão que o autor promoverá alguma espécie de diálogo com a neurociência. O que poderia ter sido estimulante, mas que, todavia, não se confirma. Ele parte de um famoso episódio: as conversas entre Niels Bohr e Werner Eisenberg no outono de 1941, em Copenhague, a respeito da utilização militar da fissão nuclear, descoberta pouco antes do início da II Guerra. Nos anos seguintes, Bohr e Eisenberg nunca entrariam em acordo sobre o local e o teor exato destas conversas. Depois de uma tentativa de reconstituição deste interessante episódio, Fries subitamente adota um ponto de vista “naturalista” estrito sobre a memória, e dispara: “uma história derivada exclusivamente da lembrança cerebral é algo cheio de erros, uma construção irreal” (p. 114). Daí serem “suspeitos todos os depoimentos produzidos pela capacidade de memória” (p. 115) Simplesmente “não se pode confiar em tais reproduções e construções” (p. 116). Ele lista, com a minúcia de um relojoeiro suíço, as quinze características que definem e circunscrevem os processos mnemônicos (p. 122- 123), e constata: “uma testemunha que recorda […] não descreve aquilo que realmente aconteceu; antes, fornece uma abstração que vai se afastando dos fatos”. Para quem imaginava que essa modalidade de realismo ingênuo sofrera um golpe de morte no país de Dilthey e Gadamer, é sem dúvida decepcionante.
Felizmente, os organizadores contrabalançaram o efeito potencialmente devastador do ensaio de Fried com aquele que pensamos ser um o melhor ensaio do livro: “A caminho da ‘história das vivências’? História oral na Alemanha” (p. 142-172), da historiadora e jornalista Babett Bauer. Ao mostrar as grandes dificuldades lá enfrentadas pela oral history, Bauer ajuda-nos a perceber que nem tudo são flores para os representantes da novíssima historiografia alemã.
Pesquisadores como Alexander von Plato e Lutz Niethammer preferem falar em “história das vivências” (Erfahrungsgeschichte), algo certamente mais interessante e matizado que aferrar todo um campo de pesquisa a um método.
Não obstante, são muitos os que insistem em “encarar com ceticismo a realização de pesquisas com base em fontes orais” (p. 145-146). O papel de porta-voz da tradição coube mais uma vez a Wehler, para quem os que se valem da história oral não passam de “historiadores descalços”.1 Mesmo sob fogo cerrado, alguns projetos inovadores, norteados por aquilo que se difundiu sob a designação de historiografia democrática, surgiram ao longo da década de 1980. É o caso das “oficinas de história”, grupos formados por historiadores profissionais e leigos interessados na reconstituição da história regional e local, aos quais se juntaram iniciativas semelhantes realizadas com o apoio dos sindicatos alemães. A nova perspectiva revelou-se especialmente profícua no estudo da história da Alemanha Oriental. Como a quase totalidade dos registros escritos estavam submetidos ao ferrenho controle do serviço secreto e das forças desegurança do regime, somente a “história das vivências” permitiu visualizar os “elementos crescentes de dissenso” e o “declínio do conformismo entre a população” (p. 153) nos últimos anos da ditadura. Na segunda parte de sua exposição, Bauer discorre longa e sofisticadamente sobre as possibilidades e dificuldades teóricas da Erfahrungsgeschichte.
Os dois últimos ensaios, de Peer Schmidt (“Da história universal à história mundial”) e Reinhard Wendt (“O olhar para além das fronteiras continentais: história extra-européia na recente historiografia de língua alemã”) tratam do desafio da superação daquilo que os autores acreditam ser a demasiada autocentralidade da produção historiográfica de seu país. Para o latinoamericanista Schmidt, trata-se agora de buscar uma “história mundial de novo tipo”, afastada das “elaborações eurocêntricas de uma história universal que saiu de moda” (p. 187). Wendt mostra, de forma oportuna, que Lamprecht já havia insistido na necessidade de a história incorporar o estudo dos povos “sem história”. Impulsos semelhantes, observa ele, partiam também da geografia. De fato, Friedrich Ratzel publicara em 1904 um longo artigo na Historische Zeitschrift em que critica Eduard Meyer por deixar de fora de sua História da Antiguidade os chamados “povos naturais”. A abordagem de Wendt, mais completa e minuciosa que a de Schmitt, mostra o que tem sido feito pelos que pretendem superar a história “meramente” nacional sem cair nos mesmos erros de Hegel e Ranke. A que ponto tal perspectiva efetivamente se difundiu, isso já é outra coisa. Basta mencionar o projeto, em pleno andamento, de edição de uma História Mundial pela prestigiosa Enciclopédia Brockhaus. Segundo apuramos com um dos autores envolvidos, dos vinte volumes planejados, apenas um será dedicado à Ásia, enquanto que um outro terá de ser dividido entre América e África…
A discussão sobre o que deve ser uma nova história mundial, universal ou – como preferem alguns – “transnacional”, encontra-se de toda forma bastante amadurecida na Alemanha. Se Historiografia alemã pós-muro revela um campo no qual temos muito ainda o que avançar, é certamente este. A retomada dos pontos de vista de Voltaire, Ratzel, Spengler, Jaspers e outros se expressa em revistas já estabelecidas como Saeculum, Comparativ e Zeitschrift für Weltgeschichte; enquanto que nomes como o já citado Matthias Middel assumem a condição de porta-vozes desta história universal renovada. Impulsos análogos se façam notar no campo da história da historiografia, como demonstram os esforços de Rüsen (2002) em incrementar o “debate intercultural”, e até mesmo na história social (Kocka, 2003).
A cultura historiográfica alemã já não é “tão estranha assim” para o público brasileiro, observa com acerto Astor Diehl em seu posfácio ao livro.
Concordamos com ele que para isso tem concorrido o afluxo crescente de jovens historiadores às universidades e centro de pesquisa alemães. Mas um papel não menos importante foi e continua a ser desempenhado por René Gertz, o que demonstra a que ponto o esforço de tradução é decisivo na economia da troca – ainda tão incipiente – entre os mercados historiográficos dos dois países.
Resta-nos deixar uma sugestão para iniciativas similares no futuro: um estudo acurado sobre os novos canais de circulação de conhecimento histórico que são os portais eletrônicos (H-Soz-u-Kult, Clio-on-Line, Sehepunkte), e que permitem acompanhar com enorme agilidade o estado das discussões, os debates e as novas tendências da historiografia alemã.
Referências
KOCKA, Jürgen. Losses, Gains and Opportunities: Social History Today. Journal of Social History, v. 37, p. 21-28, 2003.
MARTINS, Estevão de Resende. Historiografia alemã no século XX: encontros e desencontros. In: MALERBA, Jurandir; ROJAS, Carlos A. (orgs.) Historiografia contemporânea em perspectiva crítica. Bauru: Edusc, 2007.
MERGEL, Thomas. Algumas considerações a favor de uma história cultural da política. História Unisinos, v. 7, n. 8, p. 11-55, 2003.
MIDDEL, Matthias. Weltgeschichtsschreibung im Zeitalter der Verfachlichung und Professionalisierung. Leipzig: Akademie Verlagsanstalt, 2005.
RÜSEN, Jörn. Western Historical Thinking: an intercultural debate. New York: Berghahn, 2002.
WEHLER, Hans-Ulrich. Historisches Denken am Ende des 20. Jahrhunderts. Göttingen: Wallstein, 2002.
[1] Professor Adjunto Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) sdmata@ichs.ufop.br Rua do Seminário, s/n – Centro Mariana – MG 35420-000
Las dificultades con la filosofía de la historia – MARQUARD (HH)
 MARQUARD, Odo. Las dificultades con la filosofía de la historia. Valencia: Pre- Textos, 2007, 268pp. Resenha de: MATA, Sérgio da.[1] História da Historiografia, Ouro Preto, n.1, ago. 2008.
MARQUARD, Odo. Las dificultades con la filosofía de la historia. Valencia: Pre- Textos, 2007, 268pp. Resenha de: MATA, Sérgio da.[1] História da Historiografia, Ouro Preto, n.1, ago. 2008.
MARQUARD Odo (Aut), Las dificultades con la filosofía de la historia (T), Pre- Textos (E)
O famoso dito de Madame de Staël sobre aquele “povo de poetas e pensadores” encerra uma meia verdade. A metade falsa é a que diz respeito aos poetas. Lembro-me de uma cena que tive a oportunidade de acompanhar pela televisão há alguns anos atrás: o velho Habermas, quando do recebimento do Prêmio da Câmara do Livro alemã, discursando longamente para uma platéia em que estavam o então chanceler Schröder e todo o primeiro escalão do governo social-democrata. Essa gente leva os filósofos a sério.
Na medida em que o pensamento filosófico alemão sempre levou a história – embora nem sempre os historiadores – a sério, não faz qualquer sentido persistir naquela tola cesura, outrora defendida por um Fustel de Coulanges, de que “há história, e há filosofia. Mas não há filosofia da história”. Esta fórmula traduz uma forma de escapismo não de todo incomum no meio historiográfico, tendo ainda a grande desvantagem de tornar o historiador cego para as inúmeras modalidades de filosofia da história existentes. Especialmente quando, sem se dar conta, partilha de uma delas.
Se a crítica da filosofia da história ao longo do XIX deve muito ao historicismo, a da segunda metade do século XX se confunde com a (embora não se reduza à) crítica do marxismo. O curioso é que quanto mais a trajetória dos novecentos desmentia as previsões catastrofistas/utópicas dos marxismos de todas as colorações, mais espaço se lhe concedia no debate intelectual, na imprensa, na academia. A filosofia da história não é apenas um fenômeno recorrente e persistente; seus postulados por vezes mostram-se impermeáveis ao mais flagrante desmentido dos fatos. Tal fenômeno, convenhamos, dá o que pensar. Odo Marquard foi um dos que tentou explicar o porquê disso.
Nascido em 1928, Marquard cedo se afastou das duas tendências dominantes da filosofia alemã no pós-1945. Aos 21 anos, na companhia de seu amigo Hermann Lübbe e outros, foi a Freiburg, onde, segundo disse mais tarde, “todos acreditavam em Heidegger”. Lá, se surpreendeu com a existência de pelo menos quatro “seitas” que reivindicavam para si o direito de representar o verdadeiro pensamento do autor de Ser e tempo. A forma pouco respeitosa com que Heidegger analisou uma seção da Crítica da Razão Pura o incomodou (Marquard, 1989). Interessou-se também pela obra de Marcuse, mas o maio de 1968 lhe abriu os olhos para as contradições internas do projeto teóricopolítico dos frankfurtianos. Desde então, ele diz ter se tornado uma espécie de “derrotista transcendental”. Como Lübbe, acabou se juntando ao grupo de Joachim Ritter na Universidade de Münster, tendo participado do gigantesco empreendimento que foi a publicação do Dicionário Histórico da Filosofia (treze volumes editados entre 1971 e 2007). Do aprendizado com Ritter, a quem reiteradamente se referiu como mestre, Marquard preservou tanto a liberalidade no diálogo com diferentes tradições filosóficas quanto – e isso me parece decisivo – a crítica da crítica à modernidade (Diersch, 2004). O pertencimento a este “terceiro partido”, o de Ritter, tão pouco conhecido fora da Alemanha, ajuda a explicar porque somente três décadas após a publicação do original o leitor de língua hispânica tem acesso às Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie.
Ademais, a derrocada do assim chamado “socialismo real” e a subseqüente crise das esquerdas ofereceu condições para que um autor assumidamente cético como Marquard se faça ouvir por um público mais amplo. O cético, diz ele, não é alguém que não tem uma posição, mas alguém com demasiadas posições. O cético se curva ante o fato de que “o homem é uma forma de vida que pende para discrepâncias de opinião” (p. 117). Ele nada tem em comum com o pessimista crônico, cuja inclinação pelas filosofias da história em nada difere da do otimista crônico. O cético torna-se particularmente apto a conviver com o que nosso autor acredita ser o traço fundamental da modernidade: o pluralismo. E a valer-se daquela figura de linguagem que é a preferida dos céticos, a ironia. Em março deste ano, por ocasião de sua condecoração pelo presidente Horst Köhler, declarou numa entrevista que “a filosofia deve ser de um tipo tal que pelo menos seu autor seja capaz de entendê-la”. Quisera ser esta a divisa de toda a filosofia.
O que este auto-denominado “beletrista transcendental” – Marquard é detentor, entre outros, dos prêmios “Sigmund Freud” de prosa científica e “Ernst Robert Curtius” pelo conjunto da obra ensaística – persegue em Las dificultades con la filosofía de la historia? O livro apareceu originalmente em 1973, como primeiro produto da sua transição do campo da estética e do estudo da obra de Kant, Schiller e Schelling para a filosofia da história propriamente dita. Seu projeto ali, ele o definiu como uma “filosofia da história da resignação da filosofia da história”, uma “teoria da decadência da teoria do progresso” (p. 28 e 164).
Mas esta filosofia é assumidamente uma crítica. Para tanto, Marquard se vale de uma vasta literatura e de uma perspicácia impressionante, bem como da antropologia filosófica, que ele demonstra – com minúcia de historiador – ser não apenas coeva, mas o oposto da filosofia da história. Daí que o livro seja dividido em duas seções. A primeira, denominada “preparativos para dizer adeus à filosofia da história”, e a segunda “preparativos para dizer adeus à crítica da antropologia”, cada uma contando três capítulos. Uma densa e provocativa introdução antecipa para o leitor as teses principais defendidas ao longo de livro. Sua sentença de abertura: “o filósofo da história limitou-se a transformar o mundo de diversas maneiras; agora se trata de deixá-lo em paz” (p. 19).
Isso poderia sugerir a defesa de um princípio de não-ação, e, portanto, conservadorismo. Marquard se defende dizendo que o ceticismo não se opõe ao interesse por um mundo melhor (como afirmou Horkheimer), “mas apenas às ilusões desse interesse” (p. 38).
O seu alvo não é apenas a filosofia da história em sua acepção dominante, mas também o que ele chama de as suas formas “tardias”: a hermenêutica, os surtos tipologizantes na historiografia e na sociologia, a psicanálise, o estruturalismo francês. Inegavelmente, adversários de peso. E, no entanto, o brilhantismo da crítica e a solidez dos argumentos, não bastasse a sofisticação estilística com que os constrói, fazem da leitura de Las dificultades con la filosofía de la historia um exercício de fruição intelectual e estética que é raro – bem raro – em obras desta natureza.
O escopo dos problemas tratados se amplia de maneira vertiginosa. Marquard nos revela as insuspeitas dívidas de Hegel em relação à filosofia transcendental; os resíduos de filosofia da história no pensamento de Freud; o surgimento surpreendente e algo paradoxal da noção de “tipo” nos últimos escritos de Dilthey; e ainda a história do conceito filosófico de antropologia desde fins de século XVIII. Mas pode-se dizer que o eixo do empreendimento crítico de Marquard se encontra nos ensaios Idealismo e teodicéia e Até que ponto pode ser irracional a filosofia da história? Em Idealismo e teodicéia o autor desenvolve uma sofisticada análise das origens religiosas da filosofia da história. Não ao modo de Karl Löwith, mas num sentido bem mais radical e, por assim dizer, específico. Ele parte da teologia. De fato, foram os teólogos os primeiros a atacar um elemento basilar do idealismo alemão, qual seja, a “tese da autonomia”. O idealismo postula a liberdade radical do homem, donde se conclui que deve ser o homem, não Deus, quem dirige o destino humano. A crítica do idealismo realizada por teólogos judeus, protestantes e católicos a partir da década de 1920 é, acima de tudo, a crítica da autonomia. Marquard acredita ser necessária uma defesa da tese da autonomia, “posto que a autonomia é o princípio da modernidade” e que “seu abandono implica geralmente na condenação do mundo moderno como decadência” (p. 187).
A questão de fundo é bastante antiga, e num certo sentido fora antecipada pelo gnosticismo. Agostinho tentara resolvê-la. Foi finalmente Leibniz, em 1710, que chegou à sua elaboração clássica: somente a autonomia do homem torna plausível a existência do mal no mundo, pois, do contrário, teríamos de atribuílo a Deus – eis aí o cerne do problema da teodicéia. Algo que o Corão exprime exemplarmente: “Deus não oprime os homens. Eles oprimem-se a si mesmos” (10:44). Marquard afirma que a teodicéia só se realiza integralmente no idealismo alemão e na tese, por este defendida, da liberdade radical do homem. O idealismo “salva” Deus da incômoda condição de responsável pelo mal que grassa no mundo. Se a configuração do idealismo deve ou não ser entendida à luz das teses de Koselleck sobre a patogênese do mundo burguês, é algo que não interessa diretamente a Marquard. O que ele busca, antes, é demonstrar a existência de uma outra conexão fundamental: a de que a filosofia da história moderna se origina da transformação da teodicéia tradicional em teodicéia idealista.
Será esse fardo, o da autonomia radical, demasiado pesado para o homem? De certo. Tanto Kant como Fichte e Schelling foram levados, posteriormente, a procurar forças que guiassem ou suportassem o homem em sua tarefa. Essas forças seriam a natureza e… o próprio Deus. O resultado, paradoxal (Marquard é um especialista na identificação de paradoxos), pode ser resumido assim: o idealismo prolonga a teodicéia, e, no entanto, “invoca a Deus ao mesmo tempo em que o faz irreal” (p. 70).
Pode parecer que tal problema nada diga respeito aos historiadores, mas pelo menos dois dos mais conhecidos dentre eles não viam as coisas desta forma. Droysen escreveu no prefácio ao segundo volume de sua história do helenismo que “a mais alta tarefa de nossa ciência é, efetivamente, a teodicéia”.
A julgar pelas últimas páginas de suas Reflexões sobre a história universal, Burckhardt tinha uma opinião semelhante. O ponto alto do seu livro é, na minha forma de entender, o ensaio Até que ponto pode ser irracional a filosofia da história? Como é do feitio do autor, o texto se desenvolve a partir de uma tese apresentada logo de início. A tese: “a filosofia da história é irracional ao menos quando em nome da emancipação preconiza o [seu] contrário e quando em nome da autonomia preconiza a heteronomia” (p. 75). Vejamos como ele a desenvolve e sustenta.
O advento da filosofia da história, que Marquard reconhece ter sido exemplarmente historiado por Koselleck, redefine a situação do homem. De marionete de Deus ele passa a artífice do mundo. À época de Leibniz predominava o otimismo metafísico, e Deus ainda podia ser absolvido. Na segunda metade do século XVIII, porém, este sistema é posto em questão.
Precisamente neste momento nasce a filosofia da história. E, em decorrência dela, chega-se a uma terrível questão. Sendo mal o mundo, ou Deus é mal ou… então Deus não existe. A única possibilidade de “salvar” Deus, isto é, de preservá-lo em sua absoluta pureza e bondade, é expulsá-lo de todos os assuntos humanos. Daí que o idealismo alemão seja, na prática, o que Marquard chama de um ateísmo ad maiorem Dei gloriam.
A filosofia da história seria uma continuação da tentativa de solução do problema da teodicéia, só que por outros meios. Para Marquard, a filosofia da história é “a realização plena da posição da autonomia [do homem]; sua missão é a da demonstração concreta da seguinte tese: o próprio ser humano faz seu mundo e numa tal medida que inclusive ali onde não há mais remédio senão aceitar o dado, isto pode explicar-se pelo fato de que ele simplesmente se esqueceu de que ele próprio era seu criador” (p. 80). O homem deve se lembrar ou ser lembrado da autonomia da qual havia se esquecido e consumá-la na forma de liberdade. O ônus desta liberdade está em que ele deve também assumir para si, e apenas para si, a razão de todo o mal. Ele, não Deus, é um “autor de atrocidades” (Täter von Untaten, no original).
Coisa estranha: este homem (como Dostoiévski já havia percebido), agora liberto e consciente de sua liberdade, não parece muito feliz com ela. Manifestase então o que Marquard julga ser uma disposição fundamental – antropológica, portanto – do homem: a da “arte de não ter sido”. Sob a égide da filosofia da história, o homem parece carecer de vontade de ser plenamente aquilo que ela lhe promete. Significa, na prática: alguém deve conduzir a história – e que não sejamos nós! Alguém ou algo, como o espírito universal, as classes sociais, etc. Dá-se o fenômeno sumamente interessante de que justamente as filosofias da história que emanciparam o homem passem a buscar, compulsivamente, um “outro ator”, o ator verdadeiro da história. Com este fim, acabam associando-se às filosofias da natureza, como se percebe em Schelling, em Marx, em Engels. Finalmente, essa busca por um “outro ator” acaba esbarrando, não raro, no terreno do qual a filosofia da história inicialmente pretendera se afastar, o da religião. Completa, assim, um giro de 360 graus.
Não é outro o caminho trilhado pelos Horkheimer e Benjamim tardios, fortemente marcados por preocupações de tipo teológico e messiânico. A autonomia do homem não tornou o mundo melhor. Esse “outro ator” desempenha a função de um álibi, de uma justificativa pelo nosso fracasso enquanto senhores dos destinos do mundo. Um álibi com diversas faces, como a natureza, o messias, até mesmo o inimigo de classe.
Enfim, o argumento de Marquard, construído com inegável brilhantismo e concisão, retorna à questão que dá nome ao capítulo. Em que reside a irracionalidade da filosofia da história? Nisto: no de defender, simultaneamente, uma tese (a da autonomia) e o seu contrário (a heteronomia).
Se eu pudesse fazer um reparo a este belo livro, seria um reparo de natureza puramente formal. A sua introdução deveria vir ao fim, na forma de uma conclusão. Pois muito do que ela antecipa, de maneira complexa e extremamente condensada, só se apreende após a leitura de todos os ensaios.
Ali, o autor mostra como extrai da crítica de Hans Blumenberg ao conceito de secularização a essência do seu empreendimento. Haveria uma relação direta entre teodicéia e filosofia da história. Esta não passaria de uma forma secularizada daquela. Para Marquard, “a filosofia da história não se define especificamente por sua modernidade”. Na verdade, postula ele, “a filosofia da história é a antimodernidade” (p. 25). Pois ela assenta no “mito da emancipação” e nada mais faz que trair-se a si mesma. Se a teodicéia culmina na eliminação de Deus, a filosofia da história culmina na eliminação do ser humano.
As aporias da filosofia da história levam-no a buscar o seu oposto, a antropologia filosófica. É no mínimo divertida a forma como ele demonstra em que medida tanto Dilthey como alguns dos discípulos de Heidegger (Löwith e Bollnow, entre outros) trilharam exatamente esse caminho (p. 146, 254-255).
Para Marquard, fique claro, não se trata de uma tentativa de superação, mas de diálogo. Poder-se-ia dizer que o cético, parafraseando aquele personagem de Guimarães Rosa, entende que uma filosofia, apenas, é muito pouco.
Há muitos filósofos amigos da história, mas bem poucos que sejam amigos dos historiadores. Marquard é um deles, e somente por esta razão já valeria à pena lê-lo. É bem verdade que, em outra ocasião, afirmou que “a história é algo demasiado importante para ser deixada apenas aos historiadores” (Marquard, 1986, p. 54). De acordo. Contudo, e para isso ele próprio chamou a atenção, sem a historiografia e as demais ciências empíricas da realidade – como as chamava Weber – a filosofia cede à tentação de encontrar em si mesma a única realidade que verdadeiramente conta (die Versuchung, die Philosophie zum einzigen Realitätsverhältnis zu machen). Sem a ciência histórica, tanto maiores as chances de que o discurso filosófico sobre a história manifeste essa forma peculiar de alienação que é a de enredar-se em si mesmo. Em entrevista reproduzida em seu último livro lançado na Alemanha, Marquard (2007, p. 20) sugere que a melhor forma de fuga do mundo se obtém por intermédio do sono, não da filosofia.
Bibliografia
DIRSCH, Felix. Konservativer Skeptiker zwischen Herkunft und Zukunft. Criticón, n. 181, p. 43-48, 2004.
MARQUARD, Odo. Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982.
_____. Apologie des Zufälligen. Stuttgart: Reclam, 1986.
_____. “Die verweigerte Bürgerlichkeit”. Frakfurter Allgemeine Zeitung, 23/ 09/1989.
_____. Skepsis in der Moderne. Stuttgart: Reclam, 2007.
[1] Professor do Departamento de História Universidade Federal de Ouro Preto Rua do Seminário, s/n – Centro Mariana – MG 35420-000.
A Heresia dos Índios. Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial – VAINFAS (VH)
VAINFAS, Ronaldo. A Heresia dos Índios. Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Resenha de: MATA, Sérgio da. Varia História, Belo Horizonte, v.12, n.16, p. 171-174, set., 1996.
O novo livro de Ronaldo Vainfas é uma grata surpresa. Finalmente a historiografia se volta para um objeto que a maior parte dos pesquisadores tem simplesmente ignorado: a história das práticas religiosas indígenas no Brasil. Infelizmente, perdura ainda em nosso meio acadêmico a opinião, inconfessa, de que o estudo das sociedades ditas primitivas “não é assunto de historiador”. Vainfas tem ainda o mérito de agregar à análise historiográfica as contribuições importantíssimas de autores como Florestan Fernandes, Maria lsaura Pereira de Oueiróz, Pierre Clastres, Hélêne Clastres e Mircea Eliade. Sua narrativa leve, bem articulada, e, antes de tudo. seu objeto e sua opção metodológica interdisciplinar, tornam esta obra tremendamente oportuna. Uma história religiosa científica e de caráter não-confessional ainda está por ser feita no Brasil. A Heresia dos Índios constitui-se, desde Já, num dos marcos deste esforço.
O tema do livro é o estudo da Santidade de Jaguaripe, formada e destruída na década de 80 do século XVI no Recôncavo baiano. As santidades eram “movimentos” religiosos orginalmente indígenas. Lideradas por xamãs denominados caraíbas, as santidades representavam a promessa e a possível materialização daquilo que o imaginário tupi pretendia ser a “Terra sem Mal”: a terra mítica onde os índios não precisariam trabalhar para comer, onde não haveria nem sofrimento e nem a própria morte.
Mas, vistos como heréticos pela Igreja e como fomentadores da desordem pelos fazendeiros, 1mpnmiu-se uma perseguição sem tréguas aos seus adeptos e líderes espirituais. O que há de surpreendente na Santidade de Jaguaripe é que ela teve Justamente num dos mais ricos senhores de engenho da Bahia, Fernão Cabral, o seu maior patrocinador Por que um membro da voraz elite latifundiária sessentista se arriscaria a tanto? Para desvendar este enigma, Vainfas empreende uma pesquisa de fôlego, a partir da qual entrevê-se não o mero estudo de caso, mas também um esforço de visualizar a interpenetração das culturas, bem como das relações de força às quais estão inevitavelmente conectadas.
Há duas questões de fundo perpassando A Heresia dos Índios: (a) o enorme preço pago pelos indígenas ao iniciar-se o processo colonizador -escravidão, epidemias, aculturação imposta, genocídio-teria ou não desempenhado papel decisivo na eclosão do “milenarismo tupi”; e (b) as Santidades seriam – e até que ponto – ou não fruto de um sincretismo cristão/xamanista? Minhas discordâncias em relação a Vainfas giram em torno das respostas que ele apresenta a estas perguntas.
Com relação à primeira questão, o autor advoga que o impacto da colonização sobre as populações indígenas foi o fator decisivo no surgimento das santidades (p. 45-46, 65). A maioria dos deslocamentos de índios, tendo à frente os caraíbas, dava-se em direção ao interior, justifica ele. O que pareceria comprovar que se havia uma “Terra sem Mal”, esta estaria por certo longe da costa, onde estabelecera-se o europeu. O problema desta tese, ao meu ver, reside no próprio caso da Santidade de Jaguaripe. Se fosse tão decisivo o peso da exploração colonial, como entender que Fernão Cabral tenha convencido boa parte da santidade original a migrar rumo à sua fazenda- ou seja, rumo ao litoral? Vainfas subestima a força social do mito, pois, ao que tudo indica, a direção das migrações não interfere diretamente na estrutura deste mito. O que era essencial: chegar à “Terra sem Mal”, mesmo porque (e precisamente porque) isso significaria ignorar riscos enormes.
As santidades, sublinha Vainfas, teriam um nítido caráter “anti-colonialista”. Contudo, em 1586, quando da destruição de Jaguaripe, o autor revela-nos que os índios assistem a tudo “sem esboçar reação alguma” (p. 1 00). Teria sido tão grande o peso da “exortação à guerra” feita pelos caraíbas?
A análise seguinte, do sincretismo entre elementos da religiosidade cristã e tupi, também revela problemas. Vainfas dá provas de “hibridismo”: similitudes entre a “Terra sem Mal” e o paraíso cristão, a santidade por alguns chamada “Nova Jerusalém”, o caraíba Antônio a quem se referiam outros tantos por “papa” ou “Noé”, o “rebatismo” dos novos adeptos, cruzes e rosários, etc. A partir destas homologias, entretanto, Vainfas sente-se autorizado a concluir que a maior parte das crenças de Jaguaripe “foi gerada( … ) nos aldeamentos da Companhia de Jesus” (p. 117), e mesmo que o “ídolo” venerado pelo índios era, “por origem, uma invenção cristã” (p. 132, grifo meu).
Desta vez o historiador fluminense superestima o peso da tradição cristã nas crenças que moviam as santidades. Seria mais sensato ver no esforço dos jesuítas uma prática aculturadora relativamente limitada: no Brasil colônia, como aliás na China deste mesmo período, os jesuítas só puderam introduzir com algum sucesso suas representações religiosas na medida em que elas tivessem algum homólogo, por distante que fosse, nas culturas autócones. Assim, o Tupanaçu dos jesuítas devia tanto ao Tupã indígena quanto a doutrina do Senhor do Céu de Matteo Ricci devia à noção de “Soberano do Alto” herdada da tradição chinesa. As (re)formulações jesuíticas não constituíam realidade inteiramente nova, como parece crer Vainfas. Estavam, para usarmos os termos de Johan Huizinga, ainda “impregnadas de passado”. O modus agendi jesuíta parece ter sido basicamente este em situações históricas ou contextos nos quais a “conversão” não pôde ser garantida, antecipadamente, (de fora para dentro) pela força ou (de cima para baixo) pela adesão da chefia em sociedades de tipo “heróico” (Sahlins).
Ademais, não convém esquecer que determinados aspectos-chave do ritual das santidades pouco ou nada tinham de cristãs. Tinham, isso sim, origens distantes. Juan Schobinger mostra-nos que as sociedades Diaguitas do noroeste da Argentina utilizavam-se do fumo como alucinógeno religioso seis séculos antes da chegada do europeu. Da mesma maneira, o tugipar (“templo” da santidade) tupi, as estacas fincadas no seu centro e os “ídolos” de pedra também Já existiam entre os Diaguitas. Como ver, então, nas práticas religiosas das santidades uma “invenção cristã”?
Problemática é, igualmente, a hipótese de que teria havido sincretismo religioso ao nível dos adeptos indígenas da santidade, mas nem tanto por parte dos vários mamelucos e mesmo brancos que, segundo a Inquisição, a eles teriam se juntado (p. 158). De fato, muitos destes últimos apenas simularam crer nos caraíbas para atraí-los ao litoral, ansiosos pela mão-de-obra proporcionada pelos “bugres” de Jaguaripe. A existência de tal diferenciação interna seria perfeitamente possível de sustentar, mas somente na condição de confundirmos nível de adesão (ou de conformidade) religiosa com sincretismo propriamente d1to. O ser “mais” adepto ou “menos” adepto não interfere na natureza das crenças e representações em questão.
Duas últimas observações. Vamfas utiliza, ao longo de todo seu livro, a categoria “seita” para se referir às santidades. Não foi uma boa escolha. Revela, neste particular, absorção acrítica (em que pesem todos os cuidados tomados) da linguagem inquisitorial. Nesta, como nos meios cristãos em geral, “seita” assume um significado diverso do sociológico. Onde o senso comum eclesiástico vê “heresia”, “desvio”, “erro” (e daí a sua repressão), a soc1olog1a da religião vê um tipo de comunidade religiosa com um padrão configuracional próprio. Vale d1zer: a inflexibilidade e ngorismo das seitas (Wach), sua ênfase na “obediência literal e no radicalismo” em relação a uma dada tradição religiosa (Troeltsch) são, em certo sentido, pouco compatíveis com quaisquer sincretismos (ou hibridismos). O que permite concluir que as santidades, muito provavelmente, não eram seitas.
Creio ainda que não tenha sido devidamente formulada ou explicitada a noção de “juízo etnodemonológico” (p. 53). Em que tal manifestação constitui um caso à parte de etnocentrismo, é algo que não se chega a compreender claramente.
Sérgio da Mata – Professor de Antropologia Cultural Fundação Educacional Monsenhor Messias- Sete Lagoas.
[DR]



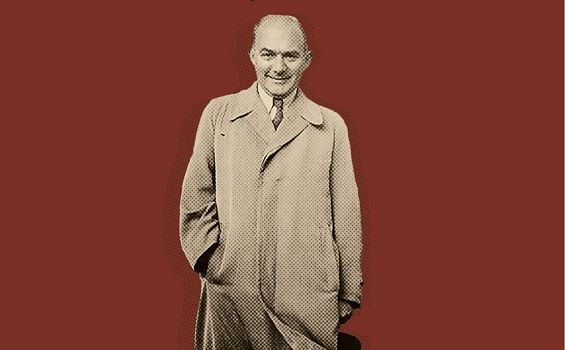


 René Gertz /ucsplay.ucs.br
René Gertz /ucsplay.ucs.br