Posts com a Tag ‘Revista de História (RH-USP)’
Mário Domingues – A Afirmação Negra e a Questão Colonial. Textos 1919-1928 | José Luís Garcia
Composta por dois grandes núcleos – um primeiro de cunho ensaístico e um outro de compilação de textos originais dados à estampa em títulos da imprensa portuguesa nos primeiros decénios do século XX – Mário Domingues – A Afirmação Negra e a Questão Colonial. Textos 1919-1928 (Lisboa: Tinta da China, 2022) é a mais recente obra de José Luís Garcia, concluída depois de duas décadas de estudo e de construção e análise de um vasto arquivo documental sobre Mário Domingues e sobre o movimento negro português do princípio do século XX. Quando se contabilizam 100 anos sobre a publicação de alguns dos mais arrojados e infamados artigos de Mário Domingues, como “O ideal da independência” (A BATALHA, 05/07/1922, p. 1), primeiro registo escrito impresso de defesa explícita da independência para a África colonizada, José Luís Garcia (JLG) apresenta-nos neste livro Mário Domingues como o precursor da afirmação negra em Portugal e como expoente, durante a Primeira República, da oposição política, moral e cívica ao imperialismo e ao colonialismo português. A tarefa maior que se impunha – e que esta edição concretiza – era a de recolher os artigos de Mário Domingues em circulação nos meios de grande difusão e ir em busca dos demais que pudessem ter sido publicados noutros periódicos, perceber se há neles algo de assaz notável para serem objeto de antologia, deslindar um significado comum a essa constelação de textos, construir, como diz o autor, “um facto histórico a partir de interrogações que esses documentos permitiam formular” (2022, p. 20). Este livro não se limita a recuperar e a fazer arquivo dos textos de Mário Domingues, injustamente esquecido – o que, por si só, já não seria de menos; bem mais do que isso, JLG reuniu todos esses escritos, colocou-os em diálogo com a situação colonial do seu tempo e com o ativismo do movimento negro por todo o mundo, articulou-os com aspetos biográficos de Mário Domingues, e apreendeu nessas crônicas, para lá da sua individualidade, o sentido global de uma emergência histórica, o surgimento de um símbolo, a origem de uma obra de rebelião negra. Leia Mais
Tacky’s revolt: the story of an Atlantic slave war | Vincent Brown
Na esteira de seus outros trabalhos sobre escravidão e diáspora africana Vicent Brown2, professor da Universidade de Harvard, publicou em janeiro de 2020, Tacky’s Revolt: The Story of an Atlantic Slave War para debater de uma maneira revisionista três revoltas de escravos da Jamaica, dando a elas, especialmente a segunda, liderada por Apongo (nome africano do escravo Wager), que estourou na freguesia de Westmoreland, localizada no ocidente da ilha, uma importância histórica bem mais definida e profunda. A “Rebelião de Tacky”, em St. Mary também na região leste e a “Marcha de Simon”, que se desenvolveu nas regiões centrais da colônia, completam os eventos analisados. Leia Mais
Politics of temporalization: medievalism and orientalism in nineteenth-century South America | Nadia R. Altschul
Nádia Altschul é uma estudiosa que atua no campo do neomedievalismo. Com doutorado na Universidade de Yale, é autora de livros como La literatura, el autor y la critica textual, de 2005, e Geographies of philological knowledge: postcoloniality and the transatlantic national epic, de 2012, e coeditora de Medievalisms in the postcolonial world, de 2009. É também professora na Universidade de Glasgow, onde se dedica à pesquisa sobre os efeitos colonialistas do medievalismo e do orientalismo na América Latina.
Seu mais novo livro, Politics of temporalization: medievalism and orientalism in nineteenth-century South America, lançado em 2020 pela University of Pennsylvania Press, traz novas perspectivas aos estudos de neomedievalismo, enfatizando uma abordagem que incorpora o olhar da América Latina. Se pensarmos no conjunto da produção da autora, este estudo marca seu posicionamento teórico em relação aos estudos sobre o neomedievalismo, posto que, embora já tivesse realizado trabalhos sobre autores sul-americanos, em Politics of temporalization ela se dedica exclusivamente à região, considerando especificamente o Chile, a Argentina e o Brasil. Leia Mais
Uma latente filosofia do tempo | Reinhart Koselleck
Com relativo atraso, as principais obras de Koselleck encontram-se traduzidas no Brasil. Crítica e crise (2009 [1959]), O futuro passado (2006a [1979]), Estratos do tempo (2014 [2000]) e Histórias de conceitos (2020 [2006]), publicados pela Editora Contraponto, reúnem os textos principais do autor, na diversidade de direções em que ele desenvolve suas ideias. O trabalho de tradução é quase sempre excelente, com uma linguagem clara, notas explicativas e didáticas, que esclarecem as dificuldades inerentes à tradução de textos que envolvem discussões históricas e etimológicas complexas, como é o caso em Koselleck. Crítica e crise, o primeiro livro da série, faria uma exceção ao grupo, pois consta com frases alteradas, abreviadas e fundidas com outras, o que exigiria uma revisão completa para deixar o texto mais fiel ao original. A parte boa é que se trata de uma exceção no conjunto.
Dado esse passo importante, é natural que agora se abra o caminho para textos menos conhecidos, avulsos ou presentes em coletâneas fora do campo dos livros principais do autor. Essa é a via seguida por Uma latente filosofia do tempo, publicado pela Editora Unesp, com organização de Hans Ulrich Gumbrecht e Thamara de Oliveira Rodrigues (que também assina um excelente prefácio) e tradução de Luiz Costa Lima. O livro é composto por quatro textos: “Estruturas de repetição na linguagem e na história”, “Sobre o sentido e o não sentido da história”, “Ficção e realidade histórica” e “Para que ainda investigação histórica?”, retirados de uma obra publicada postumamente, em 2010, pela Suhrkamp, com titulo Sobre o sentido e o não sentido da história, na qual estão reunidos trabalhos que abarcam 40 anos da produção de Koselleck, alguns deles inéditos. A seleção de Gumbrecht e Thamara Rodrigues é inteligente e apresenta-nos um Koselleck heterogêneo e heterodoxo, defensor de uma variedade de teses, esquemas, sugestões e observações com os quais sempre aprendemos muito. Leia Mais
Sociedade e cultura na África romana: oito ensaios e duas traduçõe | Júlio César Magalhães de Oliveira
Júlio César Magalhães de Oliveira, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP), apresenta uma original coletânea de ensaios sobre a sociedade e a cultura na África romana, após sua tese já clássica Potestas populi: participation populaire et action collective dans les villes de l’Afrique romaine tardive (vers 300-430 apr. J.-C.), de 2012, coincidindo com a publicação de Late antiquity: the age of crowds?, um artigo que, apesar de recém-divulgado – 2020 – no periódico Past & Present, já repercute. O aparecimento do volume em português deve ser saudado por permitir o acesso de um público mais amplo ao tema, em particular de estudantes ávidos de leituras recentes, inovadoras e produzidas aqui mesmo, no Brasil. Neste aspecto, convém enfatizar a clareza e a facilidade da leitura, assim como o seu estilo envolvente. Mapas, plantas, imagens de época e fotos completam a preocupação de Oliveira com a fácil compreensão do leitor, assim como o uso de notas de pé de página, que apresentam referências e comentários de aprofundamento, mas podemos ler o texto principal de forma direta para melhor aprendermos os argumentos. Tais recursos incentivam a tão necessária segunda leitura, que possibilita o aproveitamento pleno das informações e discussões trabalhadas pelo autor.
Em termos teóricos ou de perspectiva, são discutidas seis polaridades, que estão disseminadas por todo o volume:
- Resistência/integração;
- Estudo da tradição textual/cultura material (Arqueologia);
- Modelos normativos/teoria pós-colonial (conflitos);
- Restrição às elites/subalternos vistos de baixo;
- Historiografia: produção mais antiga/recente;
- Modelos baseados em dicotomias/ênfase na interação.
Madness in Cold War America | Alexander Dunst
Alexander Dunst | Foto: Netherlands American Studies Association

From Revolution to Power in Brazil: How Radical Leftists Embraced Capitalism and Struggled with Leadership | Kenneth Serbin
Kenneth Serbin | Foto: CUREHD
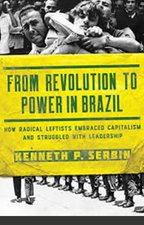
Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória | Enzo Traverso
Enzo Traverso | Foto: O Globo
 Na história oficial do marxismo, tornou-se comum a celebração dos triunfos conquistados das revoluções socialistas. Ressaltar a dimensão redentora dos seus êxitos, seja de personagens “heroicos” e ou de movimentos “gloriosos”, parecia assegurar a concretização de uma “etapa” previsível, objetiva e petrificada na locomotiva linear do “progresso”.
Na história oficial do marxismo, tornou-se comum a celebração dos triunfos conquistados das revoluções socialistas. Ressaltar a dimensão redentora dos seus êxitos, seja de personagens “heroicos” e ou de movimentos “gloriosos”, parecia assegurar a concretização de uma “etapa” previsível, objetiva e petrificada na locomotiva linear do “progresso”.Uma contrapartida dessa odisseia de vitórias repousa justamente no outro lado da moeda: o prisma das derrotas e seus efeitos políticos e epistemológicos na história do socialismo e do marxismo. Eis aqui a proposta da coletânea de ensaios Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória, de Enzo Traverso (2018), originalmente publicado em francês, em 2016, com edições em inglês, alemão, espanhol e, finalmente, uma cuidadosa edição em português, organizada pela editora ítalo-brasileira Âyiné. Embora seja seu primeiro livro traduzido no Brasil, o autor construiu uma sólida agenda de pesquisa nas últimas três décadas e é considerado um dos maiores especialistas em história política e intelectual contemporânea.
Professor da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, Traverso reconhece a irredutível pluralidade de correntes políticas, tendências estéticas e intelectuais da “cultura de esquerda”, que mescla um conjunto de experiências, ideias e sentimentos. Concentra seus esforços na tradição marxista, apontada como a “expressão dominante dos movimentos mais revolucionários no século XX” (TRAVERSO, 2018, p. 15), sem, com isso, reduzi-la a uma doutrina codificada em textos canônicos. Ao contrário, Melancolia de esquerda apresenta análises sobre uma fascinante galeria de testemunhos (livros e cartas), teorias (políticas e filosóficas) e imagens (filmes, pinturas, cartazes de propaganda política). Esse recorte possibilita uma leitura inquietante, moldada pela riqueza de insights presentes no livro e pelos (novos) horizontes abertos em sua narrativa fluída que, com paixão e simplicidade, consegue despertar “iluminações profanas”. Leia Mais
Madness in Cold War America | Alexaner Dunst
Alexander Dunst é professor assistente de Estudos Americanos na Universidade de Paderborn, na Alemanha, atuando no Departamento de Inglês da referida instituição. Intitula-se “historiador cultural da América do século XX” com foco de pesquisa sobre o período da Guerra Fria, utilizando como fontes os discursos e as narrativas culturais presentes na literatura e cinema. Em 2010, Alexander Dunst concluiu seu doutorado em Teoria Crítica na Universidade de Nottingham, com a tese intitulada Politics of madness: Crisis as Psychosis in the United States 1950 – 2010, publicada em 2017, por meio da editora Routledge, com o título Madness in Cold War America. Essa obra, composta por 6 capítulos e 173 páginas, está resenhada no presente texto com criticidade a partir da minha leitura. Leia Mais
Diásporas imaginadas: Atlântico Negro e histórias afro-brasileiras | Kim D. Butler e Petrônio Domingues
Os temas relacionados ao período pós-abolição abarcam um campo de pesquisa que tem se consolidado vigorosamente na historiografia brasileira nas últimas décadas. Em trabalho publicado recentemente, o historiador Petrônio Domingues – um dos principais especialistas – apresentou um importante balanço acerca das novas abordagens, problemas, perspectivas teóricas e metodológicas abrangendo esse ascendente ramo da historiografia. Domingues evidenciou que – nesse amplo e diversificado campo temático – uma das principais tendências é composta pelos estudos das experiências da comunidade negra dentro de uma configuração transnacional. (DOMINGUES, 2019, p.119).
Desse modo, na esteira dessas pesquisas em desenvolvimento, a obra Diásporas imaginadas: Atlântico Negro e histórias afro-brasileiras oferece um valioso panorama das novas perspectivas analíticas. Petrônio Domingues e Kim D. Butler começaram a idealizar essa obra em conjunto, por volta de 2012, quando o historiador brasileiro realizou estágios de pós-doutoramento na Universidade de Rutgers, em Nova Jersey (Estados Unidos). A partir dos contatos no Departamento de Estudos Africanos, Domingues e a prestigiada historiadora estadunidense iniciaram uma fecunda interlocução intelectual, ensejando uma colaboração acadêmica que resultaria nessa obra recentemente publicada. Leia Mais
Uma história das leishmanioses no novo mundo: fins do século XIX aos anos 1960 | Jaime Larry Benchimol e Denis Guedes Jogas Junior
O livro Uma história das leishmanioses no novo mundo: fins do século XIX aos anos 1960, de Jayme Larry Benchimol e Denis Guedes Jogas Júnior, publicado em 2020 pelas editoras Fino Traço, de Minas Gerais, e Fiocruz, do Rio de Janeiro, não é bem um livro, mas uma enciclopédia especializada. Desde a apresentação, Jayme Benchimol nos informa que haverá um próximo volume sobre a história de uma doença que tem características desafiadoras, seja por sua amplitude e singularidades geográficas, seja pela sua epidemiologia ou pela epistemologia dos fatores que interferiram nas explicações sobre sua classificação nosológica.
A dimensão épica do presente livro não é surpresa, dada a tradição de grandes empreitadas a que Jayme Benchimol se dedica, sempre na seara da história da saúde pública e da biomedicina no Brasil, especialmente a partir do Rio de Janeiro. Em publicações anteriores já vimos pesquisas de grande fôlego, tais como a divulgação da obra de Adolpho Lutz – este em parceria com Magali Romero Sá, em vários volumes, publicados entre 2004 e 2006 – ou a coordenação de publicação sobre a história da febre amarela, de 2001. Leia Mais
Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória | Enzo Traverso
Na história oficial do marxismo, tornou-se comum a celebração dos triunfos conquistados das revoluções socialistas. Ressaltar a dimensão redentora dos seus êxitos, seja de personagens “heroicos” e ou de movimentos “gloriosos”, parecia assegurar a concretização de uma “etapa” previsível, objetiva e petrificada na locomotiva linear do “progresso”.
Uma contrapartida dessa odisseia de vitórias repousa justamente no outro lado da moeda: o prisma das derrotas e seus efeitos políticos e epistemológicos na história do socialismo e do marxismo. Eis aqui a proposta da coletânea de ensaios Melancolia de esquerda: marxismo, história e memória, de Enzo Traverso (2018), originalmente publicado em francês, em 2016, com edições em inglês, alemão, espanhol e, finalmente, uma cuidadosa edição em português, organizada pela editora ítalo-brasileira Âyiné. Embora seja seu primeiro livro traduzido no Brasil, o autor construiu uma sólida agenda de pesquisa nas últimas três décadas e é considerado um dos maiores especialistas em história política e intelectual contemporânea. Leia Mais
From Revolution to Power in Brazil: How Radical Leftists Embraced Capitalism and Struggled with Leadership. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2019. Resenha de: SOARES, Dayane. Percursos e reflexões da esquerda armada de outrora. Revista de História. São Paulo, n. 180, 2021. Aces | Kenneth P. Serbin
Intensificadas as investidas repressivas do Estado, centenas de brasileiros, cuja maioria ainda na flor da juventude, optou pelas armas na luta contra a ditadura vigente no país (1964-1985). Como não nos é estranho, essa aposta, iniciada com uma série de ações guerrilheiras espaçadas, se seguiria de um punhado de sucessos, mas de uma subsequente onda repressiva e do inevitável desmantelamento dos agrupamentos de esquerda armada poucos anos após o pontapé inicial. Entre as resultantes negativas desse processo, sabe-se que a maior parte de seus quadros vivenciaria a experiência de prisão e o horror das torturas, e uma parcela seria posteriormente listada entre os nomes dos milhares de mortos e “desaparecidos” políticos sob a responsabilidade do Estado brasileiro. Os sobreviventes, porém, reconstituiriam suas vidas tomando cursos distintos. Passadas cinco décadas do massacre lançado à oposição de esquerda2 e mais de trinta anos desde o final do regime, mesmo com uma extensa literatura desenvolvida sobre o campo temático3, é certo que algumas questões ainda pairam no ar, inclusive a que indaga sobre o futuro daquela geração de revolucionários. É nesse sentido que se insere From Revolution to Power in Brazil, o mais recente livro de autoria do historiador Kenneth P. Serbin. Leia Mais
Latin America and the Global Cold War. The New Cold War history
Latin America and the Global Cold War foi publicado na coleção The new cold war history, dirigida por Odd Arne Westad, autor também do curto posfácio do texto. O objetivo dessa coletânea é publicar livros que proponham novas interpretações do período da Guerra Fria a partir de pesquisas em arquivos da China ou dos países da antiga URSS, entre outros. De forma mais geral, a new cold war history, é uma tentativa, formulada no final dos anos 90 do século passado, de repensar o paradigma que estava na base da maioria das pesquisas sobre o período que começa no pós-guerra e que o considera como caraterizado exclusivamente pelas principais tensões em termos militares e econômicos entre o bloco ocidental e soviético. Entre as várias implicações dessa perspectiva tem o fato de considerar tudo que aconteceu fora desses dois blocos, na “periferia” da Guerra Fria, como sendo sem importância para a compreensão histórica do período. Com relação a esse ponto, a perspectiva da Global Cold War mostra como, ao contrário, os países do Terceiro Mundo, ou mais recentemente, do Sul Global, foram os palcos de alguns dos principais conflitos do pós guerra, e como, ao mesmo tempo, é impossível entender as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais nesses países sem levar em conta as intervenções internacionais das duas superpotências. Isso não significa, no entanto, considerar esses países como meras peças no tabuleiro da Guerra Fria. As políticas e iniciativas desses países eram, ao invés disso, fruto da articulação entre interesses nacionais, estratégias políticas dos governos locais e o contexto de tensão internacional. Nessa linha de pesquisa, o trabalho de Westad e seu livro, de 2005, The Global Cold War foram sem dúvida seminais (WESTAD, 2005). Leia Mais
Em defesa da liberdade: libertos, coartados e livres de cor nos tribunais do Antigo Regime português (Mariana e Lisboa, 1720- 1819) | Fernanda Pinheiro Domingos
Desde a década de 1980, o estudo das chamadas “ações de liberdade” se consolidou na historiografia da escravidão brasileira. Muitos foram os trabalhos publicados sobre a luta judicial pela liberdade e também foram recorrentes estudos sobre crime, família escrava, tráfico e outras questões que se valeram desses processos judiciais como fontes fundamentais para a análise do cotidiano e da agência de escravos, libertos e pessoas livres de cor. O livro de Fernanda Domingos Pinheiro, Em defesa da liberdade: libertos, coartados e livres de cor nos tribunais do Antigo Regime português (Mariana e Lisboa, 1720-1819), insere-se nesse campo já consolidado da história da escravidão, apresentando inúmeras informações que ainda não eram de amplo conhecimento dos pesquisadores do campo e levantando novas questões e perspectivas de análise sobre as relações entre direito, liberdade e escravidão. O livro apresenta uma pesquisa rigorosa e minuciosa sobre os significados e a precarização da liberdade no Império português, baseada, sobretudo, na análise de processos judiciais ajuizados em Mariana e Lisboa. Nessa análise, a autora não deixa de lado nem os argumentos e formas jurídicas específicas que constituíram esses documentos, nem o debate acerca da vivência das pessoas de cor em sociedades escravistas em um sentido mais amplo. Leia Mais
The fearless Benjamin Lay: the Quaker dwarf who became the first revolutionary abolitionist | Marcus Rediker
A memória do antiescravismo por seus agentes
Em 1808, logo após o Parlamento britânico aprovar a extinção do tráfico transatlântico de escravos, o famoso abolicionista Thomas Clarkson publicou o livro The history of the rise, progress and accomplishment of the abolition of the African slave trade by the British parliament. Era o momento ideal para dar início à construção da memória do antiescravismo.2 Clarkson narrou a história do movimento a partir de um ponto de vista fortemente alinhado aos ideais do grupo que assumiu a frente da luta contra a escravidão, que, por sua vez, exprimiam suas concepções políticas e classistas de homens da “middle class” britânica, comprometidos com o credo da religião oficial anglicana. Nessa obra, Clarkson apresentou uma alegoria fluvial para ilustrar o crescimento e fortalecimento do movimento contra o tráfico e a escravidão na Europa e América do Norte. A despeito de seu etnocentrismo, que desconsiderou quase todas as iniciativas antiescravistas ibéricas anteriores, sua alegoria (ou mapa) é um registro valioso da concepção iluminista de progresso, que norteou essa vertente antiescravista. Na alegoria, numa distribuição espaço-temporal, vê-se, por volta de 1650, as primeiras iniciativas antiescravistas. São pequenos regatos e riachos, que trazem nomes de indivíduos ou pequenos grupos, simbolizando as vozes isoladas que se opuseram à escravidão, mas que acabavam desaguando numa única direção e num mesmo rio; com o passar dos anos, apareceram afluentes mais numerosos, que, por sua vez, foram tornando mais encorpado o rio principal; a partir de aproximadamente 1750 as iniciativas se multiplicaram e esses tributários já desaguavam num grande rio que se dirigia ao oceano. Apesar de Clarkson deixar sugerida a conexão existente entre essas iniciativas, ele tomou o cuidado de destacar dois grandes rios separadamente, um da Europa e outro da América do Norte, que virtualmente se encontrariam no oceano da liberdade (CLARKSON, 1808, v. 1, entre as págs 258 e 259). Leia Mais
Tiempo de política, tiempo de constitución: la monarquía hispánica entre la revolución y la reacción (1780-1840) | Ivana Frasquet e Encarna García Monerris
É recorrente o interesse tido pela historiografia em estudar temas relativos à transição do Antigo Regime para a ordem liberal, entendida como o alvorecer da modernidade política. Trata-se de um dos períodos de maior relevância para a história – não só do continente europeu, como também de boa parte da América – em que são compreendidas as transformações do início do século XIX no interior de uma espacialidade Atlântica. Tal aspecto tem profundo destaque também pela historiografia ibero-americana. Nesse caso em específico, busca-se compreender as dinâmicas em torno da ascensão do regime liberal, visto a partir da crise das monarquias espanhola e portuguesa e, consequentemente, da fragmentação dos antigos impérios ibéricos. O livro aqui resenhado trata-se exatamente de uma obra que, de maneira bastante original, se insere nessa lógica. Leia Mais
Diálogos Makii de Francisco Alves de Souza: manuscrito de uma congregação católica de africanos Mina, 1786 | Mariza de Carvalho Soares
A publicação de fontes históricas não é algo muito comum no mercado editorial brasileiro. Neste sentido, é mais do que bem-vinda esta narrativa sobre uma congregação religiosa católica formada por africanos que originalmente vieram para o Brasil escravizados do Golfo do Benim (atual Togo, Benim e Nigéria). Este documento, guardado na seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, foi apresentado ao público através do trabalho de Mariza de Carvalho Soares, uma das mais destacadas africanistas em atividade no Brasil. Partes dele tinham sido exploradas em trabalhos anteriores da pesquisadora, mas somente agora uma edição crítica do documento, com notas explicativas, veio a lume.
Antes deste livro, a autora já havia publicado Devotos da cor, obra que trata da Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia no Rio de Janeiro durante o século XVIII (SOARES, 2000). Ademais, ela também organizou um livro sobre a diáspora da Costa da Mina para o Rio de Janeiro (SOARES, 2007). Em outras palavras, é uma conhecedora desta região africana e da diáspora no Brasil dos povos desta área (conhecida pelos linguistas como “área dos gbe-falantes”). A iniciativa contou com o apoio da Chão, editora nova no mercado e que já tinha publicado documentos sobre Jovita Feitosa, uma voluntária para a Guerra do Paraguai, com comentários de José Murilo de Carvalho (CARVALHO, 2019). Leia Mais
A classe trabalhadora: de Marx ao nosso tempo | Marcelo Badaró Mattos
Marx não dedicou um escrito exclusivo sobre classes sociais. Sobre o tema tratado explicitamente, restou apenas um fragmento de um texto inacabado. Já no Livro I de O Capital o termo “classe operária” aparece dezenas de vezes, porém sem uma conceituação precisa que a defina. Contudo, a despeito de apenas referir-se a elas de forma marginal ou indireta (por vezes proletariado, movimento operário, produtores), por certo constituem um fio condutor que atravessa toda sua obra. Mais que isso, possivelmente, e de forma contraditória, constituam-se de sua categoria mesma de maior alcance, sua “ultima thule2” (MARX, 2011, p. 306-307) um precepto heurístico capaz de transcender as bordas do mundo que ele próprio conheceu. É seguramente ancorado nessa percepção que o professor de História do Trabalho e Sindicalismo, Marcelo Badaró Mattos, da Universidade Federal Fluminense, nos entrega o texto A classe trabalhadora: de Marx ao nosso tempo. Uma sofisticada análise que põe em tela a estrutura e a dinâmica da classe trabalhadora desde sua gênese até sua expressão contemporânea. Leia Mais
Forças Armadas e Política no Brasil | José Murilo de Carvalho
Em 2015, o historiador José Murilo de Carvalho chamou a atenção para um episódio cuja gravidade havia passado despercebida no âmbito da opinião pública. O General Hamilton Mourão celebrou o golpe de 1964 sem despertar reação dos seus superiores ou da presidência da República. Uma luz amarela acendeu-se. Um sinal de alerta a desfazer a crença na reclusão dos militares às suas atividades profissionais. Significava a retomada do envolvimento das Forças Armadas na política brasileira?
Com a redemocratização do Brasil e a aprovação da Constituição de 1988, a agenda política foi tomada por outros assuntos mais urgentes, passando os militares a um papel secundário no quadro das preocupações dos analistas, da imprensa e das forças partidárias. Entretanto, a atuação dos militares nos recentes acontecimentos do País modificou tal percepção, restaurando a questão do protagonismo político dos militares. O livro de José Murilo é mais do que oportuno. Recoloca uma vez mais não só a necessidade, mas a urgência do estudo dos militares no passado e no presente da vida nacional. Trata-se de uma reedição ampliada, disponível em versão impressa e em formato digital, que oferece aos leitores, novos capítulos tanto sobre a história dos militares quanto da sua atuação recente. Leia Mais
Políticas da inimizade | Achille Mbembe
Saiu em português de Portugal pela Antígona, com o título Políticas da inimizade, a tradução de Politiques de l’inimitié, publicado em 2016 pela Éditions La Découverte, do professor de história e de ciência política Achille Mbembe. Nascido em 1957 em Otété, Camarões, um dos mais importantes intelectuais cosmopolitas da atualidade, o autor leciona no Witwatersrand Institute for Social and Economic Research e já publicou títulos importantes como Crítica da razão negra (MBEMBE, 2014) que também tem tradução em Portugal, original, Critique de la raison nègre (MBEMBE, 2013a), Sortir de la grande nuit (MBEMBE, 2013b) e De la postcolonie (MBEMBE, 2000).
O livro tem cinco capítulos, alguns deles já publicados em revistas em edições anteriores, uma introdução e uma conclusão. Além do profundo e crítico diálogo com os estudos pós-coloniais, o chamado pós-estruturalismo e a historiografia e teoria política contemporâneas, familiar para quem conhece o autor, os ensaios possuem um interlocutor principal: o martiniquenho Frantz Fanon. Leia Mais
A história na moda, a moda na história | Paulo Debom, Camila Borges e Joana Monteleone
A convergência para estudos históricos que têm a moda e o consumo como foco central é um denominador comum na trajetória acadêmica de Camila Borges, Joana Monteleone e Paulo Debom. Parceiros na organização do simpósio temático “Moda, imagem & poder”, que desde 2012 integra o programa da Semana de História Política-Seminário Nacional de História: Política, Cultura e Sociedade, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente em sua 13ª edição, Paulo Debom e Camila Borges estenderam a bem-sucedida colaboração à organização, com Joana Monteleone, do livro A história na moda, a moda na história, publicado em 2019 pela Alameda Editorial. Trata-se de uma coletânea de trabalhos de pesquisadores brasileiros provenientes de áreas e formações diversas, norteados pelo tema da moda em suas abordagens investigativas.
Se, nos anos 1980, poderia se afirmar que a questão da moda não causava furor no mundo intelectual e quase não aparecia “no questionamento teórico das cabeças pensantes” (LIPOVETSKY, 2002, p. 9), na década seguinte já se podia afirmar que “a roupa e a moda se tornaram finalmente veículos para debates que agora estão no centro dos estudos em cultura visual e material” (BREWARD, 1998, p. 301-313). No ensaio Fashion and the postmodern body, a historiadora inglesa Elizabeth Wilson atestou uma virada no panorama acadêmico no início da década de 1990, com o crescente interesse por estudos relacionados à moda: “The postmodernism debate helped rescue the study of dress from its lowly status, and has created – or at least named – a climate in which any cultural and aesthetic object may be taken seriously”1 (WILSON, 1992, p. 6). Leia Mais
Plínio Salgado: um católico integralista entre Portugal e o Brasil (1895-1975 | Leandro Pereira Gonçalves
Desde os trabalhos pioneiros de Hélgio Trindade (1974, 2007) na década de 1970 a respeito do Integralismo brasileiro, diversos outros estudos procuraram apresentar novas abordagens sobre o tema (CHASIN, 1999; CHAUÍ, 1985; VASCONCELOS, 1979). Também a produção acadêmica comparativa dos autoritarismos português e brasileiro, iniciada no trabalho organizado por José Luiz Werneck da Silva (1991), prosperou em análises diversas, fortalecendo aos poucos este campo de investigação (PINTO; MARTINHO, 2007).
O trabalho de Leandro Pereira Gonçalves, Plínio Salgado: um católico integralista entre Portugal e o Brasil (1895-1975), vem, portanto, contribuir com uma tradição importante e já consolidada de pesquisas a respeito do integralismo e das direitas radicais. O livro tem, como objeto de análise, o pensamento e a produção intelectual do mais importante político do movimento integralista brasileiro: Plínio Salgado. Ao mesmo tempo, o autor lança luz sobre as possibilidades de investigações acadêmicas comparativas acerca de Portugal e do Brasil. Longe, entretanto, da mera repetição, seu estudo acrescenta novidades ao complexo universo das direitas no século XX, não só no Brasil como também na Europa. Leia Mais
O velho Marx: uma biografia de seus últimos anos (1881-1883) | Marcello Musto
Karl Marx seguramente figura entre os autores mais debatidos e analisados nos últimos cem anos. A vasta bibliografia que toma o pensamento de Marx por objeto poderia sugerir que falta pouco a ser dito de forma original. No entanto, a produção intelectual em torno de Marx parece escapar a este itinerário lógico e surge como uma fonte inesgotável de reflexões que, de diferentes maneiras, segue instigando e propiciando um renovado debate. É esta capacidade de constante atualização que alimenta as diversas tradições no âmbito das culturas marxistas e, mesmo, o renovado (e variado) interesse do pensamento crítico de forma geral.
Se é inegável, por um lado, que a vida e obra de Marx jamais deixaram de ser objeto de pesquisa ao redor do mundo, por outro, no período aberto após o fim da União Soviética e o ocaso do chamado “socialismo real”, o legado do pensador alemão parecia encontrar-se numa encruzilhada fatal. A crise econômica de 2008 mudou sensivelmente este cenário, renovando o interesse em Marx e o afirmando como um dos autores mais debatidos no século XXI. Não apenas suas análises e elaborações teóricas ganharam um novo impulso junto ao grande público, mas também sua trajetória de vida desperta curiosidade, como atesta o sucesso do filme O jovem Karl Marx, dirigido por Raoul Peck e lançado em 2017. Neste contexto, o livro O velho Marx: uma biografia de seus últimos anos (1881-1883), escrito por Marcello Musto e publicado em 2018 pela editora Boitempo, surge como uma importante contribuição na busca por preencher lacunas e por aprimorar a nossa compreensão do legado de Marx. Leia Mais
Arte e conhecimento em Leonardo da Vinci | Alfredo Bosi || Leonardo da Vince | Walter Isaacson
A tarefa do historiador
Historiadores visam compreender eventos passados. Restos de colunas sugerem um templo que eles tentam imaginar utilizando elementos preservados. Entretanto, às vezes, nem restos existem. Em sua Institutio oratoria, Quintiliano discute Virgílio e Ovídio, comenta que Macer e Lucrécio valem a leitura e, então, menciona Varrão Atacino, Cornélio Severo, Saleio Basso, Gaio Rabírio, Albinovano Pedo, Marco Fúrio Bibáculo, Lúcio Ácio, Marco Pacúvio e outros poetas que admirava. Desses autores, hoje só existem obras de Virgílio, Ovídio e Lucrécio (GREENBLATT, 2011, p. 59). Historiadores não podem imaginar autores que sequer sobreviveram enquanto nomes. Então, ao escrever, eles tentam encaixar peças fragmentadas de um quebra-cabeças cujo amplo desenho conhecem vagamente, e desconhecem suas dimensões.
Existem inúmeras abordagens para estudar fragmentos de épocas passadas. No caso de documentos escritos, a História Conceitual talvez seja uma das abordagens mais importantes, pois conceitos estruturam questões de época e permitem relacionar momentos distintos. Matteo Palmieri, humanista e embaixador florentino, escreveu entre 1431 e 1438 o Libro della vita civile [Livro da vida civil], no qual fala a respeito da formação para viver dignamente em uma “ótima república”: Leia Mais
Ruptura: a crise da democracia liberal | Manuel Castells
Manuel Castells é doutor em sociologia pela Universidade de Paris, onde leciona nas áreas de Sociologia, Comunicação e Planejamento Urbano e Regional. Estudioso da era da informação, Castells avalia a influência da comunicação em rede nas sociedades conectadas e suas principais transformações no final do século XX. Das suas obras principais, destaca-se a coleção A era da informação, composta por três livros (A sociedade em rede, O poder da identidade e Fim de milênio). Nesta resenha, apresenta-se uma de suas mais recentes contribuições para o debate acerca da Democracia e dos inimigos que a rodeiam, oferecendo uma perspectiva de interpretação que aponta para a ruptura no processo de consolidação das democracias no mundo.
“Sopram ventos malignos no planeta azul”. Assim, Castells abre seu livro de cinco capítulos, montando, inicialmente, o panorama no qual sua contribuição se inscreve. Crises múltiplas, precariedades no mundo do trabalho, fanatismos de toda ordem, restrição das liberdades em nome de uma segurança vigiada – “Fomos transformados em dados” (CASTELLS, 2018, p. 4), diz o autor. A era da comunicação foi convertida em uma era da pós-verdade, em que mentiras são torpedeadas por diversos mecanismos de comunicação e alçadas à categoria de verdades absolutas. Existe, porém, segundo o autor, uma crise ainda mais significativa: o colapso das instituições representativas, que se configura enquanto crise cognitiva e emocional. Nosso modelo de representação e governança, a democracia liberal caiu em descrença e enfrenta hoje a fúria das ruas. Dessa rejeição, surgem figuras políticas que negam a estrutura partidária e aprofundam a desordem mundial ao promover o segregacionismo e o protecionismo. De modo geral, o autor aborda nesse livro a crise da democracia liberal; a ruptura da representatividade entre cidadãos e governos; e os desafios da procura por instrumentos legítimos capazes de sanar esse “furacão sobre nossas vidas”. Leia Mais
Unidos perderemos: a construção do federalismo republicano brasileiro | Cláudia Maria Ribeiro Viscardi
Dizer que “Não há na História do Brasil nada mais velho que a ‘República Velha’” (VISCARDI, 2017, p. 18) é uma feliz escolha para propor a revisitação da política de transição entre a Monarquia e a República e discutir os impactos do federalismo na organização política nacional. Este é um dos enfoques de Cláudia Maria Ribeiro Viscardi, professora titular do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Autora de Teatro das Oligarquias (VISCARDI, 2001), obra enraizada na historiografia para oferecer uma leitura concisa sobre a participação dos estados-atores na política da primeira fase republicana, Viscardi apresenta uma nova proposta a respeito das consequências do federalismo na conjuntura do início da República e particularmente do governo Campos Sales. Unidos perderemos, como reconhece a autora, é uma continuação de discussões específicas sobre a descentralização política à época dos debates republicano-federativos. Leia Mais
Amsterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil – GROESEN (RH-USP)
GROESEN, Michiel van. Amsterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2017. Resenha de: FERREIRA, Bictor Bertocchi. O mundo atlântico pelo prisma da opinião pública. Revista de História (São Paulo) n.178 São Paulo 2019.
Em seu mais recente trabalho, o historiador neerlandês Michiel van Groesen dá sequência a seus estudos sobre a cultura impressa europeia referente à América e ao mundo atlântico. Se, em sua tese de doutoramento, o agora professor de História Marítima da Universidade de Leiden teve por objeto a publicação dos relatos de viagem e as estratégias editoriais da família De Bry (GROESEN, 2008), em Amsterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil o autor escreve a história de como as ações militares, comerciais e evangelizadoras da Companhia das Índias Ocidentais (WIC) no Atlântico foram assimiladas pela população de Amsterdam, transformando-se em objeto de acalorado debate público.
O termo Print Culture (Cultura Impressa) incluído no subtítulo não expressa, entretanto, a real dimensão do livro. As mídias impressas e as práticas sociais a elas relacionadas representam, indubitavelmente, parcela substantiva do estudo de Groesen. Porém, a unidade de análise por meio da qual a história da ascensão e queda do “Brasil holandês” se apresenta em sua totalidade histórica é a da “opinião pública”. O objetivo da obra é mostrar não apenas como o mundo atlântico invadiu os circuitos de informação e discussão de Amsterdam, mas também a maneira pela qual esses mesmos canais e a própria lógica do debate público impactaram os rumos dos acontecimentos atlânticos. Nas palavras do autor,
“Print may have initiated and stimulated popular interest in Brazil, but public opinion and its reflections in print ultimately determined how and why Dutch Brazil came to be ‘Amsterdamnified’.” (GROESEN, 2017, p. 8).
Por esta razão, ao apresentar os argumentos de Amsterdam’s Atlantic, o historiador ressalta mais uma vez a centralidade do conceito de opinião pública:
“By emphasizing public opinion, I therefore aspire to achieve two broader goals. First, I will demonstrate the relevance of Atlantic history for the Dutch Republic, in that information from across the ocean transformed opinion making at home in a way other colonial ventures had never done. And, second, I will demonstrate the relevance of the Dutch Republic for Atlantic history, urging scholars to look beyond the discourse of empire that has traditionally favored Spain and Britain (and to a lesser extent Portugal and France) and appreciate the crucial role of news, information, and public opinion in the making of the Atlantic world.” (GROESEN, 2017, p. 9).
Que a unidade de análise de Amsterdam’s Atlantic ultrapassa a cultura impressa podemos constatar também pela diversidade de fontes manejadas por Groesen. Nos primeiros capítulos, os argumentos são construídos sobretudo a partir dos “jornais” (newspapers) publicados semanalmente por Broer Jansz. e Jan van Hilten, além dos “mapas de notícias” (news maps, p. 51) comissionados pela WIC e produzidos por Claes Jansz. Visscher e Hessel Gerritsz. Porém, em função do aumento da presença neerlandesa no Atlântico e o vai-e-vem contínuo de soldados, marinheiros, ministros da Igreja Calvinista, mercadores, indígenas e africanos, o conjunto de testemunhas oculares das vicissitudes americanas fez ampliar as redes informais de comunicação, dilapidando a proeminência das mídias impressas. Por meio de cartas privadas, diários, um album amicorum, panfletos avulsos, sermões, poemas e até mesmo pelas petições dirigidas à WIC, o autor consegue inferir e mapear essas redes, fazendo-nos ver a importância das relações entre familiares, vizinhos e conhecidos, o poder do púlpito e os contatos travados na região portuária, nas tabernas, bordéis, hospedarias e imediações da Bolsa de Amsterdam. Atento aqui à junção entre história urbana e história da comunicação, o autor assim reconstitui espacialmente a arena de informação e discussão por meio da qual o Atlântico penetrava a cidade.
Os seis capítulos que compõem o livro organizam o enredo de uma forma ao mesmo tempo cronológica e temática, o que torna a leitura fluida e a compreensão do texto clara. Ao passo em que a história do “Brasil holandês” vista a partir de Amsterdam se desenrola, passando pelo gradual envolvimento da população com temas brasileiros, a celebração das primeiras vitórias, o crescimento das tensões e disputas, o jogo da “culpabilização” pela derrota e a rememoração da antiga colônia, Groesen nos apresenta os elementos que definem o engajamento da opinião pública com as matérias atlânticas. Nesse sentido, reflete-se, por exemplo, sobre os gargalos da comunicação entre Europa e América, responsáveis por formatar uma “cultura de antecipação” (culture of anticipation): a demora das notícias amplificava a expectativa da população, estimulando hábeis editores a prepararem livretos e panfletos para o imediato momento da confirmação das vitórias militares.
Outro aspecto diz respeito ao já citado aumento dos canais de informação sobre o Atlântico, que não só diminuía a primazia das mídias impressas tradicionais, como também facilitava a apropriação das matérias atlânticas por segmentos médios e baixos da população, conferindo-lhes capacidade de agência frente às instâncias que geriam a Companhia. Isso pode ser visto na maneira frequente com que mães, esposas e viúvas de soldados e marinheiros traziam demandas às reuniões da Câmara de Amsterdam (um dos cinco escritórios que compunham a administração da WIC). O relativo sucesso com que tais mulheres exigiam o pagamento dos soldos de seus familiares mostra o quão bem informadas mantinham-se pelas redes de comunicação existentes sobre o que ocorria do outro lado do oceano. A aparente preocupação em receber as demandas e, acima de tudo, aceitar os pedidos, revela, por sua vez, o cuidado dos diretores em manter a credibilidade da Companhia em alta.
As tentativas da WIC de criar um consenso público em torno das iniciativas coloniais no Brasil mostraram-se, a médio prazo, infrutíferas. Se nos primeiros anos, os esforços publicísticos da Companhia e a conjuntura de vitórias marítimas foram suficientes para manter um relativo “controle” do debate público, com a Insurreição Pernambucana (1645) e o crescente endividamento da empresa, antigas fraturas antes abafadas reapareceram com virulência em panfletos anônimos, mostrando que também o mundo Atlântico estaria sujeito à feroz “cultura de discussão” (discussion culture) de Amsterdam. Esse aspecto da opinião pública é sintetizado por Groesen através do neologismo Amsterdamnified (capítulo 5), termo retirado de um panfleto escrito pelo poeta inglês John Taylor em 1641. A expressão resume a maneira como o acirramento do debate público em Amsterdam poderia, por vezes, sair da esfera de controle das autoridades municipais, adquirindo uma dinâmica própria na qual escritores profissionais e editores, protegidos pelo anonimato, inflamavam a audiência urbana. Em defesa da colônia, panfletos acusavam de traição oficiais do exército, ou mesmo regentes de Amsterdam, pela alegada recusa de apoio à WIC. Folhetos contra os defensores da Companhia, em contrapartida, também se tornaram abundantes no período, criticando o estado calamitoso da Nova Holanda. O ano de 1649, em particular, experimentou o apogeu das praatjes (diálogos), gênero de panfletos impressos nos quais os temas cotidianos eram apresentados através da encenação de conversas entre figuras típicas locais.
Ao fim, a WIC perderia a batalha doméstica pela opinião pública, erodindo parte do que lhe restava do suporte político nas Províncias Unidas e apressando, segundo o autor, a queda de Recife. Os regentes de Amsterdam, justamente no momento em que a Companhia mais precisava de auxílio financeiro, recusaram-se a salvar a colônia em apuros. O abandono do “Brasil holandês” pela cidade teria, com efeito, um papel decisivo nos rumos da guerra luso-neerlandesa.
A perda da colônia americana não significou, todavia, o fim das representações sobre o Brasil nas Províncias Unidas. No sexto capítulo, Groesen apresenta quais imagens permaneceram vivas na memória coletiva dos neerlandeses. Impulsionando tal esforço de rememoração encontrava-se, em primeiro lugar, a própria campanha publicística levada a cabo pelo conde João Maurício de Nassau, que utilizaria o conjunto de pinturas, livros e utensílios referentes ao Brasil como capital político na corte de Haia. Ao lado das obras patrocinadas por Nassau, circulavam também no mercado neerlandês os quadros feitos por Frans Post após seu retorno a Haarlem. Os temas e motivos tropicais pintados nessa fase de sua carreira passariam a impulsionar uma imagem supostamente “exótica” do Brasil, em franco contraste com as representações do período de ocupação da colônia, detentoras de “elementos etnográficos” particulares ao impulso nassoviano. Finalmente, a imagem do Brasil permaneceria indiretamente presente na celebração dos almirantes da WIC. A partir da década de 1650, dá-se início nas Províncias Unidas àquilo que ficaria conhecido como o “culto aos heróis navais” (LAWRENCE, 1992). Livros e biografias coletivas sobre as principais batalhas e almirantes dariam grande espaço à rememoração de homens que fizeram sua fama no Atlântico, como Hendrick Loncq, Jan Lichthart, Joost Banckert e Jacob Willekens. Piet Heyn, o mais célebre de todos, se tornou conhecido não apenas pelo roubo da frota de prata (1628), mas também pelos ataques a Salvador em 1624 e 1627, sobre os quais desde a segunda metade do século XVII até a segunda metade do XIX seria produzida rica iconografia.
O argumento central de Amsterdam’s Atlantic repousa no conceito que amarra o livro na Conclusão: a existência de um Atlântico Público durante o período moderno. Groesen quer com isso chamar atenção, em primeiro lugar, para o ávido interesse com que o Atlântico era acompanhado pelas audiências europeias. Vitórias e derrotas em pontos extremos do oceano repercutiam no circuito de informações e nos espaços de debate público, mostrando que a matéria atlântica havia se transformado em elemento da cultura política europeia. Mas, no caminho inverso, o autor mostra pelo exemplo do “Brasil holandês” como a cultura de discussão e o acirramento do debate público mantinham estreita relação com os rumos dos acontecimentos atlânticos. As opiniões defendidas calorosamente nos circuitos de discussão tinham a capacidade de influenciar os agentes e instituições engajadas nas tarefas coloniais: o Atlântico transformava-se, assim, em opinião veiculada na praça pública, impactando as respostas com que estados e companhias europeias reagiam aos desafios imperiais.
“Contemporaries in Amsterdam (and possibly elsewhere in Europe) realized that their own opinions might help consolidate or change the course of Atlantic developments. This not only raised the stakes of public debate in early modern Europe but also raises the significance of a ‘public Atlantic’ for the field of Atlantic history.” (GROESEN, 2017, p. 194).
Embora o livro se coloque como um estudo sobre História Atlântica – o que sem dúvida alguma é -, o conceito de Atlântico Público tal qual formulado por Groesen não é operativo para todo o mundo atlântico. Vale lembrar que o livro fornece um estudo de caso que, segundo o autor, poderia ser extrapolado para outras comunidades políticas europeias, para as quais o Atlântico também teria relevância enquanto matéria de discussão pública. Que todos os exemplos se refiram às sociedades europeias se explica pela própria unidade de análise subjacente ao estudo:
“The making of news and opinion on Dutch Brazil was an exclusively European affair.” (GROESEN, 2017, p. 4).
Com efeito, Groesen mostra implicitamente como a compreende e quais os limites de sua aplicação: o resultado, ao fim, é que embora o Atlântico seja público, o público que discute mediante opiniões não é atlântico, mas exclusivamente europeu.
A história do ocaso da WIC e do “Brasil holandês”, contada a partir da opinião pública de Amsterdam, pode por vezes tornar opacas algumas das grandes tensões políticas entre grupos e frações de classe que operavam por trás de panfletos anônimos. Em alguns momentos do livro – sobretudo no capítulo 5 – a ênfase dada à lógica do debate público – em particular a seus aspectos editoriais – acaba por relegar a um plano secundário as forças sociopolíticas rivais à WIC, que possivelmente manejaram de forma ativa tais canais. Veja-se por exemplo o ciclo de diálogos anônimos publicados em 1649 contra a Companhia, o qual Groesen limita-se a classificar como uma “poderosa campanha midiática emanada de Amsterdam”, sem questionar especificamente qual ou quais grupos poderiam ter de fato se engajado nessa polêmica. Os “diálogos” de 1649 servem, para o autor, como exemplo da citada “Amsterdamnização” do debate público. Mesmo com a dificuldade advinda da natureza das fontes arroladas – escritos anônimos -, o leitor perde a referência dos interesses econômicos e geopolíticos subjacentes. Com efeito, a dilapidação da credibilidade da WIC parece ter sido obra apenas dessa lógica do debate público e de seus “profissionais”.3
A crítica, porém, em nada reduz a qualidade e relevância de Amsterdam’s Atlantic, uma vez que a grande questão de fundo da investigação de Groesen – ponto candente dentro da historiografia da colonização europeia no Novo Mundo – gira em torno do impacto que a colonização das Américas teve para os rumos das sociedades europeias. Vale lembrar que John Elliot, em The Old World and the New: 1492-1650 – um dos primeiros a elaborar a questão em seus contornos precisos -, havia minimizado o poder do Novo Mundo como referência cultural ao Velho. No início dos anos 2000, o estudo de Benjamin Schmidt, que assim como Groesen parte da experiência colonial neerlandesa do século XVII, já respondia ao problema em novos termos, apontando a importância da América e dos americanos como referência fundamental na construção do discurso político neerlandês durante a Guerra dos Oitenta Anos (SCHMIDT, 2006). A originalidade de Groesen é enfrentar o problema por meio de uma outra unidade de análise – até então pouco explorada nos estudos sobre o mundo atlântico -, desafiando, mais uma vez, a ideia de que o impacto da América na Europa teria sido menor ou tardio.
As contribuições de Amsterdam’s Atlantic ultrapassam, portanto, o campo historiográfico do “Brasil holandês”, colocando-se no ponto de intersecção entre História Atlântica e História Moderna. O livro apresenta um rico conjunto de evidências que sustentam as teses propostas, comprovando, assim, a importância das notícias atlânticas para a cultura política europeia.
1O autor também editou o livro The Legacy of Dutch Brazil (GROESEN, 2014).
2“a powerful media campaign emanating from Amsterdam throughout 1649.” (GROSEN, 2017, p. 138). Há dois aspectos importantes na maneira como o autor lida com a questão. De um lado, a disputa é descrita como uma luta entre Zelândia e Amsterdam, sem levar em conta os grupos econômicos que, na maior cidade holandesa, apoiavam a Companhia. Por outro, a ênfase na “Amsterdamnização” do debate, promovida por uma mídia impressa sem sujeitos ou grupos concretos, nubla os interesses em jogo. “In the second half of the 1640s, the print media exploited the polarization to an extent that public discussion on Brazil could be conducted only by anonymous authors and printers whose addresses and names did not exist. At the same time, their rhetoric concretely named and shamed public figures such as Amsterdam burgomasters and the local directors of the West India Company or used stereotypically ordinary citizens to castigate the corrupted regent class.” (GROESEN, 2017, p. 156, grifo nosso).
3Como não pensar no paralelismo entre o que se discute no capítulo 5 e os acontecimentos que marcaram o ano de 2016 na Inglaterra e nos Estados Unidos? Sem embargo da distância entre o século XVII e o mundo contemporâneo, a aproximação dos dois contextos pode ter ao menos uma importante valia: tanto quanto a lógica dos canais de discussão, importa investigar a participação furtiva de agentes com desigual capacidade de intervir nos debates públicos.
Editores responsáveis pela publicação:
Iris Kantor e Rafael de Bivar Marquese.
Referências
GROESEN, Michiel van. The Representations of the Overseas World in the De Bry Collection of Voyages (1590-1634). Leiden & Boston: Brill, 2008. [ Links ]
GROESEN, Michiel van . The Legacy of Dutch Brazil. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. [ Links ]
GROESEN, Michiel van . Amsterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2017. [ Links ]
LAWRENCE, Cynthia. “Hendrick de Keyser’s Heemskerk Monument: The Origins of the Cult and Iconography of Dutch Naval Heroes”. Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art, Vol. 21, No. 4, 1992, p. 265-295. [ Links ]
SCHMIDT, Benjamin. Innocence Abroad. The Dutch Imagination and the New World, 1570-1670. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. [ Links ]
Victor Bertocchi Ferreira – Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, processo 2016/21278-5). E-mail: [email protected].
Cattle in the backlands: Mato Grosso and the evolution of ranching in the Brazilian Tropics – WILCOX (RH-USP)
WILCOX, Robert W. Cattle in the backlands: Mato Grosso and the evolution of ranching in the Brazilian Tropics. Austin: University of Texas Press, 2017. Resenha De: DUTRA E SILVA, Sandro. A fronteira do gado no sertão de Mato Grosso. Revista de História (São Paulo) n.178 São Paulo 2019.
A expansão da fronteira do gado é, provavelmente, um dos temas que mais apresenta convergências históricas sobre o continente americano. Essa expansão foi uma atividade que evidenciou, por diferentes registros, o impacto da presença do colonizador no Novo Mundo (DUTRA E SILVA et al., 2015). Seja por meio da introdução de animais ou de gramíneas exóticas, a fronteira do gado tem muito a responder sobre a relação entre sociedade e natureza nas diferentes paisagens das Américas. A obra de Robert Wilcox nos mostra que esse tema é ainda vibrante, fascinante, sedutor, e suas múltiplas análises e abordagens o tornam também relevante historicamente. Ou seja, a história da fronteira do gado no Novo Mundo é um tema fértil para estudiosos dedicados às mais distintas disciplinas e áreas do conhecimento, e isso não foge da produção historiográfica, seja pela diversidade de análises, atores, práticas, representações ou pela riqueza documental, até então pouco exploradas. Tudo isso está bastante visível no competente e original trabalho de Wilcox e em seu estudo sobre a expansão do gado no antigo estado de Mato Grosso e os desafios para o desenvolvimento dessa atividade nos trópicos.
Ele analisa uma fronteira distante, porém não isolada, como era conhecida a região do Mato Grosso, situada no extremo oeste do Brasil. Arrisco essa afirmação acima, porque mesmo que os caminhos e as conexões com os grandes centros econômicos do Brasil parecessem distantes, a localização dessa região na divisa com outras nações sul-americanas a colocava numa rota de influência de importantes centros exportadores de carne bovina, como o Paraguai, Argentina e Uruguai. A forma como essa relação se estabelece no texto é admirável, não apenas pela farta documentação e dados econômicos, mas também por evidenciar o sentido das distâncias e proximidades na geopolítica sul-americana.
Diferente da tese proposta por David McCreery (2006) sobre a isolada e distante província goiana, o estudo de Wilcox explora a riqueza das relações internas e externas no comércio, produção e sociabilidade na fronteira do gado em Mato Grosso. Seu escopo temporal permitiu ao autor descrever não meramente a evolução desse sistema a partir de narrativas que privilegiassem as estruturas e a lógica, mas também inserir análises relacionadas à ecologia, sociedade, tecnologia e ao cotidiano da fronteira do gado.
O autor descreve com muita propriedade as paisagens do Mato Grosso, registrando a complexidade e a diversidade da composição ecológica. Procura, igualmente, apresentar a interação desse ambiente com aquilo que denomina de ranching system, ou “sistema de produção de gado”. Esse capricho descritivo compõe um dos pontos fortes do livro e evidencia um fenômeno historiográfico interessante – o crescimento de trabalhos históricos ambientais sobre as paisagens latino-americanas . A adesão de Wilcox à história ambiental fica claro na eficiente incorporação dos fatores geográficos e climáticos, do mesmo modo que a variedade de fitofisionomias que compunham o vasto território do antigo Mato Grosso, visualizado por ele como sendo a terra da promissão para a atividade pecuária (promissed land of ranching).
Ecossistemas como o pantanal, cerrado e campo limpo foram abordados a partir da sua diversidade ambiental e dos desafios ao colonizador. A tarefa historiográfica de lidar com a dinâmica dos dados socioeconômicos e a conexão dos dados com a diversidade das paisagens não é um exercício fácil (EVANS; DUTRA E SILVA, 2017). Em geral, os historiadores ambientais se debruçam sobre análises que contemplam um ambiente geralmente homogêneo de fitofisionomias. Nesse sentido é que ressaltamos a lucidez interpretativa de Wilcox e seu esforço em descrever esse ambiente heterogêneo sobre o qual seu objeto se distribui. A diversidade é uma caracteriza fundamental nas paisagens com as quais Wilcox está lidando em seu livro, variando desde áreas alagadiças e úmidas a zonas mais secas e ameaçadas pelo fogo na estiagem. Também compreende áreas bem mais florestadas e mesmo outras de campos limpos, dominados por gramíneas nativas. Em grande parte, são áreas onde as paisagens se modificam sazonalmente e de forma absoluta. Mas ele não se intimida com esse desafio, enfrentando-o com coragem e lucidez. Há de se ressaltar que apenas coragem não bastaria. Por essa razão é que destacamos a lucidez interpretativa no uso dos recursos teórico-metodológicos disponíveis, bem apropriados pelo autor.
Acredito ser importante reforçar que Wilcox não posiciona o seu trabalho como sendo um produto histórico-ambiental. Sua pesquisa vai além dessa fronteira historiográfica. Tampouco é uma história econômica no sentido stricto, na medida em que a expansão capitalista e os investimentos na produção e comércio do gado consideram, de igual forma, as análises culturais sobre o papel dos diferentes atores sociais, suas práticas, sentidos e as representações da cultura rancheira.
Neste livro, o leitor é convidado a conhecer importantes análises sobre o mercado internacional da carne e como o Brasil aproveitou as oportunidades abertas pelas duas grandes guerras do século XX. Nesse sentido, fontes históricas auxiliam em seu debate sobre a indústria bovina e as questões de inovação tecnológica e de infraestrutura para a logística e exportação do produto. A narrativa não privilegia os dados quantitativos da produção, contudo procura dialogar com variáreis interpretativas, que enriquecem os argumentos sobre o sistema produtivo, a saber: (i) a qualidade do sal na produção do charque; (ii) o contrabando e a concorrência dos mercados na fronteira; (iii) a expansão ferroviária, implicações e variáveis do transporte fluvial, as dependências ambientais, entre outras.
Como na maioria dos enredos de fronteira, as questões agrárias e o acesso à terra aparecem nos estudos de Wilcox sobre o ranching system em Mato Grosso. Isso nos faz lembrar as críticas à tese de Frederick J. Turner (2010) e sua visão romântica da fronteira, tão criticada, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina. A fronteira, atualmente, está muito mais associada às barbáries e violências no campo do que à visão da terra prometida (WORSTER, 2017). É provável, também, que este seja um dos problemas que ainda persistem no Mato Grosso e na expansão da fronteira agropecuária nessa região do Brasil. O estado, além de deter o maior rebanho bovino do país, tem ainda importantes áreas dedicadas à produção de grãos e commodities para o mercado externo. As pressões sobre as áreas florestadas na Amazônia e territórios indígenas indicam que as questões agrárias na região é ainda um tema recorrente, por isso a relevância do trabalho de Wilcox, que reforça as origens de um processo dramático que envolve conflito, barbárie e toda sorte de violência. Além de expor a fragilidade de camponeses e indígenas frente às pressões do capital.
Wilcox descreve ricamente o papel dos vaqueiros, boiadeiros (cowboys), peões (ranch hands) e tropeiros (cattle drives), apresentando uma heterogeneidade cultural sobre as diferentes tarefas na lida com o gado. O autor ousa ao dialogar com a literatura e explorar as potencialidades da narrativa ficcional para a análise histórica. Isso pode ser identificado, por exemplo, na análise feita sobre o ofício dos tropeiros, ao afirmar que “[o]ne of the most romantic scenes in the literature of ranching in the Americas is the cattle drive” (WILCOX, 2017, p. 151). Os pressupostos do autor não estão focados exclusivamente na atividade da força de trabalho em si. Não obstante, evidencia as recorrências e similaridades entre esses personagens nos sertões (ou nas backlands) do continente americano. E aqui reside, em minha opinião, uma das abordagens mais preciosas do trabalho de Wilcox, bem como sua habilidade e competência como historiador. A leitura sobre as personagens ligadas à cultura do gado no texto me trouxe à memória a obra célebre do escritor goiano Hugo Carvalho Ramos Tropas e boiadas (RAMOS, 1986). Escrito em 1917, esse clássico da literatura regional reflete a riqueza simbólica dessas personagens no Brasil Central (DUTRA E SILVA, 2017). Honestamente, confesso que me interessei em saber mais sobre esse tema e ver outras narrativas das Américas. Talvez, não seja essa uma nova empreitada do autor? Eu, definitivamente, o encorajaria.
Os dois últimos capítulos do livro, no entanto, refletem a maturidade e a habilidade acadêmica do historiador em seu hercúleo esforço interdisciplinar de relacionar história e natureza. Um conjunto de abordagens são apresentadas nesses capítulos finais e que evidenciam os desafios da expansão da fronteira nos trópicos. A narrativa esclarece muito, a partir de outra perspectiva, o que a historiografia brasileira da primeira metade do século XX costumada a conceituar como a “conquista” do hinterland. Wilcox evita o argumento da imposição ecológica imperialista (CROSBY, 2011). Todavia, apresenta uma versão convincente sobre o tema em que a incorporação de novas tecnológicas (introdução de gramíneas exóticas; o melhoramento genético de animais; o manejo da dieta de minerais e nutrientes; o controle de pragas e doenças) indicam o quão atraente e abrangente é a história da ocupação humana nos trópicos. O autor não focaliza os reflexos imediatos e os impactos desses processos no ambiente natural, entretanto, a sua narrativa suscita críticas evidentes. Nessa perspectiva, a obra de Wilcox além de relevante torna-se necessária para o momento histórico em que as questões envolvendo sociedade e natureza ultrapassam as fronteiras disciplinares do conhecimento.
Editores responsáveis pela publicação: Iris Kantor e Rafael de Bivar Marquese
Referências
BELL, Stephen. Campanha Gaúcha: a Brazilian ranching system, 1850-1920. Stanford: Stanford University Press, 1998. [ Links ]
BELL, Stephen. Making tracks toward the environmental history of Brazil: a personal journey in historical geography. Fronteiras, Anápolis, v. 3, n. 2, p. 15-33, 2014. ISSN 2238-8869. Disponível em: <http://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/fronteiras/article/view/1000>. Acesso em: 20 dez. 2017. doi: https://doi.org/10.21664/2238-8869.2014v3i2.p15-33. [ Links ]
CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa 900-1900. Tradução de José Augusto Ribeiro e Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. [ Links ]
DUTRA E SILVA, Sandro et al. A Fronteira do Gado e a Melinis Minutfora P. Beauv. (Poaceae): a história ambiental e as paisagens campestres do Cerrado goiano no século XIX. Sustentabilidade em Debate, Brasília, DF, v. 6, n. 2, p. 17-32, 2015. ISSN 2179-9067. Disponível em: <http://periodicos.unb.br/index.php/sust/article/view/15469>. Acesso em: 12 nov. 2017. doi: http://dx.doi.org/10.18472/SustDeb.v6n2.2015.15469. [ Links ]
DUTRA E SILVA, Sandro et al. The cerrado of Goiás in the literature of Bernardo Élis, from a viewpoint of environmental history. História, Ciências, Saúde, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 93-110, 2017. ISSN 1678-4758. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v24n1/en_0104-5970-hcsm-S0104-59702016005000024.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2017. doi: http://dx.doi.org/10.1590/s0104-59702016005000024. [ Links ]
EVANS, Sterling & DUTRA E SILVA, Sandro. Crossing the Green Line: Frontier, environment and the role of bandeirantes in the conquering of Brazilian territory. Fronteiras, Anápolis, v. 6, n. 1, p. 120-142, 2017. ISSN 2238-8869. Disponível em: <http://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/fronteiras/article/view/2190>. Acesso em: 2 jan. 2018. doi: https://doi.org/10.21664/2238-8869.2017v6i1.p120-142. [ Links ]
McCREERY, David. Frontier Goiás, 1822-1889. Stanford: Stanford University Press , 2006. [ Links ]
RAMOS, Hugo de Carvalho. Tropas e boiadas. São Paulo: Edusp, 1986. [ Links ]
TURNER, Frederick Jackson. The frontier in American history. New York: Dover Publications, 2010. [ Links ]
VAN AUSDAL, Shawn & WILCOX, Robert W. Hoofprints: cattle ranching and landscape transformation. In: SOLURI, John; LEAL, Claudia; PÁDUA, José Augusto. (ed.). A living past: environmental histories of modern Latin America. New York: Berghahn, 2018. [ Links ]
WORSTER, Donald. Apresentação. In: DUTRA E SILVA, Sandro. No Oeste, a terra e o céu: a expansão da fronteira agrícola no Brasil Central. Rio de Janeiro: Mauad X, 2017. [ Links ]
Sandro Dutra e Silva – Professor Titular do Departamento de História da Universidade Estadual de Goiás. Atua nos Programas de Pós-Graduação: Recursos Naturais do Cerrado (mestrado e doutorado) e Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente do Centro Universitário de Anápolis. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: [email protected].
Le plancher de Joachim – BOUDON (RH-USP)
BOUDON, Jacques-Olivier. Le plancher de Joachim: l’histoire retrouvée d’un village français. Paris: Belin, 2017. Resenha de: SANTOS, Jair. A micro-história debaixo do tapete. Revista de História (São Paulo) n.178 São Paulo 2019.
“Feliz mortal, quando você me ler, eu não existirei mais”. Essa é a frase, com ares de epitáfio, que abre o novo livro de Jacques-Olivier Boudon, professor na Sorbonne e importante estudioso da história político-religiosa francesa no século XIX. A obra intitulada Le plancher de Joachim, publicada na França em 2017, é um estudo notável e digno da atenção dos historiadores brasileiros, mais pela metodologia que adota e pelas fontes inusitadas que utiliza do que pelo seu clássico objeto de estudo (a história de um vilarejo francês). O livro de Boudon, contrariando a atual tendência historiográfica das análises globais, transnacionais e conectadas, tira debaixo do tapete da historiografia o velho método analítico da micro-história e mostra que ele não perdeu a utilidade nem a capacidade de abrir novos caminhos de investigação. Aliás, não era apenas o método que se encontrava esquecido: também as fontes do autor, conquanto estas no sentido denotativo. A documentação de indiscutível originalidade com que trabalha Boudon compõe-se de frases escritas a lápis em pequenos fragmentos de madeira escondidos debaixo do assoalho do castelo de Picomtal, situado no vilarejo de Crots, no sudeste da França. A identificação da autoria foi assegurada pelo próprio redator, que cuidou de se revelar à posteridade assinando e datando seus textos gravados no madeiro: trata-se do carpinteiro do vilarejo, chamado Joachim Martin, que nos anos de 1880 e 1881 realizou reparos no assoalho do castelo. As pranchas que serviram de diário ao antigo obreiro da carpintaria foram descobertas pelos proprietários do palacete durante uma reforma executada entre os anos 1999 e 2000. Por obra do acaso, Jacques-Olivier Boudon, ao longo de uma viagem de preparação de um livro sobre o retorno de Napoleão Bonaparte a Paris depois do exílio na Ilha de Elba (1815), pernoitou no castelo de Picomtal, atualmente transformado em hospedaria, e tomou conhecimento da inopinada descoberta. Mal se concluiu um livro, outro já estava a caminho.
O acervo encontrado constitui-se de 72 textos, totalizando cerca de 4.000 palavras. Não obstante a classificação cronológica dos fragmentos seja impossível, a indicação do ano pelo próprio autor mostra que os textos foram redigidos nas ocasiões em que Joachim Martin estivera trabalhando no castelo durante os verões de 1880 e 1881. Diversos são os temas tratados pelo carpinteiro: ele fala do vilarejo, de seus habitantes e representantes políticos; do padre Joseph Lagier (pároco da igreja local) cujo comportamento lascivo, agravado pela acusação de exercício ilegal da medicina, era duramente reprovado por parte da população; dos fatos da atualidade, como um episódio de infanticídio que o perturbou profundamente; da sexualidade de alguns moradores e até mesmo das investidas indecorosas feitas pelo espevitado vigário às piedosas senhoras na penumbra do confessionário. Em suma, Joachim Martin esboça um quadro detalhado do seu pequeno universo, geográfico e mental, no intuito de legar à posteridade (pressupondo que seus escritos viriam a ser descobertos no futuro, quiçá por outro carpinteiro) uma marca indelével da sua existência.
Foi a partir desse material, cujo caráter sucinto e fragmentário deixava inevitavelmente muitas questões no ar, que Boudon assumiu o desafio de elaborar um interessante exercício de micro-história, a fim de estudar uma pequena sociedade rural dos Alpes no despontar do regime republicano francês. As lentes através das quais o autor contemplou o seu fato histórico figuram entre as mais raras e relevantes para quem lida com a história social: textos escritos diretamente por um homem do povo com plena consciência do transcorrer do tempo, a despeito da origem humilde e da parca instrução, e que almejava inscrever o seu nome na história, mesmo que nenhum ato heroico ou excepcional lhe pudesse ser imputado, de modo a perenizar a própria memória. Essa consciência histórica do carpinteiro acrescenta ao estudo um elemento de ponderação muito pertinente para a história social: como os indivíduos de outras épocas lidavam com o passar do tempo? O senso comum tende a induzir-nos à conclusão de que pessoas iletradas vivem apenas o hoje, sem nenhuma preocupação com o futuro e menos ainda com a memória que deixarão depois de suas mortes. O caso de Joachim Martin é um exemplo expressivo que desmente essa ideia e mostra que a reflexão sobre o tempo e a história também pode fazer parte das inquietudes de um simples carpinteiro, como destaca Boudon:
À certains égards, Joachim Martin est un être exceptionnel par le rapport qu’il entretient au temps. Il est à mille lieues de ces gens simples décrits comme uniquement préoccupés du lendemain, vivant au jour le jour, incapables même de se souvenir de leur date de naissance. Au contraire, Joachim a l’obsession de dater les événements de sa vie. (BOUDON, 2017, p. 145)
A proposta de Boudon de analisar a história de um vilarejo por meio de um homem comum segue, em certa medida, a trilha aberta pelo trabalho de Alain Corbin (1998), o célebre historiador das sensibilidades, no qual se conta a história de Louis-François Pinagot, um artesão desconhecido que vivia nos rincões da Normandia, cujo nome foi escolhido aleatoriamente pelo autor nos inventários dos arquivos da municipalidade para ter a sua história investigada e a sua biografia reconstituída. Apesar disso, a diferença entre os estudos de Boudon e Corbin é bastante significativa: enquanto o segundo estuda um indivíduo praticamente invisível e esquecido pelo tempo, sobre o qual não havia nenhuma informação direta, o primeiro se baseia num acervo documental razoável produzido pelo próprio personagem que examina. Também é evidente a influência dos trabalhos clássicos de Carlo Ginzburg (2006) e Giovanni Levi (2000), pioneiros na aplicação do método da micro-história. Ademais, o livro dialoga de bom grado com a corrente da “história vista de baixo” (SHARPE, 1992), ao colocar em perspectiva um processo histórico, isto é, as transformações sociais de um vilarejo francês no fim do século XIX a partir da visão de um indivíduo de nível social inferior e sem participação direta nas mudanças em curso. No que diz respeito ao processo histórico propriamente dito, segundo Boudon, o testemunho de Joachim Martin ilustra a dinâmica descrita pelo historiador Eugen Weber num estudo acerca das mutações da França rural que acompanharam a chegada da República, marcadas pelo objetivo de integrar toda a população do país no corpo mais ou menos homogêneo da nação, sobretudo por intermédio da escola laica e do serviço militar obrigatório (WEBER, 1983).
Obviamente, o acervo textual de Joachim Martin não bastava para a escrita de um livro. Como toda fonte histórica, esta também deveria ser submetida à análise crítica mediante confrontação com outros documentos que permitissem preencher as lacunas factuais, bem como detectar eventuais erros, exageros ou imprecisões. Para tanto, Boudon colocou em prática o savoir faire do historiador e prospectou os arquivos nacionais, regionais e diocesanos, assim como algumas fontes impressas entre o fim do século XIX e o início do século XX que tratavam do vilarejo de Crots. Ao término da pesquisa, o autor concluiu que muitas das afirmações de Joachim eram, de fato, corroboradas por outras fontes. Cruzando as diferentes informações coletadas, foi possível escrever uma breve história daquele vilarejo a partir de alguns núcleos temáticos sugeridos pelo carpinteiro nas mensagens gravadas nas pranchas: biografia de Joachim Martin (capítulo I); descrição de Crots e da sua população (capítulo II); história dos proprietários do castelo de Picomtal (capítulo III); considerações sobre a agricultura no vilarejo (capítulo IV); contexto político local (capítulo V); moral sexual da época (capítulo VI); percepção do tempo e relação com o passado (capítulo VII); declínio da prática religiosa (capítulo VIII); e transformações no campo e êxodo rural (capítulo IX).
Impressiona nos textos de Joachim a franqueza com que ele se exprime sobre os diferentes assuntos, movido talvez pela convicção de que não seria lido (pelo menos não em vida), e a razoável habilidade com que o faz, dado curioso cuja explicação Boudon associa à fé protestante da mãe do carpinteiro que provavelmente conservava o hábito difuso no protestantismo de ler cotidianamente a Bíblia em casa. Esta é a hipótese levantada pelo autor para explicar o apego de Joachim à escrita:
La mère de Joachim était protestante. Certes, elle a accepté qu’il soit baptisé et élevé dans la religion catholique, mais on ne peut pas imaginer que son protestantisme n’ait pas eu une influence sur son éducation. En effet, les protestants sont particulièrement attachés à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture qui permet de rentrer en contact avec les textes bibliques. Dans les temples réformés, les murs affichent pour l’essentiel des versets de la Bible. Il est peu probable que Joachim soit jamais entré dans un temple, mais il est fort possible que sa mère lui en ait parlé (BOUDIN, 2017, p. 152).
Embora sua linguagem seja simples, direta e às vezes confusa, o mero fato de utilizar a escrita como meio de reflexão, numa época em que ler e escrever ainda eram habilidades raras no campo, revela a peculiaridade do personagem e ressalta a excepcionalidade da fonte. Num trabalho de micro-história, é fundamental que o historiador encontre a individualidade do sujeito que estuda, ou seja, que saiba determinar com clareza aquilo que faz o seu relato e a sua existência dignos de interesse. O parâmetro para julgá-lo está ligado aos traços e indícios que, a partir de um ponto de vista singular, podem ser colhidos a fim de melhor decifrar a trama complexa, plural e opaca da história social, cujo intenso dinamismo dificulta uma compreensão sistemática imediata. Essa é a ideia por trás do célebre “paradigma indiciário” de Carlo Ginzburg, entendido como um princípio metodológico fundamental para evitar as distorções de estudos excessivamente generalizantes sobre determinados fenômenos sociais (GINZBURG, 1999). O estudioso que falhe nessa consideração preliminar correrá inevitavelmente o risco da banalidade e seu estudo poderá se tornar uma compilação de obviedades ou de frivolidades históricas que pouco acrescentam à compreensão de contextos ou processos históricos mais amplos. Se, por um lado, o livro de Boudon não cai nessa armadilha, por outro, são recorrentes ao longo do texto as afirmações de caráter puramente hipotético que não podem ser atestadas em virtude do silêncio das fontes ou simplesmente de sua insuficiência material, como aquela à qual se acenou acima relativa ao vínculo de causalidade entre uma certa cultura literária de Joachim e o protestantismo professado por sua mãe, que sequer é mencionada nos escritos do carpinteiro.
Apesar de se apoiar em alguns momentos em ideias meramente especulativas e sem base empírica, o livro de Boudon é um exemplo estimulante do grande potencial criativo da micro-história, reforçado pela impecável habilidade narrativa do autor. Como visto, também impressiona o caráter fortuito e extraordinário das fontes. Se, normalmente, uma pesquisa histórica começa com a importante escolha dos arquivos por parte do estudioso, nesta obra a situação foi bastante diversa: foram as fontes que escolheram o seu historiador, ansiosas por trazer à tona a história de Joachim, escondida sob o assoalho de um castelo por mais de um século. É relevante mencionar ainda que a excepcionalidade da história atraiu a atenção do grande público para o livro, ao qual o canal televisivo France 2 dedicou uma acurada reportagem de 47 minutos, no dia 3 de fevereiro de 2019. Baseando-se na visão de mundo de um “protagonista anônimo da história” (VAINFAS, 2002), revelada por uma fonte atípica de conteúdo substancial, e explorando uma temática cara às análises micro-históricas, a obra de Boudon consegue traçar com riqueza de minúcias uma história do vilarejo de Crots num período pleno de mudanças sociais e políticas que afetavam significativamente a sociedade rural na França.
1Tradução livre: “Sob certos aspectos, Joachim Martin é um ser excepcional pela relação que mantém com o tempo. Ele está a mil léguas dessas pessoas simples descritas como preocupadas unicamente com o dia seguinte, vivendo no dia a dia, incapazes até mesmo de se lembrar de suas datas de nascimento. Ao contrário, Joachim tem uma obsessão por datar os acontecimentos de sua vida”.
Editores responsáveis pela publicação:
Júlio Pimentel Pinto e Flavio de Campos.
Referências
BOUDON, Jacques-Olivier . Le plancher de Joachim: l’histoire retrouveé d’un village français. Paris: Belin, 2017. [ Links ]
BURKE, Peter (org.). A escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: Editora Unesp, 1992. [ Links ]
CORBIN, Alain. Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot: sur les traces d’un inconnu (1798-1876). Paris: Aubier, 1998. [ Links ]
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia de Bolso, 2006. [ Links ]
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e História. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. [ Links ]
LEVI, Giovanni. A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. [ Links ]
REVEL, Jacques (org.). Jeux d’échelles: la micro-analyse à l’expérience. Paris: Gallimard, 1996. [ Links ]
VAINFAS, Ronaldo. Micro-história: os protagonistas anônimos da História. Rio de Janeiro: Campos, 2002. [ Links ]
WEBER, Eugen. La fin des terroirs: la modernisation de la France rurale, 1870-1914. Paris: Fayard, 1983. [ Links ]
Jair Santos – Ex-aluno da École Normale Supérieure de Paris, mestre em Teoria do Direito pela Universidade Paris Nanterre, mestre em História pela Universidade Paris-Sorbonne. É doutorando em História na Scuola Normale Superiore di Pisa. Contato: [email protected]
Catholic orientalism: Empire, Indian knowledge (16th-18th centuries) – XAVIER; ŽUPANOV (RH-USP)
XAVIER, Ângela Barreto; ŽUPANOV, Inês G.. Catholic orientalism. Empire, Indian knowledge (16th-18th centuries). Nova Deli: Oxford University Press, 2015. 416 pp. Resenha de: GONÇALVES, Margareth Almeida. “Orientalismos” e arquivos esquecidos da época moderna. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
Catholic orientalism, publicado 37 anos após a edição princeps Orientalism por Edward Said, é um livro seminal aos estudos sobre a construção da(s) alteridade(s) indiana(s) na primeira mundialização ocidental através da grade do catolicismo, percorrendo percursos de teoria e metodologia distintos do pensador palestino. A contribuição de Catholic orientalism insere-se no amplo esteio de estudos críticos das últimas décadas à perspectiva saideana de imutabilidade e congelamento das relações de dominação. Tal abordagem ignora tanto as ambivalências das relações de poder quanto o componente de agência do “dominando”, sucessivamente subtraído da análise no complexo quadro dos processos de circulação e apropriação de conhecimento e informação dos encontros culturais. Das páginas de Catholic orientalism adquirem espessura epistemológica os repertórios de escrita do primeiro orientalismo, na ideia de construção e imaginação europeias sobre o Oriente por um dossel do catolicismo de Portugal e Roma papal na Época Moderna. Trata-se de uma renovação às análises da produção de saberes sobre a Índia, propiciadora de inflexões ao campo de conhecimento da historiografia do Império português, com desdobramentos mais amplos no rompimento de consensos reducionistas das conexões entre Ocidente e Oriente providos pelas versões do orientalismo francês e anglo-saxônico do final dos Setecentos. O conceito de “orientalismo católico” introduzido pelas autoras, Ângela Barreto Xavier e Inês Županov, evoca da invisibilidade um vasto arquivo documental de saberes e de práticas de conhecimento compostos no âmbito do Império português sobre a Índia. Esse conjunto de saberes foi remetido ao esquecimento no triunfo das abordagens atravessadas pelo crivo da razão da ciência moderna, paradigma dominante a partir do século XVIII. Redesenhar o mapa dos saberes católicos – os lugares de produção e as operações escriturárias – configurados em escala global à Época Moderna organiza as três seções de Catholic orientalism, em que sobressaem sensíveis percursos intelectuais por vasta historiografia, na combinação de sofisticado debate teórico e de metodologias heterodoxas das perspetivas foucaultinas e da chamada “grounded theory”. Entre os séculos XVI e XVIII, perscrutam-se grades de conhecimento e relações de poder sobre a Índia simultaneamente nas perspetivas do micro e macro, do local e global, por meio dos roteiros do catolicismo. De maneira distinta dos orientalismos dos Oitocentos, o orientalismo católico caracteriza-se pela natureza fracionada das instituições, dos conhecimentos e arquivos assinalados pela dispersão da produção. A fragmentação contribuiu ao apagamento de corpora dos conhecimentos orientalistas produzidos pelo catolicismo imperial de Portugal e igualmente da Roma papalina, importante centro produtor de abordagens sobre o Oriente na crescente sistematização de saberes asiáticos na fundação da congregação de Propaganda Fide, em 1622, com irradiações nos Seiscentos e séculos ulteriores. O livro propõe uma periodização do catolicismo entre os séculos XVI e XVIII, balizamentos entre os capítulos primeiro e oitavo. Uma das inúmeras qualidades da estrutura do livro está no eixo comparativo da análise seja com os espaços do Atlântico português, seja com a América espanhola. Destaca-se, por sua vez, em oferecer excelentes insights a futuras investigações e estudos de caso em torno do que podemos denominar intuitivamente de um “americanismo católico”, em desdobramentos a perspectivas já trilhadas por Serge Gruzinski e Jorge Cañizares-Esguerra, ambos citados em segmentos variados do livro.
Dentre a vasta produção das autoras, marcada por um acúmulo de investigação e erudição, salientam-se as obras sobre os jesuítas e franciscanos na Índia, respectivamente Disputed missions: Jesuit experiments and Brahmanical knowledge in seventeenth century India (1999) de Inês Županov, e A invenção de Goa: poder imperial e conversões culturais nos séculos XVI e XVII (2008) de Ângela Barreto Xavier. Catholic orientalism resulta da interlocução desafiante entre duas imponentes especialistas de presenças portuguesa, italiana e francesa na Ásia à Época Moderna, em que ganha o leitor, constantemente desafiado pelo fluxo narrativo vertiginoso de intensa pesquisa e interlocuções historiográficas cerradas.
A primeira seção, Imperial itineraries, consta de três capítulos. O primeiro, Making India classic: exotic and oriental, reflete as condições de emergência de saberes sobre a Índia por uma geração dos Quinhentos que orientalizou a Índia e fabricou Portugal mimetizado na Antiguidade romana. Duas categorias fulcrais à formação de corpora escriturários da Índia na primeira Época Moderna são expostas: orientalismo e classicismo. Delineia-se a imaginação cultural e política de Portugal no Oriente no eixo de similitude entre Portugal e o Império romano – a apropriação e ressignificação da Antiguidade pela expansão marítima, o protagonismo dos portugueses e a simbologia da nova Idade de Ouro. Tal conexão articula João de Barros (1496-1570), o Lívio português, e João de Castro (1500-48), o Cipião africano, ao universo dos Quinhentos. A associação entre o humanista, feitor da Casa da Índia, e o vice-rei do Estado da Índia permite às autoras a análise fecunda de conexões entre texto e imagética, como na referência à invenção da Índia na composição de Ásia na prodigiosa tapeçaria em estilo flamengo, ilustrando a vitória no segundo cerco de Diu (1546) e a entrada triunfal de João de Castro em Goa, atualmente no Kunsthistorisches Museum em Viena.
A formulação de modalidades de compreensão e narração sobre o sul asiático no século XVI estriba um primeiro período assinalado pela fragmentação da informação, em que predominam o controle e a hegemonia dos agentes das comunidades locais. A segunda metade dos Quinhentos distingue-se pela expansiva relevância política e a complexidade da produção de conhecimento sobre a Índia em compilações como o tratado de Garcia de Orta (Os colóquios dos simples e drogas da Índia, 1563), a geografia de Fernão Vaz Dourado (Atlas, 1571), as narrativas históricas de Fernão Lopes de Castanheda (História do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, 1551) em ampliação do legado de João de Barros (Da Asia, 1552). Incluem-se ainda o poema épico de Camões (Os Lusíadas, 1578) e o relato de aventuras de Fernão Mendes Pinto (Peregrinaçam, primeira edição em 1664).
O segundo capítulo, Empire and the village, avança na análise da montagem de uma ciência da administração, suporte das práticas de governança. Na esteira das abordagens de Christopher Barly e Bernard S. Cohn para o Império britânico destaca-se a gênese da formulação de conhecimentos específicos da prática de governação na formação de uma proto-burocracia de funcionários, em que as autoras oferecem uma revisão à historiografia sobre a Índia na Alta Idade Moderna e a produção do que denominam conhecimento útil e pragmático. Assinalam o papel das populações nativas na produção de uma ciência da administração nos espaços coloniais na Índia. São abundantes as informações propiciadas por fontes como o Foral de Mexia de 1526 no mapeamento da população e dos territórios goeses, suprindo o centro do Império de informações obtidas da interação entre colonizados e agentes régios. O capítulo tangencia políticas de governo dos vice-reis, no exemplo de d. João de Castro (1545-1548) que, na esteira do governador Martim Afonso de Souza (1542-1545), articulou poder político e construção de memória, geradora de saberes sobre os territórios. Anteriores às imagens publicadas pelo insigne livro do neerlandês Jan Huygen van Linschoten (1563-1611) ao final do século XVI, as ilustrações de variados costumes das partes dos mundos portugueses além do cabo da Boa Esperança que constam do Codex Casanatense foram produzidas durante o governo de d. João de Castro, desvelando um manancial de surpreendente colorido dos súditos orientais do monarca português. Outros conjuntos documentais relevantes integram o arquivo colonial entre os quais a compilação da comunicação entre autoridade régia e o vice-rei em Goa, que compõe o Livro das Monções, no recurso ao vocábulo de alusão aos circuitos sazonais que condicionaram os deslocamentos entre Ásia e o Atlântico dos Quinhentos ao século XVIII. A riqueza do volume de fontes, embora disperso, da primeira mundialização europeia combina a escala local à global nos processos de decision-making imperial. A primeira seção do livro encerra a ampliação da análise do Império dos trópicos no foco dos atores em ação na posse da natureza na enunciação de uma história natural: médicos, mercadores e missionários.
O terceiro capítulo, Natural history: physicians, merchants, and missionaries, inicia pela menção ao médico cristão novo Garcia Orta em um percurso através de obras variadas que projetam o acúmulo de conhecimento sobre a natureza dos espaços do Leste por meio da disciplina de história natural conformando o mapeamento dos lugares de produção e dos produtores de saberes de botânica, farmacologia, das artes médicas de curar. Incluem-se conhecimentos relacionados à história natural que integraram interesses fragmentados de flora e fauna locais, como também de drogas e especiarias medicinais aplicadas a doenças. Esses escritos projetam tópicas semelhantes aos da literatura de viagem identificada à presença portuguesa na Ásia e Brasil. Xavier e Županov incluem a parte do Atlântico e da América portuguesa na montagem de arquivos de história natural em que a concepção de utilidade foi central no modus operandi português; adquire curso a positivação da experiência direta.
Catholic meridian, título do segundo segmento do livro, unifica três capítulos na consolidação de regimes de saberes do catolicismo acerca da sociedade e religiões locais pelos poderes interativos e competitivos de disputa de conhecimento e território entre monarquias ibéricas, papado e a França. Distribuídos pelos centros emissores da rede de missionários, os agentes foram jesuítas, franciscanos e religiosos vinculados à ação da Propaganda Fide. Segundo as autoras, o orientalismo católico transformou-se em uma entidade compósita e cosmopolita no ambiente de disputas da Europa católica no sul da Ásia.
Em Religion and civility in “Brahmanism”: Jesuit experiments, quarto capítulo e primeiro da segunda unidade, o protagonismo está nos missionários da Companhia de Jesus, em que a produção discursiva segmenta religião e ritos civis. A longa tradição dos jesuítas na valorização do estudo das línguas locais concretizou-se na produção de gramáticas e vocabulários. A opção jesuítica pelo “diálogo cultural” através de uma estratégia evangelizadora fundada no método da acomodação influiu sobremaneira a redefinição da idolatria pelo traço civilizacional indiano, defendida por alguns jesuítas nos episódios da controvérsia dos ritos malabares. A interação com os especialistas religiosos indianos intervém nas etnografias e descrições do corpus textual jesuítico. De acordo com Xavier e Županov, a controvérsia dos ritos e costumes no sul da Índia constitui um dos momentos fundadores do orientalismo católico como “ciência do outro” no manejo dos interesses europeus. Também a metodologia dos missionários católicos, expurgada dos fins soteriológicos, aproxima-se dos preceitos de sustentação científica do orientalismo britânico desenvolvido pela Asian Society em Calcutá, fundada nos moldes da Royal Society de Londres por William Jones (1726-1794).
Franciscan orientalism é o título do capítulo seguinte, nos termos das autoras, um guia do orientalismo franciscano nos séculos XVII e XVIII. Embora disperso e não unificado como o corpus documental jesuítico, centralizado em Roma, o arquivo escriturário franciscano manifesta extraordinária fortuna de textos de corografia e história, em que o preceito teológico e de letramento do medievo de valorização do contato com o mundo natural e das práticas de coleta perdura em obras escritas por franciscanos da Índia. Segundo as autoras, as práticas e os regimes de escrita orientalistas implicados nas obras de franciscanos amoldaram a construção da Índia portuguesa. O percurso através de bibliotecas diversas de franciscanos em Lisboa desvela acervos de manuscritos e impressos do orientalismo franciscano em coleções de títulos de línguas orientais, documentos sobre a Índia em memórias, textos de filosofia, história, “ciências”, que apontam para um diverso cânone orientalista. Por sua vez, os franciscanos da Índia representam perspectivas crioulas que vindicaram com tenacidade o pertencimento ao Império português. Conquista espiritual do Oriente (1636), tratado em três volumes de Paulo da Trindade (1570-1651), franciscano macaense da província de São Tomé da Índia da Regular Observância, inscreve-se no repertório da escrita de uma história geral da ordem e incorpora ademais a tese da anterioridade dos frades menores na Ásia frente aos jesuítas e a concomitante defesa de autonomia dos franciscanos da Índia em relação aos do Reino. Nesse mesmo horizonte intelectual, está Relação defensiva dos filhos da Índia oriental (1640) de frei Miguel da Purificação, confrade de Paulo Trindade. Originário de Tarapor na Índia, Purificação, em périplo globalizado, frequentou a cúria romana de Urbano VIII e a corte Habsburgo de Filipe IV nos anos de 1630. Note-se no capítulo a variedade da escrita franciscana no pertencimento a distintas comunidades imaginárias de conhecimento dirigidas por sua vez a audiências diferentes. Muitas formas de pensar e tematizar o orientalismo. A associação entre orientalismo e imperialismo português observa um traço indelével do regime da escrita franciscana de poder. Diferenças entre a escrita de leigos e religiosos, de obras produzidas na metrópole e na colônia e das formas de apropriação das tradições grega e romana forjam parâmetros do repertório escriturário não somente de franciscanos, mas extensivo ao espectro textual dos orientalismos na historiografia da Época Moderna.
O sexto capítulo encerra a segunda parte do livro no percurso por inúmeras gramáticas, vocabulários produzidos por traduções de missionários jesuítas e franciscanos. As autoras exploram a variedade e riqueza de trabalho linguístico seminal ao orientalismo católico, posteriormente base dos novos orientalismos francês e britânico.
A terceira e última seção – Contested knowledge – reúne dois capítulos que analisam a consolidação da dominação imperial portuguesa e a fase derradeira do primeiro orientalismo. O sétimo capítulo discorre acerca das disputas pelo lugar de ancestralidade do cristianismo na Índia entre as elites locais brâmane e charodo, na condição de descendentes únicos de Noé e do rei Gaspar, um dos três reis magos da tradição cristã. Nas primeiras décadas dos Setecentos, na trilha fundadora do que as autoras designam por “orientalismo de dentro”, inaugurada anteriormente por Mateus de Castro (1594-1677) no breve tratado Espelho de brâmanes – a notável expressão da voz bramânica -, ampliam-se os escritos redigidos por membros emergentes do clero nativo nos exemplos de Auréola dos índios (1702) de Antônio João José Frias e na letra de Leonardo Paes no Promptuario de deffinições indicas (1713). No mesmo diapasão de um regime de escrita orientalista de autoria dos grupos nativos situa-se o tratado Espada de David contra o Golias do bramanismo (c. 1710) de João da Cunha Jacques que exalta o contributo dos charodos à Índia cristã. A singularidade desses grupos desponta no controle da linguagem do colonizador, alentando escritas imaginativas que atendem interesses de grupos de estratos superiores nativos. Na argumentação do capítulo, destaca-se a relevância atribuída ao componente de agência aos grupos superiores autóctones no fortalecimento das posições internas da hierarquia de poderes locais na perpetuação da dominação imperial portuguesa.
O oitavo capítulo, Archives and the end of Catholic orientalism, expõe a fase derradeira do orientalismo católico. As autoras delineiam três itinerários do conhecimento orientalista no ocaso do século XVIII. Por breve período, Roma tornou-se o centro do orientalismo católico europeu – destaca-se a análise do percurso da produção intelectual do carmelita descalço croata Paulinus a S. Bartholomaeo (1748-1806). Um segundo itinerário tem por foco a constituição do orientalismo por Paris em que cabe atentar ao lugar dos acervos jesuítas na Índia francesa de Pondicherry no mercado de obras sobre o Oriente no período anterior à supressão da Companhia de Jesus entre 1759, em Portugal, e 1773, afinal em Roma, arquivos que assinalam a fundação dos estudos de indologia na França. E, o terceiro itinerário, da Índia e Londres britânicas, em que o orientalismo católico, misturado e baseado no conhecimento local, foi apropriado e invisibilizado pela nova composição imperialista.
O epílogo do livro encerra o opróbio do orientalismo católico no recurso a uma análise fina e densa da cidade de Goa do vice-reinado de Francisco de Assis de Távora (1750-1754). Viceja-se o ápice do esplendor da corte do marquês de Távora em Goa e do anúncio paradoxal do declínio do orientalismo católico. A presença de tópicas em torno de Alexandre o Grande no imaginário português repete-se no universo goês, uma espécie do que as autoras nomeiam de “novo totemismo”. A conclusão de Catholic orientalism, na reflexão da conexão entre orientalismo e o universo da ópera à época dos Távora em Goa – exibição das peças operísticas Tragédia de Poro e Adolonimo de Sidonia durante as festas de aclamação do rei d. José I em dezembro de 1751 na cidade de Goa -, persevera no registro a Edward Said, agora em Cultura e imperialismo. O futuro drama dos Távora, condenados por regicídio e executados em 1759, constitui uma metáfora da agonia do Portugal pré-moderno durante o consulado pombalino e pari passu ao deslocamento do orientalismo português dos séculos anteriores à pecha de saber menor, contestado.
À glosa de encerramento da leitura, nos defrontamos com um livro da envergadura de um clássico, de leitura inescapável aos estudos sobre a Índia em que o catolicismo foi parte insuperável na produção do Oriente na Europa e do Oriente filtrado pelo catolicismo dos indianos na Época Moderna. Há muito que aprender na análise primorosa de Xavier e Županov em perspectiva que evita estereótipos e amplia sobremaneira horizontes através de debates sobre os impérios ibéricos, o papado e a produção de saberes sobre a Índia na Época Moderna, sombreados pelos orientalismos francês e britânico do final dos Setecentos e século XIX.
Referências
XAVIER, Ângela Barreto & ŽUPANOV, Inês G. Catholic orientalism. Empire, Indian knowledge (16th-18th centuries). Nova Deli: Oxford University Press, 2015, 416 p. [ Links ]
1Resenha do livro: XAVIER, Ângela Barreto & ŽUPANOV, Inês G.Catholic orientalism. Empire, Indian knowledge (16th-18th centuries). Nova Deli: Oxford University Press, 2015, 416 p.
Margareth Almeida Gonçalves – Margareth de Almeida Gonçalves é doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj, 2002). É professora associada do Departamento de História e Programa de Pós-Graduação em História – PPHR da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected].
Festival culture in the world of the Spanish Habsburgs – CREMADES; FERNÁNDEZ-GONZALEZ (RH-USP)
CREMADES, Fernando Checa; FERNÁNDEZ-GONZALEZ, Laura. Festival culture in the world of the Spanish Habsburgs. Nova York: Routledge, 2016. (Primeira publicação em 2015 por Ashgate Publishing). Resenha de: SOUTTO MAYOR, Mariana. Representações de poder, mediações do Império: festas e cerimoniais na monarquia dos Habsburgo. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
Os cerimoniais e festividades da Idade Moderna têm sido objeto de análise de pesquisadores de diversas áreas nos últimos anos. Os estudos clássicos de Jacob Burckhardt e as análises de Mikhail Bakhtin, Norbert Elias, Ernest Kantorowicz, Victor Turner, José Maravall e José Diez Borque fortaleceram a criação de um campo específico de estudos e abriram novas perspectivas para analisar os múltiplos significados presentes nas práticas representacionais que compõem um acontecimento festivo.
O livro aqui apresentado, organizado por Fernando Checa Cremades, professor da Universidade Complutense de Madri, e Laura Fernández-Gonzalez, professora da Universidade de Lincoln, dialoga com essa tradição de estudos e revela novos olhares para a análise da cultura festiva, especificamente na monarquia dos Habsburgo, através de artigos de especialistas em diversas áreas.
O trabalho surgiu de uma conferência internacional que Laura González organizou na Universidade de Edimburgo, na Escócia, sobre festividades europeias da Idade Moderna, com especial atenção ao mundo hispânico. Porém, esta edição configura um passo além da publicação de trabalhos apresentados no simpósio; o livro apresenta excelentes estudos sobre a cultura festiva da monarquia dos Habsburgo, organizados de forma a contemplar diversos aspectos das festividades modernas, sublinhando a necessidade de uma perspectiva interdisciplinar.
Os estudos contidos na publicação abrangem o amplo sistema cultural criado e desenvolvido na monarquia dos Habsburgo considerando as dinâmicas, muitas vezes complexas e contraditórias, entre as formas culturais e formações sociais.1 Os reflexos e mediações de estruturas militares, econômicas, religiosas e políticas do poderoso império que se formou no século XVI são investigados ao longo de 12 artigos.
O livro, dividido em quatro partes, ganha qualidade dando foco às particularidades da monarquia dos Habsburgo com análises de festivais em Castela, mas também em outras partes do império, como nos reinos italianos, em Portugal, nas colônias americanas, contemplando diferentes períodos históricos. Um dos pontos fortes dessa publicação está na organização dos temas em capítulos e partes, criando mediações para o leitor ao tratar de tantas questões que envolvem as festividades e cerimoniais no Império espanhol.
Outro aspecto importante, destacado pelos organizadores na introdução, é o fato de a publicação ser em inglês. Essa escolha seria estratégica do ponto de vista do alcance que o próprio livro poderia ter: se comparado aos estudos de festividades de outras monarquias europeias, há menos estudos sobre a monarquia hispânica. O livro, portanto, seria uma forma de divulgação para estimular jovens pesquisadores de todo mundo.
Para nós, brasileiros, que temos uma importante bibliografia sobre festas na América portuguesa,2 a publicação tem especial valor por afirmar a necessidade de estudos comparativos e interdisciplinares sobre festividades na Idade Moderna, como também os textos publicados nos servem de modelos de análise, complementando estudos já existentes.
A primeira parte do livro é dedicada à cultura visual, com o estudo de tapeçarias e pinturas no ambiente de corte. A escolha do tema chama a atenção pelo fato de que, em festividades públicas, a maior parte da produção de artes visuais consistia em “arte efêmera”: era produzida especialmente para o evento, não necessariamente sendo reutilizada ou reaproveitada em outras datas comemorativas. Daí a dificuldade do estudo dessas formas artísticas, pois o que chegou às nossas mãos são documentos, como gravuras e esboços, que reproduzem, com mediações, o que foi criado.
As tapeçarias, ao contrário, são objetos de arte permanentes, o que as fazem fonte primária de estudo. O primeiro artigo, intitulado “The language of triumph: images of war and victory in two early modern tapestry series”, de Fernando Checa Cremades, analisa duas séries de tapeçarias que narram campanhas militares espanholas no norte da África, do final do século XV a primeira metade do XVI, na perspectiva de suas formas e funções em cerimoniais na corte.
Para Checa, as tapeçarias The conquest of Asilah and Tangiers by Afonso V of Portugal (1475) e The conquest of Tunis (1546-1553) podem revelar o desenvolvimento da linguagem da tapeçaria na Idade Moderna. A forma “tapeçaria” surge no final da Idade Média, imitando o gênero literário das crônicas históricas. Na transposição do texto para a criação de imagens, houve o desenvolvimento de uma forma mais complexa, que se apropriou inclusive da linguagem do “triunfo militar”. Não à toa o título do artigo faz menção à forma triunfo, relacionando as tapeçarias com a representação das vitórias militares e imagens de guerra na corte dos Habsburgo.
Nas palavras de Checa, os diversos usos das tapeçarias sinalizam “a importância simbólica e representativa dada a elas”. As duas tapeçarias serviam à monarquia não só no ambiente da corte, para decorar quartos e salas de palácios, como também em festivais e celebrações de todo tipo, enquanto grandioso ornamento arquitetônico urbano. Esse uso, além de levar o ambiente de corte para a cidade, constituiu a forma moderna do “triunfo”, ao reiterar a força militar do reino e o poderio da monarquia dos Habsburgo. O estudo mais detalhado feito pelo autor será sobre a segunda tapeçaria, The conquest of Tunis, criada sob o reinado de Carlos V. O monarca soube aproveitar essa linguagem para construir e legitimar sua imagem imperial como conquistador de seus inimigos e, ao mesmo tempo, como “senhor de si e de suas paixões” – seguindo a filosofia estóica, de acordo com Checa.
O segundo texto “The cerimonial decoration of the Alcázar in Madrid: the use of tapestries and paitings in Habsburgs festivities”, de Miguel A. Zalama Rodriguez, debate o valor da tapeçaria na corte em relação com a novidade da pintura como forma de representação visual. Diferentemente de outras cortes, na monarquia hispânica, a pintura tomou o lugar da tapeçaria somente no século XVII.
Zalama narra alguns episódios da cultura da corte dos Habsburgo que nos ajudam a compreender a importância e as funções da tapeçaria nesse momento histórico como parte das coleções reais. E a partir de descrições de cronistas, Zalama oferece ferramentas para a análise do comportamento e etiquetas da corte dos Habsburgo.
Se a primeira parte do livro com o estudo das tapeçarias volta-se mais para o ambiente da corte, a segunda parte continua a investigar a linguagem do triunfo com o olhar para entradas, jornadas e suas relações com espaços urbanos na monarquia dos Habsburgo, através de cinco análises de festividades públicas em diferentes localidades do Império espanhol.
O artigo “Festival interventions in the urban space of Habsburg Madrid”, de David Sánchez Cano, através do estudo de documentos de conselhos municipais castelhanos e instruções reais, faz uma análise muito interessante sobre as transformações urbanas realizadas para as festas públicas e as conflituosas relações entre os conselhos e a corte, e entre habitantes da cidade e os poderes locais e reais.
Para que as entradas triunfais ocorressem na cidade seguindo suas formas pré-estabelecidas, era necessário a decoração da cidade, a construção dos arcos triunfais e adornos. Mas era necessário também uma infraestrutura que muitas vezes não estava de acordo com a arquitetura da cidade. O conselho ordenava então a pavimentação, fechamento e alargamento de ruas, a reforma ou demolição de casas, o reparo de fontes públicas, a construção de plateias para os espectadores, palcos para representações. Inclusive, em meados do século XVII, iniciou-se a prática de construir barreiras para separar o público da procissão principal, deixando clara a regulação do espaço público para disciplinar seus sujeitos.
O quarto capítulo, escrito por Laura Fernández-González , intitulado “Negotiating terms: king Philip I of Portugal and the cerimonial entry of 1581 into Lisbon”, faz uma ótima análise das imagens do monarca Felipe II como rei de Portugal, através do estudo de sua entrada triunfal em Lisboa em 1581.
A festividade teve grande importância nesse momento histórico para Felipe II, dada a recente conquista militar e política do reino português. Felipe II necessitava construir uma imagem para seus súditos portugueses de rei pacífico e justo e, ao mesmo tempo, poderoso e “hábil para destruir seus inimigos, incluindo, especialmente, aqueles dentro do seu reino”.
Um grande investimento foi feito para se organizar uma entrada triunfal que refletisse e construísse a imagem do monarca para o reino recém-conquistado. Mas González evidencia ao longo do texto as tensões e disputas existentes entre o monarca e os interesses das autoridades e habitantes lisboetas. Houve uma grande negociação para a organização da festa, para limitação dos gastos e, inclusive, para se decidir o estilo da celebração. Os portugueses queriam mostrar sua própria cultura festiva e, se houvesse brechas nas arquiteturas e artes efêmeras, criar discursos de contestação e protestos ao próprio monarca.
O quinto capítulo do livro, escrito por Maria Ines Aliverti, dedica-se à análise da entrada de Margarida, arquiduquesa da Áustria e rainha da Espanha, a Cremona, ducado de Milão. A autora desenvolve no texto a questão da cidade italiana que, mesmo não sendo capital de um estado territorial, conseguiu organizar uma grande festividade. A partir desse problema, Aliverti localiza Cremona como uma cidade estratégica geográfica e economicamente, seu esforço de construir uma imagem de cittá nobilíssima, e analisa a festividade a partir da história de um manuscrito e gravuras de aparatos criados por artistas locais sobre a celebração, que iriam ser publicados na forma de um livreto.
O sexto capítulo também investiga as entradas de Margarida da Áustria pelos reinos italianos, da perspectiva de sua viagem pelo estado de Milão entre 1598 e 1599. Através de uma série de documentos, como cartas e notificações oficiais, a autora, Franca Varallo, exemplifica as tensões entre as autoridades régias, as autoridades locais e os cidadãos na organização da festividade, a partir do estudo de caso da entrada de Margarida em Pavia. Varallo cria perspectivas interessantes no estudo das festas, ao materializar para o leitor as dificuldades, custos e tensões que haviam na organização das celebrações.
O artigo seguinte, “Routes and triumphs of Habsburgs power in Colonial America”, de Victor Mínguez Cornelles, faz o estudo das entradas triunfais de vice-reis no México. O autor estuda as transformações da forma triunfo desde a Roma antiga e suas funções na Idade Moderna, principalmente em relação à importância das representações do monarca em partes de seu reino onde ele nunca havia estado.
Os vice-reis, representantes do poder real na colônia, utilizavam essas entradas para criar representações de si perante os colonos. O autor analisa os processos de mudanças na criação dessas imagens. Durante os séculos XVI e XVII, aparecem nas festividades analogias entre a imagem do vice-rei com deuses e semideuses como Apolo, Atlas, Júpiter, Mercúrio e Prometeu e com heróis clássicos antigos como Hércules, Ulisses e Cadmo. O interessante é que em algumas festividades do século XVII, a associação é feita com reis mexicanos da América pré-hispânica, como Acamapichli, Quauhtemoc, Huitzlihuitl e Chimalpopocatzin.
A terceira parte do livro trata das relações fundamentais entre catolicismo e a monarquia dos Habsburgo, intitulada “Religion and empire: Processions, funerals and the Spanich monarchy”. O primeiro artigo, de Alejandra B. Osorio, examina as exéquias e proclamações de reis celebradas nos vice-reinos do México e Peru como confirmação simbólica da manutenção do poder real, mesmo que distante, através da linha sucessória, com o surgimento de um novo monarca.
Osorio evoca aqui a metáfora do corpo político para situar a colônia como parte do corpo do império e reitera a importância dos cerimoniais e festividades na América colonial para a construção de simulacros, representações e, por conseguinte, legitimação da cabeça do império: o monarca. A autora elenca alguns elementos fundamentais para o estudo das exéquias e proclamações de reis na América espanhola como, por exemplo, a escolha do espaço para realização do evento – que deveria necessariamente ser também um espaço simbólico; as relações entre autoridades locais e Coroa, através das ordenações régias; a publicação das relaciones, como parte importante para a construção da memória e propaganda da festa; a construção dos cadafalsos para serem expostos durante a procissão, que seriam espaços de memória e representação da imagem do novo monarca e de seus ancestrais, e cita exemplos de festividades na cidade de Lima, importantes como estudos de caso.
O texto seguinte, de autoria de Juan Luis González Garcia, aprofunda outras questões referentes às festas religiosas e à monarquia dos Habsburgo, a partir do estudo de celebrações hagiográficas na cidade de Madri. A imagem e a vida dos santos considerados “nacionais”, que eram propagadas nas festividades, constituíram-se formas importantes para a construção de uma moral e códigos coletivos, assim como para legitimar a monarquia católica e a imagem do monarca e da corte espanhola, formando a chamada Pietas austríaca. O autor exemplifica essas relações através da análise das festas públicas de beatificação de Ignácio de Loyola e Teresa de Jesus, que tinham também o interesse em canonizações futuras.
No décimo capítulo do livro, Sabina de Cavi analisa a construção dos aparatos efêmeros nas festas de Corpus Christi de Palermo, na Sicília, através do estudo do patronato do Senado e principalmente do vice-rei, Juan Francisco Pacheco, duque de Uceda, na organização da festividade pública, e da atuação do arquiteto Giacomo Amato (1642-1732). A partir do estudo de quatro gravuras do arquiteto de corte, a autora aponta elementos para o estudo da arquitetura barroca tardia na Sicília e suas relações com as formas espanholas.
A última parte do livro é dedicada às práticas artísticas desenvolvidas nas celebrações a serviço da monarquia dos Habsburgo, com um estudo sobre a importância da música nas atividades da Archícofradía de la Santíssima Resurrección, de Roma, em especial em procissões e celebrações de Corpus Christi, Páscoa e dias de santos. A análise feita por Noel O’Reagan, baseada em listas de gastos e pagamentos de instituições religiosas, chama a atenção para o investimento feito na contratação de trompetistas, organistas, violinistas, tenores, contraltos, baixos etc. O autor, através do estudo de relações de festividade, investiga as funções e importância dada aos músicos nas procissões.
O último artigo do livro, intitulado “Royal festivals in mid-seventeenth century Naples: the image of the Spanish Habsburg kings in the work of Italian and Spanish artists”, de Ida Mauro, explora o significado de imagens decorativas e as particularidades de suas criações nas festividades de Nápoles, sob o domínio de vice-reis espanhóis. A análise se volta para a imagem dos monarcas espanhóis projetada em cadafalsos e decorações efêmeras. Num reino em disputa, as festividades promovidas pelo vice-reinado seriam formas de legitimação e propagandística do poder real e do domínio espanhol.
Ao final da leitura, o leitor sai com um amplo panorama da cultura festiva na monarquia dos Habsburgo e com a imaginação aguçada pelas imagens e discussões presentes no livro. Obviamente, a publicação não se encerra em si mesma e nem possui a pretensão de trazer todas as discussões possíveis sobre festividades ou abranger todo o território do vasto Império espanhol. A proposta dos organizadores é realizada de forma estimulante para seus leitores, pois traz sérios estudos multidisciplinares que abarcam o complexo sistema cultural da monarquia dos Habsburgo, com o olhar focado em uma das práticas culturais mais interessantes e contraditórias da Idade Moderna: as festividades públicas e cerimoniais de corte.
Referências
JANCSÓ, Istvan & KANTOR, Iris. Festa, cultura e sociabilidade na América portuguesa, vol. I e II. São Paulo: Edusp, Hucitec, Fapesp, Imprensa Oficial, 2001. [ Links ]
WILLIANS, Raymond. Cultura. São Paulo: Paz e Terra, 2011. [ Links ]
1 Raymond Willians no livro Cultura aborda, de modo amplo, diversos aspectos que compõem um estudo de sociologia da cultura. Entre eles, Willians chama a atenção para as “formas sociais da arte” e a ideia de que a arte media elementos sociais e processos históricos. WILLIANS, Raymond. Cultura. São Paulo: Paz e Terra, 2011, p. 25.
2Desde o final da década de 1980, temos uma profusão de estudos acadêmicos nas áreas de história, arquitetura, antropologia, economia, música, artes plásticas e artes cênicas sobre festas coloniais. Em 2001, foram publicados os dois volumes do livro Festa, cultura e sociabilidade na América portuguesa, organizados por István Jancsó e Iris Kantor, que possuem cerca de 50 estudos de especialistas brasileiros e portugueses sobre diversos aspectos das festividades na colônia. JANCSÓ, Istvan & KANTOR, Iris. Festa, cultura e sociabilidade na América portuguesa, vol. I e II. São Paulo: Edusp, Hucitec, Fapesp, Imprensa Oficial, 2001. E não podemos esquecer de estudos clássicos como os de Affonso Ávila, José Aderaldo Castello e Curt Lange.
Mariana Soutto Mayor – Doutoranda em Teoria e Prática do Teatro pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. Pesquisadora do Laboratório de Investigação em Teatro e Sociedade – Lits. E-mail: [email protected].
Ocean of trade: South Asian merchants, Africa and the Indian Ocean, c. 1750-1850 – MACHADO (RH-USP)
MACHADO, Pedro. Ocean of trade: South Asian merchants, Africa and the Indian Ocean, c. 1750-1850. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 315 pp. Resenha de: FOLADOR, Thiago de Araujo. Os africanos escolhem o que vão levar: os tecidos indianos no comércio de marfim e escravos. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
Quem visita Moçambique não deixa de ser seduzido pelas capulanas, tecidos estampados e coloridos que se tornaram quase sinônimo do país. Estes tecidos são encontrados à venda em muitas ruas da capital, Maputo, são usados no dia a dia dos moçambicanos, principalmente pelas mulheres, e também são bastante cobiçados pelos turistas em busca de lembranças e souvenires. Comercializadas por árabes, indianos e moçambicanos, as capulanas caracterizam uma cultura secular do consumo de tecidos na região; seu papel foi central nas relações comerciais do oceano Índico, em especial de escravos e marfim durante os séculos XVIII e XIX.2
Em uma abordagem sobre essas dinâmicas comerciais, Pedro Machado em Ocean trade: South Asian merchants, Africa and the Indian Ocean, c. 1750-1850, propõe uma leitura a partir das aproximações entre africanos e indianos no canal de Moçambique. O livro discute a expansão e a atividade dos mercadores vaniyas (ou banias) da região de Gujarate, em especial Diu e Damão, cujo negócio de tecidos tornou-se peça fundamental para o desenvolvimento da empresa comercial escravista entre 1750 e 1850. O retrato que apresenta sobre os comerciantes indianos vaniyas de Gujarate fundamenta-se numa leitura que se aproxima das perspectivas sobre uma história dos oceanos, ao apresentar a circulação entre as diferentes costas, as interconexões comerciais, a produção e, principalmente, as relações de demanda de consumo.
Pedro Machado, nascido na África do Sul, é atualmente professor assistente do Departamento de História na Universidade de Indiana. Ocean trade é seu primeiro livro publicado, baseado na sua tese de doutorado defendida na School of Oriental and African Studies, University of London (2005). Nos últimos anos tem se dedicado às pesquisas sobre a história do cultivo do eucalipto, a atuação colonial do império atlântico português nas relações comerciais, industriais e impactos ambientais com o oceano Índico. Importante registrar sua relação com as pesquisas do Indian Ocean World Center (IOWC), estabelecido na Universidade de McGill no Canadá. Esse centro de estudos, sob direção de Gwyn Campbell, possui entre seus quadros importantes pesquisadores que têm se dedicado ao estudo da África Oriental, Oriente Médio, Sul da Ásia e Oceania em suas interconexões. Neste sentido, é possível compreender o caminho percorrido pelo professor Machado, cujos estudos contribuem para expansão das pesquisas sobre o oceano Índico, na senda dos pressupostos defendidos anteriormente por Fernand Braudel.3
Na década de 1970, em um momento de expansão dos próprios estudos africanos, o tema da escravidão na costa oriental africana mobilizou diversos pesquisadores que chamaram a atenção para as relações entre Ásia e África e para o tráfico com destino às ilhas do Índico.4 A argumentação da historiografia passa por uma discussão na qual a África é percebida em um espaço de interconexões não apenas sob influência europeia, mas nas relações com outros espaços à borda do Índico. Assim os estudos sobre a África Oriental alcançaram uma importante expansão nos últimos trinta anos, na qual Machado está inserido.
Em Ocean trade, Pedro Machado faz um aguçado trabalho apoiado em uma significativa produção histórica e na bibliografia atual sobre o oceano Índico. Além de autores voltados aos estudos sobre o Atlântico, especialmente das escolas inglesas e norte-americanas, o pesquisador trabalha também com a produção de historiadores indianos e, em alguma medida, os de língua portuguesa. O domínio da historiografia e das fontes, à semelhança de um tecelão ao fazer seus tecidos, demonstra a capacidade do autor em fiar as tramas dos acontecimentos, entrelaçando-os com conceitos e questões historiográficas pertinentes à produção sobre África e o Índico. Machado tece, assim, uma sólida e instigante narrativa.
No tocante à historiografia, o leitor entrará em contato com uma vertente da história dos oceanos especificamente a relacionada com o Índico que tem sido empregada nas últimas décadas por autores como S. Bose (2002), M. Pearson (2003), G. Campbell (2005, 2006), M. Vink (2007) e E. Alpers (2009). Nesse sentido, alguns pontos importantes podem ser observados como a questão da circulação de mercadorias e de pessoas a partir da ideia de uma “arena inter-regional” de trocas, conceito empregado pelo historiador indiano S. Bose para dar conta das interações econômicas, políticas e culturais. Desse modo, é possível abordar o oceano Índico como um espaço próprio de um processo histórico e privilegiar as conexões entre suas diferentes margens sem se limitar às áreas de estudos canônicas.
Ao abordar o Índico, Machado compreende como os processos de circulação dependiam do conhecimento específico da navegação e do domínio dos fluxos das águas e ventos das monções. Assim, observa como as próprias condições materiais da circulação proporcionaram a proeminência dos mercadores de Gujarate no comércio índico do período estudado, seja na produção de embarcações ou nas condições de financiamento das viagens. O oceano, bem como o processo de travessia, está integrado em sua argumentação, tomando sentidos outros que não apenas o de vazio entre as fronteiras.
As perspectivas dessa circulação permitem ao autor discutir o funcionamento de uma rede de relações economicamente interconectadas na dinâmica entre a região de Gujarate e o sudeste africano, especialmente o canal de Moçambique. A aquisição de marfim e escravos dependia de trocas comerciais com africanos e, nesta troca, os tecidos desempenhavam papel fundamental. Na medida em que os indianos eram capazes de compreender as demandas por tecidos por parte dos africanos, garantiam destaque nas relações comerciais e isso repercutiu no crescimento de uma produção manufatureira dos tecidos e tinturarias na Índia para atender especificamente a esse comércio.
Assim, ao discutir a expansão e o crescimento da atividade comercial dos mercadores indianos nas relações do oceano Índico na sua porção a oeste, o estudo descentraliza a figura do europeu no funcionamento das dinâmicas econômicas e sociais naquela parte do continente africano. Machado mostra como os comerciantes vaniyas estavam inseridos, via comércio de escravos, no funcionamento do sistema econômico mundial, nas relações que envolviam o fornecimento de tecidos, a prata originária da América do Sul e as plantações brasileiras, consumidoras de cativos.
O livro inicia com um relato de um comerciante vaniya, Laxmichand Motichand, que “estava entranhado em um mundo em movimento” (p. 1, tradução minha). A experiência de Motichand descrita na introdução reflete a própria trajetória da pesquisa em seus caminhos narrativos e metodológicos. Com amplo trabalho junto às fontes nos arquivos da Índia, Moçambique, Portugal e Inglaterra, o autor reconstrói laços de circulação entre a costa do sudeste africano e a região de Gujarate. Nesse sentido, Machado procura discutir ao longo de cinco capítulos como os comerciantes indianos se estabeleceram e expandiram suas relações no Índico.
O primeiro capítulo apresenta o cenário da expansão da atividade dos mercadores vaniyas na costa africana do oceano Índico, identificando o funcionamento das redes comerciais entre Gujarate e Moçambique e a sua vinculação com o comércio de escravos. Identifica como as relações de parentesco estabelecidas nas duas pontas do oceano favoreciam os negócios, bem como a atuação dos intermediários (patamares e vashambazi) com as regiões do interior. Isso se somava às formas de transferências de capitais (hundis, sarrafs) que tornaram os mercadores vaniyas indispensáveis para a esfera comercial portuguesa.
No segundo capítulo discute a circulação dos vaniyas provenientes das regiões de Diu e Damão. Retoma um ponto importante da história dos oceanos, qual seja, a própria navegação. A região possuía uma tripulação experiente na navegação pelo Índico, uma significativa independência no transporte marítimo e nas estruturas de serviços de seguro marítimo e capital especulativo. Logo, o controle do tempo de circulação e as relações estabelecidas nas duas pontas do oceano permitiam a manutenção do ritmo da atividade comercial. Dominar os mares também era fundamental para dominar o comércio.
Com os espaços e as condições de circulação traçados, o autor parte para discutir um de seus argumentos mais instigantes no terceiro capítulo em que trata sobre o consumo de tecidos na costa sudoeste da África. Demonstra que os comerciantes vaniyas tornaram-se fundamentais para as negociações na região, uma vez que compreendiam que os africanos, com quem negociavam marfim e escravos, possuíam preferências e gostos particulares no que diz respeito aos tecidos. Com os seus intermediários na costa africana, os comerciantes indianos conseguiam atender às demandas de tecidos na região de Moçambique. Assim possuíam uma vantagem comercial em relação aos europeus que ignoravam as preferências do consumo africano.
Discutida a importância do mercado de tecidos e sua relação com o mercado africano, o autor concentra-se, em seus últimos capítulos, na participação dos vaniyas no comércio de marfim (cap. IV) e no de escravos (cap. V). Os produtos têxteis teriam, na análise de Machado, sustentado consideravelmente ambos os negócios. O consumo de marfim entre os indianos contribuiu para a presença dos comerciantes na costa africana, onde adquiriram grandes quantidades do produto, comércio substancialmente alimentado pelas caravanas de longa distância, principalmente as das populações yao (ou wayao). Já no comércio de escravos, o papel dos vaniyas se dava por meios indiretos, isto é, na venda de tecidos para traficantes portugueses, franceses e brasileiros, financiada com prata sul-americana que se tornou um importante capital para os comerciantes indianos e para o Índico no geral.
Ocean tradetorna-se, portanto, uma leitura instigante para o historiador brasileiro à medida que dialoga com uma preocupação presente em nossa historiografia ao observar a atuação de “atores aparentemente marginais à operação global na economia oceânica da escravidão” (p. 267, tradução minha). Machado deslinda as maneiras pelas quais os mercadores indianos e seus parceiros estabelecidos na costa africana constituíam um fluxo de informações sobre as preferências por estilos de tecidos, que seguiam o próprio tempo das monções. Assim, os indianos garantiam o abastecimento do mercado de Moçambique. Acompanhando as formas pelas quais osvaniyasse inseriram nas relações comerciais do Índico, o autor demonstra como eles operavam no interior do sistema escravista no âmbito regional, ao atender as demandas africanas, mas também no âmbito global, garantindo com a produção têxtil o funcionamento do mercado escravista tanto do Índico como do Atlântico. A circulação de tecidos “ligava o sul da Ásia à costa africana, as ilhas e o interior, aproximando os consumidores africanos de produtores sul-asiáticos em uma íntima e complexa conexão oceânica das histórias materiais” (p. 120, tradução minha). Assim, a obra em questão permite ampliar nossa escala de entendimento dos processos históricos existentes entre Atlântico e Índico e fornece uma importante contribuição para o pesquisador preocupado no estudo da diáspora africana da África Oriental, mais especificamente da região de Moçambique, incluindo o tráfico para o Brasil.
Além disso, ao prestar atenção a outros focos econômicos e sociais, o autor consegue ampliar a leitura sobre a história africana questionando uma perspectiva meramente eurocêntrica ao buscar a participação dos agentes indianos e entendê-los dentro da dinâmica comercial escravista africana e, nela, a expansão dos comerciantes vaniyas ao longo do século XVIII e início do XIX, bem como suas habilidades em considerar as demandas e as preferências regionais dos africanos por determinados tipos de tecidos. Para além da dicotomia africanos e europeus, Ocean trade permite entender a profundidade e a amplitude dos processos históricos, em especial para estudiosos sobre África.
Referências
ALPERS, Edward A. East Africa and the Indian Ocean. Princeton: Markus Winer Publishers, 2009. [ Links ]
BOSE, Sugata. Space and time on the Indian Ocean rim: theory and history. In: FAWAZ, Leila Tarnzi & BAYLY, C. A. (ed.). Modernity and culture from Mediterranean to the Indian Ocean. Nova York: Columbia University Press, 2002, p. 365-386. [ Links ]
CAMPBELL, Gwyn (ed.). Abolition and its aftermath in Indian Ocean Africa and Asia. Londres: Frank Class, 2005. [ Links ]
__________. (ed.). The structure of slavery in Indian Ocean Africa and Asia. Londres: Frank Class, 2004. [ Links ]
CHAUDHURI, Kirti Narayan. Trade and civilization in the Indian Ocean: an economic history from the rise of Islam to 1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. [ Links ]
PEARSON, Michael. Indian ocean. Londres: Routledge, 2003. [ Links ]
TOUSSAINT, Auguste. Histoire de l’ocean Indien. Paris: Presses Universitaries de France, 1961. [ Links ]
UNESCO. The general history of Africa. Studies and documents 3: Meeting of experts on historical contacts between East Africa and Madagascar on the one hand, and South East Asia on the other, across the Indian ocean. Port Louis: Unesco, 1974. [ Links ]
VINK, Markus P. Indian Ocean studies and the “new thallassology”. Journal of Global History, n. 2, 2007. [ Links ]
ZIMBA, Benigna. O papel da mulher no consumo de tecido importado no norte e no sul de Moçambique, entre os finais do século XVIII e os meados do século XX. In: NASCIMENTO, Augusto; ROCHA, Aurélio; RODRIGUES, Eugénia (org.).Moçambique: relações históricas regionais e com países da CPLP. Maputo: Ed. Alcance, 2011, p. 15-38. [ Links ]
2Sobre o consumo de tecidos e seu papel nas relações sociais e de gênero em Moçambique cf. ZIMBA, Benigna. O papel da mulher no consumo de tecido importado no norte e no sul de Moçambique, entre os finais do século XVIII e os meados do século XX. In: NASCIMENTO, Augusto; ROCHA, Aurélio; RODRIGUES, Eugénia (org.).Moçambique: relações históricas regionais e com países da CPLP.Maputo: Ed. Alcance, 2011, p. 15-38.
3Os primeiros trabalhos a abordarem essa perspectiva foram os estudos clássicos de TOUSSAINT, Auguste. Histoire de l’ocean Indien. Paris: Presses Universitaries de France, 1961; e CHAUDHURI, Kirti Narayan. Trade and civilization in the Indian ocean: an economic history from the rise of Islam to 1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
4Nesse sentido destacam-se os encontros organizados pela Unesco na década de 1970 sobre a escravidão na qual a temática no oceano Índico é objeto de discussão na conferência de Port-Louis, em Maurício (Unesco, 1974).
Thiago de Araujo Folador – Bacharel em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mestrando em História Social pela mesma instituição. Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: [email protected].
Italianidade no interior paulista – TRUZZI (RH-USP)
TRUZZI, Oswaldo Mario Serra. Italianidade no interior paulista – percursos e descaminhos de uma identidade étnica (1880-1950). São Paulo: Editora Unesp, 2016. Resenha de: ALMEIDA, Geraissati Castro de. Identidade étnica ou identidades étnicas? Italianidade em Oswaldo Truzzi. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
Entre os anos de 1881 e 1915, cerca de 31 milhões de imigrantes chegaram à América no período classificado como o das grandes migrações.2 Estes deslocamentos ensejaram contatos entre pessoas de diferentes formações culturais que tornaram a construção de uma identificação de si um fenômeno recorrente ao longo dos séculos XIX e XX.
Inserido na produção que analisa essa conjuntura está o livro publicado em 2016, Italianidade no interior paulista: percursos e descaminhos de uma identidade étnica (1880-1950), pelo professor da Universidade Federal de São Carlos, Oswaldo Truzzi. Seu objetivo é compreender como se deu o processo de estruturação de uma identidade étnica do grupo de indivíduos que emigraram da Itália no recorte temporal que abrange os anos de 1880 a 1950. O espaço geográfico privilegiado em sua análise é o interior paulista, pertencente ao estado que possuiu o maior afluxo migratório brasileiro neste contexto; do total de imigrantes que vieram ao Brasil, 57,7% optaram por São Paulo.3
O pesquisador é formado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo (1979), mestre em administração de empresas com a dissertação Café e indústria (1850-1950) – o caso de São Carlos pela Fundação Getúlio Vargas, SP (1985) e doutor em Ciências Sociais com o estudo Patrícios – sírios e libaneses em São Paulo pela Universidade Estadual de Campinas (1993). Sua tese de doutorado elucidou o processo da integração entre migração e imigração e salientou que há contextos específicos tanto na pátria de origem quanto na que os recepciona que possibilitam a estes indivíduos permanecerem em locais por vezes com costumes diversos.
Também autor do livro Sírios e libaneses: narrativa de história e cultura (2005), Truzzi propõe, por meio de uma análise quantitativa, uma periodização para as levas migratórias deste grupo. É coautor de livros que sistematizam informações sobre a imigração como Atlas da imigração internacional em São Paulo (1850-1950), Roteiro de fontes sobre a imigração em São Paulo (1850-1950) e Repertório da legislação brasileira e paulista referente à imigração, todos publicados em 2008 pela Editora Unesp. Entre os anos de 1990 e 2002, foi pesquisador do grupo de História Social da Imigração do Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (Idesp) que visava a preencher a lacuna sobre a imigração de caráter urbano. Sua trajetória acadêmica e sua inserção em grupos como a Red de Estudios Migratorios Transatlánticos indicam sua importância no tema.
O livro, dividido em cinco capítulos, principia por apresentar quais foram as concepções teórico-metodológicas utilizadas para estruturar sua noção de identidade. No primeiro capítulo, “à guisa de uma introdução teórica”, o autor propõe que a identidade étnica é essencialmente uma fronteira social, produto da relação entre o imigrante, seu próprio grupo e sua sociedade receptora. Ao perscrutar as diversas camadas sobrepostas na identidade italiana, visa mostrá-la como um processo histórico constantemente negociado, em que ora ocorre a aceitação, ora a resistência à assimilação. Dessa forma, ao migrarem, inevitavelmente as culturas tradicionais passam por alterações (p. 17). Truzzi entende que a experiência social destes imigrantes se localiza em uma zona de intersecção entre background social, econômico e cultural de sua terra de origem, contexto político e econômico de ambas as nações no período de migração e condicionantes de inserção na nova terra com suas oportunidades de mobilidade (p. 20).
Para a construção da “italianidade”, uma forma de identificação a partir de uma experiência social heterogênea, o pesquisador se referencia na noção de comunidade imaginada proposta por Benedict Anderson que consiste em um sentimento de pertencimento a uma identidade nacional forjada. Entretanto, ao longo das páginas seguintes, demonstra que as primeiras levas migratórias advindas de uma Itália recém unificada possuíam vinculações com suas regiões de origem, identificando-se como calabreses, vênetos, dentre outros, e não com o Estado-nação italiano, algo que leva o leitor a indagar-se ao longo do livro se será possível emergir de fato a “italianidade”.
No capítulo “A profusão de italianos no interior paulista”, é reafirmada a importância do tema ao compilar bibliografia que analisa a imigração advinda da Itália: as cifras atestam que 57% dos imigrantes aportados no Brasil entre 1886 e 1900 provinham dessas regiões. Para possíveis questionamentos quanto ao recorte centrar-se no interior paulista, o autor retoma Thomas Holloway que estima que, nos anos 1893-1910, nove entre dez imigrantes que deixaram a hospedaria do Brás se dirigiram ao oeste paulista, sobretudo próximos à Ferrovia Paulista (São Carlos) e à Ferrovia Mogiana (Ribeirão Preto) (p. 23).
Para compreender o percurso que foi desenvolvido pela “italianidade” no interior paulista, o sociólogo elenca três ocasiões que se constituíram em marcos para uma mudança neste sentimento. São elas: os momentos iniciais da imigração e a construção da “italianidade” fora da Itália, isto é, forjada na sociedade de acolhimento; a emergência do fascismo na Itália e sua tentativa de revigorar um sentimento nacional; e o Estado Novo e a campanha de nacionalização encetada por Vargas. Os meandros desses processos e os argumentos do autor serão elencados a seguir.
O capítulo “Uma italianidade construída em São Paulo” aponta que inicialmente, ao migrarem, estes sujeitos não possuíam uma “italianidade”. Para corroborar esta afirmação o autor cita que Hobsbawm estimou que apenas 2,5% falavam italiano na época em que a Itália foi unificada (p.36). Logo, a designação “italiano” foi cunhada em solo brasileiro pela própria sociedade receptora que, assim, denominava a todos os advindos deste mesmo espaço geográfico. Apesar de haver sido criada de maneira exógena, o autor acredita que esta circunstância promoveu consequências na formação de uma identidade comum dentro desta comunidade. A relação com outros, cujas fronteiras identitárias nacionais e raciais já estavam bem demarcadas, a exemplo dos negros, propiciou a criação de um reconhecimento de si por contraste. O grupo se afirmou enquanto branco e vinculado a uma valorização da ética do trabalho, de caráter preponderantemente individualista (p. 41). Apesar de trazer este contexto como o momento inicial de sua identificação enquanto grupo, Truzzi destaca que houve desafios para sua consolidação tanto em virtude dos regionalismos, que se faziam presentes na trajetória destes imigrantes, quanto em função de sua progressiva diferenciação social ao gerar reconhecimentos de classe que superavam a identificação étnica.
Nos capítulos “No meio rural” e “No meio urbano” o autor pontua episódios que foram relevantes na trajetória destes sujeitos e que impactaram na formação de um sentimento de pertencimento a uma mesma comunidade. Entre eles, a proibição em 1902 pelo governo italiano das passagens subsidiadas em função das precárias condições de trabalho nas fazendas de café. Esta promoveu a queda dos fluxos migratórios de italianos que foram substituídos por espanhóis e portugueses (p. 55-56), fato que enfraqueceu as possibilidades da formação da “italianidade”.
Truzzi afirma que, para tentar articular estes indivíduos, a ação da imprensa, das escolas étnicas e das sociedades de auxílio mútuo desempenharam um papel significativo ao realizarem esforços para acomodar, em uma mesma instituição, indivíduos com credos e ideologias distintas. Contudo, a arregimentação e o entendimento entre estratos de uma colônia com diferenças de origem muito acentuadas foram árduos (p. 87) e pareceram se prestar mais aos interesses de uma camada bastante específica desta colônia. O autor tangencia o argumento de que uma “italianidade” ocorreu em função dos esforços de uma elite étnica que, ao integrar essas associações, visava se legitimar enquanto representante de uma numerosa coletividade e assim adquirir um prestígio que lhe outorgasse espaço nas oligarquias locais.
A efetivação da “italianidade” parece adquirir expressão a partir dos anos de 1920 com a emergência do fascismo na Itália. Ao propor uma vinculação direta entre regime e nação, o governo italiano entendia a comunidade dos emigrados como um importante representante e propagandista de seus interesses políticos e econômicos. Todavia, o autor destaca que a queda dos fluxos migratórios debilitava a adesão ao fascismo e que os filhos de imigrantes já se consideravam brasileiros e estavam mais propensos ao integralismo. Logo, o fascismo obteve impacto apenas entre os imigrantes que ascenderam socialmente e aspiravam se desvincular de sua aldeia de origem, e entre os comerciantes que viajavam para a Itália com frequência (p. 106). Para as classes subalternas essas questões permaneceram difusas e a condição de classe se fez mais presente que a étnica.
Por fim, o golpe final dado na tentativa da formação da “italianidade” foi perpetrado pelo Estado Novo que, com uma forte política nacionalista, reprimiu as escolas, imprensa e associações étnicas, ato que segundo o sociólogo fez com que o capital étnico migrasse para o social e político. Em fins dos anos de 1930 e especialmente no pós-Segunda Guerra, a “italianidade” não servia mais como legitimidade na comunidade já que a distância do processo migratório esvaziava o sentido de invocar essa noção (p. 120).
Ao fim do livro restam algumas indagações: afirmar a italianidade como uma comunidade imaginada, limitada e soberana aos moldes de Anderson não pressuporia especificidades em comum destes indivíduos? Atribuí-la a uma diferenciação com relação aos negros e ao fato de serem estrangeiros dentro de uma comunidade com costumes diferentes pode ser proposto a todas as comunidades de imigrantes. Indicar que a construção deste sentimento esbarrou em diferenças de formação social e histórica das diversas regiões da Itália implicaria que, para estes indivíduos, a noção de comunidade limitada nunca se fez presente.
Afirmar o protagonismo do imigrante no comércio e na indústria tanto como empresário quanto como empregado (p. 68), sem destacar todas as tensões que envolviam sua inserção na sociedade, oblitera um aspecto que foi relevante na formação destes indivíduos. Os imigrantes se tornaram a maior parte da população e exerceram inúmeras funções no campo e na cidade, o que gerou insegurança sobre como lidar com esse enorme contingente. No período abordado pelo autor, eram correntes os embates tensos entre a “assimilação” ou a “aculturação” destes indivíduos.4 Longe de embates que tensionavam constituírem uma população naturalizada no cotidiano, as crônicas e jornais demonstram que sua presença era percebida e incômoda. Foram criados estereótipos para as diferentes colônias que aqui aportaram, denotando uma insatisfação com a sua presença e demarcando-as como “o outro” na cidade. A respeito dos italianos houve a criação da imagem do “carcamano”, termo pejorativo para designar os comerciantes.
A imagem de São Paulo como um local de convivência harmoniosa foi forjada ao longo dos anos, a partir de um discurso que tentava imprimir marcas cosmopolitas à cidade e ao estado. Os imigrantes que enriqueceram e os operários que participaram de movimentos políticos não foram vistos com bons olhos pelas famílias tradicionais. O suposto cosmopolitismo possuiu outras faces, nas quais o incentivo à imigração se inseriu em virtude do fim da outrora lucrativa escravidão e da política de embranquecimento atrelada à ideia de modernidade. Em decorrência desse projeto nem todos os imigrantes eram bem-vindos e, como propõe Sevcenko, a capital estava mais para um “Cativeiro da Babilônia” que para uma “Babel invertida”, como sugeriu um cronista da época.5
Quanto ao fato de os imigrantes que adentraram na política não manejarem o capital étnico ao se colocarem como estrangeiros, pode-se indagar se isto não decorre da tentativa de ocupar espaços junto às oligarquias locais, tornando invisíveis suas origens para não parecerem uma ameaça aos nacionais. Para a historiadora Raquel Glezer a gênese da interpretação do passado colonial como um período glorioso foi cunhada neste momento em função da elite intelectual entender os imigrantes como uma ameaça constante que, uma vez trazidos para trabalhar na lavoura, impactaram a transformação do território.6 Logo, a análise de Truzzi não pontua alguns momentos relevantes na política e na legislação da cidade, necessários para pensar a inserção e as possíveis identidades manejadas pelos imigrantes ao atuarem nestes espaços.
Em termos metodológicos, em seus artigos mais recentes, tal como “Redes em processos migratórios”,7 o sociólogo defende enfoques que caminhem no sentido de recuperar o papel do agente e de sua rede, fator decisivo na escolha dos locais de destino. Na abordagem proposta por Truzzi, visa-se dar ao imigrante um papel de agente racional, privilegiando o viés da micro-história na expectativa de encontrar a ação social e informações que se perderam nas escalas macroscópicas. Neste livro, apesar de realizar breves menções a imigrantes que atuaram nas cidades analisadas, não são consideradas suas trajetórias, usadas apenas para ilustrar algumas de suas proposições. Verifica-se tal procedimento ao versar sobre os imigrantes que, de forma precoce, adquiriram uma inserção privilegiada na sociedade de destino (p. 77). São citados alguns nomes e breves informações que não demonstram os meandros dessas ascensões sociais, gerando a heroicização desses self-made-men, uma vez que não há a significação e a problematização de suas trajetórias. Metodologia similar ocorre em relação à abordagem da iconografia que é utilizada ao longo do livro para corroborar suas afirmações, sem merecer maiores explanações.
A pertinência de Italianidade no interior paulista: percursos e descaminhos de uma identidade étnica (1880-1950) está em historicizar o termo “italianidade” mostrando seus desafios e particularidades em diferentes temporalidades. Contudo, o leitor ao fim do livro, percebe que ocorreram múltiplas criações de identidades étnicas, frutos de uma ação ativa destes indivíduos. Porém, não fica convencido da equivalência entre identidade étnica e “italianidade”. A última parece nunca ter se efetivado para além de um projeto criado fora do grupo pela sociedade receptora e que, posteriormente, foi reapropriado por setores desta colônia que desejavam erigir seu poder simbólico.
Referências
BASSANEZI, Maria Silvia Casagrande Beozzo; SCOTT, Ana Silvia Volpi; BACELLAR, Carlos de Almeida Prado;TRUZZI, Oswaldo Mario Serra. Roteiro de fontes sobre a imigração em São Paulo 1850-1950. São Paulo: Unesp, 2008. [ Links ]
BASSANEZI, Maria Silvia Casagrande Beozzo; SCOTT, Ana Silvia Volpi; BACELLAR, Carlos de Almeida Prado;TRUZZI, Oswaldo Mario Serra ; GOUVÊA, Marina Machado de Magalhães. Repertório de legislação brasileira e paulista referente à imigração. São Paulo: Editora Unesp, 2008. [ Links ]
BASSANEZI, Maria Silvia Casagrande Beozzo; SCOTT, Ana Silvia Volpi; BACELLAR, Carlos de Almeida Prado;TRUZZI, Oswaldo Mario Serra. Atlas da imigração internacional em São Paulo, 1850-1950. 1ª edição. São Paulo: Editora da Unesp, 2008. [ Links ]
GLEZER, Raquel. Chão de terra e outros ensaios sobre São Paulo. São Paulo: Ed. Alameda, 2007. [ Links ]
GORELIK, Ádrian. A aldeia na cidade. Ecos urbanos de um debate antropológico. In: LANNA, Ana Lucia Duarte; LIRA, José Tavares Correia de Lira; PEIXOTO, Fernanda Arêas; SAMPAIO, Maria Ruth Amaral. São Paulo, os estrangeiros e a construção das cidades. São Paulo: Alameda Editorial, 2011. [ Links ]
KLEIN, Herbert. Migrações internacionais na história da América. In: FAUSTO, Boris. Fazer a América. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000. [ Links ]
OLIVEIRA, Lúcia Lippi. O Brasil dos imigrantes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002. [ Links ]
PARK, Robert Ezra. A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano. In: VELHO, Otávio Guilherme (org.). O fenômeno urbano. 2ª edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973. [ Links ]
SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. [ Links ]
SEYFERTH, Giralda. Cartas e narrativas biográficas no estudo da imigração. In: DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri & TRUZZI, Oswaldo Mário Serra. Estudos migratórios: perspectivas metodológicas. São Paulo: EdUFSCar, 2005. [ Links ]
TRUZZI, Oswaldo Mario Serra. Redes em processos migratórios. Tempo Social (USP. Impresso), vol. 20, p. 199-218, 2008. [ Links ]
__________. Patrícios – sírios e libaneses em São Paulo. São Paulo: Editora Unesp, 2008. [ Links ]
__________. Sírios e libaneses: narrativa de história e cultura. São Paulo: CEN, 2005. [ Links ]
2 KLEIN, Herbert. Migrações internacionais na história da América. In: FAUSTO, Boris. Fazer a América. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000, p. 23.
3 OLIVEIRA, Lúcia Lippi. O Brasil dos imigrantes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002, p. 22.
4 GORELIK, Ádrian. A aldeia na cidade. Ecos urbanos de um debate antropológico. In: LANNA, Ana Lucia Duarte; LIRA, José Tavares Correia de; PEIXOTO, Fernanda Arêas; SAMPAIO, Maria Ruth Amaral. São Paulo, os estrangeiros e a construção das cidades. São Paulo: Alameda Editorial, 2011; SEYFERTH, Giralda. Cartas e narrativas biográficas no estudo da imigração. In: DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri & TRUZZI, Oswaldo Mário Serra. Estudos migratórios: perspectivas metodológicas. São Paulo: EdUFSCar, 2005; PARK, Robert Ezra. A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano. In: VELHO, Otávio Guilherme (org.). O fenômeno urbano. 2ª edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973.
5SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 37.
6GLEZER, Raquel. Chão de terra e outros ensaios sobre São Paulo. São Paulo: Ed. Alameda, 2007, p. 179.
7TRUZZI, Oswaldo Mario Serra. Redes em processos migratórios. Tempo Social (USP. Impresso), vol. 20, p. 199-218, 2008. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/12567. Acesso em: 6 jun. 2018. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20702008000100010.
Renata Geraissati Castro de Almeida – Doutoranda no Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. E-mail: [email protected].
Imprensa e escravidão: Política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850) – YOUSSEF (RH-USP)
YOUSSEF, Alain El. Imprensa e escravidão. Política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: Intermeios/ Fapesp, 2016. Resenha de: OLIVEIRA, Felipe Garcia de. A escravidão na imprensa: política antiescravista. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
O debate em torno das políticas e ações que levaram ao fim o tráfico negreiro e decretaram a abolição ainda é um tema caro aos historiadores da atualidade. Não à toa, nos últimos anos, foram publicados alguns livros que refletem sobre a importância da lei de 1831, a atuação dos abolicionistas, bem como sobre a pressão inglesa e a agência escrava no século XIX para o fim do tráfico por meio das revoltas e das ações judiciais.
É dentro destas discussões que o livro ora resenhado se insere. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850), é resultado da pesquisa de dissertação de mestrado (de 2010) de Alain Youssef apresentado à Universidade de São Paulo (USP). O autor buscou, a partir do uso sistemático de jornais, panfletos e obras políticas, discutir e apresentar os embates que o trato negreiro e a escravidão ocuparam na imprensa do Rio de Janeiro no período entre 1822 e 1850. Defendendo que a imprensa se apresentou como lócus privilegiado para a questão, Youssef comprova que, ao contrário do consenso de que o tráfico e a escravidão não teriam sido temas nos periódicos, o assunto foi abertamente debatido. A questão não somente foi alvo de debate como também de atuação política, à medida que ideias eram apresentadas primeiramente no parlamento, depois amplamente defendidas e divulgadas na imprensa e, por fim, lidas e discutidas nos espaços de sociabilidade.
O livro é dividido em cinco capítulos, cuja narrativa é clara e demonstra os movimentos políticos e suas modificações. Os capítulos apresentam a exposição de muitas das fontes consultadas, o que permite ao leitor um contato maior com as mesmas.
No primeiro capítulo, o autor localiza seu objeto de interesse dentro de um cenário mundial de transformações que ocorreram na segunda metade do século XVIII e primeira metade do XIX, no sistema atlântico do noroeste europeu.2 O livro, de início, faz uma apresentação minuciosa, demonstrando as particularidades de cada unidade de análise e as conexões entre elas. Neste sentido, demonstra como na Grã-Bretanha, França, Espanha e Portugal, o questionamento acerca do trato negreiro e mesmo da escravidão, ainda que com suas particularidades, esteve vinculado ao desenvolvimento da imprensa e da emergência de novas formas de sociabilidade. Ele analisa, igualmente, como estas reverberaram nos espaços coloniais dos mencionados impérios – Estados Unidos, Haiti, Cuba e América portuguesa -, abordando, então, como os vários agentes sociais utilizaram a imprensa para colocar em pauta o tema da escravidão e do tráfico de africanos. O autor busca dar conta de um universo amplo de informações sem, contudo, desconectar os distintos processos históricos que ocorreram nos vários espaços que estavam interligados entre si e com a América portuguesa.
Ao focar sua análise em seu objeto de estudo propriamente dito, o Rio de Janeiro, o autor destaca que a imprensa não era “um corpo estranho” no espaço colonial (p. 56). Foi, no entanto, a partir do impacto que a chegada da família real trouxe para as práticas culturais de leitura e da criação da imprensa régia, ponto de mudança importante em sua análise, que ocorreu o desenvolvimento da mesma. Ainda naquele momento, a censura promovida pela imprensa régia impossibilitou a criação de uma opinião pública de tipo moderno (p. 66), algo que mudou com o constitucionalismo vintista português introduzindo a liberdade de imprensa em todo o Império. Assim, o número de periódicos passou a crescer tanto em Portugal como no território da América portuguesa, implicando em uma maior circulação de periódicos e de ideias dentro e entre estes espaços. A partir desse alargamento ocorreram condições para o emergir e a legitimação de uma opinião pública ainda que marcada pelo hibridismo. Somente a partir disso, a escravidão passou a ser politizada a tal ponto que a revolta de São Domingos foi utilizada e apresentada nos periódicos de forma diversa tanto pelos que eram favoráveis ao retorno do monarca português quanto por aqueles que queriam sua permanência.
O segundo capítulo tem o recorte que vai da independência do Brasil em 1822 até a promulgação da lei de 1831 (primeira lei de proibição do tráfico negreiro). O autor demonstra que o primeiro texto que abriu o debate defendendo que a escravidão deveria ser extinta de forma gradual foi publicado no final de 1822. Ainda naquele período era pequeno o número de periódicos que defendiam o fim do tráfico e da escravidão. Para Youssef, a explicação estaria na atuação política de José Bonifácio que, por meio da imprensa, buscava convencer e mesmo preparar o público para o debate em torno da escravidão que aconteceria na Assembleia Constituinte.
Novamente, ao buscar estabelecer conexões entre os espaços, o autor menciona o impacto da Revolta de Demerara (1823) levando os abolicionistas britânicos a defender no parlamento e na imprensa da Grã-Bretanha o fim da escravidão. Este momento de intensificação, por sua vez, reverberou no Brasil, culminando na assinatura do tratado antiescravista de 1826-1827. A partir das fontes, constata-se que os textos sobre este tratado tiveram amplo espaço na imprensa brasileira e que, se num primeiro momento foi visto com bons olhos, após sua assinatura passou a ser uma via de crítica contra d. Pedro I. Nesse sentido, os jornais passaram a estar cada vez mais imbricados com a política, acompanhando em suas publicações a “lógica interna do parlamento” (p. 101). Para o autor, até a abdicação, as diversas críticas direcionadas ao monarca, intensificadas após 1826, e as poucas publicações em sua defesa podem asseverar que a assinatura do tratado foi um dos motivos que contribuiu para sua perda de apoio político. Retomando um debate ainda importante da historiografia do século XIX, alinhado a autores como Beatriz Mamigonian e Tâmis Parron, o autor defende a impossibilidade em tomar a lei de 1831 como “lei para inglês ver”, pois, considerando que os periódicos passaram a colocar em pauta projetos que abordaram o que deveria ser feito após a extinção do tráfico e mesmo com o possível fim da escravidão, haveria uma certeza de que o tráfico acabaria.
O terceiro capítulo aborda o período pós abdicação até 1835. Os primeiros anos da regência são marcados pela euforia política e pelo alargamento dos espaços públicos, na medida em que ocorreu a fundação de várias associações e jornais fundamentais para os debates, para a conquista de público e mesmo para a definição de atuação política dos grupos de oposição ao monarca. Naquele momento, tais grupos eram os partidos dos liberais moderados, liberais exaltados e restauradores (caramurus). Ao assumirem o poder, os liberais moderados empreenderam medidas para dar fim ao tráfico e, embora não fossem capazes de acabar com ele, tais medidas não podem ser vistas como um fracasso completo. Uma delas foi a descentralização do Judiciário concedendo mais poder ao juiz de paz que passaria a dar liberdade aos africanos escravizados ilegalmente e a punir os responsáveis.
Reavaliando o impacto da Revolução de São Domingos no Brasil, Youssef destacou que, diferentemente dos efeitos que ocorreram em outros países escravistas – Estados Unidos e Cuba -, o haitianismo era muito mais uma retórica utilizada para fins políticos de defesa ou oposição aos moderados. Ao longo do capítulo, o autor tenta perceber o impacto de algumas revoltas do período. Analisando o levante dos malês (1835) conclui que, de fato, ele foi capaz de reacender as ideias antiescravistas, mas que foi por um período curto, não perdurando mais que quatro ou cinco meses (p. 168). No mais, este evento não teria servido como impulso político para que um grupo tomasse medidas eficientes contra o trato negreiro, ainda que propostas fossem apresentadas em âmbito municipal e nacional.
Para o autor, o levante dos malês e os boatos de várias revoltas escravas possibilitaram um temor mais concreto em relação ao haitianismo. No entanto, dado o clima político, estes eventos deram base para a formulação de críticas a uma ala dos moderados, pois a política empreendida por Feijó e Evaristo estaria, segundo os críticos, levando o país à ruina (p. 169). Vale ressaltar que não somente os adversários tiraram proveito da situação; os partidários utilizaram o discurso de medo do haitianismo para defender suas posições, o que fez com que os oposicionistas acabassem abandonando a retórica. Neste sentido, os eventos e mesmo o temor que era espalhado passou da crítica à propaganda política, sendo uma “peça no jogo político” (p. 174). O autor conclui, portanto, que a imprensa teve um peso importante para a propagação desse medo do haitianismo neste momento regencial, propagação esta que, segundo suas hipóteses, teria contribuído para a vitória de Feijó.
Até 1834, nenhum jornal defendia a continuidade do tráfico. Entretanto, o autor demonstra que a defesa do trato negreiro e da escravidão passou aos poucos a ocorrer quando o campo cafeeiro ganhou força, momento em que a economia mundial estava se reorganizando, e, também, com as dissidências e disputas políticas dentro dos partidos. No final de 1834, Feijó escreveu um artigo defendendo abertamente, pela primeira vez, a continuidade da escravidão e a revogação da lei de 1831, o que mais tarde ganhou força e ajudou em sua eleição. Neste sentido, as modificações na configuração econômica e política propiciaram o retorno da defesa do tráfico e da escravidão, ponto analisado com mais afinco na sequência.
O quarto capítulo aborda o período de 1835 a 1840, discutindo como a imprensa teve papel fundamental na propagação das ideias regressistas para a reabertura do tráfico. Após a posse de Feijó, as medidas contra a escravidão permaneceram baseadas na política moderada, apesar de este ter defendido a revogação da lei de 1831 durante a campanha. Os regressistas colocaram em pauta a reforma do código do processo criminal de 1832, a reinterpretação do ato adicional de 1834 e a revogação da lei de 1831. Segundo o autor, as duas primeiras questões incidiam em uma tentativa de maior centralização diretamente sobre o Judiciário.
Para conseguir suas pautas, parte dos regressistas atuou politicamente por meio da imprensa, principalmente na implementação de uma política do contrabando negreiro (p. 182). Neste sentido, articulados com os fazendeiros, defendiam a entrada de africanos e a proteção da posse ilegal dos que por lei eram livres. Foi na imprensa, como já mencionado, que a agenda dos regressistas trouxe a continuidade do trato negreiro a partir de 1835. Com a saída de alguns periódicos que eram contra a continuidade do tráfico e com o avanço das publicações a favor, a opinião dos regressistas aliados aos fazendeiros avançou, ao ponto de, após 1836, a oposição ficar em silêncio. Assim, eles utilizaram a imprensa para publicizar suas propostas de reabertura do tráfico e para informar medidas que relaxavam as punições contra os traficantes. Os periódicos teriam, segundo o autor, possibilitado que a letra da lei contra o tráfico fosse considerada morta. A lei, apesar de não ser abolida, não era obedecida. Desse modo, o contrabando passou a operar em nível sistêmico (p. 201).
O autor questiona a ideia historiográfica de que a continuidade do tráfico ilegal pode ser explicada a partir das políticas liberais de descentralização do Judiciário, à medida que muitas vezes os juízes de paz – eleitos – eram fazendeiros e, portanto, teriam atuado pela continuidade, ponto que tem sua origem entre os coevos do século XIX. Para o autor estas análises baseadas principalmente em âmbito local ou na atuação do juiz de paz não conseguem responder completamente à pergunta. Em sua perspectiva, um exame mais amplo das dinâmicas econômicas, sociais e políticas daria respostas melhores e ajudaria a entender porque o tráfico atingiu seu maior número logo após a medida de centralização dos conservadores. Desse modo, ele acredita que, apesar de não podermos deixar de lado a questão local, os processos amplos que possibilitaram o surto cafeeiro e a continuidade do tráfico precisam considerar a articulação na imprensa e no parlamento dos políticos regressistas com os fazendeiros.
Ao verificar a importante função que a imprensa possuía já no século XIX, Youssef questiona a noção historiográfica que colocou no Estado ou na Coroa o papel principal de conformador da sociedade Ele aponta que, apesar de não ter dados empíricos para verificar a formação de uma classe social de fazendeiros que usou a Coroa para seus fins, havia uma relação forte entre os políticos e plantadores do centro-sul do país que informou a continuidade do tráfico e sua defesa. Considerando a imprensa como “umas das organizações privadas” que constitui a sociedade, ele afirma que ela foi importante para a direção e defesa do Regresso.
O quinto e último capítulo aborda o papel da imprensa no período de 1841 até 1850. Discutindo o peso das posições acerca do tráfico negreiro na “diferenciação e na consolidação dos dois partidos durante os primeiros anos do Segundo Reinado” (p. 241), o autor aponta que as críticas feitas nos periódicos ajudaram na consolidação e na diferenciação, ocorrendo em um momento de crescimento maior da produção de café, ao mesmo tempo em que a pressão inglesa aumentou. O autor defende que a pressão britânica foi fundamental para que o debate do tráfico viesse à tona na década de 1840. Momentos como o vencimento de acordos feitos ainda no Primeiro Reinado (1840) fizeram emergir propostas e críticas contra a possibilidade de novos acordos com os ingleses; a bill Aberdeen (1845), apesar de eficaz no início, não conseguiu acabar com o tráfico e foi utilizada pelos saquaremas para retomar suas ideias escravistas; e, por fim, a abolição do tráfico reativou as discussões diplomáticas entre brasileiros e britânicos por conta da bill Aberdeen.
Em sua análise, o autor aponta que as revoltas e as conspirações escravas tiveram papel importante para reacender o debate acerca do tráfico na imprensa, ainda que por pouco tempo. Em vista disso, ele defende, reafirmando uma ideia já apresentada na historiografia, que não foi a agência escrava ou a febre amarela, mas “só a intensificação da pressão britânica foi capaz de impelir as Saquaremas rumo à abolição” (p. 279). Argumentou que um dos mais importantes jornais saquaremas publicou propostas para uma gradual abolição e para a regulamentação dos africanos escravizados ilegalmente após 1831, o que informava aos senhores de escravos que, com o fim do trato, o número de escravos não seria reduzido.
Neste momento próximo ao fim do trato, conservadores e liberais buscaram defender que suas ideias políticas contra ou a favor do tráfico e da escravidão fossem formuladas a partir da “opinião pública”. Ao postularem a ideia de “opinião pública”, os saquaremas acabaram despolitizando a defesa que faziam do contrabando, relegando a culpabilidade por quase 20 anos de escravidão ilegal à “opinião pública”, algo que foi acolhido pela historiografia do século XIX, mas que o livro, de forma incisiva, cuidadosa e brilhantemente matiza por meio dos jornais, demonstrando como os saquaremas tiveram papel na reabertura, no fim do trato negreiro e, mesmo, no projeto de um Brasil com sistema escravista, como permaneceu.
O livro é denso e muito bem escrito. Sua narrativa consegue apresentar a relação da sua unidade principal de análise com as outras. No mais, sua leitura evidencia o quanto a imprensa, desde há muito, é utilizada como palco político.
Referências
BERBEL, Marcia Regina; MARQUESE, Rafael de Bivar; PARRON, Tâmis. Escravidão e política. Brasil e Cuba, c.1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2010. [ Links ]
2 BERBEL, Marcia Regina; MARQUESE, Rafael de Bivar; PARRON, Tâmis. Escravidão e política. Brasil e Cuba, c. 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2010.
Felipe Garcia de Oliveira – Mestrando em História pela Universidade Federal de São Paulo. Email: [email protected].
Marcello Caetano: Uma biografia (1906-1980) – MARTINHO (RH-USP)
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. Marcello Caetano: Uma biografia (1906-1980). Lisboa: Objectiva, 2016. Resenha de: SECCO, Lincoln. Marcello Caetano: o ethos intelectual e as artimanhas do poder. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
Portugal sobreviveu na periferia europeia às forças mais poderosas que sacudiram o século XX: as guerras mundiais, as ditaduras e a descolonização. A narrativa desses processos já seria um desafio imponente. Mais difícil, porém, é filtrá-los pelas lentes de uma vida singular, ainda que a de um homem que viria a desempenhar papel de relevo na política de seu país.
Em 600 páginas, com estilo límpido, o historiador Francisco Carlos Palomanes Martinho compôs uma obra que já é referência. Dez capítulos impecavelmente equilibrados, com introdução explicativa e conclusões em cada um deles, e que findam amiúde com um convite à leitura do próximo capítulo. Uma narrativa por vezes em suspense que não perde por isso nada do rigor acadêmico, provado na destreza com que coletou, selecionou e analisou suas fontes e ampla bibliografia, com destaque para a consulta da epistolografia, de notícias de jornais, manuscritos e outros documentos inéditos.
O historiador não poderia, entretanto, projetar no jovem jornalista católico ou no professor de Direito e ideólogo do corporativismo o futuro presidente do Conselho de Ministros. Francisco Martinho evita muito bem as armadilhas com as quais o gênero biográfico costuma apanhar aqueles que desconhecem o ofício do historiador. Não nos apresenta um Marcello Caetano pronto e acabado. Ao contrário, vemos um homem por vezes indeciso entre a tradição e a modernidade, mas que ao fim de tudo se aferra a uma concepção messiânica da história do seu país.
À indagação que se lhe poderia fazer, se esta é uma biografia intelectual ou política, o historiador antecipa-se muito bem já no título: Marcelo Caetano: Uma biografia. A sua narrativa foi feliz em encontrar a unidade no diverso.
A vida de Marcelo Caetano aqui apresentada é plena de ambivalências. Martinho nos revela um filho de família despossuída, mas não pobre; um católico que finda a vida agnóstico; o monárquico que abandonou os círculos monarquistas à própria sorte; o salazarista marcado por sucessivas desavenças com Salazar; o direitista a quem a direita se opôs; a esperança liberal que frustrou a transição a um novo sistema.
Caetano viveu uma revolução com o apego à solenidade ritual do cargo. Foi um patriota exilado. Alguém que queimou os seus navios, porém manteve profundas ligações epistolares com o seu país. O homem sisudo que, no exílio carioca, descobre um amor outonal; um fim trágico, porém envolto em tertúlias prazerosas.
De todas os paradoxos que emergem da leitura dessa biografia, o que mais se evidencia é o ethos intelectual mobilizado pelas conveniências da política. É certo que o mais oportunista dos políticos ainda traz em si princípios bem ou mal delineados, conscientemente ou não. Da mesma forma, lideranças marcadas por fortes posicionamentos de princípio não deixam de ceder, em muitos momentos decisivos, às artimanhas do poder. O que importa é definir o lado para o qual pende a balança.
Marcello Caetano construiu a imagem do professor de Direito por profissão e do historiador por vocação. Um homem das letras provisoriamente convocado pela política. Ele pavimentou assim o seu caminho ao poder. E fez parte de sua expertise a permanente reafirmação como intelectual cioso das prerrogativas da autonomia universitária. Restrita, por certo, aos limites pré-estabelecidos pelo regime a que servia.
Não deixa de ser notável a fina análise que o autor tece da crise universitária de 1962 que levou Caetano a se demitir da reitoria da Universidade de Lisboa. O historiador, diante das representações à direita e à esquerda, das justificativas do seu próprio personagem, escolhe a releitura das fontes e desvela um comportamento que não se enquadra fácil. Que é nuançado, pontilhado por motivações pessoais e por princípios corporativos que se confundem (deliberadamente?) com discretas tendências liberais.
A marca do doutrinarismo intelectual foi o que de mais permanente houve na vida de Marcello Caetano, mas como o autor comprova em inúmeras passagens da sua obra, era um doutrinarismo flexível o suficiente para reconhecer as imposições da conjuntura, aceitar os interesses dos homens (sim, eram obviamente todos homens) com os quais precisava concertar uma ação política. Eis uma tese que emerge não de repente, mas de sucessivas linhas que o autor tece para apreender a totalidade de uma trajetória pública, intelectual, engajada e que molda a própria família e a intimidade marcada pelo distanciamento e pelo recato.
São um índice da complexidade do personagem reconstituído por Martinho as atitudes dele como presidente do Conselho de Ministros a partir de 1968, após a inabilitação e posterior morte de Salazar. O equilibrista que este sempre fora entre facções do regime é substituído por um governante mais duro e que se mostra incapaz de perceber os movimentos econômicos que lançavam Portugal na integração europeia.
Diga-se o que se quiser, Salazar soube manter perto de si os extremos aceitáveis de sua época. A começar pela sua insistência em ter o próprio Marcello Caetano em funções e cargos afetos ao regime. Caetano, que já ascendia sob a desconfiança dos velhos salazaristas, não soube se entender com os novos. Ele não aceitou os valores democráticos e nem as demandas crescentes das classes médias e trabalhadoras, ainda que seu governo introduzisse mudanças na legislação trabalhista. Ele se agarrou à ideia de um império colonial condenado, embora na juventude tivesse defendido uma autonomia relativa das colônias.
Em certo sentido, conta-nos Martinho, Caetano era moderno. Ao contrário de Salazar, aceitava a urbanização, o industrialismo e se preocupava com a política educacional. Mas de forma diferente do seu líder, no governo frustrou tanto as facções que o consideravam liberal quanto a extrema direita apegada ao passado. Terminou sozinho porque o juste milieu tornara-se um caminho impossível. Era a conjuntura aguda do fim do colonialismo a não mais permitir uma “evolução na continuidade”. O tempo perdido das reformas exigia a coragem dos rompimentos.
Ao fim, apegou-se ao que havia de mais nuclear no sistema que ele apoiou a vida toda: a suposta supremacia civilizacional do homem branco na governação de povos negros, tidos como incapazes de autonomia plena.
Mais doutrinário que Salazar e mais ideólogo que expert, como sustenta o seu biógrafo, Caetano também persistiu obstinado na ideia de que os governos têm uma “função retificadora da sociedade”, mesmo que durante o salazarismo muitas vezes opusesse a atitudes despóticas do chefe a necessidade de convencimento social para a legitimação do poder. Era cioso das hierarquias e tradições. Mostrou-o quando defendeu os ornamentos e distinções do cargo que passou a ocupar nos anos 1950: o de comissário geral da Câmara Corporativa, um órgão meramente consultivo.
Conta-se que, no 25 de abril, uma vez cercado no quartel do Carmo pelas tropas do capitão Salgueiro Maia, Caetano sentiu-se desconfortável em estabelecer tratativas com um oficial de baixa patente. Perguntou pelos chefes e, finalmente, aceitou render-se ao general Spínola, afirmando: “assim o poder não cai na rua”.
Domados pelas paixões do nosso tempo, é inescapável julgar deletério o seu papel na vida política de Portugal. Mas sem prejuízo de nossos valores, não deixa de nos intrigar a sua fleuma, aquela frieza inabalável que não provinha simplesmente do cargo. Conforme ele escreveu, resultava do decoro exterior que as instituições nos impõem. Não a todos, mas apenas aos que se apegam a elas com princípios. E ele os tinha, ainda que não os aceitemos.
Decerto, Martinho viveu um bom pedaço de sua vida ao lado de seu biografado. Foram anos a fio entre aulas, viagens e arquivos. Frequentou-lhe as cartas, as fotografias de família, os amigos, os livros e a memória que se construiu em torno dele (tão magnificamente tratada no primeiro capítulo dessa biografia).
O professor da Universidade de São Paulo se sentiu melhor ao lado do colega da Universidade de Lisboa do que diante do político do Estado Novo. Independente disso, o leitor é conduzido a um fim moderadamente triste. O tempo arrefece os ódios e o biógrafo, se não busca salvar o político que Marcello Caetano foi, evita “a exagerada superficialidade da desqualificação”.
No 25 de abril, o ditador cedeu lugar ao professor que ele jamais deixou de ser durante toda a vida. A ambos o historiador não julga, compreende.
Referências
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. Marcello Caetano: Uma biografia (1906-1980). Lisboa: Objectiva, 2016. [ Links ]
1Resenha do livro: MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. Marcello Caetano: Uma biografia (1906-1980). Lisboa: Objectiva, 2016.
Lincoln Secco – Professor no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo – FFLCH/USP. E-mail: [email protected].
História dos crimes e da violência no Brasil – PRIORE; MÜLLER (RH-USP)
PRIORE, Mary del; MÜLLER, Angélica. História dos crimes e da violência no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2017. Resenha de: SANTOS, Fernando de Oliveira dos. Diversidade e perenidade da violência no Brasil. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
O lançamento desta coletânea de ensaios, organizada por duas prestigiadas historiadoras, não poderia ter chegado em um contexto mais fecundo. A dimensão que o problema da criminalidade urbana violenta tem alcançado nos últimos anos tem incitado estudiosos de diferentes áreas a buscarem explicações para tal fenômeno. Nesse sentido, essa obra deve ser percebida como uma importante contribuição para refletirmos sobre essa candente temática a partir de uma perspectiva histórica.
Os dezesseis capítulos reunidos nesta antologia têm como mote a análise de vários crimes, abrangendo diversas modalidades de violência, desde os primórdios do período colonial até a época hodierna. Assim, os artigos abordam eventos históricos nos quais diferentes formas de delito e violência se expressaram. Seja no âmbito público ou privado, as duas esferas onde sempre se notou uma relação porosa, crimes envolvendo homofobia, intolerância religiosa, violência estatal, corrupção, entre outros, são examinados. Os autores dos artigos possuem formação em diversas áreas (Direito, Sociologia, Educação Física, Antropologia, Psicologia e História). No entanto, a maioria dos pesquisadores que participaram dessa obra são historiadores.
Não obstante o fato dos ensaios tangenciarem eventos e situações em diferentes espaços e temporalidades da história do Brasil, as organizadoras da coletânea admitem que haja um eixo analítico comum para enfocar os diversos casos narrados. Para elas “O fio condutor está centrado na ideia de como o crime e o emprego da violência fizeram e fazem parte da nossa sociedade” (p. 8). Assim, pretende-se descrever de forma sucinta os aspectos essenciais dos 16 capítulos com o intuito de, ao final, refletir criticamente sobre o fio condutor da obra na perspectiva das autoras.
No primeiro capítulo, o historiador Paulo de Assunção narra um dos episódios mais sangrentos e nefastos envolvendo o empreendimento de catequização da América portuguesa pela Companhia de Jesus. O contexto histórico remete ao Concílio de Trento (1548-1563) e às acirradas disputas entre católicos e protestantes desencadeadas tanto no “Velho” quanto no Novo Mundo. Em 1570, um grupo de quarenta jesuítas liderados pelo padre português Inácio de Azevedo partiu para as “terras do Brasil” para evangelizar os povos ameríndios. Contudo, ainda na região das ilhas Canárias, a embarcação Santiago foi interceptada e atacada por calvinistas franceses.
Um dos aspectos mais destacados no texto é a extrema violência empregada pelos corsários franceses após abordarem o barco dos jesuítas e dominarem rapidamente todos os missionários. A superioridade bélica e numérica foi preponderante para a vitória dos calvinistas. Eles estavam distribuídos numa frota composta por cinco embarcações, somando cerca de trezentos homens munidos de canhões, capacetes, espadas e outros artefatos bélicos. Por outro lado, apesar da valentia, os parcos armamentos dos portugueses impossibilitavam qualquer chance de resistência. Assim, “A crueldade preponderou. Muitos, trespassados por espadas, agonizavam no convés até serem lançados no mar” (p. 23). Além disso, tomados por uma intensa cólera, os protestantes ainda destruíram todos os objetos devocionais católicos como imagens, breviários e outros objetos. Esta agressividade extremada, segundo Gonçalves, evidenciava “(…) a aversão dos calvinistas aos jesuítas, em parte devido à atuação da Companhia de Jesus na perseguição aos protestantes no território europeu” (p. 25).
No segundo capítulo, Luiz Mott conta o desfecho de duas devassas envolvendo um índio e um jovem escravo acusados de cometerem sodomia, ambas no século XVII. Esses dois episódios, conforme o autor, podem ser entendidos como a gênese da homofobia no Brasil. O primeiro caso ocorreu no contexto da fundação da França Equinocial no Maranhão. Em 1613, um índio tupinambá foi condenado à morte na boca de um canhão após ser incriminado por capuchinhos franceses pela prática de homoerotismo. Após ser denunciado e capturado, o ameríndio reconheceu publicamente que cometeu o pecado da sodomia. Com isso, procedeu-se ao julgamento na presença dos missionários franceses e também dos indígenas e, logo em seguida foi aplicada a sentença. O nativo foi colocado na boca de um canhão que foi disparado por um algoz da própria tribo. Com o tiro, seu corpo foi dividido em duas partes, caindo uma ao pé da muralha e outra no mar.
O segundo caso, ocorreu no Sergipe em 1678, quando um moleque escravo foi açoitado até a morte por seu senhor. Esse fato aconteceu após o capitão Pedro Gomes, muito conhecido na região por ter relações homossexuais com vários cativos, ter solicitado a seu vizinho Luís Gomes um escravo para certa jornada. Todavia, quando retornaram, o proprietário notou que seu moleque estava diferente, pois vestia umas ceroulas. Ao questioná-lo, supondo que seu escravo havia furtado essas peças, o negro não quis responder. Por esse motivo, seu senhor mandou açoitá-lo e durante o suplício o jovem escravo confessou que ganhou aquelas ceroulas do capitão Pedro Gomes como “recompensa” após ter com ele relações homoeróticas. A partir de então, o proprietário intensificou o martírio contra seu cativo levando-o a morte.
Segundo Mott, a extrema crueldade verificada em ambos os casos sinaliza o alto grau de homofobia que impregnava o imaginário coletivo. O homoerotismo era severamente combatido pela doutrina cristã, entre outros motivos, porque “(…) além de desperdiçar a semente da tão necessária reprodução dos novos cristãos, tinha como incontrolável consequência a efeminação de seus praticantes, enfraquecendo sua valorizada virilidade” (p. 47).
No terceiro capítulo, Randolpho Corrêa e Jonis Freire recuperam vários elementos da legislação penal brasileira em vigor no século XIX, revelando a cotidianidade dos crimes violentos. Conforme os autores, nesta sociedade escravista “Homicídios, suicídios, infanticídios, roubos, estupros, castigos físicos e outros tipos de violência física foram muitos comuns” (p. 66). Os dois historiadores demonstram o quanto a sociedade era permeada por conflitos e tensões que ocorriam tanto de forma vertical quanto horizontal no âmbito rural ou urbano. Assim, eles procuram descontruir a equivocada percepção de que os crimes e a violência neste contexto se restringiam a senhores e escravos.
No quarto capítulo, Vitor Izecksohn, tendo como pano de fundo a Guerra do Paraguai (1864-1870), aborda os percalços e as dificuldades enfrentadas pelas autoridades imperiais durante o processo de recrutamento de tropas. Neste contexto, os investimentos empregados pelo Estado brasileiro para provisões, equipamentos e alojamentos eram insuficientes para atender a todas as demandas. Este quadro desolador desestimulava o engajamento de potenciais voluntários. Diante disso, o governo solicitou o apoio das autoridades particulares locais para promover o recrutamento forçado de seus clientes e protegidos. Entretanto, conforme o autor, essa medida foi interpretada por muitos como uma atitude invasiva do governo imperial, provocando resistências e gerando reações hostis ao trabalho dos recrutadores.
O prolongamento inesperado do tempo da guerra e a inexistência de um aparato de vigilância adequado motivaram inúmeros ataques violentos às cadeias com o objetivo de resgatar presos, muitas vezes com apoio dos chefes locais.
No quinto capítulo, o historiador Vitor Melo disseca o processo de desenvolvimento das touradas e do turfe no Rio de Janeiro a partir da segunda metade do século XIX. Ele explica como os espetáculos públicos em torno dessas modalidades esportivas engendravam tensões e conflitos de diversas ordens. O autor identifica os fatores que instigavam os espectadores, especialmente dos segmentos mais pobres, a depredarem as instalações da arena, provocando em seguida atritos com as forças policiais. É destacado como o processo de estigmatização das corridas de touros estava relacionado ao aumento das preocupações com a cena pública, já que essa prática desportiva “(…) cada vez mais era considerada inadequada para uma cidade que alguns pretendiam ver civilizada” (p. 124).
No sexto capítulo, Daniel Faria analisa a temática do crime na literatura brasileira a partir de duas obras nacionais produzidas nos anos 1930 durante a era Vargas: Angústia (1936) de Graciliano Ramos e Os ratos (1935) de Dyonélio Machado. O historiador identifica os fatores que explicam a incorporação do crime ao campo literário. Ele pontua que este mote está umbilicalmente associado à expansão da urbanização. Dentro dessa nova configuração social o crime destaca-se por uma questão de toda trama narrativa: ele proporciona fascínio, pois “(…) traz um elemento de surpresa, choque, que coloca o enredo em movimento, dando-lhe dramaticidade” (p. 155).
Em relação ao estilo da escrita de Graciliano Ramos, Faria considera que sua obra literária se caracteriza por uma espécie de investigação psicológica. Para ele, fica nítida em Angústia a preocupação do escritor em revelar as sutilezas psíquicas dos personagens. Outro aspecto marcante é sua predileção por enredos que contemplam casos extremos como violências, loucuras, alucinações etc. Este tipo de narrativa proporciona o “gozo espiritual” ao leitor, na medida em que o torna “(…) capaz de viver essas vidas alucinadas e criminosas, padecendo com elas – à distância” (p. 159).
Já na obra Os ratos de Dyonélio, o foco central de sua abordagem é a natureza do homicídio. Fundamentado na “psicologia do homem primitivo” o escritor defende a tese de que mesmo na modernidade o comportamento dos homicidas seria semelhante ao dos indivíduos de épocas primitivas. Na percepção de Dyonélio, segundo Daniel Faria, o crime “seria o resultado de que alguns indivíduos falhavam no caminho da civilização, desejando retornar ao estágio primitivo, quando não havia o conceito de delitos” (p. 168).
No sétimo capítulo, Wagner Pereira nos apresenta um painel muito detalhado do processo de apropriação da temática do crime pela mídia brasileira no período de 1961 a 2016. O historiador faz uma interessante digressão aos primórdios da TV no Brasil para explicar como, desde cedo, os crimes violentos foram sendo incorporados e manejados nas telenovelas com o intuito de cativar os telespectadores, garantindo elevados índices de audiência. Para o autor, no decorrer da trajetória da teledramaturgia, percebe-se a gestação de uma “cultura de mídia” que passa a ser massivamente consumida pela sociedade.
O telejornalismo foi o outro gênero televisivo esquadrinhado pelo autor em seu ensaio. Wagner Pereira analisa detidamente a influência dos programas “sensacionalistas” na construção das representações coletivas ao promover a “espetacularização da violência”. Para ele “(…) os discursos dos telejornais policialescos acabam criando a ideia de que quem defende a população são as pessoas que agem com truculência, violência e arbitrariedade” (p. 230).
No oitavo capítulo, Angélica Müller analisa os desdobramentos da morte do estudante Edson Luís em 1968. Ela revela como este evento tornou-se um ponto de inflexão no percurso da ditadura militar. Um dos fatos destacados após o ocorrido foi a disputa pelo corpo do secundarista entre as autoridades do Estado de um lado e os estudantes da UNE de outro – situação que, a partir de então, seria recorrente neste período.
Outro momento examinado pela historiadora foi o das cenas impactantes que marcaram o velório de Edson Luís que contou com a participação de milhares de estudantes. Ela sublinha que a exposição do corpo ferido e a camiseta manchada de sangue aludiam à própria representação do suplício de Cristo. Além disso, nesta cerimônia fúnebre, verificavam-se objetos e símbolos representando não apenas um ritual religioso, mas também político. A bandeira nacional enrolada no caixão e os inúmeros cartazes nas mãos dos estudantes e em cima do corpo do estudante evidenciavam esta atmosfera.
As incontáveis manifestações que irromperam em várias capitais e cidades do país, assim com a truculenta repressão policial, também foram abordadas. Segundo Müller, a morte do estudante em março de 1968 teve como principal desfecho o decreto do Ato Institucional (AI-5) em dezembro do mesmo ano. A partir de então “(…) os dispositivos de violência do Estado que já estavam sendo aprimorados foram acionados em sua máxima: a tortura institucionalizou-se como política para todos aqueles que praticassem atos contra o regime” (p. 244).
No nono capítulo, José César Coimbra nos apresenta um panorama bastante detalhado e atualizado sobre o combate a violência doméstica, examinando tanto o cenário nacional quanto o internacional. Entre outros enfoques, o psicólogo procura problematizar e responder questões candentes como as seguintes: O que se pode entender por violência contra mulher? Com a Lei Maria da Penha o que mudou nas possibilidades de garantia de direitos e responsabilização? Como a sociedade percebe o fenômeno da violência doméstica?
O autor observa como uma série de fenômenos no contexto hodierno tem contribuído para o aumento da sensibilidade social no que tange a essa temática. Ele sublinha o papel da mídia, especialmente das redes sociais, na tarefa de conscientização, denúncia e também na divulgação dos movimentos sociais. Todavia, apesar da crescente indignação da sociedade, Coimbra percebe um importante paradoxo: “maior visibilidade, ampliação, aperfeiçoamento do sistema de garantia de direitos e possibilidades de responsabilização e, no entanto, continuidade de tipos de violência e desigualdade que atravessam gerações” (p. 257).
No décimo capítulo, o assassinato da missionária Dorothy Stang em 2005 é o escopo da análise de Marcelo Timotheo da Costa. Ele insere este evento singular dentro de um quadro mais amplo para descortinar os fatores estruturais e históricos que condicionaram inúmeros homicídios na região norte e nordeste do Brasil.
Segundo o autor, o ativismo de Stang centrava-se na busca de soluções para três graves problemas estruturais na região norte: o da concentração de terras, o do trabalho semiescravo e o da exploração predatória do meio ambiente. Assim, ao defender com afinco ideias como a redistribuição de terras da União para a reforma agrária e criar o audacioso Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS), a missionária passou a incomodar a elite local. Segundo Costa, a ideia do PDS “(…) com sua reivindicação da reforma na estrutura agrária e também por seu zelo ecológico – agregou inimigos de peso: latifundiários, proprietários de madeireiras e até comerciantes” (p. 294).
No décimo primeiro capítulo, a intolerância religiosa no Brasil é o tema do ensaio de Quézia Brandão. Ela nos apresenta um panorama dos embates e polêmicas em torno deste problema social que tem afetado com maior recorrência os praticantes das religiões afro-brasileiras. Um dos tópicos mais fecundos do artigo é “Entre templos e terreiros: a construção da intolerância” em que a pesquisadora versa sobre as origens históricas do preconceito, discriminação e intolerância religiosa no Brasil. Brandão faz uma incursão ao período colonial para examinar a construção do imaginário e das representações coletivas, indicando neste processo a supremacia do catolicismo sobre as religiões de matriz africana e indígena, não obstante o sincretismo que se verificou no decorrer do tempo.
No décimo segundo capítulo, a historiadora Viven Ishac e a jurista Carolina de Campos Melo focalizam o desaparecimento de Rubens Paiva em janeiro de 1971, tendo como lastro as conclusões obtidas pela Comissão Nacional da Verdade (CNV). Este órgão foi instalado em 16 de maio de 2012 e encerrou seus trabalhos em 16 de dezembro de 2014. Sua principal incumbência foi investigar minuciosamente e esclarecer os crimes que atentavam contra os direitos humanos no período de 1946 a 1988.
A partir dos dados fornecidos pela CNV, as autoras elucidaram as circunstâncias que motivaram os agentes da ditadura a prenderem ilegalmente o deputado federal, um dos mais ferrenhos opositores ao regime. Elas revelaram como as múltiplas formas de tortura perpetradas contra Rubens Paiva provocaram sua morte e como seu corpo foi ocultado pelas instituições militares. Mais do que dissecar um caso particular isolado, o ensaio reconstitui toda uma conjuntura histórica marcada por graves violações dos direitos humanos, legitimadas por uma política de Estado. Assim, demonstrou-se que a crueldade cometida contra os presos políticos nos interrogatórios, os assassinatos e as falsas versões sobre o desaparecimento das vítimas do regime eram todas práticas institucionalizadas, amparadas pela “(…) participação coordenada de agentes em diferentes níveis hierárquicos e no exercício de funções distintas, organizadas sob a forma de cadeias de comando” (p. 340).
No décimo terceiro capítulo, Vitor de Angelo aborda a corrupção no Brasil, problematizando o modo como a população percebe este fenômeno. O horizonte de investigação fundamenta-se no diagnóstico de pesquisas recentes apontando que a corrupção é vista como o maior problema do Brasil. Segundo o sociólogo, este entendimento indica uma crescente indignação da sociedade com este problema e isso relaciona-se ao fato de que nos últimos anos, o combate a corrupção tem dominado a agenda da mídia, das instituições políticas e da sociedade civil organizada. A premissa do autor é que “(…) muitos podem ter a sensação de que esse é um problema recente, que começou há pouco tempo ou que se reduz ao governo e ao partido que está no poder” (p. 347). Assim, o cientista social procura demonstrar que a corrupção vigora no Brasil desde épocas remotas, estando presente não apenas no campo político, mas também em toda a esfera pública e privada.
No décimo quarto capítulo, Mauricio Murad analisa os escândalos de corrupção no futebol, especialmente envolvendo instituições como a Fifa e a CBF. O sociólogo investiga a influência das redes que articulam os interesses de várias entidades e atores em torno do futebol, abrangendo grandes corporações, empresários, dirigentes de clubes, federações, confederações etc. A constatação mais relevante de Murad refere-se a interface entre os diversos crimes praticados no âmbito do futebol e aqueles que são cometidos no contexto mais amplo da nossa sociedade. Crimes como sonegação, desvios, propinas, fraudes fiscais e eleitorais, lavagem de dinheiro, entre outros, permeiam toda nossa vida coletiva. “Portanto, os ilícitos no futebol brasileiro têm muita relação com a história e a cultura dos ilícitos de nossa sociedade. Os crimes que ocorrem no universo do futebol apontam para os crimes que ocorrem no conjunto da sociedade” (p. 389).
No décimo quinto capítulo, Marcelo Crespo disserta sobre a história dos crimes digitais no Brasil. O jurista nos apresenta um excelente panorama das diversas modalidades de delitos desta natureza no cenário contemporâneo. Ele também procura desconstruir a percepção amplamente compartilhada, segundo a qual não existem leis eficientes para punir os crimes digitais no Brasil. O autor apresenta as inúmeras ilegalidades enquadradas nesta categoria e demonstra como tais delitos “(…) já eram crimes constantes do ordenamento jurídico brasileiro, apesar dos meios tecnológicos empregados” (p. 416). Ou seja, o Brasil está apto a punir a maioria dos crimes digitais com base no Código Penal vigente criado em 1940. O jurista também postulou que o cerne do problema em torno da punição não é a insuficiência ou caráter das leis existentes, mas sim as condições estruturais para executá-las.
No último capítulo da obra, Sérgio Adorno e Camila Nunes Dias atualizam o debate em torno do sistema prisional. Os sociólogos procuram evidenciar que os modelos teóricos clássicos tornaram-se insuficientes para explicar a complexa dinâmica de funcionamento das cadeias na atualidade, caracterizadas pelo entrelaçamento de atores, mercadorias e serviços dentro e fora dos estabelecimentos penitenciários. Assim, eles esboçam os principais paradigmas explicativos da “sociologia das prisões” para demonstrar a predominância de uma percepção comum entre essas teorias: a ideia de que o espaço prisional e a sociedade mais ampla são universos estanques e dicotômicos, rigidamente delimitados física, moral, social, política e culturalmente.
Este modelo hegemônico influenciou enormemente os cientistas sociais brasileiros durante toda a segunda metade do século XX. Todavia, nos últimos anos, importantes transformações tecnológicas e sociais modificaram radicalmente a relação entre o mundo prisional e a sociedade, tornando o paradigma clássico inapropriado para abordar este tema, pelo menos no Brasil. Segundo os autores, dois fatores foram preponderantes para tal modificação: o desenvolvimento dos meios de comunicação e o surgimento do crime organizado. O acesso aos aparelhos celulares dentro dos presídios, por exemplo, possibilitou o “(…) estabelecimento de vínculos duradouros entre indivíduos e grupos situados dentro e fora da prisão e a constituição de redes sociais consistentes” (p. 455). Desde então, estes universos sociais passaram a se influenciar reciprocamente.
Procuramos descrever sucintamente os aspectos essenciais abordados nos dezesseis capítulos que compõem a obra História dos crimes e da violência no Brasil. Contudo, ainda é necessário refletirmos criticamente se o conteúdo apresentado na coletânea está em consonância com o título e o fio condutor indicado pelas autoras. Conforme mencionamos, para elas “O fio condutor está centrado na ideia de como o crime e o emprego da violência fizeram e fazem parte da nossa sociedade” (p. 8).
Ao examinar os capítulos do livro e suas respectivas temáticas, percebe-se certa coerência nesta assertiva, na medida em que se verifica de fato a existência de várias modalidades de crimes e de práticas violentas perpassando toda a história do Brasil. Entretanto, não podemos consentir inteiramente com a ideia de que a perenidade destes fenômenos apontada pelas autoras constitua por si só um fio condutor. Isso porque a obra não dispõe de nenhum capítulo dedicado a uma discussão historiográfica mais abrangente, capaz de explicar o encadeamento de todos os eventos narrados e/ou também apresentar teorias gerais para se pensar os fatores da criminalidade e da violência.
Além disso, a compreensão da criminalidade no Brasil demandaria necessariamente uma abordagem mais crítica sobre o papel do Estado na criminalização do comportamento social. Seria preciso verificar em que medida a preservação de uma ordem social pacífica, em diferentes conjunturas, atendia aos interesses das elites. Ou, de que maneira a legislação penal vigente refletia as demandas dos estratos dominantes, como a vigilância e o controle dos segmentos subalternos. E, também, como as autoridades estatais deixavam impunes ou, no limite, aplicavam punições mais brandas aos membros dos grupos dirigentes. Na direção contrária, caberia ainda, problematizar o viés interpretativo clássico, que relaciona criminalidade e pobreza, tal como fez o sociólogo Michel Misse.2
Por outro lado, não obstante os limites que apontamos, a coletânea oferece contribuições fecundas ao campo historiográfico, entre as quais, destacamos três. Em primeiro lugar, o simples fato de tratar de uma temática que, no limite, recebeu pouca atenção da historiografia nacional, sendo mote privilegiado das ciências sociais. Em segundo lugar, deve-se valorizar seu caráter interdisciplinar, pois as autoras selecionaram pesquisadores de diferentes áreas, que produziram estudos de reconhecida qualidade e de extrema atualidade. Por fim, ligado a isso, a investigação de um conjunto de crimes e atos violentos situados em diversos espaços e temporalidades, proporciona ao leitor uma perspectiva multifocal ampliada para abordar esses fenômenos sociais e históricos.
Referências
MISSE, Michel. Crime e violência no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. [ Links ]
2MISSE, Michel. Crime e violência no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p.14-18.
Fernando de Oliveira dos Santos – Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Assis. Área de concentração: História e Sociedade; linha de pesquisa: Cultura, Historiografia e Patrimônio. E-mail: [email protected].
Sergio Magalhães e suas trincheiras – SILVA (RH-USP)
SILVA, Roberto Bitencourt da. Sergio Magalhães e suas trincheiras: nacionalismo, trabalhismo e anti-imperialismo – uma biografia política. Jundiaí: Paco Editorial, 2017. Resenha de: MALDONADO, Luccas Eduardo Castilho. Lutas e batalhas de Sergio Magalhães: um intelectual orgânico nos trópicos. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
Paul Ricoeur é um conhecido autor por dissertar sobre as aproximações e os distanciamentos existentes entre a memória, a ciência histórica e o esquecimento. No tecer de seus argumentos, o escritor alerta: independentemente da forma de se conhecer o passado, seja a história, seja a memória, ela sempre será uma expressão do “caráter inelutavelmente seletivo da narrativa”. Assim sendo, por serem o que são, por optarem e omitir sincronicamente, os usos da memória e da história “são, de saída, abusos do esquecimento”.2 Jacques Lee Goff defendeu posições semelhantes, porém expande o raciocínio a ponderar também a realidade objetiva: “De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores”.3 Tais leituras revelam uma perspectiva muito importante para o ofício do historiador: por haver formas de seleção dentro e fora do controle do escritor e por ser um discurso sobre a concepção dos grupos sociais a respeito do passado, o exercício histórico sempre será uma prática política no cerne das disputas ideológicas.
Em grande medida, a recente publicação do livro Sergio Magalhães e suas trincheiras: nacionalismo, trabalhismo e anti-imperialismo – uma biografia política é um movimento capaz de ser ponderado dentro dessa realidade de seleções, inclusive no âmbito do esquecimento porquanto trata-se de um trabalho histórico responsável por ir à contramão do obscurantismo sedimentado sobre a figura de Sergio Magalhães. O seu autor, Roberto Bitencourt da Silva, ao analisar um qualitativo conjunto documental, revelou diversos aspectos da trajetória de um homem que, nas décadas de 1950 e 1960, empreendeu um expressivo papel na construção e na defesa de um projeto nacional de desenvolvimento econômico autônomo e, na contemporaneidade, conquanto a sua importância histórica, se caracteriza por ser pouco rememorada.
Silva é um pesquisador que há poucos anos defendeu o seu doutorado, um estudo sobre a biografia e o pensamento de Alberto Pasqualini, publicado como livro pela editora da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2013,4 e que, desde então, aprofunda ainda mais a sua contribuição ao pensamento acadêmico brasileiro. Toda a sua carreira na pós-graduação é marcada pela exploração de uma temática central: o trabalhismo. Desde seu mestrado até os seus últimos estudos, tal assunto foi tangido de alguma forma. Nesse sentido, uma das características mais interessantes, expressiva de muitos dos seus predicados de trabalho, encontra-se no grupo de pensamento por Silva frequentado. O seu orientador de doutorado, o professor Jorge Ferreira, é um dos principais nomes, dentre uma reunião de pesquisadores, que está a problematizar e a revelar diversas perspectivas e informações a respeito do trabalhismo e da Quarta República nos últimos anos.
A última obra de Silva, “Sergio Magalhães …”, é um significativo estudo resultado de um pós-doutorado a respeito da biografia e do pensamento do três vezes deputado federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Sergio Nunes de Magalhães Jr. Mais precisamente, materializa-se em papel o (re)descobrir de como um dos políticos mais preocupados com a economia brasileira construiu uma carreira dentro do serviço público carioca, foi eleito para o Legislativo federal, projetou e aprovou uma das leis mais polêmicas de sua época, concorreu contra Carlos Lacerda em um pleito para um cargo executivo e foi cassado pelos militares no primeiro Ato Institucional.
Esses e outros caminhos por Silva buscados e explorados engatilham-se em uma crítica que a obra, junto de outros livros lançados nos últimos anos, visa constituir ao paradigma explicativo denominado populismo.5 Categoria responsável por conquistar uma expressiva influência no final do século passado, um exemplo desse prestígio foi o manejo constante por muitos autores de materiais didáticos que, ao se referirem ao período entre o Estado Novo e a Ditadura Militar, optaram pelo termo “República Populista”. Assim, Silva reforça uma posição contrária, referente em grande medida às formas expostas por Francisco Weffort em O populismo na política brasileira6 e Octavio Ianni em O colapso do populismo no Brasil,7 quanto ao caráter explicativo do conceito populismo. Para ele e outros acadêmicos, a generalidade e a amplitude da formulação, a ir de Eurico Gaspar Dutra, a passar por Getúlio Vargas e a chegar em Jânio Quadros e João Goulart, para citar apenas os presidentes, acaba por ser demasiadamente vaga e, por conseguinte, simplificadora de uma série de relações muito mais complexas na realidade histórica.
A biografia de Sergio Magalhães, lançada no primeiro semestre de 2017, conta com cinco capítulos, cada um a desenvolver funções mais ou menos precisas no sentido de exploração temática. As suas notas de rodapé são particularmente interessantes, pois revelam o conjunto documental consultado por Silva: um acervo variado de jornais, livros autorais de Magalhães e entrevistas com familiares e próximos do deputado.
No primeiro capítulo da obra, “‘Um dos que melhor conhece os nossos problemas’: o fascínio pelo sertão, o reconhecimento e os combates parlamentares” (p. 23-60), o autor realiza um movimento descritivo de três tempos que, resumidamente, principia na vida e origem familiar em Pernambuco, passa pelos trabalhos dentro das instituições estatais no Rio de Janeiro e se encerra com a dissertação ao alto dos projetos intentados por Sergio Magalhães dentro da Câmara dos Deputados entre 1955 e 1964. Trata-se de um trecho, apesar de não se afirmar como tal, introdutório para o assunto que será desdobrado com maior profundidade nos textos posteriores, uma vez que oferece uma narrativa diacrônica da trajetória do personagem e dos seus principais projetos políticos, porém sem aprofundá-los significativamente.
Após o primeiro capítulo, principia-se “‘O Brasil virou um quintal do imperialismo’: o pensamento político e econômico de Sergio Magalhães” (p. 61-104), passagem na qual Silva realiza um conjunto de movimentos descritivos e duas exposições das matrizes conceituais balizadoras do seu trabalho.
Na exploração das categorias, o escritor afirma uma opção pela filiação a uma perspectiva contextualista, nas acepções de John Pocock e Quentin Skinner, posição que, no desenvolvimento científico, significa dar grande importância ao contexto intelectual e histórico quando se analisa uma obra ou uma trajetória de um pensador. Tal arranjo, todavia, não corresponde à desconsideração das possibilidades criadoras de um personagem, mas propõe-se a ponderá-las dentro de um universo múltiplo e em um tempo específico.8 A outra chave analítica para o trabalho é a orientação do conceito intelectual assumido para estudar a trajetória de Magalhães. Após apresentar e explorar algumas de suas acepções, originárias de pensadores como Zygmunt Bauman, Salete Cara, Norberto Bobbio e Lucien Goldmann, o autor evoca a forma cunhada pelo socialista italiano Antonio Gramsci como norteadora. Dessa forma, no seu entender, Magalhães corresponderia à expressão de um intelectual orgânico na realidade brasileira; quer dizer, a deslocar-se na linha de raciocínio do escritor dos Cadernos do cárcere, o acadêmico trata o parlamentar trabalhista como um indivíduo que, inserido em uma conjuntura específica, expressa uma consciência do papel a ser praticado por grupos e/ou classes sociais nos terrenos da política, cultura e economia.9 No caso de Magalhães, tal orientação dar-se-ia principalmente no sentido das relações econômicas enviesadas pelas bandeiras do nacionalismo e do anti-imperialismo.
A parte descritiva do capítulo centra-se na realização de dois atos preliminares de exposição en passant: da conjuntura política entre o ano 1945 e a década de 1960 e da reflexão de um acervo de pensadores que trataram a problemática do desenvolvimento econômico brasileiro, como Caio Prado Júnior, Guerreiro Ramos, Roland Corbisier, entre outros. Tais desdobramentos, na prática, executam um exercício preparatório, a partir de um prisma contextualista, para a entrada no centro da questão investigada, constituindo a forma como Sergio Magalhães concebia o seu pensamento econômico sobre o Brasil e as relações comerciais internacionais
O terceiro capítulo da obra, “‘Contra a sangria das riquezas nacionais’: a limitação das transferências dos lucros do capital estrangeiro no centro do debate público” (p. 105-164), organiza-se em uma linha expositiva sustentada, por causa de suas significativas semelhanças, na conexão histórica entre dois projetos econômicos, um de Getúlio Vargas e outro de Sergio Magalhães, destinados a legislar sobre as relações comerciais internacionais de empresas estrangeiras no território brasileiro. Mais precisamente, o foco está nas reações a respeito das leis de remessas de lucros que, em períodos distintos, cada um empreendeu no interior do sistema político brasileiro, além – no estudo do deputado trabalhista – de outros projetos alvitrados dentro do parlamento. Todo o exercício analítico foi elaborado fundamentalmente a partir dos textos jornalísticos originários de: O Globo, Imprensa Popular e Novos Rumos – o primeiro, um tradicional veículo conservador, e os dois últimos, publicações ligadas ao Partido Comunista Brasileiro (PCB).10 Sobre esse conjunto documental é que as premissas de trabalho de Silva sustentam-se a partir de tal ponto no livro, transição marcada pelo aumento do manejo desse tipo de fonte, pois oferece sentido à forma concebida pelo autor de História da imprensa, posição correspondente ao ato concomitante de reconstrução de um processo e análise da atuação dos periódicos no interior da esfera pública (p. 110).
No primeiro momento deste capítulo, apresenta-se a recepção ao decreto nº 30.363/1952 de 3 de janeiro de 1952, do então presidente da República Getúlio Vargas – medida que regulara o limite máximo de 8% nas remessas de lucros originários de capital estrangeiro investido no país para o exterior. As reações dos jornais são apresentadas e, em grande medida, é possível observar que, naquele período, os nuances ideológicos aparentemente não estavam tão acirrados dentro da imprensa. O tradicional O Globo passou de uma posição elogiosa no primeiro momento para uma postura contida, a ponderar a iniciativa do Executivo e a problemática da possível redução da atratividade brasileira aos investimentos exógenos, conquanto constantemente o editorial disponibilizasse espaços para os apologistas da livre circulação de divisas como o grupo norte-americano Esso, investidor na área petroquímica. Por sua vez, a publicação comunista Imprensa Popular, a refletir a estratégia exposta no Manifesto de agosto de 1950, posicionou-se fixamente de maneira resistente ao projeto, porque, na compreensão dos militantes, a iniciativa seria uma ação oportunista do presidente uma vez que, na prática, nada mudaria devido à limitação de sua ação.
Após expor as reações ao plano de Vargas, o pesquisador foca sua análise nas manifestações sobre os projetos econômicos de Magalhães, esses semelhantes ao decreto que o antigo presidente rubricara, caracterizados por uma perspectiva da defesa da economia nacional. Com o escopo de construir esse ideal por sua ação como legislador dentro da Câmara dos Deputados, Magalhães encontraria reflexos nos mesmos espectros ideológicos os quais haviam ponderado a respeito da legislação de Vargas. De posição favorável e contida anos antes, o editorial da família Marinho em O Globo manifestou-se intensamente crítico e contrário às intenções do deputado petebista, especialmente contra a sua lei de remessas de lucros. Da mesma forma, a apresentar transformações na sua visão, o Partido Comunista, embora naquele período utilizando outro veículo, Novos Rumos, cambiou a sua leitura de um oposicionista para um aliado – movimento derivado da estratégia partidária de 1958, exposta na Declaração de março.
Nesse capítulo, Silva revela um movimento interessante no interior da sociedade, a reforçar uma leitura mais ampla, e acentua a interpretação de uma pesquisadora. No primeiro caso, a análise mostra-se capaz de revelar como as posições estabelecidas a respeito de um projeto político tornam-se cada vez mais díspares dentro de três periódicos da época. Há limites dimensionais de quanto tal contraste pode ser generalizado para outras expressões da realidade social, por causa do conjunto documental manuseado pelo autor de Sergio Magalhães. No entanto, esse sentido não está desconexo de uma parte do conjunto bibliográfico produzido nos últimos tempos, pois obras formuladas por meio de outros acervos são consoantes a respeito do acirramento das oposições ideológicos no pré-1964 e, por conseguinte, condizendo com a perspectiva de Silva.11 No segundo, o pesquisador corrobora a conclusão interpretativa de Lucília de Almeida Neves Delgado, docente da Universidade de Brasília (UnB), que, no seu livro PTB – do getulismo ao reformismo, defende a hipótese da paulatina aproximação de projetos e estratégias entre as legendas PTB e PCB ao longo da Quarta República.12
No quarto capítulo, “‘O estuário das aspirações progressistas na Guanabara’: o combate a Lacerda na campanha eleitoral de 1960” (p. 165-212), o foco está em um dos momentos mais interessantes na trajetória política de Sergio Magalhães: na sua disputa eleitoral com Carlos Lacerda para o governo do estado da Guanabara. Em 1960, após a construção e a inauguração de Brasília, ocorreu uma fundamental transformação no caráter político do Rio de Janeiro. Por ser a capital federal da República até então, o município não contara com eleições diretas para o seu representante executivo. Na prática, tal cargo fora de nomeação direta do presidente, situação que se transformou devido à promulgação de eleições diretas para a posição. Naquele pleito, houve quatro candidatos a disputar: Tenório Cavalcanti (PRT), Mendes de Morais (PSD), Carlos Lacerda (UDN) e Sergio Magalhães (PTB).
No decorrer do período eleitoral, intensificaram-se as oposições entre projetos, à semelhança do descrito no capítulo anterior, manifestando-se materializadas nas pessoas dos concorrentes Magalhães e Lacerda, assim, a reforçar e a expandir o argumento manejado pelo pesquisador. Com o manejo da mesma forma documental, porém nessa passagem a partir dos periódicos O Globo e Última Hora – o segundo conhecido pelo seu notório caráter nacionalista e defensor dos projetos petebistas -, o autor segue a expor expressões do acirramento político-ideológico que caracterizaram o país nos períodos anteriores à ruptura institucional.
O contraste entre Lacerda e Magalhães expressar-se-ia de diversas maneiras, contudo, de maneira geral, as diferenças sintetizavam-se em um desarranjo de projetos de país. A visão do udenista era marcada por uma perspectiva conservadora, despreocupada com as questões sociais e nacionais; diferentemente, Magalhães mostrava-se profundamente voltado para uma apologia do desenvolvimento econômico nacional autônomo e da construção de uma sociedade com menores desigualdades sociais. As próprias posturas dos aspirantes, aliás, a respeito do conjunto de favelas instalado no Rio de Janeiro, refletiam a inadequação de suas ideias, pois, enquanto Lacerda entendia-as somente como problema, Magalhães concebia-as como uma problemática social a ser tratada pelo Estado. O período final da campanha aumentou ainda mais o conflito ideológico entre as partes, porquanto uma série de acusações foi trocada com o acirramento da competição, essas marcadas pelo uso de adjetivos como “comunistas” e “nazistas”.
No capítulo final do livro, “‘Um período crítico’: esperanças, preocupações, derrotas e dissabores” (p. 213-269), os últimos momentos da carreira política de Sergio Magalhães são analisados. Tratou-se de compreender como nos primeiros anos da década de 1960 os caminhos do deputado trabalhista, marcados por uma série de processos e crises, no último deles, resultaram no seu ostracismo político. Nessa passagem da pesquisa, toda a descrição constituída por Silva manejou dois periódicos de caráter trabalhista que, na época, contavam com considerável circulação e importância: o já citado Última Hora e O Semanário.
A última parte do livro preserva, entre as suas virtudes, a problematização, a partir do manejo das posições colocadas por Magalhães, de dois processos essenciais do fim daquele período democrático responsáveis por mobilizarem debates acadêmicos. O primeiro compreende a crise política de 1961: antes de completar um ano de mandato e nas proximidades do pleito para o Legislativo federal, o presidente Jânio Quadros renunciou e instalou uma condição de profundo desequilíbrio entre as forças políticas do país, devido a um setor, mobilizado pelas forças conservadoras, ser contrário à posse do vice João Goulart e outro, de forças legalistas, defender a manutenção do rito constitucional. Naquela conflagração de poderes, Magalhães, na época presidente da Câmara dos Deputados, tomou uma posição assertiva e resistente em prol de Goulart. Porém, apesar da apologia pela manutenção do processo demarcado pela Constituição, a tendência do deputado trabalhista seria derrotada e uma solução conciliadora instituiu o parlamentarismo via Senado.
O segundo desdobramento foi o golpe de 1964. Reeleito deputado em 1962, em campanha no Rio de Janeiro que dividiu as atenções e os votos com o correligionário Leonel Brizola, Magalhães posicionar-se-ia sobre diversas questões vitais até a instalação do general Castelo Branco na cadeira da presidência: por exemplo, sua postura crítica ao Plano Trienal, formulado pelo ministro da Fazenda San Tiago Dantas e pelo ministro do Planejamento Celso Furtado. Aliás, o primeiro cultivava conflitos com Magalhães desde 1961, quando o responsável pela gestão econômica do Poder Executivo junto com setores da oposição e estratos mais à direta dentro do PTB tentaram afastá-lo da presidência da Câmara. Silva explorou uma pontual expressão de disputa e desacordo dentro do Partido Trabalhista Brasileiro. Temática interessante capaz de revelar os limites da coesão e organicidade desse importante partido da Quarta República, mas que ainda requer maiores explorações; é um nuance revelado a ser inserido e considerado em um plano mais amplo. As iniciativas pelo avanço das reformas de base e pela prática de fato de sua lei de remessas de lucro, não obstante adulterada por um substitutivo parlamentar, também estariam na sua agenda política. A fundação da Frente de Mobilização Popular, mobilizada principalmente por Brizola, instituição da qual era um dos principais formulares e atores, foi a principal medida desenvolvida pelo deputado trabalhista para esse fim. Juntamente com tal orientação, também emplacava uma severa oposição ao governador da Guanabara, Carlos Lacerda, que o vencera anos antes.
Todavia, mesmo com os seus esforços dentro e fora do parlamento, entre eles os discursos proferidos após o presidente do Senado Auro de Moura Andrade declarar a vacância do Poder Executivo federal, Sergio Magalhães não conseguiria ver o avanço e a constituição de seu projeto de país. Sendo cassado pelo primeiro Ato Institucional em 10 de abril de 1964, seu número, na lista de 102 cidadãos que tiveram seus direitos políticos suspensos pela ditadura, foi o de 88. Era o epílogo da carreira política de Sergio Magalhães.
Roberto Bitencourt da Silva realizou um trabalho significativo com a construção da biografia de Sergio Magalhães. A obra conta com muitos méritos. O principal dentre eles situa-se na conjunta tentativa de retirar do esquecimento a figura de Magalhães e, a partir da trajetória do personagem, revelar nuances macros do Brasil da época, como o trabalhismo, a ruptura institucional de 1964 e os distintos projetos político-econômicos vigentes. Portanto, apresenta-se um trabalho que, dentre as noções de seleção de informação e construção da narrativa ponderados por Le Goff e Ricoeur, revela aspectos de um indivíduo situado nas margens nebulosas da historiografia e da memória, que começa a ser alçado mais ao centro das concepções a respeito do passado e, por conseguinte, escopo de análise e objeto de disputa ideológico. Para os pesquisadores interessados, a trajetória de Magalhães está longe de ser esgotada no sentido de investigações científicas, pois Silva manejou apenas uma parte do conjunto documental disponível a respeito do personagem, a existirem ainda outros jornais como o Diário de Notícias e o Correio da Manhã para serem explorados – além de outras fontes possíveis. Tal particularidade não corresponde a uma redução do valor qualitativo da obra, porém, diferentemente, confere uma virtude: Sergio Magalhães e suas trincheiras: nacionalismo, trabalhismo e anti-imperialismo – uma biografia política foi o exercício pioneiro e assim abriu caminhos para futuras e novas pesquisas.
Referências
DELGADO, Lucília de Almeida Neves. PTB – do getulismo ao reformismo. São Paulo: Marco Zero, 1989. [ Links ]
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, vol. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. [ Links ]
FERREIRA, Jorge. João Goulart: uma biografia. 4ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 2011. [ Links ]
__________. O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. [ Links ]
IANNI, Octávio. O colapso do populismo no Brasil. 3ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira , 1975. [ Links ]
LE GOFF, Jacques. História e memória. 7ª edição. Campinas: Ed. Unicamp, 2013. [ Links ]
MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. O governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil, 1961-1964. 8ª edição. São Paulo: Ed. Unesp, 2010. [ Links ]
NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. [ Links ]
POCOCK, John G. A. Linguagens do ideário político. São Paulo: Edusp, 2003. [ Links ]
RICOEUR, Paul. A história, a memória, o esquecimento. Campinas: Ed. Unicamp , 2007. [ Links ]
SILVA, Roberto Bitencourt da. Alberto Pasqualini: trajetória política e pensamento trabalhista. Niterói: Ed. da UFF, 2013. [ Links ]
SKINNER, Quentin. Razão e retórica na filosofia de Hobbes. São Paulo: Unesp, 1999. [ Links ]
__________. Maquiavel. Porto Alegre: L&PM, 2010. [ Links ]
WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. 4ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. [ Links ]
2 RICOEUR, Paul. A história, a memória, o esquecimento. Campinas: Ed. Unicamp, 2007, p. 455.
3 LE GOFF, Jacques. História e memória. 7ª edição. Campinas: Ed. Unicamp, 2013, p. 485.
4SILVA, Roberto Bitencourt da. Alberto Pasqualini: trajetória política e pensamento trabalhista. Niterói: Ed. da UFF, 2013.
5O livro de Jorge Ferreira, João Goulart: uma biografia, e a coletânea por ele organizado, O populismo e sua história: debate e crítica, são duas expressões recentes de um acervo de textos que constituem uma crítica ao conceito. Há também o mais antigo, porém, revisto e atualizado, O governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil, 1961-1964, de Luiz Alberto Moniz Bandeira.
6WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. 4ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
7IANNI, Octavio. O colapso do populismo no Brasil. 3ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.
8 SKINNER, Quentin. Razão e retórica na filosofia de Hobbes. São Paulo: Unesp, 1999; Idem. Maquiavel. Porto Alegre: L&PM, 2010; POCOCK, John G. A. Linguagens do ideário político. São Paulo: Edusp, 2003.
9GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere, vol. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
10O Partido Comunista do Brasil mudou seu nome para Partido Comunista Brasileiro na transição da década de 1950 para 1960. Nesta resenha, optou-se pela segunda denominação independentemente do período histórico.
11 Marcos Napolitano sustenta a existência de “um ambiente de polarização ideológica radicalizada e de disputa por afirmação de projetos autoexcludentes para a sociedade e para a nação”. NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014, p. 66.
12DELGADO, Lucília de Almeida Neves. PTB – do getulismo ao reformismo. São Paulo: Marco Zero, 1989.
Luccas Eduardo Castilho Maldonado – Graduando no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected].
Arméniens: le temps de la délivrance – MINASSIAN (RH-USP)
MINASSIAN, Gaïdz. Arméniens: le temps de la délivrance. Paris: CNRS Éditions, 2015. 500 pp. Resenha de: BOGOSSIAN-PORTO, Pedro. Para além do genocídio: novas luzes sobre a Questão Armênia. Revista de História (São Paulo) n.177 São Paulo 2018.
Arméniens: le temps de la délivrance, de Gaïdz Minassian, é uma obra de fôlego sobre a história e a memória dos armênios, na qual o autor propõe-se a analisar, ao longo dos quase três mil anos de existência desse grupo étnico, suas diferentes configurações políticas e sociais. Seu objetivo é destrinçar o conhecimento científico produzido a respeito da “questão armênia” e, assim, abrir espaço para novas perspectivas históricas (p. 32). O genocídio dos armênios, realizado pelo Império Otomano ao longo da Primeira Guerra Mundial, e o reconhecimento internacional desses massacres como “genocídio” são componentes centrais daquilo que o autor define como a “questão armênia”, mas seu estudo não se restringe a esses dois elementos: outras questões atualmente relevantes para os armênios, incluindo a própria existência da Armênia enquanto um Estado independente, são igualmente objeto de reflexão.
A partir da premissa de que as narrativas a respeito dos armênios são marcadas pela primazia da memória coletiva sobre o conhecimento histórico, Minassian divide o seu trabalho em quatro partes: a primeira, em que se analisa a relação entre história e memória, tem como foco as formas de dominação a que os armênios estiveram submetidos através do tempo; a segunda se volta à superação de uma lógica exclusiva da memória; a terceira introduz uma reflexão sobre as potencialidades da memória; por fim, a quarta se propõe a desbloquear a relação história-memória. Cada uma dessas partes se subdivide em três capítulos extremamente densos e marcados pela descrição, em grande profundidade, dos processos históricos e das conjunturas em que eles se desenvolveram.
O primeiro capítulo, intitulado La domination internationale (p. 43-125), é o mais longo de todo o texto e se compõe de três seções. Nesse capítulo, o autor remonta às primeiras formas de organização política da população armênia para refletir sobre o tratamento que lhe foi conferido pelas potências internacionais e pelos grupos vizinhos. Dividida em dois momentos, a primeira seção do capítulo trata dos períodos em que os armênios constituíram Estados independentes e dos períodos de submissão a poderes estrangeiros. Segue-se uma discussão acerca da “questão armênia”, de finais do século XIX até os dias de hoje, com reflexão a respeito da forma como as potências estrangeiras e os Estados vizinhos têm se portado em relação à existência de um Estado armênio. A terceira seção do capítulo se volta aos movimentos de criação de uma estrutura política independente, descritos pelo autor como “haitadismo” (termo originado a partir do radical hai, que significa “armênio” na língua armênia).
No segundo capítulo, La domination politique-religieuse (p. 127-176), faz-se um novo recuo histórico para analisar as estruturas políticas e religiosas nas quais os armênios se organizaram através dos séculos. O capítulo é novamente dividido em três seções, cada uma delas dedicada a uma instituição social: o sistema dinástico, a Igreja e os partidos políticos. Embora não haja uma nítida análise cronológica, é possível associar essas instituições a determinados períodos históricos – respectivamente a Idade Média, o período de dominação otomana e uma espécie de século XX estendido (dos anos 1880 até hoje). De acordo com o autor, a célula dessas formas de organização seria a família patriarcal (p. 129), que lhes serviria não apenas de unidade constituinte mas também de modelo de organização: dinastias, Igreja e partidos se estruturariam, assim, nos moldes da estrutura familiar.
A terceira forma de dominação é a socioeconômica, objeto da análise do capítulo 3 (p. 177-209). O principal argumento dessa parte do texto é que a longa experiência de dominação estrangeira condicionou o pensamento dos armênios e os colocou sob forte dependência econômica e social (p. 177). Essa situação teria dois importantes desdobramentos: em primeiro lugar, impediu o avanço de um pensamento individualista e reforçou, pelo contrário, as demandas coletivas (p. 188); em segundo lugar, teria dado origem a uma sociedade profundamente violenta, que perceberia no enfrentamento direto o principal meio de resistência à dominação estrangeira (p. 193). Os massacres realizados pelo sultão Abdul Hamid II, o genocídio e as perseguições dos períodos stalinista e pós-stalinista seriam alguns dos exemplos da violência de massa à qual a sociedade estaria submetida e à qual ela teria respondido de modo igualmente violento.
Dedicado ao movimento revolucionário, entre 1878 e 1914, o capítulo 4 (p. 215-250) tem como principal objeto de reflexão a fundação da Federação Revolucionária Armênia – Dashnaktsutiun (FRA / Dashnaktsutiun) e as ações empreendidas por esse partido durante a passagem do século XIX para o século XX. Na realidade, o foco recai quase que exclusivamente sobre a figura de Christapor Mikaelian, descrito pelo autor não apenas como um “fundador do partido” ou como “profeta da revolução”, mas como a própria encarnação da autoridade entre os armênios (p. 216). Outras organizações ou personagens atuantes no período são relegadas a um segundo plano na análise, que apresenta o “grande homem” Christapor como o sujeito de todas as importantes ações e decisões. É tamanho o protagonismo dessa personagem que o autor cunha um termo para definir todo o período, christaporismo, e dedica à sua análise uma parte significativa do capítulo, a seção Christaporisme, le politique incarné (p. 217-242).
O capítulo 5 (p. 251-271), o segundo da parte II, volta-se à chamada 2a República da Armênia, período em que o país esteve sob dominação soviética (1920-1991). A partir do pressuposto de que foi pela cultura que os armênios assumiram o controle de sua história entre os anos 1920 e a queda do muro de Berlim (p. 251), desenvolve-se aqui uma investigação sobre as manifestações artísticas dessa população, enfocando não apenas a produção oriunda da República Soviética da Armênia, mas também incorporando aquela realizada nas comunidades da diáspora. Toda essa produção é observada à luz da sua contribuição para a preservação de um sentimento de armenidade e do fortalecimento da ideia de uma nação armênia – em acordo com o propósito do livro de analisar os armênios enquanto grupo étnico, não necessariamente vinculado a uma instituição política ou a um Estado nacional. A atuação estritamente política dos armênios, tanto dentro da URSS quanto na diáspora, ocupa aqui uma posição secundária, sendo-lhes dedicadas apenas as cinco páginas finais do capítulo.
Instituída a partir da crise da União Soviética, é objeto de investigação do capítulo 6 a 3a República da Armênia, mais precisamente o primeiro decênio desse período, de 1988 a 1998. Ao observar o renascimento político e o deslocamento do eixo econômico da Armênia ao longo da década de 1990, o autor pretende aqui avaliar a relevância de dois processos distintos, embora conectados: por um lado o declínio e o desmembramento da União Soviética e, por outro, a transferência do território do Alto Karabakh para a República da Armênia. O argumento do autor é que as decisões tomadas nesse período pautariam todo o posicionamento político posterior da Armênia e, para sustentar sua posição, ele apresenta a discussão a respeito do “inimigo a ser enfrentado” pelo Movimento do Karabakh (p. 277-8), se o governo central em Moscou ou se o governo da República do Azerbaijão, em Baku. Vinculado administrativamente à República do Azerbaijão, a região do Alto Karabakh era habitada por uma maioria armênia pelo menos desde os anos 1920 e, por isso, o Movimento Karabakh reivindicava a sua transferência para a República Socialista Soviética da Armênia. A opção pelo enfrentamento ao governo azerbaijanês, tomada pelos líderes do Movimento, produziu um alinhamento a Moscou que até hoje persiste e que pauta grande parte das decisões do governo armênio atualmente, o que implica em certa dose de dependência em relação à Rússia. Outro importante desdobramento da opção pelo enfrentamento a Baku teriam sido as significativas vitórias armênias, que lhes proporcionaram uma “revanche sobre a história” (p. 290) e possibilitaram que os “traumas psicológicos se apagassem pouco a pouco do pensamento”, um aspecto que teria impacto direto sobre a memória do genocídio mantida na República da Armênia.
O capítulo 7, Fortunes et infortunes de la révolution culturelle haïtadiste, 1972-1991 (p. 307-333), volta-se ao movimento de revalorização da identidade armênia, que teria se desenvolvido nas diferentes comunidades da diáspora a partir de 1972. Originada no congresso realizado pela FRA em Viena naquele ano, essa revolução cultural teria dado origem a um “nacionalismo de diáspora” (p. 314), marcado pelo reposicionamento dos armênios na cena política internacional: o partido estabelecia então uma agenda terceiromundista, em que rechaçava o alinhamento automático a qualquer dos polos envolvidos na Guerra Fria e tentava estabelecer sua própria pauta de reivindicações. O resgate e a preservação da língua armênia voltaram a ser uma prioridade, bem como o reconhecimento do genocídio pela comunidade internacional e, mormente, pela Turquia – o que motivou os ataques aos quadros da diplomacia turca ocorridos a partir dos anos 1980.
Enquanto o capítulo 7 se concentra quase que exclusivamente na análise de processos ocorridos na diáspora, o capítulo 8, L’État mémoriel arménien, de 1998 à nos jours (p. 335-350), é dedicado a temáticas mais estritamente relacionadas à República da Armênia, embora não perca de vista as relações entre o Estado e a diáspora. O autor aborda aqui o papel desempenhado pela memória na construção da ideia de “nação armênia”, dividindo a temática, porém, em duas dimensões opostas: no primeiro momento, destaca-se a centralidade da memória na construção de uma identidade coletiva, na qual a tradição, a religião e o genocídio exercem uma função primordial (p. 336) – o que explica a denominação de État mémoriel no título do capítulo; no segundo momento, por outro lado, destaca-se a impossibilidade do trabalho de memória, uma vez que são recalcadas páginas importantes do passado armênio, tais como os crimes do período stalinista ou a atividade dos grupos terroristas armênios. A argumentação do capítulo evolui no sentido de demonstrar que a memória é evocada ou silenciada de acordo com os interesses dos grupos que controlam o governo, o que fica claro, por exemplo, nos movimentos de aproximação e de afastamento em relação à diáspora, à Rússia e à Europa.
A utilização da memória para fins políticos é também o objeto de análise do capítulo 9 (p. 351-373), que se volta ao negacionismo turco em relação ao genocídio dos armênios. Seu objetivo é compreender as causas e os mecanismos empregados pela historiografia definida como “historiografia de Estado” turca, para preservar certa narrativa a respeito de seu passado. Novamente, o autor aborda dois posicionamentos opostos sobre a questão: primeiramente o discurso negacionista, desde aquele produzido pela administração otomana durante a Primeira Guerra até as análises realizadas atualmente nos meios acadêmicos; em seguida, os estudos que, desenvolvidos por autores de origem turca ou com ampla utilização de arquivos locais, rompem a barreira de discurso monológico instituído pelo governo turco. Apoiado em obras recentes, o autor aproveita para discutir aqui teses tradicionais como a compreensão de que o período republicano representaria uma ruptura profunda com o período imperial na Turquia: para Minassian, o governo instituído por Mustafa Kemal herdou do período anterior não apenas a estrutura política e econômica, mas também o discurso em relação ao genocídio (p. 269).
A quarta parte do livro se inicia com um capítulo intitulado Democratiser l’identité (p. 381-403), cujo foco recai sobre as relações entre a República e a diáspora, por um lado, e entre o Estado e a sociedade, por outro. Embora tenha como objeto de investigação a identidade coletiva armênia, o capítulo é marcado pela percepção de uma desconfiança da população em relação às instâncias de participação coletiva: desconfiança em relação à integração com a diáspora (p. 383), em relação ao governo (p. 385), em relação aos partidos políticos e especialmente em relação à FRA (p. 386-7), em relação ao apoio russo (p. 389)… Na segunda seção do capítulo, o autor apresenta o que parece ser o seu receituário para o Estado armênio sair da crise de legitimidade em que se encontra e entrar no que seria o “mundo das democracias modernas”: romper com a suserania russa (p. 395), libertar-se do trauma do genocídio (p. 397), promover uma real conquista do Estado pela população (p. 398) e racionalizá-lo (p. 399), realizar uma reforma política que leve à adoção do bicameralismo (p. 400) e integrar a diáspora no sistema decisório (p. 401). A análise se volta a diferentes temáticas, mas, embora algumas das propostas apresentadas possam de fato trazer benefícios para o país, a argumentação em defesa delas muitas vezes carece de fundamentação e parece desconsiderar aspectos importantes da realidade local.
O capítulo 11, Trouver les voies et les voix du dialogue avec les Turcs (p. 405-446), propõe uma reflexão sobre a necessidade de se restabelecer as relações diplomáticas entre a Armênia e a Turquia, bem como os recursos disponíveis para isso. Seu principal argumento é que, ainda que o governo turco possa ser refratário a essa aproximação e à discussão da questão do genocídio, é não apenas possível, mas também necessário estabelecer um diálogo direto com a sociedade daquele país, que frequentemente não teria acesso a uma informação completa e/ou precisa. Estabelecida como temática a normalização das relações diplomáticas, torna-se imprescindível observar os protocolos armeno-turcos, assinados em 2009 precisamente com essa finalidade: identificar os agentes envolvidos, as motivações de cada um e as razões para o fracasso das negociações tornam-se objetivos centrais para a reflexão desenvolvida ao longo do capítulo.
Já abordada no primeiro capítulo do livro, a atuação das potências internacionais em relação aos armênios é trazida novamente à discussão no capítulo 12 (p. 447-494), L’engagement de la communauté internationalle et scientifique, em que se demonstra como as grandes forças da cena mundial têm utilizado a “questão armênia” para atingir seus próprios objetivos. A primeira seção do capítulo trata desses diferentes usos da questão armênia e de como ela vem sendo empregada para legitimar determinadas políticas – os exemplos são abundantes. O Genocídio, por exemplo, não é reconhecido por Estados que prontamente se apresentam como defensores da paz e dos direitos humanos, como Estados Unidos e Inglaterra (p. 449). A Rússia, supostamente comprometida com a paz na região do Nagorno Karabakh, não se furta a fornecer armas para os dois países beligerantes e mantê-los, assim, sob a sua tutela (p. 454). A União Europeia busca atrair a República Armênia para a sua zona de influência desde que isso signifique o enfraquecimento russo (p. 462), e não movida por uma preocupação com o desenvolvimento econômico e social na região.
A segunda seção do capítulo se volta à aplicabilidade do conceito de genocídio ao caso armênio e ao debate em torno das leis sobre o negacionismo na França: a discussão é intensa e envolve políticos, intelectuais e formadores de opinião, que oscilam entre legitimar uma “restrição à liberdade de expressão” e tolerar a “negação de eventos históricos”. Esse debate traz à luz uma reflexão sobre o papel do historiador como detentor da “verdade” e sobre a legitimidade de o Estado definir os discursos históricos legalmente aceitos: negar o genocídio dos armênios não seria, assim, diferente de negar o holocausto ou a escravidão (p. 472).
O principal mérito de Arméniens: le temps de la délivrance é introduzir, no campo de estudos sobre a Armênia e sobre os armênios, questões que fogem à temática do genocídio sem, contudo, negligenciar esse tema. Trata-se de um movimento de suma importância, uma vez que grande parte das pesquisas relacionadas aos armênios adota como enfoque exclusivo os acontecimentos ocorridos durante a Primeira Guerra Mundial – proporção ainda mais representativa no caso dos estudos realizados por pesquisadores originários das comunidades armênias da diáspora.
O interesse que essas comunidades têm no tema é facilmente explicado se considerarmos que são elas que abrigam a maior parte dos descendentes das vítimas das perseguições, que formaram, em seu exílio, o embrião das comunidades que existem atualmente. Contudo, observar a história dos armênios unicamente sob a ótica dos sobreviventes do genocídio traz o risco de empobrecer a reflexão sobre o assunto, visto que os estudos passam a girar quase que exclusivamente em torno de um mesmo ponto. Nesse sentido, a ampliação do foco das pesquisas proposta por Gaïdz Minassian é muito bem-vinda, pois possibilita romper com um discurso monotônico e diversificar os tópicos relacionados à “questão armênia”, conferindo-lhe, assim, maior complexidade.
Todavia, para um estudo dessa magnitude e que se propõe a tão importante deslocamento do eixo das análises, o livro, ainda que relacione uma vasta bibliografia, apresenta muito poucas referências a fontes primárias que possam dar sustentação aos seus argumentos. Afirmações relativas a assuntos sobre os quais não há consenso poderiam ser mais desenvolvidas e melhor fundamentadas. Esse é o caso, por exemplo, da menção à quantidade de armênios executados durante o Genocídio, apresentado pelo autor como sendo 1,5 milhão (p. 44): mesmo entre os pesquisadores que concordam com o conceito de genocídio para definir o caso armênio, há grande discordância sobre os números, que variam entre 800 a 1,5 milhão, em função do estudo e da metodologia aplicada. Não informar o leitor a respeito de tal divergência numérica em relação a uma questão elementar para o estudo dessa temática traz o risco de fragilizar a argumentação e de colocar em xeque toda a obra, que poderia então ser classificada mais como uma obra de divulgação do que um texto com rigor científico.
As afirmações pontuais que não apresentam fontes que lhes sustentem, a despeito de tratarem de temas relevantes, são diversas – poder-se-ia destacar a alusão a “le rêve de libération de l’Arménie occidentale sous l’administration de la Turquie” (p. 61) surgido na Armênia soviética nos anos 1950 ou a declaração de que “contrairement à ce que rapporte la légende, les premiers à s’être prononcés pour le maintien du haut-Karabakh à l’Azerbaïdjan ne sont pas les Bolcheviques, mais les Britanniques” (p. 77), entre outros. Mais problemático do que essas afirmações, porém, parece ser o texto cair muitas vezes na armadilha daquilo que ele pretende combater, a saber: observar a “questão armênia” a partir de uma lógica da memória, reificando narrativas espacial e temporalmente localizadas e que não necessariamente correspondem aos processos históricos. Nesse sentido, o autor frequentemente assume uma perspectiva recorrente nas comunidades da diáspora e que não observa os movimentos internos à República da Armênia, de 1918 até hoje, em todas as suas especificidades.
A implicação de se observar a República da Armênia sob a ótica da diáspora é avaliar os posicionamentos adotados pelo Estado a partir de parâmetros que lhe são estranhos ou que desconsideram as dinâmicas locais e regionais. Quando o autor afirma, por exemplo, “les Arméniens ont collectivement le sens de la politique, mais pas le sens du politique” (p. 128), ele avalia e classifica essa coletividade a partir de uma lógica que deslegitima toda a experiência social na Armênia como dotada de um “senso do político”. O mesmo ocorre quando, ao tratar da aproximação com a Europa, ele afirma “l’Arménie doit s’appuyer sur ce socle démocratique [européen] pour assurer son avenir, la paix régionale et son développement économique (…) Mais Erevan a opté, sous la pression de Moscou, pour l’union douanière du projet poutinien d’Union eurasienne avec la Russie” (p. 338-9), sem contudo avaliar os fatores estratégicos que conduzem a Armênia a se aproximar da Federação Russa em detrimento da Europa. O Estado armênio é retratado, assim, como movido por certa ingenuidade ou como uma estrutura inábil na realização de cálculos políticos.
Esse posicionamento do texto, no entanto, não abala a qualidade da obra, que continua sendo um trabalho extremamente original, articulado a uma bibliografia atualizada e que aborda com grande profundidade diferentes questões. Trata-se de um livro indispensável a qualquer estudo que se proponha a refletir hoje sobre a temática armênia, em qualquer de suas dimensões.
Referências
MINASSIAN, Gaïdz. Arméniens: le temps de la délivrance. Paris: CNRS Éditions, 2015. 500 p. [ Links ]
1Resenha do livro: MINASSIAN, Gaïdz. Arméniens: le temps de la délivrance. Paris: CNRS Éditions, 2015. 500 p.
Pedro Bogossian-Porto – Doutorando em Antropologia na Université Paris 7 – Paris Diderot (UP7) e bolsista do Programa de Doutorado Pleno da CAPES (Processo nº 99999.001062/2015-08). Com interesse na memória e na identidade nacional armênia, o pesquisador possui mestrado em Antropologia e bacharelado em História, ambos pela Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, RJ, e é membro associado do Núcleo de Estudos do Oriente Médio (Neom/UFF) e da Unité de Recherche Migration et Société (Urmis/UP7). E-mail: [email protected].
Westund Nordeuropa Juni 1942-1945 – HAPPE (RH-USP)
HAPPE, Katja. Westund Nordeuropa Juni 1942-1945. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2014. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945, 12p. Resenha de: LEITE, Augusto Bruno de Carvalho Dias. Contribuição à historiografia sobre a Shoah. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.Nov 13, 2017.
A ilustrada Alemanha do início do século XX mobilizou os recursos mais avançados que a racionalidade moderna possuía para a guerra. Mais do que isso, durante o regime Nacional-Socialista alemão (1933-1945), racionalizou-se o processo de expulsão dos “indesejados” para fora dos limites do Reich. Particularmente, contra os judeus, assimilados ou não, a solução encontrada foi a imediata eliminação: “a solução final para a questão judaica” [die Endlösung der Judenfrage].
A Shoah [שואה], do hebraico “calamidade” ou “catástrofe”, termo que nomeia a perseguição e o assassinato dos judeus na Europa sob o domínio do III Reich alemão, apesar de já exaustivamente explorada, rememorada e elaborada, especialmente em ambiente europeu, norte-americano e israelense, persiste como evento singular, paradigma político e histórico. Entretanto, a produção propriamente historiográfica que se debruça sobre o tema é fragmentada, quando não restrita à memorialística, havendo, por isso, uma lacuna a ser sanada. Os anos 19901 tentam preencher esse hiato com vasta publicação interessada em estudar e compreender a “catástrofe” judaica, catalisada pelo aparecimento e pela análise de documentos até então inéditos que surgem no horizonte historiográfico da pesquisa pelo trabalho de investigadores e familiares de sobreviventes que dispõem para o público artefatos e documentos que atestam eventos, reafirmando registros ou mesmo iluminando novos fatos.
É sensível ao estudioso da Shoah, desde o aparecimento de Le Bréviaire de la haine : Le IIIe Reich et les juifs [O breviário do ódio: o III Reich e os judeus]2, de Léon Poliakov, em 1951, a exigência documental sobre esse ramo historiográfico. Há uma demanda, por vezes tácita, sobre o rigor documental próprio ao teor científico que um estudo histórico em geral exige. Tal demanda pretende que os estudos sobre a Shoah possam se deslocar da “moral política” para o campo dos estudos históricos. Com efeito, há necessidade de documentação para que a crítica documental refina o conhecimento sobre esse evento que, podese afirmar, seccionou o século XX europeu. As últimas décadas não apenas produzem o registro de entrevistas ou memórias individuais como também arregimentam em vários acervos uma documentação riquíssima, com vasto material salvo da destruição ou do esquecimento, disponibilizada, inclusive, on-line, como a reunida no United States Holocaust Memorial Museum.
Desse modo, a compilação de coleções de documentos que testemunham a “catástrofe” conforme o seu desenvolvimento parece sugerir que os estudos sobre a Shoah estabelecem, a cada dia, uma boa relação com o plano historiográfico. É o que se vê no décimo segundo volume do projeto Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945 [A perseguição e assassinato dos judeus europeus pela Alemanha Nacional-Socialista 1933-1945] (2008-2018), que acaba de ser publicado com uma monumental documentação, novamente, enriquecendo a historiografia do público de língua alemã. Trata-se de um dos volumes desse projeto que colige documentos originais do período Nacional-Socialista alemão, com particular enfoque na atuação da burocracia do Reich em relação à população judaica do continente europeu além do Magrebe. É um trabalho que, apesar de sua vocação universalista, por tratar de tema sensível ao conjunto de pautas humanitárias históricas, foi feito por alemães e, sobretudo, para alemães, como sugerem os editores.3 Há a intenção pedagógica para a construção da memória e da história alemã do século XX. Com rigor técnico e, ao mesmo tempo, sensibilidade didática ao leitor não iniciado ao tema, o chamado projeto VEJ – abreviação do título – se desenvolve como material de pesquisa para o historiador, mas também para o leitor interessado, para o leigo que deseja compreender o passado recente da história alemã ou se aproximar da experiência vivida pelos contemporâneos do Estado nazista, por meio da leitura de documentos da época. Para tanto, toda documentação é cuidadosamente traduzida e apresentada de maneira imediata ao leitor, com o cuidado de explicar aquilo que ao leigo pode soar incompreensível, o que se pode averiguar pelas notas de pé de página, sempre esclarecendo de maneira objetiva e em linguagem simples algum fato ou personalidade do período.
A coleção possuirá dezesseis volumes ao final de sua publicação, prevista para o ano de 2018. Os volumes são organizados cronologicamente, do ano de 1933 a 1945, compreendendo, então, o período de ação e desenvolvimento do Reich Nacional-Socialista alemão, incluindo os territórios ocupados, assim como o período da Segunda Grande Guerra. Serão cerca de 5 mil documentos reunidos no total, sendo que, a cada volume, aproximadamente 320 documentos devem compor o dossiê a ser apresentado na edição em questão. Foi estipulado que, do total dos documentos contidos em cada volume, com alguma margem de tolerância, 40% devem ser originários do ambiente dos perpetradores – agentes do Reich -, 40% devem ser originários das vítimas – sobreviventes judeus, em sua maioria – e 20% da documentação devem ser de pessoas, órgãos ou instituições sem envolvimento direto com os eventos – como a imprensa internacional. Os documentos apresentados são oriundos de várias regiões da Europa e do norte da África, e apenas as traduções para o alemão estão presentes na obra, que não contém os originais de cada documento. Pode-se descobrir que, nas páginas de cada volume da coleção, há desde cartões postais, recortes de jornais e fragmentos historiográficos a papéis oficiais do Reich, sempre com a exigência de serem evidências produzidas na época em questão, nunca posteriormente. São documentos que não representam apenas um evento, mas um complexo de questões que, apesar da estrutura cronológica, periódica e seccionada por regiões ou países, podem ser cruzadas ou comparadas por volume, por ano ou pela origem geográfica.
O volume 12 possui lugar especial dentro da obra total. Trata-se do exemplar Westund Nordeuropa Juni 1942-1945 [Europa do oeste e do norte, junho de 1942-1945]. Os editores, Katja Happe, Barbara Lambauer e Clemens Maier-Wolthausen, publicaram, em dezembro de 2014, esta obra, que recolhe evidências sobre um dos momentos críticos e decisivos da deportação da população judaica da Europa do norte e da Europa central. Como em outros volumes, há uma “introdução” que inicia o leitor ao contexto sobre o qual a documentação foi produzida, por meio da qual é possível conhecer de maneira breve a história das populações judaicas de cada região visada pelo trabalho e, por outro lado, um breve histórico do antissemitismo característico da região estudada, em relação ao período perscrutado. Pela introdução proposta para o décimo segundo volume, a documentação parece se agrupar orientada pelo impacto das deportações em massa iniciadas no verão de 1942, da Europa central e do norte em direção ao leste (VEJ, 2014).
O décimo segundo volume apresenta 336 documentos originários da Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França. É impossível analisar a totalidade da compilação de maneira concisa e paulatina, pois o volume é enorme. No entanto, é possível sumarizar o teor da documentação pelo comentário de um documento exemplar: a carta de Jonas (Bob) Cahen (1918-2000) a sua família, na qual o então prisioneiro do campo holandês de Westerbork narra, em novembro de 1942, com qualidade literária e descritiva o que parecia ser uma fração corriqueira de seu dia a dia. Tal fração, entretanto, demonstra de modo exemplar o argumento do volume em questão, que afirma o verão de 1942 como ponto de inflexão da compreensão das ações do Reich para efetivação da Endlösung der Judenfrage. O documento “número 92” do dossiê evoca não apenas imagens gráficas do campo de Westerbork, do primeiro dia do mês de novembro de 1942, mas anuncia uma espécie de vaticínio individual, pessoal, sobre aquilo que ocorria sem o conhecimento das vítimas, a saber, o genocídio, a “perseguição e o assassinato” sistematicamente orquestrados. Jonas Cahen insinua aquilo que se soube somente posteriormente: a “solução final”. Ele sente de maneira intuitiva que é isso, precisamente, o que surge em seu horizonte próximo, na Holanda ocupada, e que irá reduzir em mais de 90% a população de origem judaica até o fim de 1945.4 Com a chegada de 17 mil judeus de toda parte da Holanda, em outubro daquele ano, Cahen descreve o campo de Westerbork, cujas barracas feitas para acomodar 400 pessoas abrigavam por vezes mil.
Die Menschen kamen hier an, gejagt wie Vieh, einige begraben unter ihrem Gepäck, andere ohne jeden Besitz, einige nicht einmal richtig gekleidet. Kranke Frauen, die man aus dem Bett geholt hatte, in dünnen Nachthemden, Kinder in Hemdhöschen und barfuß, alte Leute, Kranke, Gebrechliche – immer mehr neue Menschen kamen in das Lager. Die Baracken waren voll, übervoll. […] Strohsäcke und Matratzen gab es schon lange nicht mehr. […] Sie schliefen auf oder unter Schubkarren im Freien. Es gab nicht genug zu essen. Warmes Essen bekam man manchmal nur alle drei Tage und dann noch zu wenig. Die Säuglinge bekamen keine Milch. […] Die Pumpen für die Wasserversorgung arbeiteten unter Hochdruck und waren nicht mehr in der Lage, das Wasser ausreichend zu säubern, so dass die Menschen verschmutztes Wasser trinken mussten – mit den entsprechenden Folgen.
[As pessoas vieram, escorraçadas como gado, algumas soterradas por suas próprias bagagens, outras sem qualquer bem, algumas nem mesmo vestidas adequadamente. Mulheres doentes que, arrastadas para fora de suas camas, vestiam camisolas, crianças em roupas debaixo e descalças, pessoas idosas, doentes, enfermos – sempre chegavam mais pessoas novas no campo. As barracas estavam cheias, superlotadas. […] Colchões, mesmo que de palha, já não existiam mais. […] Dormiam sobre ou embaixo de carrinhos de mão, ao ar livre. Não havia comida o suficiente. Refeições quentes, apenas a cada três dias e, ainda, em pouca quantidade. Os bebês não obtêm nenhum leite. […] A bomba que trabalhou sob alta pressão para o abastecimento de água já não era capaz de purificá-la o suficiente, fazendo, assim, as pessoas beberem água suja – com as devidas consequências.]5Sobrevivente de Westerbork, mas também de Theresienstadt e Auschwitz, para onde será deportado já no fim da guerra6, Cahen imprime, portanto, uma imagem já conhecida porém ainda impactante da barbárie NacionalSocialista alemã. E, de forma sarcástica, profundamente envolvido com o que experimenta em Westerbork, denuncia o mesmo que Walter Benjamin em suas conhecidas Teses sobre o conceito de história: a natureza nefasta da civilização e da cultura, até então ignorada. Na sétima tese, Benjamin afirma que “não há um documento de cultura que também não seja um documento de barbárie [Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein]”7. Cahen, endossando o adágio benjaminiano, diz:
Das Zeitalter der Zivilisation – „Deutschland gewinnt an allen Fronten“, „bringt Kultur und Zivilisation!“ Zivilisation, wenn man Menschen auf Schubkarren, auf Rucksäcken oder einfach auf dem Boden liegen lässt? Kultur, wenn man eine Mutter verzweifeln sieht, weil sie ihr Kind nicht nähren kann … keine Milch.
[A era da civilização – “A Alemanha venceu em todas as frentes”, “traz cultura e civilização!”. Civilização, quando se encontra pessoas em carrinhos de mão, em mochilas, ou simplesmente estendidas no chão? Cultura, quando se vê uma mãe desesperada porque não consegue alimentar seu filho… sem leite.]8Jonas Cahen, assim, resume o significado que a Shoah assume dentro da história europeia: simultâneo cumprimento e negação das promessas da civilização e da cultura. Conhecer esse momento de maneira imediata, pelo contato instantâneo com a documentação, gera impressões vivas desse paradoxo, próprio ao momento que se deseja apresentar pelo projeto VEJ.
O ganho natural de tal empreendimento é a reunião de material para pesquisa. O historiador ou pesquisador interessado e comprometido com o tema terá acesso facilitado pelo trabalho monumental que a equipe do projeto VEJ empreendeu. Além disso, não todos, mas muitos documentos são inéditos. Outro ganho que, particularmente, a coleção proporciona é a possibilidade de uma análise transnacional, transtemporal ou transbiográfica segundo os critérios que cada volume apresenta. A facilidade para tal empreitada encontra-se, precisamente, no já mencionado caráter cronológico e seccionado por país, região ou biografia que a coleção impõe à documentação, o que proporciona o acesso facilitado à determinada questão preestabelecida. Por fim, o trabalho do VEJ aponta para a elaboração da memória recente alemã e, ainda, a configuração historiográfica desta memória.
A força deste projeto, mais do que na quantidade intimidadora de documentos apresentados para análise, parece repousar sobre o argumento que persiste de maneira tácita dentro da obra, pois há um pressuposto não declarado que atravessa todo o projeto: descreve-se a Shoah não como catástrofe teológica, teleológica ou natural, conforme o termo Holocausto pode evocar, mas como catástrofe histórica em seu sentido existencial e político profundo, porque compreender a Shoah enquanto acontecimento político é apresentá-la historicamente. Incluir a Shoah no passado histórico através do esforço historiográfico e documental é torná-la lembrança, incluí-la na memória coletiva política que se sedimenta em forma de historiografia, pois “colocar algo no passado”, como se diz corriqueiramente, não é nada mais do que lembrar, de maneira precisa, deste passado.
Referências
BAJOHR, Frank. Expropriation and expulsion. In: STONE, Dan. The historiography of the Holocaust. London: Palgrave Macmillan, 2004. p. 52-53. [ Links ]
BENJAMIN, Walter. Über den Begriff der Geschichte. In: BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, p. 691-704. [ Links ]
HAPPE, Katja et al. West-und Nordeuropa Juni 1942-1945. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2014. (Coleção Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945, vol. 12) [ Links ]
*Doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais com estágios doutorais na Université Paris VII – Denis Diderot e na École des Hautes Études en Sciences Sociales EHESS França. E-mail: [email protected].
1BAJOHR, Frank. Expropriation and expulsion. In: STONE, Dan. (ed.). The historiography of the Holocaust. London: Palgrave Macmillan, 2004, p. 52-53.
2Todas as traduções são de responsabilidade do autor do artigo.
3Apesar desta vocação, em breve o projeto VEJ poderá ser acessado pelo público não germanófono. A preparação da edição inglesa da coleção, coordenada pelo professor Alex Kay, do Instituto de História Contemporânea (Munique-Berlim), acontece desde 2014. É prevista a tradução de todos os volumes, trabalho que é realizado em conjunto com o professor Dan Michman, do Yad Vashem (Jerusalém).
4In den Jahren der deutschen Besatzung wurden von den 140 000 Juden, die bei Kriegsbeginn in den Niederlanden lebten, 107 000 deportiert. Von ihnen Kehrten nur etwas mehr als 5 000 nach Kriegsende in die Niederlande zurück. [Durante os anos de ocupação alemã, havia cerca de 140 000 judeus holandeses. Desde o inicio da guerra, 107 000 foram deportados. Destes retornaram a Holanda pouco mais que 5000]. In: VEJ, 2014, p. 44.
5VEJ, 2014, p. 309
6Jonas Cahen, técnico eletricista, é deportado em agosto de 1942 para o campo de Westerbork. Em 18 de janeiro de 1944 é transportado para Theresienstadt, de onde é enviado a Auschwitz, em 16 de maio de 1944. Após sobreviver as “marchas da morte” [Todesmärsche], emigra para Israel em 1958.
7BENJAMIN, Walter. Über den Begriff der Geschichte. In: BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, p. 696.
8VEJ, 2014, p. 310.
Augusto Bruno de Carvalho Dias Leite – Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Departamento de História.
Corrupção e poder Uma história, séculos XVI a XVIII – ROMEIRO (RH-USP)
ROMEIRO, Adriana. Corrupção e poder. Uma história, séculos XVI a XVIII. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 397p. Resenha de: SILVEIRA, Marco Antonio. Corromper repúblicas, espoliar conquistas. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Instigante e enriquecedor é o livro que Adriana Romeiro acaba de apresentar aos leitores sob o nome de Corrupção e poder. Uma história, séculos XVI a XVIII. O atual momento vivido pelo Brasil – em que a investigação de práticas corruptas articula-se ora a iniciativas bem recebidas por quem deseja aprofundar a democracia no país, ora a objetivos políticos nada nobres, que põem em evidência a instrumentalização antidemocrática dos poderes da República, inclusive do Judiciário – pode nos levar a crer que a autora aproveitou a oportunidade. Tal avaliação, contudo, mostra-se equivocada quando o referido trabalho é inserido no conjunto mais amplo que constitui suas reflexões, especialmente aquelas expressas em livros anteriores. Uma vez que Adriana Romeiro sempre se preocupou em entender a dinâmica da administração portuguesa tanto em ambiente de corte quanto no cotidiano turbulento da região que se transformaria na capitania de Minas Gerais, o estudo das práticas ilícitas das autoridades régias nas extensas áreas do império luso apresenta-se como um desdobramento esperado, tratado pela autora com o cuidado devido.
É possível que o título – que destaca termos chamativos para um público mais amplo, secundarizando a informação sobre seu recorte histórico – tenha resultado de sugestão editorial. Porém, ainda assim cumpre bem o papel de explicitar logo de início duas questões historiográficas relevantes. A primeira, infelizmente apenas referida pela autora em nota, diz respeito ao uso da palavra Brasil no lugar de América portuguesa, termo hoje mais amplamente aceito pela historiografia por supostamente escapar ao anacronismo. Em certa medida, esta última expressão ganhou crédito quando contraposta ao uso bastante corrente há algumas décadas de Brasil colônia, composição vocabular de potencial teleológico por sugerir que a colônia era o Brasil em formação. No entanto, América portuguesa não é ter mo desprovido de problemas teóricos e metodológicos. É curioso observar que seu prestígio consolidou-se justamente na ocasião em que os historia dores passaram a perguntar-se incessantemente se as áreas coloniais não eram versões específicas do Antigo Regime. Apesar das preocupações com o anacronismo, certo etnocentrismo permanece: seria adequado supor que os historiadores denominam a América portuguesa como tal porque, apesar dos avanços, ainda pouco conhecem da variedade e da complexidade das sociedades indígenas e africanas? Ademais, como lembra Romeiro, a expres são é pouco encontrada na documentação de época, na qual se encontram comumente os nomes Brasil e Brasis.
A segunda questão, tratada amplamente na primeira parte do livro – intitulada “A corrupção na história: conceitos e desafios metodológicos” – refere-se à adequação do uso do conceito de corrupção para o período que cobre os séculos XVI a XVIII. A resposta da autora é afirmativa, mas segue acompanhada da ressalva de que a palavra tinha um sentido diferente do atual. Em linhas gerais, podemos dizer que Adriana Romeiro, com base na análise da literatura teológico-política típica do Portugal da época – cujos elementos aparecem constantemente nos documentos oficiais – é bem-su cedida ao esclarecer uma diferença histórica crucial: enquanto no mundo contemporâneo a corrupção é identificada a práticas desviantes contrárias à distinção liberal entre o público e o privado, nas sociedades de Antigo Re gime, em que as relações pessoais atravessavam todas as estruturas sociais, inclusive as administrativas, o que se corrompia através de delitos e ações ilícitas era o corpo místico da res publica.
Alguns colegas de ofício talvez não se satisfaçam com a explicação fornecida, argumentando que sua força seria, na verdade, sua fraqueza. Ora, se nas sociedades modernas não havia distinção clara entre público e privado, a apropriação particular de bens e postos administrativos constituiria parte da própria natureza das relações sociais. Romeiro em nenhum momento descarta essa dimensão – o que não significa, porém, ceder ao argumento simplista de que a corrupção não podia ser concebida na época. Se era difícil distinguir o público do privado, isto ocorria justamente porque havia alguma noção dos limites que circunscreviam ambas as esferas. Para a autora, a tendência da historiografia atual de esvaziar o conceito de Estado, de sobrevalorizar a política de mercês e de compreender a dinâmica administrativa como imersa em redes dispersas, quando levada ao extremo, apaga o caráter fundamentalmente ambíguo, conflituoso e contraditório de fenômenos diversos.
Não é despropositado dizer que, hoje, alguns historiadores, em vez de se perguntarem sobre as contradições e especificidades do Estado moderno, preferem negar sua existência; em vez de questionarem como os agentes lidavam com as ambiguidades deixadas pelas doutrinas escolásticas, consideram mais adequado ignorá-las. Adriana Romeiro não adota essa saída, tão fácil quanto incoerente. Reconhecendo que atitudes ilícitas eram implicitamente aceitas quando adotadas por governadores e vice -reis – seu principal alvo de análise -, propõe-se também a mostrar que a Coroa soube rejeitar e punir excessos tidos como atentatórios em rela ção aos interesses régios. E se a utilização de regimentos, ordens régias, devassas, residências e outros instrumentos oficiais e mais padronizados nem sempre gerava resultados constrangedores, podendo ser instrumentalizados nos diversos níveis de poder – até mesmo pela própria Coroa -, a aplicação do ostracismo como forma de punir autoridades mais escandalosas produzia efeitos tangíveis. Uma investigação sem resultados com prometedores pouco valia se, de volta ao reino, o governador ou vice-rei recebesse a notícia de que não seria recebido pelo monarca no beija-mão. Residências recheadas de elogios, muitas vezes obtidas à custa da manipulação de quem testemunhava, nem sempre impediam que nobres se vis sem afastados do serviço régio e da possibilidade de obter graças e mercês.
Ao avançar por essas questões no segundo capítulo – “A tirania da distância e o governo das conquistas” -, a autora não perde de vista um proble ma de fundo, explicitamente formulado e abordado na parte anterior: as deficiências de análises que procuram explicar os impérios modernos segundo a ideia de negociação. Mencionemos, antes de tudo, que Adriana Romeiro recorre à ampla bibliografia concernente ao Império espanhol porque não encontra reflexão consolidada sobre a corrupção no período tratado entre historiadores luso-brasileiros. A explicação para tal defasagem parece-lhe achar-se, pelo menos em parte, na predominância de determinadas perspectivas analíticas, como mencionado acima. À medida que vai discutindo o tema em relação ao Império português, em que constata a ocorrência de práticas ilícitas generalizadas, ratifica o argumento de que o enfoque centra do na ideia de negociação afasta da abordagem historiográfica o problema da dominação política, e isto em prol de uma visão excessivamente con ensual. Mais ainda, um dos pontos altos do livro encontra-se na afirmação de que tal perspectiva privilegia em demasia as articulações e os acordos travados pelas elites nos diversos níveis de poder – entre o centro e as periferias, portanto -, secundarizando outros grupos sociais que constituíam tanto o universo ibérico quanto o colonial. Uma crítica desse tipo não pode passar despercebida para os que se acostumaram a ouvir que o viés outrora predominante na historiografia brasileira era “circulacionista”, desprezando, como tal, as estruturas produtivas e as formações sociais específicas às sociedades coloniais. O olhar arguto da autora, assim, nos faz pensar que talvez um novo “circulacionismo” tenha surgido: aquele que procura expli car a colonização recorrendo a redes de trocas, negociações e mercês que articulariam, embora de modo menos sistematizado, o centro e as periferias – redes entendidas agora como marcadamente pessoais e familiares. E, para falar com palavras antigas, eis que um suposto determinismo infraestrutural é substituído por outro, de caráter superestrutural.
Adriana Romeiro, porém, ao referir-se constantemente a periferias, não perde de vista o problema intrincado da exploração colonial. Outro aspecto decisivo do livro consiste no fato de recuperar a noção de spoils system, outrora proposta por Charles R. Boxer, e inseri-la num quadro em que a riqueza produzida pelo trabalho compulsório é duramente disputada por colonos e administradores. Observações irritadas e moralizadoras sobre esse ponto aparecem em personagens de épocas diferentes, como, nos séculos XVI e XVII, Diogo do Couto, autor do Soldado prático; o anônimo que escreveu Primor e honra da vida soldadesca; Francisco Rodrigues Silveira, de Reformação da milícia e governo do estado da Índia oriental; o jesuíta Manuel da Costa, de Arte de furtar; o famoso padre Antônio Vieira; e, já na segunda metade do XVIII, Tomás Antônio Gonzaga, com suas Cartas chilenas. Nas páginas em que Romeiro descreve as opiniões desses autores vão emergindo diversas tópicas, dentre as quais se destacam a da cobiça desenfreada, a da distância que facilita o roubo, a do governador-esponja que suga os pobres e os colonos, e a da temível decadência.
Esta última, comumente amparada em referências feitas a Roma antiga, alerta que os desvios, em última análise, corrompem a República e arruínam o Estado – e aqui o leitor sente falta de um olhar que, observando certas nuanças da literatura neoescolástica, diferencie ambos os termos, república e estado, atinentes, respectivamente, ao governo e à dominação, à prudência propriamente dita e à prudência política. A despeito disso, o esquadrinha mento das tópicas realizado por Romeiro diz muito sobre a colonização. Para ficarmos em apenas um exemplo, a recorrente menção ao tema da distância parece implicar um modo particular de conceber, durante a época moderna, as relações entre centro e periferias. Quando aparece associada à concepção cíclica do tempo – aquela que explica o vínculo entre corrupção e decadência – surgem as condições para que os historiadores vejam criticamente seus próprios modelos explicativos. O autor de Primor e honra explica: “República é corpo místico, e as suas colônias e conquistas membros dela; e assim se devem ajudar reservando e reparando suas fortunas e conveniências” (p. 170). Mas é da subversão dessa noção de império que falam todas as tópicas; do medo de que a cobiça sem controle, especialmente na distância das periferias, esgote as conquistas e extinga as formas pelas quais a decadência do Estado e do Império pode ser evitada.
Ao iniciar seu terceiro capítulo – “Ladrão, régulo e tirano: queixas contra governadores ultramarinos, entre os séculos XVI e XVIII” -, a autora vai estabelecendo firmemente a hipótese de que a exploração colonial não se dava apenas através dos circuitos mercantis oficiais, até porque o contrabando era estrutural e contava com a participação ativa de autoridades, produtores e negociantes de todas as partes do Atlântico, interna e externamente. A saraivada de casos descritos por Romeiro não somente indica como as tópicas literárias eram apropriadas nos embates travados nas várias partes do Brasil – a região colonial que, desde a segunda metade dos Seiscentos, havia desbancado a Índia como foco privilegiado de queixas -, como também aponta para o vínculo existente entre, de um lado, a captação lícita e ilícita de recursos coloniais efetuada pela nobreza governante e, de outro, os objetivos relacionados à constituição, ao desempenho ou ao engrandecimento de suas casas. A documentação trazida pela autora se refere a uma das facetas pelas quais a colonização se tornava constitutiva da sociedade portuguesa. De fato, aquilo que espelhos de príncipe classificavam como concupiscência dizia também respeito ao esforço de sobrevivência da nobreza num contexto em que a competição simbólica e a necessidade de consumir o luxo ampliaram irreversivelmente o endivida mento e a dependência frente às rendas régias. Fosse o grande preocupado com a queda dos rendimentos, fosse o filho secundogênito obcecado por criar sua própria casa – e disto trata a autora no quarto e último capítulo, “A fortuna de um governador das Minas Gerais: testamento e inventário de d. Lourenço de Almeida” -, parte expressiva dos administradores tratavam de espoliar as áreas coloniais governadas para evitarem o risco de tudo perder na Corte. Andavam, portanto, no fio da navalha, equilibrando-se entre a busca de recursos e a ameaça de punição e ostracismo.
Descrevendo cuidadosamente o caso de d. Lourenço, que governou as Minas Gerais entre 1720 e 1731, Adriana Romeiro deixa arraigada a sensação, já mencionada acima, de que as articulações políticas e o ataque à honra desempenhavam um papel geralmente mais importante do que os instrumentos formais de punição – já que, desde seu retorno a Lisboa, o ex-governador não encontrou consolo, nem acesso ao serviço régio e a mercês, assim permanecendo durante todo o período pombalino. Apesar de chegar a erigir um morgado valendo-se dos recursos amealhados e de estratégias endogâmicas de casamento, não conseguiu de fato constituir sua própria casa, sonho já totalmente dissipado na geração de sua neta. D. Lourenço de Almeida foi um exemplo claro, embora relativamente malsucedido, de governador que, metendo-se na luta renhida pela expropriação da riqueza colonial – na qual entravam também os agentes, poderes e costumes locais -, buscou acumular bens, saldar dívidas, fundar uma casa nobre e manter rendimentos que garantissem seu decente sustento. Enfim, foi, a seu modo, parte da dinâmica do que a historiografia – ou parte dela – denomina de sistema colonial.
Em nota, Romeiro não deixa escapar o desalento do famoso diploma ta d. Luís da Cunha em relação a esse tipo de consumo, que, segundo ele, empobrecia a nobreza portuguesa e causava o envio de grossas somas a Paris, “porque de lá emanam as modas” (p. 358). Observação interessante não propriamente por sugerir que parte da riqueza colonial ia parar em França, mas sim por destacar o papel crucial – utilizemos novamente palavras antigas – desempenhado por uma espécie de coerção extraeconômica: a moda. E também nesse ponto o livro de Romeiro faz pensar. Seria mesmo correto afirmar que a riqueza colonial era esterilizada por um consumo que, ao fim e ao cabo, alimentava estruturas comerciais e produtivas francesas?
Faria algum sentido estabelecer limites rígidos e deterministas entre fatores econômicos e extraeconômicos? Mas essa pergunta nos levaria a questionar aqueles que dizem saber onde começa e termina o capitalismo, embora não expliquem por que sociedades orgulhosas de serem tradicionais – ainda que de modo contraditório e conflituoso – devem ser chamadas de arcaicas. A consistência da obra de Adriana Romeiro encontra-se bem além de armadilhas desse tipo, que bem lembram as velhas, teleológicas e preconceituosas teorias da modernização.
Marco Antonio Silveira – Doutor pelo Programa de Pós-graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor associado do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto. Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Email: [email protected].
Volver del exilio: Historia comparada de las políticas de recepción en las posdictaduras de la Argentina y Uruguay (1983-1989) – LASTRA (RH-USP)
LASTRA, María Soledad. Volver del exilio. Historia comparada de las políticas de recepción en las posdictaduras de la Argentina y Uruguay (1983-1989). La Plata: Universidad de la Plata, Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, Posadas: Universidad Nacional de Misiones, 2016. Resenha de: BALBINO, Ana Carolina. Os retornos possíveis: história comparada das políticas de recepção ao exílio no pós-ditadura argentino e uruguaio. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Após a parceria com Silvina Jensen na organização de Exilios: militancia y represión,1 a socióloga, doutora em História e pesquisadora do Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) María Soledad Lastra lançou, em 2016, o livro Volver del exílio. Nesta obra, a autora centra o debate nas políticas de recepção aos exilados na Argentina e Uruguai no momento da redemocratização em ambos os países, buscando compreender os sentidos e representações do exílio nos projetos democráticos de Alfonsín (Argentina) e Sanguinetti (Uruguai), além das respostas dos Estados e associações civis a essas imagens, que geraram diferentes políticas de recepção aos exilados no pós-ditadura.
Na primeira parte do livro, debate-se a conjuntura de transição democrática argentina e uruguaia. Trabalhando com a ideia de que a Argentina teve uma redemocratização por colapso, ou seja, na qual os militares não tiveram atuação, e o Uruguai uma transição pactuada, decorrente de uma associação entre militares e sociedade civil, a autora se dedica inicialmente aos perfis dos exilados em ambos os países, dando especial atenção à presença das esquerdas no desterro e mostrando que não houve, em nenhum dos casos, uma opção por retorno em massa. Em seguida, é discutido como as sociedades refletiram o tema do exílio no momento dos retornos. Aqui, Soledad Lastra chama a atenção para as enormes diferenças entre o processo argentino e o uruguaio, já que no primeiro caso se deu uma ênfase maior à imagem do exilado-subversivo, mantendo-se o discurso ditatorial de que aqueles que haviam saído do país era antigos guerrilheiros derrotados pela “guerra suja”.
Já na segunda parte, a autora foca seu olhar nas organizações civis que buscaram colaborar para a reinserção dos exilados nas suas respectivas sociedades. Assim, o leitor é informado sobre o surgimento e as primeiras formas de atuação das principais organizações de direitos humanos voltadas para a temática do exílio na Argentina e no Uruguai. Posteriormente, a autora foca as relações existentes entre as organizações argentinas e uruguaias, já que as primeiras passaram pelo processo de redemocratização e consequente recepção do exílio dois anos antes daquelas instaladas no país vizinho. Aqui o leitor encontra um dos pontos inovadores da obra, que permite, além da familiarização com as trajetórias das principais associações de direitos humanos que se dedicaram ao exílio – como Osea (Oficina de Solidaridad con Exilio Argentino) e a Caref (Comisión Argentina para los Refugiados) na Argentina e a CRU (Comisión para el Reencuentro de Uruguayos), SER (Servicio Ecuménico de Reintegración), Sersoc (Servicio de Rehabilitación Social) e SES (Servicio Ecomunénico Solidario) do Uruguai -, também com as relações mantidas com partidos políticos, demais associações de direitos humanos e com as igrejas. Ainda se pode compreender como, apesar de alguns pontos de preocupação comuns, as políticas de atuação nos dois países foram distintas. Enquanto na Argentina a Osea e a Caref se preocuparam em colocar o exilado no lugar de vítima da repressão, e não de algoz, no Uruguai, a preocupação maior foi em não criar uma hierarquização da dor.
Ao final dessa segunda parte, o leitor se depara com os principais conflitos enfrentados por essas organizações no momento de preparar a recepção, como a temática do “privilégio”, debatida em ambos os países, mas com ênfases diferentes. Enquanto na Argentina a ideia de evitar privilégios aos exilados passava necessariamente por comprovar que não se auxiliavam os “subversivos-guerrilheiros”, seja com ajuda financeira, moradia ou reinserção empregatícia, no Uruguai a questão era conceder ajuda indistintamente a exilados, libertados após anos de prisão e desempregados afetados pela crise econômica grave que se instalara no país nos anos militares.
Na última parte do livro, a pesquisadora preocupa-se com a atuação do Estado em relação às políticas de recepção do exílio e os problemas legais decorrentes desta. Esse ponto foi muito mais presente na Argentina – cuja ideia de justiça passava por não arquivar as causas judiciais abertas pelos militares contra os assim considerados “subversivos” e culpabilizar também a esquerda pela repressão perpetrada. A Lei de Anistia, ditada no Uruguai logo após a subida do presidente Sanguinetti ao poder, permitiu aos uruguaios um retorno mais tranquilo à pátria.
Por fim, a autora trabalha com as comissões oficiais criadas pelos Estados para promover o retorno de exilados. A Comisión Nacional para el Retorno de los Argentinos en el Exterior (Cnrae), criada por Alfonsín em 1984, teve pouca atuação efetiva na reincorporação dos desterrados, já que a grande questão a ser enfrentada naquele país era o desaparecimento. Promovendo uma hierarquização do sofrimento e difundindo a imagem do exilado-subversivo, o governo alfonsinista não deu prioridade ao retorno daqueles que viviam no exterior. Por outro lado, a Comisión Nacional de Repatriación, criada no Uruguai junto com a Lei de Anistia em 1985, apesar de não dispor de grandes recursos financeiros, trabalhou intensamente para que todos os uruguaios – exilados políticos e econômicos – encontrassem as condições mais propícias para o seu retorno à nação democrática.
Atuando em um tema candente da América Latina, Soledad Lastra inclui-se em uma série de estudos que buscam lançar luz ao exílio argentino trabalhando-o na chave comparativa e na relação com o restante da América Latina, como nos textos de Pablo Yankelevich, Ráfagas del exilio: argentinos em México,2 e de Silvina Jensen, Agendas para una historia comparada de los exilios masivos del siglo xx. Los casos de España y Argentina.3 Em Volver del exilio, a autora levanta importantes questões para a compreensão das redemocratizações do subcontinente, mostrando a necessidade de inserir as políticas de recepção ao exílio na ampla conjuntura do debate dos direitos humanos no pós-ditadura e da atuação dos Estados recém-instalados na promoção da justiça e na pacificação. Dessa forma, destaca que sua preocupação não é criar uma ideia maniqueísta de boas ou más políticas, mas inseri-las no contexto de revisão da repressão existente em cada um dos países.
Para a pesquisadora, o enfoque na história comparada evitaria o uso das “excepcionalidades nacionais” na compreensão das políticas de reinserção do exilado e das próprias redemocratizações (p. 29). No entanto, ressaltamos que as explicações dadas para as brutais diferenças entre as políticas de recepção argentinas e uruguaias, mesmo que inseridas no contexto de redemocratizações da América Latina, se encontram exatamente no contexto nacional em que essas se deram. Assim, é impossível entender a maior dificuldade de reinserção do exilado argentino se deixarmos de lado a opção do governo Alfonsín por acusar também a esquerda pela instalação da repressão. Por outro lado, se podemos questionar a impunidade dos militares uruguaios, foi a Lei de Anistia proposta pelo governo Sanguinetti que permitiu às organizações de direitos humanos promover o reingresso maciço dos desterrados naquele país.
A comparação também não pareceu capaz de elucidar as diferenças em relação às imagens do exílio com as quais as organizações tiveram de lidar, que dependeram muito mais do contexto de redemocratização de cada um dos países. Se essa metodologia traz um ganho significativo para o trabalho ao permitir a compreensão das relações mantidas entre as associações argentinas e uruguaias entre os anos de 1984 e 1986, não aclara por completo as dificuldades maiores encontradas no caso argentino pela Osea e pela Caref para reinserirem o exilado.
Com esse livro, Soledad Lastra levanta novos questionamentos sobre as políticas de reinserção dos desterrados, mostrando como a atuação do Estado foi decisiva na imagem criada sobre o desterro e afetou diretamente a atuação dos organismos sociais que buscaram promover o retorno na América Latina. Além disso, o livro ajuda a compreender melhor como a política de direitos humanos instalada no Cone Sul é muito complexa, não podendo ser trabalhada somente a partir do julgamento ou não dos militares que chefiaram as ditaduras. Dessa forma, Volver del exilio amplia o debate sobre as redemocratizações, e questiona alguns paradigmas da ideia de justiça que se instalaram nos pós-ditaduras na América Latina.
Referências
JENSEN, Silvina. Agendas para una historia comparada de los exilios masivos del siglo xx. Los casos de España y Argentina. Pacarina del Sur. Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano, dossiê 1, out.-dez. 2011. Disponível em: Disponível em: http://www. pacarinadelsur.com/ediciones/numero-9 . Acesso em: 12/09/2017. [ Links ]
JENSEN, Silvina & LASTRA, María Soledad (ed.). Exilios: militancia y represión: nuevas fuentes y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta. Edulp: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 2014. [ Links ]
LASTRA, María Soledad. Volver del exilio. Historia comparada de las políticas de recepción en las posdictaduras de la Argentina y Uruguay (1983-1989). La Plata: Universidad de la Plata; Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento; Posadas: Universidad Nacional de Misiones, 2016, 301 p. Disponível em e-book em: Disponível em e-book em: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=libros&d=Jpm486 , acessado em 12/09/2017. [ Links ]
YANKELEVICH, Pablo. Ráfagas de un exilio: argentinos en México, 1974-1983. Cidade do México: Colegio De Mexico AC, 2009. [ Links ]
1JENSEN, Silvina & LASTRA, María Soledad (ed.). Exilios: militancia y represión: nuevas fuentes y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta. Universidad Nacional de La Plata: Edulp, 2014.
2YANKELEVICH, Pablo. Ráfagas de un exilio: argentinos en México, 1974-1983. Cidade do México: Colegio de Mexico AC, 2009.
3JENSEN, Silvina. Agendas para una historia comparada de los exilios masivos del siglo xx. Los casos de España y Argentina. Pacarina del Sur. Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano, dossiê 1, out.-dez. 2011. Disponível em http://www.pacarinadelsur.com/ediciones/numero-9. Acesso em: 12/09/2017.
Ana Carolina Balbino – Doutoranda na área de Política, Cultura e Cidade, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Autora da dissertação de mestrado O exílio em manchete: O retrato dos exilados na imprensa argentina durante a redemocratização (1982-1984), defendida em 2015 no Programa de pós-graduação da mesma instituição. E-mail: [email protected].
A bola rolou: o velódromo paulista e os espetáculos de futebol – GAMBETA (RH-USP)
GAMBETA, Wilson. A bola rolou: o velódromo paulista e os espetáculos de futebol. São Paulo: SESI-Editora, 2015. Resenha de: JEUKEN, Bruno. Esporte na Primeira República: a história do espetáculo. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Os estudos acadêmicos sobre o esporte no Brasil tardaram a começar, mas desde as duas últimas décadas já não é mais possível acompanhar a quantidade de trabalhos. Por vários motivos, como aconteceu também com outros temas, os recortes temporais se concentram na Era Vargas ou em períodos imediatamente posteriores. A Bola Rolou é uma importante contribuição a uma tendência recente de estudo do início da República brasileira, um trabalho que dá sua contribuição junto a outros bons artigos, revistas e livros que versam sobre o período, além, é claro, de se tratar de uma referência nos estudos sobre esporte.
Seja falando do Brasil ou da Europa, de educação ou de urbanismo, das alianças da elite ou da classe trabalhadora, da população negra ou dos imigrantes, do turfe, do ciclismo ou do futebol, o texto segue um fio condutor bem determinado e explicita de forma completa o processo histórico formador dos espetáculos esportivos na cidade de São Paulo, cujo palco principal foi, durante o recorte do livro, o Velódromo da Consolação. Tentarei dissecar o trabalho para expor as razões que fazem deste livro uma leitura obrigatória.
O primeiro e principal mérito do autor é explicar o futebol sem essencializá-lo. Não há nenhum argumento tautológico, autorreferente, que explique o futebol por meio dele mesmo. O que o historiador faz é descrever um processo de décadas, herdeiro de outros esportes de espetáculo. Gambeta passa ileso por inúmeras armadilhas e não comete o pecado do anacronismo. É comum encontrar análises (dentro e fora da academia) que encaram o gosto pelo futebol de forma anacrônica, como se o esporte tivesse criado, ele mesmo, suas sociabilidades e identidades, como se o espetáculo futebolístico e seu entorno tivessem nascido prontos. O objeto central do livro – O Velódromo Paulista e os espetáculos de futebol – aparece aqui como resultado de um processo relativamente longo e cuidadosamente descrito. Gambeta mostra que não há nada instrínseco ao esporte que o tenha feito ser o fenômeno social amplo e poderoso que é hoje; ao contrário, o autor nos apresenta as condições, as relações de causa e consequência, as permanências e rupturas, que fizeram do futebol o fenômeno social que é.
Para tanto, alguns conceitos utilizados pelo autor merecem destaque por sua importância: o espetáculo, a parentela, e o binômio futebol informal/futebol de espetáculos.
O espetáculo, conforme Debord1, é um conjunto de relações sociais mediadas pelas imagens. O poder do espetáculo está pulverizado pela vida social, com imagens produzidas para justificar, reafirmar, reforçar o poder da classe dirigente. No caso da capital paulista, como descrito por Gambeta, o espetáculo serve como mediação entre as famílias da elite paulistana e as classes subalternas, logo ampliadas pela chegada de imigrantes. Essa elite paulistana é descrita com o conceito de parentela, como definido pela professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, qual seja: grupos de famílias ligadas entre si, através das gerações, por relações de sangue, tradição, compadrio, religiosidade, honrarias, negociações políticas e negócios em comum. De forma certeira, esse conceito nos ajuda a pensar o grupo social que protagoniza a formação dos espetáculos: as famílias da elite paulistana.
Destaco também o binômio futebol informal/futebol de espetáculos. A divisão consagrada pelos jornalistas Thomaz Mazzoni e Mário Filho, futebol de várzea/futebol oficial, é muito utilizada dentro e fora da academia, apesar de ignorar uma variedade enorme de práticas e reforçar oposições que, por serem forçadas, distorcem as análises (casa e rua, pobre e rico, negro e branco). A divisão proposta por Wilson Gambeta é de extrema importância neste campo de estudo porque leva em conta a constituição da prática esportiva, não os agentes, o local ou alguma credencial. Os conceitos utilizados pelo autor operam uma diferenciação entre a prática esportiva como jogo atlético, forma de lazer, ocupação do chamado tempo livre, e a prática esportiva como espetáculo, organizada em campeonatos que reúnem os times de várias agremiações, exposta como espetáculo para grupos com os quais cria relações de identidade. Não há nesses conceitos nenhum reforço a qualquer oposição engessada Por tratar-se da constituição das práticas esportivas, o conceito consegue ao mesmo tempo ser mais preciso e mais maleável, por contraditório que pareça.
É oportuno propor uma divisão de três momentos concatenados neste livro: o início dos espetáculos esportivos no final do século XIX; os espetáculos de futebol na primeira década do século XX; e o momento de crise e ruptura no futebol de espetáculos, no qual a elite gradualmente sai de cena para praticar outros esportes enquanto o futebol (de espetáculos) começa um longo caminho até a profissionalização.
O início do livro, aparentemente desconectado dos esportes, nos mostra a relação da elite paulistana com a Europa, lugar onde esses agentes tinham contato com uma vida em transformação, no processo que foi chamado de modernização: o crescimento das cidades, o mundo industrial, os espetáculos… Uma vez de volta, essas famílias paulistanas se reuniam para emular aquilo que entendiam como uma referência ideal de vida urbana. Desse processo vem o turfe, o ciclismo e o futebol.
No início, era o turfe. Segundo o autor, havia corridas em São Paulo desde 1860, mas foi apenas em 1875 que Antonio Prado, Martinico Prado, Eleuterio Silva Prado, Elias Pacheco Chaves e Elias Fausto Pacheco Jordão uniram-se a Paes de Barros para fundar o Club Paulistano de Corridas. Pelos sobrenomes dos agentes fica clara a ação direta das parentelas na constituição dos espetáculos esportivos. Um tipo de empreendimento em grupo já antigo – se lembrarmos dos negócios dessas famílias – e que ainda se repetiria por décadas – se pensarmos no Velódromo e nas Ligas de futebol.
A organização desse clube marca, como explica o autor, a transição entre disputas esporádicas e um esporte moderno integrado ao lazer urbano. O importante aqui é notar que nas corridas de cavalo, além do prazer individual, os criadores ofereciam diversão para espectadores pagantes. Como um bom trabalho de história, o texto extrapola o esporte e evidencia um retrato do último quarto do século XIX em São Paulo, o que nos faz refletir mesmo a respeito do tempo presente, como quando diz que as desigualdades eram reproduzidas entre assistentes (populares das arquibancadas e gerais) e os sportsmen e seus familiares (das tribunas reservadas), um espaço social controlado (p. 47).
O turfe paulistano, bastante instável, viveu momentos de apogeu e crise de acordo com o desempenho econômico da exportação de café. Segundo Wilson Gambeta, em determinado momento, além das crises recorrentes, as corridas se misturaram a jogos populares e ao dinheiro das apostas, cuja emoção se sobrepôs à excitação com os galopes e “empanou os espetáculos” que, antes, eram preparados para o brilho dos sportsmen da elite paulistana. (p. 63)
O historiador narra um processo histórico contínuo e explica os momentos de apogeu e crise dos esportes. Com a queda de popularidade do turfe, o ciclismo ganha espaço mas, no limite, eles são parte do mesmo processo. Temos então que a decadência do turfe foi simultânea à difusão de um outro modismo, dessa vez entre os rapazes da geração mais nova: o ciclismo.
Acerca deste momento, o autor extrapola o esporte e trata da “redefinição dos usos considerados aceitáveis para as ruas” (p. 85). Contemporâneo ao desenvolvimento do ciclismo, desenvolve-se uma forma moderna de se relacionar, criam-se espaços de convivência externa, as camadas subalternas começam a circular entre os membros das parentelas em determinados espaços – claro, desde que seguissem um certo padrão de comportamento, de trajes, conseguissem pagar o valor dos ingressos e ocupassem seus lugares bem determinados. Esse elemento não é trivial. O historiador mostra com clareza que essa convivência entre classes não foi inventada pelos espetáculos de futebol, como alguns podem concluir apressadamente, mas é algo anterior e que aparece como uma das causas, não como consequência, da sociabilidade nos estádios. O afrouxamento dos laços de sangue e a adaptação a novas formas de sociabilidade são um fenômeno observado pelo autor que é externo aos esportes mas a eles se relaciona diretamente.
Partícipe de uma nova sociabilidade, a nova moda da elite também foi acompanhada por uma plateia atenta, como no turfe antes dela. Com a popularização das corridas de bicicleta, o Velódromo foi inaugurado em 1895 pelos Silva Prado. Foram erguidas arquibancadas para mil pessoas, e era costume que a maior parte ficasse de pé, como acontecia no turfe. Continuando as comparações, notamos que o turfe e o ciclismo guardavam semelhanças, mas que as diferenças são mais importantes para o entedimento do processo histórico que se desenrola: o turfe remetia à vida no campo, aos criadores de animais; o ciclismo aparecia como símbolo da tecnologia industrial, da vida no meio urbano; no turfe, o protagonista era o animal e o cavaleiro era contratado para representar o criador de cavalos que se sentava confortavelmente na tribuna; no ciclismo, o protagonista era aquele que pedalava, o veloceman, considerado então como um atleta.
Era uma novidade que membros da elite realizassem um esforço físico que, no limite, servia como divertimento das classes subalternas. Nas palavras de Gambeta:
Eles, que na infância assistiram de perto aos rigores da escravidão nas fazendas de suas famílias, que vinham da velha cultura senhorial onde o trabalho era desvalorizado e se evitara fazer tarefas mecânicas em público, agora davam demonstrações de máximo esforço físico diante de plateias. (p. 101)
O que me parece, mas não foi apontado por Wilson, é que essa nova geração das parentelas estava mais preocupada com as rivalidades entre si do que com o espetáculo para o público; uma versão individual das rivalidades dramatizadas pelos clubes nos campeonatos de futebol, que dramatizariam, depois, rivalidades entre grupos diferentes da elite (italianos, ingleses, paulistanos, alemães). Se havia as rivalidades horizontais, verticalmente ainda havia, como no turfe, a necessidade de se dinstinguir. Os rapazes costumavam doar a arrecadação das bilheterias do clube de ciclismo, algo que “até fazia parte do ar esnobe”. (p. 101)
Sobre a decadência do ciclismo, Gambeta aponta algo semelhante ao que é descrito no caso do turfe. O ciclismo foi dominado, aos poucos, por corredores profissionais, com origens subalternas, especialmente imigrantes com algum capital. O esporte deixou, portanto, de servir como forma de distinção, e por isso foi abandonado pelos rapazes ricos. No turfe, quando as apostas da população trabalhadora se sobrepuseram às dos criadores de animais, houve também um progressivo abandono da prática. A essa altura é importante ressaltar: os esportes de espetáculo são apenas uma das tantas práticas que a elite paulistana importou. O contato com a vida europeia era um privilégio e, portanto, essas atividades eram essencialmente uma forma de distinção. Pensando nisso, conseguimos entender melhor porque o turfe, e depois o ciclismo, foram progressivamente abandonados após uma certa popularização.
Temos, a essa altura, três fatores centrais: o turfe inaugurou um hábito de plateia, que continuou no ciclismo. Este último, além de construir a imagem do atleta, permitiu que os filhos da elite se distinguissem ainda que realizando esforço físico para divertimento das classes subalternas.
O historiador mantém seu fio condutor e, enquanto narra as crises do ciclismo, explica o crescimento do futebol. Para tanto, novamente são utilizados elementos externos ao esporte, numa narrativa própria da história social. O momento era de adesão apressada a novos hábitos, as novidades eram incorporadas ao cotidiano com frequência. Gambeta cita “o relógio de pulso, a máquina de escrever, o telefone, a bicicleta, o patim, o elevador (…)” (p. 170) e, mais importante, a bola e os jogos atléticos. Com a decadência do turfe, conhecemos o crescimento e o aurge do ciclismo. Quando a elite abandona este último, chegamos, enfim, ao futebol.
Wilson Gambeta não é o primeiro autor a desconstruir o mito de fundação que coloca Charles Miller como pai fundador do futebol no Brasil (um discurso cuidadosamente construído pelas elites), mas, ao operar o conceito de parentela e tratar desse processo de modernização da vida urbana, o historiador nos mostra com mais clareza o desenrolar desta história. O esporte foi incluído aos poucos no Velódromo, aproveitando o espaço central, praticado em meio a espetáculos de variedades e apresentações de maravilhas da ciência e tecnologia – o que reforça a ideia de um período voltado às novidades e inovações. Nesse afã de contraposição a uma tradição rural, o futebol foi mais uma novidade entre tantas, e logo seria a mais nova forma de dinstição social dos filhos homens das famílias ricas.
Indo na contramação de explicações anacrônicas que colocam o futebol como intrinsecamente interessante, espetáculo único e imbatível, Gambeta explica que o futebol parecia frustrante para a cultura esportiva da época, familiarizada com “disputas segmentadas, com o ritmo veloz e duração curta dos páreos”, típicas do ciclismo e das corridas de cavalo, nas quais o “êxtase acontecia nas chegadas sequenciais, com resultados imediatos, sem empates”, expectativas e tensões aguçadas pelas apostas. (p. 125)
O autor historiciza o esporte, narra o crescimento do futebol como fruto de relação sociais e processos históricos. Experiências “que circulam de um esporte para outro”, do turfe ao ciclismo, do ciclismo ao futebol. Nas palavras de Gambeta:
Uma atividade cultural importada só se incorpora quando a sociedade receptora decodifica os valores nela contidos e atribui sentido social à sua simbologia, ainda que através de ressignificações (…). As plateias se empolgam quando estabelecem identidades com os contendores e desenvolvem sensibilidades para os momentos de tensão vividos na disputa. São experiências emotivas que circulam de um esporte para outro e ganham novos significados entre as gerações. (pp. 127-128)
No turfe não havia uma constituição de relações de solidariedade permanentes entre expectadores e participantes, uma vez que os páreos mudavam frequentemente. No ciclismo, a identificação se dava individualmente com cada corredor, não com o veloclube. O “sentimento egoísta das apostas singularizava as paixões nesses esportes” (p. 136), mas isso não me parece tão relevante quanto a descontinuidade, impeditiva a uma construção identitária. Há apostas no futebol, o mesmo acontece no rugby (na Inglaterra, França e Argentina, por exemplo), mas ainda assim as identidades são construídas. Portanto, discordo do autor quanto ao impacto das apostas nesse processo. De toda forma, porém, a explicação construída no livro não depende deste elemento.
Segundo o historiador, a “transição das competições individuais em velocidade para os embates coletivos entre equipes colaborou para desencadear a devoção aos clubes” (p. 136). Surgem e crescem os “partidos”, chamados mais tarde de torcidas. Construíam-se rivalidades competitivas que teatralizavam a vida urbana em confrontos entre equipes. Sucediam-se campeonatos anuais, encontros repetidos até o cobiçado desfecho. “Os campeonatos por pontos corridos (…) equivaliam às tramas dos romances folhetins”. (p. 179)
A comparação não é trivial. Trata-se de uma leitura precisa que nos mostra características do esporte e de suas formas de organização não como razões intrínsecas à sua difusão, mas sim como elementos da história social do período – neste caso, a cultura dos folhetins – que, sendo equivalentes a certos elementos do esporte, facilitaram e ampliaram a boa recepção do futebol. A partir daí, observamos dois processos distintos e relacionados: a descentralização da prática do futebol pelo futebol informal e a constituição do futebol de espetáculos por meio de clubes, ligas e federações.
No jogo informal da elite, muitas vezes participavam pobres, os filhos dos criados, e mulheres. Já no jogo do “team de verdade”, não, já que “(…) nos espetáculos o breve congraçamento entre classes servia para distinguir os atores principais, os que usavam o símbolo do clube” (p. 220). Essa distinção servia para reafirmar, ao mesmo tempo, o passado e a modernidade, a tradição e o dinamismo, no que Wilson Gambeta chama de “identidade de dupla face” (p. 170). No que diz respeito ao futebol de espetáculos, duas relações sociais podem ser observadas a essa altura: a relação vertical que distanciava os protagonistas em campo dos assistentes comuns e a rivalidade horizontal, entre clubes.
Se o espetáculo – conforme Debord – é uma relação social mediada por imagens, e se há o futebol de espetáculos como imagem – conforme Gambeta – o palco principal dessa mediação era o Velódromo da Consolação, onde o grupo dominante – a elite paulistana – comunicava seu domínio, e o destinatário dessa informação – a classe trabalhadora – aparecia como assistente deste espetáculo, como torcida. Assim se dava a relação vertical. Ainda que jogasse, informalmente, o mesmo jogo, a classe trabalhadora não participava do espetáculo, pelo menos não atleticamente. Essa cultura esportiva na qual o futebol se desenvolveu tinha formas e significados diferentes para classes diferentes, uma diferenciação pincelada pelo autor, mas que acrescentaria muito à análise caso fosse aprofundada. Explico: para as parentelas, o esporte, além de uma forma de distinção, era parte do que Gambeta chama de cultura dos prazeres. Os herdeiros da elite jogavam futebol como sportsmen, entendiam-se modernos e distintos ao emular práticas observadas na Europa. Os trabalhadores – os subalternos, os ex-escravizados, os imigrantes pobres -, por outro lado, praticavam esportes naquilo que Adorno chama de tempo livre2, aquele tempo que não é dedicado ao trabalho mas que existe em função dele, algo como uma recarga de energia (física e mental) essencial para a boa performance no tempo de serviço.
Situação diferente é observada quando isolamos apenas os privilegiados. Nesse caso, a análise identifica as rivalidades horizontais a que já me referi, cujos protagonistas, no recorte temporal de Gambeta, eram: o Clube Atlético Paulistano, formado por jovens de famílias cafeicultoras ligadas entre si e aos Silva Prado por laços de parentesco, negócios e política; o SPAC, fundado pelos filhos dos ingleses que chegavam ao Brasil por empresas como a Light e a São Paulo Railway Company; a A.A. Mackenzie College, organizada pelos estadunidenses da instituição presbiteriana; o Sport Club Germania, fundado pela colônia alemã; e, em meio ao teatro das nacionalidades, havia ainda o Sport Club Internacional, que se pretendia aberto a todas origens (de nacionalidade, não de classe).
O clube aparece como entidade de livre associação, uma extensão da parentela. Por isso, entendo que as rivalidades criadas neste esporte eram também rivalidades familiares. Uma disputa dramatizada que passava de team para team dentro da mesma agremiação, do mesmo clube. O perdedor de um ano ficava ansioso pelo campeonato seguinte, quando poderia reverter o resultado, ou, caso saísse vitorioso, voltaria para defender sua supremacia no próximo ano. Essa dinâmica demoraria algum tempo para ser ressignificada, com a entrada de outros agentes e outras identidades nessa teatralização da vida urbana.
Reforçando essa ideia de teatro das rivalidades familiares, os espetáculos da Liga Paulista de Football (LPF) eram uma oportunidade para a oligarquia paulista recuperar as atenções que vinha perdendo para as associações atléticas de imigrantes. Os craques da bola, filhos da elite, eram apresentados como a nova geração de líderes. Não por acaso, como aponta o autor, nesse momento a imagem esportiva das insituições de ensino era fator determinante na escolha da escola dos filhos.
Esse teatro que dramatizava as tensões sociais dentro de São Paulo teve desdobramentos mais amplos. O texto alcança a nacionalização do futebol e as relações diplomáticas (p. 282). Incorporado aos poucos à diplomacia, o esporte sinalizava uma relação cordial e amistosa, propunha relacionamentos pacíficos e representava uma posição de igualdade. Logo, São Paulo começa a receber visitas de times estrangeiros (p. 286), que geralmente davam verdadeiras aulas de futebol aos times paulistanos.
A rivalidade com os cariocas – um par antitético, segundo o autor – causava cada vez mais atritos e instabilidade política. O futebol passava por um período de desorganização e conflitos em São Paulo – falamos aqui da virada dos anos 10 do século XX. Esse momento de crise institucional se refletia nos espetáculos, já que somente os confrontos contra estrangeiros e cariocas mobilizavam grandes plateias. São momentos de encontro do campo político com o campo esportivo, já bem consolidado a essa altura.
A elite paulistana se incomodava com a suposta violência do esporte, trazida – na visão elitista – pela entrada das classes subalternas. Não houve, nessa visão elitista, a diversão moralizadora que fora idealizada. Os membros das parentelas, portanto, bradavam pela restauração da ordem, enquanto o futebol rebelde escapava da pedagogia social dos conservadores (p. 306). O processo, como descrito no livro, parecia ser irreversível. Quanto maior a difusão do futebol por todas as camadas sociais, menor a importância dele como meio de distinção da elite, que, por essa razão, distribuía-se em outros esportes: o remo, o tênis, o automobilismo, o hipismo e a aviação esportiva.
Depois de termos passado pela constituição dos espetáculos esportivos e pelos espetáculos de futebol, chegamos ao terceiro momento: a transformação do campo esportivo, o início de mais um longo processo, que escapa ao recorte deste livro e alcança a década de 1930. O futebol com novas regras, jogadores convidados, remunerações, a ascensão de novos clubes. A pedadogia social pretendida pela elite falhou, as parentelas controlavam cada vez menos a política e, portanto, a função social dos espetáculos futebolísticos. A distinção social neste esporte já era algo do passado. Há, como forma de resistência, uma cisão institucional com a criação da “liga conservadora” (p. 345), uma reação contra o profissionalismo que acaba sendo apenas mais um insucesso.
Como símbolo dessa fase decadente, que encerra o estudo de Gambeta e abre a porta para tantos outros, temos o despejo do Clube Altético Paulistano, retirado do Velódromo para que o terreno fosse loteado. Os clubes que protagonizaram esse livro começam, então, a se reorganizar, voltando suas forças para outras atividades, outros jogos, e aos poucos saindo do cenário do futebol, que a essa altura já começa a se nacionalizar e a trilhar o difícil caminho da profissionalização (p. 395). Com maior duração e maior influência se comparado ao turfe e ao ciclismo, o futebol finalmente tem o mesmo destino (para a elite) dos esportes anteriores. Deixa de ser uma forma de distinção e, na sua forma de espetáculo, deixa de comunicar e reforçar uma dominação social.
Em A Bola Rolou, conhecemos a história do turfe, do ciclismo e do futebol, o processo de modernização da vida urbana no qual os esportes têm papel central. Entendemos melhor a mediação entre a vida privada e a vida político-partidária exercida pelos clubes esportivos de elite, assim como a ação política das ligas e federações do início do século XX. Com a história do Velódromo, passamos a entender melhor o processo pelo qual o estádio se torna uma arena de espetáculos e espaço de uma nova sociabilidade. Ainda, temos contato com uma análise do futebol de espetáculos como comunicador de valores morais, uma pedagogia social de cunho conservador comandada pelas parentelas paulistanas. A narrativa é completa no que se propôs a fazer mas, como toda grande obra, abre diversos caminhos de pesquisa. Wilson Gambeta nos revela temporalidades de três gerações, uma janela no espaço-tempo que, de forma deliciosa e rica, nos mostra as diversas faces de São Paulo na virada do século XIX para o XX, tornando mais completo o nosso conhecimento a respeito deste período que ainda merece mais estudos.
Referências
ADORNO, Theodor. Tempo livre. In: ______. Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. [ Links ]
DEBORD, Guy. The Society of the Spectacle. New York: Zone Books, 1995. [ Links ]
GAMBETA, Wilson. A bola rolou: o velódromo paulista e os espetáculos de futebol. São Paulo: SESI-Editora, 2015. [ Links ]
1 DEBORD, Guy. The Society of the Spectacle. New York: Zone Books, 1995.
2 ADORNO, Theodor. Tempo livre. In: Idem. Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
Recebido: 27 de Setembro de 2016; Aceito: 25 de Novembro de 2016
Bruno Jeuken – Bacharel em História pelo Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mestrando em História Social pela mesma instituição. Pesquisador do NAP-LUDENS – FFLCH/USP. E-mail: [email protected].
Medicina e saúde pública na América Latina | Marcos Cueto e Steven Palmer
Marcos Cueto | Foto: José Jesus Oscar

Jacques Le Goff
A necessidade de se pautarem estudos do campo da saúde numa perspectiva histórica originou, nas últimas décadas, novos horizontes analíticos para as condições de emergência de saberes voltados à explicação do social na determinação de processos patológicos, bem como de práticas médicas e de saúde. Nesse quadro, a história estaria apta a compreender contextual e temporalmente as políticas de saúde e suas práticas confrontando novos temas, metodologias, problemas e alternativas que requalifiquem suas interpretações. Partindo, então, dessa necessidade da documentação mais ampla possível de vários tipos e origens (documentos institucionais, didático-pedagógicos ou iconográficos, registros de viajantes, religiosos, naturalistas e cronistas etc.) -, essa concepção de história da medicina e da saúde implicou a ampliação de métodos e quadros de análise, repercutindo os saberes e as práticas no campo da medicina e da saúde pública, assim como seus espaços institucionais de ensino, pesquisa e trabalho. Com a mesma força, ampliou as práticas e representações do homem comum e os espaços de associações profissionais, sociedades científicas e periódicos, sem perder de vista o universo popular, suas formas de organização e sua leitura do mundo que o cerca. Leia Mais
A invenção da paz – REZA (RH-USP)
REZA, Germán A. de la. A invenção da paz: da República cristã do duque de Sully à Federação das Nações de Simón Bolívar. Tradução de Jorge Adelqui Cáceres Fernández e André Figueiredo Rodrigues., São Paulo: Humanitas, 2015. 178p. Resenha de: PEREIRA JÚNIOR, Paulo Alves. Dos projetos integracionistas europeus ao Congresso Anfictiônico do Panamá. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Ganhadora do prêmio Pensamiento de América (2008-2010), La invención de la paz foi publicada em 2009 pela editora mexicana Siglo XIX. Escrita por Germán A. de la Reza, doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Paris I e em Filosofia e História pela Universidade Toulose Le Mirail, a obra ganhou edições em diferentes idiomas. Em 2015, foi lançada pela editora brasileira Humanitas, traduzida por André Figueiredo Rodrigues – professor do curso de História da Universidade Estadual Paulista – e Jorge Adelqui Cáceres Fernández.
Fracionado em onze capítulos, o livro tem como escopo a análise das relações intelectuais e das circulações de ideais relacionadas aos projetos confederativos na Europa e na América Latina. Para isso, avança em duas direções que se entrecruzam: a identificação dos elementos que permeiam as propostas de República cristã e as origens do empreendimento unionista idealizado por Simón Bolívar. A partir de tais objetivos, o estudo estabelece uma linha que conecta o ideário anfictiônico greco-romano ao europeu e, posteriormente, ao latino-americano.
Procurando entender as convicções confederativas, Germán A. de la Reza analisa o projeto de transmissão-recepção – diferenciando o contexto histórico de cada um – de cinco pensadores: Felipe II da Macedônia, Maximilien de Béthune (duque de Sully), Charles-Irénée Castel (abade de Saint Pierre), Jean- Jacques Rousseau e Simón Bolívar. Apesar de privilegiar tais autores, Germán também destaca certas ideias de Émeric Crucé, Hugo Grocio, Emmanuel Kant, Claude-Henri de Rouvroy (conde de Saint-Simon), Cecílio del Valle, Silvestre Pinheiro Ferreira e Lucas Alamán.
Entre os séculos VI a. C. e II d. C., a civilização grega realizou as primeiras ligas de povos, com o propósito de normatizar as relações existentes entre as tribos das nações unificadas. Os delegados eram eleitos pelo voto popular e tais federações possuíam funções políticas e/ou religiosas, dependendo de cada comunidade. Inspirado por esse modelo, o rei Felipe II da Macedônia organizou, no ano de 388 a. C., a Liga Helênica, com sede em Corinto. Existindo até 280 a. C., tal federação tinha como objetivo a discussão sobre assuntos relacionados à paz geral, à união pan-helênica e à manutenção da unidade interna. Cada representante era eleito pela entidade e os delegados podiam tomar decisões vinculantes. A longevidade e as estruturas organizacionais das tentativas de unificação da Grécia influenciaram o pensamento político e jurídico da Europa e da América Latina em distintos momentos históricos.
No atual território francês, entre 1639 e 1640, foram publicadas – no Castelo Loire – as primeiras edições de Memórias das sábias e reais economias do estado, domésticas, políticas e militares de Henrique, o Grande. Escrita pelo conde de Sully, essa amálgama de história nacional com crônica palaciana propunha a criação de uma estrutura comum de República cristã formada por todos os senhorios, Estados e reinos cristãos da Europa. Sully também recomendava a elaboração de uma arbitrariedade internacional que garantisse a paz entre os membros associados, administrada por um congresso de delegados renovado a cada três anos. Apesar de ser um esquema que pretendia resolver os problemas envolvendo as nações europeias a curto, médio e longo prazo, a obra de Sully contribuiu para a criação de uma corrente do pensamento jurídico e político que inspirou os projetos anfictiônicos vindouros.
Em Paris, entre 1712 e 1717, foram publicados os três volumes do Projeto para fazer a paz perpétua na Europa, escritos pelo abade de Saint Pierre. Discutiu-se, nesse projeto, a criação de uma comunidade perpétua entre as nações europeias que debatesse a elaboração de um sistema de paz inalterável, o amparo do status quo territorial, a abdicação do acúmulo de poder e a criação de um “Senado da Europa”, composto por delegados do continente. Tal projeto foi o mais popular da corrente anfictiônica e influenciou outros pensadores na Europa e na América.
Devido ao sucesso editorial da obra de Saint Pierre, Jean-Jacques Rousseau elaborou um trabalho que consistia na simbiose entre os pensamentos do abade e seus comentários sobre tais teses. Lançado em 1761 com o título Extrato do projeto de paz perpétua do senhor abade de Saint Pierre, Rousseau idealizou a confederação dos povos como uma assembleia formada por representantes preocupados com o “sentimento comum”. Além disso, discorreu sobre as vantagens na criação de um tribunal supranacional, como a certeza de que os litígios seriam resolvidos sem a necessidade de conflitos bélicos, a redução ou o fim das despesas militares, o progresso da agricultura, o bem-estar da população e o aumento das riquezas dos governantes. Ao resumir e comentar as ideias de Saint Pierre, Rousseau promoveu ambas as obras e fez com que fossem relevantes para a filosofia política no período de transição do século XVIII para a centúria seguinte.
Inspirado nas ideias de Saint Pierre – difundidas por Rousseau -, Simón Bolívar convocou, em 1824, a Grande Colômbia, a Federação Centro-Americana, o México, o Peru, os Estados Unidos, a Bolívia, a Inglaterra e os Países Baixos para participarem do Congresso Anfictiônico do Panamá. De 22 de junho a 15 de julho de 1826, os representantes dos países que lograram chegar a tempo discutiram assuntos referentes à publicação de um documento que denunciasse as atitudes da Espanha, a assinatura de um tratado de livre comércio e de navegação e o processo de abolição da escravidão no território confederado.
Após o término do evento, uma parte do congresso transladou-se ao México para prosseguir com as negociações, enquanto a outra partiu para suas respectivas nações com o propósito de ratificar os tratados. Com exceção da Grande Colômbia, nenhum outro Estado aprovou tais medidas. Dessa forma, o primeiro ensaio de integração entre as nações latino-americanas malogrou. A experiência dessa tentativa e os ideais bolivarianos dispersados na região possibilitaram a realização de três congressos entre 1847 e 1865. Após o fracasso de tais iniciativas, o ideário unionista encerrou-se no continente e os países latino-americanos concentraram-se em promover questões relacionadas à arbitragem internacional.
Com a finalidade de discutir sobre o estabelecimento dos limites fronteiriços entre as nações e os direitos da navegação, por exemplo, foi criada a Primeira Conferência Internacional de Washington em 1889. Assim como suas antecessoras, nenhum Estado aprovou os pontos deliberados no evento. A primeira organização confederativa que pretendia estabelecer as relações entre os países para garantir uma convivência pacífica e um tribunal de arbitragem que obteve êxito foi a Primeira Conferência Internacional de Haia, realizada na Holanda em 1889 e composta por representantes de vinte e quatro países.
Posteriormente, houve uma outra conferência em 1907. O terceiro evento, que ocorreria em 1915, foi cancelado por conta da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). A criação da Sociedade das Nações (1919), das Nações Unidas (1945), do Tratado de Roma (1958) e dos acordos integracionistas latino-americanos, a partir da década de 1960, pautou-se na experiência dos tratados pan-europeus e do pensamento unionista bolivariano.
Os diferentes projetos anfictiônicos tiveram como princípios a elaboração de uma assembleia de representantes, o respeito à independência dos Estados participantes, o desenlace dos litígios internacionais por meio da arbitragem, a renúncia aos processos de conquista, a manutenção dos espaços territoriais e a aceitação do preceito de não intervenção nos assuntos internos de cada membro. Apesar das similaridades dessas iniciativas, elas não foram idênticas. A relação entre o global e o regional é uma dessas variações. Grande parte dos pensadores aspirou a uma integração continental, já Crucé, Kant e Bolívar ressaltaram a necessidade de combinar os projetos regionais com as propostas mundiais.
O autor finda seu estudo com três conclusões gerais: a) os projetos anfictiônicos não devem ser vistos como utópicos, tampouco como projeções pacíficas; b) a proposta confederativa de Bolívar, no contexto do Congresso de Panamá de 1826, foi original frente às discussões filosófico-políticas do período; c) o ideário anfictiônico contribuiu para os processos integracionistas europeus e latino-americanos.
Germán A. de la Reza apresenta uma pesquisa original que contou com diversas fontes e uma vasta bibliografia em inglês, espanhol, latim e francês. Tais materiais foram encontrados em fundos reservados e patrimoniais das seguintes bibliotecas: Nacional da França, Nacional do México, José Ma. Lafragua da Secretaria de Relações Exteriores do México e do Congresso dos Estados Unidos. Para compreender as ideias políticas sobre os projetos confederativos na Europa e na América Latina, o autor utilizou-se do método analítico-sintético. A técnica analítica corresponde à heurística e a de síntese associa-se à hermenêutica. O primeiro método consiste em produzir uma problemática e selecionar documentos para solucioná-la. Já o segundo tem como finalidade evidenciar o sentido de um texto a fim de buscar as intenções de quem o produziu para responder as questões elaboradas.
O livro destina-se ao público interessado nas origens dos processos integracionistas na Europa e na América Latina, na proveniência filosófico-política do projeto unionista de Bolívar e na genealogia das discussões intelectuais referentes à pacificação entre Estados, à soberania nacional e à integração internacional. Apesar dos méritos, o trabalho carece de uma discussão mais aprofundada sobre os projetos anfictiônicos. Ademais, o autor deveria privilegiar em suas análises os aspectos culturais nas propostas integracionistas europeias e latino-americanas. Tais hiatos podem ser sanados em estudos mais amplos sobre o tema em questão.
Paulo Alves Pereira Júnior – Mestrando em História pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), campus de Assis. E-mail: [email protected].
Mutirão em Novo Sol – XAVIER; BOAL (RH-USP)
XAVIER, Nelson; BOAL, Augusto. Mutirão em Novo Sol. São Paulo: Expressão Popular, 2015. Resenha de: BATISTA, Natália. Multirão da História: Teatro, memória e apropriações no presente. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
A disciplina histórica tem observado o campo teatral com relativo distanciamento. Nos últimos anos as pesquisas têm aumentado gradativamente, mas ainda é possível perceber um olhar desconfiado para a temática. Entre as motivações para esta opção, constata-se a dificuldade de apreender a efemeridade do ato teatral, a carência de acervos e a necessidade de construir uma metodologia que contemple este novo objeto da história, mas velho na experiência humana. Entende-se que as problemáticas supracitadas não deveriam ser impeditivas para a análise do ato teatral em perspectiva histórica. Deveriam servir antes como estímulo para a construção de novos olhares para a produção teatral.
A noção do “aqui e agora” do espetáculo, bem como a sua incapacidade de reprodução, poderiam justificar o afastamento dos historiadores dessa abordagem. No entanto é importante questionar: quais objetos da história podem ser reproduzíveis? A inserção de qualquer tema histórico no presente se dá a partir do trabalho do pesquisador que escolhe o tema, delimita o objeto, seleciona fontes e constrói uma metodologia útil para a sua pesquisa. Evidentemente, o estudo do teatro possui peculiaridades, mas sua matéria humana é a mesma de qualquer processo histórico. Ao pesquisar o teatro é preciso agir como o ogro da lenda descrito por Marc Bloch: “Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça”1, mesmo quando o odor humano lhe parece distante.
O ato teatral enquanto encenação se esvai no momento dos aplausos finais. No entanto, de acordo com Batista, o teatro “continua existindo na memória coletiva dos que o fizeram, o assistiram e da sociedade que o cercava. Ele persiste no tempo através de rastros, sinais, documentos e fragmentos de memória”2. Tomando por base essa perspectiva, o resultado obtido com a publicação Mutirão em Novo Sol é consistente, pois articula o texto da peça, escrito por Nelson Xavier, o contexto histórico de sua produção, a pesquisa teórica, a análise das diferentes encenações, a documentação de época, depoimentos dos participantes da montagem, além de suas apropriações no presente. A articulação das diferentes perspectivas contribui para fazer do teatro um objeto plenamente histórico, a partir do momento em que reconstrói aspectos do contexto que o produziu e insere a cultura como elemento facilitador da compreensão de aspectos político-sociais do Brasil dos anos 1960.
O livro Mutirão em Novo Sol foi publicado no ano de 2015, fruto da parceria entre a editora Expressão Popular e do LITS [Laboratório de Investigação em Teatro e Sociedade]. O LITS é um grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Seu objetivo é “conectar trabalhos de pesquisa acadêmica e artística e, assim, gerar reflexões críticas sobre as interações entre formas teatrais, projetos de modernização e situações produtivas da vida cultural3”.
A publicação da obra analisada dialoga efetivamente com os pressupostos sugeridos pelo coletivo.
Trata-se de um trabalho posicionado politicamente e que percebe a importância de desvelar uma obra desconhecida do grande público, contextualizar sua produção e interpretá-la a partir do contexto atual. De acordo com Iná Camargo, autora da orelha do livro, trata-se de um “resgate do outro lado da história” a partir do momento em que coloca em cena um texto que destaca a temática da reforma agrária, fazendo uma adaptação da rebelião conhecida como Arranca Capim, que ocorreu no interior de São Paulo.
A peça se passa na fictícia cidade de Novo Sol e o eixo na narrativa é o julgamento de Roque, um líder camponês. É possível observar um ir e vir no tempo, que perpassa a ação presente [o julgamento] e a reconstrução histórica [passado] da luta dos camponeses desde a sua chegada à Fazenda Cova das Antas e o acordo com Porfírio, dono da fazenda. Ele definia que após arar as terras os camponeses poderiam semeá-las. No entanto, no momento do plantio o latifundiário desfaz o acordo e tenta expulsar os trabalhadores para plantar capim e alimentar o gado. Diante da morosidade do poder judiciário para resolver a questão, os camponeses saqueiam o barracão da fazenda, além de arrancarem o capim plantado. Como forma de vingança, Porfírio manda matar Honório, um farmacêutico que tenta ajudar os camponeses na busca por justiça. Durante a peça vários personagens fingem prestar “solidariedade” aos trabalhadores, mas fica evidente o medo que possuem do latifundiário, uma espécie de coronel da região que controla a justiça, a igreja e a polícia, dentre outras instituições. Tentando encontrar alternativas, os camponeses se organizam para fundar a União [uma espécie de associação], motivação para que Roque seja acusado de subversão e agitação. No final da peça, ocorre um enfrentamento onde o líder camponês é condenado, mas pode ser liberado desde que convença os camponeses a parar o “arranca capim”. Ele não aceita o acordo e explicita que a luta dos trabalhadores é mais forte que a individual e eles continuarão na luta mesmo sem a sua presença.
O texto da peça foi escrito por Nelson Xavier em 1961. Contou ainda com a participação de Augusto Boal, principalmente na elaboração das falas do Coronel Porfírio. Ele foi produzido após uma conversa com Jôfre Corrêa Neto, inspiração para o personagem Roque. O líder camponês havia acabado de ser liberado da prisão e concedeu uma entrevista no Teatro de Arena de São Paulo, contando como se deu a resistência na Fazenda Santa Fé do Sul e os pormenores do que ficou conhecido como o Arranca Capim. A partir desta experiência real e da narrativa de Jôfre, a dramaturgia foi sendo construída. Ela não teve como objetivo fazer uma adaptação do fato histórico, mas se apropriar dele para construir um texto que dialogasse com o contexto político nacional, já que a luta pela terra perpassou e ainda perpassa todos os estados brasileiros.
De acordo com a Nota Introdutória de Sérgio Carvalho o texto tem grande importância na dramaturgia brasileira, tendo em vista que “inaugura uma sequência de peças de temática camponesa produzidas antes do golpe de 1964, influenciando o cinema novo do período; assume o ponto de vista dos explorados de modo radical, utiliza-se de elementos épicos como poucas vezes no teatro político no Brasil”4. Sua circulação enquanto obra teatral encenada permitiu que as perspectivas apresentadas no texto pudessem chegar ao público formal, mas também ao público que inspirou sua dramaturgia: os camponeses. Talvez pela necessidade de compreender o texto a partir da experiência teatral concreta é que o livro buscou analisar estas diferentes perspectivas.
A publicação é composta por alguns eixos centrais: o texto da peça e sua avaliação crítica, além das diferentes propostas de encenação. No primeiro eixo, o texto, é possível perceber a intervenção do coletivo que compara as suas duas edições e o recria a partir de seu cotejamento. São utilizadas muitas notas de rodapé para orientar o leitor sobre as escolhas dos editores do texto. Nesse sentido, trata-se de um trabalho que deixa claro as suas intervenções e propostas de interpretação do texto enquanto documento. Assume-se, nesta reflexão, o texto como documento histórico, pois se considera que sua análise pode descortinar aspectos da sociedade brasileira no que tange à compreensão do teatro [enquanto produto cultural] e da política [enquanto prática social].
No que diz respeito aos artigos complementares da publicação é possível perceber que eles descortinam aspectos que vão do texto à encenação. Alguns são teórico-analíticos e outros memorialísticos, o que lhes confere singularidade ao articular a teoria e a memória. É uma escolha interessante mostrar tanto a produção intelectual em torno do texto quanto as interpretações dos sujeitos sobre eles próprios e a encenação.
A publicação contou com muitas entrevistas. Elas foram utilizadas tanto nos textos de análise, produzidos por pesquisadores, quanto na compreensão da memória dos sujeitos que participaram de alguma etapa do texto ou da montagem de Mutirão do Novo Sol. Por vezes, percebem-se diferentes narrativas para o mesmo evento vindas de sujeitos diversos, o que dá à publicação um caráter polifônico, além da dimensão ambígua de qualquer experiência histórica.
O livro é dividido em três partes: Soma-se a “Depoimentos” e “Imagens e Canções” [blocos que fecham o livro] uma primeira parte não nominada, que contempla o texto teatral e uma de análise teórico-histórica mais densa. Nela está contida a Nota Introdutória de Sérgio Carvalho, que faz uma breve apresentação da história da escrita da peça, assim como sua importância na dramaturgia nacional. A Apresentação, assinada pelo autor Nelson Xavier, narra o processo de construção da peça e a importância do testemunho de Jôfre, que permitiu alcançar minimamente o ideal de um teatro que dialogasse de forma mais efetiva com o povo, como desejava alguns integrantes do Teatro de Arena. Ela é seguida do texto dramatúrgico completo e de uma Avaliação, escrita também por Nelson Xavier quando assistiu a adaptação da peça feita em 2012, no Encontro Unitário dos Trabalhadores, Trabalhadoras e Povos do Campo, das Águas e Florestas. O autor faz um paralelo sobre a sociedade brasileira no contexto da escrita e quando foi reencenada, em 2012. Para ele, a peça expressa a sua geração, ou a forma como ele viveu e pensou as emoções de sua geração.
O artigo Jôfre, Roque e a Guerra do Capim, de Clifford Andrew Welch, apresenta dados históricos oriundos de documentação e entrevistas realizadas a partir da metodologia da história oral. O autor contextualiza a vida de Jôfre, narra a sua trajetória e tece comparações entre a história dita oficial e a narrativa construída na peça. Ele compara o nome dos personagens reais e fictícios, à ascensão de Jôfre e à força devastadora do Estado na mediação da questão. O texto permite compreender a peça e as opções estéticas de seus autores, assim como apontar as possibilidades do estudo do teatro no campo da disciplina histórica. Ao final ele menciona que apesar das diferenças com o caso real, a peça iluminava aspectos da luta pela terra no Brasil, tais como a miséria dos camponeses, o poder latifundiário, a corrupção das instituições do Estado e a única alternativa do campesinato, a auto-organização.
Nos textos que seguem são apresentados três diferentes encenações da peça ainda no período anterior ao golpe civil-militar. São eles Mutirão no CPC Paulista, de Sara Mello Neiva, que analisa a montagem realizada com a direção de Gianfrancesco Guarnieri; Julgamento no MCP do Recife, de Paula Autran, que investiga a inovação instituída pela peça no que tange à imediata recepção pelos camponeses; e Rebelião do CPC da Bahia, de Mariana Soutto Mayor, que narra a relação dos artistas de teatro, cinema e música na produção da montagem baiana.
Além da peça em si e de sua análise, o livro contribui também para descortinar outro aspecto importante da cultura brasileira deste período: a produção do CPC [Centro Popular de Cultura] em pelo menos dois estados: São Paulo e Bahia. Ao se investigar as montagens do CPC fora do Rio de Janeiro é possível observar a força dos CPCs e o seu importante papel na discussão das questões nacionais através da cultura. O mesmo ocorreu com o MCP [Movimento de Cultura Popular], de Recife, que começa a se articular com outros movimentos de base inseridos nesse contexto. A publicação segue o percurso da peça por diferentes estados e permite visualizar as singularidades das encenações. O último tópico da primeira parte é a Cronologia, que faz uma articulação entre a história e a memória, já que foi inserida exatamente entre os textos de análise teórico-histórica e os depoimentos.
A segunda parte, intitulada Depoimentos, consistiu na apresentação de entrevistas editadas, que foram realizadas para o livro ou produzidas em contextos anteriores. Para cada depoimento foi selecionado um título que enunciasse a temática central das narrativas e orientasse o leitor em seu percurso literário. São eles: Peripécias da Montagem, de Chico de Assis; Aprendizado no Arena, de Ricardo Ohtake; Público Camponês, de Juca de Oliveira; Ligas Camponesas e MCP; de Moema Cavalcanti; Trabalho de Cultura Popular, de Luiz Mendonça; Dramaturgia no MCP, de Ilva Niño; e Rebelião em Salvador, de Orlando Senna.
Alguns depoimentos foram coletados especificamente para a publicação e outros produzidos em diferentes contextos. Um ponto alto da utilização dos depoimentos é localizar o leitor, explicitando quando as entrevistas foram produzidas, por quem e com quais objetivos. Tais informações são fundamentais para entender as construções dos sujeitos no tempo e o caráter transitório da própria memória. Para Ulpiano “a memória é uma construção social, é formação de imagem necessária para os processos de constituição e reforço da identidade individual, coletiva e nacional. Não se confunde com a História, que é forma intelectual de conhecimento, operação cognitiva5”. Nesse sentido, a memória, quando não é problematizada, cria tensões com a História e isso é perceptível em alguns momentos do livro. Seria interessante que os depoimentos fossem acompanhados de uma análise histórica ou de uma breve discussão sobre o papel da memória na composição do livro. Em determinados momentos História e memória se confundem e podem causar inquietações em um leitor que desconhece a temática. De qualquer modo, não tira o mérito da iniciativa de colocar na mesmo publicação diferentes pontos de vista sobre a mesma experiência histórica, a peça.
Outra informação perceptível nos textos acadêmicos e depoimentos é a modificação do horizonte de expectativa dos sujeitos após o golpe civilmilitar. Para além dos artistas envolvidos com as manifestações de cunho engajado, foram perseguidos também os camponeses que tinham qualquer tipo de atuação política. Sendo a peça uma tentativa de elo entre artistas e camponeses, quase todos os envolvidos tiveram seus rumos modificados não só na perspectiva artística, mas também na política.
Na terceira parte, intitulada Imagens e Canções, discutiu-se a questão musical em Partituras das Canções, de Paulinho Tó; a análise da documentação de época a partir do texto Imagens de um processo, de Érika Rocha e Paulo Fávari; e o Posfácio, de Rafael Villas Bôas, que descreve o processo de “redescoberta” do texto, o contexto em que as edições foram cedidas pelo autor e sua eficácia simbólica ao ser trabalhado com os integrantes do MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra].
O livro pode ser entendido como um alentado esforço de pesquisa, edição, publicação e divulgação de uma importante obra dramatúrgica. Ele pode ser pensado no sentido de um grande mutirão da história, onde pesquisadores, historiadores, atores e sujeitos se unem para a realização de uma obra coletiva, preocupada em discutir as experiências do passado com vistas a transformar o presente. Se a história caminha com parcimônia na análise do campo teatral, a publicação Mutirão em Novo Sol apresenta interessantes desdobramentos que podem inspirar os historiadores e fomentar novas possibilidades de estudo do teatro no campo da disciplina histórica.
Referências
BATISTA, Natália. Nos palcos da História: “Liberdade, Liberdade”. São Paulo: Editora Letra & Voz, 2017. [ Links ]
BLOCH, Marc. Apologia da história ou O ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. [ Links ]
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A História, cativa da memória: para um mapeamento da memória no campo das Ciências Sociais. In: Rev. Inst. Est. Bras, São Paulo, n. 34, 1992, p. 09-24. [ Links ]
XAVIER, Nelson & BOAL, Augusto. Mutirão em Novo Sol. São Paulo: Expressão Popular, 2015. [ Links ]
1BLOCH, Marc. Apologia da história ou O ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p.54.
2BATISTA, Natália. Nos palcos da História: “Liberdade, Liberdade”. São Paulo: Editora Letra & Voz, 2017, p.77.
3XAVIER, Nelson & BOAL, Augusto. Mutirão em Novo Sol. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p.191.
4XAVIER, Nelson & BOAL, Augusto. Mutirão em Novo Sol. São Paulo: Expressão Popular, 2015, p.7.
5MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A História, cativa da memória: para um mapeamento da memória no campo das Ciências Sociais. In: Rev. Inst. Est. Bras, São Paulo, n. 34, 1992, p.22.
Natália Batista – Doutoranda pelo Programa de pós-graduação em História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Mestre em História e Culturas Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do Núcleo de História Oral da mesma instituição. Autora do livro Nos palcos da História: “Liberdade, Liberdade”. São Paulo: Editora Letra & Voz, 2017. E-mail: [email protected].
What is history for? Johann Gustav Droysen and the functions of historiography | Arthur Alfaix Assis
What is history for? Johann Gustav Droysen and the functions of historiography, escrito pelo historiador Arthur Alfaix Assis, é fruto de seu trabalho de doutoramento na Universidade de Witten/Herdecke, na Alemanha. O autor por ele pesquisado, Johann Gustav Bernhard Droysen, um dos grandes nomes da historiografia alemã do século XIX, nasceu no dia 6 de julho de 1808, na pequena vila de Treptow, na Pomerânia, e faleceu em 1884, em Berlim. Criador da Escola Prussiana, estabeleceu referências metodológicas, teóricas e estruturais para a pesquisa em história. Em princípio, com algum respaldo na teoria hegeliana, posteriormente, diferenciando-se claramente desta, submetendo todo material das fontes a exames críticos e filológicos, no senso estrito dos termos. Dentre suas obras, destacam-se História de Alexandre, o Grande, publicada em 1833, que veio posteriormente a fazer parte do livro História do Helenismo, composto por dois volumes, tendo sido o primeiro deles publicado em 1836; História da Política Prussiana, composta por catorze volumes, publicados entre 1855 e 1886, e finalmente, Historik, livro em que apresenta os parâmetros e sistematização da pesquisa e do estudo históricos, e posteriormente, Grundriss der Historik, um resumo explicativo do trabalho anterior de imensa importância, no qual se expõem todos os níveis de procedimentos metodológicos da história enquanto disciplina e enquanto ciência, apresentando de maneira ordenada as diferentes formas de operação historiográfica, a saber: a heurística – Heuristik; a crítica das fontes – Kritik; a interpretação – Interpretation; e a exposição histórica – Topik ou Darstellung. Forma-se, assim, uma valiosa articulação entre metodologia e sistematização histórica, introduzindo no meio científico a ideia da função antropológica da história, excluindo definitivamente qualquer relação com aspectos teológicos. Leia Mais
BRUN, E. Les situationnistes (RH-USP)
BRUN, Eric. Les situationnistes. Une avant-garde totale. Paris: CNRS Éditions, 2014. 454p. Resenha de: RODRIGUES, Lidiane Soares. Desinteresse interessado. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Em 30 de novembro de 1994, Guy Debord suicidou-se em sua casa com um só tiro no peito. Ele tinha 63 anos e uma doença incurável oriunda do consumo de álcool. Àquela altura, o animador da Internacional Situacionista (IS) amargava sua notoriedade, adquirida contra os princípios que orientaram sua produção artística e teórica.
A IS foi fundada em 1957 e autodissolvida em 1972. Inicialmente, reunia alguns pequenos grupos: a) a Internacional Letrista (IL, fundada em 1952), cujos representantes eram Guy Debord e Michèle Bernstein, sua primeira esposa; b) o Movimento Internacional por uma Bauhaus Imaginista(MIBI, fundado em 1953), cujos representantes eram AsgerJorn, Piero Simondo, Pinnot-Gallizio, Walter Olmo e Elena Verrone; c) a Associação Psicogeográficade Londres, fundada também em 1957, logo integrada à IS por seu único representante, Ralph Rummey. Em linhas gerais, os situacionistas entendiam que a divisão social do trabalho, a especialização das atividades que dela resulta e a decorrente cisão entre profissionais e leigos seriam superadas pela revolução. A “verdadeira revolução” colocaria fim ao reino da escassez materiale instauraria a satisfação plena do homem, tornado autêntico, para o qual seria possível “caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite e fazer crítica depois da refeição (…) sem por isso se tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico”.
Modularam este adágio do jovem Marx em tom próprio, nutrindo-se de outros autores, como Johan Huizinga do Homo Ludens. Imaginavam as profissões e especializações sendo substituídas por uma nova prática: a “construção de situações”, entendida como reapropriação coletiva da história humana e de todas as esferas da vida em conjunto. Elaboraram uma crítica da “representação burguesa da felicidade” e teorizaram a “vida que vale a pena ser vivida”. Esta foi concebida com referência à “vida boêmia”, tal qual resulta do acúmulo de gerações de vanguardas artísticas desde o final do século XIX: recusar a disciplina e a rotina, desembaraçar-se das coerções da reprodução econômica, exercitar a dimensão lúdica, viver aventuras, praticar jogos e lazeres não convencionais, criar conscientemente “situações” intervindo/testando a vida cotidiana.
A jurisdição a respeito da legitimidade deste estilo de vida depurado da degradação burguesafoi construída ao longo do percurso do movimento, variando segundo suas fases. Por um lado, elas são marcadas pela colaboração e concorrência com os representantes de diversas fontes: literárias (especialmente poética);artísticas (pintura,cinema, arquitetura e urbanismo); filosóficas (Feuerbach, Hegel, Marx – por meio de Henri Lefebvre);e político-revolucionárias (reivindicavam, particularmente, a Comuna de Paris e o comunismo de conselhos,1 discutiram muito com Argumentos, e Socialismo ou Barbárie). Se hoje obras situacionistas são evocadas em áreas as mais diversas (das artes plásticas à teoria da revolução), isso se deve a esta diversidade de interesses. Por outro lado, estas fases se caracterizam também por modificações substantivas na morfologia do grupo ede seu público. O crescimento deste último- resultante não prevista tanto de sua movimentação, indo das artes à teoria revolucionária, quanto de sua eleição a profetas em maio de 1968 – conduz o grupo à aporia final impeditiva da manutenção da lógica de integração construída na base do “quem perde ganha”.Eis o objeto do livro de Eric Brun – Les situationnistes. Une avant-garde totale –cuja apresentação é feita a seguir.
“Quem perde ganha” era o princípio gerador das práticas, das criações estéticas e teóricas do grupo, e seu líder carismático, elo entre a IL e a IS, Guy Debord, fez-se fazendo-o.
Segundo Brun,o problema que dá origem ao “quem perde ganha”, isto é, ao desinteresse interessado em ser reconhecido como desinteressado,responde à dificuldade de ser uma vanguarda autêntica nos anos 1950.Tal experimento precisava ser capaz de se proteger tanto da rotinização “pela vida burguesa vulgar e danificada” quanto da consagração que atingiram vanguardas anteriores. Eis uma das fontes da intransigência ética e do forjamento de um estilo de vida que tinha por princípio a austera recusa do sucesso. A rejeição do êxito torna-se o fiador da legitimidade do pertencimento à grade de valores do grupo. Daí, o decreto permanentedos limites“revolucionários” dos outros, animando a busca pela “ultrapassagem” politicamente radical, articulado ao comportamento contra a cultura vigente e ao risco de consagração, tornar-separa os integrantes o regramento máximo a partir da qual se julgam reciprocamente. E, obviamente, controlam-se reciprocamente. Trata-se de uma lógica do desinteresse pelo mundo -que os torna tanto mais interessados uns aos outros quanto mais a satisfação de suas demandas simbólicas depende desta libido socializada -fundada na honra de ser desprezado pelos que não pertencem ao grupo (a sociedade burguesa). Já para os aspirantes a “situs”, aquela régua de radicalismo torna-se uma barreira a atravessar, posto que delimitasse o direito de ingresso no coletivo em que fracassar é ser bem-sucedido (p. 103). Os interessados em ser situs deviam dar provas de seu desinteressenas glórias mundanas, afiançar o gosto não pela arte como parte da vida, mas de exercer “a vida como arte”; e, sobretudo, entrar no jogo paroxístico das negações bem orquestradas – “a poesia só sobreviverá por meio de sua destruição” (p. 149). Por fim, parao líder, o “quem ganha perde” como princípio gerador da prática foi fonte de acumulação e monopolização do carisma, malgrélui-même. É que a dinâmica de ultrapassagem que move a integração e a desintegração dos minúsculos grupos militantes os ultrapassa.
É este modus operandi do militantismo de pequenos grupos que a pesquisa infatigável de Eric Brun disseca ao esquadrinhar o labirinto da negação do status quoe da acumulação de “capital de radicalismo”, ao recuperar a leitura da sociologia da religião de Max Weber proposta por Pierre Bourdieu.2 Nada de se satisfazer, portanto, com o paralelismo fácil das posições do campo religioso no campo da cultura, tão ao gosto de um direitismo ideológico pouco diligente e zombeteiro. O “carisma (do profeta) não explica, [mas é ele que]precisa ser explicado” (p. 10).
A inteligibilidade do percurso que conduz o grupo das artes à políticapressupôs a reconstituição diacrônica e sincrônica da eleição de aliados/ adversários, assim como dos lances de cumplicidade e concorrência dela oriundos. A matéria diacrônica é o eixo da primeira parte do livro – em que o autor procura deslindar “[a]s coordenadas do posicionamento situacionista” – composta por quatro capítulos, a saber: “O envelhecimento social do surrealismo”; “Um novo pretendente à vanguarda: o letrismo”; “A internacional letrista à margem do campo literário”; “Guy Debord ‘na e para além’ da boemia”. O “espaço de posicionamento” se constitui do conjunto de aliados/ adversários a que os agentes se reportam – isto é, com os quais se importam. Esta eleição, por sua vez, resulta de esquemas de classificação do mundo socialmente fabricados pela trajetória social dos produtores e pela história dos campos nos quais suas aspirações são investidas. Então, ao invés de partir de uma definição fixa e normativa de vanguarda, Brun recupera os conflitos para defini-la em perspectiva relacional e histórica.Ao adotar essa abordagem, ele pôde surpreender no programa dos situs o empenho em se diferenciar dos antecessores eleitos.Omovimento apresenta-se como uma vanguarda artística pela filiação reivindicada (futurismo, dadaísmo, surrealismo), pelos princípios de valorização que mobiliza e pelos instrumentos de manifestação pública que emprega. A busca por proteger-se da degradação/consagração orienta tanto o ideal da “beleza como situação” quanto a conversão do grupo em agente que se dirigirá às disputas do subcampo político dos teóricos revolucionários. Tal reorientação consiste na aposta para superar a armadilha da consagração/degradação a que os outros sucumbiram em sua posteridade.
Há muitos exemplos dessa dinâmica, destaquem-sedois. Por exemplo, a reação do jovem Debord face ao balanço do surrealismo proposto por Maurice Nadeau -antigo militante comunista, depois trotskista e frequentador de André Breton. Ele indica o padrão de exigências a que se submeteram os situs:“[a superação do surrealismo se localiza no futuro] e provavelmente em outro plano que o da arte”, afinal, este movimento “antiliterário, antipoético, antiartístico só conseguiu criar uma nova literatura, uma nova poesia (…)”, inferior ao que havia prometido (p. 147). Daí, face ao diagnóstico do desgaste das experimentações formais em poesia, imaginarem a proposição das “situações” como “ação direta na vida cotidiana”, posto que provisórias, vividas verdadeiramente e conscientemente construídas (em oposição ao espontaneísmo surrealista). É pela elaboração de uma “retórica da negação” que Debord vai construindo “uma lógica de ultrapassagem incessante” do que for a convenção artística, e posteriormente teórica e política em vigência. Um segundo exemplo: sendo simpático à recusa de prêmios, seja Nobel seja Goncourt, isso não era suficiente. Uma vanguarda autêntica não deveria merecê-lo.
O mesmo impulso da diferenciação e ultrapassagem, surpreendido na relação diacrônica com os antecessores, orienta o grupo em direção à política. O marxismo das esquerdas revolucionárias externas e adversárias do Partido Comunista Francêsé central, obviamente. Em afinidade com os situs, o jogo eleitoral(mundano do PCF) não é, para elas, “jogo verdadeiro”. Por isso,a “teoria revolucionária”converte-seem centro de sua disputa – num típico movimento de “rechaço ao mundo” – sendo mesmo a base tanto de sua integração (contra o PCF) e de sua cissiparidade em grupúsculos (processo que leva à bolsa de “valores do radicalismo”).3 Como ocorre com frequência, este marxismo depurado da vida política real é a forma por excelência que assume a tomada de posição radical entre produtores simbólicos, conformando o estoque de anti-herois legítimos e de leituras “perigosas” exigidas assim como o banco de citações rotinizadas nesse universo – cujo uso eficaz depende do habitus militante, apto a acioná-los no momento exato e de modo correto.
Assim, se da IL (1952) à IS (1956) e durante os primeiros anos desta “o espaço de posicionamento” se delineia por controvérsias em torno do título de vanguarda cultural – e sua rede internacional se compõe de pintores, críticos de arte e intermediários de galerias de vanguarda -, a partir de 1959, sempre por iniciativa de Debord, é o espaço das revistas intelectuais radicais que passa a interessar a IS. Eric Brun acompanha, por meio da correspondência privada,4 a atenção de Debord voltada à controvérsia entre Arguments e Socialisme ou Barbarie (SouB), a respeito do comportamento da classe operária – sempre menos revolucionária do que gostariam os intelectuais – assim como as suas reações e a inserção da IS neste debate. Orienta-o, é evidente, a lógica da ultrapassagem e o típico procedimento de reenviar o adversário à posição inferior, parcial e insuficientemente revolucionária. Assim, comas duas revistasposiciona-se de acordo com o diagnóstico da apatia da classe operária e,contraArguments,nega a negativa do potencial revolucionário do proletariado;discorda da proposta dos então fundadores da sociologia do trabalho (Touraine, Collinet e Crozier, que assinam a intervenção) defendendo a integração da classe operária no sistema capitalista por meio de sua participação na gestão das empresas.Inicialmente cifradas no que tange à teoria, as críticas a Arguments são explícitas e impiedosas quando esta tratar de arte. O princípio dos situsé acotovelar estabelecidos para entrar no jogo e, uma vez nele, esbofetear quando o assunto for de seu domínio. Na lógica desse espaço, a rivalidade com Arguments favorece tanto a patronagem do então renovador do marxismo francês (modo eufemizado de dizer, “divulgador de Marx a serviço da crítica do PCF”), ou seja, Henri Lefebvre, quanto a aproximação com SouB.Trata-se do ponto alto da análise: a lógica argumentativa e o princípio de criação artística (ultrapassagem/quem ganha perde) dos situs/Debord correspondem à lógica de agrupamento/ruptura e cumplicidade/concorrência,em alta rotatividade e ritmo acelerado. Assim, a aliança com Lefebvre dura um biênio, com SouB, um triênio.
Se é impossível reproduzi-la neste texto, é incontornável assinalar o êxito da poderosa chave explicativa para a cisão entre SouB e IS, e para autodissolução desta última. Trata-se de um problema que ronda o subcampo político em questão e está na origem da ginástica classificatória e da multiplicação de seus labels, fazendo da ultraesquerda um caldo de sopa de letrinhas denominando as organizações múltiplas. Ora, a afinidade de disposições, de palavras de ordem, o mesmo sistema de oposições aos vícios mundanos do PCF etc. ameaçam os pequenos grupos de indiferenciação. Como não podem se confundir com a “direita” da esquerda, diferenciar-se dela é regra. Daí as rupturas públicas, amplificando diferenças criadas a partir de divergências mínimas.
A análise da autodissolução após a consagração e o aumento de efetivos pró-situs decorrentes de maio de 1968 é uma lição de como empatia ao objeto pode trabalhar a serviço da objetivação dele.Brun constata que a lógica da ultrapassagem também entraria aí em operação: Debord desqualifica seus adeptos, rechaça a moda situ, a adesão sem análise da inteligência e sentencia: “só se não precisarmos do grupo temos direito a fazer parte dele”.No limite, segundo “os critérios de avaliação das qualidades pessoais pouco explícitos e objetivamente controlados por Debord”, “só poderia restar um neste grupo: o próprio Debord”. Ao cabo de uma série de eliminações e renúncias, Debord “dá livre curso à disposição aristocrática”, intensificando o desprezo por tudo e por todos a seu redor (p. 424).
Guy-Ernest Debord nasceu em 1931 em Paris, mas passou infância e adolescência nosul da França. Ele perdeu o pai precocemente, foi criado pela mãe e avó. Sua aquisição da cultura literária clássica e legítima não se deu por via familiar, mas escolar, notadamente, por manuais de feitio lansoniano. Na composição global do capital de sua família, o econômico tinha mais peso do que o cultural. Desde muito jovem fascinado pelos surrealistas e inclinado a se expressar literariamente, suas relações com a autoridade escolar vão aos poucos se constituindo de modo desviante e herético. Não há espaço para a delicada reconstituição do habitus realizada por Brun, então que seja digno de nota o seguinte achado documental. Por ocasião das provas do “baccalauréat” ele e um amigo oanunciam, como se fosse um aviso de falecimento num cartão que convidasse para o velório: “é com pesar que informamos o sucesso no bac”. O potencial heurístico de uma “biografia sociológica”5 se entrevê em tudo que Brun é capaz de extrair em termos interpretativos deste registro – que não passaria de uma brincadeira para um pesquisador incauto.
Não se mensura a inovação promovida por Eric Brun quando se desconhece o estado da discussão a respeito da trajetória de Debord e deseu grupo: até então havia publicações de universitários, mas não pesquisas universitárias. Para o primeiro, a intenção explicativa mal alcançava até a simplória transferência do esquema edipiano da vida pessoal para a vida artística: tendo perdido o pai precocemente, Debord teria de matá-lo na vida simbólica – daí a “ruptura” com André Breton. Quanto ao grupo, a discussão não era muito animadora. Como na bibliografia brasileira sobre grupos e intelectuais de esquerda, explicava-se o fenômeno pela quadratura do círculo, isto é, suas intenções pelo que disseram, o que disseram pelo que pensaram, o que pensaram pelo que eram suas intenções.O raciocínio só poderia redundar num cenário idêntico ao dos estudos brasileiros sobre as esquerdas e os marxismos: o número de estudos dedicados ao grupo era o mesmo de “influências” (re)conhecidas, pois o diálogo entre os especialistas reproduzia a disputa dos agentes estudados. Pudera. Em que se pese o interesse da erudição dos radicais por estas “influências”,raciocinar nestes termos consiste em se deixar dominar por disposições cognitivas forjadas na dinâmica dos debates situs – documentando novamente a experiência e renunciando à sua inteligibilidade.
A saída de Brun às leituras teleológicas e anacrônicas, às explicações tautológicas das intenções/influências não redundou no postulado do cinismo pragmático das escolhasestratégicas – pois ele sabe que esta é uma conduta, entre muitas possíveis, a rigor, a mais fácil de ser explicada. Difícil é compreender o interessesincerono desinteresse, a ação verdadeiramente orientada pelo trágico do “quem ganha perde”.Esta elegante mescla de empatia e objetivação não seria tão sagaz sem uma meditada construção do problema de pesquisa. Ora, sendo os vanguardistas críticos sagazes e opositores sistemáticos do processo de diferenciação técnica/social do trabalho, como valer-se da ciência social que não rejeita esse processo por princípio, e pretende, explicando-o, dar conta das condicionantes deste rechaço em suas modalidades estéticas, intelectuais, políticas e organizacionais?
Elaborada por Pierre Bourdieu para dar conta do processo de diferenciação e especialização das atividades sociais, a teoria dos campos e o conjunto conceitual que a acompanha (habitus, campo, capital) pareciam ser desafiados por um grupo como este e por seus homólogos, posto que recusassem precisamente esta direção do mundo moderno e, para fazê-lo, tornassem-se sujeitos multiposicionais.6 Digamos que um pesquisador descuidado fosse, entretanto, encorajado a mobilizá-la para o “caso”. Certamente, depois de pensar sem refletir, diria, satisfeito: “Eureka! Trata-se do campo das vanguardas!”.
Na avaliação de Eric Brun, este tem sido um “uso sistemático e vulgarizado” (p. 6),responsável por um inflacionamento questionável dos “campos” e estéril para os situacionistas.Impregnado pelo espírito atrevido dos situs, Brun recusou este uso, carente de imaginação analítica e de malícia teórica.Se esta vanguarda se constitui na sucessão de oposições – às artes (diacronia/surrealismo) e aos grupos intelectuais (sincronia/Arguments, SB, Henri Lefebvre) – segundo ele, a pesquisa perderia caso se contasse com o enquadramento grosseiro do “campo das vanguardas”. Por isso, ele escolheu localizá-los nas relações de “com/contra” por meio da qual se construíram.
Por tudo o que foi apresentado – e também pelo que não coube neste texto – trata-se de uma pesquisa exitosa, pelos procedimentos adotados,pela laboriosaatenção à minúcia, pela exploração documental, pela reconstituição histórica e domínio pleno da teoria dos agentes que analisa, sem deixá-la se confundir com a teoria que mobiliza na sua análise. Sobretudo no que tange à construção do problema de pesquisa, tem abrangência mais ampla.As questões de método são idênticasàs de quem se dispusesse a mobilizar a teoria dos campos para analisar a produção intelectual de marxistas, as práticas de militantismo teórico, dentre outros. Por isso, vale a pena meditar a respeito delas e, torcendo pela tradução linguística do livro de Eric Brun, trabalhar por suatradução intelectual – infinitamente mais árdua e para a qual esta resenha gostaria de contribuir.
Referências
BOLTANSKI, Luc. L’espace positionnel: multiplicité des positions institutionnelles et habitus de classe. RevueFrançaise de Sociologie, 14(1), 1973. [ Links ]
BOURDIEU, Pierre. Gênese e estrutura do campo religioso. In: MICELI, Sérgio (org. e trad.). A economia das trocas simbólicas. 5ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2003. [ Links ]
GOTTRAUX, Philippe. Socialisme ou barbarie. Un engagement politique et intellectuel dans la France de l’après-guerre. Lausanne: Éditions Payot, 1997. [ Links ]
HEILBRON, Johan. Comment penser la genèse des sciences sociales?Revue d’Histoire des Sciences Humaines, n.15, 2006/2 .Disponível em: http://www.cairn.info/ revue-histoire-des-sciences-humaines-2006-2-page-103.htm. [ Links ]
1Grosso modo, grupos políticos antistalinistas, não trotskistas, que reivindicam um comunismo conduzido direta e democraticamente pela base, constituído por “conselhos de trabalhadores”. Inspiram-se nas experiências da revolução alemã (derrotada em 1918-1919) e, por vezes, no levante húngaro anti-URSS (de 1956).
2BOURDIEU, P. Gênese e estrutura do campo religioso. In. MICELI, Sérgio (org. e trad.). A eco nomia das trocas simbólicas. 5ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2003.
3Dispensável dizer que os termos são utilizados pela precisão e não pelo tom pejorativo – que comprometeria qualquer análise desta experiência. Particularmente, “bolsa de valores do radica lismo” é uma ideia que Eric Brun explora a partir do seminal estudo de Philippe Gottraux sobre o grupo de Claude Lefort e Cornelius Castoriadis(GOTTRAUX, Philippe. Socialisme ou barbarie. Un engagement politique et intellectuel dans la France de l’après-guerre. Lausanne:Éditions Payot, 1997).
4Recentemente disponibilizada no acervo da Biblioteca Nacional da França e imprescindível para algumas conclusões do trabalho em tela.
5HEILBRON, Johan. Comment penser la genèse des sciences sociales?Revue d’Histoire des Sciences Humaines, n.15, 2006/2, p. 114.Disponível em: http://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2006-2-page-103.htm.
6BOLTANSKI, Luc. L’espace positionnel: multiplicité des positions institutionnelles et habitus de classe.Revue Française de Sociologie, 14(1), 1973.
Lidiane Soares Rodrigues – Doutora pelo Programa de Pós-graduação em História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo – FFLCH/ USP. Professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. E-mail: [email protected].
BOUREAU, A. Satã herético (RH-USP)
BOUREAU, Alain. Satã herético: o nascimento da demonologia na Europa medieval (1280-1330). Tradução de Igor Salomão Teixeira e revisão técnica de Néri de Barros Almeida., Campinas: Unicamp, 2016. Resenha de: RANGEL, João Guilherme Lisbôa. Da heresia à “caça às bruxas” no final da Idade Média ocidental. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Alain Boureau é um autor versátil, capaz de transitar por temas diversos com enorme erudição e de propor teses originais seja no campo restrito de cada um deles, seja na articulação entre vários problemas e objetos de pesquisa distintos. Em 2004, publicou Satan hérétique: naissance de la démonologie dans l’Occident medieval (1280-1330). Paris: editora Odile Jacob, traduzido em 2016 para o português pelo prof. dr. Igor Salomão Teixeira. A obra é, segundo o próprio autor (que o afirma em seus agradecimentos), fruto de 15 anos de pesquisa e de artigos publicados em periódicos diversos, que lhe propiciaram uma interlocução crítica com inúmeros outros estudiosos do tema da Inquisição, do sabá (reunião de bruxos) e da “caça às bruxas” no alvorecer da modernidade ocidental. Seja pelo estilo da escrita do autor, seja pelo bom trabalho que fizeram o tradutor e a revisora técnica, esta edição brasileira oferece uma leitura agradável e instigante e, o mais importante, uma tese rica e inovadora, indispensável para aqueles que se dedicam não só aos temas supracitados, mas também aos estudos sobre as heresias, as artes mágicas e as perseguições político-religiosas na Europa dos séculos XIII a XVI.
Inicialmente, no entanto, é preciso atentar para que, conquanto o título da obra proponha um recorte espacial genérico (o “Ocidente”, no título original, ou a “Europa”, no título português), Boureau tem um escopo efetivo menos abrangente: a Itália e a França, uma vez que os intelectuais e os tribunais da Inquisição de que fala estão todos no domínio do Reino francês e da Cúria papal que, àquela altura, residia em Avignon. Remissões a outras espacialidades – notadamente a península Ibérica e a Germânia imperial – são feitas, aqui e acolá, mas servem apenas para situar um ou outro argumento e para contextualizar tanto a abordagem de alguma fonte documental quanto a biografia de alguns dos intelectuais citados ao longo das análises.
Como propõe Martine Ostorero,1 a tese de Satã herético pode ser assim resumida: haveria uma continuação entre a demonologia escolástica do final do século XIII e a histeria da perseguição às bruxas a partir do século XV. Teria sido a racionalidade escolástica radical a abrir novos e perigosos campos de reflexão para a posteridade, incluindo a possibilidade de uma relação eficaz e maligna entre homens e demônios. Em outras palavras, Boureau tenta demonstrar que a escolástica é que permitiu a “emergência do sabá”. A investigação do autor se coloca, assim, numa espécie de genealogia do tema em questão.
De fato, em sua introdução, Boureau diz querer superar as explicações correntes sobre o fenômeno “louco” da “caça às bruxas”. Segundo ele, são quatro os grandes esquemas explicativos para a problemática: 1) a bruxaria derivaria de cultos ancestrais; 2) o sabá era uma invenção da própria Inquisição, que a imputava aos condenados por meio de violência; 3) ele seria uma “formação de compromisso” a partir da qual os clérigos transcreviam em termos cristãos esquemas antigos de comunicação com o além e atualizavam as suas representações; 4) a crença nos demônios teria moldado a cultura erudita europeia e marcado o Renascimento. Porém, para o autor, nenhum desses esquemas explica de forma satisfatória o fenômeno. É por isso que, ao longo de seu texto, Boureau enfrenta, de maneira crítica e contributiva, obras consagradas nesse campo de estudos, como a célebre Storia notturna: uma decifrazione del sabba, de Carlo Guinzburg, de 1988.
O argumento de partida do autor é que, até Tomás de Aquino (1225- 1274), os cristãos não teriam temido os demônios, pois os viam submetidos, inescapavelmente, ao poder de Deus; seria possível, inclusive, controlá-los por meio das artes mágicas (dentre elas a alquimia e a necromancia – a arte de conjurar espíritos ou demônios) e, sob a égide da fé, torná-los “servos” e colocá-los a serviço de causas justas e benignas. A mudança de mentalidade e de sensibilidade em relação às forças demoníacas não teria sido produzida por medos e histerias coletivas a partir do século seguinte – com o sofrimento de desgraças amplas e profundas, como a peste – mas, sim, pela elaboração de uma nova antropologia,2 de uma nova ciência sobre os homens que, enfatizando as possibilidades negativas e destrutivas das relações e dos atos humanos, transpôs para o plano espiritual as modalidades de engajamento temporal entre as pessoas e tornou o diabo não mais um mero servo, mas um agente positivo que, através do pacto com um homem, ganhava a capacidade de se fazer presente no mundo e, portanto, de desviar os homens da fé e de conduzi-los a ações malignas (assim como qualquer outro sujeito com o qual um homem pactuava). A partir daí é que se acreditou ser necessário perseguir aqueles que até então praticavam livremente a necromancia, porque os pactos que eles estabeleciam com os demônios passaram a ser vistos como ameaças à cristandade.
Podemos dizer que Satã herético se divide em duas partes: na primeira, que compreende os capítulos 1 a 4, Boureau se debruça sobre as múltiplas bases ideológicas e culturais que permitiram a formação de uma ciência demonológica no século XIV: respectivamente a base jurídica, a sacramental, a pactual e, por fim, a escatológica. Todavia, tais arcabouços não se encontram, no panorama global da tese, separados, portanto, a análise não se subdivide em segmentos estáticos, tornando a obra fragmentária. Todos os aspectos tratados estão atravessados tanto pela filosofia quanto pela teologia escolástica e partem, grosso modo, do mesmo corpus documental, permitindo que o leitor acompanhe o raciocínio do autor sem grandes dificuldades. Em suma, o fio condutor dessa primeira metade do livro é a problemática de como, através de quais mecanismos e manipulando quais elementos da vida política e religiosa baixo-medieval, o papado e os intelectuais que compunham a sua corte vincularam a necromancia à heresia e viabilizaram a instrumentalização do aparato inquisitorial para a perseguição dos bruxos e das bruxas a partir do século seguinte, o século XV.
Nesse sentido, dois outros argumentos expostos pelo autor nos parecem cruciais. Primeiro: a heresia teria sido o conceito-chave que serviu de ponte para conduzir a necromancia à alçada da Inquisição e permitir a criminalização das artes mágicas e, segundo: a heresia (e, por conseguinte, a própria necromancia) teria deixado de ser um delito de fé para se tornar um delito factual, concernente às ações e não mais às opiniões dos indivíduos. Aparece com enorme importância, então, a ideia de factum hereticale que constituía a prova material a subsidiar a Inquisição, a demonstração empírica daquilo que, de outra maneira, não se podia elucidar: o sabá que, obviamente, acontecia sempre em segredo e permanecia protegido pelas redes de silêncio e cumplicidade dos bruxos, oculto nas consciências indevassáveis dos indivíduos. Dito de outra forma, foi a mudança na concepção sobre a heresia, o enfoque na sua dimensão aparente, prática, fenomenológica, que permitiu a condenação do sabá, a despeito da crença do alquimista ou mago na força demoníaca. Afinal, no reduto da fé, era preciso levar em conta a reputação, a motivação e a intenção do necromante, o que podia permitir ao tribunal considerá-lo inocente ou ingênuo, especialmente se lembrarmos que boa parte dos necromantes era composta de clérigos regulares (como monges e abades) ou seculares (como cônegos e bispos), que faziam das artes mágicas partes integrantes de seus ofícios, das liturgias e da própria cura animarum.
A nosso ver, tais argumentos trespassam conjuntamente a primeira parte da obra de Boureau. Em seu primeiro capítulo, o autor trata da vinculação entre heresia e magia no seu âmbito jurídico e processual. Boureau tem sucesso em evidenciar o “esforço contínuo” e pessoal do papa João XXII (1249-1334, na sé de 1316 até a data de sua morte), mediante bulas e consultas teológico-jurídicas a membros de sua cúria, em tipificar a necromancia como heresia e em convencer os inquisidores a processá-las enquanto tal. Boureau ressalta que “(…) a tarefa dos inquisidores dependia antes da teologia que do direito” (p. 32) porque tradicionalmente não se via a necromancia como delito; foi necessário antes, portanto, forjar uma nova concepção sobre ela, problema que residia no campo teológico. A teologia norteava o direito e o esforço de João XXII consistiu justamente em uma inovação teológica que pudesse engendrar um novo direito, capaz de enquadrar os necromantes como hereges e torná-los condenáveis pelos tribunais régios e papais. Ao mesmo tempo, tratava-se também de um desafio epistemológico e de outro metodológico: era preciso, como dissemos, deslocar o foco da opinião para a ação, da fé para o comportamento, e criar meios de investigação que superassem os morosos e truncados trâmites dos julgamentos. Ambas as estratégias convergiam para a mesma finalidade: livrar a Inquisição das obstruções que o foro da consciência individual impunha e dar-lhe o poder de processar sumariamente os suspeitos de necromancia. A urgência dos processos escancarava o medo do segredo, situado na raiz da obsessão pelo complô que viria a ser atrelado ao sabá.
No segundo capítulo, Boureau trata da dimensão sacramental que se passou a atribuir à necromancia. Ela reforçava a imputação de heresia na medida em que apresentava a necromancia como uma perversão do sacramento divino, não tanto porque se movia por uma crença desviante – isto é, a crença em Satã ao invés da crença em Deus (já destacamos: a crença desviante era uma questão difícil de provar) -, mas porque o próprio ato sacramental que selava o pacto demoníaco implicava a submissão voluntária a um outro poder, que não aquele aceitável, o divino. O sacramento não tinha causa em si mesmo – por isso o problema não era a sua apropriação pelos necromantes -, mas usá-lo para invocar o diabo era colocar Satã no lugar de Deus e romper o pacto com este por uma nova aliança com aquele. O necromante aceitava espontaneamente, assim, a soberania do antagonista de Deus. E se o diabo era um ser naturalmente mau, qualquer pacto com ele só poderia ter fins malignos.
No capítulo 3, Boureau lida justamente com a invenção de um poder positivo, eficaz, para o pacto demoníaco. Frisa que “a força constitutiva dos pactos tinha, nas sociedades da Idade Média central, uma ampla pertinência da qual Satã podia lançar mão” (p. 83) e lembra que Tomás de Aquino, seguindo a doutrina voluntarista de Agostinho de Hipona (354-430) – segundo a qual o livre-arbítrio consistia não na liberdade plena, mas na capacidade de escolher o bem ao invés do mal -, havia aceitado a possibilidade desse tipo de pacto e o condenado, simplesmente porque o próprio Deus havia condenado Satã. Ostorero 3 pontua a importância da distinção que o autor faz entre pacto forte e pacto fraco. O pacto forte, mais poderoso, seria o engajamento legítimo, aceito, porque inserido na lógica sacramental (através de ritos como o do juramento) e partícipe da autoridade divina; ele não podia ser quebrado senão por um dissenso voluntário, movido por más intenções, constituindo crime e ameaça à ordem social. Já o pacto fraco, menos poderoso, seria aquele feito fora ou em afronta a tal ordem: ele teria a sua eficácia, mas não partilharia do poder divino – ao contrário: estaria sujeito às sanções dos poderes eclesiástico e régio, oriundos da autoridade divina – e poderia (ou deveria) ser quebrado. O pacto forte produziria o bem e a salvação; o fraco produziria a morte e a danação e precisaria ser, por isso, investigado e combatido, dissolvido à força, afinal, embora fraco, ele permitiria ao necromante trazer Satã e o mal para o mundo dos homens. Essa lógica reforçava o caráter sectário e privativo dos pactos demoníacos, opondo-os aos pactos legítimos que tinham por característica a publicidade. Destarte, a argumentação do autor é arguta em mostrar que, assim como a heresia, o problema da necromancia era questão de desobediência, de dissidência, não de crença ou doutrina desviante: “o pacto, aqui, é assimilado à traição feudal, que consiste em requerer por um acordo explícito a ajuda do inimigo de seu senhor. Essa concepção banal e externa do pacto, como modo de negociação entre poderes rivais a um nível vassálico, era muito difundida no século XIII” (p. 93).
No capítulo 4, o autor examina as ações dos agentes diabólicos. Como anunciado na introdução do livro, mostra-se aqui que, até o século XIII, a teologia não havia dado muita atenção aos demônios, mas que tal situação muda a partir do tratado tomista De malo, datado provavelmente de 1272. Os doze artigos presentes no tratado teriam renovado as considerações esparsas sobre o tema e formado um corpus doutrinário amplo e original. Boureau sustenta que o De malo não representaria, contudo, uma síntese de diversas opinões teológicas organizadas pelo dominicano, mas um posicionamento particular que rapidamente seria atacado por alguns franciscanos como Guilherme de La Mare, em 1277, e Pedro de João Olivi, no início dos anos 1280. As polêmicas giraram ao redor da natureza de Satã e de seus acólitos, bem como seus poderes e atuações. O autor indica que, enquanto Tomás separava o pecado de Satã do pecado dos homens (fixando um limite claro entre os demônios e a humanidade, uma vez que o primeiro pecaria por sua vontade, ao passo que o segundo o faria por sua natureza), opositores como Pedro Olivi destacavam que “o anjo não difere necessariamente do homem: nos dois casos, é o querer próprio da criatura que o dana ou o salva”; Boureau completa: “inversamente em relação ao anjo de Tomás, o anjo de Pedro Olivi é muito mais próximo do homem que de Deus” (p. 125). Em Tomás, portanto, os demônios eram impermeáveis à história (p. 130), enquanto que, em Pedro Olivi, eles a recuperavam. Assim, paradoxalmente, a teologia tomista, por um lado, acorrentava o diabo, por outro, teria sistematizado um saber acerca do demônio que abriria espaço para a reflexão demonológica por meio da qual os franciscanos teriam desacorrentado o diabo e seus seguidores, aproximando-os dos homens.
No capítulo 5, por meio dos processos de canonização do início do século XIV, ocorridos sob os pontificados de Clemente V e João XXII, Boureau analisa a transformação em torno da demonologia. O autor observa duas tendências no tratamento dos possessos: uma tratava a maioria dos casos como loucura, outra invertia a proporção e considerava a maior parte das vítimas como endemoninhados. Para o autor, tal discrepância indicia a naturalização e a medicalização da loucura no século XIII. A partir de então, muitos casos em que as testemunhas alegavam possessão passaram a ser encarados como loucura; a centralidade da taumaturgia cedia lugar, então, à centralidade da virtude. Contudo, propõe-se que os casos de possessão demoníaca não teriam desaparecido, mas tomado novos contornos. Em linhas gerais, Boureau sugere que a permanência das menções ao exorcismo não sinaliza meros arcaísmos em face de uma onda naturalista que medicalizava a loucura; ao contrário, a nova sensibilidade sobre a presença demoníaca entre os fiéis teria criado um verdadeiro embaraço para a Cúria pontifícia, para além do ceticismo médico, obrigando-a a encarar o problema da possessão. A partir daí, foram sistematizadas novas formas de possessão que associavam Satã às aparições, aos hereges e aos mortos sem confissão, no mesmo momento em que João XXII estava interessado em redefinir a relação entre magos, hereges e demônios. Nesse sentido, a figura do louco não esgotaria a complexidade dos quadros e se constituiria apenas como uma baliza para avaliar a suscetibilidade dos indivíduos à possessão.
Graças a essa nova antropologia, derivada tanto do saber naturalista quanto da reflexão escolástica, a constatação da presença invasiva do demônio teria assumido, no século XIII, um novo sentido. Exploravam-se as forças e as fraquezas da natureza humana. Ao inaugurar a reflexão sistemática acerca de Satã e de seus demônios, o saber escolástico se abriu para uma investigação dos próprios limites e ações humanas; em outras palavras, a partir de uma reflexão sobre o diabo e sobre sua ação entre os homens, refletiu-se acerca da própria natureza humana.
No capítulo 6, a fim de melhor compreender as “fendas abertas no edifício da personalidade humana” (p. 169), Boureau investiga a figura do sonâmbulo. Essa personagem é inserida por Clemente V (1264-1314, papa a partir de 1305), à época das Constituições clementinas, no cânone Si furiosus, que apresentava uma novidade: “o sono, como a loucura, a infância ou a legítima defesa, constitui então fator de irresponsabilidade penal” (p. 170). A inimputabilidade penal do sonâmbulo evocava certa natureza pura para o ser humano, que era reduzido a um estado de passividade, “como um simples receptáculo de influências” (p. 172). Nesse sentido, o sonâmbulo se aproximava da figura do endemoninhado, visto que ambos estavam suscetíveis à possessão externa.
Para o autor, os debates acerca da relação entre a alma e o corpo expandiram a discussão sobre a personalidade humana. Do lado tomista, ter-se-ia afirmado “a unidade do sujeito” e entendido a alma como uma infusão de Deus na matéria, e não uma dedução dela. De outro lado, os “neoagostinianos” – em especial os franciscanos, mas também alguns dominicanos e seculares – teriam defendido a ideia de uma pluralidade das formas substanciais do homem. Segundo Boureau: “a teoria pluralista colocava em evidência uma estrutura federativa ou mesmo confederativa do sujeito” (p. 185). Como notou Ostorero,4 admitia-se a possibilidade de em um mesmo corpo coabitar a alma do indivíduo e um hóspede divino ou satânico. Essa fragilidade é que viria a ser explorada à época da caça às bruxas.
Finalmente, em seu último capítulo, Boureau se atém justamente ao debate acerca da fronteira entre as possessões divina e demoníaca. Duas formas de possessão divina são identificadas: a incorporação e a inhabitação. Nos dois casos o que está em jogo é a abertura do sujeito para a própria salvação, bem como para a ação direta da divindade. Tais casos seriam tratados pela Igreja com cautela, porque “os inspirados ofereciam a imagem temível de um individualismo religioso que tendia a apagar e mesmo rejeitar a mediação da Igreja entre Deus e os homens” (p. 224); os partidários do livre-espírito (acusados de autodeísmo e antinomismo), por exemplo, foram considerados heréticos pelo próprio Clemente V. De toda forma, tal debate teria preparado não apenas a possibilidade da divinização do sujeito, mas também a oportunidade da evocação de anjos decaídos para dentro do possesso: “as novas Pandora místicas carregavam em seu seio uma temível caixa que não tardaria a ser aberta. Os demônios dela escapariam” (p. 225).
Ao longo de seus capítulos, Boureau faz digressões que tornam a sua obra valiosa não só para os estudiosos da Inquisição e da demonologia, mas para todos aqueles que se interessam pelas temáticas relativas à história medieval e à história moderna. Suas reflexões conciliam referenciais teóricos clássicos com outros mais atuais (considerando o ano da publicação original, 2004) e formam um arcabouço condizente com as teorias vigentes sobre seus temas correlatos – as heresias, a feudalidade, a santidade e os processos judiciários, por exemplo – e são capazes de conectá-los de forma pertinente à questão da demonomancia, construindo uma tese geral bastante coesa. Mesmo a introdução do livro faz uma digressão; esta, porém, é menos profunda do que gostaríamos, pois ela cumpre o papel fulcral de inserir a problemática no quadro dos conturbados acontecimentos coevos. Pouco retomada posteriormente – visto que o autor está mais preocupado com a história intelectual e a história do pensamento – ela acaba ficando em segundo plano no desenvolvimento da tese. Em poucas palavras o autor resume a sua contextualização:
O período da “virada demoníaca” (1280-1330) coincide com um momento de viva tensão entre os poderes espiritual e secular, entre o papado e as monarquias. Os elementos de uma perseguição pública dos adoradores de demônios podem ser facilmente identificados nesse contexto de violência institucional e ideológica, que culmina com a captura do papa Bonifácio VIII pelas tropas de Filipe, o Belo, em Agnani em 1303. A presença de Satã ao lado de uma ou de outra parte dá lugar a procedimentos jurídicos especializados e a grandes affaires (p. 19).
A superficialidade do tratamento dado a essa dimensão acaba deixando de lado as tensões e, especialmente, as colaborações que o poder papal em Avignon teceu com o poder régio francês, as quais encontraram na Inquisição um ponto de convergência, uma vez que a perseguição aos hereges era não apenas um negócio de domínio e submissão, mas também de conquista territorial. Nas palavras do próprio autor,
O pacto satânico tornou-se perigosamente atual no século XIII por duas razões: uma política, outra teológica. Desde o vasto movimento de expansão demográfica e de concentração do habitat que caracterizou o início do primeiro milênio, as formas de organização da vida coletiva multiplicaram-se e sobrepuseram-se (comunidades rurais e urbanas, paróquias, senhorios, principados, reinos etc.). O estatuto complexo, de níveis sobrepostos, da propriedade, no seio da organização feudal, multiplicou as situações de pertencimentos múltiplos. A um período de concorrência conquistadora, que conduziu ao esgotamento e ao abandono progressivo de terrenos e das possibilidades de expansão, sucede, no século XIII, um período de confrontos, tensões entre as diversas formas de organização. As soberanias tentavam se afirmar sem meios institucionais e ideológicos para fazê-lo (p. 20).
Tal argumento só será retomado, rapidamente, no curto epílogo do livro, quando Boureau lembra que o mapeamento dos assentamentos heréticos e das presenças de bruxas no século XIV indicia certo projeto de conquista de áreas, próximas aos Alpes, ainda fora das esferas de poder dos papas e dos reis franceses. Diante das experiências fracassadas de conversão dos judeus, dos muçulmanos e dos valdenses é que os teólogos e juristas passaram a conceber a sua perseguição e extermínio.
Além disso, uma grande motivação para o nascimento da demonologia no século XIV, que Boureau evoca logo em seu primeiro capítulo, fica infelizmente obliterada nos capítulos posteriores: o medo e a obsessão de homens como João XXII com relação às possibilidades de estender ou de encurtar a vida humana por meio da magia e da necromancia. Ela nos sugere que todo o processo histórico em questão não era apenas questão de mudanças mentais, ideológicas e culturais, mas também de estratégias de proteção e contra-ataque em disputas políticas. O próprio autor inicialmente lembra: João XXII, assim como todos os papas que ocuparam a sé de Avignon, foram eleitos em clima de intensas disputas que os fizeram temer pela segurança de seus mandatos e pelas suas próprias vidas. Se, enquanto cardeais, eles recorreram à magia e à alquimia para defender suas posições e seus interesses, após eleitos eles temeram que seus adversários, dentro e fora da cúria, empregassem os mesmos recursos contra eles, no que podemos ver, então, certa tentativa de controle dessas artes, não apenas uma vontade de exorcizá-las e suprimi-las.
A presente tradução conta com um prefácio escrito pela própria revisora técnica da edição, Néri de Barros Almeida. Em sucintas palavras, Almeida apresenta um excelente esboço do livro; todavia, a autora transcende os limites gerais atribuídos a um prefácio, conectando a obra de Boureau à própria essência do fazer historiográfico. Por isso, recomendamos que o leitor o leia após ter percorrido os capítulos do livro, pois a revisora oferece uma chave de leitura que amplia a compreensão de um tema que, malgrado a antiguidade, permanece contemporâneo.
1Em resenha sobre a obra de Boureau: OSTORERO, Martine. Alain Boureau, Satan hérétique. Nais sance de la démonologie dans l’Occident médiéval (1280-1330). Médiévales [en ligne]. Vincennes: s. n., n. 48, printemps 2005. Disponível em: <http://medievales.revues.org/1087>. Acesso em: 18/02/2017.
2O próprio Igor Teixeira trata especificamente deste ponto em um artigo: TEIXEIRA, Igor Sa lomão. Antropologia histórica e antropologia escolástica na obra de Alain Boureau. Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre [en ligne], n. 18.1, Auxerre: Bucema, 2014. Disponível em: <http:// cem.revues.org/13439>. Acesso em: 18/02/2017. DOI: 10.4000/cem.13439.
3OSTORERO, Martine. Alain Boureau, Satan hérétique, op. cit., 2005, p. 2.
4Idem, p. 4.
Felipe Augusto Ribeiro – Doutorando em História e Culturas Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Pesquisador do Laboratório de Estudos Medievais – Leme. E-mail: [email protected].
João Guilherme Lisbôa Rangel – Mestre em História pelo Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFFRJ. Pesquisador do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Medievalística – Lepem. E-mail: [email protected].
HEARTFIELD, J. The British and Foreign Anti-Slavery Society (RH-USP)
HEARTFIELD, James. The British and Foreign Anti-Slavery Society, 1838- 1956. A history. Oxford: Oxford University Press, 2016. xii + 486p. Resenha de: RÉ, Henrique. Uma história da Britsh and foreign anti-slavery Society: A instituição que internacionalizou o antiescravismo britânico. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Em agosto de 1833, o Parlamento da Grã-Bretanha aprovou a lei que emancipou os escravos das colônias das Índias Ocidentais, do Canadá, da Colônia do Cabo e das Ilhas Maurício. (Essa lei não eliminou a escravidão do Império britânico, como alguns abolicionistas insistiram: ainda restavam os escravos das Índias Orientais, cujo número estimado superava todo o conjunto de escravos das regiões do Novo Mundo).1 A lei de 1833 entrou em vigor a partir de 1º de agosto de 1834; contudo, ela não tornou os ex-escravos imediatamente livres. Eles teriam que passar por um período de “aprendizado” para que se acostumassem à sua nova condição – na verdade, tratava-se da regulamentação do trabalho forçado, com o objetivo de prolongá-lo por mais alguns anos. O “aprendizado” demonstrou ser um equívoco: ele desagradou aos abolicionistas, às autoridades coloniais, aos fazendeiros e, obviamente, aos aprendizes que, em muitos casos, viram sua situação piorar ainda mais. Diante da comoção pública e dos vários casos de abusos cometidos pelos fazendeiros e pelas autoridades coloniais, o Parlamento britânico resolveu reduzir os anos de prestação de serviço dos aprendizes. Em algumas ilhas, as próprias assembleias locais se encarregaram de acabar com o aprendizado antes mesmo da decisão do Parlamento britânico chegar às colônias. Assim, em 1º de agosto de 1838, o sol se levantou sobre o Caribe trazendo uma liberdade um pouco mais pura para os negros britânicos, e todos os aprendizes foram considerados livres.2
Inegavelmente, a campanha antiescravista britânica, iniciada na década de 1780, alcançou um triunfo quase completo. Mas alguns grupos abolicionistas não ficaram satisfeitos com a indenização de vinte milhões de libras concedida pelo Estado britânico aos fazendeiros. Eles julgaram que a concessão da indenização somente seria legítima se a propriedade fosse legal, condição que não poderia ser aplicada à escravidão de seres humanos. Nas fileiras antiescravistas também havia indivíduos que não estavam contentes com a perspectiva de encerrar a campanha abolicionista. Eles desejavam levar a luta contra o tráfico e a escravidão para outras partes do mundo, numa cruzada mundial. Mas, nesse momento, as instituições antiescravistas britânicas existentes não estavam capacitadas para desempenhar esse novo papel.
A alternativa consistia, portanto, em criar uma nova entidade, que tivesse capilaridade por toda a Grã-Bretanha, mas que também contasse com auxílio e inserção internacional. Entretanto, em decorrência da existência de inúmeros grupos abolicionistas, cada um defendendo posições e métodos diferentes, mais uma vez o movimento antiescravista britânico se viu dividido quanto às medidas a serem adotadas e à forma de implantá-las.
No final dos anos 1830, surgiram então duas entidades com pretensões de liderar a cruzada antiescravista mundial. Todavia, conforme um dos fundadores declarou, elas não eram rivais: como tinham focos diferentes, elas se complementavam.3
Thomas Fowell Buxton, um dos líderes abolicionistas mais reconhecidos e ativos naquele momento, vinha elaborando desde meados dos anos 1830 um projeto de colonização da África. A ideia consistia em estabelecer fazendas no continente africano para que servissem de modelo de desenvolvimento e desencorajassem os habitantes de participar do tráfico de escravos. Segundo Buxton, era necessário atuar para conter o tráfico de escravos, pois somente assim a escravidão poderia ser efetivamente eliminada. A instituição criada por Buxton, a Society for the Extinction of the Slave Trade and for the Civilization of Africa, organizou uma expedição ao rio Níger com o objetivo de implantar as fazendas, mas os integrantes da expedição foram assolados provavelmente pela malária, e o projeto de Buxton tornou-se uma tragédia. A Sociedade teve uma vida efêmera e foi dissolvida em 1843.
Outro grupo de abolicionistas, liderado por Joseph Sturge, um quacre de Birmingham, também vinha se organizando desde meados da década de 1830 para criar uma nova entidade, capaz de encabeçar a internacionalização do movimento abolicionista. Depois de várias reuniões no início do ano, surge em abril de 1839 a British and Foreign Anti-Slavery Society (BFASS), que existe até hoje ainda que com outro nome e, assim, é considerada a mais longeva instituição defensora dos direitos humanos.
Diferentemente da instituição de Buxton, a BFASS focou sua luta preferencialmente no combate à escravidão. Seus integrantes entendiam que, diante dos lucros do tráfico de escravos, de nada adiantaria combatê-lo diretamente, pois os traficantes sempre encontrariam uma forma de burlar qualquer tipo de bloqueio que lhes fosse imposto. Nessa perspectiva, combater a escravidão seria mais promissor, pois, uma vez eliminada a demanda, a oferta também seria extinta. Outra diferença da BFASS em relação a algumas sociedades abolicionistas anteriores era sua ênfase no imediatismo. Ela não via com bons olhos as medidas gradualistas para acabar com a escravidão e considerava que as vias institucionais eram os canais adequados para o avanço da causa antiescravista.
Tal como a maioria das sociedades antiescravistas anteriores, a BFASS era comandada por quacres – o grupo religioso que seguramente esteve mais envolvido nas ações antiescravistas britânicas desde o final do século XVIII. Embora a BFASS fosse uma entidade de caráter civil, onde qualquer um poderia participar desde que contribuísse com uma pequena quantia, os quacres eram os principais responsáveis pela sua manutenção financeira, e, por isso, tinham o poder de definir sua orientação ideológica e suas diretrizes. Como os quacres eram defensores fervorosos do pacifismo, a BFASS jamais endossou qualquer atividade antiescravista que utilizasse as armas ou a força, nem apoiou qualquer proposta de intervenção antiescravista que pudesse gerar derramamento de sangue.
O livro de James Heartfield traça a história dessa instituição desde sua origem, em 1839, até sua última troca de nome em 1956. O recorte temporal da obra é bastante preciso. Por setenta anos, a BFASS atuou prioritariamente como uma entidade preocupada com o escravismo, mas tal preocupação foi assumindo outros contornos a partir do final do século XIX, especialmente em decorrência da colonização da África pelas potências europeias. Em 1909, a BFASS se fundiu com a Aborigines’ Protection Society e transformou-se em Anti-Slavery and Aborigines’ Protection Society. Depois das duas guerras mundiais, ainda que a questão escravista fosse um assunto de extrema relevância, o início da luta contra o colonialismo na África e as discussões acerca da igualdade de direitos entre negros e brancos levaram a Sociedade a procurar “seus apoiadores para uma possível troca de nome, ‘que express[ass]e mais corretamente a extensão de suas atividades’” (p. 421). Em 1956, ela assumiu sua designação atual: Anti-Slavery Society for the Protection of Human Rights. No início do século XX, ela já havia atuado em várias ocasiões na Liga das Nações; depois da criação da ONU, a Sociedade continuou atuando como uma espécie de órgão consultivo.
Embora outros trabalhos já tivessem tratado da história da BFASS, nenhum o fez com tamanha abrangência. Em geral, as obras anteriores eram compilações de seus “feitos” (por vezes, uma espécie de prestação de contas organizada pela própria entidade), ou obras historiográficas que abordavam a participação da BFASS no movimento antiescravista britânico ou em contextos específicos.4 Enfim, é a primeira vez que surge uma obra exclusivamente voltada para a história dessa instituição e abrangendo todo o período no qual ela se dedicou prioritariamente à causa do antiescravismo.
Obviamente, como o próprio subtítulo do livro esclarece, trata-se de “uma história” dentre as inúmeras possíveis, especialmente quando se leva em consideração que o recorte temporal abarca um período de aproximadamente cento e vinte anos, no qual a instituição se envolveu em diversos assuntos em várias regiões do mundo, e respondeu de formas variadas aos desafios que se apresentavam.
Heartfield adotou uma forma expositiva que privilegia os temas principais nos quais a BFASS esteve envolvida, trabalhando-os separadamente em cada um dos capítulos. A narrativa segue uma sequência em que, na primeira parte do livro, são abordados os temas referentes à escravidão nas Américas; na segunda, a escravidão na África; e, na terceira, o trabalho contratado nas colônias das Índias Ocidentais e da África, e o posicionamento da Sociedade no período entre-guerras. Ao mesmo tempo em que essa estratégia expositiva permitiu maior leveza no tratamento dos assuntos, também dificultou o aprofundamento em alguns deles, como foi o caso do envolvimento da BFASS na escravidão cubana e brasileira ou na diplomacia britânica que atuou contra o tráfico de escravos. Tornou-se praticamente impossível abordar de maneira mais circunstanciada a forma como a Sociedade lidou com essas situações no decorrer das décadas em que esteve envolvida nestes casos.
Outro mérito do livro foi acompanhar a transformação da atuação da BFASS, que atendia às mudanças que ocorriam nas formas de trabalho – da escravidão nas Américas e na África para o trabalho contratado dos chineses e indianos nas Américas, na África, na Ásia e na Oceania, em áreas não necessariamente sob domínio britânico. A Sociedade combatia a utilização dessa forma de trabalho, mas apresentava como um dos motivos para recusá-lo a imoralidade dos trabalhadores: em muitos casos, alegava a BFASS, tratava-se de prostitutas, homossexuais e viciados de péssimo caráter (p. 341-2).
Contudo, a linha mestra que organiza toda a narrativa, ainda que em vários momentos não esteja claramente exposta, é uma sugerida interação entre a BFASS e o governo britânico. O autor evidencia essa perspectiva já a partir da primeira página da obra: “(…) a Sociedade ajudou a estabelecer os fundamentos de uma sociedade civil esclarecida; mas ao mesmo tempo esteve intimamente ligada ao Estado, baseou-se em relatórios oficiais, elaborou propostas de diretrizes e até engendrou a criação de um departamento antiescravista paralelo dentro do governo”. A atuação da BFASS também teria transformado concomitantemente o antiescravismo num mecanismo de projeção governamental britânica (p. 1).
Essa tensão perpassa toda a obra, e o autor teve méritos em demonstrar como a BFASS, ao apoiar a diplomacia contra o tráfico de escravos, ajudou indiretamente a estabelecer uma espécie de tutoria sobre os países que participavam dos tratados ou acordos bilaterais com a Grã-Bretanha para acabar com esse comércio e, consequentemente, difundir mais amplamente os interesses britânicos. Da mesma forma, a retórica antiescravista tornou-se um ingrediente do pacote ideológico que justificou a subjugação dos povos coloniais africanos a partir da década de 1870: paradoxalmente, a retórica abolicionista já continha as sementes do império (p. 75 e 229).
É certo que a BFASS se esforçou para impor certa diretriz abolicionista à política internacional britânica, mas é difícil conceber que ela dispunha de força suficiente para fazê-lo. Em 1841, sua pressão sobre o governo para que ministros, cônsules e agentes no exterior não negociassem escravos foi bem sucedida. Palmerston, então ministro do Foreign Office, enviou uma circular a todas as representações britânicas no exterior para que adotassem essa resolução, que havia sido elaborada pelo primeiro Congresso Antiescravista Mundial, organizado pela BFASS, em Londres, em meados de 1840.5 Não é difícil perceber, entretanto, que tal medida tinha pouca capacidade de influenciar os destinos da escravidão nos países escravistas. Tratava-se mais de uma questão de moralidade.
Portanto, o autor parece exagerar um pouco a interação entre a BFASS e o governo britânico. Se a Sociedade utilizava os relatórios consulares para elaborar seus estudos e matérias sobre o tráfico e a escravidão, ela também obtinha dados de outras fontes; por exemplo, de seus correspondentes no exterior, ou do caso extremo em que enviou uma missão secreta ao Brasil para coletar informações sobre a situação do tráfico e da escravidão.6 A utilização dos relatórios consulares não era exclusividade da BFASS, pois eles eram ansiosamente lidos em Madri, Havana e Rio de Janeiro, e o governo brasileiro chegou a utilizá-los como dados oficiais.7
Ainda que a BFASS também tivesse acesso às autoridades governamentais e tentasse influenciar politicamente as diretrizes antiescravistas do Estado britânico, isso em geral ocorria por meio de lobby parlamentar. A Sociedade procurava os parlamentares simpáticos à causa e os orientava sobre a maneira de proceder, de acordo com aquilo que julgava mais adequado para determinada questão. Nesses casos, provavelmente, o máximo que ela conseguiu foi a adesão de um ou outro parlamentar mais recalcitrante ou a flexibilização de algumas posturas mais conservadoras. Em muitas ocasiões, a BFASS viu seu pleito ser vencido nos gabinetes ou nas votações, como ocorreu, por exemplo, na anexação do Texas, no Tratado Webster-Ashburton, na questão da equalização dos impostos do açúcar e na repressão ao tráfico brasileiro no início da década de 1850. Como um historiador salientou, os abolicionistas muitas vezes tentaram confrontar a exploração escravista em qualquer país a partir de táticas de natureza moral, religiosa e pacífica, mas isso proporcionava uma base relativamente pequena para interferir nas diretrizes do Estado britânico. Além disso, desde a fundação da BFASS, alguns de seus principais membros ganharam a reputação de idealistas irresponsáveis.8
Seguramente, a difusão dos interesses comerciais, diplomáticos e políticos da Grã-Bretanha foi beneficiada pela retórica antiescravista tanto na metrópole quanto no exterior, dentro ou fora do Império britânico. Entretanto, são muito bem conhecidas pela historiografia as divergências entre o Comitê da BFASS e as autoridades políticas e militares britânicas. Em várias ocasiões, as decisões da Sociedade desagradaram os estadistas britânicos e, principalmente, os comandantes militares responsáveis pelo esquadrão naval estacionado na costa africana e americana.9 Portanto, supor uma interação entre a BFASS e o Estado britânico, como se a entidade antiescravista estivesse “intimamente ligada ao Estado”, é um ponto de vista que talvez precise ser relativizado.
Outro ponto que merece ser mencionado na obra de Heartfield – mais pela ausência do que pela presença – é a participação dos negros no próprio processo de emancipação ou, para usar um termo horrível, mas bastante utilizado hoje em dia, a “agência escrava”. É o próprio autor que afirma:
A escravidão é um ato belicoso e a mão-de-obra forçada estava sempre disposta a resistir e, muitas vezes, a se revoltar. As revoltas de escravos eram dispendiosas em termos de tropas e gastos militares e onerosas em matéria de prestígio para os governos europeus. Tão importante quanto o movimento de emancipação na Inglaterra era a recusa constante dos próprios escravos de não se deixar escravizar (p. 17).
Embora o capítulo 1 apresente um item chamado “Revoltas escravas”, em que é mencionado o protagonismo dos escravos no processo de abolição de alguns países, infelizmente, o autor não dedicou outros momentos para compreender por que a BFASS sempre declinou de qualquer participação direta dos ex-escravos na luta contra a escravidão nas colônias ou em outros países.
É certo que Joseph Sturge, o fundador da BFASS, e outros abolicionistas se dedicaram pessoalmente a empreendimentos nas colônias para a educação dos ex-escravos e para o estabelecimento de pequenas propriedades, mas não há registros de que a BFASS tenha aceitado ou incentivado a participação dos escravos e ex-escravos na luta abolicionista nas colônias britânicas. Essa recusa, provavelmente, não decorria exclusivamente de seu pacifismo, mas da maneira como entendia que a emancipação devia ser conduzida: sempre de forma ordeira, preservando o status quo e pela via legislativa. Qualquer ato que pudesse vir a prejudicar a produção e a economia ou que se desviasse dos padrões sociais britânicos deveria ser desprezado. Uma vez que o autor se preocupou em mencionar o tema da revolta escrava, ele poderia ter investigado um pouco mais a relação da BFASS com o protagonismo negro.
A BFASS e o Brasil
Embora seja correto afirmar que a abolição brasileira “nunca foi a principal prioridade da Sociedade” (p. 189), desde a sua fundação, a BFASS expressou preocupação com o tráfico e a escravidão brasileira, tanto que em seu Estatuto o nome do Brasil aparece ao lado dos Estados Unidos, do Texas e de Cuba como os locais para onde a Sociedade deveria dirigir seus esforços.10 Mas a preocupação da BFASS com o Brasil não esteve apenas formulada em seu Estatuto. Desde o início da década de 1840 até a abolição da escravidão brasileira, em 1888, a Sociedade realizou esforços para combater o escravismo no Brasil. A historiografia já documentou a relação entre Joaquim Nabuco e a BFASS na década de 1880; também já é conhecida a missão organizada secretamente pela BFASS no início da década de 1840 para investigar as condições da escravidão no país; do mesmo modo, são conhecidas as petições que a BFASS e outras sociedades antiescravistas auxiliares da Grã-Bretanha (ligadas à BFASS) enviaram ao imperador e às autoridades governamentais brasileiras, pressionando primeiramente pelo fim do tráfico e depois pelo término da escravidão.11
Infelizmente, nesse ponto, o livro de Heartfield é bastante sucinto e apresenta alguns equívocos. Todo o envolvimento da BFASS com Brasil e Cuba é abordado num único capítulo de pouco mais de vinte páginas. Tratando especificamente do caso brasileiro, pode-se afirmar que Heartfield se limitou a comentar alguns aspectos do Bill Aberdeen, do envolvimento do capital britânico em atividades escravistas brasileiras e de algumas petições contra a escravidão enviadas ao Brasil.
Além dos erros na grafia de alguns nomes, Heartfield se equivoca quando diz que “o líder da Sociedade para a Abolição do Tráfico de Escravos na década de 1870 era Joaquim Nabuco” (p. 194). Além dessa Sociedade nunca ter existido no Brasil, Joaquim Nabuco, no início da década de 1870, estava concluindo seu curso de Direito no Recife e logo depois viajaria para a Europa, onde passaria anos em estado de “lazaronismo intelectual”, como ele próprio reconheceu.12 Logo depois, graças aos contatos paternos, assumiria cargos diplomáticos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Somente após a morte do pai e de sua eleição para a Câmara dos Deputados, em 1878, Nabuco se manifestaria no ano seguinte publicamente contra a escravidão.
Outro sério equívoco da obra de Heartfield foi afirmar que “a Lei 3.353, de 13 de maio de 1888, foi proclamada em nome do Príncipe Imperial Regente, Rodrigo Augusta [sic] da Silva” (p. 195). O autor estava se referindo ao senador Rodrigo Silva, que na época ocupava ao mesmo tempo os ministérios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e dos Negócios Estrangeiros, e foi o autor do projeto da referida lei.
São nos equívocos sobre o Brasil, provavelmente, que se manifesta mais claramente uma das deficiências dessa obra. Heartfield realizou uma ampla pesquisa sobre a BFASS, que abarcou quase cento e vinte anos de atuação de uma instituição que possuía capilaridade em várias regiões do mundo. Esse é um mérito que deve ser reconhecido. Porém, talvez devido às dificuldades de lidar com outras línguas, o autor se limitou somente à historiografia de origem anglo-saxã. E, no caso das fontes provenientes da BFASS, ele se limitou basicamente ao material impresso, em especial o Anti-Slavery Reporter, que era o periódico da Sociedade, e os Annual Reports. Heartfield não utilizou nenhuma vez sequer a correspondência trocada entre os membros do Comitê da BFASS e os correspondentes no exterior, tombada pela Rhodes House Library de Oxford, que guarda precioso material que não pôde ser publicado na época.
A análise dessa correspondência talvez permitisse que o autor percebesse a ambivalência do posicionamento da BFASS.13 A Sociedade desejava a extinção da escravidão por meio de métodos pacíficos, legais e economicamente viáveis, sempre de acordo com as concepções britânicas de liberdade e da organização liberal da economia. Entretanto, a BFASS tinha dificuldades para perceber ou aceitar que esses padrões sociais e econômicos dificilmente poderiam ser implantados sem ferir muitas crenças liberais. Em outras palavras, a BFASS não conseguia explicar como o fim da escravidão nas Índias Ocidentais levou ao colapso da produção açucareira, nem como a aplicação das diretrizes do livre-comércio ao tráfico de escravos geraria um salto grandioso desse comércio ou como o livre-comércio do açúcar favorecia a escravidão em Cuba e no Brasil.
Referências
A chronological summary of the work of the British & Foreign Anti-Slavery Society during the nineteenth century (1839-1900). Londres: Offices of the Society, 1901. [ Links ]
BETHELL, Leslie & CARVALHO, José Murilo de (org.). Joaquim Nabuco e os abolicionistas britânicos. Correspondência, 1880-1905. Rio de Janeiro: Topbooks, 2008. [ Links ]
British and Foreign Anti-Slavery Society for the abolition of slavery and slave-trade throughout the world. Address. Londres: Johnston and Barrett, s.d. [1839?]. [ Links ]
ELTIS, David. Economic growth and the end of the transatlantic slave trade. Nova York: Oxford University Press, 1987. [ Links ]
Foreign Office, Série 84, National Archives, Londres. [ Links ]
HARRIS, John. A century of emancipation. Londres: Kennikat Press, 1971. [ Links ]
HUZZEY, Richard. Freedom burning. Anti-slavery and empire in Victorian Britain. Ithaca: Cornell University Press, 2012. [ Links ]
NABUCO, Joaquim. Minha formação. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1963. [ Links ]
RÉ, Henrique Antonio. “Missão nos Brasis”: a BFASS e a organização de uma missão abolicionista secreta ao Brasil no início da década de 1840. Revista de História, n. 174, São Paulo, jan.-jun. 2016, p. 69-100. [ Links ]
ROCHA, Antonio Penalves. Abolicionistas brasileiros e ingleses. A coligação entre Joaquim Nabuco e a British and Foreign Anti-Slavery Society (1880-1902). São Paulo: Editora da Unesp, 2009. [ Links ]
TEMPERLEY, Howard. British antislavery, 1833-1870. Columbia: University of South Carolina Press, 1972. [ Links ]
TURLEY, David. Anti-Slavery activists and officials: “influence”, lobbying and the slave trade, 1807-1850. In: HAMILTON, Keith & SALMON, Patrick. Slavery, diplomacy and empire. Britain and the suppression of the slave trade, 1807-1975. Londres: Sussex Academic Press, 2013. [ Links ]
1TEMPERLEY, Howard. British antislavery, 1833-1870. Columbia: University of South Carolina Press, 1972, p. 94.
2HUZZEY, Richard. Freedom burning. Anti-slavery and empire in Victorian Britain. Ithaca: Cornell Uni versity Press, 2012, p. 10-11.
3HUZZEY, Richard, op. cit., p. 67.
4Ver, por exemplo, A chronological summary of the work of the British & Foreign Anti-Slavery Society during the nineteenth century (1839-1900). Londres: Offices of the Society, 1901; HARRIS, John. A century of emancipation. Londres: Kennikat Press, 1971. Harris foi secretário da Anti-Slavery and Aborigines’ Protection Society a partir de 1910; a primeira edição de seu livro ocorreu em 1933; TEMPERLEY, Howard, op. cit.; HUZZEY, Richard, op. cit.
5Ver, por exemplo, as correspondências de Palmerston aos representantes consulares britânicos no Brasil em FO 84/326, National Archives, Londres.
6Sobre a missão enviada ao Brasil, ver RÉ, Henrique Antonio. “Missão nos Brasis”: a BFASS e a organização de uma missão abolicionista secreta ao Brasil no início da década de 1840. Revista de História, n. 174, São Paulo, jan.-jun. 2016, p. 69-100.
7ELTIS, David. Economic growth and the end of the transatlantic slave trade. Nova York: Oxford University Press, 1987, p. 112.
8HUZZEY, Richard, op. cit., p. 67-8; TURLEY, David. Anti-slavery activists and officials: “influence”, lobbying and the slave trade, 1807–1850. In: HAMILTON, Keith & SALMON, Patrick. Slavery, diplomacy and empire. Britain and the suppression of the slave trade, 1807-1975. Londres: Sussex Academic Press, 2013, p. 88-90.
9Ver, por exemplo, o episódio em que Charles Fitzgerald, um tenente da Marinha Real, foi proibido por Sturge de se pronunciar no Congresso Antiescravista Mundial de 1840, pois ele se opunha ao “princípio pacífico” do referido congresso. HUZZEY, Richard, op. cit., p. 14.
10British and Foreign Anti-Slavery Society for the abolition of slavery and slave-trade throughout the world. Address. Londres: Johnston and Barrett, s.d. [1839?], p. 2.
11BETHELL, Leslie & CARVALHO, José Murilo de (org.). Joaquim Nabuco e os abolicionistas britânicos. Correspondência, 1880-1905. Rio de Janeiro: Topbooks, 2008; ROCHA, Antonio Penalves. Abolicionistas brasileiros e ingleses. A coligação entre Joaquim Nabuco e a British and Foreign Anti-Slavery Society (1880-1902). São Paulo: Editora da Unesp, 2009.
12NABUCO, Joaquim. Minha formação. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1963, p. 173.
13Sobre a questão da ambivalência do posicionamento dos abolicionistas, ver ELTIS, David, op. cit., especialmente o capítulo 7.
Henrique Antonio Ré – Pós-doutorando no Departamento de História, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected].
Teoria da história: uma teoria da história como ciência | Jörn Rüsen
RÜSEN, Jörn. Teoria da história: uma teoria da história como ciência. Tradução de Estevão C. de Rezende Martins., Curitiba: Editora UFPR, 2015. Resenha de: REIS, Aaron. Rüsen e a Teoria da História como ciência. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Em Teoria da história: uma teoria da história como ciência, o professor emérito da Universidade de Witten-Herdecke (Alemanha) Jörn Rüsen retoma um conjunto de reflexões que, no Brasil, ficou conhecido a partir da trilogia Razão histórica (2001), Reconstrução do passado (2007) e História viva (2007). Na mais recente obra, traduzida para o português por Estevão Chaves de Rezende Martins – professor do Departamento de História da Universidade de Brasília -, o filósofo da história propõe uma revisão de sua teoria, publicada originalmente na década de 1980. Nela, reconhece o pesquisador, não foi possível considerar todo o debate “relevante” e necessário para uma “inovação” de suas ideias. Porém, ao recorrer aos seus próprios trabalhos – aqueles que originaram a trilogia e, também, produções posteriores -, Rüsen nos oferece uma síntese do que há de mais importante e atual em sua obra. Leia Mais
Cultura legal y espacios de justicia en América – FERNÁNDEZ (RH-USP)
FERNÁNDEZ, Macarena Cordero; CORRADI, Rafael Gaune; JERIA, Rodrigo Moreno(org.). Cultura legal y espacios de justicia en América. Siglos XVI -XIX. ., Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Dibam, 2017. 317p. Resenha de VALDEBENITO, Hugo J. Castro. Historia de las justicias latinoamericanas durante los siglos XVI y XIX. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Cultura legal y espacios de justicia en América. Siglos XVI-XIX constituye un verdadero esfuerzo colectivo por poner en el debate las policentricas y mul tidimensionales formas de aplicación de justicia durante el periodo colonial e inicios de la construcción del estado-nación en América Latina. Cuestiones como las intersecciones entre los delitos civiles y los de carácter religioso se trasponen en cada capítulo de la obra. Sus compiladores, los doctores Macarena Cordero, Rafael Gaune y Rodrigo Moreno, han reunido y coordinado 12 artículos que, divididos en dos partes tituladas la primera “Religiosidades y conflictos eclesiásticos”, y la segunda, “Lenguajes normativos”, practicas socioculturales y andamiajes políticos, profundizan a partir de estudios de casos los intersticios, las continuidades y rupturas en las diversas culturas legales de América Latina. Es por ello que su objetivo explicito es la exte riorización de aquellos intersticios, evidenciando ente otras cosas, como la crueldad, la clemencia, el castigo y el perdón tenían un mismo rostro (p. 10).
De manera que, siguiendo la división realizada por los compiladores, la primera parte del libro problematiza el cómo los actores locales nunca lograron alejarse del poder temporal, aún cuando las presiones de la Coro na y de la Iglesia americana, y el profundo regalismo ibérico desarrollado entre el siglo XV y el XVIII intentaban modificar aquello. La segunda parte en tanto, analiza la larga duración de las traducciones del orden jurídico en los diversos espacios locales y geografías americanas, configurando de este modo nuevos espacios de justicia mediante la praxis, la subjetividad, la participación de las comunidades y los andamiajes políticos locales (p. 12).
Sin embargo, el núcleo fundamental y lo novedoso de esta obra es que pone énfasis en el espacio.1 Más bien, en los espacios de justicia y sus procesos de transformación y adaptación, a partir de la acción de actores locales y subje tividades particulares, articulando la triada: actores, territorio y justicia (p. 15).
Siguiendo este planteamiento, el texto expone la necesidad de continuar con la inmersión en la territorialización e institucionalización de aquellos espacios de cultura legal, en especial durante el tránsito entre el siglo VI al XIX. El volumen colectivo reseñado pone de manifiesto en cada capítulo que aquella multiformidad de la cultura legal americana deriva de los procesos de acomodamientos territoriales desde donde operaban estas culturas lega les. En cuanto a esa territorialidad, se exponen los casos de Chile central, el Biobío, Chillan, Mendoza, Oaxaca, Santa Fe, Buenos Aires, el Rio de la Plata, Santiago y Lima.
Al analizar detalladamente la obra, nos encontramos con interesantes investigaciones que cumplen cabalmente el objetivo señalado por los autores al iniciar la obra. El primer artículo del volumen, titulado “Escenarios de sor presa; matrimonios clandestinos ante la audiencia eclesiástica de Lima, siglo XVII”, de la dra. Pilar Latasa, analiza profundamente el proceso de celebración de matrimonios clandestinos efectuados ante la audiencia de Lima, para corroborar si los novios que efectuaban dichos matrimonios de forma ilegal, recurrían a la sorpresa (p. 31) como mecanismo de saneamiento de la unión religiosa. La autora realiza un esfuerzo mayúsculo por indagar las motivacio nes que llevaban a los novios a realizar clandestinamente sus matrimonios.
Luego, el dr. René Millar desarrolla el artículo titulado “Las causas de canonización de los jesuitas Juan Sebastián y Francisco del Castillo. Procedi mientos y avatares. Siglo XVII-XX”, y nos muestra los intersticios evidentes entre la Compañía de Jesús y la sede religiosa en Roma durante las postu laciones a canonización de los jesuitas antes señalados, argumentando que dichos intersticios – determinados por las acciones misioneras, el ideal de santidad y la cultura legal de la Iglesia católica – dependieron necesariamen te de las practicas socioculturales desarrolladas en el Perú (p. 51). Posterior mente, el trabajo titulado “Configuraciones eclesiásticas del territorio. Una propuesta de abordaje: la diócesis de Buenos Aires en clave parroquial, siglo XVIII”, de la dra. Miriam Moriconi, se fundamenta en la pesquisa sobre la intervención de la justicia eclesiástica en la configuración territorial y homo logación jurídica de la justicia en la ciudad de Santa Fe. Afirma que la conso lidación de la justicia eclesiástica en el mundo católico se produjo de forma disímil y heterogénea (p. 84), provocando espacios de justicia que incluían una pluralidad de jurisdicciones con características distintivas uno del otro.
Al mismo tiempo, las dras. Ana Zaballa y Ianire Lanchas nos expo nen, en su artículo “Los conflictos entre la jurisdicción real y episcopal a fines del siglo XVIII, las problemáticas del obispo Oaxaqueño Gregorio Alonso de Ortigosa, quien debió defender su poder y jurisdicción del re galismo ibérico. En especial, las medidas tomadas por los doctrinarios para castigar a los feligreses de la diócesis de Antequera de Oaxaca, durante las últimas décadas del siglo XVIII. El artículo se ocupa de las discusio nes de jurisdicción, el poder de los curas y las reglamentaciones peninsu lares (p. 101), así como su impacto en los espacios de cultura mexicanos. Para finalizar la primera parte de este volumen colectivo, los compiladores presentan el trabajo de la dra. María Elena Barral, el cual lleva por títu lo “El bajo clero rioplatense: modos de abordaje de historias de gobierno local y de mediación social”. Su pesquisa toma como objeto de estudio a las parroquias rurales dirigidas por el llamado bajo clero rioplatense. El análisis realizado por la autora evidencia una preocupación por la modi ficación de roles y atribuciones que sufrieron los párrocos al concluir el periodo colonial (p. 132). Así también, expone sobre los procedimientos de resoluciones de conflictos que recaían en estos párrocos, quienes lograban – a través del ceremonial de “misión” – resolver controversias vecinales.
Al concluir la primera parte, se constata la importancia de los actores locales en la transformación e institucionalización de los procedimientos de justicia. El tránsito de lo colonial a lo nacional deja atrás ciertas conductas y homogeniza los espacios de cultura legal. Sin embargo, el rol jugado por la iglesia, sus contrariedades y discusiones con la justicia temporal, hacen que la lectura de aquella primera parte se vuelva lúdica e interesante al inves tigador que las consulta. Muchas preguntas quedan planteadas, dejando el texto en un evidente enchanche para continuar con la segunda y más exten sa parte de este volumen colectivo.
La segunda parte implica un evidente cambio de enfoque. La justica eclesiástica y los espacios de justicia modificados y acomodados por el papel de la iglesia quedan de antecedentes y el análisis se enfoca en los intersti cios de la cultura legal temporal, las instituciones y su dimensión política. Así, esta segunda parte inicia con el estudio del dr. Rafael Gaune, titulado “un manual en tiempos de guerra: Joost de Damhouder y la normativa de la paz en Praxis Rerum Criminalius (1554)”, quien propone que el concepto de paz se va modificando a partir del contexto histórico, las subjetividades y la participación de actores involucrados. Para lograr su objetivo, el autor realiza un interesante contraste con la realidad americana, tomando para ellos el caso de la guerra de los ochenta años entre España y los Países Bajos y las ediciones del manual de Joost de Damhouder: Praxis Rerum Criminalius.
En el siguiente trabajo, se comprueba que en Latinoamérica los espacios de cultura legal no fueron homogéneos, y que efectivamente se permearon de su contexto histórico y territorialidad, edificando praxis jurídicas hetero géneas en los diferentes puntos de aplicación de justicia. El artículo del dr. Ignacio Chuecas, titulado “Venta es dar una cosa cierta por cierto”, aborda analíticamente las formas en que la esclavitud infantil recubrió de un bar niz legitimario a partir de la costumbre y las prácticas ilícitas de agentes que no respetaban la normativa en materia de esclavitud indígena.
A continuación la dra. Macarena Cordero expone, en su trabajo titulado “Estrategias indígenas ante los foros de justicia”, como los indígenas de las zonas más rurales de Chile enfrentaron variados conflictos y controversias, siendo estos sometidos a la aplicación jurídica indiana. Su análisis logra ve rificar los mecanismos por los cuales los mismos indígenas lograron incluir en los procedimientos indianos, aplicaciones de justicia que los representara, considerando lo justo y legitimo para ellos (p. 210). Por su parte, la dra. Yéssica González realiza un bosquejo histórico en su artículo “Discurso y concepción jurídica del cautiverio colonial”, respecto las distintas reglamentaciones que han concurrido a las situaciones de cautiverio indígena. Analiza también el concepto del cautivo, a la luz del contexto histórico y territorial. También es interesante el estudio de la dra. Inés Sanjurjo, quien aporta a la obra con la investigación titulada “Gobierno, territorializacion y justicia. El curato de Corocorto en el periodo de cambio de jurisdicción de la capitanía de Chile al Virreinato de la Plata”. Este trabajo realiza un acabado análisis a la construc ción de espacios políticos por distintos actores durante el proceso de funda ción de nuevas villas en la provincia de Cuyo, Argentina. Lo interesante son los conflictos que dicho proceso pone de manifiesto, sobretodo aquellos que tienen relación con la superposición de poderes, derivados obviamente del hecho que los agentes, en muchos casos, poseían funciones jurisdiccionales que se entorpecían con las facultades de gobierno.
Víctor Brangier, por su lado, realiza una pesquisa que se ocupa básica mente de los juicios de conciliación, observándolos como mecanismos de resolución de conflictos civiles. Su artículo, titulado “Juicios de conciliación: raigambre en la cultura jurídica e hitos normativos. Chile. 1824-1836”, nos muestra y plantea como un espacio de justicia muta en ocasiones en espacio de política. Exalta en su trabajo la figura del juez local en su rol político de mantener la paz vecinal y social a través de la conciliación.
Finalmente, el último artículo de este volumen colectivo es del Dr. Darío Barreira, quien expone el caso de los jueces de paz de la ciudad de Rosario, Argentina. En su análisis, logra cohesionar el análisis historiográfico con la búsqueda de respuesta a las motivaciones de los vecinos para someter sus controversias ante la justicia. Analiza también la aplicación de esta justicia, que asegura se basó en la equidad como criterio para fallar. El artículo de este autor, titulado “La justicia de paz en la provincia de Santa Fe (1883-1854) justicia de proximidad, justicia de la transición”, resalta la importancia de analizar comparativamente las experiencias globales en ámbito de la con formación de espacios de justicia.
A mi juicio, la obra es completa, acabada e interesante, sin embargo se extraña un capitulo que realizara un balance historiográfico a nivel regional respecto de estudios sobre espacios legales y formas de cultura jurídica. Así también, hubiese fortalecido la obra un esfuerzo más amplio, desde el punto de vista geográfico puesto que hubiese sido relevante considerar los espacios de cultura legal en Brasil, a la luz de las controversias sobre la esclavitud, los castigos y sensibilidades en la aplicación de justicia en dicha nación.
La obra es un instrumento de consulta obligada para los investigado res, estudiosos y curiosos del binomio historia y justicia, su presentación es amable y su lectura expedita. En definitiva es un libro recomendable para ahondar en las problemáticas derivadas de la configuración de espacios, situaciones y cotidianeidades en la aplicación de justicia en América Latina.
Cabe señalar finalmente, que esta obra corresponde en gran parte a los textos presentados como ponencias en el seminario internacional realizado en la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, el 5 y 6 de agosto de 2014.
1Los autores recomiendan al lector introducirse al concepto de espacio en la obra de TOMAS Y VALIENTE, Francisco. Sexo barroco y otras transgresiones posmodernas. Alianza Editorial: Madrid, 1990.
Hugo J. Castro Valdebenito – Profesor e Investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Playa An cha, Chile. Magister en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Av. Playa ancha 850, Valparaíso, Chile. Facultad de Humanidades 4to piso. E-mail: [email protected].
Flores, votos e balas – ALONSO (RH-SP) Tornando-se livre – MACHADO e CASTILHO (RH-USP)
ALONSO, Ângela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (1868 – 1888). São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 529p. Resenha de: MACHADO, Maria Helena P. T.; CASTILHO, Celso Thomas(org.). Tornando-se livre. Agentes históricos e lutas sociais no processo de abolição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015. 480p. Resenha de: SALLES, Ricardo. A abolição revisitada: entre continuidades e rupturas. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
O objetivo dessa resenha é apresentar, nos limites desse formato, uma apreciação crítica de duas obras recentes que recolocaram, em termos gerais, a abolição da escravidão no Brasil como tema de peso da história e da historiografia brasileiras.
A abolição da escravidão foi um fato central da história brasileira. Comparável à Independência, à Proclamação da República e à Revolução de 1930. Na verdade, nenhum destes três últimos eventos teve semelhante impacto transformador da vida social. A Abolição destruiu uma instituição e uma prática centenárias que moldaram a história, a sociedade, a política e a cultura brasileiras. A escravidão moldou a colônia por praticamente três séculos, mas também esteve na base da construção do Estado e da nação por 80 anos – se tomarmos como marco dessa construção a vinda da família real em 1808 – e, mesmo depois de mais de um século de sua extinção, ainda lança seus efeitos sobre os dias de hoje. Na época de sua abolição, a escravidão ainda estava no centro dos interesses da classe dominante do Império e, apesar do relato estabelecido em contrário, há muito desmentido pela historiografia, não era vista como um obstáculo central pelos novos grupos de proprietários rurais que emergiam no oeste paulista. Com tudo isso, é evidente que o processo histórico de derrubada – a Abolição – também deva merecer uma grande atenção por parte de historiadores. O que foi a Abolição? Quando começou? Foi um movimento conscientemente deflagrado? Por quem? Quando? Com quais objetivos mais específicos, além do genérico fim da escravidão? Quais seus êxitos e fracassos? Quais foram suas principais fases? Quem foram seus principais sujeitos históricos? Qual seu legado?
Muitas dessas perguntas foram formuladas nas décadas que se seguiram à Abolição e à Proclamação da República. Com a consolidação da República oligárquica e sua crise dos anos 1920, essas perguntas sobre a abolição diluíram-se em questionamentos mais abrangentes sobre a formação do Brasil e, eventualmente, sobre o lugar da escravidão em geral nessa formação. No final dos anos 1960 e início da década seguinte, contudo, as perguntas sobre a abolição voltaram a ser formuladas por historiadores, em especial por dois brasilianistas. São de 1972 as duas grandes histórias da abolição brasileira: The destruction of Brazilian slavery, de Robert Conrad, publicada em português em 1975, com o título de Os últimos anos da escravatura no Brasil, e The abolition of slavery in Brazil, de Robert Toplin, infelizmente, nunca traduzido. Em 1988, por ocasião do centenário da Abolição, Emilia Viotti da Costa que, em 1966, havia publicado Da senzala à colônia, trabalho mais abrangente sobre a escravidão e sua crise no século XIX, publicou A Abolição, pequeno livro de síntese e divulgação.
Tais obras, entretanto, não frutificaram. É certo que, desde os anos de 1980, com a multiplicação dos programas de pós-graduação, particularmente em História, uma quantidade imensa de dissertações de mestrado e teses de doutorado foi produzida sobre o assunto, muitas delas ganhando, posteriormente, a forma de livros. A maioria esmagadora dessas investigações foi e continua sendo de caráter monográfico, sobre aspectos particulares da escravidão ou mesmo sobre o evento de sua abolição, nesta ou naquela região, sob este ou aquele ponto de vista. Tais abordagens são muito importantes e ajudam a levantar novas questões, esclarecer temas e aspectos negligenciados. O lugar e o papel das lutas de escravos e libertos no processo de abolição foram a dimensão mais ressaltada em contraposição a uma historiografia mais estrutural da escravidão e da abolição, mais característica da década de 1960.
As duas obras aqui resenhadas buscam escapar dessa fragmentação historiográfica e só por isso já seriam muito bem-vindas. O livro de Ângela Alonso – Flores, votos e balas – é explicitamente uma síntese histórica e uma interpretação de conjunto. Por isso servirá como eixo desta resenha. Tornando-se livres é uma coletânea organizada por Maria Helena P. T. Machado e Celso Thomas Castilho que, em parte, baseia-se e tem como ponto de partida a mesma fragmentação temática acima apontada. Entretanto, em seu título e em alguns capítulos específicos busca também uma interpretação abrangente, ainda que não uma síntese, dos acontecimentos que marcaram a abolição da escravidão no Brasil. Por isso, serão estes os capítulos e a tese expressada pelo título da obra que serão avaliados com vagar nessa resenha.1
Tornando-se livre, de uma maneira geral, ressalta o papel do escravo – e também do liberto – como elemento ativo na sociedade escravista e, eventualmente, na moldagem de um clima de deslegitimação da escravidão, que se pode perceber principalmente a partir da segunda metade da década de 1860. É verdade que essa deslegitimação foi proveniente de eventos mais amplos, que não foram deflagrados pela participação ativa dos cativos e que não merecem uma atenção maior por parte dos autores da obra. Em primeiro lugar, foi efeito do desfecho da Guerra da Secessão (1861-1865) e da consequente percepção, por parte do imperador e de alguns de seus estadistas, de que o Brasil estava agora isolado no cenário internacional como nação escravista. Em segundo lugar, cabe ressaltar que a libertação de escravos para seu recrutamento para a guerra com o Paraguai tornou evidente a fragilidade das bases sociais do Império, em época de crescente mobilização nacionalista. Mesmo assim, o pleno significado desses eventos é incompleto caso não se leve em conta o lugar e o papel dos escravos, libertos e suas lutas naquela sociedade, e é principalmente disso que os 21 capítulos da obra tratam. O livro é dividido em quatro partes. A primeira – “Disputando liberdades” – aborda as lutas de “homens e mulheres escravos, libertos e libertandos em busca da aquisição da liberdade”, problematizando “os horizontes dessa almejada liberdade no contexto da escravidão e de seu afrouxamento na segunda metade do século XIX, sobretudo a partir de 1870” (p. 13). A segunda parte – “Disputando liberdades: histórias de mulheres com seus filhos” – retoma o tema “do acesso à liberdade e à autonomia,” enfocando o papel das escravas e libertandas como mulheres e mães (p. 14). Os capítulos da terceira parte – “Mobilização: dimensões e prática” – abordam a questão dos movimentos emancipacionistas e abolicionistas da segunda metade do século XIX e do pós-abolição, com o objetivo “de aproximar a movimentação em torno da abolição aos movimentos sociais deste período e dos seguintes, propondo elos e continuidades” (idem). A última parte – “Abolição em dimensão transnacional” – reúne textos que refletem sobre a “questão ainda pouco explorada por nossa historiografia, que é a dimensão internacional e atlântica do processo da abolição da escravatura no Brasil” (p. 15).
Já no que diz respeito a Flores, votos e balas, seu ponto forte é o destaque dado ao papel dos ativistas abolicionistas na formação, estruturação, desenvolvimento e direção do abolicionismo em quatro conjunturas que a autora distingue no movimento pela abolição: a conjuntura pré-Lei do Ventre Livre, a partir de meados da década de 1860; a ascensão do partido Liberal em 1878; o gabinete Dantas, de junho 1884 a maio do ano seguinte; e o gabinete Cotegipe, de 1885 a 1888. Essas diferentes conjunturas, por sua vez, corresponderiam a três fases do abolicionismo brasileiro expressas no título do livro, que operou inicialmente no espaço público: momento das flores, na esfera político-institucional; momento dos votos; e, na clandestinidade, momento das balas (p. 19).
Tanto Flores, votos e balas quanto a maior parte dos capítulos de Tornando-se livres acentuam as continuidades entre o que seriam lutas, movimentos e iniciativas abolicionistas ou contra a escravidão antes de 1879, especialmente a partir da metade da década de 1860, e depois dessa data. Este ano (1879) é tomado por muitos, entre eles o autor dessa resenha, como marco inicial do movimento abolicionista, em contraposição ao que se convencionou chamar de emancipacionismo. Foi nele que o deputado liberal Jerônimo Sodré proferiu seu discurso no Parlamento demandando a abolição, pura e simplesmente, da escravidão. A demanda ecoava, é certo, outras vozes na imprensa e na sociedade civil que se manifestavam pelo mesmo objetivo. Contudo, as iniciativas e lutas anteriores que de alguma forma golpearam a escravidão, como a proibição efetiva do tráfico internacional de escravos, a lei de 28 de setembro de 1871, que declarou livre o ventre da mulher escrava, a ação de associações civis que promoviam a alforria de cativos, as ações judiciais impetradas pela libertação de escravos – as ações de liberdade – e as próprias lutas e revoltas de escravos, tanto individuais quanto coletivas, não haviam, até então, colocado explicitamente no horizonte político imediato a questão da abolição. Esta era vislumbrada em futuro não predizível e seria conseguida de uma forma ou de outra, pelo acúmulo de efeitos dessas leis, das ações de alforria e liberdade, das lutas e revoltas escravas. O discurso de Sodré desdobrou-se imediatamente em apoios e, em um crescendo, ganhou mais nitidez – abolição imediata e sem indenizações – transformando-se em um movimento político e social que resultaria vitorioso nove anos mais tarde.
Entretanto, nenhuma das duas obras coloca grande ênfase nessa novidade. Essa é a tese explícita de Flores, votos e balas e é também a tese esgrimida em mais de um dos capítulos de Tornando-se livres. Para ambos os livros, haveria uma continuidade entre antes e depois de 1879. Ângela Alonso assinala que essa continuidade existiria entre o que ela designa como abolicionismo de elite, característico das décadas de 1860 e 1870, e abolicionismo como movimento social, marca da década de 1880. A corroboração da tese vem pelo acompanhamento de algumas lideranças abolicionistas com atuação expressiva nos dois momentos, entre eles e principalmente, André Rebouças, mas também, como veremos abaixo, Abílio César Borges, educador e ativista abolicionista de segunda grandeza, se é que assim se pode considerá-lo.
Em Tornando-se livres, como colocado na apresentação do volume assinada pelos organizadores, a continuidade seria dada pelas experiências de busca de liberdade. Essas experiências, muitas vezes precárias e provisórias, principalmente na segunda metade do século XIX, “fizeram parte de um grande esforço social que redundou no processo de abolição” e que ainda se estendeu ao período da pós-abolição (p. 11-12). Para os autores, mesmo que as lutas de escravos, libertos e libertandos e os movimentos sociais da abolição não tenham andado sempre juntos, “a movimentação da abolição deve ser compreendida em sua ligação profunda com a realidade das senzalas e dos esforços dos escravos e dos pobres em geral de se livrarem do cativeiro e suas mazelas” (p. 14-15). No primeiro capítulo, intitulado “Da abolição ao pós-emancipação: ensaiando alguns caminhos para outros percursos”, assinado por Flávio Gomes e Maria Helena P. T. Machado e que funciona como uma espécie de direção geral da obra, essa perspectiva fica ainda mais explicitada. O capítulo visa destacar as possibilidades de se estabelecer as conexões analíticas entre expectativas e percepções de liberdade e autonomia por parte de escravos, roceiros, quilombolas e forros, antes e depois da abolição. Os anseios de escravos e libertos “em busca de autonomia e liberdade” integrariam um amplo movimento social que circundou a abolição no Brasil. Assim, os autores querem apontar as possíveis conexões analíticas “entre movimentos abolicionistas e atuação de escravos, libertandos e libertos, como partes integrantes de um amplo movimento social e político de superação da escravidão” (p. 20). Reconhecendo que a palavra “abolicionismo” adquiriu uso mais extensivo na década de 1880, em detrimento de “emancipacionismo”, mais comum até aquele momento, os estudos sobre a abolição teriam supervalorizado esse momento, assim como os espaços urbanos, os debates parlamentares e a imprensa. Os estudos sobre escravidão, abolição e pós-emancipação sofreriam, até hoje, de uma segmentação, resultando em narrativas lineares desses fenômenos. No caso específico da abolição, essas narrativas reduziriam em demasia os recortes e os atores, “aprisionando suas análises no espaço urbano e na última década da escravidão” (p. 19-20).
Tal perspectiva tem o mérito de salientar a importância do contexto das lutas e atuações sociais de escravos, libertos e livres para a compreensão mais geral do momento abolicionista. Mas a afirmação permanece em um plano genérico. Lutas e atuações de escravos, libertos e livres sempre existiram na sociedade escravista brasileira, tanto ao longo da história colonial quanto no decorrer da história imperial. Em que momento e como essas lutas e atuações influíram ou incidiram na formação de um movimento abolicionista? Toda a busca por liberdade, em uma sociedade escravista como a brasileira que comportava a alforria e a inserção social, econômica, cultural, jurídica e política do liberto, integrava “um amplo movimento social e político de superação da escravidão”? A permanência e a força históricas da escravidão brasileira atestam que não. Em que momento, por quais razões e como a liberdade deixou de ser uma condição individual de não ser mais escravo, e de eventualmente poder mesmo usufruir do direito de ser proprietário de escravos, para se tornar uma condição social, jurídica e política frontalmente contraposta à existência de qualquer escravidão? Inversamente, é preciso esclarecer como as lutas políticas abolicionistas ressignificaram, condensando, repercutindo, amplificando, as lutas de escravos, livres e libertos. Essa é uma questão de fundo que não pode ser enfrentada somente pela multiplicação e enumeração de “casos” de embates particulares entre senhores e o Estado, de um lado, e escravos, libertos e livres, de outro. Da mesma forma, se o movimento abolicionista não pode ser completamente seccionado das propostas anteriores, genericamente designadas como emancipacionismo, de abolição em um futuro incerto, de forma gradual e preservando os direitos de propriedade, não pode, tampouco, ser confundido com elas. O preço é uma diluição da singularidade da luta abolicionista, ao mesmo tempo em que não fica claro em que, e se é que, “as expectativas e percepções de liberdade e autonomia” da população escrava, liberta e livre seria diferente, no período da abolição, das expectativas de liberdade e autonomia que tinham antes.
Flores, votos e balas dá grande ênfase à movimentação abolicionista. Em uma nota à apresentação do livro, Ângela Alonso explicita o que ele traz de novidade em relação a uma longa série de obras anteriores sobre a abolição da escravidão no Brasil: uma visão de conjunto da mobilização abolicionista, considerando a dinâmica intra e extraparlamentar, a partir de sua periodização própria, salientando quatro conjunturas. Em termos metodológicos, seu levantamento sistemático das associações abolicionistas e eventos de mobilização a partir de notícias de imprensa também é original. Finalmente, haveria ainda o papel destacado por ela conferido à organização política do “contramovimento”, em oposição aos abolicionistas, que teria um papel importante “para a intelecção das estratégias abolicionista” (p. 373-4). No decorrer do livro, as lutas escravas só aparecem na conjuntura de acirramento do movimento abolicionista, no penúltimo capítulo, quando a autora, seguindo definição de sua principal referência teórica, o sociólogo norte-americano Charles Tilly, vê o ano de 1887 como uma situação revolucionária. Se é verdade que, neste ano, a situação desandou de vez, com a desorganização da produção e o caos social instaurado pelas fugas e rebeliões escravas, muitas delas incentivadas ou acobertadas pelos abolicionistas, é fato também que agitações entre escravos, variando dos casos de rebeldia individual, fugas, assassinatos de proprietários e seus feitores e capatazes a fugas e movimentações coletivas, intensificavam-se desde pelo menos 1882.
Aqui, a crítica a ser feita é quase inversa àquela em relação a Tornando-se livres. O papel de escravos e libertos na luta contra a escravidão surge quase como um subproduto do movimento abolicionista. Essas lutas não têm passado, tradições e condicionamentos socioeconômicos e culturais particulares, tanto aqueles inseridos em sua longa duração, remontando ao período colonial, quanto aqueles mais específicos, característicos de sua reconfiguração e expansão no período imperial. Ângela Alonso detém-se sobre a escravidão do XIX, mas o faz em busca dos fundamentos de uma retórica de defesa da escravidão que remontaria, por sua vez, a linhagens de defesa da instituição identificadas por David Brion Davis no pensamento ocidental. Aqui a escravidão não teria as mesmas características de racialização presentes na sociedade estadunidense. Em uma “sociedade aristocrática, a estratificação estamental garantia a ordem sem exigir argumentos raciais explícitos, embora nem por isso ausentes” (p. 57-8), e “era a base de um estilo de vida, compartilhado por todo o estamento senhorial, cujos eflúvios se espalhavam pela sociedade em círculos concêntricos, como pedra na água” (p. 53). Essa situação, por sua vez, propiciava uma argumentação de defesa da escravidão caracterizada pela autora como “escravismo de circunstância”, uma defesa enrustida, não racializada e justificada pelas condições específicas da economia nacional (p. 56 e ss.).
Essa linha de defesa da escravidão teve como campeão Paulino José Soares de Sousa, filho homônimo do visconde do Uruguai. Não há espaço aqui para debater essa ideia de escravismo de circunstância, fundamentado em uma sociedade aristocrática e estamental. É fato que a defesa da escravidão no Brasil seguiu uma linha de argumentação principal que a considerava um mal necessário, uma necessidade histórica, prescindindo ou minimizando sua defesa moral ou abrigada em razões raciais, tidas então como científicas. Já o argumento de que essa linha de defesa correspondia a uma sociedade estamental e aristocrática parece mais problemático. A aristocracia brasileira era meritocrática e não hereditária, não correspondendo, assim, a uma sociedade estamental. Por outro lado, uma linha de defesa mais pragmática que programática da escravidão era mais adequada ao caráter elástico da escravidão brasileira, como notou Joaquim Nabuco em O abolicionismo. A escravidão aqui estava presente em todos os cantos do território nacional, tanto no campo quanto nas cidades. Era um privilégio que podia se estender, e muitas vezes se estendia, a pequenos proprietários rurais e a setores médios e remediados nas cidades. Era um privilégio de brancos, mas podia abarcar – e às vezes abarcava – mestiços e negros, dos quais muitos tinham acabado de adquirir sua própria liberdade.
Flores, votos e balas compartilha a tese da continuidade entre o abolicionismo em sua fase do que se convencionou chamar de emancipacionismo e sua fase propriamente abolicionista, ainda que não calcada, como em Tornando-se livres, nas lutas de escravos e libertos. Ela assinala, é certo, a incidência dessas lutas, mas somente a partir de 1883 e sob o estímulo direto do movimento abolicionista, que então ingressava em sua fase de “balas”. Para Ângela Alonso, essa continuidade viria pela indistinção entre as propostas emancipacionistas e aquelas abolicionistas, corroborada pelo protagonismo de determinadas lideranças em ambos os momentos. Para tanto, ela acompanha as figuras de André Rebouças, um dos “papas” da luta pela abolição, e o menos conhecido educador Abílio César Borges. A tese é problemática. É verdade que Rebouças já batalhava pela abolição, mais como um objetivo vago, a ser alcançado por reformas, antes mesmo do movimento abolicionista ganhar seu contorno de luta pela abolição imediata, o que ocorreu a partir de 1879. Entretanto, essa continuidade do personagem não autoriza a interpretação da continuidade do movimento. A partir de 1879, Rebouças lançou-se resolutamente na luta pela abolição imediata e sem indenizações, distinguindo – assim como outros abolicionistas – essa nova luta das bandeiras emancipacionistas de abolição gradual que haviam culminado na lei de 1871. No final da década de 1870, estava claro que o emancipacionismo era insuficiente, com o fim da escravidão previsto para um futuro distante e indeterminado, além de deixar intacto o poder da “landocracia”, termo que ele utilizava para designar o poder dos grandes senhores de escravos e de terras que deveria ser quebrado. Rebouças era o mesmo, mas suas opiniões e práticas haviam mudado radicalmente.
No caso de Abílio Borges, enxergar neste personagem continuidades em uma pretensa cruzada abolicionista é ainda mais complicado. É verdade que ele considerava que a escravidão deveria ser extinta a bem do futuro da nação, e também que foi um dos fundadores, em 1869, da Sociedade Libertadora Sete de Setembro na Bahia. Entretanto, no capítulo do livro Tornando-se livres, de Ricardo Tadeu Caires Silva, que trata da mesma Sociedade Libertadora Sete de Setembro, ficamos conhecendo como pensava o dr. Abílio Borges. Em carta de 1870 a um correligionário, ele considerava que a substituição do trabalho escravo pela via da colonização só seria feita muito lentamente, por meio de uma lei do ventre livre. Os que tivessem nascido escravos que se sujeitassem à lei do seu destino, “porque a libertação em massa, além de não ser um bem para os próprios escravos, seria para o Brasil um mal imenso e de consequências funestíssimas” (citação à p. 304). Nada mais distante do ideário abolicionista que começa a ser construído em 1879, pregando a abolição imediata, sem indenizações, acompanhada pela destruição da “obra da escravidão”, com a distribuição de terras para os antigos escravos e seus descendentes e a tributação do latifúndio. Do ponto de vista das “formas de luta”, se é que assim se pode chamar as ações de compras de alforrias por sociedades emancipadoras, a mudança também foi radical. A atuação dessas sociedades e de novas que surgiram continuou, mas estas passaram a conviver com outras manifestações, ações e entidades, essas sim de luta, que demandavam a abolição imediata, e que acobertavam – quando não promoviam – fugas de escravos.
Essa radicalidade e essa novidade do movimento abolicionista são percebidas e valorizadas por Cláudia Santos em seu capítulo de Tornando-se livre, intitulado “Na rua, nos jornais e na tribuna: a Confederação Abolicionista do Rio de Janeiro antes e depois da abolição”. A partir da década de 1880, teria surgido um novo ativismo político conflitante com as estruturas dominantes do Império. A Confederação Abolicionista, fundada em 1883, teve um protagonismo destacado na conformação deste novo ativismo. De modo mais amplo, o movimento abolicionista foi um marco desse processo “não apenas porque foi determinante para a extinção da escravatura, mas porque organizou um novo tipo de atuação política, estruturada em torno da participação dos setores populares, da imprensa, das associações e dos meetings” (p. 338).
A importância das associações no abolicionismo é dos pontos centrais da argumentação de Ângela Alonso. Para a autora, haveria uma constante e crescente fundação de sociedades emancipadoras entre 1850 e 1888. Essa constatação é feita pelo levantamento na imprensa, no que é um dos pontos fortes de seu livro. De modo distinto de Cláudia Santos, esse fenômeno seria uma outra indicação da continuidade da mobilização pela abolição ao longo desse extenso período. É certo que a multiplicação de associações beneficentes e corporativas, e não apenas das destinadas a promover emancipação de cativos, foi uma característica geral da segunda metade do nosso século XIX. Entretanto, pelos próprios dados levantados, o que se nota é que, até 1869, a fundação dessas entidades foi esporádica. Fundaram-se duas em 1850 e outra em 1852. Apenas em 1857 uma nova associação foi fundada, assim como em 1859, 1860, 1864 e 1867. Somente em 1869 esse patamar deu um salto, com a fundação de sete associações emancipadoras, seguidas por 11 no ano seguinte. O número voltou a cair na sequência: cinco em 1871, três em 1872, uma por ano em 1873, 1874, 1877 e 1878. Em 1879, o número subiu com a fundação de três entidades, dando um salto nos quatro anos seguintes: 10 em 1880, 23 em 1881, 19 em 1882, e 103 em 1883! Não sabemos quais as diferenças de propósito entre essas diversas associações e se alguma mudança significativa pode ser percebida a esse respeito a partir de um dado momento. O que, no entanto, transparece desses dados é uma clara mudança de patamar na mobilização que corresponde a determinados momentos da conjuntura política. Assim, as associações surgiram no ambiente de discussão da abolição definitiva do tráfico internacional de escravos em 1850. Patinaram na média de menos que uma associação por ano até 1868. Em 1869, quando se dava a discussão sobre a emancipação do ventre da mulher escrava no contexto da guerra do Paraguai e da pós-abolição nos Estados Unidos, houve um salto de patamar na quantidade de associações fundadas. Esse número, entretanto, minguou nos anos seguintes, até 1879, quando voltou a subir. Esse minguar parece corroborar a tese já defendida por alguns abolicionistas e corroborada por historiadores de hoje de que a Lei do Ventre Livre apaziguou o que poderia ter sido um incipiente movimento abolicionista no Brasil. A fundação de 10 associações em 1880 indica, claramente, a propagação do movimento abolicionista, e não mais apenas pela emancipação por ações individuais, de caráter privado ou associativo, dentro dos parâmetros definidos pela lei de 28 de setembro de 1871. Em 1883, como se leu acima, o movimento abolicionista simplesmente explodiu, com a fundação de mais de uma centena associações.
Tornando-se livres e Flores, voto e balas são, em certa medida, obras complementares; a primeira enfatizando as lutas populares de libertos e escravos, a segunda, o movimento abolicionista como movimento social de caráter político. Essa é, no entanto, uma complementaridade por justaposição. Importante, sem dúvida, mas que ainda não compõe uma narrativa que mostre como, a partir de quando principalmente e em que medida as resistências e lutas escravas, o movimento social abolicionista e o movimento político se interpenetraram. A partir de perspectivas que, em larga medida, isolam essas dimensões, os dois livros propõem-se a realizar uma interpretação da Abolição. De forma mais explícita e integrada no caso de Flores, votos e balas, obra autoral, e como norte interpretativo mais geral, que guiou a organização do trabalho e a escolha dos autores em Tornando-se livres. Nesse sentido, são um grande passo na direção de ampliar as discussões sobre o significado da Abolição. As críticas aqui expostas não apontam falhas nas obras consideradas; são críticas de interpretação. Dessa forma, vêm no sentido de enriquecer o debate que Flores, votos e balas e Tornando-se livres, em boa hora, reabrem.
1Essa escolha não implica em qualquer juízo de valor sobre a qualidade dos capítulos omitidos, apenas a avaliação, evidentemente sempre sujeita a contestações, de que esses capítulos são menos sujeitos à comparação aqui proposta entre as duas obras.
Ricardo Salles – Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Professor associado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. E-mail: [email protected].
Nobrezas do Novo Mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e XVIII – RAMINELLI (RH-USP)
RAMINELLI, Ronald José. Nobrezas do Novo Mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e XVIII. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. 260p. Resenha de: SOUZA, Priscila de Lima Souza. Nobrezas sem linhagem: a nobilitação na América Ibérica. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
A constituição das nobrezas na América ibérica durante os séculos XVII e XVIII é o tema investigado em Nobrezas do Novo Mundo, livro de autoria de Ronald Raminelli. Publicado no ano de 2015, o trabalho é o resultado de quase uma década de pesquisas parcialmente divulgadas em revistas nacionais e estrangeiras. Um dos destaques do livro é a abordagem comparada do tema, empreendimento pouco comum entre os historiadores brasileiros dedicados ao período colonial. Valendo-se do método da comparação formal, a América espanhola é concebida como parâmetro para problematizar e iluminar as especificidades da nobreza formada na América portuguesa, sendo esta, de fato, o objeto do livro. Os espaços selecionados para a análise são, na América espanhola, os vice-reinos do Peru e da Nova Espanha, cujas capitais concentravam parte significativa da nobreza hispano-americana, e, na América portuguesa, as capitanias de Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia, notoriamente privilegiadas em relação às demais.
Nas duas últimas décadas, a produção historiográfica sobre a nobreza do Antigo Regime tem aumentado consideravelmente. No interior desse campo de pesquisas, o livro de Ronald Raminelli diferencia-se por ser um estudo que propõe uma sistematização sobre as nobrezas existentes nas sociedades ibero-americanas entre os séculos XVII e XVIII, atentando particularmente para os seus traços constitutivos e para as suas transformações ao longo do tempo. Trabalhos com tal envergadura são menos comuns que os estudos de caráter monográfico e regional. Para o caso da América portuguesa, por exemplo, Ser nobre na colônia, de autoria de Maria Beatriz Nizza da Silva (2005), figurava como uma das únicas obras com essa ambição. Uma advertência feita por Raminelli diz respeito à tendência da historiografia brasileira em associar de modo naturalizado as elites coloniais com a chamada “nobreza da terra”. Contudo, no livro são considerados nobres somente os indivíduos que tiveram o status sancionado pelo poder régio por meio da concessão de títulos de nobreza, foro de fidalgo e hábitos das ordens militares (p. 24).
O autor afirma que a obra é, em primeiro lugar, um balanço da historiografia sobre os nobres americanos. Essa, de fato, é uma das qualidades do estudo, que dialoga com trabalhos clássicos e, principalmente, com a literatura renovada produzida nos últimos anos. Para os espaços da América portuguesa, porém, a pesquisa empírica ganha relevo com a análise de documentação proveniente de arquivos portugueses como o da Torre do Tombo. Nesse quesito, sobressaem as habilitações às ordens militares e ao Santo Ofício, material que permitiu ao autor investigar os trâmites institucionais da nobilitação.
O livro foi estruturado em duas partes, cada uma delas contendo três capítulos. Na primeira, denominada “Variações da nobreza”, o autor sustenta que a nobreza não deve ser concebida como uma condição homogênea, pois os critérios para o seu estabelecimento variavam no espaço e no tempo. Na segunda parte, intitulada “Índios, negros e mulatos em ascensão”, averíguam-se as possibilidades de nobilitação desses grupos sociais e as condições de manutenção da posição alcançada, análise que é circunscrita ao caso da América portuguesa.
Os dois primeiros capítulos apresentam uma temporalidade longa, que vai desde o século XVI até o contexto da segunda metade do século XVIII. Neles, o autor discute a natureza da nobreza americana, atentando particularmente para as suas hierarquias. Para tanto, compara as nobrezas peninsulares com as nobrezas americanas e estas entre si. Em primeiro lugar, sustenta que a nobreza americana se distinguia da nobreza radicada na península Ibérica pelo fato de, ao contrário desta, os seus títulos não serem hereditários. Em segundo lugar, sugere que uma das principais diferenças entre as nobrezas ibero-americanas era a existência da alta nobreza nos espaços espanhóis, segmento integrado por indivíduos que foram condecorados com títulos como os de marquês e conde, os mesmos concedidos à nobreza peninsular. Nos espaços luso-americanos, somente vice-reis e governadores, todos reinóis, ostentavam semelhante honraria. Em terceiro lugar, destaca-se a tese conforme a qual os processos de nobilitação eram mais rigorosos na América espanhola, pois lá se seguia mais estritamente os critérios de qualidade exigidos na Europa. Entre os hispano-americanos, faltas na qualidade – como a impureza de sangue – representavam um grande óbice à nobilitação. Por sua vez, em Portugal e em seus domínios americanos, havia certa flexibilidade na imposição desses critérios, os quais eram relevados em face dos serviços militares prestados à monarquia.
No segundo capítulo, “Nobreza e governo local”, discute-se a relação entre a ocupação de cargos na administração pública e a formação da nobreza americana. Tendo como referência teses consolidadas na historiografia, o autor demonstra que, por meio do monopólio das terras e do poder político exercido a partir dos cabildos e das câmaras municipais, os conquistadores e seus descendentes estabeleceram-se como nobreza local. Por outorgarem privilégios e o status de vecino/cidadão, tais instituições foram essenciais para o enraizamento da nobreza americana. Conforme Raminelli, a manutenção dessa posição ao longo das gerações permitiu ao grupo “consagrar-se como nobreza de sangue” (p. 85). Essa afirmação evidencia a necessidade de problematizar as fronteiras entre a nobreza política – dispensada pelo rei – e a nobreza de linhagem na América ibérica, uma vez que a tese defendida no primeiro capítulo é a de que a nobreza americana não se reproduzia hereditariamente.
O terceiro capítulo, intitulado “Riqueza e mérito”, é dedicado à análise das mudanças nas concepções sobre a nobreza ocorridas ao longo da segunda metade do século XVIII, fenômeno diretamente relacionado ao processo de centralização monárquica. Sugere-se que os critérios para a nobilitação, fundamentados na origem familiar, passaram a ser questionados devido à crescente valorização do mérito individual e da riqueza. O autor salienta que nesse período houve um aumento significativo na concessão de títulos de nobreza para grupos sociais tradicionalmente excluídos do acesso às honras nobiliárquicas, como era o caso dos comerciantes. Estes, valendo-se da prática da venalidade de cargos, títulos e hábitos militares, puderam ingressar na baixa nobreza. Raminelli admite que, se na América espanhola a relação entre riqueza e nobilitação era clara, o mesmo não pode ser afirmado para o caso português, em que a venda de cargos e títulos não constituía recurso comumente empregado (p. 120). Ainda assim, constata que ao longo desse período houve um aumento expressivo na concessão de hábitos das ordens militares em Portugal, tese que, no entanto, carece de dados empíricos para a América portuguesa.
Em “Malogros da nobreza indígena”, o quarto capítulo do livro, analisa-se a trajetória de ascensão social de índios em um recorte temporal compreendido de meados do século XVII até o início da década de 1730. A discussão é centrada na figura de dom Antônio Felipe Camarão e seus descendentes, índios da capitania de Pernambuco recompensados pela Coroa pelos serviços prestados durante as guerras contra os holandeses. Além das patentes militares, foram condecorados com hábitos das ordens militares portuguesas, inserindo-se, desse modo, na nobreza local. Raminelli sugere que a reprodução da nobreza indígena estava diretamente relacionada aos serviços militares prestados em situações de conflito bélico. Assim, com a relativa pacificação no início do século XVIII, as chefias indígenas foram paulatinamente perdendo seu poder de barganha com a Coroa, resultando na desmobilização completa do famoso terço de Camarão no início da década de 1730 e, consequentemente, no malogro de suas estratégias de ascensão social. A história dos corpos militares integrados por indígenas na América portuguesa ainda demanda pesquisas mais sistemáticas. Sabe-se que durante a segunda metade do século XVIII existiram corpos de ordenança e de auxiliares indígenas nas capitanias do norte pertencentes ao Estado do Grão-Pará e Maranhão, mas até o momento ainda são poucos os trabalhos dedicados às suas experiências. A discussão proposta por Raminelli constitui um bom caminho para incentivar novas investigações e problemas, o que permitiria averiguar se o fenômeno constatado por ele era restrito à capitania de Pernambuco ou consistiu em uma tendência de caráter geral.
O capítulo 5, “Militares pretos na Inquisição”, é o único que apresenta uma temporalidade curta, o que é justificado pelo objeto analisado. Nele, acompanha-se a trajetória de dois militares pretos do Recife durante a década de 1740. Esses homens eram integrantes do terço de Henrique Dias e, ao mesmo tempo, de uma fradaria, corporação que reunia características tanto de irmandade leiga como de ordem religiosa. Mesmo com parca atuação na corporação, os dois militares foram acusados de heresia e, por isso, presos e remetidos aos cárceres do Santo Ofício em Portugal. O autor demonstra que, diferentemente dos índios, os militares pretos que participaram das guerras contra os holandeses em meados do século XVII e seus descendentes não foram condecorados com hábitos das ordens militares, embora tivessem recebido promessas nesse sentido. Apesar disso, constituíam uma “elite preta” devido às patentes militares a eles outorgadas. Na perspectiva avançada por Raminelli, o episódio da prisão revela os mecanismos de exclusão social que afetavam os militares pretos em processo de ascensão social, tornando “instável a honra alcançada pela elite preta de Pernambuco” (p. 205). Não obstante a pertinência da interpretação, chama a atenção o dado conforme o qual os dois militares foram absolvidos e suas patentes restituídas, aspecto não problematizado pelo autor. Nesse sentido, seria promissor investir em explicações que considerassem a preservação do terço dos Henriques e de seus oficiais mesmo diante da oposição das elites brancas e do governo local.
Em “Cores, raças e qualidades”, o último capítulo do livro, procura-se entender os fundamentos que impossibilitaram a nobilitação de pretos e mulatos em Portugal e na América portuguesa. A discussão insere-se em um campo de debates polêmico, relacionado ao questionamento da existência de racismo e da ideia de raça em períodos anteriores à emergência das teorias cientificistas de meados do século XIX. Um dos méritos desse capítulo é a tentativa de definir de modo mais preciso a vinculação de pretos e mulatos à ideia de impureza de sangue, dimensão ainda pouco explorada pela historiografia portuguesa e brasileira. Mediante a análise de habilitações para familiares do Santo Ofício, o autor sugere que a falta de limpeza de sangue atribuída aos pretos e mulatos não era de natureza religiosa, como acontecia aos cristãos-novos, mas fundamentada na escravidão. Assim, ter “raça de mulato” remetia diretamente ao passado escravo e a crenças na transmissão hereditária de comportamentos. Diante disso, o autor advoga a pertinência do emprego das noções de raça e racismo para o período colonial, desde que suas particularidades no contexto sejam esclarecidas.
Ao longo do capítulo, sente-se falta de um diálogo mais estreito com a historiografia sobre os espaços hispano-americanos, que conta com uma boa produção de trabalhos que pensam o problema da raça e da limpeza de sangue relacionado aos afrodescendentes. Esse diálogo, tal como efetuado na primeira parte do livro, indubitavelmente enriqueceria ainda mais as discussões desenvolvidas na segunda parte do trabalho. Por outro lado, no que se refere aos impedimentos baseados na cor e na raça, a distinção entre pretos e pardos mereceria um tratamento mais detido. Ao questionar a inexistência da expressão “raça de preto” e a recorrência da “raça de mulato” (p. 237), Raminelli sugere que a condição material dos mulatos estaria na raiz da distinção. Dispondo de uma condição econômica mais abastada, por serem filhos de homens brancos ricos, eles pleiteariam por hábitos militares e familiaturas do Santo Ofício com mais frequência, instigando a concorrência com outros grupos em disputa pelas mesmas honras. Esta seria a origem da “raça de mulato”, um mecanismo empregado para excluí-los das posições sociais de maior prestígio. Embora o autor esclareça que se trata de uma hipótese, pode-se, no entanto, questionar os limites do argumento por centrar a explicação no fator socioeconômico. Seria importante considerar também as diferenças de status entre esses grupos, que tendiam a ser hierarquizados de acordo com a proximidade e o afastamento em relação à escravidão. Como a historiografia tem ressaltado, os pretos normalmente eram associados diretamente à escravidão e os mulatos, por sua vez, poderiam ser libertos ou estar afastados, em algumas gerações, do ascendente cativo. É possível inferir que era precisamente nesta última situação que a “raça de mulato” desempenhava a sua função primordial, qual seja, barrar a ascensão social de indivíduos que não podiam ser diretamente associados à escravidão.
A principal ressalva ao livro de Ronald Raminelli diz respeito ao descompasso entre as temporalidades abordadas na primeira e na segunda parte da obra. Se nos capítulos 1, 2 e 3 a narrativa foi articulada considerando os grandes contextos formativos da nobreza americana, desde o início da conquista até a transição para o século XIX, nos três últimos capítulos, o recorte limita-se ao tempo que vai das guerras contra os holandeses até fins da década de 1740. Conforme exposto no capítulo 3, a segunda metade do século XVIII foi uma época marcada, por um lado, pelo questionamento da primazia do sangue como critério para a condecoração dos súditos e, por outro lado, pela crescente valorização do mérito individual e da riqueza. Ao leitor fica a inquietação acerca do impacto desse quadro de mudanças nas possibilidades de ascensão social disponíveis a pretos, mulatos e indígenas, principalmente no que diz respeito ao ideário da pureza de sangue. Essa lacuna não diminui a importância do livro, que apresenta novos argumentos e complexifica teses já consolidadas. Ademais, Nobrezas do Novo Mundo indica um conjunto de temas ainda pouco explorados pela historiografia, evidenciando a existência de um promissor campo de investigações.
Priscila de Lima Souza – Doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected].
SUMMERHILL, W. R. Inglorious revolution (RH-USP)
SUMMERHILL, William Roderick. Inglorious revolution: political institutions, sovereign debt and financial underdevelopment in imperial Brazil. New Haven: Yale University Press, 2015. Resenha de: MIRANDA, José Augusto Ribas. Da rua Direita à Lombard Steet: Império do Brasil e subdesenvolvimento financeiro. Revista de História (São Paulo) n.176 São Paulo 2017.
Lançado em 2015, a obra de Summerhill é um raio x de quase um século de atividade financeira e da formação do mercado de capitais no Brasil. Autor de Order against progress,1 lançado em 2003, Summerhill atua com profundo conhecimento sobre a história do Brasil imperial e grande desenvoltura para com os aspectos econômicos e financeiros do período.
Inglorious revolution possui duas grandes contribuições para a historiografia do Brasil imperial e para a própria história financeira do século 19.
A primeira grande contribuição é o tratamento intensivo e extensivo que Summerhill dispensa para os dados da atividade financeira e bancária do Brasil entre 1822 e 1889. Não se limitando a coletar os dados das fontes oficiais brasileiras e britânicas, o autor realizou um intenso trabalho de checagem cruzada de dados, no intuito de oferecer um conjunto de dados mais refinado e menos distorcido. Contando com os extensos trabalhos prévios de Liberato Carrera2 e Maria Barbara Levy,3 Summerhill reconstruiu a trajetória financeira do Império por meio de um conjunto de dados bem elaborado, indispensável para o pesquisador da temática.
A segunda e mais pertinente contribuição foi a grande pergunta do trabalho. Por que o Império do Brasil, que possuía uma trajetória exemplar no mercado de capitais interno e externo, não conseguiu criar um mercado de capitais privado dinâmico, propulsor do desenvolvimento manufatureiro e industrial, como assistido nas economias industriais do Atlântico norte?
A pergunta de Summerhill tem um ponto de partida claro. Em Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England,4 North e Weingast analisam a consolidação da dívida pública inglesa após a revolução gloriosa de 1688 e os efeitos da limitação constitucional ao poder do soberano na formação do mercado de capitais britânico, o mais importante até inícios do século 20. Partindo desse trabalho, o autor se propõe a pergunta: Por que o Brasil, que alcançou um estágio similar ao inglês, e único na América Latina, de cometimento com sua dívida pública, não conseguiu desenvolver um mercado de capitais dinâmico no setor privado?
O Brasil foi um caso de sucesso na América Latina tendo em vista a condução de sua dívida pública. Para além da boa reputação construída em Londres, onde contratou 19 empréstimos entre 1824 e 1889, o Império conseguiu fazer bom uso de seus credores internos, principalmente a partir da abolição do tráfico de escravos em 1850. Boa parte da dívida pública imperial foi contratada nas praças comerciais do Rio de Janeiro, onde fazendeiros e capitalistas encontraram nas apólices e títulos do Tesouro um investimento rentável e seguro. A credibilidade construída ao longo do período de vida do Império rendeu-lhe bons frutos. A partir de meados do século 19, o Império possuía condições de contratar empréstimos competitivos, oferecendo baixo risco aos investidores nacionais e estrangeiros. Todavia, o setor bancário foi submetido a um forte controle estatal, e a abertura de empresas de sociedade anônima encontrou muitas dificuldades em canalizar o capital doméstico, em um curso natural de alocação dos recursos para os setores produtivos.
O livro é dividido em oito capítulos. Nos primeiros quatro capítulos, o autor dedica-se a analisar a construção da credibilidade do Império nos mercados financeiros. Tanto em Lombard street quanto na rua Direita, a política de cometimento do Império em cumprir os serviços da dívida legaram ao país um histórico positivo e condições competitivas para contratar novos empréstimos. A constituição de 1824 legou ao Estado imperial mecanismos de controle sobre a dívida pública, uma vez que empréstimos nacionais e estrangeiros só poderiam ser contratados mediante aprovação da Câmara dos Deputados. Com o voto censitário, os deputados respondiam diretamente aos seus eleitores no tocante aos cuidados para o serviço da dívida. Esse eleitorado, composto por fazendeiros e homens de cabedais, era justamente o detentor das apólices e títulos de curto prazo da dívida pública, tornando o serviço da dívida algo necessariamente conectado com a formação das instituições políticas do Império, em especial no Segundo Reinado. No tocante à dívida externa, nos momentos de necessidade do erário imperial, acorrer a Londres para buscar empréstimos a preços competitivos fornecia mecanismos alternativos para contornar o crônico déficit orçamentário do Império, evitando aumentos de impostos e, acima de tudo, a emissão de papel moeda pelo Banco do Brasil, que poderia resultar em um intenso processo inflacionário, erodindo o retorno dos papéis nacionais pagos em mil reis, armazenados nas escrivaninhas e cofres da elite imperial.
Esse entrelaçamento de interesses entre o serviço das dívidas interna e externa por meio do arranjo político da monarquia constitucional brasileira dotou o Império de uma trajetória ímpar no continente quanto à credibilidade e à força de um mercado de capitais internos voltados para alimentar o voraz erário imperial.
A segunda parte do livro aborda os motivos pelos quais essa mesma solidez institucional que transformou o Brasil em um dos melhores pagadores do século 19 falhou em fomentar um mercado de capitais apto ao desenvolvimento de um setor privado pujante e competitivo como nas economias industriais do Atlântico norte.
Summerhill coloca como central a dificuldade em se criarem empresas de capital aberto para canalizar recursos em prol de atividades produtivas, a luta eterna do empreendedor Irineu Evangelista de Souza, o visconde de Mauá. Apesar do novo código comercial de 1850 já prever a formação de empresas em sociedade anônima e sociedade comandita com ações, os entraves para a abertura dessas empresas tornavam a tarefa um tortuoso caminho. O código de 1850 fora reformado em 1860 com a exigência de aprovação na Câmara, no Senado e no Conselho de Estado para abertura de empresas de sociedade anônima. Essas exigências tornaram a abertura dessas empresas uma tarefa muito mais política de lobby parlamentar do que uma simples ação administrativa, como na Grã Bretanha após a aprovação do Joint Stock Act e do Limited Liability Act de 1854 e 1855.
Com esse intenso sufoco burocrático, os bancos também sofreram grandes limitações para operar no Brasil. Conhecidos como agentes catalisadores do desenvolvimento industrial no Atlântico norte por sua capacidade de canalizar recursos e oferecer investimentos atrativos, os bancos no Brasil ficaram à sombra do gigantismo do Banco do Brasil, considerado uma ferramenta de estabilização monetária às mãos do ministro da Fazenda.
Aqui reside a resposta à pergunta inicial do livro. Summerhill aponta dois grandes motivos para o gargalo burocrático imposto à iniciativa privada do Império ante tão favorável quadro das finanças públicas. O primeiro deles era justamente o desenvolvimento adequado do mercado de capitais internos. Essa disponibilidade de capitais no país, em especial após o fim do tráfico de escravos, foi canalizada com maestria pelo Estado imperial para suas apólices e títulos de curto prazo. De fato, durante o Império, boa parte da dívida pública era composta por empréstimos nacionais, capital este que deveria ser redimensionado para os cofres públicos em detrimento do setor privado. As dificuldades impostas na abertura de empresas em sociedade anônima e novos bancos tornavam as respeitáveis apólices do Tesouro imperial um investimento muito mais atrativo e seguro para o fazendeiro e o rentista. O segundo motivo seria uma necessidade do Império em controlar quais áreas e quais empresas deveriam receber novos investimentos com permissões de funcionamento. Assim, o establishment imperial poderia dar prioridade a projetos de maior interesse político das classes atreladas ao gabinete, como ferrovias específicas e mesmo o todo poderoso Banco do Brasil.
A obra de Summerhill oferece respostas de peso para perguntas fundamentais na história e no presente econômico no Brasil. Por que o país falhou em gerar uma classe empreendedora e não conseguiu canalizar os vastos recursos presentes no país para projetos produtivos? A força analítica em Inglorious revolution, todavia, quando exposta em carne viva, pode afastar os leitores menos acostumados às profundezas da análise estatística. O livro encerra com dois apêndices com dados estatísticos trabalhados à exaustão, difíceis de serem depreendidos por leitores menos experientes. As análises de credit-risk e de retorno esperado e efetuado dos empréstimos (ex ante e ex post) também demandam maior entendimento de análise estatística por parte do leitor.
Apesar de certas partes de duro entendimento, os pontos fundamentais de Inglorious revolution são claros e assertivos. Summerhill conseguiu trazer um estudo profundo sobre questões primordiais na história econômica do Brasil, utilizando seu passado imperial como caso, captando as contradições entre a grande obra das finanças do Império e a sua maior falha.
Referências
CARREIRA, Liberato de Castro. Historia financeira e orçamentária do Império do Brazil desde a sua fundação. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889. [ Links ]
LEVY, Maria Bárbara. The Brazilian public debt – domestic and foreign 1824-1913. In: LIEHR, Reinhard (ed.). La deuda pública en América Latina en perspectiva histórica. [The public debt in Latin America in historical perspective]. Frankfurt am Main; Madri: Vervuert ; Iberoamericana, 1995, p. 209-256. [ Links ]
LEVY, Maria Bárbara & ANDRADE, Ana Maria Ribeiro. El sector financiero y el desarrollo bancario en Río de Janeiro (1850-1888). In: TEDDE DE LORCA, Pedro & MARICHAL, Carlos (org.). La formación de los bancos centrales en España y América Latina : (siglos XIX y XX). Madri: Banco de España, Servicio de Estudios, 1994, p. 61-83. (Estudios de historia económica ; …). [ Links ]
NORTH, Douglass Cecil & WEINGAST, Barry R. Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. In: ALSTON, Lee J.; EGGERTSSON, Thrainn; NORTH, Douglass C. (ed.). Empirical studies in institutional change. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. [ Links ]
SUMMERHILL, William Roderick. Inglorious revolution: political institutions, sovereign debt and financial underdevelopment in Imperial Brazil. New Haven: Yale University Press, 2015. [ Links ]
__________. Order against progress: government, foreign investment, and railroads in Brazil, 1854 – 1913. Stanford: Stanford Univ. Press, 2003. [ Links ]
1SUMMERHILL, William Roderick. Order against progress: government, foreign investment and railroads in Brazil, 1854 – 1913. Stanford: Stanford Univ. Press, 2003.
2CARREIRA, Liberato de Castro. Historia financeira e orçament á ria do Império do Brazil desde a sua fundação . Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889.
3LEVY, Maria Bárbara. The Brazilian public debt – domestic and foreign 1824-1913. In: LIEHR, Reinhard (ed.). La deuda pública en América Latina en perspectiva histórica [The public debt in Latin America in historical perspective]. Frankfurt am Main; Madri: Vervuert; Iberoamericana, 1995, p. 209-256; LEVY, Maria Bárbara & ANDRADE, Ana Maria Ribeiro. El sector financiero y el desarrollo bancario en Río de Janeiro (1850-1888). In: TEDDE DE LORCA, Pedro & MARICHAL, Carlos (org.). La formación de los bancos centrales en España y América Latina : (siglos XIX y XX). Madri: Banco de España, Servicio de Estudios, 1994, p. 61–83.
4NORTH, Douglass Cecil & WEINGAST, Barry R. Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. In: ALSTON, Lee J.; EGGERTSSON, Thrainn; NORTH, Douglass C. (ed.). Empirical studies in institutional change. Cam bridge: Cambridge University Press, 1996.
José Augusto Ribas Miranda – Mestre e Doutor em História pela Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). E-mail:[email protected].
Liberalism in Empire: An Alternative History – SARTORI (RH-USP)
SARTORI, Andrew. Liberalism in Empire: An Alternative History. ., Oakland: California University Press, 2014. Resenha de: MEKEL, Ian. Para uma história plebeia do liberalismo. Revista de História (São Paulo) n.175 São Paulo July/Dec. 2016.
Neste último livro de Andrew Sartori, o autor trata da questão do “liberalismo plebeu” de uma maneira que promete mudar a direção da historiografia. Os discursos e a ideologia liberais foram considerados, até recentemente, como produtos da elite. Nesse sentido, a ideia do contrato social de Locke, por exemplo, protegia a propriedade destas mesmas elites. Sartori, cujo foco é Bengala no século XIX (hoje em dia dividida entre a Índia e Bangladesh), traz à luz atores liberais pelos quais a história intelectual nunca se interessou: os pequenos proprietários (raiyats) que podiam ser “Lockeanos” sem nunca terem lido Locke.
Esses pequenos proprietários, Sartori mostra, usaram argumentos em defesa da propriedade de tal forma que consolidaram normas liberais relativas ao uso produtivo da terra e ao valor-trabalho. Seria uma adaptação de discursos e práticas europeus para os trópicos, em um país principalmente agrícola? Para Sartori, a interpretação tradicional não leva em conta os argumentos destes proprietários, fundados que são em uma ecologia prática – em uma região cujas relações sociais são mediadas pelas commodities para exportação. No livro de Sartori se torna evidente que o liberalismo de Bengala – da Índia, de modo geral -, e de muitos países no Hemisfério Sul, não derivaram tanto das ideias do “centro” capitalista: ao contrário, a mercantilização das relações sociais e o triunfo das ideias político-econômicas em terras agrícolas contribuíram para salvar o liberalismo inglês de sua crise do fim do século XIX. Nas palavras de Sartori, “[…] não podemos compreender o liberalismo das elites sem compreender os liberalismos plebeus que o assombraram […] e nós não compreendemos o liberalismo em qualquer lugar se não entendemos como foi possível que as aspirações políticas dos bengaleses agrários se baseassem nele” (p. 8).
Este livro não é uma história social no sentido clássico do termo. O autor, que contextualiza seus argumentos na teia social, está mais interessado nos argumentos relativos ao trabalho e à propriedade em Bengala que nos arranjos que de fato existiram. Se a troca de commodities e “o processo de longa duração de comercialização e “descomercialização” das relações sociais antes e sob o impacto do capitalismo moderno” (p. 27) são analisados em Liberalism in Empire, cada um dos cinco capítulos tem um lócus que permite compreender mais finamente as relações entre a administração colonial, os grandes proprietários (zemindar), os pequenos proprietários, e as massas camponeses que trabalhavam a terra.
O segundo capítulo é provavelmente o mais forte e convincente. “The Great Rent Case” trata de um processo jurídico que consolidou os direitos de renda dos raiyats relativos aos zemindars; estes últimos beneficiaram-se, até então, na colônia britânica pela exclusividade da renda das terras que eles controlavam, salvo os impostos exigidos pelo governo colonial. Os raiyats, no caso uma espécie de inquilinos, e os seus defensores nos tribunais coloniais mobilizaram o discurso de “custom” (costume) para proteger o valor do trabalho que eles produziam ao trabalharem a terra; o que Sartori mostra é que essa mobilização de uma forma pré-capitalista (costume) não impediu que os mesmos argumentos consolidassem as relações sociais baseadas em normas liberais. Ainda que Sartori aceite, em geral, a afirmação historiográfica de que teria havido uma virada antiliberal na política colonial da Inglaterra no final do século XIX, o autor mostra, todavia, como um retorno ao costume nas colônias podia representar uma intensificação da mercantilização das relações sociais e o fortalecimento dos argumentos político-econômicos, vindos de diversos segmentos da população (p. 38).
O terceiro capítulo, “Customs and the Crisis of Victorian Liberalism”, traz os argumentos sobre o costume, em Bengala, de volta à Inglaterra vitoriana. Com a restrição do acesso à terra e a consolidação de propriedade em poucas mãos na Europa (criando, portanto, uma crise nas condições de possibilidade de uma política liberal, seja em Locke, seja em Mill), a colônia asiática permitiu a emergência de um novo “discurso especificamente liberal de costume” na metrópole (p. 62). O quarto capítulo, “An Agrarian Civil Society?”, trata da questão de como a sociedade civil poderia ser imaginada em uma sociedade agrícola. Enquanto os historiadores Partha Chaterjee e Dipesh Chakrabarty, da corrente de estudos subalternos, afirmam que, em resposta à colonização britânica e à falta de poder, os intelectuais indianos voltaram-se à esfera privada (o lar, a família e a cultura), Sartori mostra que o raiyat bengalês era “[…] o campeão da sociedade civil ao invés do seu crítico” (p. 125). Longe de serem passivos ou resistentes às normas liberais inglesas, estes pequenos proprietários avançaram a causa da economia política com afirmações lockeanas (de novo, sem fazerem referência a Locke) que dependiam do poder do trabalho na constituição da propriedade (p. 126).
O último capítulo, “Peasant Property and Muslim Freedom”, traz os argumentos dos precedentes – todos do período colonial – para o período contemporâneo, como a questão da independência da Índia e de sua partição. Se os primeiros capítulos dependem principalmente de fontes relativas às elites (relatos de processos coloniais, documentos governamentais etc.), este último evidencia um liberalismo “vernacular” – é, no caso de Bangladesh, um liberalismo muçulmano. Ainda que o leitor não especialista certamente vá se perder nos detalhes políticos – a história événementielle, caso se queira – as fontes que Sartori traz à luz, de pensadores populares, fortalecem seu argumento. Ele conseguiu ler as vozes vernáculas por meio dos documentos do período colonial e nos documentos do período mais contemporâneo. Sartori analisa a identificação do agricultor com o Islamismo, produzido por uma moralização dos atributos de ética de trabalho e piedade. Esta moralização serviu para substituir identidades culturais por questões de produção. Infelizmente, Sartori afirma, esta identificação impediu “as trajetórias mais radicais dos discursos liberais de propriedade” (p. 183).
Em Bangladesh, os pequenos proprietários tiveram duas tendências opostas. Por um lado, eles enraizaram a sua propriedade no valor-trabalho, permitindo, assim, o acesso a capital e terra a quem não os detinha anteriormente; por outro lado, eles atenuaram seus argumentos, fixando a propriedade nas mãos de quem já a teve (ou deveria ter), excluindo a possibilidade de um enraizamento político-econômico mais profundo e radical, cujo valor-trabalho pertenceria seja ao trabalhador, seja à sociedade. Em Bengala, como na Inglaterra e em tantos outros lugares do mundo, a história deste pensamento prático, desta ecologia de afirmações e argumentos sobre a propriedade não é menos “intelectual” por se distanciar dos argumentos originários de Locke. Ao contrário, a análise intelectual focada no pensamento ativo de vários segmentos da população permitirá compreender melhor o enraizamento de ideologias e formas de ser. Andrew Sartori, em Liberalism in Empire, nos oferece algumas pistas de por onde e como começar.
Ian Merkel – Doutorando, History and French Studies, Graduate School of Arts and Sciences, New York University. E-mail: [email protected].
El precio de la guerra – TIBLE (RH-USP)
TORRES SÁNCHEZ, Rafael. El precio de la guerra. El Estado fiscal-militar de Carlos III (1779-1783). Madrid: Marcial Pons, 2013. 459 p.p. Resenha de: ÁLVAREZ, José Manuel Serrano. Carlos III y el estado fiscal-militar 1799-1783. Revista de História (São Paulo) n.175 São Paulo July/Dec. 2016.
Pocos conceptos introducidos recientemente en el debate académico sobre la Edad Moderna han sido más influyentes que el del Estado fiscal-militar, desarrollado en la década de 1990 por el historiador británico John Brewer1. La idea que encierra es dilucidar la relación (o relaciones) existente entre la maquinaria fiscal de las grandes potencias del momento (en especial durante el siglo XVIII), y su no menos intrincada política militar, ciertamente expansiva y muy agresiva durante el Siglo de Las Luces. La relación guerra-dinero es aquí la clave. Sin embargo, el fenómeno es más complejo de lo que parece, porque engloba un trinomio que engarzaría los mecanismos administrativos que ponían en marcha la guerra, los instrumentos fiscales en juego para hacer viable la política exterior, y la balanza comercial que nutría, vía presupuestos (y el factor deuda) todo el entramado.
Cuando este concepto fue lanzado se pensó en primera instancia en Gran Bretaña, en donde aparentemente los juegos de poder entre la clase comercial, el Estado y los planes de enfrentamiento militar con Francia y España, descansaban en la sólida idea de establecer un nivel de competencia global en donde la fuente principal era la capacidad de Gran Bretaña para movilizar sus recursos bajo la cortina de la soberanía y legitimidad monárquicas, todo ello aderezado por un Estado centralizado que se alejaba de la vieja idea de que en las islas la maquinaria estatal era pequeña y débil.
Ni que decir tiene que la idea de Brewer fue pronto recogida por los más destacados modernistas españoles, ya que el modelo, lejos de ser limitante, ofrecía la oportunidad de establecer niveles de comparación con otras potencias europeas que disponían (por su propia evolución histórica) de los tres elementos esenciales de análisis: estructura fiscal consolidada, política mercantilista y un Estado centralizado.
El libro del profesor Torres, uno de los mayores expertos españoles del concepto Estado fiscal-militar, ofrece un sugerente, brillante y bien elaborado análisis sobre los mecanismos que tensionaron fuertemente al Estado de Carlos III durante la guerra que de 1779 a 1783 lo enfrentó, nuevamente, a Gran Bretaña. La hipótesis del autor descansa en la idea de si esta guerra jugó un papel dinamizador para el proyectado esfuerzo modernizador (reformista) del país en aras de atlantizar la política global española, y si la movilización de recursos estuvo a la altura de dicha dinámica general.
Esta nueva contribución del historiador español se nutre también de la sólida idea de establecer qué tipo de relaciones hicieron posible que España fuera capaz de enfrentarse con éxito a la maquinaria naval militar británica, en una guerra global de dimensiones imperiales, recurriendo una vez más a fuentes de financiación diversas, implicando a actores sociales muy heterogéneos, y poniendo en marcha una amplia gama de mecanismos de recaudación fiscal. En síntesis, lo que este libro pretende es buscar los elementos comunes entre España y otros Estados europeos respecto de la viabilidad o no del concepto fiscal-militar.
El primer capítulo, dedicado a los donativos al rey, trata de establecer el nivel de vinculación entre la política del Estado y sus súbditos e instituciones más representativas. Obviamente, al profesor Torres no se le escapa la importancia de relacionar la política exterior y sus urgencias monetarias con la compleja dinámica que descansa tras un donativo. Cuando este donativo es voluntario, es posible vindicar una concomitancia de intereses “nacionales” entre el rey y sus súbditos, como así se trasluce en estas páginas, en donde, por sorprendente que parezca, hay una manifiesta buena acogida (incluso entre simples gentes), respecto a los belicosos deseos de su rey. Sin embargo, como bien argumenta el autor, hay fuertes implicaciones políticas cuando los donativos no son precisamente “graciosos”. Al otrora poderoso Consulado sevillano no se le exigió aportación alguna, porque esto habría ameritado una serie de prebendas y contraprestaciones difíciles de asumir por un Estado que tendía (con mayor o menor éxito) a solidificar el sector estatal. Esta idea, que el autor apoya sólidamente con la bibliografía más representativa, en especial la del historiador norteamericano Allan Kuethe, contrasta con lo que ocurría más hacia el oeste.
En América la búsqueda de recursos fiscales fue un factor esencial, máxime si se tiene en cuenta la dimensión imperial de la guerra, y sus objetivos concretos. En estas páginas se argumenta que las peticiones de donativos americanos fueron el instrumento más deseado por Madrid debido a la baja presión fiscal en las colonias y a la mayor capacidad de “negociación” con las instituciones garantes de los recursos fiscales. Aunque esta idea no deja de ser atractiva, no parece que predominen las pruebas en esa dirección. La presión fiscal americana es un elemento de muy difícil cuantificación sin disponer de todos los vectores de análisis. No abundan las series demográficas, y los precios y salarios representan una variable vital de la que solo tenemos series parciales y poco homogéneas para el continente americano. Además, no hay que olvidar el factor de la economía privada que usualmente escapa a la documentación sobre la fiscalidad, así como de las economías de intercambio o trueque, que jamás desaparecieron en amplias zonas americanas. Pese a que los indicios de que el americano pagaba menos impuestos que el peninsular son fuertes, es sumamente complicado relacionarlo con una causa explicativa del recurso a los donativos allí, porque además esto iría contra la idea de que el Estado tendía a modificar sus estructuras de control para hacerlas más centralizadas, fuertes y eficaces.
Y aunque la Corona trató siempre de implementar sus reformas en América con cierta “mano tendida”, Carlos III no era de esos reyes que negociaran políticamente con súbditos que, por lo demás, eran bastante privilegiados. Cuando Madrid solicita donativos a los americanos, no lo hace ni porque sienta la necesidad de negociar con ellos, ni porque tema subir los impuestos y busque un canal alternativo; lo hace porque está en una posición de poder respecto de su plan general de maximizar sus recursos, controlar las instituciones y hacer cómplices a los americanos de un proyecto de esfuerzo común. A Madrid no le tembló el pulso enviando en 1778 al visitador Gutiérrez de Piñeres a la Nueva Granada precisamente para subir los impuestos y aumentar la recaudación fiscal, cosa que acabó afectando a la alcabala, y a los estancos, y provocando la sonora revuelta de Los Comuneros en 1781. De igual forma, los visitadores del Perú (José Antonio Areche), del Río de la Plata (Pedro de Cevallos) y de Venezuela (José de Ávalos), por la misma época, estaban tratando de introducir las mismas recetas por órdenes directas del entonces ministro José de Gálvez, quien en su famosa visita de una década antes había ideado ya el plan de reforma estructural americano, que pasaba por la introducción de la Intendencia, la elevación de impuestos, la intervención estatal de los estancos, la reorganización y centralización administrativa, y el incremento de la recaudación fiscal vía férreo control estatal. Por consiguiente, ¿por qué iba a temer Madrid llevar a cabo la misma política en su virreinato más rico, como era el de Nueva España?
La petición de donativos fue menos petición que exigencia estructural. Madrid sabía dónde estaba el dinero y qué podían obtener a cambio quienes lo otorgaban. No es casualidad que las inmensas cantidades de plata suministradas al rey saliesen del Consulado de México o del Tribunal de la Minería. Estas instituciones, pese a que mostraron prudentemente oposición inicial a las reformas fiscales (¿cómo no?), eran las únicas que tenían capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, pues controlaban los mecanismos comerciales y disponían de capital para prestar. Además, siempre obtendrían suculentos beneficios sociales de entregar dinero a Madrid con aparente parsimonia.2 Una pequeña limitación del profesor Torres es el olvido, en esta sección, de otras áreas americanas que también pasaron por los mismos mecanismos de donativos y préstamos. Disponemos de interesantes trabajos sobre los ámbitos neogranadino o peruano3 que indican una tendencia creciente a ofrecer dineros y no precisamente mediante mecanismos de negociación o temor a introducir o incrementar los impuestos.
El siguiente capítulo dedicado a los impuestos de la Real Hacienda, es un sugerente y bien articulado análisis (tanto cuantitativo como cualitativo) de los recursos que movilizó el Estado para hacer frente a su política fiscal-militar. Epicentro de esta parte del libro son las dinámicas políticas internas en torno a las subidas de impuestos (en especial rentas provinciales) y la poco sutil disputa entre ministros acerca de cómo encajar los diversos factores de ingresos y gastos de una economía que, como la española, tenía limitadas posibilidades de crecimiento industrial. La Extraordinaria Contribución y el tabaco son los dos grandes ejes sobre los que el profesor Torres centra su análisis. En el primer caso, se observó un complaciente dilema de Carlos III (“amor odio” como lo llama el autor) a la hora de crear un impuesto con pretendidas ansias recaudatorias pero de carácter general para Castilla que hacía trasladar hacia la municipalidad gran parte de la presión fiscal, justo el lugar en donde las oligarquías locales llevaban generaciones controlando (y desviando) recursos que eran, de hecho, de la Corona. Aquí la interpretación del autor se centra en la maximización de las opciones recaudatorias mediante la eficacia de los agentes (intendentes) que debían controlarlo. Este punto es especialmente brillante porque conecta el problema fiscal con la pretendida y consabida centralización y eficiencia burocrática, esencial para entender la segunda oleada reformista del siglo XVIII español. El autor demuestra el incremento de la recaudación mediante la Extraordinaria, pero también el fracaso estructural (¿resistencia burocrática?) de un proyecto con aspiraciones globales.
Respecto del tabaco como fuente de ingresos, el Dr. Torres visualiza a la perfección el gran problema de este suculento monopolio. En primer lugar, la perdida batalla contra el contrabando, frente al que la Administración poco podía hacer. La guerra por el control de los precios refleja aquí las angustias de un gobierno por hacer equilibrios en una coyuntura de tendencia alcista en los mismos. Pero por otra parte, pese al notable incremento de la recaudación fiscal del tabaco (en el que las remisiones americanas eran estratégicamente decisivas), el autor fija su atención en el también insoluble problema (nuevo dilema) de aunar la eficacia recaudatoria con el mayor despliegue burocrático anexa a la misma, lo que elevó sustancialmente los gastos internos de este monopolio, sustrayendo, por tanto, gran parte de sus beneficios netos. De igual forma, la obsesiva tendencia de la Corona por controlar la deuda, está aquí íntimamente relacionada con los “dineros del tabaco” pues Carlos III fue recurrente en la consignación de la amortización de la deuda sobre la renta del tabaco, haciendo fracasar las esperanzas “porque el modelo de monopolio que sustentaba la Renta limitó la capacidad de reacción” (p. 280).
El capítulo dedicado a la deuda nacional representa el culmen del libro y uno de los temas focales de la trayectoria del profesor Torres. Una de las tesis principales del autor ha sido la crítica a la posición de los Borbones (en especial en época de Carlos III), frente al problema de la deuda. Ante una tradicional historiografía que achacaba los males de la España de finales del XVIII (y consecuentemente factor clave en su decadencia y atraso posteriores) a la excesiva deuda externa, el autor no solo defiende, sino que además demuestra, que uno de los problemas principales de la época de Carlos III fue el poco flexible uso que se le dio a la deuda a la hora de acometer su política internacional. Temeroso de que el fantasma de la época de los Austrias asomara en el horizonte, el gobierno carolino mantuvo una posición equidistante entre sus compromisos internacionales (que forzaban a buscar crédito y ampliar la deuda de cara a la guerra) y el equilibrio presupuestario (que empujaba hacia la disminución de la deuda nacional). El resultado de estas tensiones fue, a juicio del profesor Torres, una actitud ambivalente y dubitativa respecto de los ingresos y gastos, y cómo gestionarlos. La creación del Fondo Nacional (papel moneda), los Vales Reales o el recurso al crédito internacional fueron elementos enjugados por Carlos III en un desesperado intento por mantener a España frente a Inglaterra en el contexto de la pugna internacional, al tiempo que mantenía la deuda nacional en unos límites sorprendentemente bajos. El uso de los recursos americanos fue, nuevamente, el factor clave, pues estas medidas fueron pensadas tanto para mantener una deuda en límites bajos, como para defender el mercado americano, muy sensible siempre a cambios estructurales en un monopolio férreamente defendido por las clases comerciales allende los mares. La introducción del Reglamento en 1778 representó una medida que pretendía imitar al modelo inglés, pero se introdujo tímidamente y en un momento demasiado tardío.
De estos argumentos extrae la conclusión el autor de que la deuda nacional fue un instrumento político creado artificialmente en un período bélico y sufragada (o avalada) por el tesoro americano, pero nunca representó un mecanismo capaz de sostener en el tiempo (como hizo Inglaterra) un Estado fiscal-militar. O dicho de otra forma, Carlos III hizo frente al problema de la guerra con un uso “mezquino” de la deuda, porque al mantenerla en niveles muy bajos (apenas representaba según el profesor Torres un 7% de los ingresos (p. 407), introduciendo tardíamente reformas de profundo calado en el sistema comercial (Reglamento de 1778), limitando el “secuestro” de caudales a los intereses gremiales, o supeditando la creación de los Vales Reales a una coyuntura concreta (en vez de articularla como un mecanismo estructural de largo recorrido), no se hacía otra cosa que supeditar la política exterior (necesariamente tendente a la deuda) al afán de mantener el equilibrio presupuestario cuando todo indicaba que debía generarse un mecanismo de largo aliento que insertara los intereses privados en los públicos (como se hacía en Inglaterra).
La ausencia de un verdadero Estado fiscal-militar capaz de mantener una deuda flotante importante pero sostenida en la imbricación de los intereses privados del comercio, e inserta en un plan global de respuesta a la política exterior belicosa que no limitara los gastos por la obsesión de la deuda, sino que la empujara como un elemento generador de una dinámica expansiva comercial-financiera-militar, es posiblemente, la conclusión última de este importante libro.
El precio de la guerra representa, sin duda, un sustancial avance en la comprensión del Estado de Carlos III y los problemas de la deuda y la guerra. El carácter interpretativo de la obra, y la brillante exposición argumental, muestran que el profesor Torres domina perfectamente los difíciles hilos que conectan (y no siempre se aprecian) los componentes políticos, con los fiscales y militares. Una obra que, merecidamente, marcará un hito para posteriores estudios globales de similar naturaleza para todo el siglo XVIII español.
1BREWER, John. The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783. Londres: Unwin Hyman, 1989.
2VALLE PAVÓN, Guillermina del. Respaldo financiero de Nueva España para la guerra contra Gran Bretaña, 1779-1783. La intermediación financiera del Consulado de México. In: SANTIRÓ, Ernest Sánchez & CARRARA, Ángelo Alves (coord.). Guerra y fiscalidad en la Iberoamérica colonial (siglos XVIII-XIX). México: Instituto Mora, 2012, pp. 143-166.
3MEISEL, Adolfo. Crecimiento, mestizaje y presión fiscal en el virreinato de la Nueva Granada, 1761-1800 >. In: Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, nº 28, Bogotá, Banco de la República, 2011; O´PHELAN, Scarlett. Las reformas fiscales borbónicas y su impacto en la sociedad colonial del bajo y alto Perú. In: JACOBSEN, Nils & PUHLE, Hans J. (ed.). The economics of Mexico and Peru during the late colonial period, 1760-1810. Berlin: Colloquium Verlag, 1986.
José Manuel Serrano Álvarez – Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Profesor titular en el Dpto. de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. E-mail: [email protected].
As quatro partes do mundo – GRUZINSKI (RH-USP)
GRUZINSKI, Serge. As quatro partes do mundo: história de uma mundialização. Tradução de , Mourão, Cleonice Paes Barreto; Santiago, Consuelo Fortes. Belo Horizonte: Editora UFMG, São Paulo: Edusp, 2014. Resenha de: VELLOSO, Gustavo. O tempo e o mundo: defesa de uma história planetária. Revista de História (São Paulo) n.175 São Paulo July/Dec. 2016.
A edição brasileira do livro As quatro partes do mundo: história de uma mundialização (no original: Les quatre parties du monde: histoire d’une mondialisation) do historiador francês Serge Gruzinski, por associação da Editora UFMG com a Edusp, chega em boa hora. A aceleração do fluxo de pessoas, mercadorias e informações em um contexto de crise sistêmica do capitalismo, o surgimento de novas tensões políticas em fronteiras nacionais de todo o mundo, bem como a austeridade das políticas de imigração nos países centrais (e os diferentes tipos de reação a elas) são fenômenos que têm exigido dos historiadores novos esclarecimentos sobre a dinâmica das transformações originadas mundialmente no contexto das navegações marítimas do século XVI e ainda hoje processadas. A obra de Gruzinski representa um passo significativo nessa direção.
I
A mundialização a que se refere o subtítulo é aquela associada ao poderio da monarquia ibérica – expressão empregada pelo autor sempre na forma singular, realçando a época de unidade das coroas portuguesa e espanhola, entre os anos 1580 e 1640. Todavia, sua análise não se limita aos quadros cronológicos dessa união, pois mobiliza materiais e informações que dizem respeito a outros anos, incluindo anos recentes e contemporâneos à primeira edição do texto (2004). Gruzinski principia, em seu prólogo, chamando atenção para a repercussão que houve da notícia do ataque às torres gêmeas norte-americanas, em 2001, em um restaurante situado em Buenos Aires, cujo garçom lamentou não ter apostado na combinação numérica referente àquele fato, e nas ruas de Belém do Pará, onde a multidão local transformou sua tradicional procissão à Virgem de Nazaré em um verdadeiro protesto contra o atentado. E encerra o livro, em epílogo, problematizando a ideologia contida nas produções cinematográficas da globalização hollywoodiana. Com isso, destaca a multiplicidade e a sincronia dos diferentes tempos históricos, as mestiçagens e a espontaneidade das reações travadas contra as dominações mundiais de ontem e de hoje.
O autor cuida, no entanto, para que o leitor não identifique na mundialização ibérica a origem imediata da mundialização americana, pois se trataria antes de um antecedente remoto. A razão do paralelo consiste em “mostrar que a história permanece uma maravilhosa caixa de ferramentas para compreender o que está em jogo, há vários séculos, entre ocidentalização, mestiçagem e mundialização” (p. 23). Em outras palavras, a história da monarquia ibérica serve-nos como um admirável “teatro de observação” (p. 45) do mundo presente. Comprometido criticamente com o seu próprio tempo, recusando instrumentalizar a disciplina histórica apenas para a mera fruição erudita, Gruzinski não deixa por isso de respeitar as particularidades e a historicidade do seu objeto principal, isto é, o estreitamento dos laços entre as “quatro partes do mundo”, operado sob o domínio da monarquia católica durante os séculos XVI e XVII.
II
A obra se divide em quatro partes. Na primeira (“A mundialização ibérica”, capítulos 1 a 3), o autor precisa os contornos da categoria “mundialização”, em uma conceituação intimamente associada a uma certa noção de “modernidade”. No seu entendimento, “mundialização” se refere à escala planetária dos horizontes de atuação e às interconexões humanas, materiais e simbólicas que se construíram sob o marco da dominação colonial da monarquia católica nos continentes europeu, africano, asiático e americano. A modernidade desse processo consiste no fato de que teria então aflorado nos diferentes agentes históricos “um estado de espírito, uma sensibilidade, um saber sobre o mundo nascidos da confrontação de uma dominação de visão planetária com outras sociedades e outras civilizações” (p. 32). Uma modernidade marcada pela geração de mediadores sociais e espaços intermediários de convergência do “local” com o “global”, além de choques culturais, dominação, adaptações, mestiçagem e resistências.
A repercussão, no México, de notícias como a da morte de um rei francês em 1610, o interesse de um escritor mestiço da Nova Espanha pelas coisas do Japão, os deslocamentos de homens e mulheres pelos mares, a busca e o translado de relíquias provenientes dos mais exóticos lugares, a difusão das línguas europeias, a circulação transoceânica de livros que muitas vezes propagandeavam saberes adquiridos por viajantes nas fronteiras do mercado mundial, o alargamento dos limites geográficos, o compartilhamento global de novos hábitos e formas de consumo: eis os indícios daquilo que Gruzinski caracterizou como “mobilização”. Esse conceito, emprestado do filósofo alemão Peter Sloterdijk, permite ao autor superar o caráter mecânico e eurocêntrico do vocábulo “expansão”, à medida que considera, além do mero deslocamento territorial, a expressão dos movimentos subjetivos, entusiasmos e precipitações de seres humanos, coisas materiais e saberes cambiados entre os hemisférios.
Na segunda parte do livro (“A cadeia dos mundos”, capítulos 4 a 6) encontramos o exame detido e aprofundado das conexões entre os continentes, bem como os choques e o caráter mestiço das formações sociais e culturais resultantes daquele movimento. Focalizando inicialmente a Cidade do México – “onde se modelam os liames entre as quatro partes do mundo”, cenário privilegiado “de coexistência, de afrontamentos e de mestiçagens” (p. 99) -, o autor realiza uma breve incursão sobre o mundo do trabalho para enfatizar o papel da tradição artesanal indígena no favorecimento da absorção pelos nativos dos ofícios europeus. Em seguida, narra a mestiçagem linguística operada no interior dos obrajes e dos ateliês, graças à atuação de mediadores sociais como espanhóis falantes do náuatle, religiosos, elites indígenas hispanizadas, mestiços e índios trabalhadores manuais. A heterogeneidade étnica e a porosidade social não foram capazes de evitar, no entanto, as “vias tortuosas” da mudança. Ora, à maior parte dos nativos foram vedados os meios de participação na estrutura monárquica que não fosse pelo oferecimento de força de trabalho. E a nova plebe constituída no interior das grandes cidades se envolveu, por vezes, em revoltas e motins de grande dimensão, contra o fisco e/ou mudanças na organização da monarquia.
No quadro da mundialização/mobilização ibérica, argumenta Gruzinski, a visão de mundo que orienta os esforços humanos vai progressivamente perdendo sua configuração “estritamente europeia para se tornar ocidental” (p. 126). Em outras palavras, a Europa deixa de ser o núcleo exclusivo da monarquia para se somar (na condição de dominante, não resta dúvida) a tantos outros centros globais então em franco crescimento: “[Pode-se] perguntar se a capacidade de multiplicar as centralidades meio reais, meio virtuais não é uma das molas da mundialização ibérica” (p. 127). Cidade do México, Lima, Potosí e Goa aparecem como espacialidades mestiças que sintetizam em seus interiores a totalidade dos nexos que unificam o planeta debaixo do poder dos reis Felipes, pois abrigam redes humanas, mercantis, de notícias, livros e espetáculos. Nela se evocam lembranças da África, fascinam-se pelos objetos e fábulas da Ásia, colam-se imaginários provenientes de toda parte, enfim, entrelaçam-se perspectivas de mundialização com referenciais advindos dos mais diferentes ideários pré-hispânicos.
Como uma ponte que atravessa de uma única vez todos os oceanos, o caráter compósito dessas ligações era “ao mesmo tempo físico, material, psicológico e conceitual” (p. 156). Instituições, práticas e crenças foram transferidas juntamente aos seus representantes para materializar o catolicismo no mundo extra europeu, mas não sem antes sofrer transformações e ajustes conforme as especificidades locais de cada região. Histórias, trajetórias, ritmos de vida, memórias e riquezas, à medida que sincronizados, fizeram-se modernos.
Os agentes privilegiados da mundialização são objeto da terceira parte da obra (“As coisas do mundo”, capítulos 7 a 11). Homens como o médico Garcia de Orta e o dominicano Gaspar da Cruz, ambos portugueses, funcionários da Igreja ou da Coroa, assim como administradores, militares, cosmógrafos, engenheiros e literatos, instrumentalizaram suas experiências vivenciadas em locais como Goa e Nova Espanha para cumprir objetivos ao mesmo tempo práticos e políticos. As informações e os conhecimentos feitos circular por esses hombres expertos, de um lado, serviam como denúncia da idolatria e dos maus costumes das diversas castas de gentio, e fortaleciam os poderes real e eclesiástico sobre as localidades fronteiriças. Unir os mundos, diz-nos o autor, era antes de mais nada “fazê-los comunicar” (p. 235). Inventariando as características das sociedades e da natureza (americanas, africanas e asiáticas), recolhendo informações sobre as culturas humanas, as condições geográficas, os animais, as plantas, as religiões e as medicinas locais, por exemplo, os saberes se convertiam em verdadeiras ferramentas de poder.
Com a autoridade dos escritores clássicos, ademais, os experts rivalizavam entre si pela defesa da credibilidade da própria experiência e se esforçavam para interpretar a diversidade das fontes, das escritas e das histórias indígenas com as quais deparavam. É certo que esse movimento demonstra ter existido um certo grau de receptividade frente aos “outros mundos”, mas havia limites quase nunca transpostos, expressos sobremaneira no tom crítico com o qual tais observadores se posicionavam diante daquelas outras realidades. Sua tarefa era dupla, “pois lhes é preciso tanto conectar-se com o passado autóctone, quanto com a história cristã e europeia” (p. 280). Eram, acima de tudo, servidores da monarquia, em cujo interior se situavam e para a qual dominação direcionavam primordialmente os seus esforços e a sua sempre enfatizada fidelidade. Especialmente quando se tratasse de elites católicas, à maneira de gente como Martín Ignacio de Loyola, Rodrigo de Vivero, Salvador Correia de Sá e Benevides e os poetas Bernardo de Balbuena e Luís de Camões.
Gruzinski delineia com perfeição as mestiçagens, acomodações e resistências indígenas travadas no contexto da colonização ibérica, trabalhando com a justa dosagem entre o apontamento desse tipo de fenômeno e o reconhecimento do processo de dominação mundial levado a cabo concretamente pela monarquia. Na verdade, trata-se para o autor de esferas indistintas, pois a perspectiva metodológica que adota é a da totalidade, distanciando-se da tendência historiográfica contemporânea para descrever “resistências” desconexas de processos históricos mais amplos, isto é, concretos ou totais. A quarta e última parte do livro (“A esfera de cristal”, capítulos 12 a 16), tem por princípio enfatizar os filtros e bloqueios aos cruzamentos, as impermeabilidades sociais da realidade observada e demonstrar que, afinal: “Toda mestiçagem tem limites” (p. 352). Os objetos nativos, quando absorvidos pelo universo europeu, modificavam-se para satisfazer o gosto e o interesse da sociedade europeia. A arte indígena, tornada cristã e/ou inserida nos circuitos modernos de valorização, era neutralizada e reelaborada com traços e formas de matriz europeia, transformando-se em arte ocidental. “A mundialização ibérica mestiça-se ocidentalizando-se, e ocidentaliza-se mestiçando-se” (p. 349). Os pintores europeus que viveram na Nova Espanha fizeram questão de destacar a fidelidade à tradição europeia em suas telas, assim como as elites urbanas (por vezes até mesmo as indígenas) procuraram convencer de que foram europeizadas por meio de suas produções, o que não excluiria uma certa apropriação criativa dos recursos locais. O latim, a gramática e os emblemas europeus teriam sido apenas pontualmente tocados pelas influências léxicas indígenas, ao menos no que tange àquele momento histórico particular. O aristotelismo – “a arma de uma fortaleza letrada que ataca em todas as direções” (p. 434) -percorreu os continentes e permaneceu grosso modo impenetrável pelas filosofias e sistemas de pensamento locais, por mais admiráveis que estes tenham parecido a determinados observadores estrangeiros.
A análise toda culmina ainda em uma nova demarcação conceitual, que consiste na distinção entre “globalização” e “ocidentalização”. Como uma “águia de duas cabeças”, a mundialização ibérica gestou e abraçou esses dois processos simultâneos, na prática indissociáveis, mas ainda assim com dimensões e escalas diferenciadas. De um lado, a globalização, “fundamentalmente política” (p. 426), diria respeito à projeção para o exterior dos instrumentos intelectuais e comunicativos europeus, ignorando as temporalidades sociais distintas e “cuidando para que nada de essencial fosse contaminado pelo exterior” (p. 425). De outro, a ocidentalização se manifestaria no caminho da dominação colonial propriamente dita, esta sim amplamente permeada tanto pela mestiçagem quanto pela aculturação.
III
O autor se posiciona favoravelmente à perspectiva das connected histories, conforme proposta pelo historiador indiano Sanjay Subrahmanyam. Na sua interpretação, “trata-se de apreender ou restabelecer as conexões surgidas entre os mundos e as sociedades, um pouco à maneira de um eletricista que viria reparar o que o tempo e os historiadores desuniram” (p. 45). E, uma vez assumida essa ótica, posiciona-se de maneira crítica frente às principais tendências historiográficas hoje vigentes. O pós-modernismo, ou “retóricas da alteridade”, para ele, ignora as continuidades e correspondências concretas entre os seres e as sociedades, e com isso se soma à chamada micro-história na sua incapacidade de alargamento dos horizontes de observação. A história comparada lhe parece reduzir-se às aproximações e ser excessivamente carregada de pressupostos vazios. Sobre a world history, apesar do importante legado que deixou para o olhar sobre a transposição dos oceanos, julga ser ainda permeada pelo etnocentrismo, sacrificando a profundidade das situações particulares e se mantendo demasiadamente presa aos horizontes próprios da Europa ocidental. A este defeito tampouco fugiriam os cultural studies, os subalternal studies e os postcolonial studies estadunidenses da década de 1980. Ao marxismo, não dedicou mais que uma tímida nota (p. 464, nota 97), ainda que simpática, apontando a existência de uma releitura de Marx aplicada ao fenômeno da mundialização. O alvo principal de Gruzinski, todavia, contra o qual direcionou com maior vigor o potencial crítico do seu estudo, é o reducionismo das histórias nacionais em suas diferentes manifestações. Contra estas, não hesitou em reconhecer, ademais, a contribuição de pesquisadores de renome, como Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein, cujas obras abriram as vias para o reconhecimento de que a história da época moderna é a história das múltiplas conexões entre o local e o global; não é uma história nacional, mas planetária.
Os méritos de “As quatro partes do mundo” ultrapassam as próprias conclusões do livro e o fato de se travar ali um debate historiográfico amplo. Sua maneira de dispor e mobilizar as fontes primárias é igualmente digna de reconhecimento. Gruzinski soube equilibrar com perfeição e harmonia, de um lado, a erudição empírica e, de outro, o ímpeto pelo rigor conceitual e pelas interpretações de maior alcance. Apresenta um olhar permanentemente atento ao detalhamento dos materiais examinados, que comportam desde crônicas, relações e outros testemunhos escritos, até a poesia, os quadros, tratados, objetos de museu, códices, planos, painéis, biombos, inscrições, vasos, gravuras e afrescos. De leitura fluente e agradável, a edição presente conta ainda com a reprodução de uma iconografia cuidadosamente selecionada e distribuída entre os capítulos, grande parte dela problematizada e discutida no próprio texto onde se coloca.
Além disso, do ponto de vista metodológico, o leitor encontrará uma visão rica de processo histórico e uma sensibilidade extraordinária para o conflito. Sua narrativa não é a de uma estrutura estática, mas sim de uma totalidade em permanente formação e mudança, em processo contínuo (mas não linear), o que fica ilustrado na repetição do sufixo indicativo de ação nos seus mais importantes conceitos e categorias: mobilização, mundialização, globalização, ocidentalização. A continuidade dos referidos processos não exclui que eles fossem também, ao mesmo tempo, pluridimensionais e repletos de tensões. Assim, o fenômeno da mestiçagem do qual dão conta os numerosos eventos levantados por Gruzinski (tocantes a cada um dos quatro continentes) não seria menos que a ebulição dos complexos antagonismos entre expectativas, lugares e papéis sociais gerados no seio da mundialização ibérica. Expressava, pois, não qualquer tipo de harmonia ou conformidade social entre dominados e dominadores, mas as contradições inerentes ao processo mesmo de dominação, que envolviam toda a variedade de agentes governados pela monarquia, fossem eles europeus, nativos ou crioulos.
É verdade, porém, que de uma obra que se apresenta como a “história de uma mundialização” poderíamos esperar uma incursão mais aprofundada sobre determinados domínios que parecem-nos tão fundamentais para a compreensão da época quanto aqueles dos quais tratou Gruzinski com efetivo zelo. Por exemplo, não há mais que breves pinceladas sobre alguns dos diferentes regimes de exploração do trabalho compulsório em maior ou menor medida relacionados àquela mundialização (escravidão, encomienda, mita, administração particular, repartimiento, assalariamento, “segunda servidão” etc.). Ou então se poderia alegar que, entre todas as áreas americanas tocadas pela monarquia dos Felipes, o autor claramente privilegiou a Nova Espanha em suas remissões (ofuscando territórios de menor relevância econômica para os reis ibéricos, onde as conexões globais eram decerto menos visíveis), o que pode ser explicado pela maior familiaridade com os materiais empíricos que lhe correspondem, dada sua experiência anterior com as investigações daquela região.
Mas o que torna as teses de Gruzinski provocantes é justamente o fato de o autor tê-las apresentado como propostas abertas, porventura incompletas, dispostas à complementação e ao aperfeiçoamento. Abertura esta que, por fim, se estende para o âmbito do tempo imediato, sendo impressionante a atualidade do livro (editado primeiramente em 2004, já o dissemos) em um estágio da globalização em que, se ainda não presenciamos um novo ataque a edifícios norte-americanos, temos sido alarmados diante de explosões e fuzilamentos em lugares como a sede de um jornal, um teatro e as proximidades de um estádio de futebol, todos na França. Para não falar, obviamente, nas irrupções menos midiáticas sobre Gaza e Iêmen, sobre os territórios dos Mapuche e dos Guarani Kaiowá ou, quem sabe, sobre a Rocinha e o Morro do Alemão.
Gustavo Velloso – Mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E-mails: [email protected]; [email protected].
Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas – HERZOG (RH-USP)
HERZOG, Tamar. Frontiers of possession: Spain and Portugal in Europe and the Americas. Cambridge: Harvard University Press, 2015. 384 p.p. Resenha de MOURA, Denise Aparecida Soares de. Uma contribuição para a pesquisa e o debate sobre a formação (Trans) territorial da Iberia. Revista de História (São Paulo) n.175 São Paulo July/Dec. 2016.
Este é um livro sobre a formação territorial de Portugal e Espanha na época moderna em dois continentes: na Europa e na América. A autora, Tamar Herzog, professora na Universidade Harvard e especialista em temas da história administrativa e da formação das identidades na América hispânica, com ênfase na história do vice-reinado do Peru, abordou este que é um dos temas, desde longa data, focalizado por grandes nomes da historiografia luso-brasileira,1 do ponto de vista dos múltiplos agentes sociais que viviam nos territórios de fronteira e que estiveram mais diretamente envolvidos com questões de posse e uso da terra.
Para Herzog a história da formação territorial ibérica não pode ser reduzida ao protagonismo do Estado, dos tratados negociados nas mesas diplomáticas internacionais, aos combates no front ou à constituição dos estados nacionais. Ao longo do foco narrativo e analítico de seu livro, o ambiente da fronteira aparece na condição de tribuna democrática, na qual fazendeiros, criadores, nobres, clero, párocos, missionários, povoadores, governadores, autoridades municipais e militares expressaram suas noções de direitos fundiários, recorrendo ao argumento dos direitos de uso antigo e costumeiro. Estes sujeitos sociais, ao longo do tempo, fizeram e desfizeram alianças para defender estes direitos que muitas vezes prescindiram da sua condição de vassalo a uma ou outra coroa, pois o que importava era o direito de posse da terra que, muitas vezes, se estendia para o território vizinho.
Para alcançar este mosaico social e inventariar diversos argumentos defensivos de direitos a autora pesquisou em volumosa e variada documentação, desde relatos de exploradores e missionários, correspondência político-administrativa e papéis judiciais existentes em arquivos de Portugal e Espanha e nos atuais países do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, que foram domínios territoriais destas monarquias no ultramar. A especialização da autora na história político-administrativa do vice-reinado do Peru, com foco na região de Quito, certamente influenciou a concentração de suas pesquisas de campo na região da Amazônia e Paraguai para a elaboração deste livro.
Contrastando e inter-relacionando o problema da formação territorial ibérica na Europa e na América, a autora verificou que, embora em ambos os continentes os agentes sociais tenham tido papel proativo, houve diferenças nos argumentos empregados para a defesa de direitos de uso da terra. Assim, na América, os monarcas de ambas as coroas, embora não possam ser vistos como força predominante das definições territoriais, se envolveram mais com esta questão tanto em virtude da vastidão dos territórios sobre os quais teriam de confirmar sua soberania como devido a necessidade de promoverem a incorporação de populações nativas. Como resultado, a definição das fronteiras na Europa foi menos tensa e pouco evocativa da condição de súdito português ou espanhol (p. 245).
Questões como estas estão distribuídas ao longo de uma obra dividida em duas partes contendo dois capítulos cada uma. O foco narrativo do livro é caracterizado por dois componentes que trazem preocupações teóricas com a própria escrita da história ibérica. Ou seja, a autora inverteu o paradigma narrativo Europa-América, começando a discussão do problema a partir desta última. Ao mesmo tempo, preocupou-se em romper com o modelo da divisão da história ibérica entre Portugal e Espanha, optando por tratar os dois espaços em conjunto.
No primeiro caso, seu objetivo foi o de mostrar que a “América não apenas precede a Europa, mas também introduz muitas das questões” que se tornaram objeto de sua investigação (p. 12). O efeito desta inversão em suas conclusões foi o de que as tensões e os debates dos vários agentes sociais sobre a formação territorial no Novo Mundo tiveram ressonância no Velho Mundo. A preocupação excessiva em defender este argumento levou a autora a descrever minuciosamente situações individuais de conflitos de terra em municípios de fronteira na península Ibérica, o que tornou o foco narrativo da segunda parte repetitivo. Um número menor de situações relatadas teria sido convincente, tendo em vista o volume da documentação que a fundamenta.
No segundo caso, ao tratar da história de Portugal e Espanha de maneira articulada e simultânea, a autora explicita um posicionamento teórico que está por trás dos trabalhos contemporâneos em história ibérica e que vem, desconstruindo suas fronteiras. Adeptos desta metodologia e abordagem têm recuperado a narrativa da Hispania, que persistiu para além da dissolução da União Ibérica e previa uma relação de interesses comuns entre os reinos da península Ibérica. Ainda no século XIX e sempre combatida pelos discursos nacionais, esta perspectiva de pensamento persistiu através do movimento denominado Iberismo e que pretendia a fusão de Portugal e Espanha em todos os seus aspectos.
Na primeira parte da obra, a histórica disputa entre as coroas de Portugal e Espanha pelo controle das terras da América, que remonta à assinatura do Tratado de Tordesilhas (1494), é apresentada criticamente a partir de dois planos: o do conflito das interpretações hispânicas e portuguesas das bulas, tratados e doutrinas e o das relações que estabeleceram com as populações indígenas.
Como observou a autora, as limitações de conhecimento geográfico no período, derivadas do próprio nível científico e técnico da época, contribuíram para dar vazão a muitas e variadas interpretações das determinações dos tratados e para a produção de muitos relatos, bem como debates que opuseram geógrafos e práticos do território (sertanistas) em relação ao correto curso de rios e a localização de sinais topográficos, como montanhas, e que poderiam definir os legítimos direitos fundiários de cada uma das coroas.
Entre seus súditos residentes nas zonas fronteiriças surgiram vários argumentos que poderiam endossar a defesa dos direitos de posse do território, como o do trabalho na terra, que para alguns deveria ser permanente e para outros poderia ser sazonal, como pescar, caçar, criar gado e coletar madeira; a navegação de rios, o comércio com populações nativas ou a abertura de estradas. Na medida em que estes usos e mobilidade fluvial ou terrestre inflamavam os debates, ambas as coroas se mantiveram alertas quanto à movimentação de comerciantes, sertanistas e padres missionários nas áreas em disputa, o que deu origem a um dos agentes sociais mais intrigantes e difíceis de biografar, ou seja, os espiões, que poderiam ser soldados ou sertanistas provenientes da capitania de São Vicente.
Nos arquivos e bibliotecas, a autora reuniu consistente volume de papéis públicos, na forma de correspondências trocadas entre autoridades e relatos de expedições que procuravam demonstrar a precedência na ocupação e, portanto, os direitos de posse territorial defendidos por ambas as coroas.
No segundo capítulo desta primeira parte, é discutida a relação entre conversão, vassalagem e direitos territoriais, através do trabalho intelectual e evangelizador dos missionários portugueses e espanhóis de várias ordens religiosas, cujo resultado garantiu a ambas as coroas argumentos que sustentaram suas reivindicações de direitos territoriais. Alguns desses missionários, como o nativo da Boêmia Samuel Fritz, se tornaram ícones na defesa de direitos territoriais dos espanhóis ou de denúncia das usurpações territoriais portuguesas entre seus contemporâneos e foram tidos como grandes geógrafos e reconhecedores de territórios.
O processo de formação territorial ibérica na América, portanto, contou com a efetiva atuação desses missionários que se estabeleceram justamente na região supostamente atravessada pelo meridiano de Tordesilhas, como a da Amazônia e das províncias do Paraguai. Segundo a autora, as coroas de Portugal e Espanha contavam com o poder dos missionários de persuadir os índios não somente a mudarem suas crenças religiosas, mas também a seguirem religiosos de naturalidade hispânica ou portuguesa, pois isto lhes asseguraria direitos de posse sobre territórios (p. 73).
Esta constatação estende a atuação dos missionários do campo da evangelização para o da formação territorial. Assim, suas rivalidades com outros agentes sociais na colônia não se restringiram à sua posição contrária à escravização indígena, como mostraram clássicos da historiografia.2 Várias autoridades régias, como governadores, encarregados de defender a soberania de suas coroas na América, vigiaram os movimentos dos missionários nas áreas de fronteira, classificando-os como ameaçadores da ordem vigente e, com isto, reunindo argumentos para combatê-los.
A conversão era útil para o Estado porque resultava em terras e vassalos, mas introduzia também outro problema: o do direito dos nativos a terra, um dos temas que parece ter aquecido os debates dos séculos XVII e XVIII. Com a emergência de novas diretrizes jurídicas no campo das relações internacionais, baseadas no princípio do direito natural, o conceito de soberania política sobre territórios passou a ser mediado pelo de ocupação, o que derrubou a antiga tradição de legítimo poder concessionário do papado.
Assim, as discussões sobre direitos a terra passaram a girar em torno da definição do tipo apropriado de sua ocupação e, por este viés, ambas as coroas conseguiram deslegitimar os direitos de posse dos índios convertidos. As distâncias de terras desocupadas que deveriam existir entre um grupo indígena e outro, por exemplo, consideradas espaços para caça ou para extração de seus recursos foram consideradas terras vacantes e sujeitas à ocupação pela Coroa, por exemplo. Deste modo, a ordem régia encontrou uma solução para conciliar conversão com concentração de terras, o que no longo prazo influenciou a estrutura fundiária desigual e conflituosa da América ainda nos dias de hoje.
Da formação ibérica na América a autora deslocou o seu foco, na segunda parte da obra, para o espaço da península Ibérica e nesta identificou uma série de similaridades, do ponto de vista da multiplicidade de agentes sociais e a defesa de direitos de posse territorial segundo argumentos específicos. Embora Portugal e Castela negociassem suas fronteiras desde a Idade Média, municipalidades, igrejas, contrabandistas e gente que se denominava fronteira – que vivia e se definia deste ponto de vista geográfico – questionavam divisas e negavam que sua identidade deveria coincidir com divisões político-administrativas oficiais.
Ponto alto desta parte são as constatações da autora sobre as diferenças no processo de formação territorial ibérica na América e na península. Na América, território do Novo Mundo, os conflitos por terra eram mais recentes, contavam com alianças interétnicas que se faziam e desfaziam circunstancialmente e os europeus tiveram pela frente a tarefa de apagar a história do continente, o que significou construir imagens e argumentos que suprimissem os direitos de posse dos antigos habitantes do território.
Esta última questão pode ter tido algum tipo de similaridade com o contexto das guerras de reconquista, quando os ibéricos expulsaram os mulçumanos da península. Em ambos os continentes, houve um processo de detração dos habitantes das fronteiras – fronterizos. Com esta discussão a autora cumpre sua promessa metodológica apresentada na introdução, fazendo com que as formações territoriais ibéricas nas duas pontas do Atlântico enriqueçam-se mutuamente.
Ainda nesta parte, a imagem da hidra, personagem da mitologia grega com várias cabeças, as quais sendo cortadas voltavam a nascer, serviu para indicar quão complexos foram estes conflitos, mesmo quando as divisões entre os dois reinos foram definidas. Municípios como Aroche e Encinasola (Castela) ou Serpa e Moura (Portugal), por exemplo, revezaram entre alianças e conflitos em relação à garantia de uso de suas terras, importando menos a que coroa deviam jurar vassalidade.
No bojo dos conflitos entre estas municipalidades, a autora inova ao demonstrar que as preocupações com as divisões das linhas de fronteira eram mais oriundas das populações locais do que das coroas. As fronteiras não foram, portanto, invenção dos estados ou dos monarcas, mas das populações que desejavam definir onde seu gado podia pastar, onde podiam plantar ou coletar madeiras (p. 184).
Este é um livro, portanto, cujas diretrizes teórico-metodologicas estão afinadas com uma das mais recentes abordagens da história ibérica crítica dos esquemas analíticos nacionais e que podem ser encontradas em trabalhos individuais, de grupos de discussão3 e em iniciativas de acadêmicos que optam pelo agregamento em rede. Herzog, no caso, é uma das coordenadoras da Red Columnaria.4
Mesmo diante deste volume de adeptos da ideia do tratamento articulado entre as histórias de Portugal e Espanha a autora considera que poucos ainda parecem dispostos a adotar o conceito de Ibéria como unidade de análise (p. 250) fora do convencional intervalo cronológico da União Ibérica (1580-1640).
Na tradição dos estudos latino-americanos nos Estados Unidos este trabalho de Herzog continua com perspectivas já apresentadas por certo autor na década de 1970, em tese ainda inédita e que discutiu a formação territorial da região do Madeira-Mamoré e Amazonas através também da atuação de párocos, índios, sertanistas e jesuítas, enfatizando a importância de uma questão como esta ser focalizada para além do mundo de diplomatas, conselheiros do rei e autoridades régias.5
Embora densamente fundamentado em evidências empíricas e bibliografia pertinente ao tema central da pesquisa, o livro é deficitário em relação à historiografia brasileira recente, o que chama atenção porque a proposta da autora é trabalhar a formação territorial também de Portugal na América. Um déficit como este poderia ter sido evitado com o rastreamento de artigos publicados pelas principais revistas acadêmicas em História do Brasil, do mesmo modo como a autora fez exaustivamente nas revistas em língua hispânica e inglesa.
De modo geral, a formação territorial é pensada a partir das áreas de fronteira. Mas, nos ambientes urbanos e das fronteiras internas (os sertões), observa-se um fenômeno bastante semelhante ao verificado por Herzog, ou seja, as articulações e rearticulações dos diferentes agentes sociais, independentes de hierarquias e identidades regionais, para expressão de suas noções – também variáveis no tempo – de direitos de uso da terra ou dos “chãos urbanos”, nas vilas e cidades coloniais, o que sugere que o desenho urbano dos municípios também não foi mera imposição dos poderes públicos.6
A autora conclui que o processo de definição de fronteiras na península Ibérica foi menos “nacionalizado” na Europa do que na América. Especialmente para o caso ibérico mostrou como a condição fronteiriça foi uma característica predominante das autopercepções e autodefinições sociais. Neste sentido, os indivíduos foram mais próximos de seus vizinhos regionais do que de uma estrutura política como o Estado, muitas vezes com suas instituições e agentes situados geograficamente – para não dizer também do ponto de vista das aspirações e ideias – tão distantes das populações residentes nos municípios.
Mas conforme demonstram textos de representações escritos pelas câmaras, esta situação foi muito semelhante às ocorridas em todas as partes da América portuguesa, nas quais também são observadas autodefinições que evocam o local (o ter nascido na cidade ou vila, a condição de fronteiriço, de ser republicado de câmara situada em tal ou qual vila). Neste caso, também na América portuguesa a definição de suas fronteiras foi tão pouco “nacionalizada” como na península.
Para finalizar pode-se dizer que o estilo analítico narrativo da autora em alguns momentos soa imperativo, especialmente quando quer enfatizar a ação dos múltiplos agentes sociais e sua argumentação na defesa dos direitos de posse, em detrimento dos tratados, tidos como “futilidades jurídicas” (p. 12) ou concluindo por sua “completa incapacidade” de solucionar as questões de fronteira e posse.
Entretanto, não podem ser minimizadas as forças de influência das novas tendências político-ideológicas anunciadas desde os acordos de Westfália (1648), que levaram à modernização das relações internacionais e valorização da soberania dos estados baseada no direito natural. Neste sentido, mais salutar seria ver os tratados como uma das vozes na tribuna da formação territorial ibérica, lembrando ainda que todos os agentes sociais, desde o índio ao criador de gado mais abastado, fizeram uso das instituições do Estado e dos papéis públicos para expressarem suas concepções de direito.
O trabalho de Herzog reveste-se de importância acadêmica e social. Para os historiadores profissionais apresenta rigor, coerência na aplicação de uma perspectiva analítico-metodológica. É profunda na pesquisa empírica e inova ao falar de formação territorial não do Brasil, mas de Portugal na península e na América. Para os estudantes de graduação em História esta é uma rica e provocante maneira de pensar a história do Brasil na época moderna e que contribui para a formação de percepções cada vez menos regionalizadas.
Do ponto de vista social, este trabalho traz à tona questões da história da América do Sul que ainda assombram, como a do acesso dos segmentos sociais menos privilegiados a terra, historicamente marcado por conflitos e violências.
Referências
ABREU, C. A. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. [ Links ]
CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madri. São Paulo: Funag, 2006. 2 vol. [ Links ]
DAVIDSON, David Michel. Rivers and empire: the madeira route and the incorporation of the Brazilian far west, 1737-1808. Dissertação em História, História da América Latina, Yale University, 1970. [ Links ]
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções. 3ª edição. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1990. [ Links ]
MONTEIRO, John. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. [ Links ]
MOURA, Denise A. Soares de. An expanding mercantile circuit in the South Atlantic in the late colonial period (1796-1821). E-Journal Portuguese History, vol. 13, n. 1. Brown: Brown University, 2015, p. 68-88. Disponível em: Disponível em: https://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue25/pdf/v13n1a03.pdf . Acesso em: 17/08/2016. [ Links ]
______. Disputas por chãos de terra: expansão mercantil e seu impacto sobre a estrutura fundiária da cidade de São Paulo. Revista de História, n. 163. São Paulo: FFLCH, USP, jul/dez 2010, p. 53-80. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/19169/21232. Acesso em: 03/08/2016. [ Links ]
PIMENTA, João Paulo. A independência do Brasil e a experiência hispano americana (1808-1822). São Paulo: Hucitec, 2015. [ Links ]
PRADO, Fabrício. In the shadows of empires: trans-imperial networks and colonial identity in Bourboun Rio de la Plata (c. 1750-c. 1813). Dissertação em História colonial, História da América Latina, Emory Universtiy, 2009. [ Links ]
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Conflito de terras numa fronteira antiga: sertão do São Francisco no século XIX. Tempo n. 7. Rio de Janeiro: UFF, 1999, p. 9-28. Disponível em: Disponível em: http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg7-1.pdf . Acesso em: 03/08/2016. [ Links ]
1Exemplos de obras clássicas que se envolveram com este tema de maneira ensaística ou aprofundada em sólida pesquisa empírica: ABREU, Capistrano. Caminhos antigos e o povoamento do Brasil. In: Idem. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975; HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções. 3ª edição. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1990; CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madri. São Paulo: Funag, 2006. 2 vol.
2MONTEIRO, John. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
3Destaco o grupo de discussão que se reúne anualmente no The College William & Mary, coordenado por Fabrício Prado e que tem dado tratamento trans-imperial à história do rio da Prata em especial. Destaco ainda trabalhos como: PRADO, Fabrício. In the shadows of empires: trans-imperial networks and colonial identity in Bourboun rio de la Plata (c. 1750-c. 1813). Dissertação em História colonial, História da America Latina, Emory University, 2009; PIMENTA, João Paulo. A independência do Brasil e a experiência hispano americana (1808-1822). São Paulo: Hucitec, 2015; MOURA, Denise A. Soares de. An expanding mercantile circuit in the South Atlantic in the late colonial period (1796-1821). E-Journal Portuguese History, vol. 13, n. 1. Brown: Brown University, 2015, p. 68-88. Disponível em: https://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue25/pdf/v13n1a03.pdfhttps://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue25/pdf/v13n1a03.pdf. Acesso em: 17/08/2016.
4Disponível em: http://www.um.es/redcolumnaria/index.php?option=com_content&view=article&id=6&lang=en. Acesso em: 03/08/ 2016.
5DAVIDSON, David Michel. Rivers and empire: the madeira route and the incorporation of the Brazilian far west, 1737-1808. Dissertação em História, História da América Latina, Yale University, 1970.
6SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Conflito de terras numa fronteira antiga: sertão do São Francisco no século XIX. Tempo n. 7. Rio de Janeiro: UFF, 1999, p. 9-28. Disponível em: http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/artg7-1.pdf. Acesso em: 03/08/2016; MOURA, Denise A. Soares de. Disputas por chãos de terra: expansão mercantil e seu impacto sobre a estrutura fundiária da cidade de São Paulo. Revista de História, n. 163. São Paulo: FFLCH, USP, jul/dez 2010, p. 53-80. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/19169/21232. Acesso em: 03/08/ 2016.
Denise Aparecida Soares de Moura – Doutora em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e professora assistente doutor no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNESP. Email: [email protected].
The Art of Conversion: Christian visual culture in the Kingdom of Kongo – FROMONT (RH-USP)
FROMONT, Cécile. The Art of Conversion. Christian visual culture in the Kingdom of Kongo. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2014. Resenha de: SOUZA, Marina de Mello. O cristianismo congo e as relações atlânticas. Revista de História (São Paulo) n.175 São Paulo July/Dec. 2016.
A presença do cristianismo no Congo é tema abordado desde os seus primeiros momentos, nos relatórios e cartas de missionários, nas crônicas reais e documentos administrativos portugueses, nas narrativas de viagens, todos eles produzidos por estrangeiros, mas também em cartas de autoridades conguesas. A partir do século XVI, foi tratado com interesse e algum nível de minúcia, o que resultou em um volume significativo de informações. O livro aqui apresentado recorre a fontes muito pouco exploradas pelo conjunto dos estudos sobre o Congo cristão ao se voltar para a cultura visual e material. A partir deste campo específico do conhecimento, Cécile Fromont analisa pinturas, gravuras e objetos feitos por europeus, e objetos e performances criados por congueses, articulando a análise estética e simbólica aos diferentes contextos históricos nos quais esses produtos culturais circularam.
The Art of Conversion traz uma contribuição de grande peso para os estudos sobre o reino do Congo, como foi chamado desde o primeiro momento de contato com os portugueses, nomenclatura que predomina quase absolutamente na documentação e nos estudos sobre aquela sociedade. O livro trata de produções visuais e materiais gestadas pelas condições de espaços – não físicos mas cognitivos -, nos quais se realizaram encontros culturais, e onde existiu um ambiente propício a uma mutua fertilização. Tais espaços, nos quais novas produções culturais e formas de organização política ligaram mundos diferentes e introduziram novidades nos sistemas que as criaram, são chamados de “espaços de convergência” pela autora, inspirada por análises de seus professores do Departamento de História da Arte e Arquitetura da Universidade de Harvard. Este é o conceito chave de sua análise e nele está contida a ideia de que os produtos culturais resultantes do confronto entre grupos de diferentes sociedades também criam laços entre eles. Os capítulos que compõem seu livro são aplicações dessa chave de interpretação a objetos diferentes, mas interligados na sequência temporal. Todos eles expressam a adoção de elementos rituais e simbólicos cristãos pelas elites dirigentes do Congo: o sangamento, o crucifixo congo, algumas edificações, vestimentas e insígnias de poder. Para fechar o livro analisa alguns objetos e situações nas quais os símbolos do cristianismo dialogaram com os primeiros tempos do colonialismo.
O livro de Cécile Fromont, editado pela Universidade da Carolina do Norte, é um exemplo de obra bem cuidada e de imediato se coloca ao lado do que há de melhor sobre o Congo cristão. O texto é muito bem escrito, com as notas agrupadas ao final dos parágrafos a que se referem, o que resulta em uma narrativa agradável e fluida, sem interrupções constantes, ao mesmo tempo que há indicação minuciosa das obras utilizadas, como pede a norma acadêmica. E neste sentido, impressiona a dimensão da pesquisa e a erudição, especialmente por se tratar do primeiro livro da autora. A bibliografia pertinente foi esquadrinhada com rigor e a pesquisa em arquivos localizou documentação inédita. As imagens dos produtos culturais analisados estão inseridas no corpo do texto no momento em que são tratados, e a grande maioria é reproduzida novamente em cor, em caderno especial, permitindo que o leitor acompanhe passo a passo as interpretações da autora. Portanto, trata-se de um estudo de qualidade excepcional, apresentado em uma edição também excepcional em termos de qualidade gráfica e diagramação.
Na introdução do livro a autora esclarece que analisará a cultura visual cristã conguesa em três momentos, de três séculos diferentes (XVII, XVIII e XIX), sendo que desde 1500 homens e mulheres da elite local misturaram criativamente formas visuais, ideias religiosas e conceitos políticos locais e estrangeiros, criando uma visão de mundo nova e em constante transformação, que ela chama de cristianismo congo (Kongo Christianity). Alinha-se, portanto, ao maior estudioso do cristianismo no Congo, John Thornton, que segundo o entendimento da autora, junto com Richard Gray e Jason Young, entende que os congueses adotaram o cristianismo em graus variáveis e o interpretaram de maneira própria. Essa perspectiva seria diferente da de outros estudiosos que, ao contrário dos religiosos que primeiro se debruçaram sobre as fontes com muita erudição mas sem um olhar crítico, problematizaram o assunto sob outros pontos de vista, como Anne Hilton, Wyatt MacGaffey e James Sweet, para os quais a cosmologia centro-africana apropriou-se do cristianismo sem alterar sua estrutura fundamental, ou a de estudiosos anteriores e com olhares mais eurocêntricos, como George Balandier e W. G. L. Randles, que entenderam ter havido um fracasso da cristianização no Congo. A diferença maior de Cécile Fromont com relação a todos os estudiosos que a antecederam é que enquanto as fontes textuais – escritas e orais – sempre foram a base das análises, sua pesquisa partiu de fontes visuais e da cultura material. Ao considerar objetos e performances, e partir da ideia de que essas manifestações culturais ofereceram um espaço no qual seus criadores botaram lado a lado ideias radicalmente diferentes, confrontando-as e tornando-as partes de um novo sistema de pensamento e expressão, mostra como a elite conguesa refundiu ideias heterogêneas, locais e estrangeiras, em novas partes inter-relacionadas, em uma visão de mundo que constituiu o cristianismo congo: um novo sistema de pensamento religioso, expressão artística e organização política. Esse processo foi iniciado com a chegada dos portugueses à região no final do século XV, e deve muito à ação de D. Afonso, que governou o Congo de 1506 a 1545. Desde os primeiros tempos, o Congo cristão serviu, por um lado, à afirmação do padroado português e à sustentação do comércio de escravizados com a região e, por outro, de suporte à autoridade dos chefes locais que controlavam o cristianismo e o comércio. A implantação de redes comerciais e a adoção do cristianismo levou o Congo a ocupar, nos séculos XVII e XVIII, um lugar de alguma relevância no mundo atlântico, tanto em termos comerciais como políticos: influenciou a política da Igreja Católica Romana quanto às missões ultramarinas e participou das disputas entre Portugal e os Países Baixos. Mas foi o comércio de escravizados – moeda internacional – que permitiu sua entrada no mundo moderno, fez com que estivesse presente nas Américas e, junto com a diplomacia, que marcasse sua presença na Europa.
Aqui abro um parêntesis para fazer alguns esclarecimentos relativos à terminologia empregada para a abordagem do tema em questão. O primeiro diz respeito à minha opção pessoal em não utilizar o termo reino para designar o Congo, a despeito do uso corrente da noção na historiografia e no livro que agora trato, ou grafar Kongo, também opção predominante entre os estudiosos. A não utilização do termo reino diz respeito à tentativa de buscar entender aquela sociedade a partir de suas estruturas sociais específicas, que mesmo assemelhando-se aos reinos europeus, deles se distinguia. A segunda opção está de acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa, em cujo alfabeto não há a letra o K. Como a utilização desta grafia liga-se à necessidade de distinguir a antiga formação social dos estados contemporâneos, opto por utilizar conguês, ou mesmo congo, quando me refiro aos habitantes do antigo Congo, e não congolês, termo associado aos morados dos atuais Congos, pois, para complicar ainda mais, hoje existem dois países africanos que assim se identificam: a República Democrática do Congo e a República do Congo, sendo que nenhum deles corresponde integralmente ao antigo Congo, localizado em sua maior parte no norte da atual Angola. Outra explicação diz respeito ao uso do termo cristianismo. Como não há uma justificativa explícita a respeito de por que Cécile Fromont optou pelo termo cristianismo, assim como John Thornton, podemos fazer duas suposições: pode ter sido para incluir a ação de missionários não católicos que atuaram na região a partir do século XIX, ou para indicar que a religião ali estabelecida não estava completamente de acordo com a doutrina católica romana. Nos meus trabalhos, que se referem todos aos séculos XVI, XVII e XVIII, sempre usei o termo catolicismo, uma vez que até então apenas missionários da Igreja Católica Romana atuaram na região.
O marco inaugural da integração do Congo ao mundo atlântico e ao universo europeu da época foi a chamada conversão do mani Congo ao cristianismo. Esse momento foi fixado em cartas escritas por D. Afonso Mbemba Nzinga. Em uma delas, enviada em 1514 a D. Manuel I, então rei de Portugal, ele narra a vitória que obteve sobre seu irmão, com a ajuda de um pequeno número de seguidores e de São Tiago, que durante a batalha apareceu no céu junto com uma cruz. Esta carta conta um episódio ocorrido sete anos antes e provavelmente teve como base a narrativa de como D. Afonso Henriques venceu os mouros na batalha de Ourique em 1139, dando origem ao reino de Portugal. Aprendiz aplicado dos missionários portugueses que eram enviados ao Congo, com quem aprendeu a ler e escrever, D. Afonso provavelmente se inspirou naquele episódio para construir sua versão da história da criação de um reino cristão sob sua égide. Seu governo consolidou a presença do cristianismo no Congo e estabeleceu as bases da organização política que vigoraria pelos séculos subsequentes.
A análise feita por Cécile Fromont no primeiro capítulo de seu livro, de uma aquarela do capuchinho Bernardino d’Asti, de cerca de 1750 e que integra seu manuscrito destinado a guiar o trabalho dos missionários no Congo, relaciona uma tradição anterior à adoção do cristianismo com esse episódio que inaugurou nova fase da história daquela sociedade. Na aquarela, um missionário, sentado em frente a uma pequena igreja, dá sua bênção a um chefe, ajoelhado à sua frente e trajado com as insígnias locais de poder, tendo ao seu lado uma grande cruz e atrás de si um grupo de músicos e homens armados que dançam com suas espadas levantadas e escudos empunhados. A legenda feita pelo autor da imagem identifica a cena como um missionário dando sua bênção ao mani – título dado aos chefes – durante um sangamento. A existência de sangamentos no Congo é anterior à chegada dos portugueses e no Congo cristão serviriam a dois propósitos: eram exercícios marciais e demonstrações de força por ocasião de uma declaração formal de guerra, e eram realizados em celebrações festivas de investidura, em desfiles diplomáticos e celebrações nos dias de festa do calendário cristão. Conforme a autora, novas coreografias, insígnias de poder e armas presentes nas danças refletiam as mudanças trazidas com a inserção do Congo nas redes diplomáticas, comerciais e religiosas do Atlântico. No seu entender, os sangamentos teriam sido espaços de correlação, nos quais a elite conguesa reinventou a natureza do seu mando no novo contexto. Seu simbolismo material e visual ilustraria como por meio deles os governantes criaram um novo discurso com a fusão de tradições centro-africanas e cristãs. Neles estaria presente a narrativa da criação do reino cristão após a batalha na qual D. Afonso saiu vitorioso sobre seu irmão.
Instruído desde cedo nos mitos de fundação do Congo, segundo os quais Nimi a Lukeni, vindo do norte e da outra margem do rio, teria conquistado a população local e inaugurado um novo tempo, assim como conhecedor dos princípios da religião católica e da história de Portugal, D. Afonso teria criado espaços de correlação nos quais não só o sangamento ritualizaria a fundação do reino cristão na mesma chave da fundação feita por Nimi a Lukeni, como a cruz, analisada com vagar no capítulo seguinte, seria alçada a importante símbolo de poder. Presente na narrativa de sua ascensão à chefia do Congo, no lacre de suas cartas, no brasão para ele criado em Portugal, Cécile Fromont acredita que o signo da cruz, que na América serviu à conquista, no Congo serviu para a implantação de um sistema político que permitiu sua entrada no quadro das relações internacionais atlânticas, graças à habilidade de D. Afonso em fundar um novo tempo articulando ideias europeias e centro-africanas.
Enriquecendo sua análise do sangamento retratado por Bernardino d’Asti, a autora introduz mais um elemento central na construção dos mitos fundadores de poderes políticos fortes ao explorar a imagem do rei ferreiro, presente em grande parte das histórias de fundação de sociedades centro-africanas. Nesses mitos, poder político e militar estão imbricados. A aquarela analisada expressaria uma segunda fundação do Congo cristão, mais de dois séculos depois do governo de D. Afonso, na qual também estaria presente o mito do rei ferreiro, registrado nas histórias orais coletadas no século XVIII por missionários. Àquela época, o ferro não estaria mais apenas nos braceletes e correntes que compunham a parafernália ligada ao signos de poder, mas também nas espadas, feitas de ferro, material ligado ao poder do chefe, mas que seguiam o padrão das espadas portuguesas do século XVI. As espadas apareciam, assim como as cruzes, nos lacres, brasões, estandartes e tronos do mani Congo, sendo outro atributo da nobreza europeia que se tornou parte integrante das insígnias de poder conguesas. Seriam mais um espaço de correlação no qual concepções europeias de cavalaria, de poder político e militar, fundiram-se com concepções centro-africanas que legitimavam o poder. Segundo a autora, as espadas que os dançadores levantavam no sangamento desenhado pelo capuchinho no século XVIII, referiam-se à história de D. Afonso, à luta que travou contra o irmão para conquistar o poder, e também ao significado do ferro na mitologia centro-africana. Para fortalecer sua argumentação, lembra que todas as espadas, das representações pictóricas, das escavações arqueológicas, das coletas feitas em tempos mais recentes, seguem o modelo das armas portuguesas do período manuelino, ou seja, do momento da conversão de D. Afonso ao catolicismo e de seu governo, que era assim rememorado. Até o século XX, as espadas de status, como são conhecidas, ligariam a elite que as carregava ao mito legitimador do seu mando.
Estendendo ainda mais a amplitude de sua análise, evoca os desenhos de Carlos Julião que representam a festa de rei negro e relaciona os sangamentos e as congadas brasileiras. Em análise semelhante à feita por mim há mais de quinze anos, ao comparar os desenhos de Carlos Julião, feitos no final do século XVIII, à aquarela de Bernardino d’Asti, afirma que para além da transmissão de objetos e rituais a festa de rei negro brasileira, ao articular elementos africanos e europeus, mostra uma significativa continuidade epistemológica através do Atlântico. No Congo, a elite combinou estrategicamente elementos locais e estrangeiros em um discurso de poder por meio do qual lidaram com as mudanças trazidas pela sua entrada nas redes comerciais, religiosas e políticas do mundo atlântico. Também na América emblemas e símbolos europeus foram usados como símbolos de uma identidade coletiva e instrumentos de expressão social.
O segundo capítulo do livro trata do símbolo da cruz, tema que aparece em muitos trabalhos sobre as culturas centro-africanas e afro-americanas a partir da divulgação da explicação de Fu-Kiau Busenki-Lumanisa sobre o lugar que ocupa nos sistemas de pensamento bacongo, feita principalmente por Robert Farris Thompson e Wyatt MacGaffey. Uma outra aquarela de Bernardino d’Asti, na qual um rito fúnebre é feito ao pé de uma grande cruz, serve como ponto de partida de sua análise. A presença da cruz em uma variedade de objetos relacionados às tradições locais e ao cristianismo congo confirma a centralidade desse símbolo tanto no pensamento local quanto nos processos de construção de novas ideias e relações. Isto a torna especialmente rica para uma abordagem a partir da noção de espaços de correlação, sendo cruzes e crucifixos signos para os quais convergiam significados religiosos centro-africanos e católicos, no que Cécile Fromont chamou de diálogo de devoções, de discursos de poder e de cosmologias.
O signo da cruz esteve presente com destaque nos momentos inaugurais da introdução do cristianismo no Congo: no batismo de Nzinga Kuwu, pai de D. Afonso, na visão que este teve durante a disputa pelo poder, no brasão e estandartes enviados pelo monarca português, que assim guiava o mani Congo no caminho de sua inserção no rol de reis cristão da época. Com a disseminação do cristianismo entre a elite conguesa, crucifixos tornaram-se comuns, e altamente cobiçada a obtenção do hábito da Ordem de Cristo, que trazia uma cruz de malta das costas. Como mostra a autora, a cruz foi um agente de comunicação entre as diferentes culturas, foi um chão comum que permitiu o diálogo entre europeus e centro-africanos. Presente em inscrições funerárias, nos cultos de uma sociedade secreta composta pelos filhos da elite chamada kimpasi, na qual eram praticados ritos de iniciação por meio dos quais os adeptos morriam e ressuscitavam, para os centro-africanos a cruz remete à relação entre os vivos e os mortos, ao ciclo completo da existência, que inclui o mundo dos homens, e o dos espíritos e ancestrais. Símbolo maior da morte de Cristo, também para os cristãos a cruz liga-se à morte e à ressureição. Era, portanto, um espaço de correlação privilegiado, entre a África e a Europa, entre a vida e a morte.
A introdução de objetos religiosos católicos em grande quantidade desde o século XVI, forneceu padrões para o desenvolvimento de uma produção local de imagens religiosas, santos e principalmente crucifixos. Mas se os objetos europeus forneceram o paradigma para o crucifixo congo, este expressava ideias centro-africanas, nas figuras ancilares a ele adicionadas, nos desenhos geométricos gravados nas suas bordas. Conforme Cécile Fromont, como um espaço de correlação, a cruz expressava uma nova visão de mundo na qual encontravam-se e misturavam-se signos locais e estrangeiros. Para ela, as centenas de crucifixos existentes, de tamanhos variados, constituíram uma sintaxe visual e religiosa, um conjunto coerente de objetos com uma iconografia consistente criada a partir do crucifixo católico e da cruz congo.
Para a autora, a iconografia dos crucifixos congo não é inteiramente decifrável, mas parece claro ser a acumulação recurso central na sua composição. Ao crucifixo cristão tradicional foram frequentemente acrescidas figuras sentadas nos braços da cruz, e no seu eixo vertical, acima e embaixo da figura que representa o Cristo, aparecem nossas senhoras, anjos, pessoas ajoelhadas de mãos postas. Além das marcas estéticas próprias da região presentes na representação de Cristo, as bordas com incisões são por ela associadas a ritos fúnebres da elite, quando os corpos eram envolvidos em panos com padrões decorativos semelhantes. No seu entender, essas bordas delimitam o espaço reservado aos mortos: Cristo, Nossa Senhora e os anjos, enquanto as figuras sentadas nos braços da cruz conectariam os dois mundos, na medida que seus corpos estariam parte fora e parte dentro desse limite. A ideia de ultrapassar fronteiras e a inter-relação entre os dois ambientes estaria de acordo com o significado maior do crucifixo – sendo a cruz representação do ponto preciso no qual as esferas da vida e da morte se conectam -, e as figuras ancilares dariam forma às noções abstratas de permeabilidade entre este e o outro mundo. Ao término de sua complexa e instigante análise dos crucifixos e da cruz, Cécile Fromont reafirma sua posição quanto ao cristianismo ter tido um desenvolvimento próprio na África centro-ocidental, não sendo resultado de um proselitismo violento ou de uma resistência a influências de fora, e sim de um processo de inclusão e reinvenção em uma situação de encontros culturais.
Atraída pela originalidade dos crucifixos congos, também eu ensaiei uma interpretação do que Cécile Fromont chama de figuras ancilares, baseando-me em análise feita por Anne Hilton sobre o processo de introdução do catolicismo no Congo, no qual símbolos cristãos foram reinterpretados a partir da cosmogonia local. No meu entender essas figuras sentadas nos braços da cruz seriam representações de bisimbi, entidades ligadas ao mundo natural, que tinham um lugar na legitimação do poder dos chefes. À época entendi esses crucifixos como a expressão material da criação de novas formas de representar o poder com a incorporação do catolicismo ao pensamento local, o que, nos termos propostos por Fromont seria um espaço de convergência.
O terceiro capítulo de seu livro trata de tema que penso ser inédito nos estudos sobre o Congo: a análise da indumentária da elite. Mais uma vez, parte das aquarelas de Bernardino d’Asti. Volta à que retrata um sangamento, e introduz outras, como o casamento de um chefe e o encontro entre a comitiva de um missionário com a do mani Soyo, e analisa elementos da vestimenta ali retratados, que aparecerão em outras imagens, estas do século XVII, como o busto de D. Antonio Manuel ne Vunda existente na igreja Santa Maria Maggiore em Roma, e retratos de embaixadores enviados pelo mani Soyo a Mauricio de Nassau, no Recife, feitos por Albert Eckhout. Com base nessa iconografia descreve a roupa padrão de um homem da elite conguesa: uma canga de tecido amarrada na cintura, na qual também está amarrada uma faixa vermelha e da qual pode pender uma pele de animal, uma rede que veste o tronco – nkutu -, um tecido jogado sobre um dos ombros, uma capa usada pelos chefes, assim como o mpu – um gorro alto -, correntes com crucifixos e colares de contas. Os desenhos de Eckhout, localizados em uma biblioteca da Cracóvia, retratam com minúcia as vestimentas dos três embaixadores e dos dois jovens que os acompanharam na missão junto a Mauricio de Nassau, pintados também por Beckx, com as roupas holandesas que lhes foram ofertadas no Recife.
Os desejados produtos europeus, como tecidos xadrez de azul e branco que eram sinais de distinção, eram trocados por escravos, e o comércio de gente foi um fator importante para a instabilidade do Congo e para a competição entre os chefes. É nesse contexto que o Congo buscou estreitar relações com os Países Baixos e com Roma, tentando se fortalecer frente às investidas ibéricas contra o sul do seu território. Se no início do século XVII o mani Congo enviou D. Antonio Manuel ne Vunda em uma embaixada a Roma, por meio da qual buscava neutralizar a autoridade do padroado português, em meados do mesmo século o mani Soyo procurou o apoio dos holandeses contra a pressão que os portugueses exerciam a partir de Angola, assim como aliança em suas disputas com o mani Congo. Nada desse contexto escapa à análise de Cécile Fromont, que ao interpretar elementos da cultura material e visual do Congo, e também as representações europeias sobre ele, torna evidente que àquela época o reino africano cristão estava inserido no jogo político internacional.
Se sob o governo de D. Afonso, no início do século XVI, o cristianismo serviu à sustentação de seu poder, no século XVII, estavam ainda mais consolidadas as relações entre riqueza, prestígio, cristianismo e poder político, o que a autora demonstra articulando o contexto histórico com a análise das representações visuais, como as imagens de santos feitas no Congo, nas quais eles estão vestidos à moda da elite local. Da mesma forma, o lugar de destaque que o Congo ocupava na Europa devido ao comércio de escravizados e também por ser reconhecido como um reino cristão é percebido por meio da presença das insígnias de poder conguesas, como o mpu e a indumentária, em obras de arte europeias do início do século XVII. Para Cécile Fromont, as imagens da elite do Congo, mesmo que por poucas décadas, funcionou nos círculos missionários europeus como uma metáfora da expansão da Igreja católica na África e no mundo. Quanto ao Congo, o processo de incorporação de elementos visuais europeus às insígnias de poder conguesas iniciado com a introdução do cristianismo, continuava mesmo em momento de menor presença de missionários europeus em atividade na região, pois os mestres e catequistas por eles formados mantinham vivos os ensinamentos cristãos e seus bastões, insígnia tradicional de autoridade que adotava modelos lusitanos, sendo encimados por cruzes, bulbos, imagens de santos e mesmo moedas portuguesas.
No quarto capítulo, são analisadas as construções e a ocupação de espaços, e além das maneiras como a elite lidou com o cristianismo aborda como este esteve presente na vida da gente comum, que frequentava os cultos nas igrejas, que convivia com as cruzes monumentais espalhadas pelo território e assim se relacionava com as manifestações visuais das ideias míticas e religiosas que sustentavam a organização política do Congo. Para a autora, as cruzes presentes em todo o território celebravam e relembravam a vitória de Afonso sobre seus oponentes e a subsequente conversão do reino ao cristianismo. Nos primeiros tempos da era cristã, o levantamento de cruzes monumentais teria se tornado um gesto característico do mando e, além dos significados associados ao cristianismo, ligava-se também às crenças relativas à circulação entre a vida e a morte, às articulações entre o mundo visível e o invisível.
A relação com os mortos, tão importante para que a existência dos vivos transcorresse bem, acontecia também nos cemitérios, sobre os quais muitas vezes foram construídas igrejas, que se tornaram locais de culto aos ancestrais, especialmente da elite. Dessa forma, a redefinição de cemitérios, que cederam espaço para igrejas cristãs, é parte da reformulação operada pela elite no processo de imposição do cristianismo para a massa da população. Mais um espaço de correlação detectado por Cécile Fromont, essa reformulação trouxe os ancestrais para os limites espaciais da nova religião, e dotou o novo edifício com a sua presença venerável. Essa prática espalhou-se por todo o território e no século XVII era norma que a elite fosse enterrada nas igrejas ou próximo a elas. Mais uma vez recorrendo a fontes escritas e relacionando-as com as descrições de túmulos, a autora fornece grande quantidade de dados que fundamentam seu argumento relativo a como cemitérios e igrejas foram espaços de correlação que articularam poder político, cristianismo e devoção aos ancestrais.
Mas ao lado das novas práticas, ritos e crenças que constituíram o cristianismo congo, houve também a adoção de alguns de seus elementos sem a alteração das práticas tradicionais, como no caso dos kimpasi, que adotaram em seus ritos altares semelhantes aos das igrejas, sem se integrarem ao cristianismo congo. Além dessas situações nas quais as práticas não foram transformadas apesar da adoção de algum elemento estrangeiro, a autora entende que na periferia do discurso congo cristão promovido e adotado pela elite como uma narrativa que legitimava seu poder, algumas vezes emergiram outras correlações de formas visuais e pensamento centro-africanos, cristãos e congo cristão. O exemplo mais conhecido é o movimento antoniano, que desafiou a narrativa congo cristã dominante. Liderado por uma jovem oriunda da elite conguesa, iniciada em rituais não cristãos e também educada nas normas cristãs, foi um movimento que emergiu durante uma guerra civil na qual diferentes linhagens disputaram o poder. Utilizando a linguagem cristã, ela criou um discurso original, segundo o qual morria toda sexta-feira, quando tinha encontros com Santo Antônio e Deus, e renascia a seguir trazendo a mensagem do mundo do além. O combate à cruz, símbolo maior do catolicismo congo articulado ao poder político, era o carro chefe de sua pregação, assim como a unificação do Congo e o fim das guerras internas. Buscou apoio de diferentes pretendentes ao trono, mas as alianças que obteve foram rompidas diante da sua insistência para que as cruzes fossem destruídas. Kimpa Vita, a jovem líder do movimento antoniano, acabou queimada a mando dos capuchinhos. O antonianismo não rejeitou o cristianismo, mas propôs uma hermenêutica alternativa dos seus princípios. Com esse exemplo, a autora reafirma o seu papel central na vida religiosa, política e social do Congo entre os séculos XVI e XVIII, mas também a existência de formas do cristianismo congo que não foram aceitas pelos poderes instituídos, tanto locais quanto dos missionários católicos.
No quinto capítulo, Fromont mostra como, no contexto da partilha e ocupação colonial, o que no passado havia sido visto como um reino cosmopolita passou a ser considerado “o coração das trevas”, terra de povos primitivos e canibais. O aparato ideológico colonial trabalhou no sentido de destruir as estruturas remanescentes do Congo cristão e obscurecer sua memória. Entretanto, antigos símbolos e histórias legitimadores do poder continuaram a sustentar os chefes e, apesar dos tratados de vassalagem com Portugal, o Congo permaneceu independente até 1910. A presença no século XIX de grupos identificados como “gente da igreja”, constituídos por comunidades que viviam na periferia das cidades, especialmente de Mbanza Soyo e Mbanza Kongo, e clamavam descender dos “escravos da igreja”, que serviam os missionários, confirma a continuidade das práticas do cristianismo congo. Viajantes que percorreram a região naquele século encontraram igrejas em uso, com uma grande quantidade de objetos litúrgicos e imagens de santos, cuidadas pela gente da igreja, quando a presença de missionários era rara e esporádica. É interessante que muitos desses objetos e imagens eram de confecção brasileira, o que indica a estreita conexão entre as duas regiões, em momento no qual o comércio de escravizados ainda vigorava.
Nos séculos XIX e XX, com os avanços da colonização, espaços de correlação continuaram a ser criados. Exemplos deles são as presas de marfim esculpidas feitas em Loango, e os minkisi minkondi, figuras antropomorfas protetoras dos caçadores nas quais lâminas e pregos eram enterrados e sobre os quais não há notícia anterior ao final do século XVIII. De acordo com o mesmo processo identificado desde o momento inicial de introdução do cristianismo na região, a autora entende que as novas formas e imaginária, ao incorporar símbolos e materiais estrangeiros, ampliavam a visão de mundo das populações nativas e permitiam que atribuíssem sentidos e participassem do mundo colonial em formação. Nesse novo contexto, também o sangamento ainda era feito, mesmo que entendido pelos colonizadores como manifestação folclórica.
A força do universo visual, cultural e espiritual do Congo cristão viajou para a América e, além de estar presente nas congadas, apareceu na vestimenta de um negro trajado como a elite conguesa fotografado em 1865, no Rio de Janeiro, por Cristiano Junior. A fotografia mostra que escravizados que participaram dos espaços de correlação na África centro ocidental deram continuidade a este processo entre seus descendentes, extraindo daí força espiritual e política. Incluindo em sua análise a América, mesmo que tangencialmente, e a Europa, a autora mostra que “o cristianismo congo é mais do que uma ocorrência histórica singular restrita a uma parte definida do continente africano”, sendo um fenômeno cuja influência repercutiu através do Atlântico.
Chegamos ao fim da leitura com a certeza de que estamos diante de um livro que nasce clássico, no sentido de ser indispensável para os estudos acerca do antigo Congo, onde o cristianismo passou a ser parte integrante de sua organização política e de seu universo mental desde os primeiros contatos com os portugueses, no final do século XV. O livro de Cécile Fromont coloca-a entre os maiores especialistas do assunto, e todos que estudam o Congo cristão só podem agradecer a sua contribuição.
Marina de Mello e Souza – Professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E-mail: [email protected].
TEIXEIRA, I. S.; BASSI, R. A escrita da história na Idade Média (RH-USP)
TEIXEIRA, I. S.; BASSI, Rafael. A escrita da história na Idade Média. São Leopoldo: Oikos, 2015. 183 pp. Resenha de: SANTOS, Fernando Pereira dos. Os fazeres da História: de Eusébio de Cesareia a Gomes Eanes de Zurara. Revista de História (São Paulo) n.174 São Paulo Jan./June 2016.
Desde que a história tornou-se uma disciplina acadêmica em meados do século XIX,1 o seu fazer tem sido alvo de constantes inquirições por aqueles que se dedicam a esse ofício. Uma das questões perscrutadas é aquela que discute a existência ou não de “historiadores” durante os períodos anteriores a supracitada institucionalização e, mais especificamente, no decorrer dos séculos balizados como Idade Média.2 Não há dúvidas de que Otto de Freising ou Jean Bossuet, por exemplo, tenham realizado empreitadas que hoje são classificadas como “históricas” e, a seu modo, todos aqueles empenhados em atividades congêneres produziram narrativas em que evidenciaram-se elementos imbuídos de sentido e verossimilhança atribuídos às configurações das formas de pensar existentes no momento de sua composição. Logo, é justamente da análise de parâmetros constituintes de verdades e, paralelamente, dos elementos que compõem alguns dos “gêneros” discursivos entendidos como históricos durante o medievo que trata a obra A escrita da história na Idade Média, publicada pela Editora Oikos sob organização de Igor Salomão Teixeira e Rafael Bassi.
Dividida em oito capítulos escritos por diferentes autores, dentre os quais figuram grandes nomes da pesquisa em âmbito nacional, como Néri de Barros Almeida e Susani Silveira Lemos França, o livro conta também com a colaboração de José Miguel de Toro Vial, da Universidad Católica de la Santísisma Concepción, Chile. Em termos gerais, a obra apresenta ensaios que investigam alguns dos principais lugares comuns da composição histórica no medievo, como o recorrente eixo narrativo sobre guerra e governança, bem como o exercício das funções moralistas e memorialistas daqueles escritos para as sociedades em que foram concebidos. Esse é justamente um dentre seus vários destaques positivos, uma vez que permite ao leitor atentar-se para a existência daqueles parâmetros em escritos apartados entre si tanto no sentido do espaço geográfico temporal em que foram compostos como pelos homens que os conceberam, isto é, Eusébio de Cesareia (c. 264 – 339), Iacopo de Varagine (1228 – 1298), Jean Froissart (1337 – 1405), Gomes Eanes de Zurara (1410 – 1474), dentre tantos, e o afamado Jean Froissart. A esse fato somam-se outros de igual relevância: a observância que se faz acerca dos usos da retórica e da forte influência dos escritos clássicos e sagrados ao longo de todo o período, bem como as questões relevantes sobre a audiência pretendida por aqueles homens (e mulher), no caso, Anna Comenna, uma das únicas mulheres a produzir relatos históricos de que se tem notícia.3
A relação existente entre todo esse conteúdo é de suma importância para a compreensão dos problemas que cercaram a produção da história no medievo, como o número reduzido de leitores, o parco acesso a outros textos, a “censura” que poderiam vir a sofrer em diversos âmbitos,4 e mesmo o próprio processo de produção, cópia e manutenção dos escritos que poderiam trazer sérias implicações ao seu conteúdo.5 Ao relevarmos esses temas segundo seu horizonte de produção, é possível buscar seus possíveis significados para o exercício de reconstituição do passado caro a atividade do historiador.
Em nosso entendimento, A escrita da história na Idade Média em grande medida atende às expectativas dos estudiosos que, em algum momento de suas pesquisas, se depararam com essa rica e ampla temática. Em vários momentos da obra, levantam-se pontos de extrema relevância à inquirição acerca do fazer histórico medieval: por que em seus primórdios os cristãos não se interessavam pelo modelo clássico de se escrever história?6 Se tais modelos foram posteriormente mesclados e adaptados pelos mesmos cristãos,7 que forneceram os pilares para o registro histórico por ao menos um milênio no Ocidente, ora ativeram-se a tais paradigmas8 ora extrapolaram o que se esperava deles (p. 157), mas nem por isso deixaram de partilhar premissas em comum na configuração de saberes sobre outrora para a realização de suas narrativas.9
Além dessas, pontuamos algumas dentre as diversas questões lançadas pelos autores que, a nosso ver, igualmente dialogam entre si: o que se pode inferir das possíveis intencionalidades dos responsáveis por aquela escrita da história a partir da leitura de seus prólogos,10 uma vez que ali muitas vezes o responsável pela composição textual enuncia seus interesses para o desempenho da escrita. Não obstante, quem seria seu possível público em uma era em que a capacidade técnica da escrita e a habilidade para a leitura restringiu-se a uma fração das sociedades em pauta?11 Talvez a grande questão que permeia todas as outras seja, enfim, refletir sobre os porquês e a utilidade em se registrar a história em suporte escrito.12 Muito embora tais questionamentos tenham sido realizados ao longo da obra a partir de documentos específicos tendo em vista momentos esporádicos, o que pudemos notar através de sua leitura é a presença de tópicos em comum partilhados por homens muitas vezes sem contato entre si, mas, de alguma forma, continuadores e transformadores de formas prévias de organização do conhecimento.
Contudo, no nosso entendimento, a obra não explora todo o seu potencial, e deixa escapar boas oportunidades de discussão – quiçá para uma futura continuação – acerca de outras matérias que circundam a problemática da escrita da história na Idade Média. Notamos que os ensaios, de modo geral, ainda se concentram em grande medida no medievo latino – Portugal, Espanha, França, Itália – da baixa Idade Média (séculos XIV-XV), reflexo talvez da incidência sobre tal eixo nos cursos de história no Brasil, onde ainda são poucas, mas não menos significativas, as pesquisas sobre outros lugares, tempos e “povos”, como os britânicos, escandinavos e germânicos, e mesmo sobre o mundo não cristão ou mesmo apartado dos ditames da Igreja: árabes, asiáticos e reinos africanos.13 Uma breve, porém valiosa, inquirição nesse sentido foi feita por Marcella Guimarães, que analisou a introdução dos Prolegômenos do tunisiano Ibn Khaldun (1332-1406) em face aos escritos de Jean Froissart (1337-1405), Pero Lopez de Ayala (1332-1407) e Fernão Lopes (1390-1460). Porém o que mais podem nos dizer outras vozes coevas não confinadas ao claustro monástico ou mesmo às atividades burocráticas no Mediterrâneo? Nesse sentido, o capítulo que finaliza o livro, de José Miguel de Toro Vial, oferece uma perspectiva interessante ao analisar o panorama da construção de uma cosmovisão partilhada por crônicas “universais”,14 uma das possíveis formas de se conceber a escrita da história iniciada na Antiguidade tardia e que perdurou para muito além do período abarcado na obra, embora igualmente sua análise se concentre nos textos da Europa cristã.15
Outro ponto praticamente ignorado foi o da contribuição de laicos nesse contexto a partir do século XIV. André Luis Pereira Miatello lança bons questionamentos sobre a escrita do bispo Iacopo de Varegine e a relação com a não inserção de Gênova, ao contrário das outras cidades italianas, no movimento humanista, em que afirma que os litterati leigos escassearam e os dominicanos assumiram a produção cultural local.16 Entretanto, em uma obra que trata em sua maioria de ensaios feitos a partir de textos concebidos com funções primordialmente religiosas, uma inversão de perspectiva poderia oferecer novos ângulos de observação ao leitor, isto é, lançando olhares para o crescente número de laicos que despontou para fins diversos na escrita da história, e para os elementos e interesses presentes em sua forma de registar o passado, como a difusão de textos para além de círculos nobiliárquicos, para finalidades que extrapolavam o entretenimento e a moralização e nem sempre escritos apenas em latim, mas também em idiomas vernáculos.17 Assim, até que ponto eles teriam continuado a escrita da história amparada por elementos cristãos? Seria possível notar novos elementos na abordagem, na escrita, ou mesmo na escolha do que figurar em seus escritos, que destoavam de uma escrita marcadamente escatológica?18
Uma última questão, a nosso ver, que permeia as discussões sobre a escrita da história na Idade Média e que foi pouco discutida refere-se aos supracitados “gêneros” discursivos. No prólogo, seus responsáveis afirmam ser importante questionarmos se houve a escrita da história, quem escrevia, com quais intuitos e, também, destacamos aqui de que forma era feita19. Inúmeras são as elucubrações sobre a relação existente entre formas de escrita, como crônicas, anais e hagiografias e o relato histórico,20 pois como se pergunta Igor Salomão Teixeira em seu ensaio, “o que se entendia por história na Idade Média? Mais especificamente, qual o estatuto de um texto entitulado (sic) por história escrito no início do século XIV?”21 Sucintamente, uma vez que a pretensão à veracidade está ligada não apenas ao que se narra, mas ao como se narra,22 é importante que se traga à tona de que maneira se relaciona a forma organizacional do texto, em sentido mais amplo, com as funções da história na Idade Média. A escrita em qualquer uma das formas assumidas não ocorreu de modo linear, mas simultaneamente: o que isso nos diz sobre o entendimento daqueles indivíduos sobre o objeto que produziram, refletiram e empregaram para fins diversos?
De qualquer forma, para além de registros em que, muitas vezes, imperou o maravilhoso,23 a constante reinterpretação dos trabalhos de cunho historiográfico produzidos no medievo alerta sobre a necessidade de atentarmo-nos para tais textos como produtos complexos em que estavam envolvidos representações e simbolismos que extrapolam a simples relação com textos sagrados e clássicos, mas que se configuram como testemunhos coevos do momento de seu fazer, em que sua análise nos permite, até certo ponto, reconstituir uma cadeia não linear de saberes. É nesse sentido, portanto, que se inserem as ponderações de A escrita da história na Idade Média, um trabalho meritório não apenas por figurar como uma obra que reúne inquietações sobre esse importante tema escrita por pesquisadores brasileiros, mas que igualmente suscita a divulgação mais ampla sobre aquela parte fundamental da produção de conhecimentos realizada durante um período chave da história ocidental.
Referências
ALMEIDA, Neri de Barros & DELLA TORRE, Robson Murilo Grando. A História eclesiástica de Eusébio de Cesareia frente à tradição historiográfica clássica. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.). A escrita da história na Idade Média. São Leopoldo: Oikos, 2015. [ Links ]
BASSI, Rafael. Anna Commena, historiadora. Um estudo sobre a escrita da história no Império bizantino: o caso d’A Alexíada (séculos XI – XII). In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.). A escrita da história na Idade Média. São Leopoldo: Oikos, 2015. [ Links ]
CAIE, Graham. The manuscript experience: what medieval vernacular manuscripts tell us about authors and texts. In: CAIE, Graham & REVENEY, Denis (ed.). Medieval texts in context. Londres: Routledge, 2008. [ Links ]
FRANÇA, Susani Silveira Lemos. A rememoração do passado no rastro da prudência. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.). A escrita da história na Idade Média. São Leopoldo: Oikos, 2015. [ Links ]
GALBRAITH, Vivian Hunter. Historical research in medieval England. Londres: University of London, 1951. [ Links ]
GIVEN-WILSON, Christopher. Chronicles: the writing of history in late medieval England. Londres: Hambledon and London, 2004. [ Links ]
GRANSDEN, Antonia. Historical writing in England. Londres: Routledge, 1996. [ Links ]
GUENÉE, Bernard. História. In: LE GOFF, Jacques & SCHMITT, Jean Claude (coord.). Dicionário temático do Ocidente medieval. Tradução de Hilário Franco Júnior. Bauru: Edusc; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002. [ Links ]
GUIMARÃES, Marcella Lopes. As intenções da escrita da história no outono da Idade Média. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.). A escrita da história na Idade Média. São Leopoldo: Oikos, 2015. [ Links ]
HAY, Dennis. Annalists and historians: western historiography from eighth to eighteenth centuries. Londres: Methuen; Nova York: Harper & Row, 1977. [ Links ]
LE GOFF, Jacques. The medieval imagination. Traduzido por Arthur Goldhammer. Chicago: University of Chicago Press, 1988. [ Links ]
MACEDO, José Rivair. Os estudos medievais no Brasil: uma tentativa de síntese. Reti Medievali Rivista, Firenze, vol. 7, n. 1, 2006, p. 1-9. Disponível em: Disponível em: http://www.dssg.unifi.it/RM/rivista/saggi/RivairMacedo.htm . Acesso em: 03/03/2016. [ Links ]
MIATELLO, André Luis Pereira. Iacopo de Varagine a escrita da história no século XIII. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.). A escrita da história na Idade Média. São Leopoldo: Oikos, 2015. [ Links ]
RICHARDSON, Malcolm. Middle-class writing in late medieval London. Londres: Pickering & Chatto, 2011. [ Links ]
SOUTHERN, Richard. History and historians: selected papers by Richard Southern. Editado por Richard Bartlett. Malden, MA: Blackwell, 2004. [ Links ]
SIQUEIRA, André Luiz. Fantasmas celanenses: os usos do “Memoriale beati Francisci in desiderio aimae” na formação de uma consciência histórica franciscana no século XIII. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.). A escrita da história na Idade Média. São Leopoldo: Oikos, 2015. [ Links ]
SMALLEY, Beryl. Historians in the Middle Ages. Londres: Thames & Hudson, 1974. [ Links ]
TAYLOR, John. English historical literature in the fourteenth century. Oxford: Clarendon Press, 1987. [ Links ]
TEIXEIRA, Igor Salomão. Ystoria sancti Thome de Aquino: hagiografia ou história? In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.). A escrita da história na Idade Média. São Leopoldo: Oikos, 2015. [ Links ]
VIAL, José Miguel de Toro. As crônicas universais e a cosmografia medieval. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.). A escrita da história na Idade Média. São Leopoldo: Oikos, 2015. [ Links ]
WHITE, Hayden. The content of form: narrative discourse and historical representation. Baltimore; Londres: John Hopkins University Press, 1987. [ Links ]
1SOUTHERN, Richard. History and historians: selected papers by Richard Southern. Editado por Richard Bartlett. Malden, MA: Blackwell, 2004, p. 88-107.
2GALBRAITH, Vivian Hunter. Historical research in medieval England. Londres: University of London, 1951. GIVEN-WILSON, Christopher. Chronicles: the writing of history in late medieval England. Londres: Hambledon and London, 2004. GRANSDEN, Antonia. Historical writing in England. Londres: Routledge, 1996. GUENÉE, Bernard. História. In: LE GOFF, Jacques & SCHMITT, Jean Claude (coord.). Dicionário temático do Ocidente medieval. Tradução de Hilário Franco Júnior. Bauru: Edusc; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002. HAY, Dennis. Annalists and historians: western historiography from eighth to eighteenth centuries. Londres: Methuen; Nova York: Harper & Row, 1977. SMALLEY, Beryl. Historians in the Middle Ages. Londres: Thames & Hudson, 1974. TAYLOR, John. English historical literature in the fourteenth century. Oxford: Clarendon Press, 1987.
3De forma geral, os cronistas integravam um universo composto por homens de meia idade, majoritariamente clérigos e pertencentes às elites terratenentes (GIVEN-WILSON, Christopher, op. cit., p. 60-64).
4GIVEN-WILSON, Christopher, op. cit., p. 207-212.
5The manuscript experience: what medieval vernacular manuscripts tell us about authors and texts. In: CAIE, Graham & REVENEY, Denis (ed.). Medieval texts in context. Londres: Routledge, 2008, p. 10-27.
6ALMEIDA, Neri de Barros & DELLA TORRE, Robson Murilo Grando. A História eclesiástica de Eusébio de Cesareia frente à tradição historiográfica clássica. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael, obra desta resenha, p. 15.
7FRANÇA, Susani Silveira Lemos. A rememoração do passado no rastro da prudência. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.), obra desta resenha, p. 66-68.
8MIATELLO, André Luis Pereira. Iacopo de Varagine a escrita da história no século XIII. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.), obra desta resenha, p. 119-124.
9BASSI, Rafael. Anna Commena, historiadora. Um estudo sobre a escrita da história no Império bizantino: o caso d’A Alexíada (séculos XI – XII). In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.), obra desta resenha, p. 44-45.
10GUIMARÃES, Marcella Lopes. As intenções da escrita da História no outono da Idade Média. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.), obra desta resenha, p. 76-77.
11SIQUEIRA, André Luiz. Fantasmas celanenses: os usos do “Memoriale beati Francisci in desiderio aimae” na formação de uma consciência histórica franciscana no século XIII. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.), obra desta resenha, p. 93.
12MIATELLO, André Luis Pereira. Iacopo de Varagine a escrita da história no século XIII. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.), obra desta resenha, p. 114.
13MACEDO, José Rivair. Os estudos medievais no Brasil: uma tentativa de síntese. Reti Medievali Rivista, Firenze, vol. 7, n. 1, 2006, p. 1-9. Disponível em: http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/RivairMacedo.htm. Acesso em: 03/03/2016.
14VIAL, José Miguel de Toro. As crônicas universais e a cosmografia medieval. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.), obra desta resenha, p. 177-179.
15Idem, p. 159.
16MIATELLO, André Luis Pereira. Iacopo de Varagine a escrita da história no século XIII. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.), obra desta resenha, p. 116.
17RICHARDSON, Malcolm. Middle-class writing in late medieval London. Londres: Pickering & Chatto, 2011.
18VIAL, José Miguel de Toro. As crônicas universais e a cosmografia medieval. In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.), obra desta resenha, p. 162-164.
19TEIXEIRA, Igor Salomão. Ystoria sancti Thome de Aquino: hagiografia ou história? In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.), obra desta resenha, p. 7.
20SMALLEY, Beryl. Historians in the Middle Ages. Londres: Thames & Hudson, 1974.
21TEIXEIRA, Igor Salomão. Ystoria sancti Thome de Aquino: hagiografia ou história? In: TEIXEIRA, Igor Salomão & BASSI, Rafael (org.), obra desta resenha, p. 144.
22WHITE, Hayden. The content of form: narrative discourse and historical representation. Baltimore; Londres: John Hopkins University Press, 1987, p. 1-25.
23LE GOFF, Jacques. The medieval imagination. Traduzido por Arthur Goldhammer. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
Fernando Pereira dos Santos – Mestre e Doutorando em História pelo Programa de Pós Graduação em História da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e bolsista da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – Capes. E-mail: [email protected].
Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung – KAISER; ROSENBACH (RH-USP)
KAISER, Michael; ROSENBACH, Harald. Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. 243 pp. Resenha de: MATA, Sérgio da. A weberianização do mundo. Revista de História (São Paulo) n.174 São Paulo Jan./June 2016.
Uma das mais sedutoras teses presentes na obra de Max Weber é a que postula um processo geral, inexorável, de racionalização do mundo. Vista de uma perspectiva brasileira, não é preciso dizer o quão ambiciosa, até mesmo quimérica, tal tese pode parecer. O virtual emperramento do nosso sistema político desde as grandes manifestações de junho de 2013 – com sua recusa explícita dos partidos e a denegação do direito de ir e vir como estratégia privilegiada de pressão dos grupos à margem (direita ou esquerda, pouco importa) do poder -, o caos das contas e da saúde pública, a recusa em encarar de frente o caráter finito dos recursos naturais, os níveis alarmantes de violência interpessoal, a crise de legitimidade de uma presidente recém-eleita, o autismo generalizado, tudo isso sugere que a perspectiva weberiana da história tem lá os seus limites.
Mas teria Weber dado um sentido literal à sua ideia da racionalização do mundo? Entre 1917 e 1919, ele acompanha atônito a derrota alemã na guerra, a renúncia do kaiser, a proclamação dos conselhos operários em diversas cidades alemãs e o caos político em seu país. Ele viu na democracia a única salvação possível, e sua última série de escritos lança luz, quando não por simples homologia, sobre os dilemas do Brasil contemporâneo. Weber constatava a ascensão da rua como o espaço privilegiado da política, e pressentia que se a revolução alemã tinha o potencial de mover o país, certamente não seria no rumo do socialismo, mas sim no da mais abjeta reação. Nos últimos parágrafos de Economia e sociedade, ele escreve que
um fator completamente irracional (…) é dado pelas “massas” não-organizadas: a democracia de rua. Esta é mais poderosa em países com um parlamento impotente ou politicamente desacreditado, e isto significa sobretudo: na ausência de partidos racionalmente organizados. Na Alemanha, (…) organizações como os sindicatos, mas também como o Partido Social-Democrata, constituem um contraponto muito importante ao atual domínio irracional da rua, típico de nações puramente plebiscitárias.1
Àquela altura Weber considerava o sistema político alemão ante bellum “completamente obsoleto”. No início de 1919, em meio às reuniões da comissão que elaborou a Constituição da República de Weimar, Weber – então no auge de sua popularidade como erudito e homem público – advertia que caso se mantivessem intocadas as bases de tal sistema,
a democracia política e economicamente progressiva não terá nenhuma chance num futuro previsível. As eleições mostraram que, por toda a parte, os antigos políticos profissionais conseguiram, contrariamente à disposição dos eleitores, eliminar os homens que gozam de confiança dessas massas em favor de uma mercadoria política ultrapassada. Como resultado, as melhores cabeças têm se afastado de toda a política.2
Poderíamos continuar indefinidamente, apontando as homologias existentes entre a Alemanha de 1917-1919 e o Brasil de 2013-2016. Que Weber tenha avaliado aquela época com notável clareza talvez seja uma razão a mais para ver em sua obra um potencial de esclarecimento que nem de longe se poderia encontrar no marxismo tardio de um Mészáros, no obscuro esteticismo de um Agamben, no cômico nonsense de Žižek ou nas incontinências verbais de um Olavo de Carvalho. Estamos condenados a pensar o hoje; mas em face do vazio de ideias contemporâneo, não nos resta outra saída senão buscar os clássicos de ontem. Chame-se a isso, se se quiser: aprender com a história.
A racionalização do mundo, tal como a descreveu Weber no preâmbulo do primeiro volume dos seus ensaios reunidos de sociologia da religião, não se concretizou. As grandes forças mobilizadoras deste processo (o direito, o capitalismo moderno, a ciência e a burocracia) nem sempre atuaram com o grau de integridade que se lhes atribuía.
Apesar de tudo isso, talvez se possa falar de uma weberianização do mundo. Num sentido muito preciso: o de uma gradativa mundialização de seu legado intelectual. Não apenas na condição de clássico das ciências sociais, mas também como um autor de cabeceira dos poderosos – de Theodor Heuss, o primeiro presidente da Alemanha após a catástrofe do nazismo, a FHC. De sua Alemanha natal à América Latina, dos Estados Unidos à Rússia, do leste europeu ao mundo árabe, o interesse pelo pensamento de Weber não encontra fronteiras nem padece do veto da história que se abateu sobre o marxismo após 1989.
Sendo assim, é apenas natural que, em julho de 2012, os institutos de humanidades alemães no exterior, há pouco rebatizados como Fundação Max Weber, tenham dedicado um simpósio internacional ao tema “Max Weber no mundo – Recepção e influência”. O volume resultante, publicado em 2014, é o que nos cabe aqui resenhar. Estudos sobre a recepção de Weber não são propriamente uma novidade, todavia o interesse a respeito tem adquirido força, entre outras razões graças à redescoberta de Weber nos países que compunham o antigo mundo socialista.
“Max Weber em tempos de transformações”, de Edith Hanke, abre o volume com um esboço de sociologia comparada da recepção da sociologia weberiana. A tese principal da autora é que o interesse por Weber tende a crescer especialmente em sociedades que passam por períodos de intensa transformação econômica, social e política (p. 2). Primeiramente, ela procede a uma avaliação do número de edições/traduções por país, o que nos revela algumas surpresas. A primeira delas é a liderança absoluta do Japão, com nada menos que 190 títulos entre 1925 e 2012. A carreira japonesa de Weber é, por assim dizer, inteiramente autóctone, deu-se sem intermediários. Mais que isso, os estudiosos daquele país produziram trabalhos sobre Weber que, vistos desde hoje, estavam muito à frente de seus congêneres anglo-saxões. Em 1981, Yoshiaki Ushida já criticava a perspectiva “a-histórica” da literatura internacional sobre Weber. Isso é tão mais impressionante se levarmos em conta que o início da publicação na Alemanha da edição crítica das obras de Weber (Max Weber Gesamtausgabe) só se iniciou em 1984. Hanke mostra ainda que, em países como Japão, Itália, Grécia e Coreia do Sul, as traduções mais recentes de Weber têm se baseado no gigantesco trabalho de erudição histórico-filológica da Gesamtausgabe. Poupemos ao leitor uma constrangedora comparação com o que, a esse respeito, se tem feito no Brasil.
Hanke identifica três tipos de transformação por detrás dos booms weberianos em diferentes países: (a) rápidas e drásticas mudanças de paradigmas científicos, (b) na estrutura socioeconômica e, por fim, (c) crises de legitimidade do ordenamento político. Tendo exercido o papel de pioneira (data de 1897 a tradução do opúsculo A bolsa), a Rússia assistiu a uma virtual proscrição de Weber após a década de 1920. Tornou-se famosa a passagem da Grande Enciclopédia Soviética de 1951, em que Weber é chamado de “sociólogo, historiador e economista alemão reacionário, neokantiano, inimigo maldoso do marxismo” (apud p. 15). Na década de 1980, sobretudo a partir de 1990, com a derrocada do regime comunista e o fim do veto ideológico, a situação se inverte. Em curto espaço de tempo mais que dobra o número de obras de Weber disponíveis em russo.
Situação semelhante se observa na China, onde o advento do turbo-capitalismo gerou uma demanda irrefreável por paradigmas alternativos. Graças aos esforços da germanista Rongfen Wang traduziram-se seções de Economia e sociedade, Confucionismo e taoísmo e as conferências Ciência como vocação e Política como vocação. A versão chinesa de A ética protestante e o espírito do capitalismo, publicada em outubro de 1986, esgotou-se em horas. Naquele mesmo ano, um jornal chinês publica uma entrevista com a sra. Wang com o significativo título “A febre Max Weber e a democratização política”. Em 1989, tal situação se alteraria dramaticamente. Num colóquio realizado em julho de 2014 na Universidade de Erfurt, este resenhista teve a oportunidade de ouvir da própria sra. Wang o impressionante relato de como o auditório reservado para acolher o primeiro grande simpósio sobre Weber em Pequim acabou sendo usado como depósito militar tão logo estourou a repressão ao movimento estudantil na praça da Paz Celestial. O evento evidentemente não pôde ocorrer, frau Wang mora há anos na Alemanha e os chineses ainda esperam pela democracia.
Como o maoísmo não passa hoje, na China, de uma formalidade vazia na autoencenação do poder, não paira ali qualquer proibição formal a Weber e é revelador do espírito dos novos tempos que em 2006 A ética protestante tenha se tornado um verdadeiro best seller naquele país. Situação muito diferente da do Irã, em especial depois da derrota da “Revolução verde” de 2009. Edith Hanke (p. 20) mostra que Said Hajjarian, “que estava entre os mais próximos estrategistas do presidente reformista Khatami, foi ameaçado com a pena de morte também por difundir as teorias de Weber”, e tendo de desculpar-se publicamente por isso.
O fato de Weber não ter produzido qualquer estudo sistemático sobre o islamismo decerto contribuiu para sua fraca recepção no mundo muçulmano, tema do ensaio de Stefan Leder (Max Weber in der arabischen Welt). Embora A ética protestante esteja disponível em árabe desde 1980, poucas traduções se seguiram. A recepção deve ali muito ao impulso de comentaristas franceses como Julian Freund, Colliot-Thélène e Philippe Raynaud. De forma geral, porém, Leder constata a inexistência de uma “confrontação produtiva com Max Weber” (p. 27). As razões não seriam apenas de natureza intelectual, posto que refletiriam também a ausência de uma relação dialética entre racionalismo prático (intramundano) e a ética religiosa islâmica. A conexão presente em toda a obra de Weber entre valores religiosos e a dinâmica da vida político-econômica, não se revelaria naquelas culturas uma chave heurística tão fértil quanto o foi no Ocidente.
Alexandre Toumarkine mostra, em “The introduction of Max Weber’s thought and its uses in Turkey”, que a Turquia diverge do padrão descrito acima. O autor evoca o interessante caso de Kayseri, uma capital de província famosa por seu tradicionalismo religioso e dinamismo empresarial. Um antigo prefeito da cidade, Şükrü Karatepe, chegou a declarar que, “para entender Kayseri, é preciso ler Max Weber” (apud p. 33). A possível existência de um islamic calvinism gerou um amplo debate na imprensa turca. Tornavam-se evidentes os resultados a que chegaram diversos pesquisadores, para os quais “a fé islâmica não é um obstáculo ao desenvolvimento econômico ou à modernização social” (p. 34). É interessante notar que a Turquia tem uma história de recepção análoga à do Brasil sob vários aspectos: a defasagem temporal em relação a outras comunidades intelectuais, a importância dos imigrados de origem germânica (Alexander Rüstow e Gerhard Kessler tiveram ali um papel similar ao de Otto Maria Carpeaux e Emílio Willems entre nós), a influência exercida pela tradução de livros como As etapas do pensamento sociológico de Raymond Aron, e a coletânea From Max Weber de Gerth e Mills.3 As apropriações de Weber na ciência social turca giram em torno de questões como a aplicabilidade do conceito de carisma a Ataturk, o fundador da república, e ainda à permanência de um forte componente patrimonialista naquele país. Para o historiador Halil Inalcik o Estado turco constituiria um caso extremo de patrimonialismo, chamado por Weber de sultanismo. Inalcik teria demonstrado que “a fusão entre poder político e espiritual na pessoa do sultão fez do Império otomano o tipo perfeito de sultanismo” (p. 46).
O weberianismo no islã é objeto de outro capítulo, “Max Weber and the revision of secularism in Egypt”. O autor, Haggag Ali, expõe as discussões que intelectuais egípcios têm feito nos últimos anos sobre a “secularização” numa chave weberiana. Atenção especial é dada à monumental Enciclopédia dos judeus, judaísmo e sionismo escrita por Abdel-Wahab El-Messiri (1938-2008), em que se faz uma distinção entre “secularismo parcial” e “secularismo compreensivo”, sendo o primeiro uma modalidade mais branda (e que El-Messiri acreditava ser compatível com o Islã), e o último uma forma mais radical de desencantamento do mundo. É interessante notar que o que adquiriu centralidade na recepção de Weber no Egito é talvez o aspecto mais frágil de sua visão da modernidade, qual seja, o conceito mesmo de “secularização”. Mas nada se compara ao mal-entendido que atribui a Weber a ideia de que somente no Ocidente teria havido racionalização, e que Haggag Ali repete um tanto acriticamente. Sob a influência da legenda segundo a qual a racionalização conduziu ao holocausto – é preciso desconhecer um livro como Mein Kampf para se estabelecer uma relação entre uma coisa e outra –, El-Messiri difunde em seu país um mal-entendido em cuja origem, curiosamente, está o antimodernismo judaico presente em autores como Horkheimer e Bauman. Sua preocupação maior era fazer um diagnóstico histórico-sociológico do sionismo, visto como “uma ideologia secular que aspira à salvação dos judeus, prometendo a seus adeptos (…) o fim das perseguições e do sofrimento no aqui-e-agora” (p. 57).
“Max Weber in the world of Empire” é o título da contribuição de Sam Whimster. Trata-se de situar Weber no contexto da época áurea do imperialismo, bem como as possíveis ressonâncias disso para sua obra. Com base em cartas inéditas até então, Whimster mostra a evolução das ideias de Weber a respeito das aspirações de grandeza da Alemanha – contudo não estamos certos de que ele de fato “olhava para o mundo através das lentes do império, mais que das do estado-nação” (p. 77). Excetuada a forte influência dos junkers, não há dúvida de que Bismarck e a Prússia das décadas de 1870-1890 permaneceram como uma espécie de modelo para Weber durante quase toda sua vida. Entretanto, é revelador que o conceito de imperialismo não seja definido com mais clareza por Whimster, o que lhe permite – assim nos parece – empregar o termo com uma liberdade demasiada, e assim classificar Weber como um “imperialista”. Sinceramente, não nos vem à memória algum texto deste autor que dê ensejo a tal classificação.
Seguem-se dois importantes estudos sobre a Rússia e a Polônia. O primeiro deles, da autoria de Dittmar Dahlmann (p. 81-102), examina o interesse de Weber pelo enigma russo, assim como o papel da Rússia em sua obra. Mantendo estreita relação com a comunidade eslava em Heidelberg, Weber publicou dois longos estudos sobre a fracassada revolução liberal de 1905 naquele país, e seu conceito de “pseudoconstitucionalismo” tornou-se influente nos meios jurídicos russos antes da ascensão dos bolcheviques. Cabe notar ainda que não foram sociólogos, mas historiadores (Dimitri Petrusevski, Nicolai Kareev, Alexandr Neusychin) os que deram início à recepção russa de Weber. Em artigo de 1923, Neusychin defendeu inclusive a tese, que nos inclinamos a abonar, de que a sociologia weberiana nada mais é que “a história traduzida na linguagem dos conceitos gerais” (apud p. 87). Igualmente curioso é o fato de que alguns excertos de A ética protestante e da Ética econômica das religiões mundiais tenham sido traduzidos e publicados no período soviético, precisamente num número de 1928 de uma revista chamada Ateísta. De resto, prevaleceu o veto ideológico a Weber. Uma tradução de A ética protestante chegou a ser feita em 1972 por Neusychin, mas como levava um selo com as palavras “apenas para o uso interno”, evidentemente não pôde ser publicada. Desnecessário dizer que uma Weber-renaissance digna desse nome teria de esperar pela Glasnost e pela derrocada definitiva do aparato de poder em 1990.
Marta Bucholc se dedica ao espinhoso capítulo polonês da weberianização do mundo em seu estudo “A reação dos sociólogos poloneses aos escritos de Max Weber sobre a Polônia”. Relação espinhosa nem tanto pelo fato de este país ter se tornado parte da Cortina de Ferro, mas porque as poucas menções de nosso autor aos poloneses estão entre as mais infelizes que ele escreveu.4 A ponto de ele próprio admitir em 1916: “Eu era tido como um inimigo da Polônia. Preservo ainda hoje uma carta assinada e enviada de Lemberg há vinte anos, em que se lamentava que meus antepassados não tivessem sido comidos por um porco mongol” (apud p. 111-112). O fato é que não houve influência alemã digna de nota sobre os pais fundadores da sociologia polonesa, Stefan Czarnowski e Florian Znaniecki, os quais reverberavam uma nítida ascendência francesa. Segundo Bucholc, esta situação não se alterou desde então.
Traduções de Weber em polonês só surgiram no alvorecer do século XXI. Mas mesmo com o advento da open society, observa Bucholc,
os escritos políticos de Weber provavelmente eram percebidos como irrelevantes na nova realidade da integração europeia, na qual Polônia e Alemanha há muito mantinham relações amigáveis (…). Os escritos políticos de Weber sobre a Polônia seriam então não apenas muito difíceis de se ler e de maneira alguma aceitáveis, mas seriam também desinteressantes (p. 118).
Caso inteiramente diverso e sob todos os aspectos digno de atenção nos é apresentado por Wolfgang Schwenkter em “Controvérsias japonesas sobre A ética protestante de Max Weber”. Um dos mais competentes estudiosos das relações intelectuais entre Japão e Alemanha, Schwenkter enumera em seu bem documentado ensaio as razões da ascendência japonesa nos estudos weberianos. A carreira japonesa de Weber deve muitíssimo a eruditos devotados à história econômica (Fukuda Tozuko, Kawada Shiro e Hani Goro). Não menos importante foi a passagem pelo Japão de autores influenciados por Weber, tais como Karl Löwith e Robert Bellah. Para que se tenha noção da singularidade do caso em tela, basta dizer que, desde 1964, existe uma versão japonesa integral de O judaísmo antigo. Praticamente toda a obra de Weber acha-se hoje traduzida naquele país, algo com que o pobre leitor brasileiro só pode sonhar. Em seu diagnóstico da situação atual, Schwenkter mostra que a chegada das teorias pós-modernas ao Japão se articula com o surgimento de uma nova geração de intelectuais japoneses que questionam – como é justo que seja – a atualidade do legado de Weber. O autor examina ainda a grande polêmica gerada em 2002 pela publicação de livro do sociólogo Hanyu Tatsuro, O crime de Max Weber. O “crime” em questão assenta no uso pouco rigoroso que Weber fez de certas fontes bíblicas na Ética protestante. Raramente se terá empregado uma terminologia tão forte numa querela essencialmente filológica, mas no final das contas há que dar razão a Schwenkter por sua crítica a Tatsuro por se valer de um título “inteiramente absurdo” por razões mercadológicas (p. 140).
Nos quatro ensaios seguintes de Max Weber in der Welt o leitor familiarizado com os estudos weberianos não consegue manter o mesmo nível de atenção. Ora o tratamento dos problemas não se aprofunda o suficiente, ora os resultados apresentados são magros demais para recompensar o esforço de leitura. Em “A estadia romana (1901-1903) e a relação de Max Weber com o catolicismo”, Peter Hersche trata de uma questão potencialmente relevante, mas para a qual, ao fim e ao cabo, nenhuma evidência nova chega a ser aportada.
Em “The American journey and the protestant ethic”, Lawrence Scaff oferece uma síntese de sua alentada monografia Max Weber in America (2011), revisitando os topoi da experiência americana de Weber: da longa viagem empreendida com sua esposa em 1904 à importância de nomes como Parsons e Edward Shils ou de instituições como as Universidades de Chicago, Columbia e a New School na recepção de sua obra. Scaff sublinha dois pontos que parecem mesmo relevantes. Por um lado, o impacto da viagem aos Estados Unidos sobre a redação da segunda parte da Ética protestante; de outro, o fato de que sua recepção norte-americana jamais teria sido a mesma, caso este escrito não oferecesse uma espécie de narrativa mestra do American dream.
Quanto ao ensaio “Max Weber e a Philosophie de l’art de Hippolyte Taine”, de Francesco Ghia, este parecerista não encontrou razões para traçar qualquer comentário a respeito, dado o seu caráter altamente especulativo e inconclusivo. Melhor seguir em companhia de Hinnerk Bruhns e seu capítulo “Max Weber na Guerra Mundial (1914-1920) – Com uma olhadela da França”. No país da escola durkheiminiana, a introdução do pensamento de Weber jamais teria sido algo fácil. Por muito tempo, intelectuais como Raymond Aron e Julian Freund amargaram uma solidão de mil desertos. A lentidão com que apareceram as traduções francesas é de fato impressionante. Até o ano de 2014 não havia uma versão francesa da pioneira biografia publicada por Marianne Weber em 1926. Bruhns explora a experiência de Weber na Primeira Guerra Mundial – ele foi encarregado de administrar os hospitais da região de Heidelberg – e como as vivências daquele período se traduzem em seus escritos posteriores. É sabido que Weber saudou o conflito entusiasticamente, sem, porém, aderir ao Hurrapatriotismus de um Max Scheler ou dos signatários do famoso manifesto “Ao mundo cultural”, em que eruditos alemães de prestígio defenderam as ações do exército alemão. Não é pequeno, em todo caso, o papel do fenômeno “guerra” na sua sociologia, e ninguém duvida que, ao definir a política como “luta”, ele pavimentou uma perspectiva do político que atingiria seu ápice em Carl Schmitt.
Chegamos finalmente ao último ensaio do volume, “Max Weber e os problemas histórico-universais da modernidade”, de Gangolf Hübinger (p. 207-224). O autor faz um criativo exercício de análise da modernidade – entendida enquanto um estágio da vida social marcado antes de mais nada pela aceleração civilizacional e pela tensão crescente entre visões seculares e religiosas de mundo (p. 208) – a partir das pistas deixadas por Weber em seus escritos. Hübinger distingue na sua obra quatro indicadores fortes do caminho alemão para a modernidade: o advento e afirmação do capitalismo, a crítica do historicismo, a cultura de massas e a democracia. Nas seções seguintes de seu capítulo, Hübinger trata de iluminar cada uma dessas variáveis à luz da erudição histórica e, sobretudo, de mostrar como o legado intelectual e científico de Weber constitui um lócus privilegiado para visualizarmos cada um desses processos. Tanto do ponto de vista econômico quanto do científico, cultural e político, o pensamento weberiano se presta, como poucos de seu tempo e posteriores a ele, a iluminar uma época que – a despeito de toda doxa pós-moderna – ainda não deixamos para trás.
Nesse sentido, e ao menos enquanto as quatro estruturas acima evocadas se mantiverem, o lugar de Max Weber no grande museu das antiguidades intelectuais do Ocidente permanecerá vazio. Ele continuará incontornável para nós, no sentido preciso daquele termo que volta e meia surge em seus escritos, a saber: como destino.
Referências
MATA, Sérgio da. Modernity as fate or as utopia: Max Weber’s reception in Brazil. Max Weber Studies, v. 16, 2016, p. 51-69. [ Links ]
VILLAS BÔAS, Glaucia. A recepção controversa de Max Weber no Brasil (1940-1980). Dados. Revista de Ciências Sociais, v. 57, n. 1, 2014, p. 5-33. [ Links ]
WEBER, Max. Economia e sociedade, vol. II. Brasília: EdUnB, 1999. [ Links ]
WEBER, Max. Escritos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2014. [ Links ]
1WEBER, Max. Economia e sociedade, vol. II. Brasília: Edunb, 1999, p. 580.
2WEBER, Max. Escritos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 385.
3Cf. MATA, Sérgio da. Modernity as fate or as utopia: Max Weber’s reception in Brazil. Max Weber Studies, v. 16, 2016, p. 51-69; VILLAS BÔAS, Glaucia. A recepção controversa de Max Weber no Brasil (1940-1980). Dados. Revista de Ciências Sociais, v. 57, n. 1, 2014, p. 5-33.
4WEBER, Escritos políticos, op. cit., p. 3-36.
Sérgio da Mata – Professor do Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. E-mail: [email protected].
Gente de guerra – MIRANDA (RH-USP)
MIRANDA, Bruno Romero Ferreira. Gente de guerra. Origem, cotidiano e resistência dos soldados do exército da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil (1630-1654). Recife: Ed. UFPE, 2014. Resenha de: FRANÇOZO, Mariana. Gente de guerra: novas perspectivas sobre o Brasil holandês. Revista de História (São Paulo) n.174 São Paulo Jan./June 2016.
Na introdução a Gente de guerra, o historiador Ronaldo Vainfas acertadamente descreve Bruno Miranda como parte de uma nova geração de historiadores que, munida do conhecimento da língua holandesa e debruçada sobre vasta e variada documentação primária, vem repensando e expandindo a tradicional historiografia sobre o domínio holandês no Brasil no século XVII. Esse livro, fruto de tese de doutoramento em História defendida na Universidade de Leiden, em 2011, constitui – pela primeira vez na historiografia nacional e internacional sobre o Brasil holandês – uma obra dedicada exclusivamente à história “de alguns dos muitos personagens anônimos que participaram da conquista e manutenção do Brasil” (p. 30): os soldados da Companhia das Índias Ocidentais (WIC). Cabe adicionar: personagens que participaram também da perda do Brasil holandês e das derrotas da WIC na América do Sul. Afinal, como mostra Miranda, a má condição geral das tropas foi decisiva para o destino frustrado das intenções militares e políticas dos holandeses no Brasil.
Na introdução, um pouco seca – pois não há floreios – e bastante direta – porque é descritiva, como o livro todo -, Miranda introduz seus personagens principais, bem como a estrutura da obra, centrada em perguntas sobre quem era e como (sobre)vivia a soldadesca da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. Ao longo dos capítulos, encontram-se as motivações e os diálogos teóricos que impulsionaram o autor a formular suas questões. A começar, com efeito, com a dúvida lançada no início da década de 1980 pelos historiadores Pieter Emmer e Ernst van den Boogaart sobre a própria possibilidade de escrever uma história dos soldados da WIC (p. 44). Em um livro bem escrito e bem composto, o leitor encontra numerosas descrições de momentos significativos do cotidiano dessa gente: os motivos para se alistarem na Companhia, as circunstâncias da viagem atlântica, as dificuldades da vida diária no Brasil, o trabalho, as lutas, as doenças, a revolta e, finalmente, a volta – quando possível – para a Europa.
Ainda que a possibilidade de reconstruir integralmente o cotidiano desses soldados seja limitada pela incompletude das fontes – drama e circunstância de todo historiador -, Miranda consegue esboçar com fidelidade um quadro diversificado de pessoas, motivações, escolhas e trajetórias que, em conjunto, fazem sentido. Isso só foi possível porque o autor mergulhou sem medo nos acervos documentais dos Países Baixos – muitos dos quais já lidos e analisados anteriormente por célebres nomes da historiografia do Brasil holandês, como José Antônio Gonsalves de Mello, Charles Boxer, Evaldo Cabral de Mello e o próprio Ronaldo Vainfas. Foram consultados velhos conhecidos, como os arquivos da Velha Companhia das Índias Ocidentais (OWIC) e os arquivos dos Estados Gerais (ambos no Arquivo Nacional de Haia), que provaram neste livro ser fonte ainda rica de novos dados, quando lidos sob nova perspectiva. O autor expande o acervo documental ao investir também nos registros notariais das cidades de Amsterdã e Roterdã para cruzar dados e, assim, estabelecer redes e relações entre esses soldados e a vida diária na colônia e nos Países Baixos. Outra fonte central foram os vários relatos dos soldados que escreveram sobre suas experiências na WIC, alguns dos quais aparecem repetidamente no livro (como Stephen Carl e Peter Hansen), dada a riqueza de sua narrativa. As imagens aparecem apenas eventualmente como ilustrações ou fontes que confirmam hipóteses – com destaque, nesse sentido, para o problema da indumentária dos soldados expresso em gravura que registra soldados roubando as vestes de inimigos mortos ou feridos (p. 193).
Nos capítulos 1 e 2 do livro, que tratam de dados demográficos e do engajamento na companhia, os achados sobre os soldados do Brasil holandês são constantemente confrontados com dados de mesma natureza sobre os soldados da Companhia das Índias Ocidentais (VOC), com inspiração clara no trabalho de Roelof van Gelder sobre a “aventura” asiática dos soldados da VOC.1 Dessa forma, e para compensar as fontes inconclusivas, Miranda compara, contrasta e confirma suas hipóteses com respaldo em sólida literatura sobre os militares europeus na Ásia e África, bem como a soldadesca europeia no período moderno. Da mesma forma, no capítulo 4, ao tratar das doenças que afligiam as tropas no Brasil, Miranda esboça uma comparação com os casos de militares europeus na África e Ásia (p. 231-240). Assim, apesar de não ir a fundo na comparação, o autor sugere a possibilidade de ampliar o escopo dos estudos do Brasil holandês, levando-o a um cenário de história atlântica – como alguns pesquisadores já vêm fazendo – e, quando cabível, mesmo de história global. O livro, assim, afasta-se de uma “historiografia pernambucana”, na qual o prefaciador do livro parece querer enquadrar Bruno Miranda (p. 15), e aproxima-se de uma historiografia comparativa, que analisa as origens e o funcionamento dos impérios coloniais europeus em perspectiva transnacional.
Gente de guerra traz pelo menos três importantes proposições sobre os “personagens anônimos” cujas histórias pretende recuperar. Em primeiro lugar, mostra que a maioria dos soldados da WIC – companhia holandesa – não era holandesa, mas tinha origem geográfica variada, com numerosa presença de homens vindos dos Estados alemães, seguidos por aqueles dos Países Baixos espanhóis, Inglaterra, França, Escandinávia e Escócia (p. 56). Em segundo lugar, o livro contribui para desmistificar a ideia de que esses soldados eram gente “da pior fama”, pobretões em busca de riqueza rápida, homens de má índole e pouca formação. Ao contrário, Bruno Miranda revela a diversidade das origens sociais desses soldados, e mostra, com rigor, como muitos deles só conseguiram se alistar na WIC e garantir lugar no exército no Brasil justamente porque sabiam algum ofício que poderia ser útil durante as lutas ou depois delas. Finalmente, o livro indica o papel fundamental da condição de vida desses soldados na derrocada dos holandeses no Brasil. Na segunda parte do livro, Miranda mostra como as tropas eram, via de regra, mal alimentadas, doentes, mal pagas e em geral maltratadas tanto por seus superiores no Brasil quanto pelas autoridades da WIC na Holanda, que não respondiam às suas demandas com a rapidez e a eficiência necessárias. Sem vitimizá-los, o autor conta as estratégias de sobrevivência empregadas, com maior ou menor grau de sucesso, pelos soldados da WIC. Assim, se alguns desses soldados escolheram desertar, passar ao lado inimigo, ou amotinar-se (capítulo 6), as origens de seu descontentamento residiam na tentativa da WIC, operando muitas vezes perto de decretar falência, de gerar lucro a qualquer custo (ou, em bom holandês: voor een dubbeltje op de eerste rang zitten – por alguns centavos, sentar-se no melhor lugar). Em tais condições de miséria, combater o inimigo era uma missão quase impossível e, por isso, o malogro da WIC no Brasil tem que ser compreendido também pela lente das experiências sofridas desses homens.
Se há críticas ao livro, elas recaem em certa falta de posicionamento mais claro do autor em relação à literatura brasileira e estrangeira sobre o Brasil holandês. Um pouco por modéstia, Miranda parece querer sugerir que o livro trata de um aspecto até agora negligenciado dessa história – as trajetórias e o cotidiano dos soldados da WIC. Em relação a esse aspecto, o livro de fato traz uma contribuição clara e o autor não se furta a indicar, quando cabível, pequenos erros ou grandes deslizes da literatura da área. Porém, mais do que “um tijolinho a mais” ou uma narrativa a mais, Gente de guerra ajuda a situar o próprio Brasil holandês em outro plano de análise. Muitas vezes tratado como evento episódico tanto na historiografia sobre o Brasil Colônia quanto na bibliografia holandesa sobre a expansão ultramarina, as três décadas em que a WIC ocupou parte da costa nordeste da América portuguesa tiveram impacto militar, econômico, político, social e cultural dos dois lados do oceano Atlântico, bem como na política local nos Países Baixos. Menos que um episódio histórico interessante, o período do Brasil holandês fez parte de um sistema atlântico de relações (desiguais) de poder que marcaram a história de pelo menos três continentes interligados ao mesmo tempo que ajudou a construir esse sistema. Menos do que apenas recontar a história dos soldados da WIC, Gente de guerra ajuda a lançar nova luz sobre as redes de relações que compuseram o emaranhado do Brasil holandês. Por isso, deverá ser lido por todos aqueles interessados no período moderno, em história atlântica e na (nova) história militar.
1VAN GELDER, Roelof. Het Oost-Indische Avontuur: Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800). Nijmegen: SUN, 1997, 335 p.
Mariana Françozo – Doutora em Ciências Sociais pela Unicamp. Professora na Faculdade de Arqueologia, Universidade de Leiden, Países Baixos. Email: [email protected]
Marx selvagem – TIBLE (RH-USP)
TIBLE, Jean. Marx selvagem. São Paulo: Annablume, 2013. Resenha de: VELLOSO, Gustavo. Um espectro ronda a selva: história, antropologia e práxis. Revista de História (São Paulo) n.174 São Paulo Jan./June 2016.
O livro Marx selvagem, de Jean Tible, reconduz para a arena das ciências humanas um horizonte analítico que vinha sendo desdenhado há décadas, depois de ter se beneficiado do contexto teórico e político particularmente favorável do início do século XX até os anos 1980, em todo o mundo. Trata-se do aproveitamento do materialismo histórico, enquanto tradição de análises e reflexões, para o estudo de formações sociais diferentes daquela que constituiu o eixo central das preocupações de seus primeiros pensadores, isto é, a sociedade capitalista em seu clássico formato industrial. No caso, as populações indígenas do continente americano são o foco da reflexão.
Fruto de uma tese de doutorado defendida em 2012 na Unicamp, a obra recebeu até agora bom acolhimento,1 o que pode ser atribuído não apenas ao fato de que o livro atende a uma demanda dos intelectuais e movimentos políticos de esquerda que não se contentam com o corrente tratamento dos problemas indígenas como uma questão “de minorias”, mas também à situação especialmente crítica pela qual as populações indígenas do Brasil (e também de fora dele) têm passado nos últimos anos. Refiro-me ao avanço da exploração econômica sobre reservas e extensões florestais em benefício do agronegócio e de megaprojetos garantidos por governos neoliberais e/ou desenvolvimentistas cada vez menos aparelhados para conter os efeitos devastadores de suas próprias práticas políticas.
Tible nos instiga a pensar, então, se o horizonte marxista (e, junto dele, seu método dialético, potencial crítico e de autocrítica permanente) não seria portador de instrumentos válidos de compreensão, investigação e, evidentemente, transformação dessa realidade. Sua resposta é positiva e, nesse sentido, demonstra-se que resgatar Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) para pensar as (e com as) populações indígenas americanas não significa projetar sobre elas conclusões e categorias formuladas por esses dois teóricos em outros contextos – para o autor isso se mostra, aliás, prescindível -, mas não ignorar os tipos de questão por eles colocados para as sociedades anteriores e/ou contemporâneas do capital e que, estranhas à sua lógica, sentem ou sentiram as consequências de sua expansão.
O argumento é atraente e bem delineado. Divide-se em três grandes momentos e cada qual corresponde a um capítulo da obra. Em primeiro lugar, diz-nos, os escritos de Marx e Engels apresentam certa sensibilidade com relação a formações sociais externas ao continente europeu, incluindo o que se convencionou chamar de “sociedades primitivas”. Segundo, a crítica do Estado contida nos textos dos dois filósofos alemães combinaria com os mecanismos de “recusa” do Estado vistos em grupos ameríndios pelo antropólogo francês Pierre Clastres (1934-1977). Finalmente, a organização autônoma dos Yanomami e os textos de Davi Kopenawa (1956-), uma de suas lideranças, retratariam os bons frutos advindos da aproximação “Marx-América indígena”, sobretudo a partir da crítica que Kopenawa fez daquilo que Marx concebeu como fenômeno ludibriante da nossa sociedade, o “fetichismo da mercadoria”.
O ponto de partida adotado pelo autor foi o pensamento do revolucionário peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930), segundo Tible “precursor” (p. 18) da mobilização do marxismo para as pautas indígenas e indigenistas. Mariátegui teria rompido com uma visão eurocêntrica que enxergava os índios americanos pela ótica do atraso social e teria apontado nos ayllu (unidade comunitária básica de organização andina durante o período incaico) a existência de características avançadas de produção comunitária, apesar de a parcimônia dos contatos de Mariátegui com as comunidades indígenas ter fragilizado, em parte, sua obra.
Passando ao exame dos escritos de Marx e Engels (capítulo 1), o autor destaca a existência de referências a povos não europeus (Índia, China, Argélia, México, Irlanda, Estados Unidos, Rússia etc.) em escritos de várias fases de suas obras, encontradas tanto em A ideologia alemã (1845-6) como em textos posteriores ao primeiro volume de O capital (1867), ou ainda no Manifesto do Partido Comunista (1848), em Grundrisse (1857-8), artigos publicados no New York Daily Tribune, cadernos de anotações, cartas e outros. Se, de início, o conteúdo de tais referências exprimiria uma “tensão entre a condenação moral dos efeitos da expansão da máquina capitalista e sua certa justificação teórica” (p. 38), textos mais tardios propuseram uma compreensão mais sensível e objetiva dos diferentes mundos. Dois objetos de preocupação dos dois filósofos seriam exemplares: 1) a comuna russa, da qual se tratou no artigo de Engels e nas cartas trocadas por Marx com a ativista russa Vera Zasulich (1849-1919); 2) a assim chamada liga dos iroqueses (grupo indígena habitante do subcontinente norte-americano), conhecida por meio da leitura que Marx fez de obras como a do antropólogo estadunidense Lewis Morgan (1818-1881), estudo que resultou na redação de seus Ethnological notebooks (1880-1882), publicados somente oitenta e nove anos após sua morte. Em ambos os casos, interessava-lhes sobremaneira (a Engels e a Marx) os modos de apropriação coletiva do recurso fundiário e suas implicações no que diz respeito à “diversidade dos caminhos do desenvolvimento histórico dos povos” (p. 61). Ou seja, formações sociais distintas (com ou sem classes, assentadas em apropriação privada ou comunal do solo) foram percebidas pelos dois filósofos como contemporâneas e, acrescenta Tible, “simétricas”, uma vez que ambos não mais as encaravam sob a arrogância e a superioridade do pensamento etnocêntrico europeu.
O autor realizou ainda uma leitura detida de outros textos de Marx – dentre eles, a Crítica da filosofia do direito de Hegel (1843), A questão judaica e os Manuscritos econômico-filosóficos (1844), A guerra civil na França (1871) e a Crítica do Programa de Gotha (1875) -, destacando as conclusões ali contidas sobre a temática do Estado (capítulo 2). Indica haver em seu conjunto um movimento de transição de uma concepção democrático-radical do Estado como instância superior aos conflitos sociais e seu mediador, para um entendimento (fortemente marcado pelos eventos de 1848) do Estado como instrumento burocrático e repressivo de dominação de classe e, finalmente, do Estado como uma órgão político que, ao mesmo tempo, condiciona e viabiliza o funcionamento do sistema de valorização e acumulação de capital, sendo essa última percepção apontada na longa crítica marxiana da economia política, cujo resultado foi a redação inacabada de O capital. Dessa mudança de abordagem derivaria a necessidade de abolição e superação da forma política estatal, o que Tible caracteriza como “ímpeto antiestatista marxiano” (p. 103), tornado ainda mais preciso nas polêmicas de Marx com Mikhail Bakunin (1814-1876) e Ferdinand Lassalle (1825-1864).
O paralelo com o pensamento de Clastres advém, de acordo com Tible, do combate que esse antropólogo francês moveu contra a caracterização das “sociedades primitivas” como sociedades incompletas, marcadas pela ausência de tal ou qual elemento próprio da cultura ocidental (classes sociais, poder político, hierarquias, Estado). Sua antropologia política sugere que as sociedades indígenas não despossuem o Estado – enquanto poder transcendental separado da própria sociedade – por desconhecê-lo, mas sim por recusá-lo ativamente. Assim, mecanismos desenvolvidos a partir de sua base teriam por princípio manter o tecido social indiviso, impedindo o surgimento de autoridades cujas forças eventualmente poderiam se voltar contra os indivíduos horizontalmente organizados. De um lado, chefes locais com poderes limitados mediariam a paz social por meio da oratória e seriam permanentemente vigiados pela própria tribo a que servem. De outro, os conflitos bélicos seriam orgânicos aos grupos por assegurarem sua fragmentação e multiplicidade. Por último, as relações de parentesco e o universo mítico, reproduzidos com base no ideal de reciprocidade, manteriam uma coesão social incompatível com a emergência de um poder coercitivo verticalizado.
A relação entre Marx e Clastres não está dada pelo fato de ambos compartilharem alguma forma de “aversão” pela instituição estatal. Para interligá-los Tible recorre ao entendimento, buscado em Mil Platôs (1980), de Gilles Deleuze (1925-1995) e Félix Guattari (1930-1992), de que o Estado e sua violência precederam a acumulação capitalista, sendo ele o responsável pelo engendramento das classes, e não o contrário. Marx e Clastres convergiriam, pois, “na compreensão do Estado como unificação e transcendência e em seus elos decisivos com a exploração” (p. 147). Assim, o Estado capitalista visto sob a ótica de Marx e o perigo latente do Estado nas sociedades indígenas lido sob a lógica de Clastres estariam identificados, tornando os entendimentos dos dois autores análogos e complementares entre si.
As explanações teóricas ganham materialidade quando estão baseadas em situações históricas concretas. Seguindo esse caminho (capítulo 3), o autor passa a estudar algumas “formas” de organização política antagônicas ao Estado, da maneira como se apresentaram a Karl Marx em alguns de seus escritos. A “forma-comuna” e seus conselhos populares, conhecidos pelo aparecimento da Comuna de Paris em 1871 na França, teria exercido grande influência sobre Marx, que a considerou uma evidência do teor de classe do Estado e da necessidade de os trabalhadores tomarem-no para seus próprios fins, o que deveria corresponder, por consequência, à sua supressão. A “forma-confederação”, observada a partir da liga dos iroqueses, reuniria diferentes tribos autônomas e independentes em um conselho em que todos os adultos teriam igual participação, e nesse ponto teriam se inspirado nos republicanos estadunidenses à época da redação de sua primeira constituição (p. 156). A “forma-conselho”, por sua vez, elemento comum às comunas e confederações, estaria também por trás da Organização Regional dos Povos Indígenas da Amazônia (Orpia), sistema intercomunitário e horizontal do qual participam os Yanomami ainda hoje e ao qual eles recorreram em 1994 pela anulação de uma lei que dividia arbitrariamente seu território.
O autor compreende o pensamento de Davi Kopenawa com base nas circunstâncias históricas em que foi gerado (contato relativamente recente dos Yanomami com o “homem branco”, e junto dele suas doenças e mercadorias; presença predatória de garimpeiros na Amazônia desde a década de 1970; esforços pelo ato de demarcação da terra Yanomami, concretizado em 1992). Fruto de uma trajetória singular como intérprete da Funai vindo de um grupo dizimado por epidemias, Kopenawa “articula categorias brancas e indígenas, pois conjuga experiência com os brancos e firmeza intelectual do xamã” (p. 165). Seu discurso, registrado em conjunto com o antropólogo francês Bruce Albert na obra La chute du ciel (2010), apresentaria uma floresta habitada por xapiripë – espíritos verdadeiramente possuidores da floresta e responsáveis por sua ordenação cosmológica e ecológica. A exploração predatória promovida pela atividade garimpeira seria responsável pela emissão de um vapor visto como causador das novas doenças, a xawara, além do próprio aquecimento global.
Segundo Tible, a indistinção entre natureza e cultura subjacente no pensamento de Kopenawa, interpretado com base na obra de Eduardo Viveiros de Castro, evidencia um perspectivismo assentado sobre alteridade, multiplicidade, diferença. Contra a cobiça do povo cujo pensamento se encontra “fixado nas mercadorias” (p. 167), teríamos então o sistema relacional de reciprocidades Yanomami. Finalmente, a dialética materialista de Marx, que também compreendia natureza e sociedade como totalidade relacional (sua concepção da categoria “produção” seria esclarecedora nesse sentido), é apresentada como outro elemento de aproximação da visão de mundo e da orientação social indígena, sendo ambos (Marx e Kopenawa, no caso) igualmente dotados de críticas profundas à sociedade mercantil, ao capitalismo propriamente dito.
Concepção e defesa de formas coletivas de apropriação dos recursos produtivos; posturas combativas diante do Estado e pela organização autônoma da “forma-conselho”; crítica latente do mundo das mercadorias e de sua ideologia. Tais são, portanto, os elementos sugeridos por Jean Tible para “interpelar” (o termo é várias vezes repetido) o pensamento marxiano com os problemas próprios das sociedades indígenas americanas. O livro termina com uma remissão à antropofagia de Oswald de Andrade, propondo-a como “chave”, “ponte” e “catalizador” (p. 204-5) do diálogo entre as duas realidades (marxista e indígena – “deglutição” da primeira pela segunda e vice-versa) e suas correspondentes visões de mundo.
As conclusões do autor nem sempre coincidem com o desenvolvimento real de suas análises e, por vezes, falta alguma dose de rigor. Por exemplo, depois de apresentar diversas evidências de que a obra de Marx conteve sensibilidade contínua pelas sociedades não europeias, embora esse aspecto apenas tardiamente tenha sido ampliado e adquirido consistência teórica, Tible prossegue suas considerações afirmando que Marx tinha “dificuldades” em “apreender as sociedades ‘outras'” (p. 122). De maneira correlata, oferecendo claros indícios de que o “antiestatismo” de Marx foi produto de um fazer-se teórico constitutivo e de longa duração, o autor vacila ao tratá-lo ora como fruto de um “deslocamento” (p. 69), ora como um “continuum” de toda sua obra (p. 92). Isso ocorre porque o autor prende-se muito a interpretações oferecidas por fontes secundárias (isto é, por outros comentadores), cujas conclusões na realidade são, muitas vezes, superáveis pelos próprios resultados de sua investigação.
Também se observa um demasiado isolamento de trechos e parágrafos das obras de Marx e Engels para depois examiná-los, levando pouco em conta a maneira pela qual as breves e, por vezes, incertas referências aos povos não europeus e ao Estado se articulam com desenvolvimentos filosóficos e epistemológicos de maior alcance.
Ademais, a aproximação feita de Marx com Pierre Clastres se baseia exclusivamente na postura antagonista que ambos exerceram com relação ao Estado em seus escritos. Se, como o próprio autor recorda, os dois teóricos tiveram motivações diferentes, utilizaram categorias explicativas e procedimentos analíticos distantes (incluindo suas divergentes concepções de Estado), e adotaram posturas teóricas e metodológicas incongruentes, a simples aversão comum ao Estado não basta para que disso concluamos que ambos são compatíveis apesar de suas claras diferenças. Com isso, não me refiro ao fato de Clastres ter se mostrado, a partir de determinada fase da vida, um antimarxista assíduo em suas polêmicas, mas sim por sua antropologia política divergir diametralmente do materialismo histórico e sua noção basilar de “totalidade dialética”.
Isso fica evidente no produtivo debate travado entre Clastres e os antropólogos marxistas franceses durante a década de 1970 e início da seguinte, entre os quais estavam Claude Meillassoux (1925-2005), Maurice Godelier (1934-) e Emmanuel Terray (1935-). Causa surpresa que Tible, ao buscar estabelecer uma aproximação entre antropologia e marxismo, não tenha o cuidado de problematizar os textos daqueles que se afirmaram como adeptos de uma antropologia marxista, hoje praticamente abandonada. Com exceção de três citações isoladas (p. 26, 68 e 122), foram vagamente lembrados como “certos autores marxistas” (p. 123 e 132), aceitando sempre a rejeição de Clastres, sem maiores esclarecimentos.
A contenda, fortemente marcada pelos eventos de maio de 1968, desenrolou-se em torno de dois flancos principais. De um lado, a questão do surgimento do Estado nas sociedades humanas em geral. De outro, a separação ou junção das relações materiais de existência social com suas expressões simbólicas, políticas e culturais – em outras palavras, em torno do uso e os limites dos vocábulos “infraestrutura” e “superestrutura” para a descrição da vida humana em sociedade.
Em L’idéel et le matériel (1984), obra que reflete esses debates e a eles de alguma forma responde, Godelier resolve o problema defendendo a ideia de que a distinção entre infraestrutura e superestrutura não pode ser entendida como uma separação de instituições, tampouco de instâncias ou esferas da vida humana, mas sim de “funções”, já que na maior parte das sociedades até agora conhecidas, o parentesco, a religião e a política puderam perfeitamente ser considerados aspectos predominantes em detrimento dos puramente “econômicos”, mas isso só ocorreria porque religião, parentesco e política nessas sociedades “funcionam” como instrumentos e parâmetros de organização das relações materiais, individuais e coletivas, necessárias à sobrevivência física dos homens. Nesse quadro, o Estado surgiria de um acordo tácito entre dominantes e dominados pela instituição das hierarquias com vista a pautar a coleta e a redistribuição dos recursos produzidos sob critérios imateriais coletivamente compartilhados.2
Seguindo essa ótica, percebe-se a impropriedade da antropologia política de Clastres ao propor “que a infraestrutura é o político e a superestrutura é o econômico”,3 contradizendo sua própria defesa da não autonomia das esferas (ou “fato social total”) nas assim chamadas sociedades primitivas. O paralelo de Marx com Clastres aparece, então, desafinado e muito aquém do contato sugerido por Tible entre o mesmo pensador alemão e o Yanomami Davi Kopenawa, aproximação muito mais frutífera e convincente, mas que infelizmente foi menos desenvolvida em Marx selvagem. Pelo viés da crítica à sociedade de mercado, o pensamento indígena talvez prescindisse de qualquer mediação teórica, já que, como o próprio Tible demonstra em seu livro, materialismo histórico e cosmopolíticas ameríndias resultam, ambos, de antagonismos decorrentes da lógica e do modus operandi das relações capitalistas, tanto em seu centro geográfico quanto nas fronteiras, e que por tal razão apresentam resultados semelhantes ou, no mínimo, análogos.
Ao enfatizar o vínculo entre, de um lado, o pensamento dos autores estudados e, de outro, as necessidades, os fenômenos e as práticas sociais de suas épocas, Tible retoma uma concepção de práxis que não se detém em certos usos abstratos da noção de “agência”, que apartam determinados grupos de indivíduos do tecido social, deslocando-os parcialmente de seus contextos efetivos e das relações sociais em que se constituem. Aproxima-se, pela concretude da abordagem, de uma ideia de “experiência histórica” tal como empregada pelo historiador britânico E. P. Thompson (1924-1993), isto é: “pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida “tratam” essa experiência em sua consciência e sua cultura“, agindo assim “sobre sua situação determinada”.4
Não obstante, algo fundamental de que carece Marx selvagem, e que não foi observado por nenhum dos comentários que se fez sobre o livro até o momento,5 é uma abordagem de teor histórico. Mesmo que não se deva cobrar de seu autor algo que não faz parte de sua proposta – trata-se de uma obra fundamentalmente teórica e conceitual – alguns parágrafos que fossem poderiam ter situado temporalmente a realidade indígena de hoje (bem como a dos iroqueses no século XIX e a dos Yanomami na década de 1990) nos processos de transformação pelos quais passaram os diversos grupos indígenas americanos ao longo dos últimos séculos, seja no que diz respeito às posturas e ações que sobre eles foram adotadas por outros, seja no que toca às transformações de suas próprias práticas, expectativas, interesses e perspectivas históricas ao longo do tempo.
Nesse sentido, não são aspectos indiferentes ao tema, por exemplo: a dinâmica dos primeiros contatos com os europeus; as formas de incorporação das populações indígenas nas distintas sociedades coloniais (sobretudo como força de trabalho, mas também por meio de trocas comerciais, parentesco, catequese e, em alguns casos, alianças políticas); seu lugar nos aldeamentos, reduções e outros espaços religiosos da América colonial; a política indigenista sob as reformas pombalinas e bourbônicas; suas condições jurídicas no Império brasileiro e nas repúblicas independentes sul-americanas; as condições que lhes foram colocadas pela modernização capitalista e as ditaduras militares do século passado etc., para ficar apenas em alguns tópicos recorrentes da literatura histórica recente.
Para finalizar, é preciso dizer que, no conjunto, o livro é instigante e merece ser lido não apenas por cientistas sociais, mas também por historiadores, pois oferece subsídios conceituais interessantes para finalmente compreendermos as populações indígenas, do passado e do presente, em sua condição de agentes sociais concretos, deixando de considerá-los ora como sujeitos passivos, ora como seres culturais abstratos. Ademais, o texto afina-se ao que Paulo Arantes nomeou de O novo tempo do mundo,6 primeiro porque compartilha do arsenal vocabular dos movimentos sociais recentes (“lutas”, “coletivos”, “simetria”, “agência” e mesmo, em sentido impreciso, “colonialismo”), depois, porque com ele associa e identifica situações históricas distantes no tempo e no espaço para assim mobilizá-las para a emergência social em uma era de expectativas decrescentes, o que deve constituir mais uma razão para que nós, profissionais do tempo histórico, consideremos o diálogo proposto.
1A publicação do livro rendeu ao autor entrevistas, lançamentos e debates em lugares como México, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, incluindo lançamento no lendário Teatro Oficina de São Paulo, com a participação de José Celso Martinez Corrêa e do filósofo Toni Negri, entre outros.
2Cf. GODELIER, Maurice. L’idéel et le matériel: Pensée, économies, sociétés. Paris: Fayard, 1984.
3CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. Tradução de Theo Santiago. São Paulo: Cosac Naify, 2013 [1ª ed. 1974], p. 215.
4THOMPSON, Edward Palmer. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 182.
5Cf., no próprio volume, Prefácio (Michael Löwy), orelhas (Peter Pál Pelbart), contracapa (Laymert Garcia dos Santos), Posfácio (Carlos Enrique Ruiz Ferreira) e Comentários sobre a obra (Sérgio Cardoso e Marcelo Ridenti). Além disso: ALBUQUERQUE, Hugo. Selvagens do Mundo, Uni-vos! Resenha de Marx selvagem, de Jean Tible. Lugar Comum. Rio de Janeiro: UFRJ, n. 42, 2014; DOMINGUES, Sérgio. Um Marx selvagem e uma esquerda domesticada. Disponível em: <www.diarioliberdade.org/opiniom/opiniom-propia/44977-um-marx-selvagem-e-uma-esquerda-domesticada.html>. Publicado em: 8 jan. 2014 e acesso em: 22 maio 2015; ARANTES, Marília. Marx selvagem, de Jean Tible: descolonização e antropofagia. Disponível em: <http://outraspalavras.net/blog/2014/05/16/marx-selvagem-de-jean-tible-descolonizacao-e-antropofagia/>. Publicado em: 16 maio 2014 e acesso em: 22 maio 2015; e RUBBO, Deni Alfaro. Resenha de: Jean Tible. Marx selvagem. In: Tempo Social, v. 27, n. 2, 2015.
6ARANTES, Paulo. O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da emergência. São Paulo: Boitempo, 2014.
Gustavo Velloso – Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E-mail: [email protected]; [email protected].
Frontera selvática – GÓMEZ GONZÁLEZ (RH-USP)
GÓMEZ GONZÁLEZ, Sebastián. Frontera selvática: Españoles, portugueses y su disputa por el noroccidente amazónico, siglo XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, 2014. 399p. Resenha de: BASTOS, Carlos Augusto. Fronteiras e impérios na Amazônia ibérica. Revista de História (São Paulo) n.173 São Paulo July/Dec. 2015.
A historiografia brasileira sobre a região amazônica, de um modo geral, ainda privilegia uma visão centrada na dimensão local ou regional desse espaço, ignorando as dinâmicas históricas em curso nas zonas limítrofes no extremo norte da América do Sul. Com relação ao período colonial, no entanto, uma visão mais atenta para a produção acadêmica sobre as outras “Amazônias” (áreas sob a administração de espanhóis, franceses, holandeses e ingleses) permite traçar comparações com processos políticos, econômicos, sociais e culturais que ocorriam no lado português. Além de comparações, abordagens historiográficas para além dos limites imperiais/nacionais podem ensejar pesquisas sobre as inter-relações e conexões existentes entre os diferentes empreendimentos coloniais que dividiram essa vasta fronteira sul-americana.
Uma obra que desenvolve tal enfoque com excelência é o livro Frontera selvática, do historiador colombiano Sebastián Gómez González, professor do Departamento de História na Universidad de Antioquia, Colômbia. A obra é uma versão levemente alterada de sua tese de doutorado intitulada La frontera selvática. Historia de Maynas, siglo XVIII, defendida em 2012 no programa de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras da Universidad Autónoma de México (Unam), sob a orientação do prof. dr. Antonio García de León. Publicado em 2014, o livro recebeu o prestigioso Premio Nacional a la Investigación en Historia, outorgado pelo Ministério da Cultura da Colômbia e pelo Instituto Colombiano de Antropología e História (ICANH).
Em sua investigação sobre as fronteiras amazônicas (o noroccidente, segundo denominação mais comum para o período) do novo Reino de Granada no século XVIII, Sebastián Gómez coletou farta documentação primária em arquivos na Colômbia, Equador, Espanha, Itália e Portugal, lançando mão ainda de um conjunto amplo de fontes cartográficas e impressas. Além de um trabalho de fôlego no levantamento e análise da documentação, o autor abarcou uma produção historiográfica considerável sobre as possessões espanholas e portuguesas na Amazônia no período colonial, bem como estudos gerais sobre os impérios ultramarinos espanhol e luso, dialogando com obras consagradas e trabalhos mais recentes publicados nos países de língua espanhola, em Portugal e no Brasil. Deve-se ainda destacar a análise que Gómez realiza da literatura acadêmica sobre fronteiras, tema que recebeu atenção de diferentes áreas das ciências sociais e produziu estudos referenciais no campo da história.
O estudo de Sebastián Gómez enfoca a Província de Maynas, área na bacia amazônica fronteiriça aos domínios portugueses, a qual fez parte da Audiência de Quito (e, por conseguinte, do Vice-Reino de Nova Granada) do século XVI ao início do XIX, quando então essa circunscrição territorial foi incorporada ao Vice-Reino do Peru. Dentro de uma produção acadêmica que privilegia os espaços andinos e litorâneos, o trabalho de Gómez González sobre o noroccidente amazônico da América espanhola preenche uma lacuna historiográfica, inserindo esta região de fronteira em debates e questões que orientavam as políticas coloniais para outras partes do ultramar hispânico. Trata-se, de fato, de uma fronteira ainda pouco visitada pelos historiadores que se dedicam ao mundo colonial hispano-americano, se compararmos a historiografia sobre a bacia amazônica sob a jurisdição espanhola com a volumosa bibliografia disponível sobre as fronteiras platinas ou o norte do Vice-Reino da Nova Espanha, por exemplo. Em sua análise, o autor, ao tratar de uma área tradicionalmente considerada como um “vazio” e de importância marginal, objetiva entender os impactos de questões geopolíticas mais amplas dos impérios ultramarinos na fronteira amazônica, o que significa também lançar novas luzes sobre o enorme conjunto de territórios incorporados à Coroa espanhola.
As políticas das autoridades espanholas para essa zona limítrofe foram marcadas por avanços e recuos, pressionadas pelas incursões militares e comerciais de portugueses, por rebeliões locais de indígenas e pelas difíceis condições físicas que a topografia amazônica impunha ao sucesso dos projetos defensivos e econômicos coloniais. A análise dos diferentes (e, em grande medida, frustrados) projetos de incorporação de Maynas ao restante dos domínios hispano-americanos leva o autor a adotar um enfoque de longa duração em seu trabalho. O recorte temporal do estudo compreende principalmente o período de 1700 a 1777, ressaltando-se nesta cronologia alguns marcos fundamentais, como o início da Monarquia dos Bourbons no alvorecer dos Setecentos, o Tratado de Madri de 1750 e o de Santo Ildefonso no ano de 1777, enfatizando-se a inserção da fronteira luso-espanhola de Maynas nesse quadro geral. Ao mesmo tempo em que situa as demandas e interferências mais amplas das disputas imperiais nessa fronteira, Sebastián Gómez chama a atenção para as dinâmicas mais locais, isto é, as estratégias dos sujeitos que habitavam a Província de Maynas no sentido de sustentar as pretensões territoriais que opunham espanhóis a portugueses. Nesse sentido, o jogo de análise adotado pelo autor, entrelaçando na mesma narrativa a exposição do quadro geral e a interpretação das ações e posicionamentos dos sujeitos locais, constitui um dos grandes méritos do trabalho.
A divisão dos capítulos do livro segue recortes cronológicos menores, procurando entender conjunturas específicas da fronteira luso-espanhola em questão. O capítulo primeiro da obra, de fato, antecede o recorte principal do estudo, abordando os primeiros passos da incorporação da área amazônica da Audiência de Quito aos domínios espanhóis e a organização inicial da Província de Maynas. Este capítulo introdutório apresenta as primeiras expedições de conquista das selvas setentrionais ao oriente dos Andes, no século XVI, uma região inóspita e apartada dos principais estabelecimentos coloniais representados por cidades como Cusco, Lima, Quito, Popayán e Santa Fé. A expansão das frentes coloniais de penetração e incorporação territorial logo se viu contida por revoltas de populações indígenas da selva, com destaque para os índios jívaros, criando assim obstáculos a largo prazo para a fundação de povoações espanholas e a concretização de expectativas de exploração econômica daquelas terras.
No começo do século XVII, essas zonas permaneciam praticamente como espaços desconhecidos para as autoridades espanholas da América meridional. Apenas em 1618 a Província de Maynas, território que compreendia a fronteira oriental com as terras portuguesas no vale amazônico, teve seu primeiro governador nomeado. No entanto, as décadas iniciais desse século foram marcadas pelas primeiras incursões bem sucedidas de portugueses sobre a fronteira, tema este explorado por uma historiografia mais tradicional que exalta a penetração lusa no vale amazônico a despeito da subordinação de Portugal a Castela durante a União Ibérica (1580-1640).1 Em contraposição aos movimentos portugueses rumo às proximidades das terras andinas, Gómez destaca a ação missioneira como a mais efetiva medida de defesa dos interesses da Monarquia hispânica na região,2 o que deixava à mostra as tensões e contradições existentes na União Ibérica, as quais reverberavam com força nas fronteiras amazônicas. A partir da década de 1640, com a restauração da Monarquia portuguesa, ganha força o discurso de fechamento daquela fronteira aos avanços e contatos com os súditos portugueses, medidas que, na verdade, foram muito pouco efetivas. Igualmente frustrados foram os projetos espanhóis de incorporação daquela região a rotas comerciais mais dinâmicas, as quais supostamente fariam de Maynas um ponto estratégico da ligação dos Andes ao Atlântico através dos rios amazônicos. Outras expectativas nutridas por autoridades laicas e eclesiásticas que serviam em Maynas, como inversões de recursos na defesa militar contra os portugueses, também não foram realizadas, o que contribuía para fragilizar a presença dos missionários que estavam em Maynas a serviço de sua majestade católica.
O segundo capítulo inicialmente situa os conflitos nos limites luso-espanhóis na bacia amazônica no conjunto dos choques que envolveram Portugal e Espanha durante a Guerra de Sucessão (1701-1713). Nesse sentido, Sebastián Gómez insere a zona fronteiriça de Maynas com a América lusa no marco das disputas diplomáticas e militares que envolviam Portugal e Espanha, deixando claro que não se tratava de uma parte desconectada das tensões internacionais que abarcavam os dois impérios. As penetrações portuguesas em Maynas ganham fôlego nos anos iniciais do XVIII, ao passo que as missões espanholas se firmam como a medida mais efetiva de defesa da soberania de Castela na área. Ao longo desse século, a produção documental dos padres nas missões é particularmente rica para a análise da situação da fronteira e das rivalidades imperiais, contestando as pretensões jurídicas de Portugal sobre a fronteira norte e revelando os temores de uma iminente invasão portuguesa. Nas considerações de muitos religiosos estabelecidos em Maynas, o avanço de embarcações vindas da América lusa não representava um risco apenas pela prática do contrabando, escravização de índios e destruição dos estabelecimentos missionais. Mais do que isso, essas investidas poderiam colocar em risco a soberania espanhola na parte amazônica e mesmo nas cobiçadas terras andinas contíguas, dadas as vantagens militares e comerciais que os lusitanos usufruíam a partir daquela fronteira, o que poderia alterar drasticamente a correlação de forças das coroas ibéricas no continente. Nas interpretações gestadas a partir de Maynas, fazia-se necessário ter acesso a informações do lado português da fronteira por meio da espionagem, bem como sobre o movimento dos ingleses, aliados de Portugal, em outros pontos da América, de modo a prever uma possível ação conjunta direcionada para aquela fronteira. Em 1711, uma invasão portuguesa se concretizou, desprotegendo os espanhóis nos limites noroccidentales ao desmantelar estabelecimentos missionários em Maynas, deixando a fronteira em um estado absolutamente móvel no início do século XVIII, como observa o autor.
Segundo Sebastián Gómez, as incursões vindas da parte portuguesa da fronteira evidenciavam a fragilidade das defesas militares espanholas em Maynas. A fundação de uma casa forte portuguesa no rio Napo na década de 1730 significou um passo a mais a favor da presença lusa na área, funcionando como um enclave militar e comercial direcionado para as terras hispano-americanas. Essas medidas visavam concretizar não apenas o avanço territorial, mas também a manutenção de redes de comércio ligando a cidade portuária de Belém às cidades andinas por meio do contrabando na bacia amazônica, alimentando o sonho dos portugueses de abertura de novas rotas de acesso à prata espanhola. Os projetos das autoridades espanholas, em contraposição às ameaças vizinhas, objetivavam incorporar Maynas a rotas comerciais com zonas andinas e fundar povoações em pontos estratégicos para defesa, medidas que não se concretizaram em virtude das dificuldades de comunicação com a fronteira e de reunião da população indígena em novos estabelecimentos. Na conjuntura da década de 1730, o autor destaca que as tensões surgidas na faixa fronteiriça não estavam diretamente relacionadas à situação diplomática experimentada pelas duas coroas ibéricas. Esse foi um período, na verdade, de relativa estabilidade das relações luso-espanholas, indicando assim que as interações mantidas pelos sujeitos no espaço da fronteira não podem ser entendidas como reflexos diretos ou imediatos de determinações metropolitanas, mas que continham, de fato, expectativas e interesses locais.
O último capítulo cobre a conjuntura dos principais tratados diplomáticos firmados por Espanha e Portugal na segunda metade do século XVIII, os quais repercutiram diretamente no desenho territorial das fronteiras amazônicas. As preocupações de ordem defensiva continuaram sendo um tópico recorrente da produção documental das autoridades radicadas em Maynas. Esses receios não eram apenas em relação aos avanços portugueses, mas igualmente contra distúrbios internos à América espanhola, como a rebelião indígena liderada por Juan Santos Atahualpa3 no Peru nos primeiros anos da década de 1740, temendo-se que tal levante atingisse a fronteira. A consciência da vulnerabilidade militar e precariedade econômica da Província de Maynas, insistentemente denunciada por religiosos, oficiais militares e autoridades civis locais, foi enfocada também por viajantes ilustrados, a exemplo de Charles Marie de La Condamine, que percorreu terras espanholas e portuguesas na América meridional. A partir de suas expedições na bacia amazônica, La Condamine também apontou a possibilidade de haver uma conexão fluvial entre o Amazonas e o Orinoco, o que significaria a existência de outras rotas de penetração portuguesa nas terras espanholas. As históricas investidas portuguesas, as possíveis novas rotas de penetração, somadas à “inoperancia estructural” (p. 212) da administração da fronteira formavam o cenário de insegurança da jurisdição espanhola sobre Maynas.
A busca de uma resolução dos conflitos territoriais luso-espanhóis foi um dos aspectos centrais do Tratado de Madri de 1750, objetivando-se, a partir desse acordo, como salienta o autor, imprimir uma nova lógica de controle territorial e aproveitamento econômico dos espaços coloniais (p. 231). No caso dos limites luso-espanhóis ao norte, as novas delimitações propostas deveriam se guiar pelos principais rios da região, como o Caquetá/Japurá, Javari e Negro, estipulando-se ainda proibições ao contrabando e à circulação de pessoas entre as áreas portuguesa e espanhola da América. Mais uma vez, como destaca Sebastián Gómez, as determinações das cortes não encontravam amparo nas relações tecidas no espaço da fronteira, de maneira que as proibições estipuladas pelo tratado não poderiam ser efetivadas em uma zona marcada pela circulação de pessoas e pela prática rotineira do contrabando. Em relação aos limites luso-espanhóis do extremo norte, a anulação do Tratado de 1750 pelo Tratado de El Pardo (1761) apenas regulamentou um estado já vigente de inoperância local das regulamentações e controles determinados pelo Tratado de Madri.
Os ânimos belicistas novamente se levantaram com os ecos locais do conflito mundial representado pela Guerra dos Sete Anos (1756-1763), quando as autoridades lusas e espanholas das partes amazônicas se colocaram em prontidão para enfrentar uma possível guerra na fronteira. Nesse ponto, deve-se ressaltar a atenção de Sebastián Gómez para as formas de circulação de informações políticas na fronteira e sua importância para a conexão das remotas áreas amazônicas com as dinâmicas globais dos conflitos imperiais. Ainda na década de 1760, um impacto mais duradouro vivenciado em Maynas foi a expulsão da Companhia de Jesus. Em um prazo curto de tempo, na avaliação do autor, a saída dos jesuítas de Maynas facilitou as penetrações portuguesas em uma zona militarmente desprotegida, comprometendo ainda mais os interesses da Coroa espanhola naquele espaço.
Um esforço militar de maior envergadura para Maynas só viria a ser ensaiado nos anos de 1776-1777, em um contexto de conflitos imperiais no espaço atlântico e de enfrentamentos bélicos envolvendo espanhóis e portugueses em pontos limítrofes da América meridional. No mês de fevereiro de 1777, o vice-rei do Peru, Manuel Guirior, enviou uma ordem ao presidente da Audiência de Quito, Joseph Diguja, instando-o a organizar uma grande expedição militar destinada a Maynas. A chamada Expedição de Maynas deveria expulsar os portugueses das terras vizinhas, resolvendo definitivamente a favor da Espanha as pendências territoriais que há muito marcavam a bacia amazônica. Tratava-se de uma ação de grande porte pela logística militar e pelos recursos que consumiria (um valor estimado em mais de um milhão de pesos), mas que não foi concretizada em razão da chegada das notícias sobre as negociações luso-espanholas que redundariam no Tratado de Santo Ildefonso, assinado em outubro de 1777. O Tratado de Santo Ildefonso marcaria uma nova fase em Maynas, bem como um novo ímpeto aos projetos políticos e econômicos para as fronteiras do espaço amazônico, muito embora os trabalhos luso-espanhóis de demarcação nas décadas finais do século XVIII não tenham resolvido as pendências territoriais e as situações de conflitos de soberania.4
As fronteiras selváticas ao oriente dos Andes, limítrofes aos domínios luso-americanos, continuariam a representar uma barreira aos anseios estatais espanhóis de controle e modificação do espaço e de seus habitantes. As disputas mais amplas ocorridas no mundo atlântico repercutiam naquela distante zona de contato dos impérios ibéricos, ao mesmo tempo em que as relações tecidas propriamente no ambiente fronteiriço ditavam suas próprias regras e condições. De modo convincente, Sebastián Gómez González insere as remotas zonas noroccidentales nas lógicas imperiais do século XVIII.
Há pontos, porém, que permanecem como desafios aos pesquisadores que se dedicam ao estudo de uma área como a analisada pelo autor. Ainda é necessário entender, de maneira mais aprofundada, as percepções e os posicionamentos das comunidades indígenas na fronteira norte sobre as contendas e os jogos diplomáticos envolvendo os poderes monárquicos ibéricos. Alguns estudos mais recentes, referentes a outras áreas limítrofes na América ibérica, trazem contribuições significativas para a análise dessas questões, atentando para as aproximações e alianças estabelecidas entre indígenas e autoridades coloniais na construção das políticas imperiais para as fronteiras. Como exemplos, pode-se citar a pesquisa de Elisa Frühauf Garcia sobre a inserção dos indígenas nas disputas imperiais na fronteira meridional5 e o estudo de Francismar Alex Lopes de Carvalho sobre os nativos e as políticas luso-espanholas para a fronteira entre Mato Grosso, Mojos, Chiquitos e Paraguai.6
No caso da obra de Gómez González, o autor traz uma análise documental embasada sobre as políticas tecidas e discutidas para a fronteira a partir da visão de militares, autoridades eclesiásticas e laicas que serviam na região, tanto do lado português quanto do espanhol. Contudo, o posicionamento dos índios ainda segue como uma questão a merecer maior atenção. Os indígenas certamente deveriam construir suas interpretações e suas expectativas políticas levando em consideração as relações imperiais que tinham aquela área como um dos seus mais problemáticos palcos de disputa. Claro que se trata de um assunto muito mais desafiador para o historiador, na medida em que a análise nesse caso deve recorrer a indícios por vezes esparsos disponíveis nos documentos sobre a região. Sobre a interseção de expectativas indígenas e imperiais na fronteira entre Maynas e a América lusa, algumas análises já foram desenvolvidas por Carlos Gilberto Zarate Botía, como em seu estudo sobre os índios Ticuna e suas relações com portugueses e espanhóis.7
Em todo caso, a obra de Sebastián Gómez González figura como um estudo de fôlego e, mais do que isso, um avanço para a compreensão mais complexa das relações tecidas pelos impérios ultramarinos no século XVIII. Para os pesquisadores da América espanhola, Gómez González coloca no mapa da produção historiográfica mais atual uma região tradicionalmente ignorada pelas grandes análises sobre a experiência de colonização espanhola do Novo Mundo. Para os historiadores brasileiros, por sua vez, sua obra ajuda a romper com paradigmas exageradamente regionalistas sobre a Amazônia.
Referências
CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Lealdades negociadas: Povos indígenas e a expansão dos impérios ibéricos nas regiões centrais da América do Sul (segunda metade do século XVIII). São Paulo: Alameda, 2014. [ Links ]
ESPINOZA, Waldemar. Amazonía del Perú: História de la Gobernación y Comandancia General de Maynas (Hoy regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y Provincia de Condorcanqui). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007. [ Links ]
GARCIA, Elisa Frühauf. As diversas formas de ser índio. Políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América portuguesa. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2009. [ Links ]
LUCENA GIRALDO, Manuel. La delimitación hispano-portuguesa y la frontera regional quiteña, 1777-1804. Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia. Quito: Corporación Editora Nacional, n. 04, 1993, 21-39. [ Links ]
MARTIN RUBIO, Maria del Carmen. Historia de Maynas, un paraíso perdido en el Amazonas. Madri: Ediciones Atlas, 1991. [ Links ]
NEGRO, Sandra. Maynas, una misión entre la ilusión y el desencanto. In: NEGRO, Sandra & MARZAL, Manuel. Un reino en la frontera: Las misiones jesuitas en la América colonial. Quito: Abya-Yala, 2000, p. 185-20. [ Links ]
PORRAS P., Maria Elena. Gobernación y Obispado de Mainas, siglos XVII-XVIII. Quito: Ediciones Abya-Ayala, Taller de Estudios Historicos, 1987. [ Links ]
REIS, Arthur Cezar Ferreira. A política de Portugal no vale amazônico. Belém: Secult, 1993. [ Links ]
RÍO SARDONIL, José Luis del. Don Francisco Requena y Herrera: una figura clave en la demarcación de los límites hispano-lusos en la cuenca del Amazonas (s. XVIII). Revista Complutense de Historia de América. Madri, 2003, n. 29, 51-75. [ Links ]
ROSAS MOSCOSO, Fernando. Del rio de la Plata al Amazonas: El Perú y el Brasil en la época de la dominación ibérica. Lima: Universidad Ricardo Palma, 2008. [ Links ]
SANTOS GRANERO, Fernando. Anticolonialismo, mesianismo y utopía en la sublevación de Juan Santos Atahuallpa, siglo XVIII. In: Idem (compilador). Opresión colonial y resistencia indígena en la Alta Amazonía. Quito: Flacso-Sede Ecuador, 1992, p. 103-134. [ Links ]
TORRES, Simei Maria de Souza. Onde os impérios se encontram: Demarcando fronteiras coloniais nos confins da América (1777-1791). Tese de doutorado em História Social, PUC-SP, 2011. [ Links ]
VARESE, Stefano. La sal de Los Cerros: Notas etnográficas e históricas sobre los campa de la selva del Perú. Lima: Universidad Peruana de Ciencias y Tecnologia, 1968. [ Links ]
ZÁRATE BOTÍA, Carlos Gilberto. Movilidad y permanencia Ticuna en la frontera amazónica colonial del siglo XVIII. Journal de la Societé des Américanistes, 1998 (1), p. 73-98. [ Links ]
1Conferir REIS, Arthur Cezar Ferreira. A política de Portugal no vale amazônico. Belém: Secult, 1993.
2O protagonismo missionário na ocupação da fronteira amazônica da América espanhola tem sido ressaltado por outros estudos, bem como as dificuldades enfrentadas na região pelos religiosos frente às investidas luso-americanas. Sobre esta produção historiográfica, conferir: ESPINOZA, Waldemar. Amazonía del Perú: História de la Gobernación y Comandancia General de Maynas (Hoy regiones de Loreto, San Martín, Ucayali y Provincia de Condorcanqui). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007; MARTIN RUBIO, Maria del Carmen. Historia de Maynas, Un paraíso perdido en el Amazonas. Madri: Ediciones Atlas, 1991; NEGRO, Sandra. Maynas, una misión entre la ilusión y el desencanto. In: NEGRO, Sandra & MARZAL, Manuel. Un reino en la frontera: Las misiones jesuitas en la América colonial. Quito: Abya-Yala, 2000, p. 185-203; PORRAS P., Maria Elena. Gobernación y Obispado de Mainas, siglos XVII-XVIII. Quito: Ediciones Abya-Ayala, Taller de Estudios Historicos, 1987; ROSAS MOSCOSO, Fernando. Del rio de la Plata al Amazonas: El Perú y el Brasil en la época de la dominación ibérica. Lima: Universidad Ricardo Palma, 2008.
3Sobre a rebelião de Juan Santos Atahualpa, conferir: SANTOS GRANERO, Fernando. Anticolonialismo, mesianismo y utopía en la sublevación de Juan Santos Atahuallpa, siglo XVIII. In: Idem (compilador). Opresión colonial y resistencia indígena en la Alta Amazonía. Quito: Flacso-Sede Ecuador, 1992, p. 103-134; VARESE, Stefano. La sal de Los Cerros: Notas etnográficas e históricas sobre los campa de la selva del Perú. Lima: Universidad Peruana de Ciencias y Tecnologia, 1968.
4Sobre as demarcações luso-espanholas determinadas pelo Tratado de Santo Ildefonso na fronteira norte, ver os seguintes trabalhos: LUCENA GIRALDO, Manuel. La delimitación hispano-portuguesa y la frontera regional quiteña, 1777-1804. Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia. Quito: Corporación Editora Nacional, n. 04, 1993, p. 21-39; RÍO SARDONIL, José Luis del. Don Francisco Requena y Herrera: una figura clave en la demarcación de los límites hispano-lusos en la cuenca del Amazonas (s. XVIII). Revista Complutense de Historia de América. Madri, n. 29, 2003, p. 51-75; TORRES, Simei Maria de Souza. Onde os impérios se encontram: Demarcando fronteiras coloniais nos confins da América (1777-1791). Tese de doutorado em História Social, PUC-SP, 2011.
5GARCIA, Elisa Frühauf. As diversas formas de ser índio. Políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América portuguesa. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2009.
6CARVALHO, Francismar Alex Lopes de. Lealdades negociadas: Povos indígenas e a expansão dos impérios ibéricos nas regiões centrais da América do Sul (segunda metade do século XVIII). São Paulo: Alameda, 2014.
7ZÁRATE BOTÍA, Carlos Gilberto. Movilidad y permanencia Ticuna en la frontera amazónica colonial del siglo XVIII. Journal de la Societé des Américanistes, 1998 (1), p. 73-98.
Carlos Augusto Bastos – Doutor em História pela Universidade de São Paulo em 2013. Professor de História da América na Universidade Federal do Amapá – Unifap. [email protected].
African-Brazilian Culture and Regional Identity – ICKES (RH-USP)
ICKES, Scott. African-Brazilian Culture and Regional Identity in Bahia, Brazil. Gainsville: University Press of Florida, 2013. Resenha de: CASTILLO, Lisa Earl. O que é que a Bahia tem? Revista de História (São Paulo) n.173 São Paulo July/Dec. 2015.Sep 25, 2015.
Nos estudos afro-brasileiros, é reconhecido que a cidade do Salvador exerceu um papel fundamental no desenvolvimento do imaginário acadêmico e popular sobre a identidade baiana e sobre a cultura negra no Brasil de forma mais ampla. Isso se deve, em parte, ao expressivo tamanho da população afrodescendente da velha Cidade da Bahia ao longo da sua história. Mas, a importância da cultura negra na identidade soteropolitana passou a ser examinada por estudiosos apenas no século XX, na esteira das obras pioneiras de Nina Rodrigues e Manuel Querino. As décadas de 1930 e 1940 constituíram-se como um dos períodos mais férteis, quando a produção cultural de intelectuais e artistas como Jorge Amado, Edison Carneiro, Pierre Verger, Carybé e Dorival Caymmi estimulou o crescimento de uma imagem da Bahia como lugar de mistério, magia e alegria, profundamente marcada por uma mistura sui generis do catolicismo popular com a cultura e religiosidade afro-brasileiras. A partir dos anos 1990, esse modo de olhar passou a ser denominado baianidade, tornando-se objeto de numerosos estudos. Entre eles destacamos os livros de Patrícia de Santana Pinho ( Reinvenções da África na Bahia . São Paulo: Annablume, 2004) e Agnes Mariano ( A invenção da baianidade . São Paulo: Annablume, 2009). Grande parte dessa literatura tem como preocupação central a música popular, sobretudo a do Carnaval, com ênfase nos anos 1980, quando o sucesso internacional dos blocos afros e o tombamento, pela Unesco, do Pelourinho, o bairro mais antigo de Salvador, como patrimônio arquitetônico da humanidade levaram o governo da Bahia a institucionalizar as manifestações populares afro-baianas desse bairro como pedras fundamentais do turismo cultural.
Porém, as raízes desse tropo da identidade baiana emaranham-se com diversos outros tipos de produção cultural e, como notamos acima, remontam à primeira metade do século XX. Nesse sentido, o livro do historiador Scott Ickes, African-Brazilian culture and regional identity in Bahia, Brazil – fruto de uma tese de doutorado defendida em 2003 e publicada dez anos depois – representa uma contribuição importante aos estudos sobre o tema. Tomando como seu objeto a cristalização desse paradigma regional durante o governo de Getúlio Vargas – justamente quando o resto do Brasil vivenciou o surgimento de uma maneira de conceber a identidade nacional fundamentada na mestiçagem das três raças -, o livro desenha a legitimação, na opinião pública da Bahia, de manifestações culturais outrora rejeitadas e, até, perseguidas. Ao traçar essas mudanças, ao longo de seis capítulos, Ickes analisa a atuação de intelectuais, artistas e governantes, atentando também ao protagonismo de líderes negros. Além de considerar os campos da música popular e do Carnaval, o autor também dedica espaço a outras manifestações culturais, como a capoeira e a religiosidade afro-brasileira.
No primeiro capítulo, Ickes examina o quadro econômico e político de Salvador entre 1930 e 1954. Nesse período, Getúlio Vargas ativamente promovia a industrialização no Sudeste do Brasil, mas não projetava mudança semelhante para o Nordeste. Na Bahia, a agricultura continuava a ocupar seu lugar histórico de espinha dorsal da economia até o início da década de 1950, com a descoberta de petróleo no Recôncavo baiano. Nesse contexto, Salvador mantinha sua antiga importância como porto de exportação de produtos agrícolas e como centro financeiro do estado. Uma das consequências dessa prolongada dependência da agropecuária foi a manutenção de divisões sociais de longo prazo na cidade, entre uma pequena oligarquia cuja riqueza veio de fazendas nos interiores ou do comércio associado à agricultura, uma reduzida classe média formada por pequenos comerciantes e funcionários públicos e, finalmente, uma enorme classe trabalhadora. Nessa pirâmide social havia um acentuado caráter racial, com a cúpula ocupada por brancos e mestiços de pele clara e a base por afrodescendentes de pele mais escura.
O segundo capítulo analisa a política cultural de Salvador, com destaque para a atuação de Juracy Magalhães, que chegou à Bahia em 1930 como interventor nomeado por Vargas, sendo eleito governador em 1935. Segundo Ickes, a liderança de Magalhães proporcionou uma nova abertura social à cultura afro-brasileira, sobretudo ao candomblé e à capoeira. Essa atitude, caracterizada pelo autor como populismo cultural (p. 60), se deveu em parte às posturas do próprio interventor, mas, por outro lado, resultou dos esforços de líderes negros que lutaram contra atitudes e leis que discriminavam as manifestações culturais afro-brasileiras. Entre uma série de eventos que marcaram esse processo de abertura, o autor considera três como marcos. Em primeiro lugar, uma exposição pública de capoeira regional por Manoel dos Reis Machado (Mestre Bimba) que ocorreu no próprio palácio do governador, em 1936. Outro evento que se constituiu como um divisor de águas foi a retomada, em 1937, da prática de lavar o interior da igreja do Bonfim durante o festival anual do santo, proibida desde 1890. Poucas semanas depois, houve o II Congresso Afro-Brasileiro, organizado em 1937 por um grupo de jovens intelectuais, entre os quais Edison Carneiro, ele mesmo afrodescendente, com a participação do romancista Jorge Amado e de líderes afro-brasileiros, entre os quais Martiniano do Bonfim, Eugênia Anna dos Santos (Mãe Aninha) e Joãozinho da Gomeia.
No terceiro capítulo, o autor examina com mais detalhe a inserção de manifestações da cultura negra popular no cenário dos festivais do catolicismo popular. Retorna ao tema da Lavagem do Bonfim, mostrando a crescente importância dessa festa e seus elementos afro-baianos, bem como a participação de governantes na Irmandade do Bonfim e na procissão anual. O capítulo examina também as “festas de largo” de Santa Bárbara (comemorado no 4 de dezembro), Conceição da Praia (8 de dezembro), Bom Jesus dos Navegantes (1 de janeiro) e Iemanjá (2 de fevereiro), esta última a única cujas características afro-brasileiras não se legitimam através do sincretismo afro-católico. Segundo o autor, a participação popular nesses festivais teria aumentado nos anos 1940, impulsionada pelo crescimento populacional da cidade. Um dos aspectos mais originais deste capítulo é o uso de dados obtidos dos diários de campo dos antropólogos norte-americanos Melville e Frances Herskovits, sobre sua visita à Bahia em 1940-41. Porém, em algumas partes, a credibilidade da análise é prejudicada por erros fatuais, como, por exemplo, quando afirma que Santa Bárbara é a padroeira de pescadores (p. 84), que Nossa Senhora da Conceição da Praia é sincretizada com Iemanjá (p. 86) e que a Festa de Iemanjá que acontece no bairro do Rio Vermelho surgiu da festa católica em louvor a Santa Anna (p. 90, n. 41). 1Apesar de alguns desses erros serem aparentemente provenientes das fontes originais, para o leitor que entenda do assunto a falta de correções explícitas levanta dúvidas sobre a possível presença de outras incoerências.
O quarto capítulo debruça-se sobre a evolução do discurso da baianidade nos anos 1930-40. Para o autor, a veiculação desse olhar sobre a identidade da cidade do Salvador, apesar de promover aceitação de elementos lúdicos das práticas religiosas afro-brasileiras, manteve estes últimos numa posição subalterna em relação ao catolicismo popular. 2A institucionalização dessa visão da cultura baiana envolveu a participação ativa da imprensa local e posicionamentos estratégicos de membros do governo estadual. Nesse capítulo, o autor também dedica atenção especial ao discurso sobre a Bahia nas letras da música popular, não apenas no âmbito local, mas também no cancioneiro produzido no Rio de Janeiro por compositores como Ari Barroso e Dorival Caymmi. Embora sejam convincentes, os argumentos do autor teriam sido fortalecidos por mais diálogo com a ampla historiografia e crítica cultural sobre a representação discursiva da Bahia no samba carioca e as contribuições de compositores e músicos, nascidos na Bahia ou descendentes de baianos, no cenário musical do Rio.
No quinto capítulo, o autor aborda o Carnaval da Bahia durante o governo Vargas. No início dos anos 1930, a festa de Momo na Bahia foi dominada por grandes clubes carnavalescos formados no final do século XIX, que recebiam apoio financeiro do governo para custear as despesas do desfile. Entretanto, esse apoio acabou no final da década de 1930, quando a economia baiana, sentindo as repercussões da II Guerra Mundial, entrou em recessão. Assim, os grandes clubes vivenciaram um período de decadência, o que acabou abrindo espaço para a visibilidade de escolas de samba ou batucadas , oriundas das camadas populares. Os afoxés , agremiações afro-brasileiras vinculadas a terreiros de candomblé, que tinham sido proibidos em 1905, acabaram voltando à cena nesse período e, juntando-se às batucadas, contribuíram para um reflorescimento da presença afro-brasileira na folia soteropolitana. Os anos 1950, porém, trouxeram o retorno de alguns dos grandes clubes e, com a invenção do trio elétrico em 1951, o espaço das batucadas e dos afoxés diminuiu. Nesse sentido, Ickes defende que os anos 1940 se destacam como uma época de ouro em termos da participação negra no Carnaval da Bahia.
No sexto e último capítulo, a narrativa se desloca para o papel de alguns artistas e intelectuais na construção do paradigma da baianidade, apresentando as trajetórias de diversos personagens. Algumas são de influência consagrada, como o etnólogo, historiador e fotógrafo Pierre Verger, que chegou a Bahia em 1946 e posteriormente vinculou-se ao terreiro Ilê Axé Opô Afonjá. Outra figura cujas contribuições são reconhecidas é o artista plástico Hector Julio Paride Bernabó, mais conhecido como Carybé, grande amigo de Verger e ligado ao mesmo terreiro. Ambos produziram vastas obras inspiradas na cultura afro-baiana, especialmente suas expressões religiosas. Junto com os romances de Jorge Amado e as músicas de Dorival Caymmi, a fotografia de Verger e os quadros de Carybé alcançaram uma circulação pelo Brasil afora e também no exterior. Neste capítulo, o autor também demonstra a influência de atores menos conhecidos hoje, como o poeta Odorico Tavares, que chegou à cidade como jornalista em 1942, posteriormente tornando-se diretor de dois jornais influentes, o Estado da Bahia e o Diário de Notícias , e de uma emissora de rádio. Outro personagem importante foi Antonio Monteiro, um folclorista e historiador amador vinculado ao candomblé. O autor também ressalta as contribuições de outros membros de terreiros, como o comerciante negro Miguel Santana, ogã do Ilê Axé Opô Afonjá, e Mestre Didi, filho de sangue de Mãe Senhora, ialorixá do mesmo terreiro. Outra pessoa que recebe atenção aqui é o capoeirista Vicente Ferreira Pastinha, o Mestre Pastinha, responsável por uma reafricanização da imagem da capoeira, em contraste ao Mestre Bimba cujo estilo já incorporava elementos emprestados das artes marciais e do boxe. Para Ickes, a produção intelectual e artística desse período estava entrelaçada com um nascente interesse do governo da Bahia em promover um desenvolvimento turístico que visava à cultura negra e popular como uma atração importante. Nesse ponto, o autor diverge de estudiosos anteriores, que tendem a apontar para os anos 1980 como o início desse interesse estatal, a partir do investimento financeiro e administrativo na restauração do Pelourinho como espaço de turismo e da explosão simultânea do Olodum, sediado no mesmo bairro, no cenário internacional de world music .
Um aspecto instigante da trajetória novecentista da cultura negra no Brasil é que, apesar de terem ocorrido processos paralelos no Rio de Janeiro e na Bahia, em Salvador, ressaltava-se cada vez mais as continuidades entre as práticas africanas e afro-baianas, enquanto no Rio, a mestiçagem racial dominou o discurso identitário. Essa diferença é mencionada pontualmente no livro, mas merece mais espaço, diante do argumento do autor de que o discurso da baianidade nasceu no contexto do projeto de identidade nacional de Getúlio Vargas. Uma maior atenção às diferenças regionais, culturais e demográficas entre o Rio de Janeiro, epicentro do projeto do governo Vargas, e o Nordeste, área periférica, teria fortalecido e complementado essa tese, particularmente no capítulo 4, na discussão sobre o imaginário das letras de músicas veiculadas por gravadoras sediadas no Rio, e no capítulo 5, quando o autor compara a permanência das escolas de samba no Carnaval do Rio de Janeiro com a perda de visibilidade das batucadas e afoxés na folia baiana depois da invenção do trio elétrico. Com relação à edição, o livro teria se beneficiado de uma copidescagem mais rigorosa. Ao tentar separar, capítulo por capítulo, manifestações culturais que na verdade são inter-relacionadas e fazem parte do mesmo momento histórico, frequentemente protagonizadas pelos mesmos atores, a narrativa acaba se repetindo, sem que essas repetições sejam sinalizadas no texto. Em alguns lugares, as notas de rodapé não dão conta dos dados apresentados, deixando o leitor sem saber de onde veio a informação.
Por outro lado, African-Brazilian culture and regional identity in Bahia, Brazil brinda o leitor com um impressionante volume de dados originais, resultado de farta pesquisa que inclui várias fontes pouco utilizadas por outros estudiosos do tema. Além de trazer material dos diários de campo dos Herskovits, como foi mencionado acima, há também dados da documentação da Irmandade do Senhor do Bonfim e da correspondência do cônsul dos Estados Unidos na Bahia. As discussões sobre a crescente importância da Lavagem do Bonfim na identidade da Bahia e sobre as batucadas e os afoxés no Carnaval dos anos 1940 representam contribuições originais ao estudo dessas questões, e os argumentos são bem documentados com dados levantados em jornais da época. Diferente de alguns brasilianistas, cujo uso de fontes secundárias tende a privilegiar a produção estrangeira, Scott Ickes demonstra um excelente conhecimento do trabalho de pesquisadores no Brasil, inclusive de publicações recentes ou de difícil acesso. Por todos esses motivos, African-Brazilian culture and regional identity in Bahia, Brazil representa uma contribuição muito bem-vinda à história social da Bahia na época de Getúlio Vargas, de forma geral, e à literatura sobre o tropo da baianidade, especificamente.
1Santa Bárbara é a padroeira dos bombeiros. Quem protege os pescadores é Iemanjá, cuja festa anual no Rio Vermelho, em 2 de fevereiro, surgiu como uma oferenda coletiva pelos pescadores do local, completamente distinta das comemorações para Santa Anna, padroeira do bairro, que acontecem em 26 de julho e que, na mitologia afro-baiana, é associada à orixá Nanã Buruku.
2Uma versão em português desse capítulo foi publicada na revista Afro-Ásia , sob o título: Era das batucadas: o carnaval baiano das décadas 1930 e 1940. Afro-Ásia , no47, 2013, p. 199-238.
Lisa Earl Castillo – Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora de Pós-Doutorado no Centro de Pesquisa em História Social da Cultura do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E-mail: [email protected].
Península de recelos – MARCOS (RH-USP)
MARTÍN MARCOS, David. Península de recelos. Portugal y España, 1668-1715. Madri: Marcial Pons, 2014. Resenha de: MONTEIRO, Rodrigo Bentes. Revista de História (São Paulo) n.173 São Paulo July/Dec. 2015.Aug 25, 2015.
Após a ênfase das historiografias nacionalistas sobre os conflitos entre os estados modernos europeus, bem como o seu reforço pelos regimes autoritários vividos na península ibérica do século passado, nas últimas décadas, os temas da união das coroas e da Restauração portuguesa foram revistos por novos estudos.2 Mas os contatos entre Portugal e Espanha depois da chancela formal da independência lusa em 1668-1669 careciam de um maior aprofundamento. A lacuna foi parcialmente preenchida por Rafael Valladares, ao priorizar a perspectiva da monarquia hispânica para tratar da rebelión de Portugal.3 Agora, pela pena do jovem historiador David Martín Marcos, vê-se o ampliar da conjuntura abarcada e o formular de um novo nexo interpretativo em torno do reconhecimento paulatino da secessão portuguesa, consolidado pelos países ibéricos e potências europeias apenas no tratado de Utrecht.
No entanto, Martín Marcos trata dessas relações enfatizando os temores de Lisboa, cruzando-os a outros registros vindos de Madri, Paris, Londres, Viena, Haia e Turim. Receios de reanexar-se Portugal, pois a atenção dos embaixadores lusos ao descumprimento cerimonial, flagrando desrespeito espanhol aos escudos da soberania portuguesa, era uma constante. Receios sobre as reivindicações dos vassalos dos Habsburgo ou Bragança com terras no país vizinho. E acerca das fronteiras peninsular e ultramarina – querelas que seriam reincidentes na Guerra de Sucessão da Espanha. Entre os fins de duas guerras, David Martín narra um contexto outrora nebuloso sobre o qual as histórias e historiografias ibéricas andavam separadas. A secção foi fruto da própria propaganda lusa forjada após 1640 e do nacionalismo característico de vários trabalhos tradicionais. A narrativa é mesmo uma forte marca do livro, no qual o autor prefere não descrever e/ou comentar a maioria das fontes. Todavia, os documentos são referenciados nas notas e interpretados no texto principal, ao incorporar-se os seus sentidos ao enredo diacrônico tecido.
Pelos fios soltos deixados pelas dinastias de Bragança e Habsburgo no tratado de 1668, Martín Marcos aborda a difícil conjuntura ibérica, com o esgotamento do erário público, das tropas e o descontentamento das populações pelo longo conflito. Em Portugal, o imbróglio envolvendo os filhos de d. João IV indicava a fragilidade do novo poder régio. Após a queda de Castelo Melhor, d. Pedro deveria firmar-se como regente. Embora buscasse a neutralidade no plano externo, internamente sobreviviam os partidários de d. Afonso e da reintegração à monarquia hispânica, fazendo com que as tropas ficassem em alerta na fronteira e a urbes lisboeta em paranoia. Na Espanha, apesar da supressão do Conselho de Portugal, deixava-se aberta a chance de reintegrar o país vizinho. Mas, ali, os nobres lusos fiéis aos Habsburgo pressionavam para proteger seus patrimônios em Portugal, na verdade ambicionando pensões e bens na nova pátria. Em Madri ou Lisboa, os embaixadores tendiam a ser tratados de modo hostil. E a diplomacia francesa valia-se dessas tensões para aproximar-se de Portugal. Martín Marcos perscruta assim um cenário mais complexo de afirmação da identidade nacional lusa sob a égide Bragança – algo excessivamente resumido em vários trabalhos pelo jargão explicativo da aliança inglesa, ratificada no propalado casamento de Catarina de Bragança com Carlos Stuart. Além dos insumos documentais oriundos de diversos arquivos europeus, o historiador vale-se da recente internacionalização da historiografia lusa, dos estudos de história diplomática e das biografias em voga sobre príncipes e regentes.4
Entretanto, os embaixadores lusos e espanhóis em Madri e Lisboa protagonizam o primeiro capítulo do livro. Suas performances foram decisivas nas regências de Pedro de Bragança e Mariana de Áustria, e também no reinado de Carlos II – um tempo de fidelidades recentes e oscilantes. Por exemplo, o conde de Miranda e o marquês de Gouveia, incertos no reclame de bens de portugueses na Espanha, foram mais atentos à prática do correto protocolo; já o espanhol conde de Humanes implicou-se na conspiração que planejava libertar d. Afonso VI em 1673, sendo por isso removido do cargo. Os franceses valiam-se dessa “calma tensa” para propor acordos com Portugal, com apoios internos importantes, mormente da princesa d. Maria Francisca de Saboia e do duque de Cadaval. Porém, na Espanha, fatos como a ascensão de Juan José de Áustria e o casamento de Carlos II alteravam frequentemente o quadro. A fundação de Sacramento era o espelho ultramarino dessas tensões ibéricas, chegando a provocar preparativos de guerra no Alentejo.
Entre o reinado de d. Pedro II e a morte de Carlos II, o segundo capítulo centra-se nas tratativas de casamentos e mortes de príncipes como elementos propulsores de reviravoltas políticas. A documentação de Turim enriquece a análise do plano frustrado de d. Maria Francisca para casar a infanta Isabel de Bragança com seu primo, o duque saboiano. Sucedem-se as mortes de d. Afonso, da própria rainha e o novo casamento de Pedro II, indicando uma aproximação com Madri. Se na Espanha havia tensões com o frágil reinado de Carlos II, em Portugal, vários clérigos, soldados e fidalgos eram favoráveis à união. Mas d. Pedro mantinha-se neutro, receando contrariar Paris ou outro poder. No ambiente tenso dos reinos europeus e no ultramar, David Martín analisa os arranjos diplomáticos e tratados de partições entre Londres, Viena, Paris e Haia, que adiantavam o problema sucessório espanhol. E evidencia o memorial então divulgado sobre os pretensos direitos do rei Bragança.5 No entender do embaixador Cunha Brochado, recordar que d. Pedro II era hispânico e podia herdar o trono poderia trazer compensações futuras. Mas havia controvérsias sobre a conveniência do partido Bourbon tomado por d. Pedro.
O terceiro capítulo trata da Guerra de Sucessão e das negociações de Utrecht. No teatro das embaixadas em Lisboa, a inépcia do espanhol Capecelatro contrastava com a argúcia dos Methuen, pai e filho. Martín Marcos vale-se da revisão historiográfica sobre o célebre tratado6 e de escritos como o do futuro conselheiro ultramarino António Rodrigues da Costa, doravante alarmado com os impactos da guerra na América portuguesa. E, pelas cartas diplomáticas, detalha a oscilação lusa que culminaria na nova aliança em prol de Carlos Habsburgo. O livro atinge o ápice ao narrar o desembarque do arquiduque austríaco no Tejo em 1704, a decoração festiva de propaganda e sua viagem a Madri em companhia de Pedro II, sublinhando o uso político da situação pelo rei português. Mais ao sul da nova base aliada na Catalunha, a fragorosa derrota na batalha de Almansa gerou críticas ao desempenho dos soldados lusos.7 Todavia, o apoio do Império a Portugal foi reforçado no casamento de d. João V com a irmã de José I – como se sabe, a morte deste imperador, abrindo o trono austríaco ao novo arquiduque Carlos, favoreceu o fim da guerra. Martín Marcos contextualiza então as querelas luso-hispânicas por questões de fronteira e territórios ultramarinos, pequenas no quadro de pressões maiores das grandes potências, como a reivindicação inglesa por Gibraltar. Em Utrecht, os hábeis Tarouca e Luís da Cunha esgrimiam a sua experiência política. Os acordos reservaram a Portugal concessões nas margens do Amazonas e Sacramento, mas as fronteiras ibéricas ficaram incólumes, como antes da secessão. Contudo, nesse “quase nada” de ganhos territoriais, David Martín sublinha o feito do reconhecimento real da soberania de Lisboa ao libertar-se do fantasma de Madri que, mesmo enfraquecida, ainda se comportava, após 1668, como sede de uma pretenciosa monarquia.
À maneira de um romance, no epílogo, David Martín Marcos reflexiona sobre as razões desse percurso singular: um simples duque sendo aclamado novo rei de Portugal era, com efeito, algo insólito para a Espanha, que tendeu a considerar a sublevação lusa uma mera questão interna; também a geografia corroborava essa visão, fazendo os portugueses participarem de uma monarquia plural e ao mesmo tempo castelhana. Mas isso também validava o argumento de uma Hispânia liderada por Lisboa, justamente no momento de afirmação diplomática da independência de Portugal. O jogo de forças maiores explica porque o tímido pleito de Pedro II não foi considerado. Ainda assim a ideia era plausível, pois os Bragança eram reis naturais de Portugal, em contraposição aos estrangeiros austríacos e franceses. Paradoxalmente, a consolidação de Portugal como reino autônomo, outrora favorecido com o enfrentamento intermitente franco-espanhol, ocorreu somente no fim desta contenda, com a entronização de Felipe V. Um reconhecimento em troca do fim da neutralidade lusa, postura usualmente adotada desde os primeiros tempos da Restauração. Doravante, as duas monarquias ibéricas seriam empurradas para os lados de Inglaterra ou França.
Portanto, sem afãs patrióticos, o historiador nascido e formado em Valhadolid – corte da velha Castela e próxima ao régio arquivo de Simancas – desloca o prisma do tempo para captar a península nas décadas seguintes à secessão ibérica, período sem dúvida menos glorioso para a monarquia espanhola. Fá-lo num estilo narrativo semelhante ao dos livros de Evaldo Cabral de Mello,8 com detalhes de escaramuças políticas e diplomáticas perscrutados nos arquivos europeus, não obstante a maior síntese empreendida pelo historiador espanhol. Entretanto, o olhar de Martín Marcos – diferentemente do ex-diplomata brasileiro, que sempre escreveu sobre Pernambuco – também viajou no espaço, ao privilegiar o estudo dos receios de Portugal, e não tanto de Espanha, no exato momento de sua afirmação enquanto reino ibérico livre e expressivo no exterior. Em suma, o prêmio ganho pela obra em sua casamater, que permitiu justamente a sua publicação, denota uma significativa ampliação e um despojamento dos horizontes acadêmicos “nacionais”, fruto das atuais políticas de fomento europeias. Sem receios, David Martín Marcos aproveitou bem a oportunidade de unir histórias e historiografias em torno de uma narrativa consistente e calibrada.
Referências
ALBAREDA, Joaquim. La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Barcelona: Crítica, 2010. [ Links ]
BRAGA, Paulo Drumond. Dom Pedro II. Uma biografia. Lisboa: Tribuna, 2010. [ Links ]
CARDIM, Pedro. Portugal en la guerra por la sucesión de la monarquía española. In: GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (org.). La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa: Europa en la encrucijada. Madri: Sílex, 2009, p. 205-256. [ Links ]
CARDOSO, José Luís. Leitura e interpretação do tratado de Methuen: balanço histórico e historiográfico. In: VVAA. O tratado de Methuen (1703). Lisboa: Horizonte, 2002, p. 11-29. [ Links ]
COSTA, Fernando Dores. A participação portuguesa na Guerra de Sucessão da Espanha: aspectos políticos. In: VVAA. O tratado de Methuen (1703). Lisboa: Horizonte, 2003, p. 71-96. [ Links ]
FARIA, Ana Maria Homem Leal de. D. Pedro II, o Pacífico. Dinastia de Bragança (1683-1706). Lisboa: QuidNovi, 2009. [ Links ]
KAMEN, Henry. La Guerra de Sucesión en España (1700-1715). Barcelona: Grijalbo, 1974. [ Links ]
LOURENÇO, Maria Paula Marçal. D. Pedro II. O Pacífico. Lisboa: Círculo de Leitores, 2006. [ Links ]
MARTÍN MARCOS, David. El papado y la Guerra de Sucesión española. Madri: Marcial Pons, 2011. [ Links ]
MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos. Nobres contra mascates. Pernambuco, 1666-1715. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. [ Links ]
MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A guerra de sucessão de Espanha. In: BARATA, Manuel Themudo & TEIXEIRA, Nuno Severiano (org.). Nova história militar de Portugal, vol. II. Lisboa: Círculo de Leitores, 2004, p. 301-306. [ Links ]
MONTEIRO, Rodrigo Bentes. O rei no espelho. A monarquia portuguesa e a colonização da América 1640-1720. São Paulo: Hucitec, 2002. [ Links ]
SCHWARCZ, Lília Moritz (org.). Leituras críticas sobre Evaldo Cabral de Mello. Belo Horizonte/São Paulo: Editora UFMG/Fundação Perseu Abramo, 2008. [ Links ]
VALLADARES, Rafael. A independência de Portugal. Guerra e Restauração 1640-1680. Tradução de Pedro Cardim. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2006. [ Links ]
VALLADARES, Rafael. La rebelión de Portugal, 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la monarquía hispánica. Valhadolid: Junta de Castilla y León, 1998. [ Links ]
2Os muitos estudos impedem uma remissão detalhada. Mencione-se, contudo, o interesse de historiadores provenientes de universidades espanholas sobre Portugal na monarquia hispânica e a restauração de sua independência, em suas dimensões política, religiosa e social, como de Fernando Bouza Álvarez, Rafael Valladares Ramirez, Federico Palomo del Barrio, Ana Isabel Lopes-Salazar Codes, Santiago Martínez Hernández e Antonio Terrasa Lozano.
3VALLADARES, Rafael. La rebelión de Portugal, 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la monarquía hispánica. Valhadolid: Junta de Castilla y León, 1998. Por razões editoriais, o livro foi publicado em Portugal com o título A independência de Portugal. Guerra e Restauração 1640-1680. Tradução de Pedro Cardim. Lisboa: A Esfera dos Livros, 2006.
4Em especial as biografias de d. Pedro II que conjecturam sobre sua personalidade pública: LOURENÇO, Maria Paula Marçal. D. Pedro II. O Pacífico. Lisboa: Círculo de Leitores, 2006; BRAGA, Paulo Drumond. Dom Pedro II. Uma biografia. Lisboa: Tribuna, 2010 e FARIA, Ana Maria Homem Leal de. D. Pedro II,o Pacífico. Dinastia de Bragança (1683-1706). Lisboa: QuidNovi, 2009. No entender do autor, esta última seria mais equilibrada por dar atenção aos elementos da difícil conjuntura internacional que incidiam no comportamento hesitante do príncipe regente e depois rei português, não o entendendo apenas como uma personagem manietada pela nobreza.
5Discurso político de hum gentil homem espanhol retirado da corte. A proposta que lhe fes hum ministro de Estado, do Conselho de Madrid, sobre á sucessão de Carlos Segundo, ao trono daquela Monarchia [1697], S. l., Academia das Ciências de Lisboa, série Azul, 121, fols. 107-122.
6A título de exemplo, CARDOSO, José Luís. Leitura e interpretação do tratado de Methuen: balanço histórico e historiográfico. In: VVAA. O tratado de Methuen (1703). Lisboa: Horizonte, 2002, p. 11-29.
7Para este capítulo são recrutados trabalhos de síntese como os de KAMEN, Henry. La Guerra de Sucesión en España (1700-1715). Barcelona: Grijalbo, 1974 e ALBAREDA, Joaquim. La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Barcelona: Crítica, 2010, e estudos sobre a participação portuguesa, como COSTA, Fernando Dores. A participação portuguesa na Guerra de Sucessão da Espanha: aspectos políticos. In: VVAA. O tratado de Methuen (1703). Lisboa: Horizonte, 2003, p. 71-96; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. A guerra de sucessão de Espanha. In: BARATA, Manuel Themudo & TEIXEIRA, Nuno Severiano (org.). Nova história militar de Portugal, vol. II. Lisboa: Círculo de Leitores, 2004, p. 301-306 e CARDIM, Pedro. Portugal en la guerra por la sucesión de la monarquía española. In: GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (org.). La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa: Europa en la encrucijada. Madri: Sílex, 2009, p. 205-256. Vale lembrar que o autor possui sua tese doutoral publicada sobre a participação da Santa Sé na referida guerra. MARTÍN MARCOS, David. El papado y la Guerra de Sucesión española. Madri: Marcial Pons, 2011.
8A título de exemplo, MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos. Nobres contra mascates. Pernambuco, 1666-1715. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Ver também SCHWARCZ, Lília Moritz (org.). Leituras críticas sobre Evaldo Cabral de Mello. Belo Horizonte/São Paulo: Editora UFMG/Fundação Perseu Abramo, 2008.
Rodrigo Bentes Monteiro – Professor associado de História Moderna no Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, pesquisador da Companhia das Índias e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. E-mail: [email protected].
Uma história do roubo na Idade Média – CANDIDO (RH-USP)
CÂNDIDO DA SILVA, Marcelo. Uma história do roubo na Idade Média. Bens, normas e construção social do mundo Franco. São Paulo: Fino Traço, 2014. 152 pp. Resenha de: COELHO, Maria Filomena. Revista de História (São Paulo) n.173 São Paulo July/Dec. 2015.
O livro de Marcelo Cândido preenche uma lacuna importante da história do Direito – o roubo na Idade Média –, mas, sobretudo, propõe uma forma de olhar para esse crime/delito que abarca outro problema central do medievo, que é o do crescimento e institucionalização da Igreja no seio da sociedade. Portanto, trata-se de uma obra de História que apresenta um problema e o interpreta de maneira complexa, o que permite ao leitor vislumbrar as várias ramificações e implicações que atravessam a vida em sociedade, mas que, muitas vezes, por defeito da necessidade de transformá-la em objeto de estudo, são reduzidas pelos historiadores a fenômenos isolados, cujas interpretações reforçam a tendência às explicações atomizadas e compartimentadas sobre o passado. É o que encontramos, por exemplo, em algumas “histórias da Igreja” elaboradas na primeira metade do século XX. Uma história do roubo na Idade Média mostra que é possível e necessário fazer História de outra maneira.
As fontes escolhidas para embasar o livro são velhas conhecidas dos historiadores que se dedicam ao estudo dos reinos merovíngio e carolíngio, na Alta Idade Média: hagiografias, crônicas, leis, atas conciliares. Assim, o autor parte de documentação já utilizada pela historiografia para oferecer uma interpretação que se afasta radicalmente de algumas propostas consagradas que foram naturalizadas pelo campo da História e se transformaram em espécies de “conclusões óbvias” de referência, às quais deveriam chegar todos os trabalhos que se dedicassem ao tema. No caso do roubo, não é difícil lembrar, por exemplo, de um tipo de abordagem social que insiste em sublinhar que, diante da justiça, os poderosos serão poupados e os pobres punidos. É a conclusão a que chega, por exemplo, Anne-Marie Helvétius em seu estudo sobre os relatos de vingança dos santos na hagiografia franca. Mas, ao se esquadrinhar as fontes e ver o que elas têm a dizer sobre o roubo, descobre-se uma realidade que é muito mais rica e complexa do que os esquemas “explicativos” comportam. Ao mesmo tempo, a decisão de ampliar a tipologia das fontes e colocar em xeque velhas classificações anacrônicas que predeterminavam a adequação entre temas de investigação e documentos a utilizar, o historiador vislumbra um panorama sistêmico e dinâmico, no qual se entrelaçam valores políticos, religiosos, jurídicos, como se se tratasse de uma só coisa. Ainda na ordem das “conclusões óbvias” que precisam ser desfeitas, Marcelo Cândido chama a atenção para a velha ideia de que as leis na Idade Média seriam apenas o resultado escrito de costumes e práticas sociais antigas, com pouquíssimo espaço para a criação do novo. De fato, é já senso comum reduzir os tempos medievais às suas características consuetudinárias, a ponto de se entender que as iniciativas legislativas de caráter inovador transformar-se-iam fatalmente em letra morta. A recente renovação dos estudos sobre o poder e a justiça, de viés societário, parece inspirar-se nessa perspectiva, ao acentuar a tendência que os medievais teriam para a resolução de conflitos por meio da composição entre as partes, longe da autoridade e dos tribunais. Aliás, também cabe aqui certa ideia de que os medievais desconheciam o direito individual sobre bens, preferindo a fórmula da posse coletiva sobre as coisas. Estas propostas, é bom que se diga, colocam-se no polo oposto ao dos institucionalistas (que têm em François-Louis Ganshof um dos mais ilustres representantes entre os medievalistas), mais antigo, no qual não era difícil encontrar interpretações que atestassem o poder mágico das leis, que dependeriam apenas de encontrar governantes eficientes que as aplicassem com rigor, de forma a mudar a sociedade de acordo com seu projeto político e institucional. Enfim, nem uma coisa nem a outra, tal como podemos acompanhar ao longo de Uma história do roubo na Idade Média.
Marcelo Cândido da Silva é professor de História Medieval na Universidade de São Paulo (USP), onde fundou o Laboratório de Estudos Medievais (Leme). Suas atividades de pesquisa há muito se voltam para a Alta Idade Média e, mais concretamente, para os reinos merovíngio e carolíngio, com diversos artigos publicados em revistas científicas nacionais e estrangeiras, capítulos de livros em obras coletivas que reúnem os resultados de pesquisas realizadas em torno dessa mesma temática, bem como de livros, entre os quais se destaca A realeza cristã na Alta Idade Média. Os fundamentos da autoridade pública no período merovíngio (séculos V-VIII), desdobramento de sua tese de doutorado defendida na Université de Lyon em 2002. Embora o livro que agora se resenha seja parte dessa trajetória, percebe-se, na forma como está estruturado, tratar-se de uma obra de maturidade, fruto de um percurso intelectual que permite cruzar diversas perspectivas com erudição.
O livro está composto por cinco capítulos: 1) Normas e construção social; 2) O roubo nas hagiografias; 3) O roubo na legislação real; 4) O roubo nos cânones conciliares; 5) O problema dos bens da Igreja. Esta configuração representa a própria estruturação do problema, uma vez que o autor parte da discussão teórica e historiográfica do papel das normas na Idade Média, na perspectiva da construção daquela sociedade, para, em seguida, detalhar a forma que o roubo assume nas vidas dos santos, nas leis do rei e nas decisões dos concílios, com o objetivo de mostrar que aquilo que a historiografia muitas vezes entende pertencer a dimensões diferentes compõe uma unidade substantiva e inseparável. Isso é especialmente visível na construção e diferenciação da parte mais especial da sociedade cristã: a Igreja. Nas palavras do autor:
O ladrão, o proprietário e os bens são criações documentais tanto quanto personagens da vida social: toda a dificuldade está em tentar definir os limites entre uma e outra manifestação! Talvez a tarefa dos historiadores esteja menos em tentar resolver essa ambiguidade (o que dificilmente poderia ser feito sem o recurso à dicotomia entre “ideal” e “realidade”) do que em entender a sua dinâmica, compreender a sua função. Não se trata, evidentemente, de negar a existência do real, mas de levar em conta a mediação realizada pelos textos em toda a sua amplitude (…). Eles permitem que se alcance o universo das concepções sociais acerca do roubo, do furto e da violência em geral e, mais importante ainda, as formas pelas quais as normas que coíbem essas práticas, que também são o fruto de uma autoridade pública, participam do processo de construção das relações sociais e dos próprios sujeitos (p. 15).
A maneira como a sociedade constrói e manifesta seus valores positivos e negativos tem, no plano simbólico, sua dimensão preferencial. Nesse sentido, a História encontrou na Antropologia reflexões importantes que permitiram compreender que tais construções e manifestações não se reduziam às relações sociais, mas que se estendiam com igual peso às relações que os sujeitos estabeleciam com os bens. Assim o demonstra também Marcelo Cândido, ao sublinhar esse mesmo aspecto nas fontes que sustentam seu trabalho. Ou seja, como o combate ao roubo e a práticas similares é fundamental para a definição relativa da posição que os sujeitos e os bens ocupam na sociedade. É possível constatar grande variedade de termos para designar aquele que rouba, com acentuada conotação moral, e percebe-se que a preocupação não recai sobre “o comportamento do criminoso, mas no estatuto do proprietário dos bens atacados” (p. 23), sem que isso se reduza ao que entendemos hoje por capacidade econômica dos envolvidos. Tal evidência é particularmente nítida nos casos de roubo de bens eclesiásticos, que servem como fio condutor ao livro e que permitem também compreender que as normas dedicadas a combater o delito constroem, juntamente com as hagiografias e as crônicas, a sociedade cristã. Seguindo de perto os debates recentes dos historiadores do direito em torno do papel das normas na Idade Média, presentes, sobretudo, na obra de Ian Thomas, o autor considera que elas não podem ser vistas unicamente como instrumentos de repressão a comportamentos desviantes, mas, sobretudo, como discursos mediadores de situações de conflito e, talvez o mais importante, como formulações jurídicas que “alteram a própria identidade das pessoas e das coisas que essas normas buscam preservar” (p. 31).
Ao se analisar as hagiografias do mundo franco, percebem-se aspectos fundamentais no que diz respeito ao roubo. O primeiro é que não há, de acordo com nossos padrões atuais, uma conexão lógica entre o valor econômico dos bens roubados e a punição, ou o perdão. O segundo é que, como já se disse, não se confirma que a justiça dos santos privilegiasse os mais ricos em detrimento dos mais pobres. A lógica opera com outros parâmetros, entre os quais se destacam o arrependimento explícito do transgressor e a restituição dos bens roubados. Trata-se de ofensa e dano infligidos aos santos e aos bens eclesiásticos que, ao serem considerados como entes e patrimônio da esfera do sagrado/divino, somente podem ser satisfeitos em sua essência jurídica por meio da restauração da situação anterior ao crime. Entretanto, o mais importante é que as situações apresentadas nas hagiografias não se resumem ao plano espiritual nem tampouco ao plano exemplar e moralizador. Elas fazem parte da formulação em curso na sociedade sobre os bens e sua propriedade, em conjunto com as leges bárbaras e os cânones conciliares.
Para entender melhor as bases em que se assentam as leis régias sobre o roubo, Marcelo Cândido sublinha que o fato de que os textos jurídicos pareçam dar destaque às noções de posse e utilização dos bens não elimina o direito de propriedade. Ambas as situações são contempladas pela norma e, frequentemente, para um mesmo caso. Partindo do Pactus Legis Salicae, por ser o corpus legal com maior ressonância na organização jurídica do mundo franco, o autor pretende descobrir “em que medida a qualificação jurídica do roubo nele estabelecida está presente em textos de outra natureza (cânones conciliares, hagiografias, histórias), através dos esquemas de qualificação jurídica, independentemente da imposição de normas sob a forma da coerção” (p. 71). Tal como nas hagiografias, constata-se grande preocupação com a composição/pacificação e a devolução dos bens roubados, em detrimento da qualificação dos bens e da tipificação das ações. Mas, o mais importante é perceber que, dependendo da situação, a norma desloca as fronteiras entre sujeitos e bens, com grande potencial criativo.
A partir do procedimento de assimilação entre sujeitos, sujeitos e coisas, e de sua qualificação, as normas no mundo franco conciliam seu potencial técnico em modificar a vida social com uma natureza, na qual todos os componentes, inclusive as instituições e o Direito, são ordenados segundo os imperativos da Salvação (p. 78). A ficção jurídica consiste em travestir os fatos, declará-los distintos daquilo que realmente são, e tirar dessa adulteração e falsa suposição as consequências normativas que se ligariam à verdade conscientemente simulada. A ficção requer, portanto, a consciência daquilo que é falso (p. 81).
No que tange aos cânones conciliares, o roubo aparece, evidentemente, circunscrito aos bens eclesiásticos, e, embora os concílios possam ser considerados parte do exercício do poder monárquico, para Marcelo Cândido eles não são uma “extensão da legislação real”, uma vez que têm especificidades que os identificam como textos da Igreja, coisa que de resto pode ser comprovada na forma como neles se caracterizam as relações entre os sujeitos e os bens. Assim, o direito de propriedade dos bens eclesiásticos não deve se submeter aos princípios do uso e da posse, bem como a qualquer outro que comprometa o poder amplo e irrestrito da Igreja sobre seus bens e direitos. A elaboração textual vai se tornando cada vez mais intrincada, mas claramente na direção de elevar os bens da Igreja acima dos demais, recorrendo a associações poderosas, como a de “bens de Deus” ou a de “bens dos pobres”. Isso faz daquele que rouba bens eclesiásticos um ladrão de Deus ou um ladrão dos pobres. Neste ponto, destaca-se a intenção transformadora da lei, que atinge a própria divindade:
As raízes dessa “personificação” da divindade estão na necessidade de defender os bens da Igreja contra os ataques dos laicos. A relação da norma com as práticas sociais reside, precisamente, em que o ponto de partida para a elaboração dessas normas é uma situação precisa que a sociedade pretende alterar. Seria um equívoco buscar na norma um retrato das práticas sociais; o que se encontra nela é uma reconstrução dessas mesmas práticas. O Deus dos textos conciliares não é o mesmo dos textos teológicos, mas uma espécie de Deus-proprietário, um qualificativo jurídico. Eis porque o estatuto daquele que se ataca aos bens eclesiásticos nada importa em face do estatuto Daquele que é o seu proprietário legítimo (p. 100).
Como resultado do aumento de casos de desrespeito aos bens da Igreja, observa-se também nos textos hagiográficos um crescimento em torno da qualificação jurídica e da presença de procedimentos judiciários nas narrativas. A vingança divina (ultio divina) manifesta-se com frequência como punição ao roubo, num claro sintoma do que se acaba de dizer. Também os que atuam como juízes nas diversas situações obedecem às lógicas da justiça, como no tocante à revelação da intenção oculta da actio criminalis. Nem sequer os animais escapam ao enquadramento jurídico, como sujeitos da lei: animal-ladrão. Enfim, bens eclesiásticos em disputa transformam-se em causas da Igreja, que precisam ser esvaziadas de sua concretude e reelaboradas por meio daquilo que se entende ser a sua natura e o genus causae para serem finalmente apresentadas como questio universa. É esta a realidade! Por meio das narrativas hagiográficas, Marcelo Cândido mostra que, nos casos de roubo, é possível ver o processo de construção dessa realidade essencial que trans-forma as relações entre pessoas e coisas em relações entre sujeitos e bens.
Enfim, o livro mostra que, para o contexto analisado,
o roubo não era considerado um crime contra os bens. Eles são secundários. É a partir do proprietário que todas as formas de qualificação, inclusive aquelas que conduzem à definição da natureza dos bens, são elaboradas e projetadas sobre os diversos casos de roubo. A qualificação do roubo no mundo franco não considerava o valor de mercado dos bens roubados, mas o estatuto daquele que era vítima do roubo (p. 137).
Nesse sentido, portanto, os artifícios da lei criam a optima pars da sociedade cristã que dava vida ao reino dos francos: a Igreja.
Maria Filomena Coelho –Doutora em História Medieval pela Universidade Complutense de Madri. Estágio pós-doutoral em História do Direito e das Instituições – Universidade Nova de Lisboa. Professora adjunta do Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas.
O ódio à democracia – RANCIÈRE (RH-USP)
RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo, 2014. Resenha de: GAVIÃO, Leandro. Revista de História (São Paulo) n.173 São Paulo July/Dec. 2015.
Nascido em Argel, no ano de 1940, Jacques Rancière formou-se em filosofia pela École Normale Supérieure e lecionou no Centre Universitaire Expérimental de Vincennes – atual Universidade de Paris VIII – entre 1969 e 2000, quando se aposentou. Foi um dos discípulos de Luis Althusser, embora tenha rompido com seu mentor a partir do desenrolar dos movimentos parisienses de maio de 1968.
No que concerne à sua mais recente obra, objeto desta resenha, dificilmente haveria título mais autoexplicativo. Em O ódio à democracia (tradução literal do original: La haine de la démocratie), o autor consegue a proeza de analisar com maestria interdisciplinar temas de elevada complexidade envolvendo as sociedades democráticas da atualidade. À luz de uma abordagem que reúne História, Sociologia, Filosofia e clássicos do pensamento universal, Rancière realiza uma verdadeira façanha ao lograr tal feito em pouco mais de 120 páginas, produzindo um texto de teor ensaístico de rara competência, sem abdicar da elegância acadêmica e, simultaneamente, aderindo a uma linguagem acessível ao público amplo.
O livro é fracionado em quatro capítulos que versam sobre: (i) o surgimento da democracia, (ii) as suas peculiaridades em face dos regimes estruturados na filiação, (iii) as suas relações com os sistemas representativo e republicano e, por fim, (iv) as razões hodiernas do ódio à democracia.
Na visão de Jacques Rancière, a essência da democracia é a pressuposição da igualdade, atributo a partir do qual se desdobram as mais ferrenhas reações de seus adversários. Longe de ser uma idiossincrasia restrita à contemporaneidade, o ódio à democracia é um fenômeno que se inscreve na longa duração, haja vista que os setores privilegiados da sociedade nunca aceitaram de bom grado a principal implicação prática do regime democrático na esfera da política: a ausência de títulos para ingressar nas classes dirigentes.
Todos os sistemas políticos pretéritos lastreavam a legitimidade dos governantes em dois tipos de títulos: a filiação humana ou divina – associadas à superioridade de nascença – e a riqueza. A democracia grega emprega o princípio do sorteio, subvertendo a lógica vigente ao deslocar para o âmbito da aleatoriedade a responsabilidade de legislar e de governar, agora ao alcance de qualquer cidadão da polis, independente de suas posses ou do nome de sua família.
Isto posto, Rancière questiona os princípios do modelo democrático representativo, invenção moderna que se vale de uma nomenclatura considerada paradoxal pelo autor, haja vista seu distanciamento em relação à democracia dos antigos. O sistema assentado na representação nada mais seria do que um regime de funcionamento do Estado com base parlamentar-constitucional, mas fundamentado primordialmente no privilégio das elites que temiam o “governo da multidão” e pretendiam governar em nome do povo, mas sem a participação direta deste. “A representação nunca foi um sistema inventado para amenizar o impacto do crescimento das populações” (p. 69), mas sim para assegurar aos privilegiados os mais altos graus de representatividade. Rancière é enfático ao afirmar que os pais da Revolução Francesa e Norte-Americana sabiam exatamente o que estavam fazendo.
O termo “democracia representativa” vivenciou um verdadeiro giro semântico, deixando de significar um oximoro para ganhar o status de pleonasmo. Além de ofuscar o princípio do “governo de qualquer um”, ao substituí-lo pelo “governo da maioria”, o sistema representativo criado pelos legisladores e intelectuais modernos era excludente ao apresentar a solução da cidadania censitária, num claro intento de priorizar a participação das classes proprietárias, embora reconhecendo a inevitabilidade do advento de determinados preceitos da democracia.
Esta última só experimenta um processo de ampliação após uma sequência de exigências populares e de lutas travadas nos mais variados âmbitos, permitindo sua gradual expansão para outros segmentos sociais. O sufrágio universal nunca foi decorrência natural da democracia. A sangrenta história da reforma eleitoral na Inglaterra é apenas um dos exemplos capazes de denunciar o idílio de uma tradição liberal-democrata e de expor a hipocrisia por trás do conceito de igualdade para as elites, que apenas a defendem enquanto o beneficiário é ela própria.
Por outro lado, a igualdade não é uma ficção, mas, sim, a mais banal das realidades. A tese de Rancière sobre a pressuposição da igualdade apresenta as relações de privilégio como constructos históricos cuja origem está sempre situada numa relação que a princípio é igualitária, no sentido de ser travada entre entes que a priori são iguais. As vantagens que geram a desigualdade são fabricadas e precisam se legitimar socialmente para operar, tendo por base leis, instituições e costumes aceitos ou tolerados pela comunidade. Para o sábio ditar as regras, é preciso que os demais compreendam seus ditames, reconheçam sua autoridade ou ao menos tenham interesse em obedecê-lo.
Após se consolidarem no poder, os governos e suas elites tendem a separar as esferas pública e privada, estreitando a primeira e impelindo os atores não estatais para a segunda. A tensão intrínseca ao processo democrático consiste justamente na ação pela reconfiguração das distribuições desta díade, assim como do universal e do particular, com os agentes não estatais reivindicando a ampliação da esfera pública em detrimento da privatização da mesma, que redunda na exclusão política e na privação da cidadania.
A mulher, historicamente dotada de um papel social confinado à vida privada, é quem melhor representa a longa duração da exclusão da participação na vida pública. No mesmo sentido, o debate em torno da questão salarial, por exemplo, girava em torno da desprivatização da relação capital-trabalho, até então fundada na alegação falaciosa de que o trato entre o empregador e o empregado se dá meramente entre entes privados, ao passo que, ao contrário, reside ali uma inexorável essência coletiva, dependente da discussão pública, da norma legislativa e da ação conjunta. A exigência por direitos tende a ocorrer por intermédio de identidades de grupo construídas com a intenção de reconhecer suas demandas e inseri-las na dimensão pública.
Portanto, este combate contra a divisão do público e do privado, que assegura uma dupla dominação das minorias oligárquicas no Estado e na sociedade, não consiste no aumento da intervenção do Estado, como argumentam os liberais. Implica, sim, em garantir o reconhecimento universal da cidadania, modificar a representação como lógica destinada ao consentimento com os interesses dominantes e assegurar o caráter público de determinados espaços, instituições e relações outrora acessíveis apenas aos mais abastados.
A democracia não é uma forma de Estado, mas um fundamento de natureza igualitária cuja atividade pública contraria a tendência de todo Estado de monopolizar a esfera pública e despolitizar – no sentido lato – a população. O ceticismo de Rancière se traduz na afirmação de que vivemos em “Estados de direito oligárquicos”, onde predomina uma aliança entre a oligarquia estatal e a econômica. As limitações impostas ao poder dos governantes ocorrem apenas no reconhecimento mínimo da soberania popular e das liberdades individuais. Ambas devem ser encaradas não como concessões, mas como conquistas obtidas e perpetuadas por meio da ação democrática, ou seja, pela participação cidadã na esfera pública.
Ademais, o enfraquecimento do Estado-nação, em face da contingência histórica do capitalismo liberal, seria apenas um mito. Ocorre, de fato, um recuo da plataforma social, especialmente no que tange ao desmonte do welfare State. Mas, por outro lado, há um fortalecimento de outras instâncias estatais, que beneficiam as oligarquias e sua sede por poder. O fetiche da intelligentsia liberal por um arquétipo iluminista de progresso linear é surpreendentemente análogo ao estilo de fé que levava os marxistas vulgares de outrora a acreditarem num movimento mundial rumo ao socialismo. As similaridades são evidentes: o movimento das ações humanas é tido como racional e o progresso como unidirecional. A única ruptura relevante é o alvo da crença: o triunfo e a eficiência inconteste do mercado.
Com base na retórica liberal, artificiosamente alçada à condição de lei histórica inelutável, à qual seria inútil se opor, pretende-se governar sem povo, sem divergências de ideias e sem a interferência de “ignorantes” questionadores do discurso pseudocientífico apresentado pelos asseclas do liberalismo. Assim, a autoridade dos governantes imerge numa contradição: ela precisa ser legitimada pela escolha popular, mas as decisões políticas e econômicas supostamente certas derivam do conhecimento “objetivo” de especialistas intolerantes com heréticos. Daí que as manifestações filiadas a outras propostas ideológicas ou mesmo o questionamento pontual à plataforma liberal – que atualmente detém o “monopólio da expressão legítima da verdade do mundo social”, conforme definição de Pierre Bourdieu2 – são atos que incutem em seus locutores os rótulos sumários de “atrasados”, “ignorantes” ou “apegados ao passado”.
O cenário torna-se ainda mais complexo devido a outros problemas, tal como a atual ambivalência da democracia, manifestada no tratamento díspar que a mesma recebe quando se observam as dinâmicas dirigidas para o plano doméstico e para o plano externo. Internamente, as elites consideram-na “doente” quando os desejos das massas ultrapassam os limites impostos ao povo e este passa a exigir maior igualdade e respeito às diferenças, deixando assim de ser um agente passivo para converter-se em sujeito político atuante e, por decorrência, “perigoso”. Simultaneamente, as mesmas lideranças consideram a democracia “sadia” quando logram mobilizar indivíduos apáticos para esforços de guerra em nome dos mesmos valores que supõem defender com afinco.
A contradição que permeia as campanhas militares supostamente orientadas para disseminar a democracia é justamente a existência de dois adversários opostos: o governo autoritário e a ameaça da intensidade da vida democrática. O qualificativo “universal” que imprimem à democracia justifica a sua imposição à força e a violação da soberania alheia, mas essa mesma democracia é limitada no país que a exporta e será igualmente limitada naquele que virá a recebê-la.
Em suma, a paradoxal tese dos que odeiam a democracia pode ser sintetizada na seguinte sentença: somente reprimindo a catástrofe da civilização democrática é que se pode vivenciar a boa democracia. Rancière resgata as conclusões de Karl Marx sobre a burguesia, categoria social cuja única liberdade sem escrúpulos a ser defendida é a liberdade de mercado – origem da reificação do mundo e dos homens – e a única igualdade reconhecida é a mercantil – que repousa sobre a exploração e a desigualdade entre aquele que vende sua força de trabalho e aquele que a compra.
Os juízos outrora direcionados com maior intensidade contra os totalitarismos – que se autodenominavam “democracias populares” – tornam-se obsoletos após a implosão do bloco soviético. Doravante, intensifica-se a crítica ao excesso de democracia ao estilo ocidental, exatamente como a Comissão Trilateral já havia alertado na década de 1970:
[A democracia] significa o aumento irresistível de demandas que pressiona os governos, acarreta o declínio da autoridade e torna os indivíduos e os grupos rebeldes à disciplina e aos sacrifícios exigidos pelo interesse comum (p. 15).Por fim, a democracia sofre de outra ambivalência inata: a sua existência se equilibra na ausência de legitimidade. Isto é, títulos. O ódio à democracia decorre de sua própria natureza, haja vista que o “governo de qualquer um” está permanentemente sob a mira rancorosa daqueles munidos de títulos, seja o nascimento, a riqueza ou o conhecimento.
Conquanto sua definição de democracia difira de outros autores clássicos, tais como Norberto Bobbio3 e Jean-Marie Guéhenno,4 é praticamente impossível não se inquietar com as questões complexas e atuais elencadas por Jacques Rancière.
O diagnóstico apresentado pelo autor certamente provoca desassossego naqueles que ainda se preocupam com a manutenção da democracia e o seu aperfeiçoamento, mormente numa época em que o vínculo entre o grande capital e a oligarquia estatal é cada vez mais simbiótico e as alternativas à nova “necessidade histórica” representada na retórica liberal da ilimitação da riqueza engendra efeitos deletérios tanto nas relações entre os homens como na relação destes com o meio ambiente. Por outro lado, as oposições a esta imposição programática acabam por ocorrer na forma do crescimento da extrema-direita, dos fundamentalismos religiosos e dos movimentos identitários que resgatam o antidemocrático princípio da filiação para reagirem ao consenso oligárquico vigente.
A concepção de democracia como um valor desvinculado de instituições governamentais específicas, sua peculiar situação de perpétua vicissitude, seu caráter inconcluso e sua urgente necessidade de ampliação e de retomada da esfera pública pelos sujeitos políticos são apenas algumas das relevantes contribuições que Jacques Rancière expõe com inteligência e clareza em um de seus livros mais instigantes. Isso se enfatiza em uma época sombria como a nossa, quando indivíduos politicamente passivos se ocupam de suas paixões egoístas em detrimento do bem comum e um simulacro de alternância de poder entre agrupamentos políticos semelhantes satisfaz o gosto democrático por mudança, não obstante as similaridades de agenda política daqueles que se revezam nas instâncias governamentais.
2BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Bertand Brasil, 1989.
3Ver: BOBBIO, Norberto. Qual democracia?. 2ª edição. São Paulo: Edições Loyola Jesuítas, 2013.
4Ver: GUÉHENNO, Jean-Marie. O fim da democracia: um ensaio profundo e visionário sobre o próximo milênio. 2ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
Leandro Gavião – Doutorando em História Política no Programa de Pós-Graduação em História, no Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Coordenador do Núcleo de Estudos Internacionais Brasil-Argentina (NEIBA-UERJ) e bolsista da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected].
Sobre o Estado – BOURDIEU (RH-USP)
BOURDIEU, Pierre, Sobre o Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Resenha de: BEZERRA, Marcos Otavio. Revista de História (São Paulo) no.173 São Paulo July/Dec. 2015.
Os cursos de Pierre Bourdieu reunidos em Sobre o Estado apresentam um conjunto de formulações teóricas, indicações metodológicas, interrogações, esboços de análises empíricas e pistas de investigações importantes para as pesquisas atuais sobre questões relacionadas ao Estado moderno. De imediato, gostaria de remeter a dois aspectos centrais explorados analiticamente ao longo das vinte e três aulas. Primeiro, a principal contribuição teórica do autor reside na incorporação do poder simbólico como dimensão essencial do Estado. Concebido como uma forma de crença, uma ilusão bem fundamentada, ao Estado é atribuído o poder de organizar a vida social através da imposição de estruturas cognitivas e de consensos sobre o sentido do mundo. Segundo, investigar a gênese do Estado é investigar a formação de um setor do campo de poder ou metacampo. Este é assim designado pelo fato de condicionar o funcionamento dos demais campos e intervir na definição da posição que cada um deles mantém em relação aos demais. Assim, a análise realizada pelo autor em Sobre o Estado se inscreve em seu projeto de elaboração de uma teoria geral do espaço social.
Publicado originalmente em 2012, o livro é fruto das aulas proferidas por Pierre Bourdieu no Collège de France nos três cursos dedicados ao Estado nos meses de dezembro de 1989-fevereiro de 1990, janeiro-março de 1991 e outubro-dezembro de 1991. Ele integra um projeto mais amplo de edição dos cursos e aulas do autor. Com a publicação na íntegra dos cursos, o leitor brasileiro tem a possibilidade de seguir as escolhas analíticas feitas pelo autor e a construção de suas ideias sobre o tema. Uma breve, mas esclarecedora, análise feita pelos editores do livro sobre o lugar tardio que ocupa o Estado nas pesquisas realizadas por Pierre Bourdieu é incluída no final do livro. Graças a ela, constata-se que a definição de Estado explorada em seus cursos – como “instância oficial, reconhecida como legítima, isto é, como detentora do monopólio da violência simbólica legítima” (p. 490) – é elaborada inicialmente em seu livro Homo academicus, de 1984. A edição brasileira conta também com um artigo do sociólogo Sergio Miceli da Universidade de São Paulo. Nele, o autor retoma as formulações de Bourdieu sobre a transição do Estado dinástico ao Estado moderno e destaca o papel que, no processo, desempenham os juristas como formuladores do desinteresse e da universalização, princípios e valores centrais que se encontram associados ao Estado.
O trabalho de transformação das aulas em textos coube a antigos colaboradores de Bourdieu, falecido em 2002. Eles optam pela apresentação de uma transcrição não literal, mas editada, do material gravado, obedecendo a princípios adotados pelo próprio autor ao revisar suas transcrições. O resultado é uma agradável surpresa, especialmente para os leitores que só têm acesso aos livros e artigos nos quais são publicados os resultados de pesquisas. Em sintonia com o espírito que anima o ensino no Collège de France – ensinar a pesquisa que se encontra em desenvolvimento -, o leitor tem a oportunidade de acompanhar, através das aulas, como recursos intelectuais e conceitos elaborados pelo autor – como a reflexividade, a comparação, o uso da história, a construção de modelos analíticos e as noções de habitus, campo e dominação simbólica, entre outros – são mobilizados no processo de construção de uma pesquisa. Mantido o formato das aulas, é possível observar a elaboração e o desenvolvimento de ideias, suas articulações com o material empírico, o confronto com modelos explicativos disponíveis, os desvios pedagógicos tidos como necessários ao avanço da reflexão, as repetições de coisas já ditas, as hesitações e as indicações de caminhos possíveis de exploração. A preservação em texto do estilo do discurso oral contribui para transmitir ao leitor a sensação de estar acompanhando as aulas e o andamento da pesquisa ao vivo.
O Estado, concebido como um conjunto de agentes e instituições, que exerce a autoridade soberana sobre um agrupamento humano fixado num território e que expressa de forma legítima esse agrupamento é, na visão de Bourdieu, um fetiche político. Essa representação dominante do Estado é interpretada pelo autor ao mesmo tempo como condição de sua existência e um de seus efeitos. O Estado é definido, portanto, como produto de uma crença coletiva para a qual contribuem teorias políticas e jurídicas. Analisar o trabalho de produção dessa representação e de fundamentação dessa crença é uma tarefa a que se dedica Pierre Bourdieu, especialmente em seu primeiro curso. A empreitada é indissociável do exame do Estado como fonte de poder simbólico, isto é, como local onde se produzem princípios de representação legítima do mundo social.
A definição do Estado como instituição que reivindica o monopólio da violência física e simbólica legítima no âmbito de um território decorre de um posicionamento do autor em relação às tradições estabelecidas do pensamento sociológico sobre o Estado. De Max Weber ele retém a interrogação a respeito da legitimidade do Estado, o monopólio da violência física, à qual acrescenta a violência simbólica. Da formulação de Émile Durkheim afasta-se no que ela conserva da visão de teóricos liberais (como Hobbes ou Locke), que alçam o Estado a promotor do bem comum, e retém a sugestão de pensá-lo como fundamento da integração moral (através da difusão de valores) e lógica (através do partilhamento das mesmas categorias de percepção) do mundo social, isto é, como princípio de construção de consensos e em torno dos quais, acrescenta Bourdieu, se estabelecem os conflitos. Em relação à “tradição marxista”, a critica é dirigida à ênfase posta na análise sobre a função de coerção exercida pelo Estado em favor das classes dominantes em detrimento da reflexão sobre as condições de sua própria existência e estrutura. O autor retém, porém, o argumento de que o Estado contribui para a reprodução das condições de acumulação do capital, mas atribui isso, retomando Durkheim, ao poder do Estado de organizar esquemas lógicos de percepção e consensos sobre o sentido do mundo. A submissão ao Estado passa a ser entendida como algo que deve menos à coerção física do que à crença em sua autoridade.
Para compreender os fundamentos dessa autoridade e dos mecanismos que promovem o seu reconhecimento, Bourdieu deixa de lado as formulações abstratas e privilegia a análise de medidas e ações do Estado. Assim, ele retoma pesquisas realizadas nos anos 1970 sobre o mercado da casa própria na França, especialmente a investigação efetuada sobre uma das comissões criadas – a Comissão Barre – para tratar do assunto. A comissão, exemplo de uma invenção organizacional, condensa, do ponto de vista do autor, o processo de gênese da lógica estatal. O estudo sobre seu funcionamento permite elucidar o mistério que dota os agentes, atos e efeitos do Estado de seu caráter oficial, público e universal.
Ao acompanharmos o argumento do autor constatamos que é na “crença organizada”, na “confiança organizada”, que se encontra a chave para se decifrar a lógica de constituição do poder simbólico do Estado. Estamos muito próximos aqui das formulações de Marcel Mauss sobre a magia. Um ato de Estado é um “ato coletivo”, realizado por pessoas reconhecidas como oficiais, e, portanto, “em condições de utilizar esse recurso simbólico universal que consiste em mobilizar aquilo sobre o que todo o grupo supostamente deve estar de acordo” (p. 67). Através da oficialização, agentes investidos de legitimidade transformam um ponto de vista particular – uma gramática, um calendário, uma manifestação cultural, um interesse etc. – em regras que se impõem à totalidade da sociedade. Examinar os mecanismos que fundam o oficial é, portanto, uma via para tornar compreensível como um ponto de vista particular é instituído como o ponto de vista legítimo. O efeito de universalização é, por excelência, um efeito de Estado.
A formação do Estado como lugar de elaboração do oficial, do bem público e do universal é indissociável de dois outros aspectos desenvolvidos pelo autor em suas análises. Primeiro, os agentes identificados com o bem público – como funcionários e políticos – encontram-se também submetidos às obrigações próprias ao campo administrativo. A demonstração de que estão a serviço do universal, do interesse coletivo e não de um interesse particular, por exemplo, é um meio de usufruir do reconhecimento social associado a esta condição, isto é, de se beneficiar dos lucros simbólicos que se encontram diretamente vinculados às manifestações de devoção ao universal. O autor lembra ainda, e este é o segundo aspecto, que as lutas que definem os processos de universalização são acompanhadas de lutas entre agentes sociais interessados em monopolizar o acesso ao universal. Estas lutas se dão entre agentes do mesmo campo e entre agentes de diferentes campos (jurídico, político, econômico, intelectual etc.). A concepção do espaço social como formado por campos diferenciados, com seus agentes e lógicas próprias, que entram em concorrência entre si, é uma ideia forte na teoria do autor. No processo de diferenciação, é localizada a gênese do Estado e a gênese de um poder diferenciado designado como campo de poder. O poder do Estado – como metapoder capaz de intervir em diferentes campos – é objeto de concorrência entre agentes concorrentes interessados em fazer com que seu ponto de vista e seu poder prevaleçam como o legítimo.
Uma vez esclarecida a natureza específica do poder do Estado, Pierre Bourdieu interroga-se sobre o modo como se dá a concentração do capital simbólico do Estado. Para isso, propõe realizar uma sociologia histórica que torne compreensível a sua gênese. O Estado passa a ser examinado como um objeto histórico e a história é incorporada à análise como um princípio de compreensão. O recurso à história é defendido como um instrumento fundamental de ruptura epistemológica. Como ressalta o autor nas primeiras aulas, o risco de se refletir sobre o Estado através de pré-noções é grande. O fato de o Estado ter uma participação significativa na estruturação das representações legítimas do mundo social contribui para que o pesquisador, ao se propor a pensar o Estado, o faça segundo as categorias e termos do próprio Estado. A historicização opera, portanto, como um antídoto contra os mecanismos de naturalização. A abordagem genética proposta visa restituir o momento inicial, aquele em que é possível identificar as possibilidades disponíveis para os agentes sociais, em que as lutas estão se desenrolando, as escolhas estão sendo efetuadas e naturalizadas. Trata-se de olhar para o momento em que se desenrolam as lutas que antecedem a oficialização e a universalização. A partir desta perspectiva, Bourdieu visa compreender a lógica específica que está na origem da constituição do campo burocrático como espaço autônomo em relação, por exemplo, à família, à religião e à economia. Para isso, retrocede à Idade Média europeia. Fazer a gênese do Estado é, desse modo, fazer a gênese de um campo em que as lutas políticas são travadas em torno da apropriação de um recurso particular que é o universal.
A incorporação da história à sua perspectiva analítica – o autor considera sem sentido a fronteira entre a sociologia e a história – não ocorre, no entanto, sem crítica a certa abordagem histórica. A despeito de historiadores constarem entre os autores mais citados nos cursos, Bourdieu os censura por se limitarem, em razão dos constrangimentos próprios à disciplina, a acumular histórias. Ele lamenta que suas análises não se desdobrem no sentido da elaboração de modelos analíticos. Essa crítica, no entanto, não é nova e apenas atualiza debates desenvolvidos no âmbito da própria historiografia. É um modelo, portanto, que ele propõe construir através de sua história genética também chamada de sociologia histórica. Através do exame de um número delimitado de casos particulares, Bourdieu se propõe a descrever a lógica da gênese do Estado, a elaborar um modelo teórico capaz de dar inteligibilidade a inúmeros fatos históricos.
Mas se o sociólogo, segundo sua compreensão, faz história comparada de um caso particular do presente, ele o faz de modo distinto do historiador em relação a um caso particular do passado. O primeiro, de acordo com a abordagem genética, constrói o caso presente como a realização de um dos casos possíveis. O segundo, ao ressaltar a unilinearidade dos processos, contribui para eliminar os possíveis que a abordagem genética propõe evidenciar. As leituras de Bourdieu sobre a história e seus usos na construção de seu modelo da gênese do Estado não ficaram sem respostas. Número recente da revista Actes de la Recherche em Sciences Sociales dedicado à razão do Estado (n. 201-202, de março de 2014), fruto de uma jornada de estudo realizada em janeiro de 2012 por ocasião da publicação de Sobre o Estado, dedica quatro de seus artigos a reações de três historiadores e um sociólogo às formulações de Bourdieu. Pierre-Étienne Will reflete sobre o modelo apresentado por Bourdieu a partir do caso chinês. Tendo em mente a questão do desenvolvimento do poder simbólico do Estado, Jean-Phillippe Genet chama atenção para a importância da literatura sobre a Igreja na Antiguidade e na Idade Média, não examinada por Bourdieu. Christophe Charle se concentra no debate entre história e sociologia e George Steinmetz critica as formulações de Bourdieu à luz de variações estatais como o Estado colonial e o Império. Como indicam estes textos, o modelo de gênese do Estado elaborado por Bourdieu, construído a partir de uma comparação entre os casos francês, inglês e incursões pelo japonês, tem sido avaliado quanto a sua pertinência e limite a partir do confronto com outras experiências.
A análise comparativa dos casos selecionados através da leitura critica de trabalhos de sociólogos que produziram comparações históricas (como Shmuel N. Eisenstadt, Perry Anderson, Barrington Moore, Reinhard Bendix e Theda Skocpol) e de historiadores permite a Bourdieu propor uma teoria da gênese do Estado como o resultado de um processo de concentração de diferentes tipos de capital. Considerado dessa perspectiva, o Estado é interpretado como princípio de unificação e instrumento de organização social forjado em sociedades que se desenvolvem no sentido da constituição de espaços sociais diferenciados. Em sua interrogação sobre a gênese do Estado, Bourdieu não minimiza a importância da dimensão material e institucional em sua formação, ressaltada pela literatura por ele trabalhada. Ele investe, porém, na questão que considera mais essencial e menos resolvida, qual seja, a do consentimento, da aceitação da autoridade do Estado. A ela responde através de observações sobre o processo de concentração do capital simbólico do Estado.
A demonstração sobre as diferentes formas de acumulação do capital resulta na definição do Estado como o lugar de totalização, de constituição de um poder que se impõe sobre os demais. Restrinjo-me aqui a apenas indicar os tipos de capital, cujas etapas de acumulação ocorrem de modo interdependente, incorporados pelo autor a seu modelo e aos quais se articulam a criação de espaços sociais relativamente autônomos. A concentração do capital da força física é associada à origem da formação de uma força pública (militar e policial) encarregada da manutenção da ordem. A concentração do uso legítimo da violência no âmbito do Estado é acompanhada da expropriação desse recurso das mãos de outros agentes sociais. A segunda dimensão destacada pelo autor é a do capital econômico. A criação de um sistema fiscal e de tributos obrigatórios e regulares assegura ao Estado os recursos indispensáveis à manutenção de suas despesas e financiamento de suas ações e serviços. Mas a arrecadação de impostos de forma ordenada e permanente só é viável à medida que a administração é capaz de produzir informações confiáveis e de organizá-las. O uso da estatística, da geografia e a produção de outras técnicas dirigidas ao conhecimento do mundo social, como os serviços secretos, asseguram ao Estado a acumulação de um importante capital informacional. Estas informações não são só reunidas, mas reelaboradas e difundidas de modo desigual. Uma dimensão importante do capital informacional é o processo de acumulação do capital cultural. Aqui é destacado o papel do Estado na construção dos símbolos nacionais, na unificação dos códigos linguísticos, métricos e jurídicos e a homogeneização das formas de comunicação através das classificações administrativas, dos sistemas escolares e a imposição de uma cultura dominante. A acumulação desse conjunto de formas de capital converge no sentido da produção do reconhecimento da autoridade do Estado, isto é, de seu capital simbólico. Este, por sua vez, se objetiva particularmente sob a forma do capital jurídico. A mobilização do direito e a participação dos juristas são essenciais no processo de constituição do universal como princípio da administração e do Estado como uma ficção jurídica.
Esse processo é considerado com atenção no último ano do curso, dedicado à compreensão da transição de um poder que se confunde com a pessoa do rei para um poder concentrado na burocracia. A interrogação sobre a gênese leva Bourdieu a refletir, portanto, sobre a passagem do Estado dinástico ao Estado burocrático. A chave analítica para a compreensão dessa transformação que conduz à constituição da razão de Estado, ao domínio público como um universo excluído das regras ordinárias, é a estratégia de reprodução própria a cada um destes poderes. “A verdade de todo o mecanismo político”, defende o autor, “está na lógica da sucessão” (p. 322). Assim, Bourdieu vê um sistema fundado no direito de sangue dar lugar a um sistema fundado na competência cultural e escolar. Ao longo dessas aulas, o leitor é convidado a acompanhar o surgimento de técnicas administrativas, de regulamentações, de instituições, de formas de pensamento e de agentes sociais que investem na desfamiliarização do poder. À medida que o Estado se consagra como poder impessoal e lugar do universal, os laços domésticos aí presentes passam a ser repudiados em nome de uma moral pública.
A análise da transição do Estado dinástico a um Estado mais “despersonalizado” introduz o fenômeno da corrupção como questão relacionada à formação do Estado moderno. A partir de um artigo de Pierre-Étienne Will sobre a China, Bourdieu propõe um modelo teórico da corrupção como fenômeno institucionalizado. Para entendê-lo cabe lembrar que o processo de gênese do Estado é interpretado como um processo de diferenciação, que produz o aparecimento de novos dirigentes, e de distribuição do poder concentrado na pessoa do rei através de uma cadeia de agentes interdependentes. O exercício do poder supõe, portanto, a concessão de poder a agentes intermediários. Essa delegação produz múltiplos pontos de autoridade na rede complexa que constitui o Estado e, desse modo, amplia as possibilidades de que esses pontos – a partir dos quais são controlados informações, recursos, execução de ordens e direitos – sejam utilizados em benefício dos próprios detentores. Os desvios no uso do poder, impulsionados não raramente pela introdução da lógica doméstica onde deveria prevalecer a razão do Estado, possibilidade inscrita na estrutura de distribuição de poder, é o que faz com que o autor interprete a corrupção como estrutural. O que me parece interessante no modelo não é tanto o risco tido como inerente à delegação de poder, mas o reconhecimento da força e a capacidade que possui a lógica doméstica de se impor à moral pública. Mas se a corrupção aparece como um bom lugar para se entender a formação do Estado, creio, no entanto, que é preciso considerá-la, o que não faz o autor, como mais um dispositivo administrativo e jurídico do Estado que, por um lado, delimita, em diferentes situações e momentos, as condutas tidas como próprias ou não ao mundo público e, por outro, contribui, através das denúncias de práticas irregulares ou desvios, para renovar a dimensão imaginada (ficcional) do Estado. Ao apontar para condutas tidas como inapropriadas ao Estado, as denúncias de corrupção disseminam a descrença no Estado em sua forma cotidiana e, ao mesmo tempo, como uma forma de teodiceia pública, atualizam a crença num Estado idealizado.
Em suas últimas palavras do curso, Bourdieu retoma o tema da corrupção e o associa à corrosão da confiança no serviço público. A perda de convicção no Estado como promotor do justo e do bem comum favorece as apropriações e usos inadequados de seus poderes. Como evidencia Bourdieu ao longo de toda sua análise, a construção do Estado como espaço público, como lugar do universal é uma obra inacabada e permanente, produto do interesse de distintos agentes e de lutas. Por isso, é também um processo reversível e uma obra passível de ser demolida. Os cursos reunidos em Sobre o Estado foram realizados no início dos anos 1990, momento em que a Europa vê-se confrontada mais diretamente com as políticas liberais de reforma do Estado e processos de dissolução do mesmo são colocados em marcha. Como observa o autor, do ponto de vista analítico, a interrogação sobre a gênese tem valor semelhante ao da interrogação sobre sua desconstrução. Indicações desse processo e suas consequências trágicas são retratadas no livro A miséria do mundo.
O Estado continua a ocupar, nos dias que correm, o centro dos debates políticos. Divide opiniões e ocupa lugar distinto em projetos concorrentes de sociedade. Violência policial, corrupção, garantia e violação de direitos individuais, promoção de oportunidades universais e garantia de bem-estar social são apenas alguns temas que lhe são diariamente associados. As aulas reunidas em Sobre o Estado são um instigante ponto de partida para uma discussão qualificada sobre essas e outras questões. O livro é um convite ao aprofundamento e à reflexão necessária sobre essa invenção nomeada Estado, ao qual estão atrelados tantos destinos individuais e coletivos.
Marcos Otavio Bezerra – Doutor em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected].
Regimes de historicidade – HARTOG (RH-USP)
HARTOG, François. Regimes de historicidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2014. Tradução de Andréa S. de Menezes, Bruna Beffart, Camila R. Moraes, Maria Cristina de A. Silva e Maria Helena Martins. Resenha de: PIMENTA, João Paulo. Revista de História (São Paulo) n.172 São Paulo Jan./June 2015.
A importância do livro de François Hartog, editado originalmente em 2003 (Paris: Éditions du Seuil), pode ser apontada por muitos motivos. Destaco dois. Primeiro, por tratar de temas altamente relevantes, todos gravitando em torno de elaborações intelectuais coletivas acerca do tempo histórico em relação a condições sociais concretas, específicas e variáveis a depender dos vários contextos visitados pelo autor, inclusive atuais. Segundo, pelo fato de o livro ter-se mostrado capaz de influenciar grande número de historiadores voltados a múltiplos temas e problemas, fornecendo-lhes inspiração, vocábulos e, por vezes, até mesmo modelos de explicação da realidade. Hartog é um erudito, ademais criativo, que escreve bem e que possui capacidade de elencar referências bastante diversificadas, organizadas em torno de sua notória especialidade na história do mundo antigo, amplamente reconhecida, sobretudo por aquela que provavelmente é sua obra magna, Le miroir d’Hérodote (Paris: Gallimard, 1980). Por isso, a disponibilidade no mercado editorial brasileiro de Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo ora resenhado é fato digno de louvor.
A fortuna do conjunto da obra de Hartog, seja no Brasil, seja em outros meios historiográficos e intelectuais, certamente merecerá a atenção devida em um futuro próximo. Aos que a ela se dedicarem, não poderá escapar o tributo explícito rendido pelo autor, neste Regimes de historicidade, a pelo menos três outros, dentre os muitos de que se utiliza. É de Fernand Braudel (Histoire et Sciences Sociales: La longue durée, de 1959) e Reinhart Koselleck (Vergangene Zukunft, de 1979) que emanam duas ideias fundamentais que subsidiam Hartog, respectivamente: a da simultaneidade de tempos históricos a pautarem a vida de toda e qualquer sociedade observável em perspectiva histórica; e a modernidade processualmente inaugurada no mundo ocidental entre os séculos XVIII e XIX, pautada por uma profunda temporalização da história e pela atribuição de conteúdos inovadores a noções como passado, presente e futuro, ademais rearticuladas com o progressivo distanciamento entre a primeira e terceira, fazendo a segunda sobressair como elemento central do mundo em que vivemos. Uma terceira referência central é a obra de Krzysztof Pomian (L’ordre du temps, de 1984) e sua concepção de uma ordem do tempo, espécie de cadeia organizadora de múltiplas experiências sociais relativas ao tempo.
Em determinada passagem (p. 37), Hartog mostra-se circunspecto e humilde em seus propósitos, afirmando pretensões “infinitamente mais modestas” do que seus autores centrais: quer esboçar a análise de jogos histórico-temporais, cujas combinações entre noções de passado, presente e futuro levariam ao que chama de “regimes de historicidade”. Eis uma das duas ideias centrais apresentadas em seu livro, e que lhe permite conceber a segunda: o “presentismo”, isto é, a suposta ampla dominância, a partir das últimas décadas da história da humanidade, do presente sobre qualquer noção de passado ou futuro (ao longo do livro, Hartog parece gostar da ideia de prevalência do presente, mas ao seu final – p. 260 – já a trata em termos de exclusividade). E, aparentemente, também evita qualquer pretensão à construção de um modelo, acreditando que “o historiador agora aprendeu a não reivindicar nenhum ponto de vista predominante” (p. 37).
Assumindo, então, um ponto de vista relativista, Hartog passeia por épocas e espaços. Nos três primeiros capítulos – voltados às “ilhas de história” observadas com os habitantes das ilhas Fidji, a uma imaginária ponte estabelecida entre Ulisses e santo Agostinho e à interpretação dos escritos de Chateaubriand e sua visão do mundo em que vivia – abre um leque de possibilidades de análises pontuais descontínuas e explicitamente sem buscar a construção de uma síntese ampla ou homogênea. A segunda parte do livro segue a mesma toada, com um capítulo, talvez o crucial da obra, dedicado a relações entre memória, história e o “presentismo”, e outro ao peso deste em discussões atuais sobre história e patrimônio. Se um relativismo é valorizado, Hartog preocupa-se em afirmar sua especial renúncia a quaisquer perspectivas eurocêntricas, embora, na maioria de exemplos bem como na imensa maioria das obras utilizadas (menos nos dois primeiros capítulos), tal intenção pareça muito escassamente atingida (há passagens mesmo em que Hartog refere-se a “mundo” para, três ou quatro palavras depois, torná-lo sinônimo de “França” ou “Europa”; em muitas outras, tais cuidados nem existem, com a dispensa de referência a um contexto… que é francês ou europeu).
Mas a tarefa de Hartog continua merecedora de crédito, já que, ademais de sua relevância e amplitude temática bem como a dos espaços geográficos e temporais correspondentes, demanda um fôlego intelectual incomum. O que talvez mais preocupe o leitor deste livro não é sua renúncia à oferta de explicações minimamente unificadas em torno de um modelo ou mesmo de um sistema de pensamento geral; tampouco o fato de que sua valorização relativista não o impede de ser eurocêntrico. A meu ver, a principal crítica da qual o livro é merecedor reside na possibilidade de fundamentação de suas duas ideias centrais, regimes de historicidade e presentismo, assim como a capacidade de ambas explicarem as realidades sobre as quais incidem.
Quanto ao primeiro ponto, logo no “Prefácio” o leitor se depara com uma proposta de definição do “que é e o que não é o regime de historicidade” (p. 12); Hartog, porém, será mais generoso na segunda oferta: esse “regime” não é uma realidade dada, não é observável diretamente pelos contemporâneos, não coincide com épocas ou “civilizações”, nem está confinado “apenas ao mundo europeu ou ocidental”. Em suma, é um “instrumento”. Mas que instrumento é esse, afinal? Nesse ponto, a expectativa criada no leitor desemboca em frustração:
O uso que proponho do regime de historicidade pode ser tanto amplo, como restrito: macro ou micro-histórico. Ele pode ser um artefato para esclarecer a biografia de um personagem histórico (tal como Napoleão, que se encontrou entre o regime moderno, trazido pela Revolução, e o regime antigo, simbolizado pela escolha do Império e pelo casamento com Maria-Luisa de Áustria), ou a de um homem comum; com ele pode-se atravessar uma grande obra (literária ou outra), tal como as Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand (onde ele se apresenta como o “nadador que mergulhou entre as duas margens do rio do tempo”); pode-se questionar a arquitetura de uma cidade, ontem e hoje, ou então comparar as grandes escansões da relação com o tempo de diferentes sociedades, próximas ou distantes. E, a cada vez, por meio da atenção muito particular dada aos momentos de crise do tempo e às suas expressões, visa-se a produzir mais inteligibilidade (p. 13).
Aqui, a circunspecção mais adiante anunciada, em termos de concepção de uma “simples ferramenta”, passa longe e o que se vê é a pretensão de sua utilização (e suposta serventia) em ampla perspectiva temporal, espacial, social, a iluminar fenômenos os mais variados, embora não se fale em modelos ou em “pontos de vista predominantes”. A ousadia é bem-vinda, e agora o livro mostra-se menos humilde do que parecerá em seguida – o que, aliás, pode ser visto como uma postura não apenas justificável, dados os talentos intelectuais de Hartog, mas também mais sincera do que este fará acreditar a seus leitores (na “Conclusão”, a cautela é enterrada: lemos mesmo que o livro supostamente tratou de um “movimento global”). No entanto, nesse ponto crucial da obra, a afirmação de que aquilo que o leitor quer saber como se define – promessa do próprio autor – é algo que explicaria a coisa em si (Napoleão entre dois “regimes”, supostamente “de historicidade”, e que não nos é dado saber o que são) resulta em uma tautologia que, de muitos modos, segue por todo o livro. A princípio, a preferência por definir as categorias de análise de uma obra pode perfeitamente recair nos momentos de sua efetiva utilização heurística, preterindo-se definições a priori; mas, no caso em questão, o “instrumento” será doravante enunciado não como possibilidade a ser fundamentada diante de situações históricas específicas, mas como descrição-significação de realidades já mencionadas por meio da referência a ele.
Concebamos que cabe ao próprio autor manipular seu instrumento de perquirição da realidade, acreditando em sua serventia e, desse modo, procurando dela convencer o leitor; também valorizemos a quase-definição desse instrumento como algo que dê “atenção muito particular” a “momentos de crise do tempo, e às suas expressões” (p. 37). Mesmo assim, o leitor se perguntará por que, mal definindo o que seja um “regime de historicidade”, Hartog usa tão livremente outras expressões (também instrumentos?) como “regime de memória” (p. 242), “regimes de tempo”, “regimes de temporalidade” (p. 245, 257), “regime do acontecimento contemporâneo” (p. 259), “ordem do tempo”, “crise do tempo”, “tempo(s)”, “temporalidade(s)”, “historicidade(s)”. Aqui, o relativismo do historiador converte-se em imprecisão conceitual, quiçá mais grave a partir do momento em que o próprio Hartog nos esclarece que um “regime de historicidade” pode ser visto como “apenas a expressão de uma ordem dominante do tempo” (p. 139); afirmação que nos levaria a crer que, agora, ele estaria disposto a rever seu relativismo, o que seria de esperar pela concepção de que as muitas formas histórico-sociais de relação entre passado, presente e futuro analisadas no livro devem ser hierarquizadas (com o que, aliás, estou inteiramente de acordo).
Contudo, o único momento em que isso parece ocorrer é quando da tentativa de caracterização da segunda ideia central do livro: o “presentismo”. Hartog sustenta que o “regime moderno de historicidade” (por exemplo: p. 132, 136, 142) teria sido quebrado em torno de 1989 (p. 136), o que representaria se não o “fim da história” assinalado por Francis Fukuyama, “seguramente uma cesura do tempo (incialmente na Europa e depois, pouco a pouco, em uma grande parte do mundo)” (p. 188). Experiência e expectativa, tendencialmente afastados na modernidade (é a ideia de Koselleck), agora sequer existiriam: “esses são os principais traços desse presente multiforme e multívoco: um presente monstro. É ao mesmo tempo tudo (só há presente) e quase nada (a tirania do imediato)” (p. 259). Daí, um novo regime de historicidade, não mais moderno, mas que Hartog evita cautelosamente chamar de pós-moderno. Em trabalho ausente da bibliografia de Hartog, Elias Palti (Time, modernity and time irreversibility, 1997) viu como a reivindicação de uma superação da modernidade pela concepção do advento de um novo tipo de tempo se constituiu em uma das bases do pensamento pós-moderno das últimas três décadas do século XX; reflexão que aqui se vê renovada diante do já mencionado relativismo histórico de Hartog.
Pode-se perguntar, ademais, a partir dessa conversão da “modernidade” koselleckiana em um “regime moderno de historicidade” hartogiano, em que medida uma coisa se diferenciaria da outra. De momento, a resposta não é possível, já que Hartog não parece sustentar nenhuma crítica direta e contundente à proposta de Koselleck. Mais produtiva deverá ser a tentativa de compreensão desse “presentismo” atual e na medida em que ele supostamente resulta de uma quebra de formas de viver os tempos anteriores. Como advento de uma novidade histórica relacionada ao mundo pós-1989, esse presentismo já fora assinalado por Eric Hobsbawm (Age of extremes, 1994; Hartog usa outra obra desse autor apenas para ressaltar a queda do muro como marco histórico geral – p. 136). “Presentismo” e “modernidade” necessariamente seriam, então, etapas sucedâneas, como pretende Hartog?
Em poucas ocasiões, Hartog dá atenção a um componente da modernidade koselleckiana diretamente relacionado com o “presentismo”: a progressiva aceleração do tempo histórico, não apenas a apartar experiência e expectativa – eventualmente, passado e futuro – mas a criar uma forma de vivência no mundo e uma concepção dele, de sua “aparência”. Numa dessas ocasiões, afirma Hartog, perspicazmente, que “mais amplamente, essa mudança de aparência é constitutiva da ordem moderna do tempo. Reconhecê-la não implica, por outro lado, aceitar como reais todas as declarações do mundo moderno sobre a aceleração” (p. 162). Perfeito: nem todas as manifestações sociais aparentes dessa aceleração devem ser levadas a sério. No entanto, se a aceleração está no âmago da modernidade, é de se esperar que ela crie, desde sempre, uma compressão de tempos em um presente dominante. Conceber que, com a progressão da aceleração a ela inerente, a modernidade teria se dissolvido com a superação de supostos limites ao distanciamento entre experiência e expectativa implica uma concepção excessivamente determinista do fenômeno.
Nos anos 1950, Hans Meyerhoff (Time in literature, 1955) já concebia um “presentismo” do mundo contemporâneo em termos de fenômenos bastante convergentes aos observados por Hartog; quase quarenta anos antes da queda do muro, poder-se-ia falar de “presentismo moderno”, a conflitar com a pretensão de um “regime de historicidade” presentista? Retomando Elias Palti, o triunfo do presente como tempo histórico dominante pôde ser visto, por muitos autores, como característica essencial de uma modernidade que, agora, se vê colocada em xeque por Hartog com base nesse mesmo presentismo. Outra pergunta que surge, então, é: até que ponto Hartog conseguiu escapar a essa tendência dos nossos tempos (independentemente de quando estes tenham começado), aliás dele bem conhecida, de supervalorizar o presente diretamente observável, a ponto de supervalorizar o presentismo de um presente que talvez não seja tão distinto assim daquele criado pela modernidade há algum tempo, e ainda por ela recriado? Ademais de recolocar a questão das diferenças entre as propostas de Koselleck e Hartog, não suficientemente esclarecidas, continua-se aqui o debate – deveras ativado, mas não devidamente esgotado – em torno das condições de elaboração de diagnósticos acerca da contemporaneidade (= modernidade?) na própria contemporaneidade. Um debate pelo qual Regimes de historicidade é diretamente responsável, e ao qual vem oferecendo, desde sua primeira publicação em 2003, subsídios e marcos referenciais incontornáveis.
João Paulo Pimenta – Universidade de São Paulo. Professor do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E-mail: [email protected].
A piedade dos outros – FRANCO (RH-USP)
FRANCO, Renato. A piedade dos outros: o abandono de recém-nascidos em uma vila colonial, século XVIII. Rio de Janeiro: FGV/FAPERJ, 2014. Resenha de: VENÂNCIO, Renato Pinto. Revista de História (São Paulo) n.172 São Paulo Jan./June 2015.
No Vocabulario portuguez e latino de Raphael Bluteau, publicado em 1712, há um verbete a respeito da compaixão – expressão, aliás, grafada como “compaxam”. Nele, o significado da palavra aparece como sendo “pena, que se sente da pena alheia”. Esta definição revela uma ambiguidade de significados: “pena” expressa “ter piedade”, mas também denota “vivenciar o sofrimento”. Ter compaixão, portanto, é ter piedade do sofrimento alheio. O livro do historiador Renato Franco, A piedade dos outros…,reconstitui a genealogia desses sentimentos, em relação a um aspecto crucial da vida familiar colonial: o abandono de recém-nascidos e bebês em ruas, caminhos, praças, adros de igrejas ou portas de casas de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto.
Nesse universo social, o abandono do filho, por razões morais ou econômicas, constituía um sofrimento, uma “pena”, que comprometia a salvação das almas dos pais e das crianças, uma vez que estas corriam o risco de falecer sem o batismo. No entanto, “ter pena” dessa situação também constituía um extraordinário gesto de misericórdia e de caridade, salvando a alma dos protegidos e dos protetores. Portanto, ao contrário de nosso tempo, o auxílio às crianças abandonadas coloniais não se relacionava às políticas sociais ou às noções de bem estar social como uma dimensão prática de cidadania.
O livro em questão também reafirma a vitalidade dos estudos de história social da família e das situações de desagregação familiar. Esta última dimensão deve muito às pesquisas pioneiras de Maria Luíza Marcílio que introduziu e difundiu no Brasil as técnicas e metodologias da demografia histórica. Renato Franco também se filia a importantes correntes internacionais da história social da família. Desde os anos 1960, esse campo historiográfico foi impactado pelo livro de Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, que traçou um quadro fascinante a respeito da condição da criança na Época Moderna, sugerindo que o sentimento e os valores de nossa época não se aplicam ao passado.
No Brasil, investigações semelhantes a essa começaram a ser registradas nos anos 1980, em grande parte influenciadas, conforme mencionamos, pelas sugestões de pesquisa da demografia histórica. Também cabe ressaltar casos isolados, como o de Gilberto Freyre que, no clássico Casa-grande & senzala (1936), traça um interessante painel da meninice senhorial e escrava, recorrendo a fontes documentais inéditas.
Somam-se a essa historiografia pesquisas oriundas dos estudos de representação, como o clássico The kindness of strangers: the abandonment of children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance, de John Boswell. O exaustivo estudo de fontes literárias mostrou que o abandono de crianças, sobretudo de recém-nascidos, tem raízes antigas. Na Europa, tal prática foi abundantemente registrada na literatura clássica. No final da Idade Média, principalmente após a Peste Negra (1348), o problema se agravou, exigindo uma intervenção das instituições dos burgos e cidades medievais. Em Portugal, antes mesmo da colonização do Brasil, câmaras municipais e hospitais, como as Santas Casas de Misericórdia, começaram a criar formas de auxílio destinadas às crianças abandonadas.
No século XVII, o abandono de crianças também é registrado no ultramar português. Várias câmaras coloniais começam a pagar famílias para acolher os “enjeitados” ou “expostos”, conforme eram denominados na época. Os hospitais, por sua vez, como se registra na Santa Casa de Salvador (1726) e na do Rio de Janeiro (1738), importaram as portuguesas rodas dos expostos – tonéis de madeira giratórios, presos no meio da parede, unindo a rua ao interior do imóvel e preparados para acolher recém-nascidos abandonados.
A capitania de Minas Gerais não contou com rodas dos expostos, mantendo a tradição do auxílio via câmara ou senado da câmara. Renato Franco apresenta um quadro detalhado da atuação dessa instituição para o caso específico de Vila Rica. No livro A piedade dos outros…, a prática do abandono de crianças é estudada em suas várias dimensões. De fato, o problema era grave. Conforme o próprio autor afirma: “Em Vila Rica, no fim do século [XVIII], cerca de 20% das crianças nascidas livres eram enjeitadas pelos pais” (p. 27).
A leitura do livro também revela que a primeira capital mineira legounos uma das mais ricas coleções de documentos a respeito do abandono de crianças. Uma parte dessa documentação foi produzida pela câmara local, como no caso dos livros de matrícula de expostos. Outras séries fundamentais são provenientes dos arquivos eclesiásticos. As atas batismais das paróquias de Antonio Dias e Nossa Senhora do Pilar contêm, além dos nomes das crianças, os das pessoas que as recolhiam e dos padrinhos, pequenas anotações e reproduções de bilhetes que acompanhavam os bebês. Ao anotarem isso, os padres tornaram-se cronistas da vida cotidiana colonial, conforme pode ser observado no exemplo abaixo:
José, filho de pais incógnitos, que aos vinte e cinco dias do mês de agosto foi achado por José Caetano Pereira e por Caetano da Silva, exposto na rua defronte da porta do Doutor Tomé Inácio da Costa Mascarenhas, com um timamzinho [pequena camisola] usado de baeta [tecido felpudo de lã] vermelha, forrado de tafetá (Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, Vila Rica, 08/09/1756).1
O livro A piedade dos outros… traça o que poderia ser definido como uma história da compaixão como razão do auxílio à infância. Essa experiência, por sua vez, era filtrada pela sociedade escravista que constantemente ameaçava reduzir meninas e meninos enjeitados à condição de escravos.
A atualidade desta pesquisa consiste na visão substancialista do passado, superando o anacronismo através da contextualização precisa de um tipo de auxílio familiar. Enfim, revela-se, assim, que cada época cria suas próprias configurações de proteção à infância. Compreender essa evolução é o melhor caminho para avaliar e refletir a respeito das opções que, no tempo atual, a sociedade brasileira escolhe e implementa.
1VENÂNCIO, Renato Pinto. Mensagens de abandono. Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 1, n. 4, out. 2005, p. 33.
Renato Pinto Venâncio – Pós-doutor pelo Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e professor no Departamento de Organização e Tratamento da Informação da Escola de Ciência da Informação. Pesquisador no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científco e Tecnológico – CNPq.
A Revolução Americana – WOOD (RH-USP)
WOOD, Gordon S. A Revolução Americana. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013. Resenha de: PANDOLFI, Fernanda Cláudia. Revista de História (São Paulo) n.172 São Paulo Jan./June 2015.
O livro A Revolução Americana de Gordon Wood é um exemplo da importância dos livros de divulgação científica para difusão do conhecimento histórico. Publicado originalmente em inglês em 2002, o livro refina e aplica interpretações desenvolvidas pelo autor em trabalhos anteriores, por exemplo, Wood (1991), que lhe deu o prêmio Pulitzer de 1991, e Wood (1969). Com linguagem acessível ao público não especializado e capítulos dispostos cronologicamente, o autor analisa os efeitos que a Revolução Americana produziu na vida cotidiana daquela sociedade. Sua principal contribuição neste e em outros trabalhos tem sido a de criticar ou, em alguns casos, qualificar tanto análises que tendem a criar uma aura de divindade sobre a geração dos líderes revolucionários como os estudos produzidos principalmente na primeira metade do século XX, que tendem a privilegiar os aspectos de conflitos de classes na revolução. Autor de reconhecida produção acadêmica, Gordon Wood concluiu o doutorado em Harvard e leciona atualmente na Universidade Brown.
Organizado em sete capítulos, o livro aqui resenhado inicia-se com a abordagem das origens da revolução e finaliza com a sua institucionalização. O crescimento populacional e a expansão da riqueza no período prévio são considerados os principais fatores para a eclosão da revolução por propiciarem o surgimento de poderes políticos locais independentes nas regiões mais distantes da colônia, o que dificultou significativamente sua governabilidade pelos ingleses. A implantação de regulamentações e leis como a Lei do Selo e a Lei do Chá nesse contexto catalisaram as insatisfações, mobilizando e unificando a resistência contra os ingleses. Uma inovação teórica importante introduzida pelo autor, já no início do livro, é a adoção de uma perspectiva relacional, em que as mudanças nas formas pelas quais as pessoas se conectavam socialmente redefiniram progressivamente as relações de poder. Particularmente interessante a esse respeito é a sugestão de que a intensa mobilidade populacional no período teria favorecido a formação de vínculos mais fluídos entre as pessoas, dificultando a permanência das relações de dependência que caracterizavam a sociedade colonial.
Líderes revolucionários importantes como George Washington e Thomas Jefferson são brevemente citados, provavelmente devido a limitações editoriais. Aos pesquisadores interessados em uma descrição mais detalhada do papel desses líderes na revolução, sugere-se outro texto do autor (Wood, 2007), que explica que eles, apesar de não serem democratas no sentido moderno do termo, criaram uma aristocracia diferente da nobreza hereditária que governou até o século XVIII.
Nos capítulos seguintes, o autor reconstitui a gradativa mudança na forma de fazer política no período, analisando, por exemplo, o surgimento das associações locais, dos governos informais e de um novo tipo de política popular, em que os chamados “incendiários” competiam pela liderança política trazendo escândalos morais para o centro do debate político. O mais influente desses incendiários, segundo o livro, foi Thomas Paine, que se notabilizou por substituir em seus panfletos políticos o latim e as referências eruditas pelas citações bíblicas, alcançando, com isso, um público muito mais amplo.
Sobre a guerra de independência propriamente dita, o autor discorre a respeito dos diversos fatores que levaram à derrota da Grã-Bretanha como, por exemplo, os obstáculos decorrentes da grande extensão territorial e da natureza selvagem das colônias, o apoio dos franceses e a liderança militar de George Washington. A parte mais esclarecedora dessa discussão, entretanto, é a conclusão de que a Declaração de Independência, por representar um compromisso entre as treze colônias, significava que o termo Estados Unidos tinha um sentido literal naquele momento em que o conceito de nação estava relacionado às identidades regionais.
O republicanismo que se institucionalizou com a revolução é analisado pelo autor não somente como uma forma de governo, mas como uma forma de vida, de ideais e de valores, que se baseavam em uma moral mais rígida, se comparada a da monarquia que tolerava altos graus de interesses privados e corrupção entre seus membros. Ao afirmar que o republicanismo era uma ideologia “tão radical para o século XVIII quanto o marxismo seria para o século XIX” (p. 119), o autor enfatiza exatamente esse ponto, argumentando que a revolução desafiou princípios fundamentais da monarquia como a hierarquia, a devoção aos laços de sangue, o patriarcalismo e as relações de dependência. O republicanismo americano, entretanto, não era logicamente inconsistente com a monarquia, tendo sido seus princípios adotados por intelectuais que procuravam reformar e revitalizar as sociedades monárquicas em outros países.
As mudanças na vida cotidiana trazidas com a revolução são analisadas a seguir. No âmbito religioso, por exemplo, proliferaram igrejas mais atraentes aos homens sem raízes de uma sociedade em que as antigas relações paternalistas declinavam. Uma conclusão instigante do autor é que, embora não tenham produzido uma distribuição da riqueza mais equânime, essas mudanças na vida cotidiana fizeram os americanos se sentirem mais iguais. O homem comum passou a exigir o direito de envergar títulos – o sr. e sra. – e muitos homens ricos referiam-se orgulhosamente à sua origem humilde, tendo a publicação da autobiografia de Benjamin Franklin iniciado a tradição de celebração do homem que “fez a si próprio”.
A ênfase do autor na análise das transformações advindas da revolução, contudo, não implica a adoção de uma abordagem dicotômica entre ruptura e continuidade; ao contrário, o autor prefere explicar essas mudanças sem dispensar totalmente as antigas estruturas políticas e de pensamento. A igualdade republicana, por exemplo, apesar de não ter por objetivo eliminar todas as diferenças entre os cidadãos, embutia, mesmo que em geral de forma implícita, a “ideia explosiva” de que somente a educação e o refinamento diferenciavam os homens. Da mesma maneira, argumenta o autor, embora não tenha produzido muitos efeitos imediatos, a ideia de igualdade republicana levou ao início do questionamento do ambiente intelectual que apoiava a escravidão.
Os capítulos finais analisam o período mais crítico da revolução, caracterizado pelo quase caótico ato de legislar em nível estadual com o crescimento dos interesses localistas. A dificuldade de arrecadar impostos e a ameaça da integridade territorial, além disso, constituíam uma ameaça real à viabilidade da revolução. Nesse contexto, não é surpreendente que tenha havido uma guinada para a moderação, com a reorganização da estrutura político-administrativa para conter o que chamavam de “despotismo democrático”, levada a cabo sobretudo pelos federalistas, que se viam salvando a revolução de seus excessos. Essa “desradicalização”, contudo, não impediu que inovações políticas abrissem espaço para a emergência da “política popular” adotada pela geração seguinte, principalmente no norte do país, em que homens com pouca instrução e riqueza adentraram na política como representantes de grupos étnicos e religiosos, enfraquecendo o ideal republicano anterior que imaginava (utopicamente) que os legisladores deveriam ser árbitros imparciais das disputas entre os indivíduos.
O grande mérito deste livro, em nossa opinião, é o de retratar o debate de questões intelectuais e políticas em um processo que teve, e ainda tem, amplas repercussões no debate político contemporâneo. Para o público acadêmico, especificamente, é particularmente valiosa a seção de “notas bibliográficas”, em que o autor resenha extensivamente a literatura sobre a Revolução Americana em sete páginas, ressaltando temáticas e enfoques teóricos dos autores. Trata-se, portanto, de leitura introdutória importante para compreensão não apenas da sociedade americana da época da independência, mas também da emergência das estruturas políticas, administrativas e mentais contemporâneas.
Referências
WOOD, Gordon S. Revolutionary characters: what made the founders different. Londres: Penguin Books, 2007. E-book: Kindle edition. [ Links ]
WOOD, Gordon S. The creation of the American Republic, 1776-1787. Chapel Hill: University of North Caroline Press, 1969. [ Links ]
WOOD, Gordon S. The radicalism of the American Revolution. Nova York: Vintage eBooks, 1991, Kindle Edition. [ Links ]
Fernanda Cláudia Pandolfi – Doutora em História pela Universidade Estadual Paulista. Pós-doutoranda em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: [email protected].
The economic consequences of the Atlantic slave trade – SOLOW (RH-USP)
SOLOW, Barbara L. The economic consequences of the Atlantic slave trade. Nova York: Lexington Books, 2014. Resenha de: ALFONSO, Felipe Rodrigues. Revista de História (São Paulo) n.172 São Paulo Jan./June 2015.
I
A nova publicação de Barbara Solow, The economic consequences of the Atlantic slave trade, reúne sete ensaios escritos pela autora ao longo de 25 anos. Sua preocupação central é, a partir de uma perspectiva fundamentada nas categorias da história econômica, examinar “o papel da escravidão no desenvolvimento histórico do capitalismo moderno” (Prefácio de Dale W. Tomich, p. ix,) compreendendo a maneira pela qual a instituição “trouxe o Novo Mundo para a economia internacional” (p. xiii). Não é, contudo, nesta correlação entre capitalismo e escravidão que o leitor deverá notar a verdadeira contribuição do livro. Afinal, como a própria autora admite, coube a Eric Williams o mérito de tê-la pioneiramente apontado. A relevância desta coletânea está no tratamento metodológico que Solow garante à questão, do qual decorrem duas consequências principais: (i) a partir da barreira erguida pelo academicismo mais tradicional entre história e economia, faz-se uma ponte que permite conciliar a preocupação com o particular da primeira e a tendência universalizante da segunda; (ii) ao invés da escravidão como variável isolada, reafirma-se a importância da combinação histórica entre mão de obra escrava, produção açucareira e sistema de plantation, denominados pela autora de “complexo escravo/açúcar/plantation“.
A partir do tratamento descrito e de sua confluência com dados históricos mais recentes, Solow reafirma a importância historiográfica das ideias de Williams perante alguns de seus críticos mais contundentes.
II
Em 1944, Eric Williams publica Capitalism & slavery, um verdadeiro divisor de águas na historiografia sobre a escravidão moderna. O livro é, nas palavras do próprio autor, “um estudo econômico do papel da escravidão negra e do tráfico de escravos em prover o capital que financiaria a Revolução Industrial na Inglaterra, e do capitalismo industrial maduro em destruir o sistema escravista”.1
A correlação estabelecida por Williams entre o desenvolvimento do capitalismo industrial e a exploração do braço escravo romperia com um velho paradigma segundo o qual as preocupações humanitárias do movimento abolicionista britânico teriam sido as verdadeiras responsáveis pelo enfraquecimento da escravatura perante a opinião pública. Este paradigma negligenciava a própria história, na medida em que tratava o movimento abolicionista como uma espécie de “figura à frente de seu tempo”, sem a qual o status quo teria permanecido inalterado. O que a tese de Williams faz é, por meio de uma inversão de termos, retomar para a história seu poder de agência. Contrariamente ao discurso dos ideólogos do Império, Williams afirma que os britânicos tinham plena consciência de que a escravidão já havia cumprido seu papel, não sendo mais necessária para que as engrenagens do capitalismo industrial seguissem a pleno vapor. Os verdadeiros motivos por trás do abolicionismo teriam sido, portanto, de natureza econômica, relacionados, mais precisamente, ao declínio irreversível das colônias escravistas britânicas. É o que se consagrou chamar de “tese do declínio”.
No entanto, a intenção de Williams não era simplesmente promover um revisionismo historiográfico, mas fundar politicamente o nacionalismo entre os caribenhos, ainda controlados pela Grã-Bretanha. Muito embora seu verdadeiro público-alvo não fossem os acadêmicos britânicos, o silêncio destes não denota indiferença, senão um verdadeiro temor em relação ao potencial revolucionário de suas ideias. Esta parece ser a explicação mais plausível para a primeira edição britânica ter vindo a público somente em 1964.
Findados os 20 anos de ocultamento, seria preciso, agora, refutar os pilares fundamentais da tese. A partir do final da década de 1968, Roger Anstey, Robert Thomas, Philip Coelho e Stanley L. Engerman iniciam uma importante bateria de críticas. Todavia, será o livro Econocide, de Seymour Drescher, que, em 1977, encabeçará a investida mais importante contra as ideias de Williams, seguido de nomes como David Brion Davis e David Eltis. O ataque desses autores será desferido em dois flancos estratégicos: (i) negando que o complexo escravo/açúcar/plantationtenha contribuído significativamente para a Revolução Industrial na Inglaterra; (ii) afirmando que a abolição fora prejudicial às finanças britânicas, um verdadeiro “econocídio”.
Solow pondera que, juntamente com a imprecisão histórica, há um equívoco lógico na argumentação dos críticos. Afinal, se o complexo escravo/açúcar/plantation foi tão insignificante quanto se alega, não há motivos para crer que a abolição do tráfico de escravo tenha sido sequer danosa.
As alegações desses críticos, somadas às contra-argumentações dos seguidores de Williams, edificaram um dos debates mais importantes em torno da escravidão moderna no século XX, somente dentro do qual o livro de Solow poderá ser verdadeiramente apreciado. E, muito embora o posicionamento da autora seja favorável às ideias de Williams, cada um dos sete ensaios de sua coletânea atua na direção de “atualizá-las” com dados históricos mais recentes, que se beneficiaram de décadas de revisão historiográfica. Passados 70 anos de Capitalism & slavery, esses dados apenas comprovam a riqueza de suas proposições. Afinal, como a própria Solow admite, “As contribuições de Williams não devem ser avaliadas por um exame minucioso dos argumentos que embasam seus insights, mas pela validade dos próprios insights” (p. 48).
III
Como dito anteriormente, o livro é dividido em sete capítulos. No primeiro, “Capitalism and slavery in the exceedingly long run“, Solow traça o caminho percorrido pelo complexo escravo/açucar/plantation, mesmo antes da chegada de Colombo, até consolidar-se no Atlântico.
O capítulo seguinte, “Slavery and colonization“, discute as origens econômicas da escravidão no Novo Mundo, contrapondo as opções por mão de obra cativa e livre.
O terceiro capítulo, “Eric Williams and his critics“, é talvez aquele que melhor sintetiza a intenção do livro como um todo. Além de reafirmar a dívida intelectual de Solow para com as ideias de Williams, toca em questões centrais abordadas ao longo da coletânea. Dentre elas estão: (a) a importância do complexo para o despertar da Revolução Industrial na Inglaterra; (b) o declínio das ilhas britânicas como desencadeador do movimento de abolição; (c) e o racismo como consequência, não causa, da escravidão.
No capítulo 4, “Why Columbus failed: The New World without slavery“, Solow reconhece que a Europa beneficiou-se sobremaneira da descoberta da América, mas não sem os milhões de escravos que trabalharam nas plantações do Novo Mundo. Foram eles os verdadeiros responsáveis pela rentabilidade das terras recém-descobertas.
O capítulo seguinte, “Caribbean slavery and British growth“, retoma a importância da escravidão como fator fundamental no desencadear da Revolução Industrial na Inglaterra.
O capítulo 6, “Marx, slavery, and American economic growth“, estabelece uma analogia entre a escravidão e o movimento dos cercamentos na Inglaterra em promover capital para a industrialização, com o fator comum sendo o estabelecimento de direitos de propriedade privada até então inexistentes.
Finalmente, “The transition to plantation slavery: the case of the British West Indies“, examina a difusão da escravidão de Barbados, passando pelas ilhas Leeward e chegando à Jamaica, em termos da demanda por produtos e condições de custo variáveis nas ilhas.
Os ensaios deste livro acompanham o complexo escravo/açúcar/plantationao longo de um intervalo de espaço e tempo extenso que vai do Mediterrâneo ao Atlântico, do século XI ao XIX. Em seu esforço, Solow busca sempre aliar as teses de Williams a categorias mais recentes atuais, cuidadosamente emprestadas tanto da história quanto da economia.
IV
Uma das principais contribuições do livro de Solow foi reconhecer o complexo escravo/açúcar/plantation como o maior responsável por inserir o hemisfério ocidental nos quadros da economia-mundo. No primeiro capítulo, a autora enxerga o complexo sob a perspectiva da longa duração, traçando um percurso que vai de suas origens mediterrâneas até sua chegada ao Atlântico. Segundo explica, tanto a conquista cristã de terras muçulmanas no século XI quanto aquela realizada por Colombo em terras americanas no século XV pertencem, em forma e conteúdo, a um movimento contínuo de expansão europeia, dentro do qual esteve sempre presente o complexo escravo/açúcar/plantation. Mais importante, “seus métodos eram”, desde o início, “inteiramente capitalistas” (p. 4). As plantações eram conduzidas por trabalhadores vindos do Oriente, servos locais e escravos de origem árabe e síria; engenhos hidráulicos eram usados para processar a cana; caldeiras de cobre eram importadas da Itália; e boa parte do açúcar era exportado.
É por isso que, às abordagens nacionalistas mais superficiais, escapa a importância da escravidão para o desenvolvimento do mundo moderno, em específico do processo de industrialização britânico. Celso Furtado, por exemplo, é acusado pela autora de não perceber que as colônias italianas do Mediterrâneo, não o Brasil, foram o primeiro empreendimento colonial agrícola em grande escala do hemisfério ocidental. Ao final do capítulo, percebemos que, de fato, a aparentemente despretensiosa menção a Furtado não foi desmedida:
Para onde a escravidão não foi, menos trocas fluíram da Europa para o resto do mundo. Contos fantásticos de que o crescimento europeu deveu-se à exploração da “periferia” pela “metrópole” não resistem a exames acadêmicos. A exploração que realmente importou ao longo de 300 anos foi a exploração de escravos africanos (p. 21).
A centralidade desses “300 anos” de escravidão africana, instituição sem precedentes na história da humanidade, está clara nas obras de Williams e Solow. Muito mais do que apenas transportar 12 milhões de cativos para o hemisfério ocidental e explorar sua força de trabalho, ela criou um verdadeiro sistema internacional de trocas, responsável por catalisar o processo de industrialização na Inglaterra. No quarto capítulo, Solow chega a dizer:
A Europa beneficiou-se significativamente da descoberta da América, mas não sem o trabalho de milhões de escravos em sua maioria negros africanos: não tivesse esse trabalho estado disponível, o desenvolvimento econômico teria sido travado e seu crescimento retardado (p. 62).
No entanto, por que a opção pelo escravo em detrimento do trabalhador livre? Da mesma maneira, pode-se questionar a escolha pelo açúcar. A resposta dessa última questão é mais simples. As plantações em grande escala reduziam os custos de coerção, pois um único capataz poderia monitorar centenas de negros. Além disso, a demanda por açúcar era grande e elástica, e as técnicas de processamento já vinham sendo desenvolvidas desde a época medieval.
No que tange à opção pelo escravo, os economistas clássicos responderiam que a opção generalizada pelo africano deveu-se a (a) diferenças relativas no fator preço: quanto mais gastos com a coerção do cativo, menos interessante torna-se mantê-lo; e (b) disponibilidade de terras livres: num cenário de abundância, somente a coerção manteria o trabalhador em propriedade alheia, impedindo que ele almejasse desbravar novos territórios.
A resposta à afirmação (a) aparece, sobretudo, no sétimo capítulo, em que Solow estuda a transição para o trabalho escravo enquanto sistema industrial nas Índias Ocidentais britânicas. Seu argumento central defende que, juntamente com o fator preço, a lucratividade do braço escravo em relação ao livre varia de acordo com o tipo de produção, sendo o mais vantajoso possível no caso do açúcar. Isso se explica pela: (i) maior produtividade do cativo em grandes unidades, tendo em vista a facilidade com que trabalha em grandes equipes; (ii) aversão do trabalhador livre ao rigor e à disciplina envolvidos neste tipo de produção.
Não se pode, portanto, preocupar-se tão-somente com os preços relativos e negligenciar a importância do tipo de produção. No caso, o açúcar. Nesse sentido, além de contrariar aqueles que priorizam os preços relativos da mão de obra como única variável, as considerações de Solow ressaltam, uma vez mais, a estreita relação entre escravidão, açúcar e sistema de plantation. Nas palavras da própria autora, “Não é possível dizer o que teria sido da história da escravidão moderna sem o açúcar, mas é perfeitamente possível especular a respeito” (p. 119). Afinal, grande parte dos africanos embarcados para o Novo Mundo teve como destino regiões de produção açucareira, como Brasil, Caribe e Cuba.
A resposta à afirmação (b) aparece, sobretudo, no segundo capítulo. “A escravidão não foi causada pela terra livre.” Onde há disponibilidade de terras, o escravo pode ou não ser mais rentável que o trabalhador livre. Isso depende dos custos e da produtividade de cada um e irá variar, como dito anteriormente, de acordo com o tipo de produção. Se comprovadamente mais rentável, ela pode ou não ser adotada; se adotada, ela pode ou não ser abolida. Essas escolhas dependem de vicissitudes políticas, sociais, ideológicas e econômicas.
Dito isso, Solow entende que um erro comum aos críticos de Williams é dissociar escravidão e abolicionismo dos eventos da economia e da sociedade. “Isso é especialmente verdadeiro no caso de Seymour Drescher, que, em Econocide, parece ver a explicação causal da abolição como uma batalha entre ideologia e determinismo econômico, aquela vencendo por knockout” (p. 56). Do ponto de vista de Williams, abolição e emancipação só podem ser entendidas como a interação entre ideologia, condições econômicas e mudanças na estrutura social inglesa.
V
Aos olhos de Solow, a escravidão foi, portanto, uma instituição intimamente ligada ao açúcar e ao sistema de plantation. É por isso que a escolha pelo trabalhador africano deve ser explicada por motivos econômicos, não raciais, e suas consequências – como a inserção do hemisfério ocidental nos quadros da economia-mundo e o próprio racismo -, analisadas sob o mesmo prisma. Negligenciar a correlação entre escravo, açúcar e plantation seria ignorar os reais motivos que trouxeram 12 milhões de africanos para o Novo Mundo, migração esta que alterou definitivamente os rumos da industrialização britânica em específico e do capitalismo moderno em geral. O próprio processo de abolição só ganha sentido histórico na medida em que se reconhece o esgotamento de um modelo que perdurou por 300 anos.
Com efeito, a defesa dos argumentos de Williams realizada ao longo dos sete capítulos é extremamente legítima, tanto por comprovar a atualidade de teses que completam 70 anos quanto por prová-las ainda pertinentes ao debate historiográfico atual. Faço minhas as palavras de Rafael Marquese: “Capitalismo & escravidão, não obstante estar datado em certos aspectos, permanece como uma obra capaz de suscitar novas e surpreendentes leituras – e, assim, de nos ajudar a melhor compreendermos o nosso passado escravista”.2 É, sobretudo, nesse sentido que a coletânea de Solow justifica sua importância.
Referências
MARQUESE, Rafael de Bivar. Capitalismo & escravidão e a historiografia sobre a escravidão nas Américas. Estudos Avançados 26 (75), 2012, p. 341-354. [ Links ]
TOMICH, Dale W. Preface. In: SOLOW, Barbara L. The economic consequences of the Atlantic slave trade. Lanham; Boulder; Nova York; Toronto; Plymouth, UK: Lexington Books, 2014. [ Links ]
WILLIAMS, Eric. Capitalism & slavery. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1944. [ Links ]
1WILLIAMS, Eric. Capitalism & slavery. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1944, p. vii.
2MARQUESE, Rafael de Bivar. Capitalismo & escravidão e a historiografia sobre a escravidão nas Américas. Estudos Avançados 26 (75), 2012, p. 341-354, p. 354.
Felipe Rodrigues Alfonso – Universidade de São Paulo. Bacharel em História e mestrando no Programa de Pós-Graduação em História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E-mail: [email protected].
Uma feminista na contramão do colonialismo – GOMES (RH-USP)
GOMES, Raquel. Uma feminista na contramão do colonialismo: Olive Shreiner, literatura e a construção da nação sul-africana, 1880-1902. São Paulo: Annablume, 2013. Resenha de: DULLEY, Iracema. Imbricações entre o ordinário e o excêntrico: literatura, feminismo e política na África do Sul nascente. Revista de História (São Paulo) n.172 São Paulo Jan./June 2015.
Como destaca Robert Slenes em sua apresentação, o trabalho de Raquel Gomes, Uma feminista na contramão do colonialismo: Olive Schreiner, literatura e a construção da nação sul-africana, 1880-1902, insere-se no “novo surto brasileiro de monografias” voltadas para contextos africanos. O livro deriva da dissertação de mestrado da autora, realizada na área de História Social na Unicamp. A obra dialoga com a tradição de estudos desse departamento ao articular a trajetória e os escritos políticos e literários de um sujeito específico, Olive Schreiner, ao contexto histórico e social mais amplo em que estavam inseridos: a formação da nação sul-africana. A autora anuncia a intenção de dar conta de questões como as seguintes: “Nesta nação em formação, quais papéis seriam desempenhados por britânicos, bôeres e nativos? Como o discurso [de Schreiner] refletia e dialogava com o avanço da legislação segregacionista?” (p. 15). Estas são, sem dúvida, questões que apontam, como nota Omar Ribeiro Thomaz na orelha do livro, não só para a gênese da nação sul-africana, como para problemas contemporâneos candentes neste país.
Como no estudo de Ginzburg sobre Menocchio em O queijo e os vermes(2006), trata-se de atentar para a biografia e os escritos de um sujeito que não é exatamente ordinário, mas que, em virtude de sua excentricidade, revela não só o que seria comum em seu contexto como um possível caminho de diálogo e disputa com ele. Olive Schreiner certamente não seria considerada uma mulher sul-africana exemplar em sua época. No entanto, sua distância em relação ao que seria ordinário ajuda a iluminá-lo. A partir da circulação de Schreiner pela Inglaterra e África do Sul, é possível vislumbrar não só questões sociais e políticas mais amplas – como a criação da União Sul-Africana, o lugar da mulher na sociedade e a questão do nativo, contexto muito bem reconstruído por Gomes –, como acompanhar a minúcia das relações cotidianas com base em suas obras e cartas.
Anglófona no contexto de formação da nação sul-africana, Schreiner opõe-se à política imperialista britânica para fazer uma defesa do modo de vida bôer e da integração anglo-bôer. Feminista em um ambiente bastante conservador quanto aos costumes, chocou inclusive a sociedade inglesa com sua denúncia da condição “parasitária” da mulher no casamento. Para Schreiner, homens e mulheres deveriam ser parceiros no casamento, em igualdade de condições e com divisão do trabalho; ademais, a mulher não deveria depender financeiramente do homem, mas casar por amor. Pertencente a uma camada privilegiada da sociedade sul-africana por ser branca e anglófona – a despeito das dificuldades financeiras que a teriam levado a trabalhar como governanta para famílias bôeres na juventude –, acabará por questionar as políticas adotadas em relação à “questão do nativo” após sua desilusão com a política de Cecil Rhodes: cerceamento do acesso das populações africanas a terra, restrição de seu já pouco expressivo direito ao voto, educação racialmente segregada com destino das melhores escolas aos brancos. Schreiner, simultaneamente colonizadora e colonizada, aparece na narrativa de Gomes como o lugar da disjunção possível. Seu viés particular coloca a possibilidade do deslocamento. A caracterização de seu lugar social por Gomes mostra como, se o centro do império é o lugar a partir do qual se pode olhar para todas as suas bordas, as discordâncias introduzidas a partir das margens podem ser tão revolucionárias quanto passíveis de receber o rótulo de selvagens.
É principalmente por meio de sua produção literária que Schreiner se posiciona em relação ao cenário político e social da África do Sul de seu tempo. The story of an African farm, de 1883, retrata a vida em uma fazenda bôer e teve grande repercussão quando de sua publicação, acabando por tornar-se parte do cânone da literatura vitoriana de língua inglesa. Segundo Gomes, Schreiner deu a um lugar que fazia parte do imaginário britânico as cores necessárias para que pessoas que o viam como distante imaginassem seu cotidiano. Em meio às paisagens sul-africanas, a oposição entre as aspirações de vida dos personagens delineia a crítica social de Schreiner, direcionada principalmente às relações de gênero: Lyndall, anglófona, morre tragicamente após dar à luz o filho do amante com o qual se recusa a casar-se; por outro lado, Tant’Sannie, fazendeira bôer retratada como religiosa, conservadora e ignorante, casa-se com sucessivos maridos por interesse financeiro. A atitude predatória inglesa na África do Sul é também evocada por meio da figura de Bonaparte Blenkins. Com sua publicação, a autora foi recebida nos círculos intelectuais da Inglaterra, embora não sem atritos. Conforme se depreende da narrativa de Gomes, as resistências se deveram a suas ideias feministas e à origem africana.
Gomes é especialmente bem-sucedida ao mostrar como os personagens de African farm remetem aos estereótipos que se projetavam sobre as diversas posições sociais nos contextos em que Schreiner se inseriu. Tant’Sannie aponta para a visão dos bôeres como ignorantes, arcaicos e ociosos por parte dos ingleses; a isso se soma a figura do inglês ganancioso, visto pelos bôeres como não comprometido com o território que pretendia unicamente explorar. Se no romance os kaffirs bantos são retratados como ladrões preguiçosos, seriam em obras posteriores caracterizados como “conscientes de si e reflexivos”, capazes de organização política e reflexão intelectual – Schreiner chega a comparar sua capacidade de expressão àquela permitida pelo Taal, língua vista como indissociável do ser bôer –, os hotentotes seriam “versáteis, vivos e emotivos”, além de dóceis. A discussão de Gomes sobre os personagens e seus nomes reflete tanto sobre seu papel na narrativa quanto sobre o que ela revela a respeito da estrutura social em questão e do posicionamento político de Schreiner. No que diz respeito aos estereótipos, tampouco escapa a sua percepção a forma como as mulheres da elite intelectual inglesa viam Schreiner: uma sul-africana boêmia que falava com as mãos.
Em um momento em que se coloca o “debate acerca de quem é – e quem tem o direito de ser – sul-africano” (p. 51), as apreciações dos vários lugares sociais acerca de si e dos outros exercem papel fundamental. A relação entre as diversas categorias de designação, relacionadas por sua vez de forma complexa às posições sociais passíveis de serem ocupadas pelos sujeitos assim nomeados, determinará o que significa ser sul-africano. E o posicionamento político de Schreiner a esse respeito – que vai da ênfase na união entre ingleses e sul-africanos com o silenciamento sobre a questão nativa a uma mudança de atitude conforme o final do século XIX assiste à articulação da legislação segregacionista – traz para o leitor os debates políticos da época a partir de sua inserção neles. O trabalho de Gomes extrapola, portanto, uma perspectiva estritamente biográfica ou de análise literária para compreender a obra de Schreiner em relação ao contexto de formação da nação sul-africana.
Nesse sentido, ganha importância o mapeamento de Gomes dos diálogos intelectuais e políticos de Schreiner, que vão do amigo e sexólogo inglês Havelock Ellis ao admirado e depois inimigo Cecil Rhodes e membros da South African Improvement Society, em sua maioria, africanos negros. No que diz respeito a esses diálogos, um olhar etnográfico sente falta de uma discussão sobre a relação de Schreiner com seu marido, Samuel Cronwright-Schreiner, com quem escreveu o panfleto político The political situation. Se a intimidade do casal é provavelmente pouco relevante para a constituição da nação sul-africana, o casal, por meio de sua atuação conjunta, passou a ocupar um lugar na cena política sul-africana no qual os dois indivíduos não estavam completamente dissociados. Talvez levar essa relação em conta permitisse acompanhar os desenvolvimentos da militância feminista de Schreiner em relação a um aspecto cotidiano de sua vida: sua própria relação conjugal.
Outros escritos se seguirão ao romance de estreia de Schreiner, segundo Gomes nem sempre facilmente classificáveis do ponto de vista da forma: se The political situation e Thoughts on South Africa poderiam ser ditos de cunho político, Trooper Peter Halket of Mashonaland é um romance-alegoria que trata da trajetória de um inglês pobre que foi para a África do Sul lutar na guerra de pacificação contra os Mashona. A narrativa mostra como Peter Halket, que chegou ao território africano em busca de ascensão social à custa de pouco trabalho, humaniza-se a ponto de recusar-se a matar um nativo. Embora os escritos de Schreiner difiram em sua forma, Gomes argumenta de forma bastante convincente que não se pode pretender classificá-los segundo uma divisão estanque entre “trabalhos de imaginação” e “textos polêmicos”, pois há algo de político nos textos mais explicitamente literários, como African farm ; ademais, os escritos predominantemente políticos seguem muitas vezes um estilo literário, com grande destaque para a paisagem sul-africana, personagem expressivo de muitas de suas narrativas. Trooper Peter Halket seria por excelência inclassificável nesse sentido.
Na narrativa de Gomes sobre Schreiner, os detalhes do cotidiano se articulam às grandes questões políticas do seu tempo: a Guerra Anglo-Bôer, o papel de Rhodes no Cabo e na Rodésia, as guerras de pacificação contra os nativos, sua exploração como mão de obra barata e seu alijamento da cena política sul-africana. No que diz respeito à questão dos “nativos”, vistos por Schreiner como “um pequeno humano em formação”, penso que parte da riqueza da leitura de Gomes deve-se a sua capacidade de mostrar de forma muito clara qual era o sistema de classificação vigente e as concepções que se atrelavam a cada categoria social. Os africanos eram divididos basicamente em quatro categorias: bosquímanes, hotentotes, kaffirs (bantos) e coloured(termo que pode ser imperfeitamente traduzido como “mestiço”). A cada uma dessas categorias estavam relacionadas características e personalidades distintas, como apontamos acima, e a classificação se baseava principalmente no critério econômico (bosquímanes eram caçadores-coletores; hotentotes eram pastores; kaffirs eram pastores e agricultores dotados de organização centralizada). Contudo, se as três primeiras categorias eram compreendidas como “raças”, e juntamente com a “raça branca” perfaziam as quatro “raças” que compunham a nação sul-africana segundo a classificação de Theal em Compendium of the history and geography of South Africa (1878), não se poderia dizer o mesmo dos coloureds, classe trabalhadora sul-africana compreendida por Schreiner e grande parte dos intelectuais de sua época não como uma “raça” distinta, mas como half-castes (literalmente “meia-castas”). Estes seriam, segundo ela, resultantes da união entre mulheres negras escravizadas e um branco dominante.
A crítica de Schneider incide não só sobre a desigualdade dessa relação de gênero como sobre o caráter indesejável da miscigenação. Para ela, a África do Sul deveria ser construída harmonicamente a partir de todas essas “raças”, uma nação com várias cores que, no entanto, deveriam permanecer separadas, como muito bem explicitado em seu “mandamento” mais importante: “ Keep your breeds pure!” [“Mantenham sua raça pura!”] (p. 113). A miscigenação é silenciada ou vista como problema por Schreiner que, no entanto, defende a assimilação, “obrigação moral de elevar os outros”. A visão de Schreiner em relação à questão do nativo mostra como ela, ao mesmo tempo em que assumia uma atitude progressista em relação ao lugar dessas pessoas na política sul-africana, era também uma mulher de seu tempo, pertença esta derivada em grande medida da linguagem de que dispunha para pensá-lo: para ela, os nativos sul-africanos eram distintos dos brancos e assim deveriam permanecer. Não há espaço, em seu discurso, para o questionamento da ideia de raça e das hierarquias dela resultantes. Imersa nas ideias eugenistas de sua época, Schreiner via a miscigenação com preocupação e considerava ser papel da raça branca, especialmente dos ingleses, que ocupavam seu mais alto nível, contribuir para a melhoria das outras raças por meio da assimilação. Para ela, cada raça tinha suas qualidades e defeitos e poderia, a partir deles, desenvolver-se; a miscigenação traria o problema da degenerescência, pois faria uma junção das piores características de cada raça1. A riqueza da narrativa de Gomes aponta, contanto, para as vozes dissonantes de três clérigos anglicanos e Abdol Burns. Estes se opuseram à segregação racial nas escolas com base no seguinte argumento: como identificar brancos e negros em uma sociedade miscigenada e com “notória permeabilidade em sua barreira de cor”? Se seu questionamento apontava para a evidência que a classificação racial buscava distorcer, seu apelo não teve ressonância no debate político do período.
O texto de Gomes, extremamente bem escrito, faz jus à proposta de análise que apresenta e convida o leitor, com bom humor e perspicácia, a participar do contexto do nascimento da nação sul-africana e da definição de lugares sociais marcados por categorias de designação que determinariam muitas das possibilidades e impossibilidades colocadas para os diversos sujeitos sul-africanos ao longo do século XX.
1São curiosas as semelhanças do discurso eugênico sobre raça na África do Sul e no Brasil do mesmo período. Sobre o contexto brasileiro, ver Schwarcz (1993).
Referências
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. [ Links ]
SCHWARCZ, Lilia. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e pensamento racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. [ Links ]
THEAL, George. Compendium of the history and geography of South Africa. Londres: Edward Stanford, 1878. [ Links ]
Iracema Dulley – Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutoranda, bolsista Fapesp. E-mail: [email protected].
A Pesquisa em História / Maria P. Vieira, Maria R. Peixoto e Yara A. Khoury
A História caracteriza-se pela longa luta do homem para compreender o meio em que vive e aluar sobre ele. A época atual tem evidenciado uma maior valorização da consciência dos fatos históricos. Deste modo, todas as manifestações humanas, quer de cunho literário ou provenientes da herança de uma memória coletiva, contém informações que devem ser estudadas e pesquisadas. Enfim, tudo o que o homem produz, ou produziu, torna-se objeto de reflexão e questionamento para o historiador.
É neste sentido que o livro encaminha a discussão sobre o papel dos documentos e da experiência humana dentro dos ramos da pesquisa, dando ênfase às etapas a serem seguidas no trabalho de um pesquisador. Nota-se, com isso, a preocupação das autoras em definir o papel do historiador frente aos fatos históricos: desde a descoberta cuidadosa e exaustiva das fontes, até à crítica da documentação, problematização e incorporação das mesmas à interpretação da história, Este livro propicia uma leitura bastante instrutiva aos profissionais que atuam na área de ensino e, principalmente, aos iniciantes na carreira acadêmica, interessados no campo da pesquisa como complemento à sua formação. Assim, apesar de sintética, a obra apresenta um conteúdo permeado por exemplos que ilustram o assunto e facilitam o entendimento do tema proposto.
Dentro da perspectiva e finalidade da obra, um primeiro ponto que despertou nosso interesse diz respeito à utilização das fontes históricas como objeto de estudo do historiador. Segundo as autoras, “…os registros da experiência humana não estão só nesses arquivos, museus e centros, mas por toda parte, ao alcance de todos”, (p. 28, grifos nossos). Gostaríamos de evidenciar, neste contexto, que esta frase engloba toda a postura inovadora em relação ao documento histórico, permitindo ultrapassar a concepção estreita de que as fontes históricas restringem-se ao texto escrito. Subentende-se, então, com este argumento, que principalmente o pesquisador brasileiro, cujo acesso a documentos oficiais quase sempre enfrenta dificuldades, pode beneficiar-se de outros registros (literatura, cinema, música, etc.) como fontes ou “materiais de suporte” para o desenvolvimento de sua pesquisa.
Porém, sentimos na obra a falta de maiores referências e indicações sobre as pesquisas realizadas fora dos centros acadêmicos. Também não houve, por parle das autoras, a preocupação em esclarecer de que modo atuam os historiadores que se dedicam à pesquisa em centros de documentação não oficial. Afinal, em nosso país, os vestígios da Historiografia vinculada aos antigos Institutos Históricos ainda não desapareceram inteiramente.
Outro ponto, com relação à pesquisa, que a nosso ver ficou sem esclarecimentos corresponde à atuação das instituições financiadoras de pesquisa, como a FAPESP e o CNPq, e todo o difícil processo pelo qual passa o pesquisador iniciante para conseguir uma bolsa de estudos. Na realidade além de métodos, o historiador necessita de condições, tanto no plano subjetivo quanto econômico, para desenvolver seu projeto de pesquisa.
Não podemos deixar de ressaltar uma sugestiva contribuição a nível de metodologia: a orientação, dada pelas autoras, a respeito dos cuidados que o pesquisador deve tomar com uma série de problemas (de ordem metodológica e prática) que se colocam durante a elaboração de sua pesquisa. Ressaltamos, aqui, a importância deste aspecto para o sucesso de uma pesquisa, pois a deficiência técnica, a insuficiência metódica e teórica, e até mesmo o ensino universitário podem ser responsáveis pela debilidade deste trabalho.
Também, através dos exemplos fornecidos pela experiência das autoras, destacamos um aspecto muito bem abordado, que é a reflexão sobre a interação do historiador com o meio social em que vive. No horizonte desta ótica, fica-nos explícito o importante papel da subjetividade e da influência do ambiente histórico e social na seleção dos fatos pelo historiador.
Finalmente, em último aspecto a destacar é a importância desta obra, não somente dentro da área de pesquisa, mas também na área educacional.
Sob este prisma, a leitura deste livro traz, sem dúvida, grande contribuição para professores de 1º e 2º graus, pois uma inquietação que ainda paira sobre as cabeças de muitos profissionais é a de estimular os alunos a se interessarem pela História. Desta forma, passando por discussões sobre os objetivos da História enquanto ciência e, conseqüentemente, sobre o historiador e seu papel social, as autoras debatem a pesquisa e fazem um balanço bem objetivo da prática do historiador e das concepções de ciência nelas embutidas. Com isso, contribuem para uma atualização dos professores nos rumos da historiografia.
As autoras propõem, também, que a análise seja guiada pela percepção de que a História é uma “experiência vivida integral e socialmente”, dentro de um “campo de possibilidades”, e não um conhecimento pronto e acabado, sobre fatos sujeitados pelos métodos de pesquisa e interpretação. Assim, o livro induz à reflexão conjunta de alunos e professores e aponta direções para resgatar a unidade entre ensino e pesquisa. E esse pode ser um bom caminho para responder ao desafio de “fazer com que os alunos se interessem pela história”.
Desta maneira, contendo análises úteis sobre o processo de pesquisa (dentro de uma perspectiva de reflexão e indagação), esta obra apresenta um amplo painel dos espaços de estudo do historiador. Não é apenas mais um manual ou um receituário de informações, mas um livro informativo, cuja consulta torna-se necessária para os que desejarem enveredar pelos caminhos do ensino da disciplina e da pesquisa histórica.
Luciana S. Melo – Pós-graduando em História Social no Departamento de História /USP.
VIEIRA, Maria do Pilar; PEIXOTO, Maria do Rosário; KHOURY, Yara Aun. A Pesquisa em História. São Paulo, Ática, 1989. (Princípios – 159). Resenha de: MELO, Luciana S. História, São Paulo, n. 123-124, p. 143-219, ago/jul., 1990/1991. Acessar publicação original. [IF]





