Posts com a Tag ‘Varia Historia (VH)’
Brasil em projetos: História dos sucessos políticos e planos de melhoramento do reino. Da ilustração portuguesa à Independência do Brasil | Jurandir Malerba
Jurandir Malerba | Imagem: Café História
Num momento tão difícil da conjuntura nacional, em que a lenta construção da democracia brasileira após 1985 é ameaçada por distintas forças, a compreensão desse processo passa não somente pela análise do contexto atual, como pelo estudo dos diferentes projetos propostos para a construção do Brasil a partir de sua Independência, em 1822. Neste sentido, só podemos saudar com entusiasmo a iniciativa da Editora da Fundação Getúlio Vargas com o lançamento da coleção Uma outra história do Brasil, que pretende apresentar os projetos políticos de distintos grupos sociais que atuaram no Brasil nos últimos dois séculos.
O primeiro volume dessa ambiciosa empreitada, Brasil em projetos, é da lavra de Jurandir Malerba e abrange o período que vai do último quartel do século XVIII às duas primeiras décadas do seguinte. Trata-se, como sabemos, de um período chave da história do Brasil, marcado na economia por um significativo crescimento baseado na produção agropecuária de base escravista e, em termos sociais, pela consolidação de uma poderosa elite mercantil, responsável pelos vínculos tanto internos quanto externos da América portuguesa. É no campo político que temos algumas das principais transformações. Da chegada da família real ao Brasil até a abdicação de Dom Pedro I, temos décadas de grande agitação, abrangendo da transferência dos órgãos da corte portuguesa para a América à construção de uma nova nação e de um Estado independente. Tudo isso num ambiente intelectual marcado pelo influxo das ideias iluministas e do liberalismo. Leia Mais
Mobilidade e materialidade dos textos. Traduzir nos séculos XVI e XVII | Roger Chartier
Debruçar-se sobre livros centenários não nos permite acessar o mundo de onde vieram, a menos que consigamos traçar a história de suas formas de existência ao longo do tempo, ou seja, de suas diferentes vidas. Mas quantas vidas afinal pode ter uma obra? De acordo com Roger Chartier, a Brevissima relacíon de la destruycíon de las Indias, de Bartolomé de las Casas, por exemplo, tem sete vidas, referentes às sete diferentes edições publicadas em circunstâncias e espaços distintos entre os séculos XVI e XIX. E quando uma obra ganha outras formas de circulação, ao ser representada, adaptada, reescrita? Daí suas numerosas vidas podem garantir-lhe a posteridade ou mesmo a imortalidade. Em Mobilidade e materialidade. Traduzir nos séculos XVI e XVII, publicado no Brasil em 2020 pelas editoras Argos e EDUFBA, com tradução de Marlon Salomon e Raquel Campos, Roger Chartier oferece uma nova faceta de seus estudos realizados na Biblioteca da Universidade da Pensilvânia, onde tem atuado como professor visitante. Em seu livro intitulado La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur, de 2015, Chartier apresentou análises das coleções consultadas nessa mesma biblioteca, a partir das quais destacou o papel do autor e do impressor nas significações adquiridas pelas obras. No livro recentemente traduzido no Brasil, são a materialidade e a mobilidade de obras que ocupam o plano central de sua investigação, sendo realçadas na própria organização do volume, que conta com cinco capítulos distribuídos sob as seguintes designações: Publicar; Representar; Traduzir; Adaptar e Epílogo: reescrever. Leia Mais
Todos estos años de gente: Historia Social, protesta y política en América Latina | Andrea Andujar e Ernesto Bohoslavsky
Andrea Andujar e Ernesto Bohoslavsky |Fotos: Juan Pablo Sánchez Noli y Sabrina García/Industrias de Lamemoria e Ana D’angelo/Pagina12
A recente publicação em língua espanhola do livro Todos estos años de gente: historia social, protesta y política en América Latina (2020) nos convida a refletir sobre um campo historiográfico há muito referenciado em nossas academias, mas que segue em grande e profícuo movimento: a História Social e seus sujeitos. Organizado por Andrea Andujar e Ernesto Bohoslavsky, o livro reúne renomados historiadores com diferentes abordagens, temáticas e teóricas, provocados pelas indagações sugeridas na mesa redonda La historia y la protesta en América Latina, que integrou a segunda edição do Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social – ALIHS. O encontro ocorrido em 2017, na cidade de Buenos Aires, aparece agora sob uma proposta atenta aos debates historiográficos que, perfilados pela diversidade latino-americana, convoca-nos a pensar as intersecções entre os movimentos sociais e aqueles que os estudam, com especial ênfase na relação humana experienciada no tempo. Os historiadores Andujar e Bohoslavsky, que lançaram seu livro pela Editorial Universidad Nacional General Sarmiento, convocam para o palco principal do debate o fio invisível que conecta as escolhas individuais e as coletivas envolvidas na história dos protestos, resultando num belo exercício crítico sobre memória e ação política. Leia Mais
Mercados e feiras livres em São Paulo: 1867-1933 | Francis Manzoni
Francis Manzoni, 2020 | Foto: Sesc-SP
O livro Mercados e feiras livres em São Paulo (1867-1931), do historiador Francis Manzoni, lançado pela Edições Sesc em 2019, é fruto de sua dissertação de mestrado defendida na Universidade Estadual Paulista cinco anos antes. O autor apresenta à comunidade de historiadores e ao público geral o universo do abastecimento e da alimentação da capital paulista, em diálogo com a urbanização, o mundo do trabalho e os conflitos dos diferentes sujeitos que formaram a cidade, como negros, migrantes e estrangeiros. Tais agentes são compreendidos como os protagonistas de uma história feita por lavradores, carroceiros, carregadores, vendedores ambulantes, tropeiros e comerciantes que atuavam no ramo alimentício e de produtos de uso cotidiano pela população da cidade entre o final do século XIX e o começo do século XX. A obra destaca como os mercados públicos paulistanos, as feiras e o comércio ambulante tiveram um papel central no abastecimento e foram parte constitutiva do processo de urbanização que São Paulo experienciou a partir das últimas décadas do Oitocentos.
Como define o autor na introdução do livro, busca-se conduzir o leitor ao chamado “tempo do Brasil sem agrotóxicos”, quando da construção do primeiro mercado da capital paulista, na Várzea do Carmo, em 1867, até a inauguração do Mercado Municipal de São Paulo, na rua da Cantareira, em 1933. Manzoni defende a necessidade de se analisar a história da cidade a partir das práticas cotidianas e dos modos de vida, da multiplicidade de trabalhos e lutas. Segundo o autor, essas perspectivas foram geralmente silenciadas diante da “imagem de uma São Paulo rica, moderna e europeizada, minimizando outros modos de viver, trabalhar e lutar que eram numericamente menos expressivos, mas que subsistiram no interior e no entorno da metrópole do café” (MANZONI, 2019, p. 12). Leia Mais
Shrinking the Earth: The Rise and Decline of American Abundance | Donald Worster
Shrinking the Earth, “Encolhendo a Terra”, em tradução livre, é a produção literária mais recente do historiador ambiental Donald Worster, que nasceu em 1941 e cresceu em Hutchinson, Kansas. Na década de 1970, ele se tornou mestre em filosofia pela Yale University e doutor em História pela mesma universidade. A partir de 1989, ocupou a cadeira de História Norte-americana da University of Kansas. Após sua aposentadoria, em 2012, Worster se tornou especialista estrangeiro e professor sênior da escola de História da Universidade Renmin, China. Ele é um dos fundadores da história ambiental norte-americana e foi presidente da American Society for Environmental History. Durante sua carreira, escreveu livros que influenciaram o campo da disciplina, como A River running West: the Life of John Wesley Powell (2000) e A Passion for Nature: the Life of John Muir (2008).
A História Ambiental pretende entender como ambiente e sociedade se relacionam. A disciplina surgiu em meados de 1970, predominantemente na Europa e nos Estados Unidos da América (EUA), quando cientistas naturais apontaram consequências danosas da ação humana sobre a natureza. Essa nova percepção de estudo enfrentou, e ainda enfrenta, resistência das Ciências Humanas, embasadas no paradigma durkheimiano, no qual o social se explica apenas pelo social. Worster dialoga nesse livro com a noção de fronteiras e limites, trabalhados pelos historiadores norte-americanos Frederick Jackson Turner (1861-1932) e Walter Prescott Webb (1888-1963). A obra resenhada trata da história ambiental mundial e busca explicar como chegamos à atual situação planetária, marcada cada vez mais pela escassez de recursos, pontuando questões importantes para o estudo da sustentabilidade. O livro está dividido em três partes, além do prólogo e epílogo. Cada parte é composta de três capítulos narrativos e de um quarto capítulo referente a uma viagem de campo.
No prólogo “Luz Verde de Gatsby”, o autor utilizou uma passagem do romance de Francis Fitzgerald (1896-1940), The Great Gatsby (1925), para delinear uma visão alternativa do passado de devastação da natureza e guiar a leitura. A passagem se refere aos momentos em que Gatsby, um emergente social romântico e sonhador, enxerga uma luz verde à distância no porto e fica esperançoso de ser aceito pela rica Daisy Buchanan. A luz apenas assinala o ancoradouro da mansão de Daisy, mas simboliza as expectativas de Gatsby em relação ao seu futuro. Essa luz verde também representa as expectativas de crescimento da já próspera sociedade estadunidense de 1920. Worster chamou de “teoria da luz verde” a ilusão que os humanos têm de um futuro em que a natureza seja sempre abundante.
Ainda no prólogo, Worster avisa que abandonou três perspectivas familiares na história contemporânea: da simpatia pelos perdedores, da escola dos bons hábitos e das boas instituições e da continuidade do Holoceno. Sobre as duas primeiras, Worster afirma que trata dos êxitos na extração de matérias-primas da natureza, principalmente os referentes à colonização dos EUA. Sobre a terceira visão, ele aponta que alguns cientistas já consideram que estamos no Antropoceno, uma era de grandes transformações causadas na biosfera pelo ser humano, principalmente a partir da Revolução Industrial do século XVIII. A era anterior, o Holoceno, iniciada há doze milênios e pós período de glaciação, teve sua relativa estabilidade da natureza abalada justamente pela atuação humana.
Na parte I, Worster descreve as revoluções que ocorreram na sociedade europeia após o descobrimento do Novo Mundo pelos colonizadores europeus. Eles conseguiram expandir suas fronteiras e promover o desenvolvimento utilizando recursos naturais obtidos de suas colônias, mas mesmo alguns dos primeiros economistas advertiram que o crescimento econômico e social tinha um limite. O inglês John Stuart Mill (1806-1873) foi o primeiro a dizer que essa limitação não era necessariamente ruim, pois impunha novos desafios ao estilo de vida europeu (1848). Além disso, para Mill nem tudo do mundo natural podia ser precificado ou utilizado, ideia semelhante à dos primeiros defensores da natureza selvagem, ou wilderness, como William Wordsworth (1770-1850) e Henry David Thoreau (1817-1862). Worster finaliza a primeira parte descrevendo a caça desenfreada às baleias na ilha de Nantucket na metade do século XIX, o que levou à quase extinção do animal.
A parte II, “Depois da Fronteira”, narra uma sequência de práticas de extração de recursos naturais nos EUA, as suas consequências e os estudos feitos pelo conservacionismo norte-americano, encabeçado por George Perkins Marsh (1801-1882). É descrito o poder destrutivo da agricultura, que desequilibrava ciclos d’água. A crise hídrica foi tema da viagem de campo, que trata do “Vale Imperial”, na Califórnia, estado que passou por uma grande seca em 2003. A devastação continuou por meio do desenvolvimento industrial do século XIX, quando o combustível propulsor da indústria, o carvão, levou à contaminação do ar, solo e da água por substâncias tóxicas, alterando o ciclo do carbono. Combinado com o ferro, o carvão proporcionava a criação do aço, que passou a ser utilizado nas ferrovias, amplificando a expansão das cidades e a destruição ambiental. Com a escassez do carvão, o gás natural e o petróleo se tornaram os próximos combustíveis das atividades humanas. Essa grande dependência dos recursos naturais e como lidar com ela é descrita na sequência. O presidente Theodore Roosevelt (1858-1919) tentou associar o conservacionismo aos interesses industriais, o que foi desastroso para o meio ambiente. Para Roosevelt, a construção de barragens, por exemplo, significava transformar um “desperdício” de força d’água em lucro para a sociedade. Atualmente, essa associação falaciosa fica explícita em empresas que utilizam o prefixo “eco” em seus produtos, sem praticar qualquer forma de proteção à natureza.
Após tanta devastação, chegamos ao limite, tema da terceira parte do livro. A narrativa inicia com a fase posterior à Segunda Guerra Mundial nos EUA, que se caracterizou pelo aumento do consumismo e desenvolvimento desenfreado, incomodando até mesmo os conservacionistas mais adeptos da prosperidade econômica. Surgiu, então, uma categoria mais prática de conservacionistas, a dos ambientalistas modernos, que comprovaram como a ação exploradora humana acarretava na degradação do meio ambiente.[1] Worster dispende boa parte dos capítulos seguintes discorrendo sobre a obra dos cientistas Dennis Meadows e Donella Meadows (1941-2001), autores principais de The Limits to Growth (1972). O livro foi um alerta sobre as dinâmicas do sistema social, seus limites e a necessidade de ajustes para que o mundo não colapse. A partir desse estudo, outros pesquisadores começaram a delimitar uma zona de perigo relacionada à capacidade de suporte da Terra. A viagem de campo, “Rio Athabasca” (Canadá), encerra a terceira parte. O betume descoberto no rio canadense, localizado em uma floresta boreal, tinha extração e tratamento difíceis e onerosos. Após a crise do petróleo em 1973, investiu-se desesperadamente em sua extração e área e o rio ficaram devastados.
No epílogo, “Vida em um pálido ponto azul”, Worster cita a viagem ao espaço da Voyager I, em 1977. O astrônomo Carl Sagan (1934-1996) pediu que fosse fotografado o que havia ao redor da nave. Foi registrada apenas a Terra, um pálido ponto azul. O Novo Mundo esperado pela ida do homem ao espaço não existe. Worster propõe que é preciso aprender a viver com os recursos disponíveis. Ele alerta que, por conta do crescimento da tecnologia, da população e do consumo, o nosso mundo está encolhendo ecologicamente. A lógica da composição do livro se completa: descoberta, exploração e limites.
Worster expõe a sua preocupação principal com a devastação ambiental desde o primeiro capítulo do livro e a reitera ao longo de sua narrativa: “Mas quais são as chances de encontrar outra natureza, outro hemisfério de abundância tão fácil? Zero”[2] (p. 25). Apesar do livro ser definido como de História Ambiental global, Worster concentra sua narrativa na Europa e nos EUA, o que não desvirtua a proposta da obra. Sua riqueza de informações a torna acessível a qualquer pessoa que tenha interesse em compreender o “encolhimento” da Terra, situação explícita a quem se propõe observar minimamente as condições em que se encontra o meio ambiente. Shrinking the Earth não se desenvolve em tom alarmista, mas não deixa de ser um alerta sobre a situação atual e futura da Terra e seus habitantes: não temos mais um longo passado pela frente.
Notas
1. Para melhor compreensão das categorias de proteção da natureza, sugiro NASH, 1990.
2. Trad. livre da autora: “But what are the odds of finding another nature, another hemisphere of such easy abundance? Zero”.
Referências
FITZGERALD, Francis Scott. The Great Gatsby. New York: Charles Scribner’s Sons, 1925.
MEADOWS, Donella H. et al. The Limits to Growth: a Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. New York : Universe Books, 1972.
MILL, John Stuart. Principles of Political Economy with Some of their Applications to Social Philosophy. Vols. I & II. London: John W. Parker, 1848.
NASH, Roderick. American Environmentalism: Readings in Conservation History. New York: McGraw-Hill, 1990.
WORSTER, Donald. A River running West: the Life of John Wesley Powell. New York: Oxford University Press, 2000.
WORSTER, Donald. A Passion for Nature: the Life of John Muir. New York: Oxford University Press, 2008.
Julıana da Costa Gomes de Souza – Universidade de Brasília, Centro de Desenvolvimento Sustentável. E-mail: jcgdesouza@gmail.com
WORSTER, Donald. Shrinking the Earth: Th e Rise and Decline of American Abundance. London: Oxford University Press, 2016. Resenha de: SOUZA, Julıana da Costa Gomes de. Como chegamos a este ponto? Varia História. Belo Horizonte, v. 37, n. 74, p. 635-639, maio/ago. 2021. Acessar publicação original [DR]
Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza | Juan P. Bohoslavsky, Karinna Fernández e Sebastián Smart
La escasa literatura existente sobre la contribución y complicidad de empresas y grupos económicos en la violación sistemática de derechos humanos ocurrida en Chile durante el régimen de Pinochet, hace del libro Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza un aporte indispensable para mejorar nuestra comprensión sobre el origen de muchas de las desigualdades sociales y económicas que, actualmente, son objeto de las mayores protestas que hayan tenido lugar en Chile desde el fin de la dictadura cívico-militar.
En el libro, sus editores – Juan Pablo Bohoslavsky, Karinna Fernández y Sebastián Smart – reúnen una serie de investigaciones en las cuales se documenta desde diferentes disciplinas y dimensiones, la existencia de redes de financiamiento y apoyos a la dictadura, que habrían permitido al régimen de Pinochet solventar su política represiva para mantenerse en el poder, y al mismo tiempo, transformar radicalmente la estructura político-económica del país. De este modo, los veintiséis capítulos que componen el libro convergen en la tesis de que existiría una estrecha relación entre la asistencia económica extranjera, la política económica implementada por la dictadura y la violación sistemática de los derechos humanos.
El esfuerzo por documentar la colaboración y complicidad financiera con la dictadura chilena – tal como sostiene Elizabeth Lira en el prólogo del libro – constituye una pieza fundamental para garantizar a las víctimas la no repetición de las violaciones a los derechos humanos ni de las condiciones que las hicieron posible. En esta misma línea, Juan Pablo Bohoslavsky señala, en el capítulo introductorio, que este libro ofrece una nueva narrativa de la dictadura, al considerar la responsabilidad de sus cómplices económicos y vincularla con la actual agenda de justicia social. Argumenta que la ayuda financiera recibida por el régimen se orientó, por un lado, a comprar lealtades y apoyos de sectores claves de la sociedad chilena, y por otro, a montar un eficaz aparato represivo, cuyo principal propósito fue crear las condiciones necesarias para la implementación de un conjunto de políticas sectoriales que tuvieron como denominador común el beneficio económico de la élite chilena y de las grandes empresas nacionales y extranjeras, todo esto, en detrimento del bienestar de la clase trabajadora y el consiguiente aumento de la desigualdad económica y social en el país.
Los capítulos posteriores se organizan en siete secciones temáticas, cada una de estas aporta importante evidencia en ámbitos poco explorados del pasado reciente de Chile. La primera sección, titulada “Pasado y presente de la complicidad económica” se articula en torno al informe elaborado en 1978 por Antonio Cassese, quien fuera nombrado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como relator especial para evaluar el apoyo financiero recibido por la dictadura. Como sugiere Naomi Roth-Arriaza en el capítulo que inaugura esta primera sección, los trabajos ahí presentados constituyen un importante esfuerzo por desarticular aquella narrativa que desliga el plan económico de la dictadura, de la violencia utilizada por el régimen de Pinochet para reprimir a la población y así, acallar sus críticas.[1] Los cinco capítulos que componen la sección funcionan como un bloque analítico que inicia dando cuenta de las razones de la escasa atención que recibieron las dimensiones económicas dentro de la agenda de la justicia transicional chilena y cómo, en los últimos años, esto se ha ido revirtiendo. Este cambio, producido por una forma más integral de comprender los derechos humanos, permitió ampliar la visión hacia los derechos económicos y sociales que fueron vulnerados durante la dictadura y que hoy continúan siendo parte de las luchas sociales en Chile. Si bien, como exponen Elvira Domínguez y Magdalena Sepúlveda en el quinto capítulo del libro, el estado de los derechos económicos, sociales y culturales en Chile ha sido en el último tiempo objeto de un mayor escrutinio internacional – lo que se refleja en un número relativamente alto de procedimientos especiales realizados en el país, al punto de equipararse con la atención prestada a la violación de los derechos civiles y políticos -, esto no ha sido suficiente para comprender efectivamente todos los abusos cometidos por el régimen de Pinochet, ni el efecto que éstos continúan teniendo para el pleno ejercicio de los derechos humanos en el Chile de post-dictadura.
Esta sección también aporta algunos antecedentes para comprender cómo la violación de los derechos civiles y políticos durante la dictadura – específicamente, la supresión de los derechos sindicales – fue un factor relevante para atraer la asistencia económica extranjera, y a la vez, fue condición necesaria para la imposición de una política económica basada en la acumulación de capital, la cual, a partir de la privatización de empresas del Estado y la venta de sus activos, transfirió la riqueza nacional a manos de la clase empresarial chilena. La sección cierra reconociendo que, aunque el impacto de las iniciativas en términos de verdad y justicia ha sido limitado, Latinoamérica ha ocupado un lugar protagónico en la identificación de las responsabilidades de las empresas en las graves violaciones a los derechos humanos. Destaca en este itinerario la forma en como las víctimas y sus familiares han complementado la movilización social con estrategias legales innovadoras a fin de responsabilizar a las empresas e incluirlas en el radar de la justicia transicional, esto, más allá de si las comisiones de verdad implementadas en sus respectivos países, tenían o no como mandato, esclarecer la participación de los agentes económicos en las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, y siguiendo a Priscilla Hayner (2008, p. 247), el deseo de buscar la verdad es cuestión de tiempo, hay veces en que este deseo sólo se logra hacer patente cuando las tensiones que generan conflictos dentro de una sociedad han sido disminuidas, y hay otras, en las que es justamente este deseo el que impulsa cambios sobre los límites y las formas de abordar los crímenes del pasado.
La segunda sección de este libro, titulada “La economía del pinochetismo”, también consta de cinco capítulos, los cuales – con excepción del capítulo de Marcos González y Tomás Undurraga, quienes discuten sobre la complicidad intelectual en la dictadura – se articulan en torno a la relación existente entre la política extractivista impulsada por la dictadura, la concentración del poder y la riqueza y la construcción de una institucionalidad político-jurídica funcional a las necesidades del neoliberalismo. La sección inicia con el capítulo presentado por José Miguel Ahumada y Andrés Solimano, quienes sostienen en su trabajo que las desigualdades sociales y económicas que afectan a Chile en la actualidad tienen sus bases en el modelo económico implementado durante el régimen de Pinochet. Así, esta sección analiza el recorrido que siguió la economía chilena durante la dictadura, la que – en tanto proceso históricamente situado – experimentó una serie de cambios, que fueron más el resultado del activo rol del Estado y de la correlación de fuerzas al interior del gobierno dictatorial, que un producto de las fuerzas autónomas del mercado.
En este marco, las privatizaciones llevadas a cabo desde la segunda mitad de los años setenta, con el objetivo inicial de desmantelar el Estado productor y desarrollista, y luego con la intención de suplir las funciones sociales del Estado, habrían posibilitado que las elites económicas no sólo concentraran el grueso de la riqueza nacional, sino que, además, adquirieran una fuerte influencia en el funcionamiento de lo que sería la nueva democracia. Del mismo modo, en esta sección se advierte que, pese al impacto negativo que ha tenido el extractivismo económico en los derechos humanos y en el medioambiente, no ha existido la intención de cambiar el rumbo del modelo extractivista chileno, pues como sugiere Sebastián Smart, si bien éste se asienta en una legislación creada por la dictadura, la interrelación y mutua dependencia entre el poder político y económico existente en Chile, ha impedido cualquier tipo de modificación sustantiva al modelo.
Por otro lado, esta sección refuerza la idea de que las actuales desigualdades surgen en un contexto de represión y de múltiples restricciones a la deliberación democrática, y también, de que son consecuencia de una trasformación radical de la economía, en la cual tuvieron lugar procesos de acumulación por desposesión y de oligopolización de la estructura productiva, dando origen con esto, a una elite empresarial que, hasta el día de hoy, controla amplios aspectos de la vida económica, política y social del país.
La tercera y cuarta sección – tituladas “Juegos de apoyos, corrupción y beneficios materiales” y “Normas y prácticas represivas en favor de los grupos empresariales”, respectivamente – reúnen diez investigaciones, las que podrían, por la similitud de sus temáticas, constituir una única sección cuyo eje estuviera en el impacto que han tenido las diversas políticas y decretos leyes, dictados por la dictadura, en la actual agenda de justicia social. A pesar de esto, es posible reconocer una cierta estructura asociada a temáticas específicas dentro de cada una de las secciones. Así, mientras los dos primeros capítulos de la tercera sección analizan el rol de las cámaras empresariales y de los medios de comunicación en la comisión u omisión de violaciones a los derechos humanos; los dos últimos dan cuenta del impacto que tuvieron las privatizaciones, tanto en el sistema de pensiones como en el patrimonio público de Chile. Respecto de este último punto, Sebastián Smart señala que, en base a la violencia desplegada, la dictadura terminó con el histórico y progresivo proceso de creación de empresas estatales, dando paso a la enajenación de las mismas (muchas de las cuales fueron vendidas muy por debajo de su valor económico). En efecto, según Smart, se pasó de 596 empresas estatales en 1973 a sólo 49 en 1989, lo que implicó una mayor concentración de riquezas y la profundización de las brechas sociales y económicas ya existentes.
Del mismo modo, los dos primeros capítulos de la cuarta sección tratan sobre el desmantelamiento del sindicalismo chileno y explican cómo el “Plan laboral” de la dictadura – que básicamente operó como una regulación del poder colectivo de los sindicatos – tuvo como objetivo garantizar plenamente el derecho de propiedad y legitimar así, las bases del poder económico y social de la elite chilena. Pese a que el año 2003, fue publicado en el diario oficial un nuevo Código del Trabajo, para Salazar (2012, p. 308-309) este no es más que una forma de aparentar modernidad y sensibilidad social, pues mantiene las mismas relaciones laborales impuestas por la dictadura.
Los dos capítulos siguientes reflexionan sobre cómo la implementación del modelo neoliberal en Chile significó la disminución de las prestaciones sociales básicas y el aumento de la pobreza, dando paso a la criminalización y el encierro masivo de pobres, por un lado, y por otro, a su erradicación de las áreas céntricas, y posterior, relocalización en sectores periféricos. Finalmente, los últimos dos capítulos de esta sección analizan las consecuencias económicas, sociales, medioambientales y culturales que han experimentado los pueblos originarios en Chile, a propósito de la apropiación que hiciera la dictadura de recursos naturales y bienes comunes. Así, por ejemplo, y considerando la actual crisis hídrica, el capítulo de Cristián Olmos conecta el rol de empresas y actores económicos en la privatización del agua, con las constantes violaciones a los derechos de comunidades indígenas próximas a centros mineros en el Norte de Chile. Para Olmos, la base de estas vulneraciones se encuentra en la plataforma legislativa generada en dictadura, la cual comprende la Constitución, el Código de Aguas y el Código de la Minería. Una lectura similar lleva a cabo José Aylwin, quién en su estudio, da cuenta de cómo la dictadura, luego de apropiarse de tierras mapuches (reconocidas y restituidas por los proceso de reforma agraria impulsados por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende), éstas fueron vendidas de forma irregular, para posteriormente, establecer sobre ellas una política de incentivos monetarios y tributarios que benefició, principalmente, a los conglomerados forestales que habían colaborado con el régimen de Pinochet, teniendo esto, como consecuencia directa, la exclusión del pueblo mapuche y el deterioro del medio ambiente y del hábitat natural y cultural de las comunidades.
Dos capítulos son los que componen la quinta sección titulada “Estudios de casos”. En ella, se analizan emblemáticos casos de corporaciones nacionales que financiaron, o directamente participaron en delitos de lesa humanidad. Karinna Fernández y Magdalena Garcés documentan cómo los recursos logísticos de la Pesquera Arauco y de Colonia Dignidad fueron puestos a disposición de la represión militar. Este trabajo advierte sobre la activa participación de estas corporaciones en el secuestro, tortura y desaparición de civiles durante la dictadura chilena. Las autoras también llaman la atención sobre la falta de voluntad política para perseverar con las investigaciones y las debilidades presentes en la acción judicial, las que muchas veces, no han permitido conocer la verdad de los hechos, ni cuantificar o determinar el destino de los dineros obtenidos por la comisión de estos delitos. En esta misma línea, Nancy Guzmán entrega evidencia para conocer cómo, desde la elección de Salvador Allende como presidente de Chile, el diario El Mercurio fue utilizado por su dueño, Agustín Edwards, para colaborar con la dictadura; primero, azuzando el golpe de Estado, y luego, encubriendo los crímenes del régimen, mediante múltiples campañas de desinformación y manipulación de la opinión pública.
La sexta sección temática, “Aspectos jurídicos de la complicidad económica”, también se compone de dos capítulos. En ellos se exponen, por un lado, los principios generales emanados del derecho internacional para abordar las causas de complicidad económica; y por otro, las (im)posibilidades de perseguir, juzgar o reparar – en el marco del derecho chileno – la comisión de estos delitos, por los cuales algunas empresas y sus altos miembros se beneficiaron económicamente. Juan Pablo Bohoslavsky reflexiona, a la luz del derecho internacional y comparado, respecto de cuándo procede establecer responsabilidades civiles en las violaciones de derechos humanos. En este marco, sostiene que para determinar dichas responsabilidades se requiere conocer si la asistencia corporativa a un régimen criminal, generó, facilitó, dio continuidad o hizo más efectiva la comisión de estos delitos. Argumenta que, comprender el contexto que originó y sostuvo la complicidad económica, resulta incluso, más relevante que constatar el grado de conocimiento que tenían las corporaciones sobre el daño producido. En un tenor similar, Pietro Sferrazza y Francisco Jara sostienen que la condición de civiles no excluiría a los actores económicos de la persecución criminal por delitos de lesa humanidad, al tiempo que advierte una oportunidad – de acuerdo a la jurisprudencia – para la imprescriptibilidad de los casos, toda vez que éstos devengan de acciones que hayan facilitado o contribuido a la violación de los derechos humanos.
La séptima sección, titulada “Conclusiones y prospectivas”, coincide con el último capítulo del libro. En este, el historiador Julio Pinto, describe tres momentos en los cuales se habría ido anudando una cierta simbiosis entre el mundo empresarial y la dictadura cívico militar. El primer momento, se encuentra en la amenaza que significó el programa de la Unidad Popular para la libertad de empresa y el derecho de propiedad. El segundo, tiene que ver con los beneficios que recibieron durante la dictadura aquellos empresarios que apoyaron y colaboraron con el régimen. Mientras que el tercer momento, se asocia con las garantías de inmodificabilidad de los mecanismos básicos de funcionamiento de la economía neoliberal, así como de los componentes centrales de la institucionalidad en la cual se estableció dicha garantía.
De este modo, el libro que ha sido reseñado tiene el valor de ofrecer un variado análisis sobre la complicidad de las empresas y empresarios durante la dictadura. Desde un abordaje interdisciplinario, logra articular efectivamente una narrativa que conecta las violaciones a los derechos humanos con las políticas económicas implementadas durante el régimen de Pinochet. No obstante, considerando la diversidad de perspectivas y dimensiones desde las cuales se observó el problema, se extraña un capitulo con una mayor sistematización de los fallos judiciales, conclusiones de comisiones investigadoras o solicitudes de información realizadas al Congreso Nacional. Esto, por un lado, a fin de comprender los aciertos y reveses que han tenido estas iniciativas, y por otro, para conocer el estado actual de las impugnaciones realizadas en el marco de los objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por lo pronto, y de acuerdo a la experiencia comparada, pareciera ser que las democracias y economías modernas pueden sobrevivir a los juicios que buscan determinar las responsabilidades de los agentes económicos en la violación de los derechos humanos, lo que, sin duda, ofrece a las víctimas la esperanza de que las situaciones de abuso que experimentaron sean reconocidas y reparadas.
Finalmente, la evidencia histórica presentada en este libro no sólo constituye una crítica dirigida a los actores económicos involucrados en violaciones a los derechos humanos o a quienes se beneficiaron de las prácticas represivas y autoritarias de la dictadura, sino también, la crítica apunta a los gobiernos de la transición, los cuales no quisieron enfrentar realmente las causas estructurales de la desigualdad en Chile: concentración de la propiedad productiva, formación de conglomerados económicos con altas cuotas de mercado y debilitamiento del poder de negociación sindical, entre otras (SOLIMANO, 2013, p. 100). De este modo, el libro Complicidad económica con la dictadura chilena., podría nutrir el debate sobre la desigualdad en Chile – que, tras la revuelta social ha tomado con fuerza la agenda política – y direccionarlo, hacia la rendición de cuentas de los beneficios recibidos por las empresas, a cambio de su colaboración con la dictadura.
Nota
1. Durante la post-dictadura, la nueva clase dirigente permitió que en la figura de Pinochet se encontraran discursos a la vez contradictorios: los que apuntaban a su responsabilidad en una de las dictaduras más sangrientas de América Latina y los que reconocían que las transformaciones económicas impulsadas bajo su régimen, constituyeron una pieza fundamental para el desarrollo económico y la estabilidad política de Chile. Así, se podía condenar al dictador y, al mismo tiempo, reconocer su legado en materias económicas.
Referencias
HAYNER, Priscila. Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2008.
SALAZAR, Gabriel. Movimientos sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política. Santiago: Uqbar, 2012.
SOLIMANO, Andrés. Capitalismo a la chilena. Y la prosperidad de las élites. Santiago: Editorial Catalonia, 2013.
Sergıo Urzúa-Martínez – Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. E-mail: urzua@usach.cl
BOHOSLAVSKY, Juan Pablo; FERNÁNDEZ, Karinna; SMART, Sebastián (Eds.). Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza. Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2019. Resenha de: URZÚA-MARTÍNEZ, Sergıo. Violencia, complicidad e impunidad: Los actores económicos en la dictadura de Pinochet. Varia História. Belo Horizonte, v.37, n.74, p.625-634, maio/ago. 2021. Acessar publicação original [DR]
Estilo Avatar: Nestor Macedo e o populismo no meio afro-brasileiro | Petrônio Domingues
Petrônio Domingues | Foto: Sesc.org |
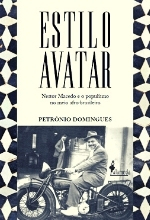 Uma parte relevante, porém ignorada de nossa história, é recuperada habilmente por Petrônio Domingues em sua mais recente obra. Domingues tem-se destacado como um historiador comprometido em expandir o entendimento do multifacetado papel do negro na construção da sociedade brasileira. Um dos maiores estudiosos da história do ativismo negro político, o autor se posiciona contrário ao discurso convencional que situa o negro brasileiro como relevante agente cultural, mas que não atribui a mesma significância à atuação negra na história política, econômica e social. Domingues, em Estilo Avatar, traz uma essencial contribuição para retificar essa narrativa.
Uma parte relevante, porém ignorada de nossa história, é recuperada habilmente por Petrônio Domingues em sua mais recente obra. Domingues tem-se destacado como um historiador comprometido em expandir o entendimento do multifacetado papel do negro na construção da sociedade brasileira. Um dos maiores estudiosos da história do ativismo negro político, o autor se posiciona contrário ao discurso convencional que situa o negro brasileiro como relevante agente cultural, mas que não atribui a mesma significância à atuação negra na história política, econômica e social. Domingues, em Estilo Avatar, traz uma essencial contribuição para retificar essa narrativa.
A escolha de pesquisar uma organização até então pouco conhecida, a Ala Negra Progressista, organização fundada e liderada por Nestor Macedo em São Paulo, no ano de 1948, constitui-se em uma das fortalezas do livro. Através deles, Domingues expõe a ignorância que permeia a sociedade brasileira sobre a multiplicidade e complexidade do papel do negro no âmbito político brasileiro. Domingues ressalta que, apesar de serem ativos participantes do processo democrático, Nestor Macedo e a Ala Negra Progressista nunca receberam atenção da literatura especializada e jamais foram objetos de uma pesquisa acadêmica. Tal observação reforça a relevância dos estudos históricos em promover narrativas de inclusão. Enquanto muito da literatura sobre populismo no Brasil tem se concentrado apenas em lideranças brancas, Estilo Avatar reverte o foco e investiga a dimensão das práticas populistas na população afro-brasileira.
Esse trabalho se junta a uma literatura emergente que se dedica a compreender a trajetória histórica do negro na política brasileira. As recentes pesquisas acadêmicas de Edilza Sotero (2015), Tianna Paschel (2018), Gladys Mitchell (2018) e Kwame Dixon (2016) comprovam que a rica, porém ainda pesquisada em estágio incipiente, história afro-brasileira no mundo político é pontuada por uma mobilização determinada, intelectualmente centrada e imbuída de profunda consciência política.
Estilo Avatar vai além da missão de resgatar esse importante e olvidado fragmento da história brasileira. As correções metodológicas e teóricas no campo de Black Studies que visam retificar narrativas históricas que, por longo período, colocaram o negro como sujeito passivo na construção histórica, são habilmente executadas em Estilo Avatar (DAGBOVIE, 2015). A análise de Domingues da sinuosa relação entre Nestor Macedo e um dos expoentes do populismo político brasileiro, o governador paulista Adhemar de Barros, serve de advertência a historiadores para a diferença entre assimetria de poder e completa subjugação. Ao mesmo tempo que o autor não esconde o fato de Adhemar de Barros gozar de reconhecimento e poder político superiores aos de Nestor Macedo, ele salienta que ambos constantemente negociavam e buscavam, através de sua associação, o alcance de seus objetivos particulares.
O primeiro capítulo traça as origens da ANP. A ascendência da organização é contextualizada na atmosfera política vivida em São Paulo nos anos pós-Estado Novo. É nesse ambiente de retomada democrática que Adhemar de Barros se estabelece como liderança política e expoente do populismo no estado de São Paulo. Domingues define o processo de construção do “mito Adhemar Barros” como um projeto político que focava numa interlocução direta com as massas, apoiada por um grupo de profissionais de propaganda e uso massivo da mídia, “recorrendo ao rádio, ao cinema, à música e a imprensa” (p. 55) para conduzir sua campanha eleitoral. Domingues nota que a “Ala Negra Progressista inscrevia em capítulos, artigos e parágrafos dos seus estatutos a preocupação com o negro no mundo da política” (p. 48). Convencionalmente, considera-se que houve um hiato na história do ativismo negro político no período entre o abrupto fim da Frente Negra Brasileira em 1937 e o advento do Movimento Negro Unificado em 1978. O autor parcialmente diverge de tal narrativa e nos mostra, através do caráter político da Ala Negra Progressista, que o negro brasileiro nunca deixou de aspirar a um papel de protagonista na política brasileira. Além da relevância histórica da ANP por ter sido uma organização negra que objetivava a inserção da comunidade afro-brasileira no mundo político, a ANP também desempenhava um relevante papel no fomento da conscientização racial. Tal mobilização se articulava principalmente através de “panfletos, palestras, encontros e reuniões sociais” (p. 50). O livro também singulariza o engajamento de lideranças femininas que, através de uma Diretiva Feminina, conduziram diversas atividades de cunho social. Ademais, nesse capítulo o autor destaca a constante negociação entre a classe política e a operária, ressaltando a assimetria de poder entre as partes sem a plena submissão do grupo subalterno. Domingues demonstra que a elite política, embora fizesse uso da máquina eleitoral para se manter no poder, era também alvo da pressão da classe trabalhadora, estabelecendo assim entre as partes uma “relação de negociação e conflito por uma via de mão dupla” (p. 74).
O capítulo seguinte foca no personagem histórico central da obra de Domingues, Nestor Macedo. Os arquivos do Deops possibilitaram ao autor revelar fragmentos da vida social e ativista de Nestor Macedo e sua organização. A ANP não passou incólume frente ao ostensivo monitoramento do Deops de qualquer movimento social, cultural ou político que pudesse representar potencial ameaça à ordem política. A rigorosa investigação conduzida por Domingues nos apresenta na figura de Macedo um personagem riquíssimo, que acima de tudo, aprendeu a lidar com os meandros da política e sociedade brasileira para lutar por uma posição de protagonismo.
O autor nos revela que Adhemar de Barros e Nestor Macedo eram produtos de similar estirpe política que sorviam das práticas populistas para avançar suas agendas. Enquanto Adhemar de Barros usava dos palanques políticos e da máquina eleitoral para consolidar sua carreira política e permutar favores, Nestor Macedo ficou conhecido como o “Rei dos bailes”, dada sua estratégia de promover atividades festivas no salão de baile da ANP, e assim sedimentar sua influência na comunidade negra.
Em relação ao personagem principal do livro, Domingues em momento algum romantiza a personalidade de Nestor Macedo como articulador político e ambicioso líder negro, assim como nunca a deprecia por suas falhas e dúbias condutas que por vezes tiveram desfecho em uma delegacia. Domingues expõe tanto as virtudes como as defecções desse personagem complexo. O autor salienta que ao mesmo tempo que Macedo “não se importava de colaborar com o Deops e tampouco tinha por isso crise de consciência” (p. 98), ele também via a política como instrumento de justiça racial, e através desse meio reivindicava benefícios para sua comunidade.
O último capítulo examina como a ANP capitalizou dos ares democráticos que alentavam a comunidade negra a demandar a inclusão da questão racial nas agendas das lideranças político-partidárias. Esse capítulo foca em uma das perguntas fundamentais abordadas no livro. Por que Nestor Macedo e a Ala Negra Progressista optaram por apoiar Adhemar de Barros? Domingues argumenta que, apesar de algumas demonstrações de solidariedade à população negra, para Adhemar a questão racial era de secundária importância.
Para Domingues, a razão da aproximação de Adhemar junto aos votantes negros era fundamentalmente “um investimento de engenharia política, de quem não desperdiçava a oportunidade de explorar o potencial eleitoral dos segmentos específicos da população” (p. 164). Domingues atribui grande peso à associação entre Nestor Macedo e Adhemar de Barros à negligência dos atores políticos, tanto da esquerda quando da direita, quanto à questão racial durante as décadas de 1940 e 1950 (ANDREWS, 1991; HANCHARD, 1994). Dessa forma, o populismo ademarista “mesmo que de forma oportunista, instrumental e frívola” (p. 227), destacava-se por incluir a questão racial em sua plataforma política. Com a consolidação democrática das últimas décadas na América Latina, a questão da maior integração política de grupos subalternos começou a receber maior atenção por parte do meio acadêmico. Estudos históricos como Estilo Avatar nos possibilitam traçar a trajetória do laborioso processo que tais minorias enfrentaram para conscientizar lideranças políticas brasileiras sobre a questão racial.
É imperativo que pesquisadores deem a devida atenção à estrutura político-partidária de cada contexto político, a fim de compreender a razão pela qual certos grupos negros empregaram seu apoio político a partidos que atribuíam pouca relevância à questão racial. Se a congruência ideológica não se estabeleceu como agente agregador entre tais associações, elas não se constituem em anomalias políticas, mas sim obedecem o comportamento de grande parte das alianças partidárias no meio político brasileiro, onde grupos políticos ideologicamente díspares se aliam para avançar seus específicos projetos de poder, estabelecendo assim “a política da permuta” (p. 94).
Estilo Avatar é leitura obrigatória para qualquer leitor interessado em expandir seu conhecimento sobre o protagonismo negro no projeto de nação brasileira. O resgate histórico de Nestor Macedo e sua organização corrigem a narrativa prevalente que o populismo no Brasil se restringiu a lideranças brancas como Getúlio Vargas e Adhemar de Barros, que cooptaram e subjugaram a população negra. Estilo Avatar deve servir como um trecho de um caminho longo a ser percorrido pela historiografia das relações raciais no Brasil. Indubitavelmente temos muito a aprender sobre a população afro-brasileira no populismo, e que a obra de Domingues sirva de inspiração para futuras pesquisas acadêmicas.
De igual importância é a correção metodológica apresentada no livro que necessita ser salientada e reiterada para futuras investigações históricas de grupos subalternos. Vindouras pesquisas acadêmicas sobre as experiências da população afro-brasileira têm a missão e a responsabilidade de abdicar de classificar o negro brasileiro como ator anônimo ou secundário, e sim retratá-lo como agente central e ativo da história brasileira.
Referências
ANDREWS, George Reid. Blacks and Whites in São Paulo 1888 – 1988. Madison: The University of Wisconsin Press, 1991. [ Links ]
DAGBOVIE, Pero Gaglo.What is African American History? Malden: Polity Press, 2015. [ Links ]
DIXON, Kwame. Afro-politics and Civil Society in Salvador da Bahia, Brazil. Gainesville: University Press of Florida, 2016. [ Links ]
DOMINGUES, Petrônio. Estilo Avatar: Nestor Macedo e o populismo no meio afro-brasileiro. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2018. [ Links ]
HANCHARD, Michael George.Orpheus and Power: The Movimento Negro of Rio De Janeiro and São Paulo, Brazil, 1945-1988. Princeton: Princeton University Press, 1994. [ Links ]
MITCHELL, Gladys L.The Politics of Blackness: Racial Identity and Political Behavior in Contemporary Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018. [ Links ]
PASCHEL, Tianna S. Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-racial Rights in Colombia and Brazil. Princeton: Princeton University Press, 2018. [ Links ]
SOTERO, Edilza. Representação política negra no Brasil pós Estado Novo. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. [ Links ]
Resenhista
João Batista Nascimento Gregoire – University of Kansas, History Department, 1450 Jaywak Blvd, 66045, Laurence, Kansas, United States. joaogregoire@ku.edu.
Referências desta resenha
DOMINGUES, Petrônio. Estilo Avatar: Nestor Macedo e o populismo no meio afro-brasileiro. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2018. 265p. Resenha de: GREGOIRE, João Batista Nascimento. Ativismo político negro e o populismo em São Paulo. Varia Historia. Belo Horizonte, v.37 n.73, Jan./Apr. 2021. Acessar publicação original [IF].
Roubos e Salteadores na Bahia no tempo da abolição (Recôncavo, década de 1880) | Eliseu Silva
O processo de abolição é uma das áreas de estudo com maior vitalidade nas últimas décadas, notadamente, por investir no diálogo com a historiografia internacional, por incorporar novos procedimentos de análise e por tratar das experiências de escravizados e ex-escravizados.
É a partir desse cenário que o historiador Eliseu Silva circunscreve sua pesquisa. O livro é resultado da dissertação defendida na UFBA em 2016 e, posteriormente publicada pela EDUFBA em 2019. A investigação tratou dos roubos, furtos e de gente identificada como fora da lei, temática bastante visitada nas Ciências Sociais. Com um trabalho da área de História, o autor procurou analisar as complexas dinâmicas sociais em torno dos furtos e dos roubos em um recorte espacial e temporal delimitado. A pesquisa está concentrada no termo de Cachoeira, no Recôncavo baiano, na década de 1880.
Eliseu Silva produziu um trabalho de qualidade pautado nas regras do campo da história acadêmica, acessando farta bibliografia para diferentes frentes de sua investigação, com destaque para o diálogo refinado travado com intelectuais latino- americanos sobre o banditismo. Essa historiografia contribuiu para Silva não reduzir os homens em conflito com a lei em agentes que invalidavam injustiças sociais. As leituras teóricas e conceituais se fizeram presentes, com predominância dos historiadores sociais que dão o tom do debate realizado ao longo da obra que procurou reconstituir redes sociais ao rés do chão. A historiografia baiana, rica e diversa, mobilizada pelo autor, permitiu refletir sobre os diferentes aspectos que marcaram a desigualdade e a exclusão experimentada por gente empobrecida, em parte, oriunda do universo do cativeiro.
O historiador cruzou uma diversidade de fontes como jornais, processos criminais, correspondências policiais, relatórios dos presidentes de província e atas do legislativo. Ao analisar esse variado conjunto documental, apresenta-se ao leitor ações e vínculos estabelecidos por gente considerada criminosa nos influxos do processo de dominação e desmonte das relações escravistas.
Maria Helena Machado (1987) lembra que roubos e furtos podiam ser interpretados como “suplementação da economia independente” e como subversão. O autor, seguindo essa interpretação, indicou ser a maior parte dos delitos arrolados enquadrados no crime contra a propriedade, envolvendo animais, dinheiro e objetos de pequeno valor oriundos de fazendas e casas de comércio. Os objetos surrupiados carregavam simbologias de prestígio e poder próprios do universo branco e senhorial. As ações dos ditos ladrões podem ser lidas, por vezes, como imbuídas do interesse de recompensar danos infligidos e desavenças pessoais. Sendo assim, os delitos não necessariamente ocorriam para conter a fome ou a carência material. De um lado, a pesquisa buscou não dicotomizar as identidades de criminoso e de trabalhador, por outro lado, o autor não quis romantizar as experiências desses indivíduos tomando-as como expressão absoluta da luta contra a opressão e as injustiças sociais. Muitos adentravam no mundo do crime premidos pelas péssimas condições de vida. Já outros, apesar da preferência pelos endinheirados, também roubavam gente pobre e, por isso, não podem ser considerados bandidos sociais segundo a concepção de Hobsbawm (2010). Dessa feita, Silva procurou apresentar as experiências desses homens sob uma perspectiva mais equilibrada, sem superestimar suas ações e, para isso, faz uso do conceito de roubo social. Segundo Eliseu Silva, roubo social consiste na possibilidade dos menos favorecidos economicamente adquirirem recursos materiais distantes de sua realidade. O autor, a partir das análises empíricas, observou como o banditismo à época estava associado ao processo de desmonte das relações escravistas. A repressão aos supostos furtos e roubos tinha também a intenção de criminalizar as iniciativas e os projetos de futuro que ganhavam espaço com as lutas pelo fim do cativeiro.
O livro está dividido em três capítulos bem estruturados que dialogam com diferentes fontes documentais, procedimentos metodológicos e com especialistas nas temáticas abordadas. No primeiro capítulo é caracterizado o Recôncavo baiano na década de 1880, assim como as questões que permearam esse período. Discutiu-se acerca da abolição do cativeiro, da regulamentação do trabalho livre e da implementação de normativas que auxiliaram na coerção e na interferência do cotidiano da população recém-liberta.
No segundo capítulo são narradas as desventuras sucedidas em meio a roubos e furtos ocorridos no termo de Cachoeira. Segundo o autor, algumas dessas ações podem ser interpretadas como respostas a práticas consideradas injustas. Entre os escravizados, parece ter sido difundido o entendimento do direito ao usufruto de bens e recursos pertencentes ao senhor ou ex-senhor, pois as riquezas obtidas eram resultado do suor do seu trabalho, como uma espécie de um acerto de contas. Esse é um ponto importante da análise, tendo em vista que, na década de 1880, estava em derrocada a ideia de que o direito de propriedade incluía a posse de uma pessoa por outra, resultando em conflitos acerca da propriedade do que era produzido nas fazendas. A legitimidade da posse de terras, segundo Mariana Dias Paes (2018), por exemplo, também estava em disputa nesse período e era marcada pelo contexto da escravidão. Os debates em torno do tema da emancipação gradual fizeram com que o registro de terras tivesse a matrícula de escravos como referência. Segundo a autora, a partir de 1880 a legitimação da posse de escravos ou de terras estava centrada nas provas de domínio e, para isso, foram criadas tanto categorias jurídicas como documentos que garantissem sucesso nos litígios judiciais envolvendo tais propriedades. Avançava nas últimas décadas do século XIX o reconhecimento da propriedade de coisas, ao mesmo tempo em que amainava a legitimidade do domínio de pessoas.
Ainda no segundo capítulo, conhecemos quem eram os indiciados nos crimes de arrombamento, furto de animais e roubo, como também se estabelece uma aproximação aos seus hábitos, motivações, redes de sociabilidades e as redes de comércio ilícito. A partir dos dados arrolados, ficamos sabendo que parte significativa dos envolvidos com a ladroagem era formada por indivíduos não-brancos, tendo entre eles cativos. A maior parte dos indiciados era gente livre, os quais gozavam de certa liberdade de locomoção, facilitando as incursões criminosas. Nota-se a presença marcante de homens jovens, solteiros e trabalhadores braçais do universo urbano e rural. Alguns desses indivíduos foram localizados pelo nome, etnia e ofício, como o israelita José Morgan, a crioula Thomazia Maria e o fogueteiro Procópio Barbosa.
Entre os objetos subtraídos destacam-se joias, dinheiro, tecidos, roupas, fumo e animais que eram levados para vender ou para consumir. Os espaços que ofereciam esses produtos em profusão eram as fazendas, lojas de secos e molhados, fábricas de tecido ou fumo, casas de joias, todos esses estabelecimentos pertencentes às elites econômicas e políticas do entorno de Cachoeira. O roubo das posses da elite proprietária era visto como uma afronta à honra e à autoridade dos mais abastados e, por isso, tais delitos eram duramente perseguidos. Já a recepção dos objetos, em grande parte, deu-se entre pequenos comerciantes e mulheres. Segundo o autor, os primeiros se convertiam em receptadores por objetivarem ganhos pelos preços mais baixos dos produtos comercializados e, as últimas, no imaginário da época seriam acusadas com maior facilidade, pois os ladrões não sofreriam represálias.
No terceiro capítulo, somos melhor apresentados aos protagonistas da investigação. Nesse ponto é destacada a trajetória do grupo de salteadores de Basílio Ganhador, suas ações e quais os mecanismos e sujeitos compunham o bando. As mulheres, por exemplo, eram personagens importantes na rede de ajuda e favores, pois apesar de não serem integrantes efetivas da malta, atuavam na troca de notas mais altas de dinheiro no comércio e vendendo produtos roubados. As façanhas do grupo circularam na imprensa e nas correspondências de autoridades policiais, juízes e presidentes de província. O autor relata ainda que, na “companhia” de Basílio Ganhador, eram aceitos cativos fugidos, o que aumentava a repulsa ao bando por parte da classe proprietária.
Os codinomes dos personagens chamam a atenção e mereceriam uma análise mais acurada. Em várias passagens são apresentadas o envolvimento em delitos de indivíduos com as alcunhas de “Pé de rodo”, “Boca de boi”, “José das Preás”, “Joaquim Belas cousas” e “Marinheiro”. A reflexão sobre os codinomes poderia reforçar a discussão realizada quanto às ocupações e habilidades dos sujeitos que recorriam à ladroagem, ora como forma de subsistência, ora como modo de vida. Tal consideração poderia corroborar o argumento inicial de não dicotomizar as experiências desses sujeitos entre os universos do trabalho e do crime.
O livro de Eliseu Silva é uma leitura importante para os pesquisadores com trabalhos voltados à história social da escravidão e do processo de abolição. A discussão realizada na obra tem o potencial de atrair também o público não acadêmico que tenha interesse na história dos grupos minorizados, nas estratégias para impor sua subalternização e nos chamados foras da lei do século XIX.
Referências
DIAS PAES, Mariana Armound. Escravos e terras entre posses e títulos: A construção social do direito de propriedade de propriedade no Brasil (1835-1889). Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. [ Links ]
HOBSBAWM, Eric. Bandidos. São Paulo: Paz e Terra, 2010. [ Links ]MACHADO, Maria Helena P. T. Crime e escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras paulistas, 1830-1888. São Paulo: Brasiliense, 1987. [ Links ]
Maria Emilia Vasconcelos dos Santos – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de História, Rua Dom Manuel de Medeiros, s/n, 52171-900, Recife, PE, Brasil. mariaemiliavas@hotmail.com.
SILVA, Eliseu. Roubos e Salteadores na Bahia no tempo da abolição (Recôncavo, década de 1880). Salvador: Editora da UFBA, 2019. 216p. Resenha de: SANTOS, Varia Historia. Belo Horizonte, v.37 n.73, Jan./Apr. 2021. Acessar publicação original [IF].
Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial – Flávia Pedreira
Da esquerda para direita: autores Armando Siqueira, Gabriella Cordeiro e Luiz Gustavo; Flávia Sá (organizadora) e convidados /
PEDREIRA, Flávia de Sá. Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: LCTE Editorial, 2019. 340 p. Resenha de: VAINFAS, Ronaldo. Nordeste flagelado pelos nazistas. Varia História. Belo Horizonte, v. 36, no. 71, Mai./ Ago. 2020.
A Segunda Guerra Mundial terminou há 75 anos. Terminou na Europa em maio de 1945, com a rendição alemã aos soviéticos após o suicídio de Hitler e no Japão em setembro, após as bombas lançadas pelos EUA, em agosto, sobre Hiroshima e Nagasaki. O Brasil passou por tudo isso. Viveu a crise da democracia liberal nos anos 1930, tempo do Estado Novo; participou da Segunda Guerra, enviando tropas para a Itália.
Mas o que aqui nos interessa é o Brasil no tempo da Segunda Guerra Mundial. Memórias de combatentes e pesquisa historiográfica reconstruíram a atuação brasileira na Itália. Elogio do alto comando dos aliados à bravura dos soldados brasileiros. Risco alto que alguns enfrentaram, depois da guerra, desmontando minas em diversos países ocupados pela Alemanha. Heróis de guerra, foram desprezados na volta ao Brasil, sobretudo a soldadesca, porque os oficiais foram condecoradíssimos. A maioria dos “pracinhas” que lutaram na Itália foram recrutados nas regiões Norte e Nordeste do país. A região foi sistematicamente atacada pelos submarinos alemães em 1942.
O livro organizado pela historiadora Flávia de Sá Pedreira, Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial, publicado pela LCTE Editorial em 2019, não deixa dúvida a respeito. Os ataques começaram no Sergipe, em agosto de 1942, quando o submarino U-507 afundou seis cargueiros brasileiros de diversas tonelagens que, acrescente-se, também faziam transporte de passageiros. Luiz Pinto Cruz e Lina Aras abrem o livro com texto bem documentado sobre tais ataques. Eles ocorreram entre 15 e 17 de agosto, afundando os navios Baependy, por ironia de fabricação alemã, o Araraquara, o Aníbal Benévolo, o Itagiba e o Arará. A cada navio torpedeado, pânico total na capital e até no interior. Parentes desesperados à procura de sobreviventes. Corpos despedaçados nas praias. Medo de uma iminente invasão alemã. Blackouts.
Dilton Maynard nos conta como o medo assolou Aracajú naqueles dias, com a explosão do Baependy. Os ataques prosseguiram na costa baiana, onde os alemães torpedearam outros quatro navios brasileiros. Total de desaparecidos no Sergipe e na Bahia: 612. Luana Quadros Carvalho analisa as consequências dos ataques ao litoral de Salvador: crises de abastecimento, inflação, mercado paralelo, o que atingiu sobretudo a população pobre da cidade.
É sabido que o número de navios mercantes brasileiros afundados por submarinos alemães – e também italianos – foi muito maior do que os torpedeados na costa nordestina. Mas a Segunda Guerra alcançou o Nordeste de forma implacável, antes de tudo porque os ataques ocorreram em mar brasileiro. O impacto social dos eventos foi tremendo. Como a censura do DIP levou dias para permitir a divulgação das notícias, o Nordeste vivenciou uma autêntica caça às bruxas nos primeiros dias da tragédia. Casas e lojas de estrangeiros, suspeitos de espionagem, foram vandalizadas. Quando a imprensa é censurada, predomina o boca-a boca e todo abuso se torna banal.
Seja como for, havia uma rede de espionagem alemã espalhada pelo Brasil e por outros países sul-americanos, como a Argentina e o Chile. Juliana Leite reconstrói a rede de espionagem nazista, que contava com cerca de dez células ramificadas em vários estados do país. A autora particulariza o caso pernambucano, onde empresas alemãs instaladas no Recife funcionavam como locais de recrutamento, a exemplo da Siemens Schukert S.A e a Dreschler & Cia. Os grandes espiões, porém, provinham da diplomacia alemã instalada no país, e não era desconhecida das autoridades brasileiras, com sua DIP sempre atenta.
A obra em foco inclui estudos sobre várias cidades nordestinas, examinando a reação popular aos afundamentos de cargueiros brasileiros e outros aspectos da entrada do Brasil na guerra. Osias Santos Filho analisa o impulso que a guerra mundial deu à indústria têxtil maranhense. Mas, a partir de 1942, algumas atividades refluíram, como a exportação de babaçu, cujo principal importador era a Alemanha, além da carestia, inflação, racionamentos e falta de combustível. No vizinho Piauí, Clarice Lira analisa a grande mobilização popular em 1942. Não faltaram perseguições a alemães, italianos e japoneses residentes em Teresina.
A Paraíba, como expõe Daviana da Silva, foi estado dos mais destacados na mobilização do Brasil, com passeatas e comícios em Campina Grande e João Pessoa. O jornal A União publicou fotografias de paraibanos que viajavam nos navios afundados, incluindo notícia sobre a vida de cada um. A autora sugere que tais eventos despertaram não apenas um surto de brasilidade como a emergência de um sentimento de paraibanidade, assunto caro à história regional, como a de outros estados que por séculos gravitaram na órbita pernambucana. Sérgio Conceição estuda o caso de Alagoas e concentra o capítulo na história socioeconômica da região, analisando a ascensão da produção de borracha, incentivada pelo regime Vargas, vista com grande entusiasmo por algumas lideranças, criticada por outros apegados à produção de cana e de algodão.
Antônio Silva Filho examina o cotidiano de Fortaleza nos anos 1940, cidade que também abrigou base militar dos EUA, discorrendo sobre os primórdios da “americanização” de certos costumes locais. Na abertura do capítulo, uma alusão ao carnaval de rua na capital, em 1946, em especial a formação de um bloco chamado “Cordão das Coca-Colas”, formado por sargentos brasileiros da FAB, que satirizava “as moças da sociedade local que haviam namorado soldados norte-americanos” (p.37). O autor é cauteloso na análise do tal desprezo pelas moças que “namoravam ianques”, citando mesmo uma crônica de Raquel de Queiroz, datada de 1944, para quem “só os rapazes são um pouco contra os nossos aliados, rosnam bastante, falam em mentalidade colonial (das mulheres cearenses)” (p.38). Por minha conta, digo que esse bloco era tremendamente misógino e machista, conforme sugeriu, com elegância, a grande escritora brasileira.
Em obra com tal recorte regional, é certo que não poderia faltar capítulos sobre o Rio Grande do Norte, antes de tudo por causa do famoso Parnamirim Field, então distrito de Natal, hoje município autônomo, que abrigou duas bases norte-americanas nos anos 1940. Parnamirim Field não foi a única base aeronaval dos EUA no Brasil, como muitos sabem, mas era a principal, designada em mapas militares dos EUA como Trampoline of Victory porque estava na rota ofensiva dos norte-americanos nas campanhas da África e do sul da Itália. Foi nela que ocorreram os contatos mais intensos entre a população brasileira e os norte-americanos, tema que já foi objeto de estudos sérios e documentados.
A obra contém três capítulos sobre a terra potiguar. Anna Cordeiro estuda o bairro da Ribeira, em Natal, favorecido pelo boom populacional ocorrido na cidade; Luiz Gustavo Costa contribui com biografia de um natural do Rio Grande do Norte, veterano da FEB na Itália; e enfim, Flávia Pedreira contribui com trabalho sobre os intelectuais potiguares em face da base norte-americana erigida em Natal. Entre eles, Câmara Cascudo, que se mostrou ambivalente, segundo Flávia, diante da influência de Paranamirim Field sobre a cultura local: ora reconhecia o valor da “boa música” tocada pelas orquestras norte-americanas nas praças natalenses, ora depreciava a difusão de artigos como a “borracha açucarada”: os chicletes.
As balizas teórico-metodológicas do livro aparecem na apresentação da organizadora. Em primeiro lugar, uma alusão ao clássico de Hannah Arendt, Origens do totalitarismo (2000), para realçar que as atrocidades do nazismo contaram com o apoio das massas. Isso é válido para a Alemanha hitlerista, e o seria para a Itália fascista e para a o regime stalinista na URSS. Para o Brasil não, apesar de que o regime liderado por Getúlio Vargas, após 1937, aspirava a ser um Estado fascista, do tipo definido por Mussolini: “Tudo para o Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado”.
A historiografia brasileira, porém, com a exceção da produzida em São Paulo, qualifica o Estado brasileiro entre 1937 e 1945 como autoritário, mas não fascista, muito menos totalitário. A própria aliança do Brasil com os EUA, em 1942, contribui, factualmente, para relativizar, ou mesmo negar, a vocação fascista do Brasil na ditadura de Getúlio Vargas. Com a eclosão da guerra, em 1939, o governo permaneceu no attentisme, atento ao desenrolar do conflito, como diria o historiador francês Pierre Laborie (2010), ao caracterizar a atitude dos franceses em face da ocupação alemã. A maioria não resistiu à ocupação nazista, tampouco foi colaboracionista, senão agiu conforme as circunstâncias, transitando no que chama, com acuidade, de zona cinzenta.
Getúlio Vargas parece ter esposado o attentisme, atuando em uma zona cinzenta no campo diplomático. Muitos historiadores brasileiros preferem tratar o Estado Novo como berço do Trabalhismo, com seu viés nacionalista e popular, ao invés de assimilá-lo aos totalitarismos alemão e italiano. Nesse ponto, o paradigma teórico adotado no livro é um tanto anódino, em especial porque a imensa maioria dos textos da coletânea descreve experiências de ataques alemães ao Nordeste e sua repercussão, sem operar com o conceito. O totalitarismo funciona, antes de tudo, como pano de fundo histórico, em geral atribuído ao regime nazista. Mas vale dizer que, em todos os textos, os autores apontam, de várias maneiras, a contradição visceral do Estado Novo, uma ditadura inspirada nos regimes autoritários europeus, que depois se alia aos EUA na luta pela democracia no mundo.
Por outro lado, a alusão de Flávia Pedreira a Paul Ricoeur (2008) parece-me exata para exprimir as pesquisas que dão corpo ao livro. Nas palavras da organizadora, “faz-se a inclusão de entrevistas orais com aqueles que vivenciaram a época e/ou seus descendentes, trazendo à tona um verdadeiro exercício de memória que muito tem a esclarecer os fatos e personagens envolvidos” (Pedreira, 2019, p.8). Uma opção metodológica que atravessa todos os ensaios e nisso acerta em cheio o seu propósito.
Mas penso que não vale a pena alongar tais considerações teórico-metodológicas, por vezes nominalistas, a propósito de livro tão relevante. A história não deve, a meu ver, demonstrar teorias, senão valer-se delas para reconstruir o passado. O livro em causa faz isso à perfeição, malgrado o que afirmei acima. Vista no conjunto, a obra conta uma história do Nordeste para além das secas e da exploração da miséria, desafiando mitologias. Mostra ao vivo o Nordeste atacado pelo nazismo em 1942. Assunto fascinante e obra à altura do tema.
Referências
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. [ Links ]
LABORIE, Pierre. 1940-1944. Os franceses do pensar-duplo. In: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (org.). A construção social dos regimes autoritários. Legitimidade, consenso e consentimento no século XX, vol. 1: Europa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. [ Links ]
RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora da UNICAMP, 2008. [ Links ]
Ronaldo Vainfas – Universidade Federal Fluminense Departamento de História Campus de Gragoatá, Niteroi, RJ, 24220-900, Brasil. rvainfas@terra.com.br.
The Identitarians: the Movement against Globalism and Islam in Europe – ZÚQUETE (VH)
ZÚQUETE, José Pedro. The Identitarians: the Movement against Globalism and Islam in Europe. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2018. 484 p. Resenha de: GUIMARÃES, Gabriel. O movimento etnonacionalista europeu. Uma análise dos Identitários. Varia História. Belo Horizonte, v. 36, no. 71, Mai./ Ago. 2020.
O livro analisado é de José Pedro Zúquete, investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa que tem se dedicado à análise comparada de movimentos políticos radicais. Sua obra The Identitarians: the movement against Globalism and Islam in Europe, publicada pela University of Notre Dame Press, em 2018, é de grande relevância para a compreensão de um conjunto de movimentos políticos da direita euroamericana, analisados a partir de seus fundamentos teóricos, discursos e práxis. Tais fundamentos se ancoram nos líderes da chamada Nouvelle Droite, uma escola de pensamento voltada para as origens e traços culturais dos europeus, criada no fim dos anos 1960 com o Groupement de Recherche et d’Études pour la Civilisation Européenne (GRECE). Grupo criado por Alain de Benoist, o GRECE faz uma crítica do que considera visão monoteísta de mundo, cujas raízes judaico-cristãs, na modernidade, levariam a grandes propostas supranacionais, como o liberalismo e o marxismo. A esses grupos acrescenta-se a alt-right estadunidense, conjunto de organizações que partilham de um enquadramento de mundo bastante parecido, porém com um discurso ainda mais explicitamente racialista.
Esse enquadramento é a chamada “grande substituição”. O termo vem da obra do autor francês Renaud Camus, Le Grand Remplacement (2012), onde são enfatizadas as mudanças etnodemográficas ocorridas nas grandes cidades da Europa Ocidental, nas quais o número de habitantes de origem não europeia é cada vez maior. O suposto risco, no caso, é o da transformação das maiorias europeias em minorias numéricas dentro de algumas décadas.
Em torno da visão neopagã de Benoist, onde cada núcleo social e cultural teria seu conjunto de valores sacros voltados apenas para os membros de sua comunidade fechada, como na Gemeinschaft de Herder (2004), orbitam vários outros temas e propostas teóricas. Destaca-se, nesse sentido, o tema do “globalismo”, identificado geralmente em estruturas de poder supranacionais, como a ONU e a União Europeia, e pelo arcabouço ideológico que as sustenta. Isto é, o multiculturalismo, que levaria ao enfraquecimento dos controles fronteiriços, a políticas públicas voltadas cada vez mais para a inclusão de minorias, entre outras coisas, diluindo o que Smith (1991) chamou de core ethnies, os núcleos linguísticos e culturais com uma memória coletiva comum que estão no centro da formação da maioria das nações modernas, e a congruência entre cultura e política, que constitui o nacionalismo para Gellner (2013).
Outro importante tema é o Islã. Apesar de não ser visto como a única ameaça à identidade dos povos europeus e seus descendentes, é considerado a presença extraeuropeia mais significativa existente no continente. Isso se deve ao fato do número de muçulmanos ser bastante alto, pela sua alta taxa de natalidade, pela sua capacidade de converter novos fiéis oriundos de comunidades não originalmente muçulmanas e, ainda, de se organizar a fim de propor políticas públicas específicas.1
Uma dimensão teórica trabalhada em The Identitarians é o da geopolítica. Embora constituam movimentos nacionalistas, os identitários pensam na formação de um bloco político transnacional, articulado por interesses que seriam comuns aos povos de origem europeia. Em relação a esse debate, é central a obra do autor russo Alexander Dugin (2013), na qual é retomado o projeto do eurasianismo.2 O “abraço euroeslavo” é um projeto que defende uma comunhão de interesses entre as civilizações europeias que se estenda da “Ibéria à Sibéria”, pelo eixo Paris-Berlin-Moscou. Apesar da inclinação comunitarista dos identitários, no sentido cultural de Tönnies (2011) e Herder (2004), a discussão em torno à identidade, no sentido biológico, também ocorre com grande relevância para a etologia de Konrad Lorenz (2002) e a paleoantropologia de Robert Ardrey (2014).3
Embora dentro da miríade de movimentos e agrupamentos analisados existam alguns grupos que se assemelhem muito a movimentos fascistas, como o italiano Casa Pound, falar apenas de um “retorno ao fascismo” seria um tanto reducionista, de forma que o fenômeno identitário aponta para algo mais amplo. Ele é parte da crise dos modelos cívico-territoriais de nacionalismo e da ascensão de propostas nacionalistas mais comuns na Europa centro-oriental, onde o Estado nacional se formou posteriormente aos países da Europa Ocidental. As tensões frente à migração, sentidas por alguns setores dessas populações, traz à tona tipos de conflito que caracterizavam a Europa centro-oriental do século XIX, até 1945, e mesmo décadas depois em algumas áreas da Europa (Mazower, 1991), onde a formação de bolsões e enclaves étnicos dentro de seus Estados-nação fazia com que as populações majoritárias desenvolvessem um discurso étnico bastante arraigado.
A proposta dos primeiros eurasianistas de inícios dos novecentos era pensar uma saída para organizar politicamente o multiétnico Império Russo. Para eles, o patriotismo estatal de nada valia,4 se esse Estado não fosse preenchido e conduzido por uma coletividade étnica consciente de seu lugar único no mundo (Ivanov; Fotieva; Shishin; Belokurova, 2016). A etnosociologia eurasianista, da qual falavam e falam seus defensores, constitui uma sociologia voltada para a descoberta dos traços fundamentais etnoculturais e etnonaturais de um povo, convergindo ciências sociais e ciências naturais, proposta semelhante à dos identitários,5 frente a um cenário social também bastante semelhante. A resposta dos identitários ao novo quadro multiétnico da Europa, sobretudo ocidental, se assemelha àquela dada pelos eurasianistas aos desafios enxergados na formação da identidade e administração do Império russo de então.
Portanto, o livro de Zúquete, através da análise dos identitários, estabelece um quadro analítico que adentra a problemática mais profunda do continente europeu, assim como do nacionalismo em geral, proporcionando uma explicação clara e objetiva para os interessados no tema dos movimentos nacionalistas e anti-imigração. É uma obra importante também no sentido da análise do crescimento do nacionalismo não apenas na Europa, mas em países como Índia, Turquia, Indonésia, Japão, Brasil, tendo em vista, evidentemente, as grandes diferenças entre essas experiências. Ainda assim é possível notar pontos em comum em todos eles, denotando certas tendências do século XXI que o livro de Zúquete ajuda a compreender.
1Como a carne hallal nas escolas.
2Retomado no sentido de que o eurasianismo foi uma escola de pensamento criada pelo historiador e linguista russo Nicolai Trubetzkoi em inícios do século XX.
3Os autores oriundos das ciências biológicas utilizados muitas vezes não são membros ou mesmo simpatizantes dos movimentos. Ainda assim, suas teorias são utilizadas como meio de validação científica daquilo que defendem em um plano político.
4Aqui nota-se a semelhança com o nacionalismo cívico-territorial. Um nacionalismo voltado para traços mais abstratos de um Estado e uma constituição modernos.
5Vale lembrar que os trabalhos que tentavam compreender a identidade dos europeus a partir de análises biológicas abundavam também na parte ocidental do continente até 1945. Não desapareceram totalmente após o fim da segunda guerra, mas não exerciam mais tanto impacto no ambiente acadêmico universitário como antes.
Referências
ARDREY, Robert. The Territorial Imperative: a Personal Inquiry into the Animal Origins of the Property and Nations. EUA: StoryDesign, 2014. [ Links ]
CAMUS, Renaud. Le Grand Remplacement suivi de Discours d’Orange. Plieux: Chez l’auteur, 2012. [ Links ]
DUGIN, Alexander. La Cuarta teoria política. Barcelona: Publidisa, 2013. [ Links ]
IVANOV, Andrey Vladimirovitch; FOTIEVA, Irina Valevjna; SHISHIN, Michail Yurevitch; BELOKUROVA, Sofja Michailovna. The Ethno-Cultural Concept of Classical Eurasianism. International Journal of Environmental and Science Education. vol. 11, n. 12, p.5155-5163, 2016. [ Links ]
GELLNER, Ernest. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press, 1983. [ Links ]
HERDER, Johann Gottfried. Another Philosophy of History and Selected Political Writings. Indianapolis/Cambridge: Hackett Classics, 2004. [ Links ]
LORENZ, Konrad. On Agression. London: Routledge, 2002. [ Links ]
MAZOWER, Mark. Continente sombrio: a Europa no século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. [ Links ]
SMITH, Anthony. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell Publisher, 1991. [ Links ]
TÖNNIES, Ferdinand. Community and Society. Mineola/New York: Dover Publications, 2011. [ Links ]
ZÚQUETE, José Pedro. The Identitarians: the Movement against Globalism and Islam in Europe. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2018. [ Links ]
Gabriel Guimarães – ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa Av. das Forças Armadas, Lisboa, 1649-026, Portugal. gfrgs@iscte-iul.pt.
Arqueologia – FUNARI (VH)
FUNARI, Pedro Paulo. Arqueologia. São Paulo: Contexto, 2010, 125p. ALMEIDA, Fábio Py Murta de. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 47, Jan./ Jun. 2012.
O livro Arqueologia, do professor doutor Pedro Paulo Funari, livre docente de História da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), é uma composição ímpar, indicado especialmente aos cursos introdutórios de História, Arqueologia e de História da Literatura do Antigo Oriente Próximo. Seu texto tem forma agradável e objetiva; mérito do autor, fruto dos anos de atividade profissional e dedicação ao estudo arqueológico. Assim, pela larga experiência na temática, Pedro Funari busca objetivamente apresentar a Arqueologia tendo em vista o ramo da história cultural, isso com uma linguagem fácil e direta; aponta logo no início da obra que a arqueologia não se compreende apenas pelas descobertas das figuras e das imagens, mas institui-se num campo muito reflexivo, envolvendo tanto a leitura, quanto a prática nos sítios arqueológicos.
Olhando mais detidamente sua obra, Pedro Funari começa informando basicamente o “estado da questão” da ciência arqueológica, definindo seu objeto de estudo e a evolução do pensamento. Para ele, a arqueologia consiste nos conhecimentos dos primórdios, dos relatos das coisas antigas. Só mais recentemente, por conta do campo de atuação e de envolvimento (diálogo) com ciências sociais, é que a arqueologia vem se traçando de forma interdisciplinar. Com ela, não se visa revelar apenas o sentido das coisas e dos artefatos desenterrados, mas configurar que os “ecofatos e biofatos são vestígios do meio ambiente e restos dos animais que passaram sobre apropriação do ser humano”, o que retira a limitação do estudo arqueológico apenas ao passado, mas, também, liga-o ao presente, como o é na arqueologia industrial. Mesmo assim, pensando especificamente na idealização do passado, indica-se que esse pensamento é metodologicamente pautado nas etapas arqueológicas, sempre olhando dados e artefatos. Materiais entre os quais podem ser vistos indicativos das relações sociais que foram produzidos, uma vez que atuam como mediadores das atividades humanas, determinando estereótipos e comportamentos de uma sociedade. Para a atividade é fundamental entender que a partir da “reintegração dos artefatos a um contexto cultural como o nosso e em um invólucro da relação de poder que o artefato produz, o mesmo adquire importância crucial”, portanto, o arqueólogo tem que inserir tais objetos no interior das relações sociais em que foram produzidos, fazendo-os exercer novas funções de mediações. Portanto, é dentro da cultura,1 como desenvolvimento e criação humana, que o objeto transforma-se em artefato, recebendo uma formulação junto à humanidade.
Outro nicho de saberes destacado pelo autor são as formas de pesquisa na arqueologia: indicando um “complexo de técnicas utilizadas pelo arqueólogo, formulações não neutras, que se inserem num complexo de questões metodológicas que derivam das políticas do arqueólogo”. Técnicas, por exemplo, como o desenterramento e a escavação estratificada. Elas teriam evoluído ao longo do tempo dividindo-se em três importantes fases: a primeira, a preocupação com a superposição de níveis de ocupação e com datação relativa aos artefatos; a segunda, com o estudo e registro dos estratos; e a terceira, com a escavação de amplas superfícies, preocupada com o estudo do funcionamento da sociedade que ali viveu. Infelizmente, no Brasil, inicialmente, houve uma “desvalorização do contexto histórico devido às grandes importações de técnicas e ideologias (no caso, arqueológicas), advindas da Europa, ou seja, a valorização de um passado externo ocasionou a desvalorização da memória nativa (indígena)”. Ainda sim, apesar do desenvolvimento exemplar que a arqueologia vem tendo no Brasil, ela está longe de ser valorizada. Percebe-se que recentemente está ocorrendo uma grande reviravolta na pesquisa brasileira e internacional, trazendo um diálogo entre a arqueologia brasileira e a mundial, o que dinamiza o estudo nacional. No detalhe da relação entre a arqueologia e as outras áreas do conhecimento, Pedro Funari mostra que essa ciência não pode ser desarticulada das outras disciplinas. Deve estar relacionada com as demais ciências (como a história, a antropologia, a biologia, a geografia, a física, a arte, a arquitetura, a filosofia, a linguística e a museologia), pois elas são e foram fundamentais para sua evolução, como já indicamos.
No fim, a obra Pedro Funari faz uma explanação e um convite ao aprendizado arqueológico no Brasil. Indica, antes de qualquer coisa, que o arqueólogo deve ter o compromisso com a burocracia regional e responsabilidade social. Também, aponta que deve haver respeito para com a sociedade no todo, desde grupos majoritários até os minoritários. Para ele, a arqueologia é uma ação política2 que, por isso, tem algumas dificuldades de inserção no Brasil, até mesmo por que, como profissão, tem um difícil reconhecimento por não haver uma graduação específica na área. Mesmo assim, existe pós-graduação nessa área de atividade profissional, e pode-se atuar como professor, pois em museus, laboratórios, arqueologia (setor burocrático) de contrato, como maneira de proteger o patrimônio arqueológico, e na gestão turística do patrimônio arqueológico brasileiro. Enfim, algumas áreas podem servir como convite ao estudo e trabalho arqueológico. Merece destaque a gama de projetos e novos horizontes arqueológicos, pois nosso território é um vasto campo de pesquisa sobre as comunidades que aqui habitaram no passado.
Por fim, com vasto conhecimento acerca da ciência arqueológica, não só no Brasil, mas também, em outros países em que realiza suas pesquisas, Pedro Paulo Funari expõe de maneira singular, sucinta e principalmente realista uma ampla visão acerca da arqueologia e do seu desenvolvimento ao longo dos últimos séculos. Sobre a abordagem dos conceitos e objetos de estudos, o livro Arqueologia pode ser encarado como um belo convite ao seu estudo como disciplina acadêmica. Caso os leitores queiram aprofundar os apontamentos apresentados pelo autor, vale a pena à consulta de obras, como, por exemplo, a História do pensamento arqueológico de Bruce G. Trigger3 e algumas obras da vasta bibliografia do professor Pedro Funari.4 Ao fim da resenha, destacamos a admiração pelo esforço do autor que, mesmo em um texto relativamente pequeno, consegue ter riqueza de detalhes e não deixa de enaltecer as questões histórico-metodológicas da disciplina. Por isso, pensamos que cumpriu o objetivo de explorar de forma suscita questões que vem levantado a arqueologia nos últimos anos, bem como exauriu o intento de introduzir suas questões de forma geral. Assim, em termos de historiografia, o autor faz uma aproximação da disciplina de arqueologia junto a um ramo da história, a luz dos termos e conceitos reconhecidos na história cultural. Propriamente, aproxima a variante da nova história cultural, principalmente a estilizada por Roger Chartier, com as questões que vêm levantado os embates da cultura material escavada como as: representações, poder e práticas culturais – ajudando no diálogo história e arqueologia sobre o prisma do conceito simbólico de cultura de Clifford Geertz e de Marshall Sahlins.5 Agora, pensando mais longe, é urgente que as editoras se preocupem em produzir livros desse tipo, sendo relevantes ao nicho dos alunos e aos cursos introdutórios de nível superior. Assim, fica aqui o apelo para a produção de livros e materiais que sejam sucintos e que possam da melhor forma introduzir o estudo dos discentes às cadeiras acadêmico-científicas.
1 A noção de cultura utilizada pelo autor é ligada á história cultural, vista em FUNARI, Pedro Paulo A. e PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. Patrimônio histórico e cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. Quando Pedro Funari utiliza da contribuição decisiva de Roger Chartier, autor que aponta a história cultural relacionada com a “noção de ‘representação’ e de ‘práticas’ (…) tanto os objetos culturais seriam produzidos ‘entre as práticas e representações’, como os sujeitos produtores e receptores da cultura circulariam entre esses dois pólos, que de certo modo corresponderiam respectivamente aos ‘modos de fazer’ e aos ‘modos de ver'”, como cita BARROS, José D’Assunção. O campo da história: especialidades e abordagens. Petrópolis: Vozes, 2004, p.76.
2 Sobre ação política e seu destaque dentro da história política, vide a descrição de Marieta de Moraes Ferreira quando comenta a obra de René Rémond: “Nova História Política (…) ao se ocupar do estudo e da participação na vida política (…) integra todos os atores, mesmo os mais modestos, perdendo assim o caráter elitista e individualista e elegendo as massas como seu objeto central”, RÉMOND, René. Por uma história política.Rio de Janeiro: FGV, 2003, p.7. Assim, a ação política permeia o respeito aos atores sociais de diferentes grupos ligados as redes de poder que constituem a sociedade.
3 TRIGGER, Bruce G., História do pensamento arqueológico. Tradução de Ordep Trindade Serra. São Paulo: Odysses Editora, 2004.
4 Citamos aqui, por exemplo, as duas obras: FUNARI, Pedro Paulo A. Arqueologia e patrimônio, Erechim: Habilis, 2007; e FUNARI, Pedro Paulo A. (org.). Cultura material e arqueologia histórica. Campinas: IFCH/UNICAMP, 1999.
5 Assim para Clifford Geertz e Marshall Sahlins o conceito de cultura pode ser definido como um conjunto de sistemas de signos e significados constituídos pelos grupos sociais. Portanto, para interpretar as culturas, no caso do antropólogo Clifford Geertz significa interpretar: símbolos, mitos, ritos. Agora, partindo de Clifford Geertz, Marshall Sahlins defende que os grupos de uma cultura também “representam” suas interpretações do passado no presente. Vide para isso, GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978; e SAHLINS, Marshall. Ilhas de história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
Fábio Py Murta de Almeida – Historiador e mestre em Ciências da Religião pela UMESP. Professor de História da Faculdade Batista do Rio de Janeiro (FABAT) e pesquisador do grupo de Arqueologia do Mundo Bíblico ligado a UMESP Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Rua Jose Higino 416, Tijuca, Rio de Janeiro. CEP: 20510-412. pymurta@gmail.com.
Gesamtausgabe. I/7. Zur Logik und Methodik der Sozialwissenschaften. Schriften 1900-1907 – WEBER (VH)
WEBER, Max. Gesamtausgabe. I/7. Zur Logik und Methodik der Sozialwissenschaften. Schriften 1900-1907, Wagner, Gerhard. Tübingen: Mohr Siebeck, 2018. 772 p. MATA, Sérgio da. A metodologia de Max Weber entre reconstrução e desconstrução. Varia História. Belo Horizonte, v. 36, no. 70, Jan./ Abr. 2020.
Max Weber morreu aos cinquenta e seis anos de idade, em 14 de junho de 1920. Dez anos depois, e apesar dos esforços de Karl Jaspers, Hans Freyer e Raymond Aron, eram poucos os eruditos alemães que ainda o mencionavam. Traduzido por mexicanos e norte-americanos, Weber atravessa o Atlântico e começa a ganhar a América, ao passo que na Alemanha nacional-socialista seus livros – compreensivelmente – juntavam poeira nas estantes. Essa longa hibernação só acaba em fins da década de 1950, quando fica clara a dívida da Escola de Frankfurt para com a tese weberiana da racionalização ocidental, e em especial com a publicação dos notáveis estudos de Wolfgang Mommsen, Reinhard Bendix e Friedrich Tenbruck. A partir de então já não era possível ler e interpretar este clássico das ciências humanas sem o suporte de disciplinas como a história das ideias, e, não menos importante, sem recorrer a este imenso monumento de erudição que é a edição crítica das obras completas de Weber, a Max Weber Gesamtausgabe (MWG).
A editora Mohr Siebeck e Academia de Ciências da Baviera acabam de publicar o volume I/7, contendo a maior parte dos ensaios que se tornaram conhecidos no Brasil e outros países sob o título de “Metodologia das Ciências Sociais”. O aparecimento deste livro de mais de 700 páginas, intitulado Sobre a lógica e a metodologia das ciências sociais. Escritos 1900-1907, pode ser considerado um evento editorial de grande importância. Isso vale igualmente para os historiadores, uma vez que é justamente nesse conjunto de textos que se encontra o essencial da teoria weberiana do conhecimento histórico.
Foi Marianne Weber quem coligiu, em 1922, os textos teórico-metodológicos publicados por seu marido entre 1903 e 1919, e que receberam o título um pouco pretensioso de Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, “Ensaios reunidos sobre doutrina da ciência”. A história de sua recepção é atribulada, pois via de regra as primeiras traduções para o inglês, o francês, o italiano e o espanhol não incluíram a totalidade do material selecionado por Marianne. O pecado não chega a ser grande, já que o conjunto de textos que conteria o fundamental da epistemologia weberiana é ainda uma questão em aberto entre os especialistas. A edição alemã de 1922 passaria por alterações significativas em 1951 e 1968, com a inclusão de textos que a viúva de Weber não havia selecionado em 1922 (Sell, 2018, p.321-322). Assim, não pareceu impróprio aos responsáveis pela edição inglesa mais recente a inclusão de textos inéditos como o agora famoso “Manuscrito de Nervi”, essencial para mensurar o peso da influência do filósofo Heinrich Rickert sobre Weber. Essa tumultuada história editorial está longe de terminar, uma vez que os editores da MWG optaram por uma solução que não chega a ser consensual: o conjunto de textos original foi cindido em duas partes, uma anterior e outra posterior ao biênio 1907-1908. Uma decisão que implica, literalmente, na implosão do volume organizado pela viúva de Weber.
Tenbruck foi o primeiro a questionar publicamente o que chamou de “desmontagem” (Tenbruck, 1989, p.102). Mas não convém superestimar suas consequências. Para o bem e para o mal, as decisões tomadas pelos coordenadores da edição crítica só muito raramente têm sido acompanhadas pelas traduções de Weber ao redor do mundo, e não há razão para supor que nesse caso há de ser diferente. O que nos parece particularmente interessante aqui é o fato de que os dois volumes resultantes estavam entre os primeiros anunciados da MWG. O primeiro deles, objeto desta resenha, deveria ter aparecido em 1984; e o segundo para 1987. Você leu corretamente: três décadas e meia de atraso!
Segundo nos disse há pouco uma das pessoas diretamente envolvidas, o editor originalmente designado para o volume não conseguiu levar adiante o penoso processo de preparação dos textos, o que implicou uma perda de tempo que, de resto, já vitimara outros importantes volumes da MWG, entre eles o que contém os famosos artigos sobre “a ética protestante”. Mas, independente das muitas possíveis razões envolvidas, tal lapso de tempo é eloquente o bastante, fala uma linguagem clara: não era uma prioridade disponibilizar ao público a edição histórico-crítica dos textos que sistematizam a concepção weberiana de ciência histórica e social.
Também na outra ponta há problemas. Trata-se de textos bastante desiguais em densidade analítica e em qualidade literária (alguns são inegavelmente prolixos), e cuja tradução impõe grandes dificuldades. Basta dizer que a versão brasileira (Weber, 2001), realizada em conjunto pelas editoras Unicamp e Cortez no início da década de 1990 (e atualmente em sua 5ª edição) está longe de ser adequada. Embora tenha sido deixada a cargo de um alemão radicado no Brasil, o falecido Augustin Wernet, é tal o número de erros ali cometido – de desvios terminológicos ao “sumiço” de parágrafos inteiros – que temos recomendado sempre o uso da criteriosa versão inglesa, traduzida por um dos maiores conhecedores deste corpus, o dinamarquês Hans Henrik Bruun (Weber, 2012).
Em que pesem tais dificuldades e o colossal atraso, Sobre a lógica e a metodologia das ciências sociais é um precioso instrumento de trabalho. De nossa parte, importa-nos sublinhar o seu valor para historiadores das ideias e interessados em teoria da história. Estes escritos, que contém o essencial da metodologia de Weber, são fruto de seu diálogo não apenas com clássicos como Ranke, Roscher e Droysen, mas também com os mais importantes nomes da teoria da história de inícios do século passado – de Dilthey a Simmel, de Rickert a Gottl. Seu objetivo é fundamentar a “ciência da realidade”, assim definida:
A ciência social que nós pretendemos praticar é uma ciência da realidade. Queremos compreender a realidade da vida ao nosso redor, e na qual nos situamos, em sua especificidade – por um lado: as conexões e a relevância cultural de suas diversas manifestações em sua configuração atual, e, por outro, as causas pelas quais ela se desenvolveu historicamente de uma determinada maneira e não de outra (p.174).
Aqui se estabelece o programa do Arquivo para a Ciência Social e a Política Social, revista que Weber tinha assumido em 1903 em parceria com Werner Sombart e Edgar Jaffé. As diferenças em relação ao funcionalismo durkheimiano saltam aos olhos. Para Weber a prioridade epistêmica não são as recorrências, as “leis” ou os “modelos”, mas os fenômenos singulares, considerados intersubjetivamente como relevantes. Vale dizer, “históricos”. Mais ainda, a elucidação de tais fenômenos deve se dar diacronicamente, historicamente. Somente desta forma se chega a saber como eles se tornaram o que são. Um programa, enfim, que se afasta não só do modelo francês, mas também daquele furor taxonômico que se apodera do próprio Weber ao longo das páginas de Economia e Sociedade (Mata, 2019).
É incomum que numa resenha se fale tão pouco da obra em si, mas o leitor há de admitir que se trata de um caso à parte. Embora mal traduzidos ou traduzidos apenas em partes para o português, a maior parte do material que compõe o volume I/7 da MWG já está à disposição do público brasileiro na Metodologia das ciências sociais. O que se pode esperar de uma edição crítica, além do minucioso trabalho de depuração filológica próprio de empreendimentos desta envergadura é, por um lado, a apresentação de eventuais “descobertas” (manuscritos inéditos, versões alternativas aos textos já publicados, etc), e, por outro, novas interpretações obtidas à luz do material inédito. De fato, salvo por alguns fragmentos de menor importância, a grande novidade é a publicação integral das notas de leitura feitas por Weber entre dezembro de 1902 e janeiro de 1903 num hotel nas proximidades de Gênova, os chamados “Manuscritos de Nervi”. Parte deste manuscrito foi previamente publicado em inglês por H. H. Bruun e Sam Whimster (Weber, 2012, p.413-418), mas é sem dúvida interessante para os interessados ler as anotações feitas Weber enquanto preparava o tratado “Roscher e Knies e os problemas lógicos de economia política histórica” (p.41-101; p.243-379). Numa de suas anotações, Weber se contrapõe secamente ao conhecido verso de Schiller: “A história não é o tribunal do mundo” (p.627). Fica evidente o considerável esforço desprendido por ele na leitura de O domínio da palavra, um inusual livro escrito por Friedrich Gottl (p.628-637); e assim por diante.
Com isso se chega à segunda e decisiva questão, a mesma questão colocada anos atrás por Wilhelm Hennis (Hennis, 2003, p.75): em que medida apuro filológico e algum material inédito nos permitem revisitar, com outros olhos, a metodologia de Weber? A solução salomônica dos editores não nos parece ter agregado muito de substancial nesse particular. Resta-nos, sob este ponto de vista, dar razão ao protesto de Tenbruck evocado mais acima. Até onde chega nosso conhecimento da literatura especializada mais recente, foram os 12 tomos contendo toda a correspondência ativa de Weber entre 1875 e 1920 (num total de 9.032 páginas) que mais claramente contribuíram para abrir novos caminhos para os Weber Studies.
De toda forma, a competente introdução preparada por Gerhard Wagner realiza um indispensável trabalho de contextualização, e a nosso ver acerta ao se contrapor ao senso comum que atribui a Weber um acento demasiadamente “interpretativo”. Além de realçar a importância do hoje esquecido Christoph Sigwart, Wagner dá seguimento à tendência recente (Mata, 2014; Wagner e Härpfer, 2015) de se recuperar a importância das ciências naturais para Weber. Sua carreira docente teve início no momento em que a fama de Helmholtz e Du Bois-Reymond atingia seu ápice, e seu recurso moderado ao arsenal conceitual das hard sciences contradiz frontalmente os apóstolos da dicotomia radical entre ciências humanas e naturais, e que justamente naquela época começava a se estabelecer na Alemanha. Não parece ter sido menor a atenção que Weber devotou à lei da conservação da energia de Julius Robert Mayer e, em especial, aos estudos do fisiólogo Johannes von Kries sobre as categorias de causalidade e possibilidade. As evidências apresentadas por Wagner (p.18-24) mostram que foi considerável o influxo de Kries na preparação dos “Estudos críticos no campo da lógica das ciências da cultura” (p.384-480).
O ponto alto do volume é decerto o artigo programático “A ‘objetividade’ do conhecimento na ciência social e na política social” (p.142-234), mais conhecido na literatura especializada como o “ensaio sobre a objetividade”. A importância deste texto é dupla. Por um lado, ele permite mapear à perfeição como Weber concebeu A ética protestante e o espírito do capitalismo do ponto de vista do método. De outro, o fato de estudos recentes no campo da epistemologia histórica e teoria da história, como os de Lorraine Daston (2017) e Arthur Alfaix Assis,1 continuarem a referenciá-lo – e isso se dá sempre que o polissêmico conceito de “objetividade” é alvo de reflexão consequente – mostram o quanto ainda podemos aprender com ele. O uso das aspas no título revelam a distância do autor face a todo “objetivismo”. Ao mesmo tempo, Weber reconhece a inevitabilidade do recurso do historiador e do cientista social a determinadas ficções heurísticas, ou seja, os conceitos ou “tipos ideais”. Já em 1904, ele admite que a ficcionalidade é parte integrante da ciência da realidade. Mas, fique claro: como um meio, jamais como “destino”. A ciência weberiana não persegue apenas um ideal de rigor. Rigor e senso de responsabilidade precisam andar juntos.
No momento em que o obscurantismo político e religioso ameaça pôr abaixo as conquistas de gerações inteiras de pesquisadores brasileiros, dando à noção de “desconstrução” as consequências que seus adeptos relutavam em considerar possíveis hors-texte, duas passagens do ensaio sobre a objetividade (p.147; p.154) atestam seu valor duradouro. Concluamos com elas esta breve resenha: “Nenhum ser humano dotado de reflexividade, que age responsavelmente, pode deixar de ponderar sobre os fins e as consequências de seu agir”. Weber não endereça esta advertência aos donos do poder; é à comunidade científica que ele se dirige. Pois é ela, e sobretudo ela, que põe tudo a perder quando se esquece de que “em parte alguma o interesse da ciência é mais intensamente prejudicado, no longo prazo, do que naquelas circunstâncias em que não se quer ver os fatos incômodos e as realidades da vida em sua dureza”.
1ASSIS, Arthur Alfaix. Objectivity. In: KRAGH, Timme; RÜSEN, Jörn; MITTAG, Achim; SATO, Masayuki (eds.) Core Concepts of Historical Thinking (no prelo).
Referências
DASTON, Lorraine. Historicidade e objetividade. São Paulo: LiberArs, 2017. [ Links ]
HENNIS, Wilhelm. Im langen Schatten einer Edition. Zum Erscheinen des ersten Bandes der Max-Weber-Gesamtausgabe. In: HENNIS, Wilhelm. Max Weber und Thukydides. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003. [ Links ]
MATA, Sérgio da. Max Weber e as ciências naturais. Ciência Hoje, v. 320, p.22-25, 2014. [ Links ]
MATA, Sérgio da. Realism and Reality in Max Weber. In: HANKE, Edith; SCAFF, Lawrence; WHIMSTER, Sam (eds.) The Oxford Handbook of Max Weber. London: Oxford University Press, 2019. [ Links ]
SELL, Carlos. Resenha de Verstehende Soziologie und Werturteilsfreiheit. Schriften und Reden 1908-1917. Tempo Social, v. 30, n. 3, p.321-334, 2018. [ Links ]
TENBRUCK, Friedrich. Abschied von der “Wissenschaftslehre”? In: WEISS, Johannes (Hrsg.) Max Weber heute. Erträge und Probleme der Forchung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989. [ Links ]
WAGNER, Gerhard; HÄRPFER, Claudius. Max Weber und die Naturwissenschaften. Zyklos: Jahrbuch für Theorie und Geschichte der Soziologie, v. 1, p.169-194, 2015. [ Links ]
WEBER, Max. Metodologia das ciências sociais. São Paulo/Campinas: Cortez/Unicamp, 2001. [ Links ]
WEBER, Max. Collected Methodological Writings. London: Routledge, 2012. [ Links ]
Sérgio da Mata –Departamento de História, Universidade Federal de Ouro Preto, Rua do Seminário, s/n, Mariana, MG, 35.420-000, Brasil. sdmata@ufop.edu.br.
Um ás na mesa do jogo: a Bahia na história política da I República (1920 – 1926) – BRITO (VH)
BRITO, Jonas. Um ás na mesa do jogo: a Bahia na história política da I República (1920 – 1926). Salvador: EDUFBA, 2019. 267 p. SOUZA, Felipe Azevedo. A Bahia e a República contra o café com leite. Varia História. Belo Horizonte, v. 36, no. 70, Jan./ Abr. 2020.
Já se contam décadas desde que caiu em descrédito a tese que interpretava a política na Primeira República como um estável e previsível pacto entre as oligarquias paulistas e mineiras. A produção historiográfica recente apresenta um cenário sensivelmente diverso. Ainda que entre elites, a construção da ordem se inscrevia em um imbrincado jogo de alianças voláteis e coalizões de curto prazo envolvendo lideranças de vários estados da federação. A inconstância das negociações entre grupos de interesse estaduais não raro resultou em intervenções militares e instauração de estados de sítio. Turbulências sociais e dificuldades para acomodar os interesses de elites fragmentárias eram frequentes no caminho da governabilidade. Em Um ás na mesa do jogo: a Bahia na história política da I República (1920-1926), Jonas Brito capta a intensidade dessas transações através de uma operação historiográfica que articula os estratagemas de bastidores e o influxo de intempéries socioeconômicas que persistentemente sacudiram os governos e os tensos processos sucessórios presidenciais.
O recorte temporal relativamente curto, de 1920 a 1926, foi pródigo em tumultos e viradas de mesa. Iniciando-se após um vigoroso ciclo de greves, aqueles anos foram pontilhados por conflitos armados envolvendo revoltas estaduais e a ascensão do tenentismo. A onda contestatória ressoou no primeiro escalão da política com a formação da Reação Republicana que, como a campanha civilista, buscou emplacar um presidente oriundo das hordas oposicionistas a partir da articulação de uma profusa campanha eleitoral baseada em uma plataforma programática crítica ao governo e às instituições do sistema representativo. Os influxos por mudança, concentrados principalmente na disputa presidencial de 1921/1922, atravessam o livro através do exame esmiuçado de um processo de ruptura intraoligárquico que foi fundamental para selar os destinos da Primeira República.
Outrora retratada em torno de imagens de “paralisia e marginalidade”, a Bahia era, como pontua o título da obra, um ás na mesa do jogo da Primeira República (NEGRO; BRITO, 2013). As teses inovadoras de Eul-Soo Pang e Cláudia Viscardi já situavam o estado em seu proeminente papel de eixo de estabilidade do regime (PANG, 1979; VISCARDI, 2001). Jonas Brito disseca esse plano de poder evidenciando o domínio de ação dos construtores dessa almejada estabilidade. Como quem lê sobre os ombros austeros das lideranças republicanas, Brito conduz os enredos do livro a partir das correspondências de eminências como Nilo Peçanha, Arthur Bernardes, Otávio Mangabeira, Washington Luís, os irmãos Pedro e Góis Calmon. É de se destacar também a cuidadosa utilização de fontes diplomáticas, de onde o autor extrai algumas sínteses conjunturais lapidares. Através de um rigoroso mapeamento das movimentações públicas e reservadas de grupos que se realinhavam negociando interesses particulares e pautas públicas, o autor dimensiona o papel dos baianos no tabuleiro da política nacional.
O início dos anos 20 representou o fim de um período de jejum da Bahia em relação ao círculo de poder do Palácio do Catete. Até aquele momento as disputas entre Rui Barbosa e José Joaquim Seabra dividiam o cenário político estadual entre “ruistas” e “seabristas”. O contínuo boicote mútuo que um grupo infligia a outro acabou por esmaecer o potencial de liderança do estado junto ao poder central. O pacto entre as facções veio com a formação da coalizão oposicionista da Reação Republicana, e o fato de Hermes da Fonseca ter sido um dos principais articuladores para a adesão de Rui (seu destacado oponente em disputas anteriores) é mais um sintoma de que aquela campanha era extraordinária.
A unidade política da Bahia foi resultado do esforço conjunto de estados insatisfeitos com a candidatura bernardista que era fundeada em interesses de grupos paulistas e mineiros. Sem uma Bahia forte não haveria lastro para uma oposição capaz de enfrentar o poderio do governo. Como o autor aponta, “a atitude da Bahia impossibilitou o isolamento do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, dois estados já resistentes à candidatura de Bernardes” (p.249). Os baianos têm destaque nesta narrativa, mas este foi um processo nacional e o livro de Brito não encontra barreiras geográficas para analisar o que estava em jogo; suas páginas excedem a história da Bahia a todo tempo. O autor acompanha os próceres oposicionistas que naquela campanha deixaram seus gabinetes e saíram em caravana pelo país em carros, embarcações e trens. É especialmente relevante a maneira como essas expedições eleitorais são exploradas, a análise joga luz sobre o papel das oposições em um contexto competitivo como esse em tela – temática, vale dizer, ainda subestimada na literatura sobre o tema.
Artur Bernardes venceu aquelas eleições, mas teve diante de si um país inflamado em conflitos e rivalidades estaduais. Na Bahia, vivia-se situação diversa: a ascensão de Goés Calmon, eleito governador em 1923, foi um elemento de conciliação entre as elites. Ocupando o vácuo de influência deixado pela morte de Rui Barbosa, Calmon foi habilidoso em montar uma base fiel ao seu projeto de governo e em acomodar potenciais dissidentes a partir de um fino cálculo de distribuição de recursos políticos e de divisão de poder.
Naquele momento, a Bahia restaurava seu antigo papel de sustentação do poder central, conjuntura argutamente explorada a partir do episódio de recepção ao príncipe italiano Umberto di Savoia, cuja passagem pelo Brasil esteve a um triz de ser gorada. Cariocas e paulistas batiam cabeças com insurreições armadas em seus territórios, coube então à Bahia, sob os auspícios da aristocrática família Calmon, receber a comitiva. A pompa e circunstância ostentadas naquela recepção foram elevados a emblema da Bahia dos Calmon, tempos de solidez institucional e alinhamento com o Catete.
Em seu livro de estreia, fruto de dissertação em História defendida na Universidade Federal da Bahia, o jovem historiador já demonstra destacada habilidade para dar sentido à confusa conjuntura da época através de uma escrita límpida. A atenção que volta às articulações internas de poder, evidenciando o contínuo movimento de acomodação e ruptura das oligarquias, dá ao livro ímpeto de obra de referência, de onde pesquisadores do tema podem sempre voltar para se esclarecer sobre essa fundamental quadra do Brasil republicano. É, portanto, livro para se ter na estante.
Referências
NEGRO, Antonio Luigi; BRITO, Jonas. Mãe paralítica no teatro das oligarquias? O papel da Bahia na Primeira República para além do café-com-leite. Varia Historia [online]. 2013, v.29, n.51, p.863-887. [ Links ]
PANG, Eul-Soo. Coronelismo e Oligarquias, 1889-1943. A Bahia na Primeira República. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. [ Links ]
VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. O Teatro das Oligarquias. Uma revisão da política do café com leite. Belo Horizonte: C/Arte, 2001. [ Links ]
Felipe Azevedo Souza – Departamento de História, Universidade Federal da Bahia, Estrada de São Lázaro, 197, Federação, Salvador, BA, 40.210-730, Brasil. felipeazv.souza@gmail.com.
El pensamiento conservador y derechista en América Latina, España y Portugal, Siglos XIX y XX – KOLAR (VH)
KOLAR, Fabio; MÜCKE, Ulrich. El pensamiento conservador y derechista en América Latina, España y Portugal, Siglos XIX y XX. Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2019. 362 p. LVOVICH, Daniel. Conservadores y derechistas en Iberoamérica en los últimos dos siglos. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 69, Set./ Dez. 2019.
Los textos que componen El pensamiento conservador y derechista en América Latina, España y Portugal, Siglos XIX y XX, volumen compilado por Fabio Kolar y Ulrich Mücke son resultado de las ponencias presentadas originalmente en un simposio que se realizó en Hamburgo en 2016. Se trata de un libro ambicioso en sus alcances geográficos y temporales, ya que incluye textos sobre distintos, países latinoamericanos, España y Portugal, desde comienzos del siglo XIX hasta fines del siglo XX.
En la introducción del texto, a cargo de Kolar y Mücke, se destacan las dificultades que supuso para el estudio de esta tradición el uso poco preciso y en ocasiones arbitrario de conceptos como derecha y conservador. Los compiladores asimismo señalan la necesidad de articular, en el plano temporal, los elementos heredados de las tradiciones políticas conservadoras con las novedades propias del siglo XX; y en el plano de las escalas la combinación entre las historias políticas e intelectuales nacionales con los elementos propios de una historia regional o global, para dar cuenta de la especificidad de cada caso en el marco de sus conexiones transnacionales (KOLAR; MÜCKE, 2019, p.7-36).
Los temas que los compiladores eligen presentar como ejes para el análisis de la tradición derechista y conservadora en sus continuidades y rupturas son los de la soberanía y la revolución, la Iglesia y la religión, las mujeres y el género, las masas y las élites, la circulación de lecturas y el problema del anticomunismo, el fascismo y las dictaduras.
No todos los textos que integran la compilación responden del mismo modo a las aspiraciones de renovación historiográfica expuestos en la introducción – como el empleo de las herramientas de la historia intelectual y la combinación de escalas de análisis – aunque todos ellos son sólidos y bien fundamentados. De hecho, es perceptible una distancia entre la tradición cultural en que se insertan y la biblioteca en que se respaldan los compiladores y las de los autores, de modo que su articulación no resulta siempre sencilla.
Varios trabajos abordan el temprano siglo XIX. Lucia Pereira das Neves estudia los lenguajes políticos de conservadores y lliberales en la época de la independencia del Imperio de Brasil, mostrando los modos en que más allá de la implantación de algunos principios liberales, la vida pública no se extendió más allá de la elite. Víctor Peralta Ruiz analiza el pensamiento político del realismo antiliberal en Perú en los años de las guerras de independencia, al que considera un movimiento reactivo y reacio al liberalismo español, estudiando para ello tres momentos relevantes de esa tradición conservadora.
En una mirada de largo plazo sobre el siglo XIX, Marta García Ugarte destaca la centralidad política y la heterogeneidad del catolicismo mexicano, proponiendo como clave interpretativa que la modernidad resulto connatural a la catolicidad. Por su parte, Benjamin de Losada estudia el pensamiento de Pedro Gual y Pujadas, franciscano español que expresó el pensamiento ultramontano en el Perú de la segunda mitad del siglo XIX. El análisis en el marco de una “cultura atlántica de la confrontación” permite al autor mostrar las peculiaridades del vínculo entre catolicismo y republicanismo en América del Sur. Tributario de la perspectiva de Quentin Skinner, el aporte de Erika Pani analiza las formulaciones conservadoras sobre el pueblo en el marco de la Guerra de Reforma mexicana, mostrando los modos en que el conflicto funcionó como un límite a la hora de desarrollar iniciativas que consideraran de un modo efectivo la soberanía popular.
Eduardo González Calleja expone en su trabajo la larga y heterogénea tradición conservadora española de defensa armada de un orden social al que se consideraba amenazado, desde la década de 1840 hasta la conformación del Somatén Nacional, entendido como un eslabón intermedio entre las formas tradicionales de movilización reactiva y las modalidades de radicalización de las derechas.
Ricardo Arias Trujillo discute las visiones tradicionales sobre el conservatismo colombiano entre 1880 y 1930 proponiendo una visión de esta tradición que – más allá de su relación intrínseca con el catolicismo – resultó sumamente heterogénea, de manera que su consideración como una fuerza reaccionaria ha impedido dar cuenta de la existencia en su seno de sectores que defendieron la democracia y el laicismo.
Entrando de lleno en la historia del siglo XX, dos trabajos examinan en particular la problemática de la historia de las mujeres. Para el caso portugués bajo el salazarismo, Irene Flusner Pimentel da cuenta de la situación de subordinación femenina en el Estado Novo, lo que no impidió la movilización política de las mujeres ni la tardía formación de una elite femenina en el seno del régimen. Por su parte, Margaret Power, a través del análisis del caso de la movilización de las mujeres anticomunistas contra Goulart en Brasil y contra Allende en Chile muestra – apelando al análisis transnacional y comparado – la coexistencia en su discursividad de tópicos en común, propios del anticomunismo global de la época de la guerra fría, conviviendo con otros enraizados nacionalmente, como la importancia diferencial de la apelación al catolicismo en cada caso.
Un enfoque igualmente trasnacional y comparado se encuentra en el trabajo de Ernesto Bohoslavsky, Magdalena Broquetas y Gabriela Gomes dedicado al estudio de organizaciones juveniles conservadoras en Argentina, Chile y Uruguay entre 1958 y 1973. Atentos al impacto común del discurso anticomunista trasnacional, y a las redes que lo sostenían, cuanto a los rasgos que particularizan cada experiencia nacional, el articulo sostiene que las diferencias ideológicas entre estos grupos y los propios de la derecha revolucionaria no ocluye la existencia de un repertorio de acciones violentas y de un enemigo definido de manera similar que los emparenta.
El aporte de João Fabio Bertonha se ubica en un estilo de reflexión conceptual. Partiendo de la constatación de que existieron múltiples conexiones entre las derechas latinoamericanas de entreguerras y los fascismos, el autor sostiene que existió un fascismo latinoamericano con rasgos diferenciales respecto a sus coetáneos europeos, y propone – sin llegar a una conclusión definitiva – discutir y evaluar la utilidad del concepto de fascismo ibérico. Por último, Riccardo Marchi estudia el tránsito de una elite universitaria identificada con el nacionalismo revolucionario en los años finales del Estado Novo portugués hacia el liberal-conservadurismo, en un proceso que es explicado por el anacronismo de su lenguaje original ante el fin del imperio colonial, y por la incorporación del lenguaje político predominante en Europa y Norteamérica en los años setenta y ochenta como parte de homogenización política e ideológica del período.
Más allá de la marcada heterogeneidad de las contribuciones que constituyen esta obra, Conservadores y derechistas es una valorable contribución a un campo en expansión, y un libro que instiga a los historiadores de América Latina y Europa a profundizar el diálogo, así como un instrumento que nos ayude a pensar en la génesis del fenómeno de las derechas y su radicalización en nuestros días y a pensar claves analíticas para su comprensión.
Referências
Kolar, Fabio y Mücke, Ulrich (eds.). El pensamiento conservador y derechista en América Latina, España y Portugal, Siglos XIX y XX. Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2019. [ Links ]
Daniel Lvovich – Instituto del Desarrollo Humano Universidad Nacional de General Sarmiento – CONICET Juan María Gutiérrez, 1150, Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina. daniel.lvovich@gmail.com.
O regresso dos mortos. Os doadores da Misericórdia do Porto e a expansão oceânica (séculos XVI-XVII) – SÁ (VH)
SÁ, Isabel dos Guimarães. O regresso dos mortos. Os doadores da Misericórdia do Porto e a expansão oceânica (séculos XVI-XVII). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais – ICS, 2018. 331 p. DILLMANN, Mauro. A Misericórdia do Porto e seus doadores dos espaços dos mundos transoceânicos Ibéricos. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 69, Set./ Dez. 2019.
(Re)conhecida na/pela historiografia brasileira, a historiadora portuguesa Isabel dos Guimarães Sá, professora no departamento de História da Universidade do Minho (Portugal), desenvolve pesquisas sobre misericórdias portuguesas ao menos desde a década de 1990,fn1 sendo uma das grandes expoentes na temática.fn2 O livro “O Regresso dos Mortos: os doadores da Misericórdia do Porto e a expansão oceânica (séculos XVI-XVIII)”, publicado em 2018 pela Imprensa de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é uma continuidade das suas investigações, decorrente da compilação de textos e resultados da pesquisa da autora desenvolvida na última década junto ao Arquivo histórico da Santa Casa de Misericórdia do Porto. De primorosa abordagem teórico-metodológica à inegável fluidez narrativa, a obra certamente conforma sofisticação e sutileza tanto aos leitores que compartilham e prezam pelas regras do ofício (de historiador) quanto àqueles que buscam conhecimento do passado.
O livro apresenta 10 capítulos divididos em dois eixos: o primeiro fornece um quadro contextual do papel das Misericórdias no agenciamento das heranças deixadas em testamento, especialmente aquelas relativas à instituição da mercantil cidade do Porto, bem como a identificação coletiva dos seus doadores nos territórios ultramarinos; o segundo, inicia com um breve capítulo intitulado “A reconstituição de trajetórias de doadores: fontes e métodos”, que introduz e problematiza os demais, dedicados à análise das particularidades da vida, das posses, das relações familiares e das doações de sujeitos que viviam nos séculos XVI e XVII nas duas grandes áreas da expansão ibérica, o Estado da Índia e a América portuguesa. Foi por meio desses territórios que emergiram, segundo a autora, as fortunas mais significativas legadas à Misericórdia do Porto, que provinham de homens, mulheres e membros do clero (p.66). Ao final de cada subcapítulo em que analisa indivíduos e famílias, Guimarães Sá organizou uma cronologia das dinâmicas testamentárias no que tange às doações e, ao final do livro – vale mencionar – trouxe interessante “índice remissivo” (p.309-331).
Ao reunir diferentes casos de doadores – dezesseis ao todo, embora se desdobre em muitos outros ao considerar ascendentes e descendentes dos quadros genealógicos – Guimarães Sá tenciona identificar repetições que constituam “padrões de comportamento” relativamente homogêneos, buscando também compreender esses sujeitos “enquanto pessoas” e seus motivos para a realização de doações à Misericórdia do Porto, entre eles, o de cuidar da salvação eterna da própria alma. Pode-se identificar uma proximidade com os trabalhos de história social desenvolvidos por pesquisadores que se valem de metodologias prosopográficas,fn3 embora a autora não faça qualquer menção ao método.fn4
A obra propõe uma abordagem micro-histórica para tratar das singularidades dos sujeitos, da vida mercantil ultramarina, das religiosidades, dos valores, dos consumos e das relações familiares. São tecidas considerações sobre a interpretação dos bens/materialidades e suas conversões em dinheiro para pagamento dos benefícios espirituais. Na dinâmica que vinculava o doador e a instituição receptora dos recursos, em período da história moderna marcado pelo entusiasmo português na expansão oceânica, as relações familiares tornar-se-iam fragmentadas e a vida material dos portuenses aberta a novos produtos e mercadorias.
A escolha dos indivíduos que mereceram atenção investigativa partiu de dois critérios: geográfico, com foco em doadores que transitavam pelo império português na Ásia e na América; e documental, privilegiando aqueles que deixaram registros (p.19). Esses doadores eram indivíduos que pertenciam à elite mercantil e possuíam experiências no trato marítimo e na circulação de pessoas e bens. Constituíam redes sociais e comerciais que legitimavam seus movimentos, seus laços de família e suas “últimas vontades” (p.197). É a atenção dispensada às figuras dos doadores e às doações, individuais e coletivamente, que, segundo a autora, justifica a pesquisa frente à produção historiográfica relativa às Misericórdias.fn5 Além disso, as reflexões propostas por Guimarães Sá (p.16), ao perceber as influências dos territórios da expansão sobre os doadores e sobre as próprias doações se inserem nos debates sobre “mundos conectados”, tal como proposto pelo historiador Serge Gruzinski (2014).
Importante destacar o conjunto de fontes privilegiadas para análise, constituído por testamentos e inventários de bens, mas também genealogias, registros paroquiais, escrituras notariais, entre outros. Há um exemplar cuidado em explicitar as possibilidades e limites dos testamentos (p.93-95) e com a esmerada análise dessas fontes (ponto forte da obra), Guimarães Sá estabelece interpretações sobre vínculos familiares, relações de valores morais e monetários e contatos culturais entre a Ibéria e a Ásia. A experiência com os testamentos permite à autora captar “impressões” (p.181) e realizar inferências pertinentes sobre vida privada (p.193), reconstituindo os laços familiares e a dimensão subjetiva de cada indivíduo. Quando a análise assume feições generalizantes, a autora justifica como sendo “pincelada larga”, a exemplo da caracterização dos doadores. Ao traçar um perfil destes – domínio da escrita, vida de caráter urbano, “elites” da cidade -, merecem destaques o manejo das fontes e a apresentação das dificuldades no fazer historiográfico, como a necessidade de presumir que muitos doadores fossem solteiros a partir da ausência de referência à cônjuges na documentação.
Em relação à metodologia, é elogiosa a preocupação demonstrada em frisar o que o livro não é ou não pretende ser: não é um estudo de longa duração, não é história econômica; não tem como objeto os irmãos, apenas os doadores (p.49); não é um estudo de quaisquer casos de doações, apenas daquelas com escritura notarial (p.50) e ligados aos territórios da expansão ibérica, que correspondiam a 20% do total de doadores (p.67, 75); não faz análise da logística e das transferências de heranças através dos oceanos (p.96).
A autora aponta para o que considera como “uma das constatações mais importantes” do livro: a forma como se processava a circulação de gêneros e bens e sua transformação. Mercadorias, dinheiro, terras, roupas, móveis poderiam se converter em “papéis de crédito” para a Misericórdia (sua riqueza preferida) e esta poderia, através de rituais, converter os bens materiais em espirituais (p.90). A Misericórdia do Porto estava longe de se limitar a cuidar apenas dos sufrágios e dos pobres, desejando lucrar com as rendas proporcionadas pelas heranças recebidas. As doações pressupunham uma dinâmica de troca entre o sujeito que doava e a instituição: aqueles que deixavam seus legados esperavam, em troca, “missas anuais”, “para sempre”, “todos os anos” ou “enquanto o mundo durar”, o que poderia gerar situações de heranças recusadas, quando os serviços requisitados fossem desproporcionais com os rendimentos atribuídos (p.80). Ao cumprir o “acordo”, ao tratar da eternidade das almas, a Misericórdia promovia o “regresso dos mortos” (referência ao título do livro), um regresso póstumo e simbólico destes doadores, que viviam em outros territórios e teriam sua memória garantida entre os vivos na sua terra natal.
Por fim, vale dizer que a obra poderá interessar a quem se volta ao período moderno português, à história das religiões, à história das instituições e à história das elites no Antigo Regime. De narrativa encadeada, ao reunir textos inéditos e reformulações/revisões de outras publicações realizadas pela própria autora a partir do ano de 2011, acaba por portar algumas recorrências explicativas, embora haja cuidadosa coesão de ideias e mereça, com certeza, forte recomendação de leitura.
1Informação acionada em Academia.edu. Disponível em https://uminho.academia.edu/IsabelDosguimaraessa. Acessado em 21 jun. 2019. Destaco, entre tantas, as seguintes publicações: SÁ, Isabel Guimarães. Quando o rico se faz pobre: misericórdias, caridade e poder no império português, 1500-1800. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997; em parceria com a historiadora Maria Antónia Lopes, publicou História Breve das Misericórdias Portuguesas, 1498-2000. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2018. No Brasil, publicou As misericórdias portuguesas, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: FGV, 2013 (Coleção FGV de bolso). Nesse sentido, indico alguns trabalhos publicados no Brasil nos últimos anos, que fazem parte das reflexões que constam na obra resenhada: Entre consumos suntuários e comuns: a posse de objetos exóticos entre alguns habitantes do Porto (séculos XVI-XVIII), Anais do Museu Paulista, v. 25, n. 1, p.35-57, abr. 2017; As misericórdias e as transferências de bens: o caso dos Monteiros, entre o Porto e a Ásia (1580-1640), Tempo, v. 22, n. 39, p.88-109, abr. 2016; Conectando vivos e mortos nos territórios da expansão ibérica: religião e ritual entre os doares da Misericórdia do Porto (1500-1700). In: HERMANN, Jacqueline; MARTINS, William de Souza (Orgs.). Poderes do Sagrado: Europa católica, América Ibérica, África e Oriente portugueses (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Multifoco, 2016, p.111-138. Outros textos, inclusive com diferentes temáticas, tem atualmente mobilizado as pesquisas de Guimarães Sá: Rainhas e cultura escrita em Portugal (séculos XV-XVI). In: GANDELMAN, Luciana; GONÇALVES, Margareth de Almeida; FARIA, Patrícia Souza de (Orgs.). Religião e linguagem nos mundos ibéricos: identidades, vínculos sociais e instituições. Seropédica: UFRRJ, 2015, p.169-180; Os rapazes do Congo: discursos em torno de uma experiência colonial (1480-1580). In: ALGRANTI, Leila; MEGIANI, Ana Paula Torres (Orgs.). O Império por escrito: formas de transmissão da cultura letrada no mundo ibérico, séculos XVI-XIX. São Paulo: Alameda, 2009, p.313-332.
2Em Portugal, estudos sobre os papéis, funções e atuações das Santas Casas de Misericórdias são profícuos e continuam a florescer. Ao lado da própria Isabel dos Guimarães Sá, merecem menção as pesquisas de ARAÚJO, 2018, ABREU, 2017 e LOPES, 2010.
3Sobre os significados das pesquisas com essa metodologia, VARGAS, Jonas Moreira. “Rastreando Indivíduos e Redes de Relações”: algumas contribuições teóricas e metodológicas para o estudo das elites e grupos dirigentes no Brasil. In: SOARES, Fabrício Antônio; SILVA, Ricardo Oliveira da (Orgs.). Diálogos: estudos sobre teoria da história e historiografia. Vol. II. Criciúma: Unesc, 2017, p.133-165; BULST, Neitard. Sobre o objeto e o método da prosopografia, Politeia, V. 5, n. 1, p.47-67, 2005.
4Embora a autora não faça referência direta ao trabalho de Peter Burke (1991) sobre as mudanças e semelhanças no estilo de vida, atitudes e valores das elites de Veneza e Amsterdã no século XVII, existem dialogias entre as abordagens de ambos.
5Para a misericórdia do Porto, a autora dialoga com dois historiadores “da instituição”: Artur Magalhães Basto e Eugénio de Andrea da Cunha Freitas, além de uma vasta historiografia, especialmente portuguesa e brasileira.
Referências
ABREU, Laurinda. Misericórdias, Estado Moderno e Império. In: PAIVA, José Pedro (coord.). Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Vol. 20. Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2017, p.245-277. [ Links ]
ARAÚJO, Maria Marta Lobo de (org.). As sete obras de Misericórdia corporais nas Santas Casas de Misericórdia (séculos XVI-XVIII). Braga: Santa Casa de Misericórdia de Braga, 2018. [ Links ]
BULST, Neitard. Sobre o objeto e o método da prosopografia. Politeia, V. 5, n. 1, p.47-67, 2005. [ Links ]
BURKE, Peter. Veneza e Amsterdã: um estudo das elites do século XVII. São Paulo: Brasiliense, 1991. [ Links ]
GRUZINSKI, Serge. As quatro partes do mundo: história de uma mundialização. Trad. Cleonice Mourão e Consuelo Santiago. Belo Horizonte/São Paulo: UFMG; Edusp, 2014. [ Links ]
LOPES, Maria Antónia. Protecção Social em Portugal na Idade Moderna. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010. [ Links ]
VARGAS, Jonas Moreira. “Rastreando Indivíduos e Redes de Relações”: algumas contribuições teóricas e metodológicas para o estudo das elites e grupos dirigentes no Brasil. In: SOARES, Fabrício Antônio; SILVA, Ricardo Oliveira da (Orgs.). Diálogos: estudos sobre teoria da história e historiografia. Vol. II. Criciúma: Unesc, 2017, p.133-165. [ Links ]
Mauro Dillmann – Departamento de História Universidade Federal de Pelotas Rua Alberto Rosa, 154, Pelotas, RS, 96.010-610, Brasil maurodillmann@hotmail.com.
Speaking of Spain: the Evolution of Race and Nation in the Hispanic World – FEROS (VH)
FEROS, Antonio. Speaking of Spain: the Evolution of Race and Nation in the Hispanic World. Cambridge: Harvard University press, 2017. 367 p. BILBAO, Julian Abascal Sguizzardi. Raça, nação e pátria: A espanholidade em movimento. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 69, Set./ Dez. 2019.
O livro Speaking of Spain de Antonio Feros se insere em um contexto historiográfico no qual o pretenso vínculo entre o estabelecimento de um Estado-nação e a união dinástica das Coroas de Castela e Aragão (1479) já fora pertinentemente criticado por autores como Vicens Vives (1960), John Elliott (2010; 2018) e Bartolomé Clavero (1981). Após o impacto dessa crítica, as relações entre nação, pátria – e também raça – passaram a ser entendidas como não-evidentes e tornaram-se matéria de amplo debate.
O principal objetivo do livro é discutir os deslocamentos semânticos e controvérsias em torno dos conceitos de raça, nação e pátria entre o século XVI e princípio do XIX no contexto imperial hispânico. No que diz respeito às fontes, o autor recolhe narrativas variadas (crônicas, discursos, tratados e legislação) que desenvolveram à sua maneira os supracitados conceitos dentro do recorte estipulado, privilegiando os discursos próprios dos “espanhóis” (Feros, 2017, p.11).
A despeito das dificuldades impostas pela amplitude do arco espaço-temporal, a problemática é clara e o autor realiza um trabalho historiográfico pertinente. A leitura é fluída, sendo relevante tanto para especialistas, quanto para um público mais amplo. Inclusive, poderia ser adotado como ponto de partida para a aproximação da história do Império Hispânico pelo público brasileiro. O livro é de interesse para aqueles que estudam História Ibérica, mas também, para os que se dedicam a assuntos relacionados à América Colonial e à independência da América, pois demonstra como a estrutura das sociedades coloniais ensejaram questões acerca da significação da espanholidade (Spanishness).
Como o texto cobre um amplo recorte, a bibliografia utilizada é igualmente vasta. Em um primeiro momento, poderíamos destacar o diálogo com Tamar Herzog (2003), Pablo Fernández Albaladejo (2007) e Mateo Ballester Rodríguez (2010), autores que trabalham as complexas relações entre escalas identitárias no contexto hispânico. É interessante o destaque de Feros para as relações de tensão entre a Catalunha e a Monarquia, apontando para comparações com os conflitos no seio da monarquia britânica moderna. No ano seguinte a Speaking of Spain, Elliott publicou Scots and Catalans (2018), que discutiu muitas das questões levantadas pelo livro em questão.
Nos quatro primeiros capítulos, Feros aborda a relação entre nação, raça e pátria nos séculos XVI & XVII. O contexto inicial é o da Espanha de Isabel e Fernando – marcada pela conquista de Granada, pela expulsão dos Judeus e pelo início da exploração colonial – havendo um impulso para a criação político-discursiva de uma comunidade monárquica exclusivamente católica. Nesse quadro, eruditos formularam ideias acerca da história e da concepção de Espanha e espanholidade. O sentimento de lealdade ao local de nascimento, ou seja, à pátria (Catalunha, Biscaia, Andaluzia, etc) e a pluralidade jurídica das diversas partes da Monarquia desestabilizavam a ideia de nação como um conjunto unitário de língua, leis e povo (Feros, 2017, p.48). Apesar disso, havia um esforço para pensar o que existia de comum aos espanhóis: constituiu-se a ideia de que estavam ligados pela descendência cristã antiga, cujo patriarca era um dos netos de Noé, Tubal (considerando a narrativa bíblica de que toda humanidade proviria de sua linhagem após o dilúvio). Em uma sociedade em que havia sujeitos recentemente convertidos ao catolicismo, cuja ascendência era judaica e muçulmana, a construção de uma identidade baseada na antiguidade cristã era um fator de exclusão das chamadas linhagens conversas (que não poderiam assumir determinados cargos administrativos e religiosos), portanto criava-se a ideia de uma “pureza de sangue” dos cristãos velhos.
Outro problema em voga nos séculos XVI e XVII está evidenciado no seguinte trecho: “Eram os descendentes de espanhóis, estabelecidos em regiões não-europeias, especialmente nas Américas, espanhóis genuínos?” (Feros, 2017, p.65). O debate, originado desta indagação, girava em torno de alguns eixos centrais: qual o impacto do clima no caráter dos espanhóis nascidos na América [criollos]? Quais eram os efeitos da mistura “sanguínea” entre os descendentes de europeus, os nativos e os africanos na colônia? Nesse sentido, Feros excede a discussão da limpieza de sangre no contexto peninsular, traçando pontes com os territórios do ultramar, enfatizando como a realidade colonial também compôs esse campo problemático.
Os quatro últimos capítulos discutem as relações entre nação, raça e pátria ao longo do século XVIII e início do XIX. Nesse momento, a sociedade hispânica sofreu transformações causadas pela guerra de sucessão do início do século XVIII, levando ao trono a casa Bourbon. Os monarcas dessa dinastia possuíam um projeto de enfraquecimento das instituições regionais, especialmente no que diz respeito às regiões historicamente pertencentes à Coroa de Aragão. Nesse quadro, intelectuais reforçam que a lealdade deveria ser endereçada à pátria comum (Espanha) e não às pátrias locais. Isso indica um movimento tendencial ao longo do século XVIII de coincidência entre o conceito de pátria e nação, uma novidade no campo semântico.
Na Europa, surgiam novas teorias de hierarquização racial, e os espanhóis passavam a ser diretamente questionados sobre a histórica presença de judeus e muçulmanos em seu território, colocando em xeque seu pertencimento à raça “branca”. A visão de decadência do Império Hispânico era muito difundida, por isso os peninsulares formularam discursos de diferenciação entre eles e os criollos, sobre os quais pairava a suspeita de misturas consideradas espúrias com indígenas e africanos escravizados. As bases discursivas da limpieza de sangre, constituída por meio da elisão de hibridações étnicas, são ressignificadas no contexto do “racismo científico” para reforçar hierarquias. Alguns peninsulares apostaram no “melhoramento” das populações nativas e africanas pelo branqueamento, discurso rechaçado, via de regra, pelos criollos, os quais visavam afirmar sua posição social através de uma aparência europeizada – esses debates implicaram fissuras na noção de espanholidade.
O livro fecha com a emergência da Constituição liberal de Cádiz (1812) no contexto pós napoleônico. Nesse momento, houve um direcionamento para a construção de um Estado-nação espanhol que substituiria o sistema imperial de outrora: “A força de ligação entre os habitantes da Monarquia Hispânica deixaria de ser a partilha de uma mesma linhagem ou da mesma raça, e passaria a ser uma paixão compartilhada por sua nação e pátria” (Feros, 2017, p.252). Nesse sentido, houve um esforço para a inclusão dos territórios americanos, entretanto, durante as sessões das cortes, os criollos se sentiram marginalizados pelos peninsulares. Cabe notar a tentativa de integração dos indígenas como cidadãos, o que, segundo o autor, foi feito com o intuito de marcar o sucesso de sua assimilação pelo processo de colonização. Já os descendentes de africanos livres, foram considerados espanhóis, mas não cidadãos de pleno direito (conforme o artigo 22 de Cádiz).
Speaking of Spain é uma leitura altamente recomendada, levando em conta as bem-sucedidas articulações entre a realidade peninsular e colonial. O autor cumpre com seu objetivo de estudar os deslocamentos dos conceitos de nação, raça e pátria entre os séculos XVI e XIX, demostrando sua relação intrínseca com as mudanças político-sociais no Império Hispânico ao longo do tempo.
1No original: “Were the descendants of Spaniards who settled in non-European regions, and specially Americas, genuine Spaniards?”
2No original: “The binding force for inhabitants of the Spanish monarchy would no longer be membership in the same linage or the same race but a shared passion for one’s nation and patria.”
Referências
BALLESTER RODRÍGUEZ, Mateo. La identidad española en la edad moderna (1556-1665): discursos, símbolos y mitos. Madrid: Tecnos, 2010. [ Links ]
CLAVERO, Bartolomé. Institución Política y Derecho: acerca del Concepto Historiográfico de ‘Estado Moderno’. Revista de Estudios Políticos (Nueva Era), n. 19, Enero-Febrero, 1981. [ Links ]
ELIOTT, John. Una Europa de Monarquías Compuestas. In: ELLIOTT, John. España, Europa y El mundo de ultramar [1500-1800]. Madrid: Taurus, 2010. [ Links ]
ELIOTT, John. Scots and Catalans: Union and Disunion. New Haven: Yale University Press, 2018. [ Links ]
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo. Materia de España: cultura política e identidad en la España moderna. Madrid: Marcial Pons, 2007. [ Links ]
FEROS, Antonio. Speaking of Spain: the Evolution of Race and Nation in the Hispanic World. Cambridge: Harvard University Press, 2017. [ Links ]
HERZOG, Tamar. Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America. New Haven: Yale University Press, 2003. [ Links ]
VICENS VIVES, Jaume. A estrutura administrativa e estadual nos séculos XVI e XVII (Extraído de XIe Congrès des Sciences Historiques, 1960. Rapports IV: Histoire Moderne, Stockhom, Almqvisq & Wiskell, 1960, p.1-24). In: HESPANHA, Antonio Manuel (Org.). Poder e instituições na Europa do antigo regime: coletânea de textos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, [1960], 1984. [ Links ]
Julian Abascal Sguizzardi Bilbao – Programa de Pós-Graduação em História Universidade de São Paulo Av. Prof. Lineu Prestes, 338, Cidade Universitária, São Paulo, SP, 05.508-900, Brasil. julianbilbao25@gmail.com.
Detrás de la cortina. El sexo en España (1790-1950) – GUEREÑA (VH)
GUEREÑA, Jean-Louis. Detrás de la cortina. El sexo en España (1790-1950). Madrid: Cátedra, 2018. 630 p. MIRANDA, Marisa. Mirar/tocar/sentir (detrás de la cortina): Una cuestión de historia global de la sexualidade. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 68, Mai./ Ago. 2019.
Mirar/tocar/sentir (detrás de la cortina): Una cuestión de historia global de la sexualidad
Quienes estamos interesados en la(s) historia(s) de la sexualidad(es) nos hemos visto complacidos con la publicación, en 2018, de Detrás de la cortina. El sexo en España (1790-1950). El voluminoso libro, que cuenta con más de 600 páginas constituye, en realidad, una edición española, revisada y actualizada, del texto – también de autoría del catedrático francés, Jean-Louis Guereña – publicado bajo el título Les Espagnols et le sexe, XIXe-XXe siècles (2013). No obstante, en Detrás de la cortina encontramos, además de la cuidadísima traducción del francés de la versión original (realizada por Marisa Guereña Mercier), la incorporación de nuevas fuentes historiográficas que vieron la luz en el lapso 2013-2018 y el abordaje de algunas cuestiones entonces ausentes.
Adentrándonos sobre la temática de esta excelente producción debemos señalar que las indagaciones sobre la historia de la sexualidad constituyen un campo del saber si bien presidido por la mirada foucaultiana, son aquí aggiornadas y ampliadas. Y siendo el poder (en cualquiera de sus formas, y en todas ellas) quien se arroga la definición compulsiva de las categorías que definen y, a la vez, distancian la sexualidad “normal” de la “patológica”; la “legítima” de la “ilegítima”; la “permitida” de la “prohibida”, la disponibilidad de las fuentes constituye un desafío de difícil logro. Así, la obra comentada denota un profuso y minucioso trabajo recopilatorio; advirtiéndose, en todo el recorrido del libro, una presentación lógica coherente con lo prometido en el índice.
A su vez, sagazmente, nos avisa el autor que una historia “social” de la sexualidad debe ser concebida, al mismo tiempo, como una historia “cultural” de la sexualidad (Guereña, 2018, p.40); afirmación digna de elogio y que, a la vez, permite abrir el debate e integrar múltiples problemáticas, posibilitando el acercamiento al actualísimo abordaje de la sexualidad desde una perspectiva de género.
Ahora bien, en los diez capítulos que componen el libro, nos encontramos en su primera parte con una profundización de “El descubrimiento del sexo”, donde Guereña se aboca a la divulgación de la sexualidad “por escrito”. Y, en este marco, se introduce en las tensiones habidas en España en torno al condón, en su doble función de preservativo antivenéreo y de método anticonceptivo.
La segunda parte, titulada “La prostitución, ¿un mal necesario?”, se ocupa del conflictivo tema del reglamentarismo en la prostitución. La purulencia del enfrentamiento entre reglamentarismo y abolicionismo ha sido leída para España a partir de señalar el espacio de sociabilidad y ocio que involucraba al burdel. Desde esa perspectiva, se ocupa de la recepción del abolicionismo, en particular a partir de las ideas de Josephine Butler. Una recepción tortuosa puesto que, siguiendo a la malograda intelectual española Hildegart Rodríguez (también trabajada en Detrás…), el abolicionismo era censurado en su país por creerse que “se lanzarían a la calle irremediablemente centenares de prostitutas” (Hildegart, 1933, p.48).
La tercera parte del libro permite apreciar una particular síntesis entre la expertisse historiográfica del autor y su incansable búsqueda de fuentes inéditas. En efecto, si bien es imponente la valía de todos los recursos aquí utilizados, sean editos o inéditos, cabe señalar las enormes dificultades para hallarlas, atento a que, muchas de ellas fueron, o bien publicaciones prohibidas por la censura inquisitorial (capítulo 6) o bien producciones eróticas clandestinas (capítulo 7). Se ahonda, además, sobre cierta “democratización” del acceso al erotismo y la pornografía, en la España de los años veinte y treinta del siglo XX. Esta parte concluye con interesantísimas exhumaciones vinculadas al erotismo gráfico y sus mercados de imágenes, sin perder de vista la tradicional consideración de la erótica del cuerpo femenino como objeto estético.
El epílogo, que, en realidad, bien podría ser considerado un capítulo más, visibiliza al sexo en cuanto objeto de debate, valiéndose para esto de desgranar una polémica habida en 1933 entre el húngaro Oliver Brachfeld y el español Gregorio Marañón respecto a las teorías sexuales de este último, en especial respecto a los estados intersexuales. Así, Guereña, analiza el volumen publicado durante ese año titulado por Brachfeld, Polémica contra Marañón, y que tuviera como objetivo destruir el “mito” Marañón (Guereña, 2018), aunque yendo más allá de ello.
La conclusión general se concentra en tres aspectos (“Pensar la sexualidad en la historia”; “¿Culturas sexuales específicas?” y “Fuentes y archivos”). En ella queda resumida una idea sobre la cual no cabe sino aplaudir: la concepción de una historia de las sexualidades integrada en un “conjunto de contextos ideológicos, políticos, sociales y culturales en donde se sitúa y cobra todo su significado” (Guereña, 2018, p.577); aun cuando nuestro hispanista tiene bien en claro las dificultades que se deben afrontar para lograrlo.
Un frondoso y atinado aparato erudito que refuerza las afirmaciones del autor denota, una vez más, la rigurosidad metodológica a la que nos tiene acostumbrados Guereña. El ítem denominado “Orientaciones bibliográficas”, incluye menciones de suma utilidad tanto para investigadores expertos en la temática como para nóveles lectores interesados en ella.
En definitiva, Detrás de la cortina. El sexo en España (1790-1950) constituye, pues, otro libro en extremo recomendable del prolífico historiador especializado en cuestiones vinculadas a la sexualidad en España, cuya producción bibliográfica es imponente. Por tan sólo mencionar una, es editor de La sexualidad en la España contemporánea (1808-1950) (Guereña, 2011), libro sobre el que también hemos tenido el placer de realizar una reseña (Miranda, 2014).
Para finalizar, debemos advertir que esta obra excede el marco de una investigación situada. En efecto, el carácter universal de la problemática y la perspectiva desde donde es abordada, invitan a reflexionar sobre un asunto medular en la materia: la gestión pública de las privadísimas cuestiones de alcoba. O, lo que es lo mismo, la intrusión del (bio) poder en la sexualidad.
Referências
GUEREÑA, Jean Louis (ed.). La sexualidad en la España contemporánea (1808-1950). Cádiz: Universidad de Cádiz, 2011. [ Links ]
GUEREÑA, Jean Louis. Les Espagnols et le sexe, XIXe-XXe siècles. Rennes: Universidad de Rennes, 2013. [ Links ]
HILDEGART. Venus ante el derecho. Madrid: Castro, 1933. [ Links ]
MIRANDA, Marisa. Hacia una historia global de la sexualidad en España. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, vol. 21, n. 1, p.349-352, 2014. [ Links ]
Marisa Miranda – Instituto de Cultura Jurídica Universidad Nacional de la Plata/ CONICET 48 Nº 582, 3º piso, La Plata, 1.900, Argentina mmiranda2804@gmail.com.
Salvador da Bahia: Interações entre América e África (séculos XVI-XIX) – RAGGI et. al. (VH)
RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta. Salvador da Bahia: Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. 285 p. DOMINGUES, Cândido. Uma baía de histórias: novos olhares sobre Salvador e suas conexões atlânticas. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 68, Mai./ Ago. 2019.
A obra Salvador da Bahia: interações entre América e África (séculos XVI-XIX) fecha um ciclo de debates dos projetos de pesquisa intitulados Bahia 16-19 e Uma cidade, vários territórios e muitas culturas,1 financiados pela União Europeia e Capes/Brasil, respectivamente. No âmbito de cada um desses projetos de investigação, historiadores do Brasil, Portugal e França foram chamados a pensar o Império português a partir de uma perspectiva do Atlântico Sul, de modo a integrar África e América numa outra leitura da colonização lusitana. Salvador, capital do território colonial português na América por mais de 200 anos, foi escolhida como centro de interesse investigativo. Por cerca de dois anos a equipe apresentou seus resultados de pesquisa. Os projetos congregaram pesquisadores com investigações em estágios distintos de desenvolvimento, e no seu âmbito foram organizados workshops nas cidades de Salvador, Lisboa e Paris, favorecendo um debate mais ampliado e diverso, o que se reflete nos trabalhos publicados ao final do processo.
Composta por uma introdução e dez artigos, a coletânea é aberta com a observação dos editores sobre a predominância entre as contribuições que compõem o volume de “perspetivas que elegem, maioritariamente, como ponto de partida, geografias extraeuropeias” (Raggi; Figuerôa-Rego; Stumpf, 2017, p.7). Desse modo, a obra dá sequência à Coleção Atlântica, mais nova do gênero historiográfico publicada pela Editora da Universidade Federal da Bahia (EdUFBA), em parceria com o Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa (CHAM).2
Um ponto alto da obra é a multiplicidade de fontes que possibilita perceber diferentes relações entre a história da Cidade do Salvador (antiga Cidade da Bahia), as instituições portuguesas (Universidade de Coimbra ou a Junta da Administração do Tabaco, por exemplo) e sujeitos tão diversos quanto africanos escravizados ou libertos agentes do tráfico, clero, indígenas ou agentes da administração colonial. Em seu texto, Carlos Silva Jr. mostra a importância de fontes orais do atual Benin para entendermos as interações afro-europeias setecentistas. A ligação nominativa, de inspiração da microhistória italiana, mostra-se fundamental ao fazer historiográfico desde abordagens da vida socioeconômica de africanos no Atlântico até as análises das matrículas universitárias, da formação e atuação de bispos no Império. Por sua vez, o estudo de um regimento (ou seu projeto) ou de um tratado armorial mostrou-se de interesse para compreendermos diretrizes do Estado e mentalidades individuais. A estas fontes somam-se tantas outras mais tradicionais ao ofício, como testamento e inventário post-mortem, denúncias e processos inquisitoriais, registros notariais e de batismos, legislação colonial e imperial.
Os textos de Carlos da Silva Jr.3 e Luis Nicolau Pares destacam-se por aproximar os conceitos e métodos da História Social com ideias da História Econômica, de modo a pensar a história do tráfico atlântico de escravos conectado com demandas internacionais da economia e da política. A agência africana (a agency de inspiração Thompsoniana) é analisada a partir das possibilidades de africanos (abrindo caminhos para também pensarmos seus descendentes) agirem na engrenagem do capitalismo crescente e de modo integrado ao tráfico de escravos. Se no século XVIII a fundação de Porto Novo é, também, inspirada na busca de melhores preços e fuga de um mercado de alta concorrência (Silva Jr., 2017), no comércio ilegal oitocentista, africanos como Joaquim d’Almeida e Manoel Pinto são representativos de tantos outros que voltaram à África para organizar o comércio negreiro no litoral de modo a dinamizar o embarque e burlar a vigilância inglesa (Pares, 2017).
Ao analisar os “escravos-senhores”, Daniele Souza, também inspirada na História Social, considera o tráfico atlântico como promotor de fenômenos no escravismo brasileiro. Defende que a vigorosa oferta de escravos na Bahia e a possibilidade de fazer encomendas diretamente com marinheiros permitiu a escravos comprar um escravo a preço acessível. Assim como Pares, a autora assevera que a participação africana como “senhores” de escravos ou no comércio era uma exceção do sistema escravista, eram atores protagonistas de excepcionalidades. Como afirma Pares, “uma historiografia que privilegia os africanos enquanto sujeitos autônomos, com capacidade de ascensão social e ação política, não poderia negligenciar, apesar do incômodo moral que supõe” o estudo de situações dessa natureza (Pares, 2017, p.15).
Finalizando a primeira parte, João Figuerôa-Rego e Camila Amaral analisam ações do Estado para o comércio de duas mercadorias de extrema importância para o tráfico transatlântico de escravos: o tabaco e a aguardente (cachaça), respectivamente. Ambos nos chamam a atenção para o envolvimento de agentes do Governo do Império (magistrados e governadores, por exemplo) inseridos em grupos mercantis locais. Figuerôa-Rego mostra, ainda, tentativas da coroa para evitar tais aproximações dos administradores do tabaco na Bahia. A vasta rede político-mercantil das famílias César de Meneses e Lencastro está presente em ambos os textos, ainda que nas entrelinhas.4
A segunda parte da obra, Administração e agentes no espaço americano, tem como foco analisar dispositivos, projetos, instituições e formação clerical. É a parte da obra na qual Europa e América mais se aproximam. Aqui os autores analisam processos desenvolvidos na América, mas dependentes de aprovações ou julgamentos da metrópole. Ou ainda, a formação universitária europeia de agentes que atuariam no Brasil.
Com focos diferentes, Fabricio Lyrio e Maria Leônia C. de Resende discutem a administração dos indígenas envolvendo as igrejas secular e regular e o Estado colonial. Apesar de voltarem sua atenção para o século XVIII brasileiro, mostram que as origens dos problemas relacionados com os governos das comunidades autóctones arrastavam-se desde debates quinhentistas.
Resende destaca a importância de se analisar os discursos da ordenação indígena no mundo hispânico, de tradição mais longeva e inspiradora dos religiosos lusitanos. Lyrio realça a difusa legislação indigenista portuguesa, jamais unificada para o Estado do Brasil. A administração de questões como mão de obra, conflitos, catequese dos indígenas mudavam conforme a Capitania, afirma. Essa realidade levou ao provincial jesuíta (padre encarregado da administração da província), em 1745, a propor ao Rei um regimento que regulamentasse a colonização destes povos naquele Estado, que é, parcialmente, analisado pelo autor. Por sua vez, Leônia Resende mostra que apesar de aprovada a possibilidade canônica para ordenar sacerdotes indígenas, os entraves, muitas vezes pessoais, eram fortes. Aqueles que conseguiram foram ordenados apenas após a expulsão jesuíta e, ainda assim, sua atuação “se restringia à mera função de auxiliar na missionação e, por isso mesmo, não resultou propriamente na consolidação de uma carreira eclesiástica” (Resende, 2017, p.185). Ambos mostram, acima de tudo, a vulnerabilidade jurídica dos povos indígenas, muitas vezes sujeitos aos caprichos dos colonos, oriundos de todos os níveis sociais.
Um desafio da historiografia é perceber o quanto a norma aproxima-se da prática. Ediana Mendes investiga os currículos da Universidade de Coimbra e os registros de matrículas buscando entender a formação possível dos bispos que atuaram no Brasil e o quanto isso seria útil no governo diocesano. O Concílio de Trento é a ponte que aproxima este texto do artigo seguinte, de Jaime Gouveia. Ambos mostram que, a despeito da uma historiografia que contestou a aplicação das normas tridentinas no ultramar, a Coroa procurou cumpri-las tanto na formação dos bispos (Mendes, 2017, p.199) quanto na atuação de “estruturas de vigilância e disciplinamento” do clero (Gouveia, 2017, p.246). Este autor parte da premissa do luso-tropicalismo freyriano para mostrar que uma História Comparada do reino e das colônias indica uma “pandemia luxuriosa” clerical tanto em Portugal quanto no Brasil (Gouveia, 2017, p.245).
Distinto de todos os demais artigos, Miguel M. de Seixas discute “o impacto dos elementos ultramarinos na heráldica portuguesa dos séculos XVI e XVII” (Seixas, 2017, p.251). Se na Europa a Ciência Heráldica (ou Ciência do Brasão) viu-se distante das Universidades, no Brasil nota-se verdadeiro abismo. Encarada como “mera preciosidade de diletantes” e associada à nobreza, aqui e lá, essas características foram fundamentais para esse distanciamento ou, ainda, para considerá-la como uma ciência auxiliar da História (Seixas, 2011, p.27-28). O autor, no entanto, defende que o estudo dos tratados armoriais e das pedras d’armas mostram a consonância da política da coroa com suas conjunturas. Neste aspecto a primeira vez que o brasão da Cidade do Salvador aparece nos tratados portugueses reflete a importância da cidade na Restauração (1640), assim como ocorrera com Goa e Malaca no “século de ouro” da Ásia (Seixas, 2017, p.270).
Organizar uma coletânea é propor-se ao desafio da coesão. Ele pode ser alcançado de distintos modos e intensidades. Esta obra, portanto, não deixa de enfrentar seus percalços. Como ressaltei até aqui, seus textos estão afinados com uma pesquisa de relevo e um debate historiográfico atualizado, sem abandonar os clássicos. Isso por si só já seria um convite à leitura. Destacaria um aspecto a que a obra se propõe e atingiu muito bem seu objetivo: avançar no conhecimento da ação de indígenas e africanos na construção da sociedade colonial. Os artigos que tratam desses agentes históricos mostram que estes estavam bastante atentos ao que se passava na política, economia e religião, e buscaram inserir-se nas brechas que o poder dominante lhes “permitia”. Salvador e suas histórias por vezes não aparecem diretamente no texto, daí um conhecimento prévio de sua capitalidade, das instituições nela instaladas e sua jurisdição a todo o Estado do Brasil. Aos neófitos, recomenda-se atenção redobrada, um simples detalhe pode ligar Salvador aos mais vastos sertões assim como um brasão pode ligá-la diretamente ao rei.
Uma história lusoafroameríndia da Cidade da Bahia! A obra mostra uma Salvador integrada às preocupações e cultura da Era das Invasões Ultramarinas Europeias, mas não só. Amplia e reverbera a atuação dos milhares de povos da África construindo seu mundo, agindo no comércio em busca de sua liberdade. Mostra tantos outros povos ameríndios, em todo o Brasil a suscitar a Igreja Primaz da Bahia a buscar soluções para problema da colonização. E, por fim, realça a importância da Universidade para a construção de agentes políticos de qualquer sociedade.
1O livro que abre esta Coleção é: SOUZA, Evergton Sales; MARQUES, Guida; SILVA, Hugo R. (org.). Salvador da Bahia: retratos de uma cidade atlântica. Salvador/Lisboa: EDUFBA/CHAM, 2016. As seções ocorreram em Salvador (UFBA) e Lisboa (UNL/CHAM). Sobre o projeto BAHIA 16-19 «Salvador da Bahia: American, European, and African forging of a colonial capital city» (PIRSES-GA-2012-318988) ver http://www.cham.fcsh.unl.pt/ext/BAHIA/BAHIA_home.html, acesso em 19/10/2018.
2CHAM é uma unidade de investigação interuniversitária vinculada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e à Universidade dos Açores, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
3Para uma versão ampliada desse artigo cf. SILVA Jr., 2017a, p. 1-41.
4Para uma boa análise desta rede político-mercantil ver GOUVÊA; FRAZÃO; SANTOS, 2004, p. 96-137.
Referências
GOUVÊA, Maria de Fátima Silva; FRAZÃO, Gabriel Almeida; SANTOS, Marília Nogueira dos. Redes de poder e conhecimento na governação do Império Português,1688-1735. Topoi, vol. 5, n. 8, p. 96-137, 2004. [ Links ]
GOUVEIA, Jaime Ricardo. “Bahia de Todos os Santos e de quase todos os pecados”: O luso-tropicalismo e a história comparativa no espaço luso-americano (1640-1750), In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.223-250. [ Links ]
MENDES, Ediana Ferreira. A formação acadêmica dos prelados da América Portuguesa (séc. XVII e XVIII, Bahia, Olinda e Rio de Janeiro). In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.195-222. [ Links ]
PARÉS, Luis Nicolau. Entre Bahia e a Costa da Mina, libertos africanos no tráfico ilegal. In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.13-50. [ Links ]
RESENDE, Maria Leônia Chaves de. Curas de almas nativas: o clero indígena na América Portuguesa (século XVIII). In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.161-194. [ Links ]
SEIXAS, Miguel Metelo de. Heráldica, representação do poder e memória da nação: o armorial autárquico de Inácio de Vilhena Barbosa. Lisboa, Universidade Lusíada Editora, 2011. [ Links ]
SEIXAS, Miguel Metelo de. A representação do ultramar nos armoriais portugueses (séculos XVI-XVIII). In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.251-284. [ Links ]
SILVA Jr., Carlos da. Interações Atlânticas entre Salvador da Bahia e Porto Novo (Costa da Mina) no século XVIII. In: RAGGI, Giuseppina; FIGUEIRÔA-REGO, João; STUMPF, Roberta (Org.). Salvador da Bahia Interações entre América e África (séculos XVI-XIX). Salvador/Lisboa: EdUFBA/CHAM, 2017. p.73-98. [ Links ]
SILVA Jr., Carlos da. Interações atlânticas entre Salvador e Porto Novo (Costa da Mina) no século XVIII. Revista de História, n. 176, p. 1-41, 2017a. [ Links ]
Cândido Domingues – Centro de Humanidades Universidade Nova de Lisboa Avenida de Berna, 26-C, 1069-061, Lisboa, Portugal candido_eugenio@yahoo.com.br.
O velho Marx: uma biografia de seus últimos anos de vida (1881-1883) – MUSTO (VH)
MUSTO, Marcello. O velho Marx: uma biografia de seus últimos anos de vida (1881-1883). São Paulo: Boitempo, 2018. 158 p. BRITO, Leonardo Octavio Belinelli de. Outro olhar sobre Marx. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 67, Jan./ Abr. 2019.
No ano em que são comemorados duzentos anos do nascimento de Karl Marx, é compreensível que a efeméride agite debates políticos e teóricos que envolvam seu legado, bem como o mercado editorial local. Entre seus resultados, está a publicação de O velho Marx, de Marcello Musto, autor ligado à fase mais recente do ambicioso projeto editorial das obras completas de Marx e Friedrich Engels, conhecido como MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe), cuja história é longa e cheia de percalços indissociáveis das desventuras sofridas pelo uso soviético dos pensamentos dos filósofos alemães (Marxhausen, 2014).
Munido pelo aparato documental mobilizado nesse projeto editorial, no qual se destacam os manuscritos/rascunhos e as cartas, frequentemente muito reveladoras, trocadas por Marx com seus correspondentes, o curto livro tem um objetivo restrito, mas nem por isso menor: realizar uma apresentação dos principais acontecimentos da vida pessoal e intelectual de Marx no triênio 1881-1883. Seu principal alvo é a interpretação, rotineira entre seus seguidores, como entre seus críticos, de que os últimos anos do filósofo alemão foram marcados pela confusão de propósitos, fragilidade física e emocional e insegurança teórica. Musto quer nos mostrar justamente o contrário: como Marx, ainda que em condições de saúde frágeis, possuía energia e disposição para perseguir obsessivamente os temas de seu interesse.
Estruturado sob um movimento sempre dúplice, o qual envolve momentos alternados ligados à biografia de Marx com análises da própria evolução de seu pensamento, o livro de Musto conta com quatro capítulos: o primeiro apresenta o estado no qual se encontrava Marx em 1881, ano em que o livro começa sua narrativa; o segundo analisa o debate sobre o destino das comunas agrárias russas e sua relação com o socialismo e a posição de Marx a seu respeito; o terceiro foca na recepção europeia de O capital e o complicado momento familiar pelo qual a família do filósofo alemão passava no segundo semestre de 1881; e o último capítulo expõe a viagem de Marx à Argélia, único momento de sua vida em que saiu do continente europeu, e suas reflexões sobre a situação dos países árabes.
Como se vê, o primeiro mérito do livro de Musto é apresentar os acontecimentos da vida de seu biografado que mesmo o público acadêmico desconhece, como exemplifica o caso da viagem de Marx à Argélia. Nesse plano, vale destacar duas questões delicadas, decisivas para o sucesso do livro, com as quais Musto parece ter se debatido: em primeiro lugar, como selecionar os fatos narrados e articulá-los com uma interpretação a respeito de seus sentidos? Em segundo lugar: como conferir uma narrativa vívida de Marx sem cair numa abordagem excessivamente engrandecedora de sua figura, como se as dificuldades da vida fossem questão menor para espírito tão altivo e brilhante?
No caso da primeira pergunta, Musto teve a ideia inteligente de destacar que o fio vermelho que conecta os empreendimentos intelectuais tardios de Marx – entre os quais se sobressaem, sem dúvida, seu contato com a antropologia por meio da obra de Lewis Morgan e o seu estudo sobre a situação sociopolítica russa – é a recusa do pensamento dogmático, no que Marx contrariava os determinismos variados então em voga. Ao descrever a fusão de Marx com seu gabinete e sua devoção à pesquisa, Musto parece atingir o segundo alvo de seu livro: a noção restrita de “marxismo”, como um conjunto de fórmulas axiomáticas que teve seu primeiro momento de formulação na pena de Karl Kautstky, ele mesmo um tributário das formas de pensar deterministas vigentes no fin de siécle (Haupt, 1979). Com isso, Musto coloca em xeque a construção ideológica mais poderosa das esquerdas do século XX.
E aqui passamos à segunda questão. Em contraste com o procedimento ideológico que alça a figura de Marx à dimensão sobre-humana, o Marx que emerge do livro de Musto não é a figura monolítica, supra-histórica, que os regimes nascidos sob a sua suposta influência pintaram ao longo do século XX. Além de demonstrar como seus pensamentos foram alterados pelas descobertas que realizava, O velho Marx destaca a inserção do filósofo alemão numa rede de militantes e familiares com os quais dividia angústias e alegrias, embora sempre orientado pelas suas preocupações teórico-práticas. Nesse sentido, o esforço do biógrafo não é demonstrar como a dimensão pública das atividades de Marx se sobrepunha à sua vida privada, mas, ao contrário, frisar como sua vida privada e pública se fundiam em uma só – a vida do sujeito Marx – e que, como não poderia deixar de ser, era carregada de contradições, dilemas e escolhas.
Por razões compreensíveis, um livro sintético sobre tema tão complexo traz o risco de algumas limitações. Embora muito bem sucedido, talvez houvesse necessidade de explorar um pouco mais a fundo as descobertas/reformulações teóricas de Marx no período delimitado pela pesquisa. Em que pese observação do autor sobre o fato de esse ser um livro de “biografia intelectual” e indicar a preparação de outro “exclusivamente teórico” (Musto, 2018, p.10), isso não altera a fato de que poderia ter havido discussões teóricas mais profundas no livro atual, especialmente porque, como o próprio autor demonstrou, a biografia de Marx não é separada de suas formulações teóricas.
Pelo seu assunto e pela sua forma expositiva – clara, concisa e livre de jargões -, o livro de Musto certamente interessará aos pesquisadores brasileiros do pensamento de Marx, bem como ao público não acadêmico, mas interessado em discussões políticas. É possível, inclusive, que incomode aqueles que se identifiquem com o “mito Marx” que transcorreu o século XX. Se o fizer, o livro terá cumprido seu objetivo (Musto, 2018, p.11). É que Musto apresenta um caminho para outro Marx, talvez um Marx do século XXI, mais aberto, mais plural e, quem sabe, ainda mais poderoso. Um Marx, portanto, em construção.
Referências
HAPUT, George. Marx e o marxismo. In: HOBSBAWN, Eric (org). História do marxismo (vol.1 – O marxismo no tempo de Marx). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. [ Links ]
MARXHAUSEN, Thomas. História crítica das Obras completas de Marx e Engels (MEGA). Crítica Marxista, Campinas, n.39, p.95-124, 2014. [ Links ]
MUSTO, Marcello. O velho Marx – uma biografia de seus últimos anos de vida (1881-1883). São Paulo: Boitempo, 2018. [ Links ]
Leonardo Octavio Belinelli de Brito – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Universidade de São Paulo, Avenida Professor Luciano Gualberto, 315, São Paulo, SP, 05.508-900, Brasil. belinelli.leonardo@gmail.com.
Entangled Empires: the Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830 – CAÑIZARES-ESGUERRA (VH)
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Entangled Empires: the Anglo-Iberian Atlantic, 1500-1830. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2018. 331 p. KALIL, Luis Guilherme. A Península e a Ilha: Ibéricos e ingleses no Atlântico dos séculos XVI ao XIX. Varia História. Belo Horizonte, v. 35, no. 67, Jan./ Abr. 2019.
Em sua investigação sobre os primeiros exploradores europeus do território norte-americano, Tony Horwitz (2010, p.16) afirma haver um “século perdido”, que iria de 1492 até 1620, com o desembarque do Mayflower. O vazio apontado pelo jornalista é ilustrado através da entrevista com um guarda-florestal de Plymouth, frequentemente questionado por turistas se este rochedo seria o local onde Colombo teria desembarcado no Novo Mundo.
Esta curiosa confusão de datas e personagens se relaciona com questões mais amplas acerca do passado colonial americano e dos impérios construídos por ingleses e ibéricos durante a Modernidade. A visão de uma experiência inglesa na América como algo único e isolado do restante do continente possui uma longa e variada trajetória marcada por aspectos como as rivalidades imperiais e os embates entre católicos e protestantes no período. Esse processo ganha força nos Estados Unidos independente através dos esforços de construção de um passado nacional que encontra nos puritanos ingleses o ponto de partida para o Destino Manifesto da nação. Já no século XX, essa perspectiva fomenta uma abordagem – há muito criticada pelos historiadores, mas ainda atraente em sua tipologia simplista, dicotômica e determinista – que identifica na América a existência de dois modelos opostos de colonização: exploração ou povoamento.
Ao longo de sua carreira, Jorge Cañizares-Esguerra vem dedicando grandes esforços na tentativa de negar o isolamento e historicizar a construção deste antagonismo que silencia as conexões, enfatizando que a trajetória do Império inglês – e, mais amplamente, da própria Modernidade – só seria compreensível se a experiência ibérica fosse colocada em primeiro plano. Nesse sentido, o autor enfatizou em obras anteriores o papel central do Império espanhol e de suas colônias americanas em alguns dos principais debates epistemológicos do século XVIII (2001), os vários pontos em comum entre conquistadores hispânicos e religiosos puritanos (2006) e a “dramática influência” das ideias, políticas e ações ibéricas nas colônias ultramarinas inglesas, marcadas pela inveja em relação à Espanha (Cañizares-Esguerra; Dixon, 2017). Em todos os casos, há um questionamento direto em relação aos recortes nacionais e imperiais e também às perspectivas tradicionais de Modernidade e de História Atlântica, que deixariam de lado a complexidade e a riqueza das trajetórias de pessoas, bens, ideias e escritos. Como alternativa, o historiador, em conjunto com outros pesquisadores (Gould, 2007), propõe a perspectiva de “Impérios Emaranhados” (2012), cujas trajetórias seriam impossíveis de serem compreendidas separadamente.
O presente livro é mais uma contribuição nessa direção. Resultado de um encontro organizado por Cañizares-Esguerra e seus orientandos na Universidade do Texas, em 2014, Entangled Empires visa, através de seus doze artigos, reforçar as críticas às abordagens nacionais ou imperiais através da análise de uma ampla gama de temas, documentos, personagens e regiões que se estendem do século XVI ao início do XIX. A ideia de um esforço conjunto em defesa da perspectiva de Impérios Emaranhados fica visível através não apenas de referências conceituais e bibliográficas comuns, mas também pelas recorrentes menções nos artigos a outros textos do mesmo livro, o que reforça o diálogo entre eles e a unidade da obra, permitindo conexões que escapam aos temas específicos de cada um dos autores.
Como exemplo, podemos citar os estudos de Mark Sheaves (Cap. 1) e de Christopher Heaney (Cap. 4), que destacam a fragilidade das identificações nacionais em relação a determinadas fontes históricas e personagens. No primeiro caso, o autor persegue a trajetória de ingleses como um comerciante e escritor que viveu em terras espanholas denominado nos documentos do período tanto como Pedro Sánchez quanto como Henry Hawks, a depender de seu local de publicação. Já Heaney analisa a tradução e adaptação para o inglês feita por Richard Eden de trechos das Décadas de Pedro Mártir de Anglería, identificando a influência da Utopia de Thomas More (que, por sua vez, foi influenciado pelas cartas de Américo Vespúcio) e a tentativa de, através dos escritos, inspirar os ingleses em direção ao Novo Mundo.
Outros capítulos ressaltam a atuação de grupos que transitavam entre a península, a ilha e o mundo atlântico. É o caso do artigo de Michael Guasco (Cap. 2), para quem os primeiros contatos dos ingleses com os africanos teriam sido pautados pela experiência ibérica anterior, da análise de Holly Snider (Cap. 5) a respeito dos judeus sefaraditas e de Christopher Schmidt-Nowara (Cap. 6) sobre a importância de alguns irlandeses para a expansão inglesa e suas múltiplas relações com os domínios ibéricos. Destacam-se ainda as contribuições de Bradley Dixon (Cap. 9), para quem a influência ibérica também foi fundamental para se compreender as expectativas e a atuação de determinados grupos indígenas em seus contatos com os ingleses, e de Kristie Flannery (Cap. 12), que altera o eixo de análise do Atlântico para o Pacífico, apontando a multiplicidade de relações existentes entre ingleses, espanhóis e nativos nas Filipinas durante a Guerra dos Sete Anos.
Em muitos capítulos, a referência aos impérios ibéricos presente no título da obra perde força para a abordagem mais específica das relações entre espanhóis e ingleses. Uma exceção é o trabalho de Benjamin Breen (Cap. 3), que destaca o papel central dos portugueses no comércio de “drogas” e na formação de redes comerciais e intelectuais. A decisão de concentrar a atenção no Atlântico anglo-ibérico traz ainda como consequência – algo reconhecido pelo próprio organizador em sua introdução (p. 3) – o pouco espaço dedicado a outros impérios, personagens e eventos fundamentais para a compreensão das questões que envolvem muitos dos artigos desta coletânea, como o caso da Revolução de Santo Domingo e, mais amplamente, da atuação francesa, holandesa, sueca, entre outras, no Novo Mundo, o que não só ampliaria a quantidade de impérios abordados, mas também aprofundaria o emaranhado entre eles.
Para além das possibilidades de ampliação do escopo de análise, que abrem espaço para outros esforços coletivos de pesquisa no futuro, Entangled Empires é uma importante contribuição no já longevo esforço de problematização do conceito de Império. Após percorrermos as trajetórias dos textos, produtos e personagens além dos debates intelectuais, negociações políticas e conflitos armados analisados pelos autores que participam desta coletânea, torna-se cada vez mais difícil identificarmos as especificidades e os limites há muito identificados entre os impérios construídos pelos ibéricos e ingleses.
1É interessante observarmos que a produção de obras coletivas em torno de uma proposta de análise – algo ainda raro dentro da historiografia brasileira – é muito comum nos Estados Unidos. Apenas como exemplo, limitando-nos a livros que alcançaram grande repercussão dentro das pesquisas sobre o continente americano durante o período colonial, podemos citar obras como Negotiated Empires (2002) e Indian Conquistadors (2007).
Referências
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. How to Write the History of the New World: Histories, Epistemologies, and Identities in the Eighteenth-Century Atlantic World. Stanford: Stanford University Press, 2001. [ Links ]
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Puritan Conquistadors: Iberianizing the Atlantic, 1550-1700. Stanford: Stanford University Press, 2006. [ Links ]
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge. Histórias emaranhadas: historiografias de fronteira em novas roupagens? In: FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira (org.). História da América: historiografia e interpretações. Ouro Preto: EDUFOP, 2012, p.14-39. [ Links ]
CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; DIXON, Bradley J. “O lapso do rei Henrique VII”: inveja imperial e a formação da América Britânica. In: CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira; BOHN MARTINS, Maria Cristina (orgs.). As Américas na Primeira Modernidade. Curitiba: Prismas, 2017, p. 205-243. [ Links ]
DANIELS, Christine; KENNEDY, Michael V. Negotiated Empires: Centers and Peripheries in the Americas, 1500-1820. New York; London: Routledge, 2002. [ Links ]
GOULD, Eliga H. Entangled Histories, Entangled Worlds: The English-Speaking Atlantic as a Spanish Periphery. American Historical Review, vol. 112, n. 3, p.764-786, 2007. [ Links ]
HORWITZ, Tony. Uma longa e estranha viagem: rotas dos exploradores norte-americanos. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. [ Links ]
MATTHEW, Laura; OUDIJK, Michel. Indian Conquistadors: Indigenous Allies in the Conquest of Mesoamerica. Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2007 [ Links ]
Luis Guilherme Kalil – Departamento de História, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Av. Governador Roberto Silveira, s/n, Nova Iguaçu, RJ, 26.020-740, Brasil. lgkalil@yahoo.com.br.
Frei Betto, biografia – FREIRE; SYDOW (VH)
FREIRE, Américo; SYDOW, Evanize. Frei Betto, biografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 448 p. BOHOSLAVSKY, Ernesto. Frei Betto, uma vida entre a Igreja e a política. Varia História. Belo Horizonte, v. 34, no. 66, Set./ Dez. 2018.
O recente livro de Freire e Sydow é uma contribuição extremamente valiosa para a compreensão de alguns fenômenos políticos do último meio século do Brasil. A biografia nos permite perceber a profunda interligação entre as atividades intelectuais e pastorais e as práticas políticas de Frei Betto, desde meados da década de 1960 até hoje. Frei Betto parece ter estado presente sempre que algo novo aconteceu na política brasileira: ele foi a ponte entre a Igreja paulistana e o líder guerrilheiro clandestino Carlos Marighella no final dos anos 60, tendo passado quatro anos na prisão durante a ditadura por causa dessas tarefas; participou das comunidades eclesiais de base em vários estados depois de sair da cadeia; morou em uma favela em Vitória; fez parte das greves dos metalúrgicos do ABC em 1980; posteriormente, permaneceu próximo ao Partido dos Trabalhadores (PT) e a Lula e, finalmente, acabou envolvido na execução do Programa ‘Fome Zero’ nos governos do PT. Enquanto fazia tudo isso, tornava-se uma das figuras intelectuais brasileiras mais lidas e reconhecidas fora do Brasil, juntamente com Leonardo Boff e Paulo Freire, com os quais teve inúmeros contatos e intercâmbios e compartilhava o pertencimento à galáxia do catolicismo brasileiro em diálogo com tradições marxistas e críticas.
A primeira parte da biografia é organizada de acordo com uma rota cronológica, que começa com referências aos avós do frade e termina com suas últimas iniciativas políticas e literárias na segunda década do século XXI. A segunda metade do livro, contém capítulos temáticos: sobre a participação na imprensa, sua produção literária, suas amizades e sua vida cotidiana atual. Uma interessante seleção de fotografias nos permite ver algumas das trajetórias e ligações de Betto dentro e fora do Brasil e dentro e fora da Igreja Católica. O trabalho baseia-se na consulta da ampla produção intelectual e política do biografado, cartas pessoais, documentação jornalística e jurídica e, claro, dezenas de testemunhos recolhidos no Brasil, Argentina, Cuba, França e Nicarágua, produzidos por homens e mulheres que tiveram ligações com o dominicano em suas numerosas iniciativas políticas, eclesiásticas e educacionais. Nesse sentido, o livro oferece pistas para uma reconstrução das redes editoriais, jornalísticas, políticas e religiosas (principalmente latino-americanas) nas quais participou Frei Betto desde finais dos anos 60.
Trata-se de um livro explicitamente favorável a Frei Betto: os entrevistados são unanimemente solidários, coincidentes na avaliação e nas memórias sobre o biografado. Isso impede que o leitor perceba as dissidências interpretativas que possam existir sobre Frei Betto, suas práticas políticas e seu nível de participação e envolvimento políticos (com a exceção do capítulo 20, que inclui as críticas e amarguras geradas por sua saída do primeiro governo Lula, em 2004, e a publicação do livro A mosca azul, em 2006). Essa impressão é confirmada pelo fato de que o prefácio do livro foi escrito por Fidel Castro, explicitamente amigo do frade: em 1985, como resultado de longas conversas gravadas em Havanna, Frei Betto publicou o livro Fidel e a Religião, que fazia parte da longa lista de seus esforços feitos para aproximar as posições teóricas e organizacionais do marxismo e do catolicismo (Betto, 1985). Talvez uma consulta a ocasionais detratores políticos, sindicais ou dentro da Igreja teria contribuído para detectar ou destacar algumas facetas ou avaliações mais críticas ou negativas sobre sua trajetória. A figura de Frei Betto torna-se neste livro, então, passível de leituras apologéticas. Em parte, isso é o resultado também da relevância do próprio biografado neste projeto editorial, no qual teve um envolvimento entusiasmado desde o início.
Os autores mostram vários elementos da vida econômica e social da família do frade que tiveram um papel crucial na trajetória de Frei Betto: um tio general do Exército e um pai juiz ajudaram a evitar a tortura física que sofreram outros clérigos sob o AI-5; pertencer a altos estratos profissionais da sociedade mineira foi fundamental para sua formação intelectual e para a posse de recursos retóricos que ajudaram construir uma carreira muito bem sucedida no mercado literário no Brasil. Vale considerar, por exemplo, que os próprios autores agradecem à agente literária de Betto (Freire; Sydow, 2016, p.405). Quantos autores da esquerda e frades têm um “agente literário”? Isto não é para apontar essas questões como se fossem estigmas, mas porque fatores como a estrutura da Igreja, do campo literário ou a distribuição desigual de bens simbólicos e materiais ao longo de linhas étnicas, de gênero e regionais no século XX no Brasil contribuem muito para uma compreensão mais precisa da impressionante carreira de Frei Betto. Isso ajudaria a compensar a importância que os autores atribuem a fatores mais individuais e contingentes, como as enormes virtudes pessoais do sujeito biografado.
Este livro será de enorme interesse para um público não especializado, interessado em conhecer os elementos centrais da evolução histórica do Brasil desde a ditadura até o presente. Aqueles que desejam conhecer mais a radicalização dos católicos nos anos 60 vão encontrar chaves sobre o rapidíssimo processo pelo qual muitos jovens passaram da Juventude Estudantil Católica para a resistência armada. Mas também vão achar pistas sobre os movimentos populares nos anos 70 e as ligações com a Teologia da Libertação e com projetos educativos radicais. Muitas das características da política durante o começo da Nova República nos anos 80 e da política pública dos governos do PT são mais bem compreendidas a partir desta biografia, que consegue mostrar que Frei Betto foi uma figura animada, inteligente e criativa, não escapando nunca ao engajamento em relação aos problemas de seu tempo.
Referências
FREIRE, Américo; SYDOW, Evanize. Frei Betto, biografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2016. [ Links ]
BETTO, Frei. Fidel e a religião. São Paulo: Brasiliense, 1985. [ Links ]
Ernesto Bohoslavsky – Universidad Nacional de General Sarmiento, Oficina 5111, J. M. Gutiérrez 1150, (1613) Los Polvorines, Província de Buenos Aires, Argentina. ebohosla@ungs.edu.ar.
Marcello Caetano, uma biografia (1906-1980) – MARTINHO (VH)
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. Marcello Caetano, uma biografia (1906-1980). Lisboa: Objectiva, 2016. 589 p. GONÇALVES, Leandro Pereira. Marcello Caetano, uma biografia dos trópicos. Varia História. Belo Horizonte, v. 34, no. 66, Set./ Dez. 2018.
“Sei que estás em festa, pá
Fico contente
E enquanto estou ausente
Guarda um cravo para mim”
(Chico Buarque, “Tanto Mar”, versão I, 1974)
Os versos da canção de Chico Buarque, Tanto mar, foram entoados e intensificados, criando uma unidade entre Brasil e Portugal a partir dos desdobramentos de 25 de abril de 1974, quando, com a Revolução dos Cravos, ocorreu o processo de consolidação da democracia e a derrocada do Estado Novo português. Esse momento marcou o deslocamento para o exílio do último representante do regime, Marcello Caetano, que inspirado ou não em Chico, expressou: “mas entre nós está tanto mar…”, ao referenciar a nova vida na Cidade Maravilhosa, onde permaneceu até sua morte, em 1980.
A relação entre os dois países não é ocasional, não apenas com Chico Buarque ou mesmo Marcello Caetano, mas também com Francisco Carlos Palomanes Martinho, autor da mais recente biografia do líder português. O professor luso-brasileiro, que é livre-docente do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, autor de diversos estudos sobre Portugal Contemporâneo,1 desenvolve uma reflexão sobre a vida de Marcello Caetano em vários níveis, abordando o sentido do personagem em sua totalidade, desde aspectos do cotidiano, do âmbito privado e familiar, até momentos de sua trajetória política, acadêmica e intelectual. Além disso, traz informações sobre o exílio, fase de grande contribuição historiográfica, pois o autor utiliza uma série de documentos que os colegas investigadores portugueses não alcançaram em outros trabalhos, devido ao depósito em acervos brasileiros. Há de ressaltar a quantidade significativa de materiais coletados em arquivos portugueses, estabelecendo, portanto, uma produção empírica sólida e de relevância.
O prefácio, escrito por António Costa Pinto – que ao lado de Angela de Castro Gomes, representam as principais influências historiográficas do autor -, mapeia a obra como a terceira “grande biografia” de Caetano publicada em poucos anos, expressando a relevância da investigação. Talvez o único ponto possível de reflexão mais aprofundada sejam as ausências das biografias antecessoras como elementos analíticos, mas há a compreensão do autor em optar por não utilizá-las, buscando uma interpretação sem balizas anteriores.2
A biografia, um gênero cada vez mais abordado na academia, é cercada de aspectos metodológicos e teóricos que o autor não se furtou quando analisou e refletiu de forma conceitual elementos centrados sobre a memória do personagem, ainda mais em torno de um líder que teve a “ingrata” missão de ser o “número dois” da ditadura, sucedendo a liderança consolidada em torno da imagem de António de Oliveira Salazar.
Marcello Caetano foi político, professor de Direito e o último presidente do Conselho de Ministros do Estado Novo, entre 1968 e 1974. Na área acadêmica, atuou na Universidade de Lisboa, tendo uma carreira docente de extrema relevância para a consolidação das doutrinas corporativistas na História do Direito. Na juventude, foi militante do movimento monárquico, fazendo parte do Integralismo Lusitano. Nos anos 1930, foi uma das peças-chave do regime salazarista no âmbito do Estado Novo, inclusive participando da redação da Constituição de 1933. Apesar de divergências políticas com Salazar, devido ao caráter reformista de suas propostas, manteve-se ativo no governo, o que contribuiu para a sua ascensão em 1968, momento em que António de Oliveira Salazar foi afastado por motivo de doença. Um governo reformista em um contexto de instabilidade gerou a derrubada do Estado Novo e do governo de Marcello Caetano com a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, sendo exilado no Brasil, onde se adaptou bem na sociedade e desenvolveu atividades acadêmicas na Universidade Gama Filho, ocupando o cargo de diretor. Mesmo não tendo uma ação ativa na política, Caetano vivia em um país autoritário, ou seja, um espaço propício para o desenvolvimento de seus pensamentos e suas práticas políticas e intelectuais.
Um dos aspectos de maior relevância da produção de Francisco Martinho é a destreza do autor em criar um texto acadêmico que, ao mesmo tempo, fosse compatível com o grande público, não perdendo conceitos e equilibrando elementos aos leitores dos dois países. Com o impacto editorial, a biografia ganhou uma versão em língua inglesa e brevemente estará circulando na terra do exílio de Marcello Caetano (Martinho, 2018).
A obra é composta de uma produção linear da vida do líder português, contribuindo para o entendimento dos vários aspectos do biografado, principalmente em relação a um elemento de extrema relevância: o uso intelectual e acadêmico com uma finalidade política, demonstrando que a vida de Caetano não está restringida ao período de 1968 a 1974, momento que esteve na Presidência do Conselho de Ministros.
A biografia é composta por dez capítulos, e após o primeiro capítulo memorialístico sobre o Estado Novo, o autor dedica reflexões em relação ao contexto privado, focando a formação de Marcello Caetano, que nasceu em Lisboa no dia 17 de agosto de 1906 e presenciou todas as transformações políticas do século XX, sendo, desde jovem, quando estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, militante católico, monárquico e democrata-cristão conservador.
O livro segue uma estrutura cronológica, tendo o eixo político como base central a relação analítica. O terceiro capítulo apresenta a maturidade do biografado, quando assumiu a Mocidade Portuguesa, assunto do quarto capítulo. Devido às divergências entre Salazar e Caetano, o líder português o nomeia ministro das Colônias, período abordado no quinto capítulo. O capítulo sexto tem como ponto central o retorno de Marcello Caetano para o interior do Estado Novo, quando assumiu a Comissão Executiva da União Nacional e a Presidência da Câmara Corporativa, alcançando assim notório reconhecimento político. Sem abandonar suas atividades acadêmicas e intelectuais, conforme mostra o capítulo sete, quando assume a reitoria da Universidade de Lisboa, Caetano se destaca na política nacional com cargos no Executivo do Estado Novo, o que o faz assumir a função de ser o sucessor de Salazar, como exposto no capítulo oito. Com grandes dificuldades de dar sequência ao governo anterior, a queda do marcellismo com todas suas repercussões é o tema do capítulo nove. O exílio no Brasil é apresentado no último capítulo para concluir essa importante obra biográfica.
Trata-se de um líder político de expressão do século XX com características peculiares em torno de uma ótica católica e corporativista que passou a ser um dos braços centrais do Estado Novo, sendo um homem do Estado que possuía uma via acadêmica ativa com uma rede de intelectuais, o que propiciou uma vida (não muito intensa) no Brasil, mas que encontrou nos trópicos, no contexto ditatorial, um porto seguro para os últimos anos de sua vida.
1 MARTINHO, 2002; MARTINHO; COSTA PINTO, 2007; MARTINHO; COSTA PINTO, 2016.
2Refere-se aos estudos de: CASTILHO, 2012; LEITÃO, 2014.
Referências
CASTILHO, José Manuel Tavares. Marcello Caetano – uma biografia política. Lisboa: Edições 70, 2012. [ Links ]
LEITÃO, Luís Menezes. Marcello Caetano – um destino. Lisboa: Quetzal, 2014. [ Links ]
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. A bem da nação: o sindicalismo português entre a tradição e a modernidade (1933-1945). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. [ Links ]
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. Marcello Caetano, uma biografia (1906-1980). Lisboa: Objectiva, 2016. [ Links ]
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. Marcello Caetano and the Portuguese “New State”. Sussex University Press, 2018. [ Links ]
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes; COSTA PINTO, António (Org.). O corporativismo em português: Estado, política e sociedade no salazarismo e no varguismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. [ Links ]
MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes; COSTA PINTO, António (Org.). A onda corporativa: corporativismo e ditaduras na Europa e na América Latina. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2016. [ Links ]
Leandro Pereira Gonçalves – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Juiz de Fora, Rua José Lourenço Kelmer, Juiz de Fora, MG, 36.036-330, Brasil. leandropgoncalves@gmail.com.
Birders of Africa: History of a Network – JACOBS (VH)
JACOBS, Nancy J. Birders of Africa: History of a Network. New Haven & London: Yale University Press, 2016. 325 p. VELDEN, Felipe Ferreira Vander. História através dos pássaros. Varia História. Belo Horizonte, v. 34, no. 66, Set./ Dez. 2018.
Desde que Robert Delort, aliando a leitura de fontes históricas variadas com os conhecimentos da zoologia, declarou, em 1984, que “os animais têm uma história”, a assim chamada História Ambiental vem paulatinamente deixando sua preocupação clássica com a constituição de paisagens (Cronon, 1983; Schama, 1996) e passando mais e mais a se interessar pelos animais como produtores de história. “History is not just for people anymore”, declara Nancy Jacobs (Jacobs, 2016, p.8) nesta sua incursão pelas trajetórias das relações entre povos e pássaros no continente africano. Retomando a célebre assertiva do antropólogo Claude Lévi-Strauss, Jacobs sustenta que os pássaros são bons para pensar; neste caso, para pensar a história da África e das relações entre populações africanas e estrangeiros, negros e brancos, nas complexas articulações entre ciência, conhecimento local, política e poder, colonialismo e descolonização, raça, nação, trabalho, honra, hierarquia e desigualdade, colaboração e violência. A história da África pode ser escrita, assim, da perspectiva de sua rica avifauna ou, mais precisamente, das milenares interações entre humanos e aves naquele continente, captadas por meio na análise do conhecimento historicamente produzido pelas pessoas sobre os pássaros em solo africano.
É fato que, apesar da centralidade da África na história da América portuguesa e do Brasil, conhecemos pouco do que se passa e do que se passou do outro lado do Atlântico. E, se começamos a saber mais das histórias e das culturas na África subsaariana em distintas disciplinas acadêmicas no país, a natureza africana – e, sobretudo, as relações entre grupos humanos e seres naturais – ainda chega até nós basicamente por meio de imagens estereotipadas e espetacularizadas dos safaris, cujo efeito principal está justamente no apagamento da diversidade e da historicidade das relações entre humanos e não humanos ali (Igoe, 2017). A África, megadiversa em culturas, é também exuberante em pássaros (menos conhecidos do público do que seus icônicos mamíferos), que Jacobs busca historicizar por meio da atenção às atividades dos agentes que ela chama de birders, que traduzimos como “passarinheiros” – todos aqueles que, na história do continente, se interessaram em se aproximar das e seguir as aves, por razões variadas, vernaculares, ornitológicas e recreacionais (Jacobs, 2016, p.9). Descortinar a rede (network) que conecta estes birders aos pássaros e demais agentes não humanos na história antiga e recente da África constitui o objetivo primordial do livro.
Em oito capítulos, divididos em duas partes (a primeira, de caráter mais estrutural, focalizando o período anterior à colonização até o século XIX; a segunda, com foco em trajetórias individuais, centrada na consolidação hegemônica da ornitologia científica no século XX e na emergência do birdwatching como fenômeno global), a autora nos traz uma detalhada análise da África e suas muitas assimetrias – entre negros e brancos, colônia e império, ciência e conhecimento nativo. Mais do que apostar, contudo, numa pétrea oposição entre esses termos, Jacobs argumenta que a história da produção de conhecimento sobre a África é muito mais uma história de colaboração e interpenetração do que uma de (simples) exclusão. Sem negar a violência colonial (inclusive na ciência, fortemente racializada), o livro sugere que o estudo dos saberes sobre as aves africanas pensados como modalidades de cooperação entre conhecimentos, práticas e técnicas africanas e estrangeiras (europeias e norte-americanas) é a forma mais acurada para conhecermos um pouco da trajetória de gente comum que, na África ao sul do Saara (e, com especial foco, nas suas partes meridional e oriental anglófonas), esteve envolvida, de muitas maneiras, com as ricas faunas ornitológicas locais e seu estudo. A metodologia empregada é heteróclita – variando entre arquivos históricos, diários de viajantes, coleções museológicas, textos de estudantes, obras de arte, memórias e entrevistas com “passarinheiros” (profissionais e amadores) africanos – porque apenas assim, defende Jacobs, pode-se escrever a história desses sujeitos menores para os quais as elites olharam, mas sobre os quais pouco escreveram com profundidade (Jacobs, 2016, p.22-23).
Não se trata, o livro, de uma história (natural) ornitológica africana, nem tampouco de uma história da ornitologia em África, do conhecimento a respeito dos pássaros. Poder-se-ia definir a obra de Jacobs como uma reflexão sobre a história da relação entre humanos e aves naquele continente, uma história da história da ornitologia desenvolvida por lá. História que, coordenada desde o século XVI pelo império, narra a trajetória de consolidação da ciência, com o paulatino apagamento dos saberes vernaculares sobre as aves e a crescente hierarquização (sobretudo racializada) dos saberes. Traços desses conhecedores e conhecimentos originais africanos (e dos eventos que os colocaram diante de saberes e poderes europeus), evidentemente, permanecem nas espécies e nos espécimes – muitos nos seus nomes e nos “inert envelop[s] emptied of the living bird” (Jacobs, 2016, p.97). Recuperá-los, nos interstícios entre a zoologia moderna e os vernáculos nativos, constitui uma das tarefas da autora – o que ela faz, nos capítulos 5 a 8, reconstruindo as trajetórias individuais de “passarinheiros” africanos, alguns dos quais tiveram papel crucial no desenvolvimento da ornitologia naquele continente.
Este livro de Nancy Jacobs, assim, constitui-se, por sua novidade e tratamento refinado da temática, em excelente umbral de acesso a todos os interessados na história ambiental em geral, e na história das relações (majoritariamente assimétricas) entre humanos (negros e brancos, cientistas e assistentes) e não humanos (aves) em particular, na África sub-saariana e na ciência. Sua análise, fundada na ideia de acessar a história – do nível estrutural às histórias de vida pessoais – a partir das aves (e das relações entre distintos grupos humanos e a avifauna), permite compreender muito das redes que conectaram a África ao resto do mundo, e produzir algo como uma história africana do ponto de vista das associações nacionais, regionais ou locais com os pássaros. Deve agradar – por sua discussão pormenorizada do que seriam, a primeira vista, questões historiográficas menores – também àqueles que desejam aprofundar-se na micro-história africana, sejam especialistas (nas ciências sociais e nas ciências biológicas), seja o leitor comum – “passarinheiro” ou não – disposto a conhecer mais sobre as savanas e florestas que, densas em pássaros (2355 espécies), nos observam na margem oposta do oceano (Jacobs, 2016, p.239).
Referências
CRONON, William. Changes in the Land: Indians, Colonists, and the Ecology of New England. New York: Hill & Wang, 1983. [ Links ]
DELORT, Robert. Les animaux ont une histoire. Paris: Seuil, 1984. [ Links ]
IGOE, Jim. The Nature of Spectacle: on Images, Money, and Conserving Capitalism. Tucson: The University of Arizona Press, 2017. [ Links ]
JACOBS, Nancy J. Birders of Africa: History of a Network. New Haven & London: Yale University Press, 2016. [ Links ]
SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. [ Links ]
Felipe Ferreira Vander Velden – Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Sociais, Via Washington Luís, Km 235, São Carlos, SP, 13.565-905, Brasil. felipevelden@yahoo.com.br.
Africanos Livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil – MAMIGONIAN (VH)
O tão aguardado livro Africanos Livres: A abolição do tráfico de escravos no Brasil , da historiadora Beatriz Mamigonian, não decepciona. Oferecendo uma nova perspectiva sobre o processo de abolição, o autor enfatiza as experiências e a luta pela liberdade dos africanos escravizados no contexto de negociações de tratados e leis abolicionistas que buscavam acabar com o comércio de escravos no Atlântico. Mamigonian esclarece a conexão entre a história dos africanos escravizados no século XIX; políticas e legislação nacionais relativas à escravidão e ao trabalho livre; e mudanças na política, sociedade, legislação e sistema judicial brasileiro que eventualmente favoreceram a abolição geral da escravidão. Africanos Livresreestrutura assim a narrativa histórica sobre a abolição do comércio de escravos e da escravidão, destacando esforços conservadores para preservar o controle da sociedade sobre o trabalho negro e enfatizando a influência política e cultural dos africanos e seus descendentes na construção da liberdade durante o século XIX.
Os três primeiros capítulos do livro investigam a categoria ‘livre africano’ que surgiu no contexto dos tratados brasileiros e britânicos e a lei de 1831. Mamigonian mostra que nem os tratados que negociaram o fim do tráfico de escravos no Atlântico nem a lei de 1831, que libertou novas chegadas africanas, garantiu a liberdade africana suficientemente. A decisão conservadora de negar cidadania aos africanos; esforços para controlar sua presença e trabalho produtivo no Brasil; ea falta de compromisso político e judicial para fazer cumprir a lei assegurava que os africanos traficados de fatoescravização. Alguns conseguiram defender sua liberdade no tribunal. De um modo mais geral, porém, funcionários e agências governamentais apoiaram os interesses dos comerciantes e proprietários de escravos e evitaram processar os responsáveis pelo tráfico de escravos. Além disso, o trabalho dos africanos que foram libertados pelas autoridades portuárias ou pelo comitê misto brasileiro e britânico que monitorava o comércio ilegal, foi “concedido” a indivíduos ou instituições públicas. Essa prática, semelhante ao sistema de aprendizagem ou servidão contratada de outras sociedades atlânticas, procurou facilitar a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Mas, diferentemente desses sistemas, as concessões brasileiras de mão-de-obra africana raramente impõem ou impõem um limite no tempo de serviço. Como resultado, o Estado brasileiro sacrificou a liberdade dos africanos para favorecer as necessidades dos proprietários de escravos,Mamigonian, 201 , p. 164)
Os capítulos 4 e 5 exploram as condições de trabalho que os africanos livres experimentam. Os beneficiários que tinham o direito de explorar o trabalho dos africanos livres frequentemente os tratavam mal, os ameaçavam com a venda e ignoravam os termos temporários da concessão. A realidade diária dos africanos livres não era, portanto, muito diferente da dos escravos. As condições de vida entre os empregados em obras públicas ou por instituições governamentais eram ainda mais precárias. Forçados a realizar trabalhos perigosos e árduos, muitos morreram antes de poder exigir sua liberdade. Aqui, Mamigonian também examina o contraponto britânico ao sistema brasileiro de subsídios trabalhistas com exemplos de africanos livres resgatados no Brasil por autoridades britânicas e levados, voluntariamente ou não, para trabalhar no Caribe. Suas experiências entre os britânicos, e a sujeição comum ao trabalho forçado sob condições exigentes dificilmente cumpriam a promessa de liberdade. Apesar de sua retórica abolicionista, os britânicos também aderiram ao uso racista do trabalho forçado como instrumento da civilização. Os impérios britânico e brasileiro continuariam a explorar a capacidade produtiva dos africanos para beneficiar economicamente seus súditos brancos.
Nos capítulos 6, 7 e 8, Mamigonian discute a lei Eusébio Queiroz de 1850 e suas conseqüências para libertar africanos e para a continuidade da escravidão. A lei afirmou o firme compromisso do governo e da justiça imperial de acabar com o comércio de escravos no Atlântico. Mas dificilmente questionou a cumplicidade do Estado e da elite com a escravidão criminal de africanos nas duas décadas anteriores (Mamigonian, 2017, p. 284). Eusébio de Queiroz e outros agentes do governo enfatizaram a intolerância judicial ao comércio ilegal de escravos depois de 1850, promovendo o esquecimento público de quaisquer atividades ilícitas anteriores à lei de 1850. Assim, condenaram milhares de africanos a um cativeiro ilegal e reforçaram o apoio do Estado à exploração de escravos. Entre 1854 e 1864, no entanto, os africanos livres continuaram submetendo suas petições de liberdade aos tribunais:Mamigonian, 2017 , p. 322-323). Além disso, suas petições revelaram seus esforços para buscar alguma autonomia, apesar do cativeiro, formando famílias, aprendendo o idioma e tornando-se economicamente ativo por direito próprio. Ironicamente, suas realizações foram usadas no tribunal como prova de que não eram africanos, mas nascidos no Brasil, justificando decisões judiciais que negavam sua liberdade legítima.
Os capítulos finais do Africanos Livres revelam os esforços que o governo fez para prender os africanos livres que tentaram buscar sua liberdade e, inversamente, a luta persistente dos africanos pela emancipação ( Mamigonian, 2017p. 360-361). Mamigonian observa, em particular, a iniciativa de criar uma lista de africanos livres que procuravam proteger os proprietários de escravos daqueles que poderiam tentar questionar a legitimidade de suas reivindicações sobre a propriedade de escravos. Ajudados por abolicionistas, os africanos livres usaram os mesmos registros para argumentar que sua chegada ao Brasil era anterior à abolição do tráfico de escravos no Atlântico. A potencial subversão de tais esforços e a disseminação de noções de liberdade africana perturbaram o estado imperial e as classes proprietárias, que temiam desordem pública e perda de controle sobre as classes trabalhadoras. A vontade política emergente de resolver o problema dos africanos livres fortaleceu os esforços abolicionistas durante os anos finais do século XIX e preparou o terreno para a abolição da escravidão como um todo ( Mamigonian, 2017p. 454)
Beatriz Mamigonian conclui seu livro lembrando aos leitores o ministro Rui Barbosa e a decisão de outro funcionário de queimar listas de escravos e outros documentos relativos à história tardia da escravidão no Brasil. Mais uma vez, procuraram o esquecimento público do passado problemático do Brasil ( Mamigonian, 2017 , p. 454-455). Sua tentativa de resgatar os pecados da nação com fogo promoveu, além disso, uma narrativa histórica sobre a abolição que enfatizava demais as ações da elite política branca e das classes proprietárias. Ao rejeitar essa narrativa e aprofundar a história desse período, Mamigonian recuperou a relevância e a liderança política de outros atores históricos, principalmente africanos.
Referências
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Africanos Livres : a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. [ Links ]
Mariana Dantas – Universidade de Ohio, Departamento de História. Bentley Annex 457, Athens, Ohio, 45.701, Estados Unidos. dantas@ohio.edu.
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Africanos Livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 632 p. DANTAS, Mariana. Africanos Livres: Agentes da Liberdade no Brasil do Século XIX. Varia História. Belo Horizonte, v. 34, no. 65, Mai./ Ago. 2018.
No Oeste, a terra e o céu: a expansão da fronteira agrícola no Brasil central – DUTRA e SILVA (VH)
DUTRA e SILVA, Sandro. No Oeste, a terra e o céu: a expansão da fronteira agrícola no Brasil central. Rio de Janeiro: Mauad X, 2017. 304 p. HEIZER, Alda. Natureza e Política: A ocupação de Mato Grosso de Goiás entre 1930 e 1950. Varia História. Belo Horizonte, v. 34, no. 65, Mai./ Ago. 2018.
No Oeste, a terra e o céu: a expansão da fronteira agrícola no Brasil central tem como objetivo apresentar o processo de ocupação de uma região de floresta tropical, mais conhecida como Mato Grosso de Goiás, a partir da análise das políticas de colonização entre 1930 e 1950.
O texto é bem escrito, distribuído em duas partes, ancorado em documentação textual e iconográfica variada, matéria-prima de rigorosa investigação. Privilegia a reflexão sobre os acontecimentos locais à luz de contextos mais amplos e se traduz numa contribuição efetiva “à internacionalização da História ambiental nas Américas” (Dutra e Silva, 2017, p. 16).
Com prefácio de Stephen Bell e apresentação de Donald Worster, ambos professores de universidades norte-americanas e autores preciosos para os argumentos apresentados, o livro propõe uma reflexão sobre como o mito do oeste em Goiás foi construído antes mesmo de se traduzir numa política governamental de colonização e imigração, proposta durante o Estado Novo (1937-1945).
De início, Sandro Dutra e Silva apresenta ao leitor suas escolhas teóricas bem como a opção feita por inserir suas próprias memórias, reforçando seu interesse pela representação do passado. O impacto causado pela cor do primeiro pôr do sol visto pelo autor, ainda menino, no Planalto Central e, mais tarde, ao revisitá-lo, nas descrições do naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, de forma proustiana, é, no mínimo, instigante para quem inicia a leitura.
Além disso, para o autor, os sentidos que a paisagem do cerrado tiveram sobre ele são hoje muito mais afetivos e expressão de sua identidade goiana de raízes mineiras. É nesse momento que tem início a aventura do leitor, pelos versos de Cora Coralina, pelas descrições do menino de doze anos que olhava o Cerrado pela janela do automóvel do pai e por sua experiência acadêmica, em 2008, ao participar de um encontro da Sociedad Latinoamericana Y Caribeña de Historia Ambiental (Solcha), em Belo Horizonte – para o autor, um divisor de águas em suas pesquisas sobre a expansão da fronteira agrícola (Dutra e Silva, 2017, p. 29).
O livro oferece uma reflexão sobre o Oeste que ultrapassa a categoria de sertão: o Oeste Eldorado no Brasil central que se opõe a uma noção presente na historiografia brasileira sobre sertão como lugar hostil, terra de índios bravios.
Sandro Dutra e Silva, ao trabalhar fontes variadas, apresenta ao leitor elementos sobre o Oeste como “lugar” de promessas de terras livres, férteis e à disposição de homens e mulheres que se dispusessem a trilhar “a marcha para o Oeste”.
Num exercício constante de situar suas preocupações em um quadro teórico mais amplo no seio da história, e da história ambiental, em particular, o autor busca aproximações e distanciamentos com a tese do historiador norte-americano Frederick Jackson Turner (1861-1932) sobre o mito americano do começo absoluto, da identificação da marcha para o Oeste norte-americana, tão caros às discussões sobre fronteiras, mobilidade social e migrações, e que não poderiam estar de fora desse tipo de abordagem. O autor traz para a cena os autores brasileiros que se apropriaram em diferentes momentos da temática da fronteira, das reflexões sobre o homem e o mundo natural.
Ao apresentar o caso do Oeste brasileiro e o conteúdo ocupação e da colonização do Mato Grosso de Goiás, a obra traz suas especificidades: a destruição trazida pela expansão para o Oeste, a colonização de desflorestamento, a criação de projetos de cidades “signos do provisório” e a convivência lado a lado de projetos excludentes, espaços de modernidade e conservação, em análises muito bem sucedidas por meio de fontes documentais e vivência pessoal.
Um exemplo é o da cidade de Goiânia e o seu protagonismo no contexto da “marcha para o Oeste”. A cidade moderna, projetada em 1930, para seguir os passos de Belo Horizonte, sua precursora, mantinha traços da tradição rural, fato que causou estranhamento a Lévi-Strauss em sua visita, em 1937, ao testemunhar a convivência do palácio e os carros de boi num mesmo espaço (Dutra e Silva, 2017, p. 127).
Outro momento importante do livro é quando o autor traz à cena o lugar do povo outsider: “o outro lado do rio das almas”, a cidade estigmatizada, Barranca, como era conhecida. Anápolis, Ceres, sede da Colônia Agrícola de Goiás (CANG) e outros centros importantes “irradiadores das políticas de colonização”, estão presentes e são analisados historicamente.
Os personagens dessas histórias que se entrelaçam são muitos e poderíamos citar dentre eles Bernardo Sayão, que permitiu ao autor reconhecer os códigos através dos quais a história foi mediada (Dutra e Silva, 2017, p. 256).
Foi durante a década de 1940 e início dos anos 50 que o estado de Goiás utilizou uma intensa propaganda sobre migração e colonização bem como participou de parcerias com instituições e governos com a finalidade de atrair colonos, tanto nacionais como estrangeiros, para ocupar o território goiano. Período em que várias investidas de ocupação foram realizadas, como foi o caso dos alemães que, no pós-guerra, se instalaram no Paraná, mas que tiveram Goiás como primeira opção.
O livro chama a atenção para a criação de centros urbanos e analisa a formação das cidades na fronteira do Oeste do Brasil, consideradas núcleos de civilização. Barranca é um exemplo. Contrastes muito bem apresentados, como as imagens do baile da elite local no clube, o teatro e a rua, as imagens de Rialma, são contundentes.
Por fim, Sandro Dutra e Silva apresenta em seu livro questões que se localizam na fronteira de diferentes campos do saber e que estão na ordem do dia, como a destruição florestal e a perda da diversidade biológica.
O autor apresenta mudanças e permanências no tempo: não é essa afinal a tarefa a que se devem dedicar os historiadores?
Referências
DUTRA e SILVA, Sandro. No Oeste, a terra e o céu: a expansão da fronteira agrícola no Brasil central. Rio de Janeiro: Mauad X, 2017. [ Links ]
Alda Heizer – Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rua Jardim Botânico, 1008, Rio de Janeiro, RJ, 22.470-180, Brasil. alda.heizer@gmail.com.
Unidos perderemos: a construção do federalismo republicano brasileiro – VISCARDI (VH)
VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. Unidos perderemos: a construção do federalismo republicano brasileiro. Curitiba: CRV, 2017. 207 p. PINTO, Surama Conde Sá. Arquitetura do novo regime: O Federalismo brasileiro na Primeira República. Varia História. Belo Horizonte, v. 34, no. 65, Mai./ Ago. 2018.
Nas últimas décadas, a historiografia relativa à Primeira República tem sido enriquecida com diversas contribuições. A vitalidade dessa produção tem provocado importantes deslocamentos de interpretação, sobretudo no âmbito da política, permitindo melhor compreensão do federalismo brasileiro. Há três eixos de renovação. Um deles relaciona-se à revisão do papel das chamadas oligarquias dominantes – São Paulo e Minas Gerais. Foram questionadas as ideias de que a hegemonia dessas oligarquias sustentavase na preeminência da economia exportadora cafeeira e a de que a política do café com leite ditaria a orientação do governo federal. O segundo eixo destaca as dinâmicas específicas de diferentes unidades da federação e suas estratégias para ampliarem os seus espaços políticos no contexto de federalismo desigual, através de tentativas de estruturação de eixos alternativos de poder. O terceiro eixo enfatiza questões de representação, competição política, partidos e voto, desenhando um quadro mais complexo da política na Primeira República, diferente da caricatura de um sistema político marcado pela fraude, violência, clientelismo, ausência de direitos e eternização de oligarquias no poder (Ferreira; Pinto, 2017, p.429-437).
Cláudia Viscardi, professora titular da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), é figura presente nesse debate. Autora de textos sobre a história política e social da Primeira República, no livro O Teatro das Oligarquias, defendeu que a estabilidade do modelo político da Primeira República foi garantida pela ausência de alianças monolíticas permanentes, fato que impediu, a um só tempo, que a hegemonia de uns fosse perpetuada e a exclusão de outros fosse definitiva (Viscardi, 2001, p.22).
Unidos Perderemos: a construção do federalismo republicano brasileiro, seu novo livro, é mais uma contribuição da historiadora mineira que acrescenta novas perspectivas sobre o período. Trata-se de uma adaptação da tese elaborada para a cadeira de titular da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Voltado para especialistas e estudantes de graduação, nele Viscardi retoma o tema do federalismo oligárquico para estudar a montagem do regime republicano, no período entre a propaganda republicana e o governo Campos Sales. Sua análise privilegia o âmbito da macropolítica, priorizando atores políticos envolvidos nesse processo, interesses, identidades, pensamentos e atuação. A proposta apresentada articula a perspectiva que compreende o federalismo a partir da lógica de interesses dos estados-atores com a História Intelectual do Político.
O curioso título guarda relação direta com o tema tratado: a construção do projeto republicano na sua principal dimensão: o federalismo. Segundo a autora, esse projeto representava uma ruptura com o passado monárquico, caracterizado por um Estado centralizado em torno do Imperador, e preconizava a descentralização, a autonomia das antigas províncias, optando pelo conflito no lugar do consenso (Viscardi, 2017, p.22).
O conceito de cultura política (Berstein, 1992; Cefai, 2001) é um dos principais referenciais de análise. Ao instrumentalizá-lo, Viscardi prioriza a dimensão do discurso, não enfatizando seus demais componentes, para compreender as mudanças ocorridas no país na virada do século XIX para o XX, quando, segundo a autora, teria se consolidado uma cultura política republicana.
Dividido em cinco capítulos, o livro aborda o movimento republicano em uma de suas dimensões (a dos manifestos da propaganda); a normatização constitucional do novo regime (através da análise comparativa das Constituições estaduais e federal); limites da participação política e da cidadania, tema explorado superficialmente pela autora com base em literatura bastante conhecida; as concepções políticas e a ação de Campos Sales, objeto de análise dos dois últimos capítulos, nos quais figura sua maior contribuição.
São três os principais argumentos defendidos pela autora. O primeiro é o de que a normatização do novo regime articulou os compromissos do movimento republicano com os valores compartilhados por seus autores, que incluíam a desvalorização do povo, uma democracia pouco inclusiva, o falseamento da representação, pela construção de um federalismo desigual, e uma cidadania limitada a poucos homens letrados. O segundo é o de que o federalismo brasileiro foi fundamentado em relação direta com os estados, viabilizando a representação dos interesses privados via intermediação dos chefes locais. O último é o de que a chamada política dos estados de Campos Sales limitou-se a resolver os problemas de sua gestão. Na fórmula adotada no período, que implicou em meios de conviver com as dissidências sem colocar em risco a governabilidade, foram menos importantes as reformas regimentais relativas à última fase de depuração das candidaturas ao Parlamento. Os instrumentos mais efetivos foram a redução dos atores políticos através do voto literário, as limitações impostas à monopolização do poder e o desenho de um mercado político com algum grau de competição (Viscardi, 2017, p.190-191).
Baseada em fontes variadas (manifestos republicanos, as Cartas estaduais e federal, o discurso de campanha eleitoral de Campos Sales e a autobiografia do ex-presidente) e em diferentes metodologias (a prosopografia – superficialmente realizada-, a análise de discursos políticos – amparada em instrumentais da vertente britânica da História dos Conceitos – e o método comparativo), os dados apresentados aproximam-se de muitas das análises de Hilda Sábato sobre a construção da cidadania em países hispano-americanos no século XIX (Sábato, 2001, p.1293, 1297).
A despeito da bibliografia utilizada, o livro apresenta ausências importantes (Holanda, 2009), sobretudo relativas ao movimento republicano, às Constituições estaduais (Ferreira, 1989; 1994), à política no Distrito Federal e às eleições (Pinto, 2011; Souza, 2013). Isso faz com que algumas afirmações feitas já tenham sido objeto de questionamentos, como a ideia de que o prefeito do Distrito Federal possuía poderes discricionários na política carioca (Pinto, 2011). A obra prescinde também de maior sistematização dos dados apresentados.
Da mesma forma, a História Intelectual do Político proposta poderia ter sido enriquecida com a incorporação dos léxicos empregados pela imprensa e por pensadores políticos, pois há evidente defasagem entre as definições de conceitos encontrados nos dicionários (fonte priorizada pela autora) e a dinâmica dos conceitos no embate político. Esses elementos, contudo, não comprometem a iniciativa.
No momento em a República brasileira está prestes a completar 130 anos, Unidos perderemos convida os leitores a repensar os primórdios do regime e a superar esquematismos de longa data difundidos em livros didáticos. Seu mérito é acrescentar novos itens na agenda de estudos sobre a Primeira República.
Referências
BERSTEIN, Serge. L’Historien et la culture politique. Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, n. 35, juil/sep. 1992. [ Links ]
CEFAI, Daniel. Cultures Politiques. Paris: Presses Universitaires de France, 2001. [ Links ]
FERREIRA, Marieta de Moraes (coord.). A República na Velha Província. Rio de Janeiro: Ed. Rio Fundo, 1989. [ Links ]
FERREIRA, Marieta de Moraes. Em Busca da Idade do Ouro: As elites políticas fluminenses na Primeira República. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1994. [ Links ]
FERREIRA, Marieta de Moraes e PINTO, Surama Conde Sá. Estados e oligarquias na Primeira República: um balanço das principais tendências historiográficas. Revista Tempo, Niterói, vol. 23, n. 3, set./dez., 2017. [ Links ]
HOLANDA, Cristina Buarque de. Modos de Representação Política. O experimento da Primeira República. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2009. [ Links ]
SÁBATO, Hilda. On political citizenship in the Nineteenth-century Latin América. The American Historical Review, vol. 106, n. 4, oct., 2001. [ Links ]
SOUZA, Wlaumir Doniset de. Democracia Bandeirante: Distritos eleitorais e eleições no Império e na Primeira República. Jundiaí: Paco Editorial, 2013. [ Links ]
PINTO, Surama Conde Sá. Só para Iniciados: O jogo político na antiga Capital Federal. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Mauad X/ FAPERJ, 2011. [ Links ]
VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. O Teatro das Oligarquias: Uma revisão da política do café com leite. Belo Horizonte: C/Arte, 2001. [ Links ]
Surama Conde Sá Pinto – Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Av. Governador Roberto Silveira, s/n. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, 26.020-740, Brasil. suramaconde@uol.com.br
Partir pour la Grèce – HARTOG (VH)
HARTOG, François. Partir pour la Grèce. Paris: Flammarion, 2015. 286 p. TRABULSI, José Antonio Dabdab. Partir pour la Grèce. Varia História. Belo Horizonte, v. 33, no. 62, Mai./ Ago. 2017.
Na década de 1960, meu querido mestre Pierre Lévêque convidava os franceses a viajar, numa série de guias então muito conhecidos (Partons pour la Sicile; Partons pour la Grèce). E é para uma viagem igualmente interessante, mas de outra natureza, uma verdadeira viagem ao interior da nossa cultura, que nos convida François Hartog. E é um encantamento viajar com ele, nas páginas deste livro.
Trata-se de uma coletânea de textos mais ou menos recentes, ligados pelo interesse permanente do autor pelas relações que a nossa cultura manteve com a Antiguidade. É uma feliz iniciativa, essa de juntar num volume esses escritos de vária natureza (artigos, introduções, prefácios e outros), alguns de difícil acesso, outros de acesso quase confidencial, pois esses textos formam um conjunto coerente e uma reflexão de fundo sobre a questão. Conhecemos a importância do tema para o autor, especialmente em seus livros sobre Le XIXe siècle et l’Histoire. Le cas Fustel de Coulanges (Paris, PUF, 1988), Régimes d’historicité (Paris, Seuil, 2003), Anciens, Modernes, Sauvages (Paris, Galaade, 2005), ou ainda Evidence de l’Histoire (Paris, Editions de l’EHESS), entre outros.
Os escritos diversos aqui reunidos são enquadrados por um prefácio substancial (“La Grèce vient de loin”, pp. 9-48), e por um epílogo (“Vers d’autres départs”, pp. 269-276) que augura e deseja que outras viagens sejam empreendidas. Ao longo dos capítulos, o conjunto de temáticas caras ao autor são tratadas. Destaquemos algumas, como “O duplo destino dos estudos clássicos”, pp. 49-68), onde ele explica os estudos clássicos como “mais e menos do que uma disciplina” (p. 50 sq.), para mergulhar em seguida num questionamento sobre as condições de surgimento da nossa disciplina. Em referência às Sagesses barbares caras a Momigliano, ele nos explica a “endurance du Barbare” (pp. 115-137), um de seus primeiros textos, que testemunha de seu interesse de sempre pelas relações entre Antigos, Modernos, Bárbaros e Selvagens.
Os capítulos 3 a 6 formam um verdadeiro elenco de “partidas para a Grécia”, onde, voltando a Winckelmann, ele faz a revista das abordagens mais importantes ao longo da época contemporânea: a partir da Romênia, com Mircea Eliade (pp. 149-157); a partir de Cambridge, com Moses Finley (pp. 157-162); a partir do “fim da democracia ateniense”, com Claude Mossé (pp. 162-178). Ele examina também uma série de “partidas francesas” para uma Grécia à moda francesa”, senão até para “cidades gregas à francesa”, de Fustel de Coulanges a Emile Durkheim, e de Emile Durkheim a Jean-Pierre Vernant. Ele aí retraça os percursos a partir de uma posição de grande conhecedor dos problemas e da maioria das pessoas envolvidas (o que dá ao texto deste historiador considerado austero um tom afetivo inabitual). É uma das mais belas “aventuras gregas” do nosso século XX, a da antropologia histórica e a da psicologia histórica, com Gernet, Meyerson e Vernant, e também a das relações entre memória e história, com Vidal-Naquet, que é aqui tratada. Na apresentação do livro, tínhamos recebido a promessa de uma investigação sobre o nosso relacionamento com a Grécia, pois “essa herança, durante tanto tempo no coração da cultura europeia, é feita de múltiplas viagens em direção a um objeto feito e refeito ao longo dos séculos. De que significações a Grécia foi sucessivamente portadora, em Roma, na Idade Média, no Renascimento, e desde a Revolução francesa? De que maneiras ela ajuda a definir as identidades culturais ou nacionais, a democracia, a história? E que sentido isso pode ter, ainda hoje, ‘partir para a Grécia’?” (quarta capa). Podemos dizer que a aposta foi ganha com o texto do livro.
O leitor me perdoe, por favor, por não entrar mais no detalhe dos capítulos deste livro impossível de resumir, em sua grande variedade de temáticas. Que ele considere isto mais uma notícia do que uma resenha. O livro, entretanto, apesar de um aspecto um pouco disperso por ser uma coletânea de textos escritos em momentos muito diferentes da vida do autor, possui uma unidade profunda, que é a do pensamento de Hartog. Para os que conhecem bem os livros do autor, sua leitura será um prazer renovado e prolongado; para os que não conhecem seus livros, será uma excelente introdução, que dará certamente vontade de ler todos os outros. Pensando bem, ele é talvez uma espécie de balanço da obra de Hartog; mas tudo o que nós pedimos a ele é que não pare de nos levar em outras viagens.
José Antonio Dabdab Trabulsi – Departamento de História. Universidade Federal de Minas Gerais. Av. Antônio Carlos 6627, Campus Universitário Belo Horizonte, MG, 30.310-770, Brasil. dabdabtrabulsi@fafich.ufmg.br.
A Erradicação do Aedes aegypti: Febre amarela, Fred Soper e saúde pública nas Américas (1918-1968) – MAGALHÃES (VH)
MAGALHÃES, Rodrigo César da Silva. A Erradicação do Aedes aegypti: Febre amarela, Fred Soper e saúde pública nas Américas (1918-1968). Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2016. 420 p. ANAYA, Gabriel Lopes. A Erradicação do Aedes aegypti: Febre amarela, Fred Soper e saúde pública nas Américas (1918-1968). Varia História. Belo Horizonte, v. 33, no. 62, Mai./ Ago. 2017.
O livro de Rodrigo Magalhães tem como foco a Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) entre 1947 e 1968. A narrativa historiciza de maneira bastante articulada como a Campanha Continental foi o resultado de um processo histórico dinâmico, com antecedentes na Campanha Mundial de Erradicação da Febre Amarela da Fundação Rockefeller (FR), iniciada em 1918. Nesse processo, Magalhães aborda uma multiplicidade de condicionantes políticos e científicos no desenvolvimento da Opas, e como um programa de erradicação internacional pioneiro, considerando suas continuidades e descontinuidades históricas, influenciou os rumos da saúde pública internacional ao longo de cinco décadas.
O trabalho é bem sucedido na sua análise de como a Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti se definiu como um dos grandes esforços de cooperação internacional pautando de maneira decisiva a “definição da agenda de saúde internacional do século XX” sendo responsável em grande medida por um estreitamento das relações internacionais que culminou na consolidação de “um processo de cooperação interamericana na área de saúde que perdura até hoje” (p.329). Expondo de maneira habilidosa a própria história do princípio de erradicação no âmbito das relações em saúde pública no contexto internacional, Fred Lowe Soper (diretor do Serviço Cooperativo de Febre Amarela no Brasil em 1930, e posteriormente diretor da Opas a partir de 1947) se destaca como fio condutor da narrativa de Magalhães, enfatizando a confiança desse personagem histórico na erradicação de espécies de mosquitos como solução para doenças como a febre amarela e a malária. O ápice narrativo guiado pela atuação de Soper se dá no capítulo 6: “A ‘Era Soper de Erradicação’ e o apogeu da Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti.”
No percurso de sua narrativa é notável a habilidade de Magalhães em apresentar de maneira clara a diversidade das relações estabelecidas entre pesquisadores e autoridades em saúde pública de uma comunidade internacional em crescimento. Ao longo de pelo menos cinco décadas, são analisados os processos políticos e científicos que favorecem retomada da proposta de erradicação (como o extermínio do mosquito Anopheles gambiae do Brasil em 1940 e o advento do DDT após a Segunda Guerra Mundial) e sua modulação a novos contextos e expansão, com o início da Campanha Continental e consolidação da Opas. Se Fred Soper é uma importante personalidade que sustenta a narrativa de Magalhães (participando dos principais eventos ao longo do recorte temporal desenvolvido), o mesmo está longe de ser retratado como um personagem plano, motivado cegamente por uma postura erradicacionista simplória com motivações imperialistas. Na conturbada década de 1960, quando há uma reinfestação do A. aegypti na América Central e do Sul, concomitantemente ao fracasso da campanha contra esse mosquito nos EUA, Magalhães aponta importantes controvérsias e condicionantes históricos que ajudaram a delinear o fim da Campanha Continental em 1968. É nesse instigante período de inflexão, que sua narrativa mostra o seu ponto alto, na medida em que apresenta Soper como crítico de seu próprio país ao pressionar “ativamente o governo norte-americano a aderir ao programa de erradicação continental, com o qual o país tinha assumido um compromisso formal” (p.289). O incremento na cooperação entre as repúblicas americanas e o papel fundamental da Opas ao final da década de 1950, coloca em evidência a delicada posição dos EUA na sua ausência em implementar as medidas contra o mosquito em seu próprio território – iniciativa tomada apenas em 1964.
A publicação é fruto da dissertação de doutorado chamada: A Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti da OPAS e a Cooperação Internacional em Saúde nas Américas (1918-1968), defendida por Magalhães em 2013 pelo Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. O volume de documentos pesquisados fornecem a base para uma abordagem abrangente e sólida, que maneja com sucesso os desafios narrativos que se apresentam nas tensões das narrativas históricas transnacionais. Entre os arquivos situados no Brasil estão o arquivo da Casa de Oswaldo Cruz (COC) e do Centro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea do Brasil (CPDOC-FGV) ambos no Rio de Janeiro, e o Centro de Memória da Saúde Pública da Universidade de São Paulo. A pesquisa internacional se deu nos EUA, principalmente no Rockefeller Archive Center (Sleepy Hollow – NY) e o National Library of Medicine (Bethesda – MD). De maneira geral, a análise focada na história dos programas de saúde pública e órgãos internacionais apresentados é equilibrada, se encaixando no que pode ser chamado de terceira onda dos estudos históricos relacionados à Fundação Rockefeller, pois considera as nuances de diversos contextos e complexidades situadas das relações transnacionais.
A perspectiva apresentada se coloca especialmente no questionamento da visão puramente imperialista, ou “via de mão única” e observa o forte intercâmbio interamericano proporcionado pelo caso em questão como um complexo entrelaçamento das relações político-científicas que integra o campo da história da saúde internacional. Destaca-se a importância dada às relações entre os países da América Latina para além da “questão da hegemonia de um suposto modelo sanitário norte-americano” (p.323), enriquecendo os sentidos das relações político-científicas no âmbito da saúde internacional. A qualidade da pesquisa e engenhosidade com o manejo das fontes na narrativa fornece uma grande contribuição historiográfica para o campo.
A evidência atual do Aedes aegypti nas políticas de saúde internacional e a necessidade por histórias que ressoem com inquietações do presente tornam tal publicação indispensável. A articulação do conteúdo, fontes e especialmente das questões colocadas acerca do entrelaçamento entre a história das doenças transmitidas por mosquitos e as políticas de saúde pública nas relações internacionais pode parecer demasiado densa para o leitor casual ou sem contato com o tema, porém, com a elucidativa introdução e inteligente divisão dos capítulos, essas dificuldades iniciais tendem a ser minimizadas, favorecendo o percurso do leitor não familiarizado.
Gabriel Lopes Anaya – Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde. Casa de Oswaldo Cruz. Av. Brasil 4365, Rio de Janeiro, RJ, 21.045-900, Brasil. gabriel.lopes.mailbox@gmail.com.
Fama pública: Poder e costume nas Minas setecentistas – ROMEIRO (VH)
SILVEIRA, Marco Antonio. Fama pública: Poder e costume nas Minas setecentistas. São Paulo: Hucitec, 2015. 356 p. ROMEIRO, Adriana. Varia História. Belo Horizonte, v. 33, no. 61, Jan./ Abr. 2017.
Mais de quinze anos depois de sua defesa como tese de doutorado, vem à luz o livro Fama pública: poder costume nas Minas setecentistas, de Marco Antônio Silveira, em cuidadosa edição da Hucitec, prefaciada por João Adolfo Hansen.
Trata-se de um livro original. E por várias razões, a começar pelo investimento maciço num corpus documental tão rico quanto pouco explorado pela historiografia sobre Minas Gerais: os libelos cíveis, depositados no Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência. Em segundo lugar, pela sofisticação de sua abordagem teórico-metodológica, presente também em trabalho anterior do mesmo autor, O universo do indistinto, inegavelmente uma referência obrigatória sobre a sociedade mineira do século XVIII, cujas questões centrais são aqui retomadas e aprofundadas a partir de uma nova perspectiva. E, por fim, pelo olhar arguto com que Silveira formula seu repertório de problemas às fontes.
A arquitetura do livro merece destaque. Já de início, o autor apresenta as referências conceituais que orientam a investigação, expondo ao leitor os fundamentos teóricos sobre os quais constrói o seu argumento. Cada um dos capítulos é dedicado então à análise de um ou mais libelos cíveis, os quais desvelam histórias de vida, conflitos familiares, solidariedades vicinais, enfim, a trama microscópica que compunha o cotidiano das comunidades rurais da capitania, ao longo do século XVIII. Essa trama densa, protagonizada por brancos, negros e mestiços, é a matéria-prima de uma reflexão sólida e instigante sobre a natureza e a dinâmica da sociedade mineira. Ao final de cada capítulo, o autor junta os fios dispersos e alinhava as suas teses, desenhando uma interpretação inovadora sobre a “invenção da sociedade mineira” (p.27).
Do ponto de vista metodológico, a obra alia uma abordagem antropológica a uma perspectiva histórica. Como antropólogo, Silveira se debruça ao rés-do-chão, aproximando as suas lentes do cotidiano das comunidades rurais, com o propósito de sondar as ideias, os valores, as práticas e os comportamentos que estruturavam a vida social. É da antropologia inglesa, particularmente dos trabalhos de Victor W. Turner, que vem a inspiração para a estratégia analítica calcada na “possibilidade de traçar, por meio deles, as estruturas sociais que lhes emprestavam significado” (p.29). Graças ao conceito de drama social, o leitor se vê como o espectador privilegiado de uma cena que se desenrola diante dos seus olhos: a experiência cotidiana de homens e mulheres, extraída da vida real e concreta. Nota-se também a influência do método de descrição densa de Clifford Geertz, sobretudo na ênfase dada à dimensão social dos significados partilhados pelos sujeitos históricos; e do paradigma indiciário de Carlo Ginzburg.
Como historiador, Silveira investiga o impacto das transformações em curso no século XVIII na dinâmica da sociedade mineira, articulando-o ao contexto macroscópico da emergência do mercado capitalista, que solapou os velhos valores e solidariedades, transtornando as sociabilidades tradicionais. É nesse cenário que a sociedade mineira teve de se inventar, elaborando os seus códigos de estratificação, em meio a forças de sedimentação e subversão, do que resultou um universo fluido, convulsionado e instável, permeado por contradições de toda sorte. Contradição entre as diferentes propostas de ordenamentos social, entre o costume e a lei, entre as solidariedades comunitárias e o apego à propriedade privada, entre as sociabilidades e a privacidade burguesa, entre a piedade e a violência das relações mercantis, entre a caridade e o lucro… Contradições que dão lugar a uma sociedade extremamente conflituosa, que Silveira descreve recorrendo a metáforas bélicas, tais como “campos de batalha” e “guerra”, em tudo contrária à imagem de comunidades idílicas e harmoniosas.
Ao leitor atento, não passam despercebidos os ecos das geniais análises de Sérgio Buarque de Holanda sobre a instabilidade congênita do universo social mineiro, que mal conseguia “dissimular a ebulição íntima”, pois que nascido sob a égide do aluvionismo, era “uma estrutura movediça que se desmancha, em partes, e se recompõe continuamente, ao sabor de contingências imprevisíveis (…)” (Holanda,1982, p.259-310) Para Silveira, é no arrivismo que se encontra a origem dessa dinâmica: de negros a brancos, todos buscavam ali a ascensão social, legitimando suas demandas por meio do repertório dos costumes locais, dos valores cristãos como piedade e caridade, do direito formal, num esforço para esgarçar as fronteiras da classificação social.
É de Sérgio Buarque de Holanda também outro conceito-chave do livro: o descrédito do formalismo, ou seja, o embaralhamento dos signos de distinção, típico do processo vertiginoso de ascensão, esvaziada dos padrões europeus de civilização. Homens rudes que o ouro enriquecia, mas não civilizava, transformavam a lógica social do Antigo Regime numa espécie de simulacro banal.
Os libelos cíveis põem a nu esse intrincado e complexo processo de ordenamento social, no qual a cultura jurídica funcionava como mais um instrumento de disputa nas mãos de homens e mulheres empenhados em fazer valer seus direitos, privilégios e benefícios, em meio à fragilidade do Estado, à economia moral comunitária e às exigências da nova ordem econômica. Nas palavras do autor, “manipulando o choque entre formal e informal, homens e mulheres reunidos no buraco negro das obrigações mútuas buscavam remodelar a seu favor as disposições de poder e patrimônio” (p.273).
O livro de Silveira ainda nos coloca diante de uma questão fundamental: será possível falar em colonização, sem levar em consideração os múltiplos sentidos que ela adquiriu no cotidiano de homens e mulheres? Aqui, já não se trata mais de privilegiar modelos teóricos apriorísticos, ou de perseguir a adesão ou a resistência ao projeto colonizador português, mas de reconhecer o peso da dimensão cultural e valorativa dos agentes históricos e sua imensa capacidade de criar sentidos novos. A colonização surge então como experiência – no sentido de E.P. Thompson – que só pode ser entendida à luz das inúmeras dimensões da vida social, num emaranhado em que se confundem “as práticas sociais e os valores, a vida material e as elaborações simbólicas, as instituições e o cotidiano.” (Silveira, 2001, p.985)
Fama pública é, por fim, um livro corajoso. Nesses tempos em que conceitos como acomodação e negociação tendem a elidir contradições e conflitos, ele nos proporciona uma representação da sociedade mineira como guerra sem trégua…Ou, ainda, quando se assiste ao deslocamento da escravidão como chave para compreensão do mundo colonial, em nome de aproximações com as categorias do Antigo Regime, Silveira, inspirado pela melhor tradição historiográfica brasileira, nos lembra que, afinal, a colônia foi, acima de tudo, uma sociedade escravista.
Referências
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Metais e pedras preciosas. In HOLANDA, Sérgio B. de (ed.). História Geral da Civilização Brasileira , 5a ed., tomo 1, vol. 2. São Paulo: Difel, 1982. p.259-310. [ Links ]
SILVEIRA, Marco Antonio . Ideologia, colonização, sociabilidade. In JANCSÓ, István e KANTOR, Iris (org.) Festa: cultura e sociabilidade na América Portuguesa . vol. 2 São Paulo: FAPESP/Imprensa Oficial, 2001. p.979-990. [ Links ]
Adriana Romeiro – Departamento de História, Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos 6627, Campus Universitário, Belo Horizonte, MG,Brasil 31.270-901, adriana.romeiro@uol.com.br.
Na Presença da Floresta: Mata Atlântica e História Colonial – CABRAL (VH)
CABRAL, Diogo de Carvalho. Na Presença da Floresta: Mata Atlântica e História Colonial. Rio de Janeiro: Garamond/FAPERJ, 2014. 536 p. VITAL, André Vasques. Na Presença da Floresta: Mata Atlântica e História Colonial. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, no. 60, Set./ Dez. 2016.
A História é a ciência dos homens no tempo. Essa noção se inspira nas ideias de Marc Bloch e das primeiras gerações da Escola dos Annales. Trata-se de um lugar-comum que é onipresente na formação dos experientes e dos jovens historiadores. O leitor, após viajar pelos múltiplos fluxos materiais emaranhados, minuciosamente mapeados em Na Presença da Floresta, corre o sério risco de se questionar sobre a atual pertinência de considerar o humano como o único sujeito da História. O livro de Diogo de Carvalho Cabral apresenta uma nova abordagem que rejeita a centralidade do humano na História. Esse trabalho repensa a noção de agência e propõe uma metodologia mais relacional, incluindo os não-humanos como agentes ativos na História por meio de sua presença e materialidade na conformação de processos políticos, sociais, econômicos e culturais. Em meio às dramáticas transformações sociais promovidas por furacões, microorganismos, vetores de doenças e outras entidades direta e indiretamente fortalecidas pelas atuais mudanças climáticas, a obra de Diogo Cabral é um chamado aos historiadores e, principalmente, aos historiadores ambientais, a repensar o papel dos não-humanos na História.
Diogo Cabral, geógrafo e pesquisador do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, confeccionou sua obra a partir de um amplo diálogo transdisciplinar. História, Geografia, Ecologia e Filosofia, são as principais áreas que se encontram emaranhadas na obra, cuja metodologia tem forte inspiração marxista e latouriana, privilegiando interações, conexões, híbridos e processos de metabolismo social. Cabral mantém, principalmente, um diálogo forte com a História Ambiental, campo ao qual busca contribuir ao aprofundar suas perspectivas teórico-metodológicas. Embora o autor considere Na Presença da Floresta uma obra de síntese, ela contém também uma robusta e diversificada quantidade de fontes primárias que são interpretadas ou reinterpretadas a luz de uma abordagem completamente inovadora.
Em quatro partes divididas em dezessete capítulos, Diogo Cabral analisa o papel da Mata Atlântica na conformação social, cultural e, sobretudo, política e econômica do Brasil colonial. A primeira parte é destinada a análise das técnicas que emergiram das relações, ora tensas, ora colaborativas, ou mesmo conflituosas, entre os neobrasileiros e os múltiplos agentes dentro e fora da Mata Atlântica. Aborda especialmente o papel da floresta, das madeiras, dos animais, dos insetos, do fogo, da cana-de-açucar, das embarcações, do oceano Atlântico, da escravidão indígena e africana, da mandioca e das cidades na formação da colônia. A segunda parte analisa os conflitos políticos advindos da tentativa da Coroa Portuguesa em assegurar o monopólio da exploração e a conservação de espécies arbóreas da Mata Atlântica que eram fundamentais para a construção naval. O autor ressalta que esses conflitos envolveram não só as populações da colônia marginalizadas pelas políticas de conservação florestal e pelo combate ao contrabando, mas também várias espécies florestais e animais que em muitos momentos representaram um entrave a política metropolitana. Na terceira parte, é analisado o sistema econômico colonial, especialmente a exploração madeireira, em comparação com o caso das treze colônias da América do Norte. Para o autor, uma série de fatores biogeográficos dificultou a formação de uma economia de exportação de madeira consistente no Brasil até o século XVIII. No último capítulo, Cabral retoma as conclusões dos capítulos anteriores para analisar as implicações historiográficas e políticas de analisar a Mata Atlântica em um quadro social alargado, ou seja, rejeitando a floresta como palco/cenário, encarando-a como um conjunto de agentes históricos.
O autor está a todo o momento atento às diferentes espacialidades e temporalidades em conexão. A própria Mata Atlântica é composta por múltiplas temporalidades e espacialidades anteriores à chegada dos europeus, condição que ganha maior complexidade na obra com a análise de sua presença na política e economia colonial. A busca por dar conta de quatro séculos de inúmeros processos com uma abordagem horizontal é bastante ousada e reforça a densidade da análise. Contudo, a leitura da obra torna-se mais desafiadora e cansativa: o leitor vai se deparar com uma narrativa muito mais fractal do que linear. Longe de ser um problema, esse tipo de narrativa é um caminho lógico dentro da abordagem escolhida pelo autor.
Cabe ressaltar ainda que Na Presença da Floresta está na contramão de obras que analisam a Mata Atlântica exclusivamente sob o ponto de vista da destruição ambiental, como é o caso do estudo clássico A Ferro e Fogo de Warren Dean. É aqui que o estudo de Diogo Cabral se diferencia das perspectivas, ainda majoritárias dentro do campo da História Ambiental, nas quais a natureza é recurso ou receptáculo/palco das representações e ações humanas. A obra deixa enxadas, navios, fogo, espécies arbóreas, saúvas e etc., “falarem” a partir das fontes, identificando o seu protagonismo na formação social, cultural e também nas tramas políticas e na economia. É uma abordagem relacional, pós-humanista, que desafia o tradicional antropocentrismo arraigado na escrita da história.
Na Presença da Floresta é um livro sobre o passado, mas com vistas no futuro. É uma obra de descolonização do pensamento rumo a uma nova ética relacional. É indicado para historiadores e pessoas, acadêmicas ou não, que entendem que o momento atual exige diferentes proposições e mudanças drásticas: novas formas de pensar, novas formas de ação e novas formas de relação com o radicalmente outro.
André Vasques Vital – Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Av. Brasil, 4365, Rio de Janeiro, RJ, 21.040-360, Brasil, vasques_hist@yahoo.com.br.
Inherit the Holy Mountain: Religion and the Rise of American Environmentalism – STOLL (VH)
STOLL, Mark R. Inherit the Holy Mountain: Religion and the Rise of American Environmentalism. New York: Oxford University Press, 2015. 406 p. SILVA, Sandro Dutra e. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, no. 59, Mai./ Ago. 2016.
Nos últimos anos temos sido surpreendidos com a vasta produção intelectual no campo da história ambiental. Uma evidência das preocupações historiográficas com o mundo natural, principalmente no escopo qualitativo dos debates e dos temas no qual emergem os questionamentos, cada vez mais múltiplos, sobre a relação entre a história e a natureza. Esse é o caso da importante obra Inherit the Holy Mountain: religion and the rise of American Environmentalism, do historiador norte-americano Mark Stoll.
O trabalho de Stoll reflete o exercício intelectual sobre o qual se dedicou, por quase três décadas, no exaustivo ofício de responder historicamente sobre o background protestante nas origens do movimento ambiental nos Estados Unidos. Dito isso, reforço a importância de um trabalho que deve ser entendido sobre duas premissas iniciais: (i) não se trata de uma aventura historiográfica, mas o amadurecimento do tema a partir da experiência acadêmica de um historiador com grande trânsito no campo ambiental; (ii) o trabalho não utiliza da retórica e nem do proselitismo em seus argumentos, nem se presta à defesa engajada de uma tese contra premissas anteriormente apresentadas sobre a cultura judaico-cristã.
Não é esse o caminho de Mark Stoll ao tratar do tema. Destaco que as conexões entre a visão apreciativa da natureza e o background calvinista surgiram em pesquisa sobre o ativista ambiental John Muir. Essa percepção foi a motivação necessária para que ele investigasse a repetição desse modelo e as bases culturais que propiciavam uma representação do mundo natural a partir de distintos grupos religiosos nos Estados Unidos. Na década de 1990 publicava o seu primeiro trabalho sobre as origens protestantes do ambientalismo americano no livro Protestantism, Capitalism, and nature in America. As pesquisas se aprofundaram com a ampliação de correlações entre determinadas denominações protestantes e a ação de teólogos, ambientalistas, artistas plásticos, poetas, burocratas e políticos, dentre outros, resultando no primoroso trabalho que é Inherit the Holy Mountain.
A tese central deste livro é que as origens do ambientalismo norte -americano, presente nos movimentos de conservação da natureza, legislação ambiental e preservação da Wilderness, tiveram um background protestante, fundamentando-se, sobretudo, nos grupos calvinistas da Nova Inglaterra: os congressionais e os presbiterianos. Tomados como sujeitos históricos da expansão da ética conservacionista e do discurso de moralização da vida e ordem social puritana, essas comunidades foram analisadas a partir do ethos social, por meio de um conjunto rico e diverso de fontes na interpretação dos seguintes processos: a teologia da natureza nos discursos do próprio Calvino e nos sermões dos ministros calvinistas na Europa e Estados Unidos entre os séculos XVII a XIX; a estética artísticas e o profundo valor teológico dos pintores do Connecticut Valley que revelavam a paisagem e a moral social expressa no papel contemplativo e moralizante da natureza; os projetos urbanos e a relação entre os espaços sociais e a função moral dos bosques e parques públicos; os hábitos de imersão na Wilderness como devoção protestante de contato com a natureza, vista como revelação divina a ser “lida” no book of nature ; na criação de instituições científicas para o uso e conservação dos recursos naturais; a política de manejo agrícola, silvicultura e a instituição burocrática de normas e organizações voltadas para a conservação da natureza; o ativismo ambiental e os valores religiosos no hábitos dos seus agentes; a criação e ampliação de áreas protegidas, dentre outras.
Interessante o ponto de partida, centrado na ação social de personagens ligadas ao movimento ambientalista e com background calvinista, e que marcam toda a obra. Um exemplo é a obra de Thomas Cole, “The Oxbow”, exposta na exibição da National Academy of Design de Nova York em 1836, que evidencia o caminho erudito em relacionar estética, paisagem e ethos puritano no refinado trabalho da interpretação histórica. Stoll ressalta que os sujeitos por ele analisados tinham o coração na igreja de Hartford e a mente na universidade em Yale, o mainstream intelectual dos calvinistas. Mark Stoll aproxima a sua objetiva na interpretação do ethos sem cair nas armadilhas da delimitação que coletiviza e reduz o objeto. Esse é um dos grandes méritos da obra, sobretudo ao apresentar o background religioso a partir de personagens caras ao movimento conservacionista, e que muitos trabalhos biográficos simplesmente não perceberam esse background no jogo histórico do ativismo e da causa ambiental.
O autor faz uma análise consistente sobre a base epistemológica da “teologia da natureza”, fundamentando-se nos princípios do melhor aproveitamento dos recursos naturais na agricultura (Improvement ) e na conservação das florestas, mananciais e outros bens naturais para as futuras gerações (Stewardship ). Improvement e Stewardship são conceitos-chave da tradição calvinista e que o historiador se apropriou com maestria na intepretação da trajetória de diferentes personagens ligadas ao ativismo de proteção da natureza nos Estados Unidos como Pinchot, Marsh, Thoreau, Emerson, John Muir, Rachel Carson, Theodore Roosevelt, dentre outros.
Importante mencionar que a obra não se limita a abordar exclusivamente os calvinistas. Outras filiações religiosas como os Batistas, Metodistas, Batistas afro-americanos, católicos e judeus também foram contemplados sob a ótica da atuação no movimento ambiental contemporâneo. A temática ambiental desses grupos, no entanto, não privilegia os preceitos conservacionistas, mas os direitos civis, alimentação orgânica, lutas sociais, dentre outras. A concepção transcendentalista e sua ética conservacionista também foi abordada. No entanto, ficou confusa as descrições do transcendentalismo e sua complexidade filosófica em meio ao debate protestante e às origens de Ralph Waldo Emerson.
Uma das contribuições mais originais é a rica abordagem da atuação dos presbiterianos na instituição de leis nacionais e de agências de conservação, parques e florestas durante a Progressive Era (1885-1921). A administração de quatro presidentes presbiterianos (Harrison, Cleveland, Theodore Roosevelt e Wilson) foi destacada na ampliação nacional da proteção à natureza. Aliando história política e história ambiental destaca a ampliação das áreas protegidas e a participação privilegiada de políticos, ambientalistas e burocratas nesse período.
Considero que Inherit the Holy Mountain traz um revigorante olhar historiográfico, que oferece um requintado aporte teórico-metodológico e pode ser considerada a masterpiece de um dos mais notáveis historiadores ambientais da América.
Sandro Dutra e Silva – Pós-Graduação Stricto Sensu Territórios e Expressões Culturais no Cerrado, Universidade Estadual de Goiás, Campus Anápolis de Ciências Sócio-Econômicas e Humanas Anápolis, GO, 75.132-400, Brasil. sandrodutr@hotmail.com.
Os Heróis da Pátria: Política Cultural e História do Brasil no Governo Vargas – FRAGA (VH)
FRAGA, André Barbosa. Os Heróis da Pátria: Política Cultural e História do Brasil no Governo Vargas. Curitiba: Editora Prismas, 2015. 269 p. PAIXÃO, Carlos Nássaro. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, no. 59, Mai./ Ago. 2016.
Os principais objetivos do livro acima referenciado são identificar, descrever e analisar o processo de constituição de uma política coordenada de Estado, no sentido da construção de um panteão de heróis nacionais durante o primeiro governo Vargas (1930-1945). Esta tinha por objetivo constituir uma gama de exemplos e valores que deveriam formar o cidadão novo, em conformidade com os ideais do regime, a saber, o patriotismo, o nacionalismo, a obediência à ordem e o sacrifício pelo Brasil, bem como: buscar no passado as respostas e as formas de agir em uma dada conjuntura no presente. Isto seria realizado pelos usos políticos do passado e pela construção de uma memória histórica.
O princípio da argumentação busca definir a política estabelecida desde o início do regime Vargas, com a valorização dos diversos símbolos nacionais, tais como o Hino Nacional e a Bandeira, dentro de um processo mais amplo de legitimação e manutenção do governo. Entre os símbolos eleitos pelo regime, o autor analisa especialmente o herói nacional.
Na política de valorização dos heróis, houve um processo de formação de um panteão, a partir de uma série de ações que tinham o intuito de potencializar a formação e o culto de vultos do passado. Estas foram marcadas pelo batismo de logradouros, inauguração de bustos e monumentos em sua homenagem. Foram criados instituições e espaços voltados amplamente para o culto ao passado, como o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, o Museu da Inconfidência (1942), na cidade de Ouro Preto e do Museu Imperial (1940), em Petrópolis.
Além disso, os restos mortais dos inconfidentes foram procurados e trasladados para o Brasil, expostos em várias cidades e, finalmente, instalados no panteão dos inconfidentes, quando da inauguração do Museu da Inconfidência. Todo este processo culminou na construção do próprio Vargas como um herói: aquele que conduziria o Brasil à máxima realização do seu destino.
O processo de construção dos heróis que melhor respondiam aos interesses do regime foi marcado por seleção e hierarquização, além de uma política consertada entre os membros do governo para a valorização de determinados vultos. O autor percebe que esta escolha foi amplamente marcada pelo contexto e, principalmente, pelos valores que se queriam difundir. Durante o período, três figuras foram evidenciadas: Duque de Caxias, Barão do Rio Branco e Tiradentes. Em uma conjuntura marcada por forte discurso anticomunista – potencializado e amplificado desde o movimento comunista de 1935 – e depois, a eclosão da Segunda Guerra Mundial fez com que o governo mobilizasse os discursos em defesa da nação e do patriotismo, e valorizasse os personagens em que se pudesse atribuir os valores militares e diplomáticos de defesa da pátria.
Cada um desses vultos contou com a ação de patrocinadores de seus cultos no âmbito da alta administração governamental, que, por meio de recursos financeiros e simbólicos, mobilizou suas estruturas ministeriais na valorização de suas memórias. Caxias, Rio Branco e Tiradentes, foram “adotados” respectivamente, em uma ação conjunta, por Eurico Gaspar Dutra (Guerra), Oswaldo Aranha (Relações Exteriores) e Gustavo Capanema (Educação e Saúde), três dos ministros mais importantes na conjuntura em questão.
Fechando o ciclo de conformação de uma galeria de heróis nacionais, Fraga analisou duas coleções responsáveis pela biografia de diversos personagens do passado, provenientes de várias áreas, como políticos, militares, literatos, artistas, médicos, engenheiros, entre outros. São elas: “Os nossos grandes mortos”, resultado de uma série de conferências organizadas pelo Ministério da Educação e Saúde e “Vultos. Datas. Realizações”, organizada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). A primeira foi criada no contexto da chamada Intentona Comunista e no processo de endurecimento do regime. A segunda surgiu no momento da entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados e contra o nazi-fascismo. Diante disso, afirma o autor, “os vultos nacionais foram requisitados todo o tempo (…), em contextos políticos os mais diversos, servindo nos planos do governo como uma carta coringa, adaptável a qualquer situação” (p.255).
Para responder aos objetivos propostos, o autor se vale de uma gama variada de documentos, tais como: cartas, livros, decretos, jornais e revistas, discursos, fotografias, monumentos, relatórios, atividades escolares, cartilhas, cédulas, moedas, conferências, peças de teatro e roteiro de filmes, depoimentos, projetos de lei. Toda a pesquisa demonstra a preocupação com o rigor e a solidez do trabalho documental, a partir do qual, ele desenvolve seus argumentos em cotejamento sistemático com as fontes.
O trabalho apresenta um diálogo constante com os debates em torno das discussões da memória, sobre os usos, abusos e manipulações que aqueles que ocupam posições de poder dentro do Estado, fazem do passado no intuito de estabelecer seu domínio no presente. Abre uma possibilidade de valorização das questões simbólicas como fundamentais para o exercício de poder. Dentre tantos trabalhos que abordam as relações do governo Vargas com a manipulação do passado, este livro traz, como inovação temática e interpretativa, a análise da ação consciente e sistematizada do Estado no sentido de utilizar personagens do passado, transformando-os em heróis, para responder demandas conjunturais, difundindo exemplos comportamentais úteis ao status quo.
O livro se insere nos debates historiográficos mais recentes sobre as diversas nuances do regime Vargas. Fraga destaca os diversos processos utilizados pelo Estado no sentido da construção de um aparato simbólico voltado para a construção de uma identidade nacional em consonância com suas diretrizes. A escrita é marcada pelo rigor teóricometodológico, a linguagem é densa e, ao mesmo tempo, envolvente, facultando ao leitor o entendimento daqueles processos.
A leitura é recomendada para estudantes e profissionais de história em todos os níveis que se interessem pelo período em questão, pois lança novas luzes sobre o exercício de poder e de dominação do regime, situado para além da repressão.
Carlos Nássaro Paixão – Programa de Pós-Graduação em Memória Linguagem e Sociedade, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Estrada do Bem Querer Km 04, CP 95, Vitória da Conquista, BA, 45.083-900, Brasil. carlos.hyst@gmail.com.
A invenção da brasilidade: Identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração – LESSER (VH)
LESSER, Jeffey. A invenção da brasilidade: Identidade nacional, etnicidade e políticas de imigração. São Paulo: Editora Unesp, 2015. 206 p. JOANILHO, André Luiz. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, no. 59, Mai./ Ago. 2016.
Há obras que devem ser tratadas como tomadas de consciência de uma nacionalidade, mesmo que não tenham essa intenção. Autores que tratam daquilo que poderíamos chamar de “alma” nacional, acabaram indo um pouco além e dizendo mais do que intencionaram. É o caso do livro recém lançado de Jeffrey Lesser, A invenção da brasilidade (São Paulo: UNESP, 2015). Pelo texto, pela pesquisa e pelas descrições históricas, o autor pretendia apresentar o Brasil para um público não brasileiro, mais especificamente, para um público norte-americano. No entanto, acaba dizendo mais sobre nós do que poderíamos esperar.
Mesmo que não se tenha colocado claramente, a obra é uma história comparada entre Brasil e Estados Unidos. Estão ali os mitos de origem. O Norte-americano é claro: a Terra Prometida, o Novo Israel, portanto, ali é o lugar de chegada e de construção do futuro. Já o nosso mito é uma não origem. Somos estrangeiros numa terra estrangeira. Na realidade, o nosso mito é um não mito: terra de passagem; terra de fronteira; confins do mundo. Como entender um lugar, um país cujo mito de origem é desmistificação da origem?
Jeffrey Lesser, conhecedor da nossa “alma”, quer dizer, das nossas pequenas idiossincrasias, busca não ferir suscetibilidades nacionais, com algum tipo de crítica sobre o modo como construímos nosso país, ao contrário, apresenta uma narrativa clara e didática de como nós nos formamos. Bem ao inverso do mito americano: o país se forma de dentro para fora. Nós somos o de fora para um não dentro.
O país não é promessa de nada, a não ser de extração de riquezas (algo não dito, afinal sabemos disso, mas não queremos que fiquem dizendo isso por aí). Portanto, os recém-chegados não tinham (talvez não tenham ainda) nenhum compromisso com a terra de acolhimento, a não ser extrair o máximo possível e o mais rápido.
Tendo isso em vista (é bom lembrar, que não foi dito), Jeffrey Lesser nos apresenta um quadro constante de chegadas de povos que eram admitidos de acordo com circunstâncias e nenhum planejamento ou política específica de imigração. Vagas humanas imensas aportaram nestas terras tendo como único móvel, desejado ou não, encontrar o bem-estar econômico. Em momento algum, mesmo que inicialmente pudesse ser pensado, foram em direção ao seu “verdadeiro” lar, mesmo que imaginário. É claro que se pode objetar que mesmo os Estados Unidos não foram exatamente uma terra de acolhimento (e não foram mesmo), mas cultivaram o mito o suficiente para que se acreditasse nisso, diferença fundamental.
A intenção é anunciada, por Lesser, logo no começo: A imigração é um tema que permite discutir o Brasil como “nação” (em termos de etnicidade e identidade nacional), paralelamente à postura mais tradicional, mas igualmente produtiva, de falar de “os Brasis” (p. 20). Sua diferença face a uma “tradição” historiográfica busca incluir o nosso país numa perspectiva não mais “excepcional”, como é comumente tratada a nossa história, perante a América, mas como equivalente às formações das nacionalidades americanas, incluindo os Estados Unidos, isto é, a América é terra estrangeira (evidentemente que não para as populações autóctones, mas que os governos fizeram questão de também torná-las estrangeiras nas suas próprias terras).
Assim, esta será a principal hipótese de Lesser, grupos de imigrantes se tornaram brasileiros ao incorporar a cultura majoritária, mas permaneciam como grupo distintos (p. 25). No entanto, o autor positivamente nos lembra que estas identidades não eram fixas, ao contrário. Por exemplo, mesmo “não brancos”, isto é, não europeus, como árabes ou japoneses, se tornaram “brancos” no Brasil, pelo menos foi o modo que encontraram para negociar os seus lugares na sociedade brasileira. Assim, permanecer distintos significava, e significa, serem distintos no Brasil, mesmo que isso não tenha nenhuma correspondência real e efetiva com o lugar de origem. Chineses se tornam japoneses, árabes se tornam antepassados longínquos de indígenas, italianos do Tirol se tornam austríacos, descendentes de italianos se enobrecem, encontrando na internet possíveis brasões com nomes de famílias, assim por diante. Há um jogo constante das identidades conforme as circunstâncias.
Este padrão explicativo torna o livro mais interessante, pois nos apresenta um quadro geral, não exaustivo, da nossa formação, algo um pouco esquecido após a década de 1970. Histórias locais e regionais se tornaram muito mais comuns nos últimos anos, sendo abandonada qualquer perspectiva mais geral, como se a História do Brasil estivesse resolvida a partir da explicação econômica, por meio da linhagem estabelecida por Caio Prado Jr. Portanto, todas as outras histórias (políticas, sociais, culturais) só são possíveis graças, ou por causa desta linha mestra e única.
De certa maneira, sem expor isso claramente, é o que faz Jeffrey Lesser ao encontrar móveis gerais e específicos nesse processo. Se temas comuns como o branqueamento, a ideia de que o imigrante melhoraria o nosso, a busca de trabalhadores dóceis para a agricultura e de povoadores para as regiões fronteiriças apresentam a necessidade de compor uma população, a chegada de imigrantes nos mostra que na realidade se constituiu, ou ainda, acentua a diversidade do que seria a nossa “alma”.
Dessa forma, após gerações, muitos brasileiros continuam sendo estrangeiros. Algo que afeta a nossa ideia de nacionalidade. Essa fluidez é uma marca da negociação da identidade nacional, para parafrasear o título do livro anterior de Jeffrey Lesser, Negociando a identidade nacional, UNESP, 2001. Grupos de imigrantes jogam o tempo todo com outros grupos e com aquilo que poderíamos chamar de ideias dominantes.
Mas, a grande questão é a que permanece, por que não se criou uma identidade tipicamente brasileira? A resposta não foi dada diretamente, mas através de toda a obra. Jeffrey Lesser aponta para a nossa especificidade: somos um povo tipicamente multicultural. Não no sentido que podemos ver nas grandes cidades europeias ou americanas, mas num sentido caracteristicamente sul-americano e brasileiro: incorporamos o que é estrangeiro na nossa identidade. Portanto, se na nossa origem está o herói sem nenhum caráter, com o nosso Brasil estrangeiro, acabamos nos tornando uma sociedade de indivíduos “multicaráter”, um povo de mil faces.
André Luiz Joanilho – Universidade Estadual de Londrina, Campus Universitário, Londrina, PR, 86.057-970, Brasil. alj@uel.br.
Speaking of Flowers: Student Movements and the Making and Remembering of 1968 in Military Brazil – LANGLAND (VH)
LANGLAND, Victoria. Speaking of Flowers: Student Movements and the Making and Remembering of 1968 in Military Brazil. Durham: Duke University Press Books, 2013. 352 p. IORIS, Rafael R. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, no. 58, Jan./ Abr. 2016.
Como acrescentar ao nosso conhecimento sobre o papel da militância estudantil no combate à ditadura no Brasil? Este importante livro (escrito por Victoria Langland, do Departamento de História da Universidade de Michigan) nos oferece uma nova reflexão sobre o tema que aponta inovadores caminhos historiográficos para trabalhos futuros.
Em grande parte centrado no ano de 1968 quando, de maneira similar a eventos em outras partes do mundo, representantes discentes brasileiros se mobilizaram de maneira inédita na defesa de melhorias educacionais, sociais e políticas, a obra oferece não só uma leitura atenta sobre trágicos eventos da ditadura militar, mas analisa também como sucessivas narrativas sobre esse mesmo ano se articularam com o pro- cesso de redemocratização política e, desde então, com a própria reconstrução do movimento estudantil no país.
Embora focado no período militar, Speaking of Flowers oferece elementos para uma história do movimento estudantil brasileiro. Para tanto, a autora organiza os capítulos de maneira criativa, onde distintos momentos históricos são priorizados de modo a enfatizar seus principais eixos explicativos. Um dos argumentos centrais da análise é que os estudantes brasileiros (especialmente os de nível universitário) sempre se viram (e foram dessa mesma forma tratados por sucessivas lideranças do aparelho de estado) como protagonistas da evolução política do país. Da mesma forma, ao examinar como os estudantes se organizaram na defesa de seus interesses ao longo da história do país, dentro de um processo no qual os próprios se constituíam como ator político legítimo, o texto apresenta uma reflexão original sobre o processo de criação e recriação da memória social recente.
É nesse sentido que Langland apresenta seu projeto também como o de uma busca pelos diversos significados assumidos pelo ano 1968, assim como a da militância estudantil associada a este, que foram sucessivamente atribuídos por distintos grupos de estudantes ao longo do processo de resistência ao regime militar e da redemocratização do país. A reflexão sobre os sentidos coletivos atribuídos por distintos atores sociais para suas próprias ações é ancorada, em grande parte em pesquisa secundária, numa descrição geral do processo de constituição do movimento estudantil ao longo do século XIX e a primeira metade do século XX. É demonstrado como, ao longo dessa trajetória, os estudantes brasileiros se mobilizaram dentro de um percurso que daria as bases para a própria identidade estudantil no país desde então.
A identidade política do movimento estudantil teria assumido um viés ainda mais claro no contexto da Guerra Fria, quando este emergente segmento seria cada vez mais influenciado pelo ideário esquerdista, por vezes revolucionário dos anos 50 e 60. Essa radicalização se aceleraria após a ascensão do regime militar em 1964, especialmente ao longo do ano de 1968. Ao recontar como os estudantes reagiram de maneira assertiva e criativa à crescente repressão sofrida, a autora nos mostra como o sacrifício de muitos de seus pares levou o movimento estudantil a um novo patamar e importância simbólica. Tragicamente, essa maior militância seria um dos focos principais da acentuada violência policial do regime ditatorial, especialmente a partir de dezembro 1968, quando da outorga do Ato Institucional No. 5.
Uma das principais contribuições de Langland é a de demostrar com uma grande riqueza de detalhes como, durante o período da vigência desse importante ato institucional, a leitura sobre o ano de 1968 se tornaria mais complexa e multifacetada. De um lado, para os operadores da repressão estatal, o ano de 68 passaria a representar tudo o que não poderia mais ocorrer; e todo tipo de atividade estudantil ao longo dos anos 70 seria vista sob esse prima de suspeição e vigilância. De outro, para os próprios estudantes, o mesmo ano, assim como a mobilização juvenil a ele associada, seriam objetos de uma leitura muito mais rica e sofisticada; dentro da qual alguns aspectos da militância de então seriam privilegiados (por exemplo, a defesa intransigente do direito de expressão e participação então suprimidos), enquanto outros elementos seriam reavaliados ou mesmo rejeitados (de modo especial a participação na luta armada de várias lideranças do movimento ao longo de 68 e 69).
A reflexão apresentada no livro é rica e muito bem amparada em evidências históricas relevantes, fruto de um minucioso trabalho de pesquisa por parte da autora. Seria pois impossível fazer justiça, nesta curta resenha, aos detalhes e nuances apresentados. Caberia, contudo, apontar que, por vezes, ao tentar alinhavar por demais os capítulos entre si, de modo a apresentar uma lógica subjacente ao desenrolar dos acontecimentos, a análise tende a oferecer uma imagem talvez por demais coerente para eventos eminentemente complexos, muitos deles díspares e mesmo contraditórios; como, por exemplo, as ações de grupos de estudantes de diversos matrizes ideológicos ao longo de um período tão longo.
Da mesma forma, embora a autora inove de maneira louvável ao tratar com tanto interesse e criatividade de questões ligadas à temática de gênero, mais elementos seriam necessários para que o leitor possa de fato acompanhar algumas das assertivas de cunho analítico feitas pela autora (por exemplo, como os próprios estudantes, especialmente homens, interpretavam seus padrões de comportamento para com seus pares do sexo feminino).
Por fim, especialmente no momento em que o Brasil passa por uma verdadeira guinada conservadora, seria útil saber mais sobre como estudantes politicamente conservadores entenderam os muitos processos históricos tão bem examinados. Ainda assim, tomado como um todo, nenhum desses aspectos prejudica a leitura e não diminui em nada a capacidade persuasiva do texto; devendo os mesmos serem vistos muito mais como relevantes linhas de pesquisa à espera de novos estudos, detalhados e qualificados como o apresentado em Speaking of Flowers.
Rafael R. Ioris – Latin American Center University of Denver, 2000 E. Asbury Ave., Sturm Hall #367 Denver, CO 80208 rafael.ioris@du.edu.
Le rhinocéros d’or: Histoires du Moyen Âge africain – VAUVELLE-AYMAR (VH)
FAUVELLE-AYMAR, François-Xavier. Le rhinocéros d’or: Histoires du Moyen Âge africain. Paris: Alma Editeur, 2013. 317 p. WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, no. 58, Jan./ Abr. 2016.
Entre os estudos africanistas no Brasil, a atenção aos temas relacionados à África subsaariana no período anterior à chegada dos portugueses tem crescido de forma evidente. De um lado, decorre da preocupação em romper visões reducionistas que preconizam o início da história moderna da África à chegada dos europeus e, de outro, de um olhar mais atento às narrativas de viajantes não europeus, sobretudo os eruditos árabes que percorreram diferentes regiões da África islamizada entre os séculos VIII e XVI. Considera-se ainda a presença entre nós de especialistas no período, principalmente de Paulo de Moraes Farias que, em cursos e participação em eventos, fez aumentar a visibilidade e a exuberância de temas relativos às civilizações sahelianas, bem como a relevância de se pensar a diversificação das fontes históricas como pressuposto para o estudo da História da África. Considera-se nesse aspecto os avanços de metodologias das Ciências Humanas que empregam as fontes orais, os estudos sobre a cultura material e a importância dos dados vindos da Arqueologia essenciais para contextos nos quais os registros escritos são relativamente escassos. A obra em questão atende a cada um desses anseios, focalizando temas da História da África entre os séculos VIII e XVI projetados a partir de fontes variadas e tendo em perspectiva o ensino e a pesquisa em História da África.
Posso começar dizendo que, fora uma ou outra observação de menor importância, o livro Le Rhinocéros d’or é fascinante e original. É composto por uma reunião de trinta e quatro ensaios relativamente independentes entre si, referentes à história do continente no período conhecido, especialmente entre os especialistas francófonos, como a Idade Média africana. Os capítulos, curtos e bem estruturados, focalizam aspectos das sociedades localizadas em diversas regiões da África. Da Etiópia e da Eritréia às regiões meridionais do continente; do norte mediterrânico às cidades ribeirinhas do Níger, dos santuários da Mauritânia aos centros comerciais da costa suaíli, o autor vai “ziguezagueando” (p. 27) pelo continente e defrontando-se com a enorme diversidade de povos, culturas e personagens que sempre caracterizou a História da África em todos os seus períodos e tempos. A cada capítulo, escrito numa linguagem fluida e cativante, adequada também a leitores diletantes, seguem notas de fim com indicações mais acadêmicas sobre as trajetórias da historiografia, os percursos das fontes, e a relação dos principais estudiosos que, ao longo do tempo, analisaram o tema.
Abrangendo um período quase sempre esquecido e confundido como “tempos obscuros”, principalmente pela lacuna de documentos escritos, o elemento organizador do livro são as fontes: um documento escrito, um processo judicial ou uma correspondência; artigos das trocas comerciais (o âmbar ou moedas), objetos da cultura material, por exemplo, o rinoceronte de ouro que serve ao título; fontes cartográficas, o Atlas de Al Idrisi ou o famoso Atlas Catalão, feito no século XIV por dois judeus da Escola de Maiorca; sítios arqueológicos, afrescos, conjuntos de megalitos ou de tumbas e suas revelações; narrativas de viajantes, chineses, e árabes em profusão. E também recursos atuais como os resultados das escavações arqueológicas que permitiram a reconstituição da estratigrafia de cidades como Kilwa, na costa índica.
Da análise das fontes são extraídas informações que, no geral, colocam as sociedades africanas nos circuitos de trocas de mercadorias, de ideias e concepções religiosas das grandes correntes intercontinentais. A partir do que é revelado de imediato por cada documento/monumento, o texto se amplia conduzido por guias que levam o leitor a visitar os contextos históricos: as cidades desaparecidas engolidas pelo Saara, como Ghana I e Ghana II, a vida nas cortes, os trânsitos comerciais transsaarianos, as redes longitudinais dos mercadores judeus ou o processo de islamização das sociedades mediterrânicas, do Sahel, da costa do oceano Índico ou do mar Vermelho. Sintomaticamente a figura central do último capítulo é o capitão de navio Vasco da Gama e o périplo de navegação que, partindo de Lisboa em 1497, chegaria no ano seguinte à ilha de Moçambique. Momento em que, depois de muitas tentativas, “os portugueses acabavam de entrar no domínio das navegações mercantis regulares do oceano Índico” (tradução, p. 307).
Impossível não falar de detalhes na apresentação da obra, tamanha a diversidade e riqueza dos materiais tratados. “Peças esparsas de um puzzle” (p.17), a introdução esclarece as premissas que conduzem os estudos e a maneira de abordá-los. A proposta, além da diversidade, é a de iluminar “traços” e construir a história desse período a partir de uma visão trazida pelos fragmentos, escapando da ambição de um panorama pressupostamente global: “é que preferimos o vitral ao grande afresco narrativo que poderia trazer a ilusão de um discurso magistral” (tradução, p. 18).
François-Xavier Fauvelle-Aymar é especialista em História africana, professor da Universidade de Toulouse II Jean Jaurès, e pesquisador ligado ao laboratório TRACES – Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés (UMR 5608 CNRS), com um impressionante conjunto de produção acadêmica, entre livros e artigos. Faz parte do grupo de medievalistas franceses que segue os caminhos abertos por Raymond Mauny e Théodore Munod. O próprio Mauny é personagem do capítulo 25, em suas expedições por entre o Saara, chegando a Taghâza, no Mali, por onde andaram também René Caillé, em 1828, Ibn Battuta, em 1352, e ainda Hassan al-Wazzân, mais conhecido como Leão Africano, em 1510. Temporalidades que se cruzam na temática da exploração e das rotas do sal na África do Oeste. Sua acuidade teórica é também revelada no prefácio e nas ponderações que faz sobre a questão da memória investida nos monumentos e sobre as inferências relacionadas à noção de tesouro. Referindo-se ao pequeno objeto que dá titulo ao livro, o rinoceronte de ouro encontrado no sitio da colina de Mapungubwe, na África do Sul, afirma que quase sempre por trás do qualificativo de “tesouro” existe uma escavação mal feita e irresponsável que alijou o objeto pretensamente único e raro do contexto documental arqueológico que o cercava à época de sua descoberta. “Tesouro é aquilo que sobrou quando todo o resto desapareceu” (tradução, p.20).
Desta forma, o objetivo da apresentação que se faz aqui não é somente a de chamar a atenção à obra publicada na França em 2013, como também alertar para sua tradução, importante no nosso país em que as demandas pelos temas africanos não correspondem ainda ao volume de traduções necessárias, inclusive de textos essenciais para a pesquisa e para o ensino da matéria nas instituições escolares. Em razão do didatismo da obra e da forma inteligente pela qual foi construída, o livro pode ser utilizado tanto para o ensino médio – e com ele introduzir os jovens alunos no fascínio trazido pela História da África, como também nas disciplinas dos cursos de graduação.
Maria Cristina Cortez Wissenbach – Departamento de História, Universidade de São Paulo, Av. Professor Lineu Prestes 338, Cidade Universitária, São Paulo, SP, 05.508-000 criswis@usp.br.
Livros e leituras na Espanha do Século de Ouro – CASTILLO (VH)
CASTILLO Gómez, Antonio. Livros e leituras na Espanha do Século de Ouro. Prefácio Marisa Midori Deaecto, tradução Claudio Giordano. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2014, 208 p. NEUMANN, Eduardo Santos. Varia História. Belo Horizonte, v. 32, no. 58, Jan./ Abr. 2016.
Enhorabuena, esta expressão tão castelhana – que felicita uma realização ou parabeniza um determinado feito -, sintetiza de maneira apropriada a publicação em língua portuguesa de mais um livro do historiador, especialista em cultura escrita, Antonio Castillo Gómez. Este é o primeiro livro de Castillo publicado no Brasil, apesar do autor já possuir diversos artigos e capítulos de livros em periódicos e obras coletivas editadas em nosso país.
Desde a conclusão de sua tese de doutorado, publicada em 1997, ele tem direcionado seus esforços para consolidar uma linha de pesquisa cuja atenção está voltada aos materiais escritos, particularmente aqueles produzidos na sociedade hispânica durante os séculos XVI e XVII. É nesse contexto, o Século de Ouro espanhol, que está situado este livro.
A seleção de textos reunidos nesta obra, uma compilação de trabalhos reelaborados e atualizados, são o resultado da trajetória de um pesquisador maduro e interessado em rastrear as distintas práticas da leitura apesar de suas pistas difusas, pois esta é uma atividade plural. É consenso entre os historiadores que o advento da Idade Moderna marca o ingresso definitivo da sociedade ocidental europeia nas práticas da comunicação letrada, período no qual é registrada uma ampliação das taxas de alfabetização e do número de livros impressos. Assim, as indagações do autor estão direcionadas às práticas de leitura na sociedade castelhana, com ênfase nas suas diferentes modalidades e experiências, seja a leitura erudita ou aquela praticada por pessoas comuns que mantinham contato esporádico com a cultura escrita, fosse através de uma gazeta, um panfleto ou mesmos as escritas expostas ou cartazes fixados nas portas das igrejas.
Afinal, no que consiste atualmente história da leitura? Para responder a esta indagação e necessário inseri-la na perspectiva da história social da cultura escrita. Quando surge este novo campo de estudo? Primeiro: trata-se de um termo recente, cunhado em meados dos anos 90, e designa um campo de investigação fértil, que tem conferido sinais de vitalidade à pesquisa histórica. A segunda consideração diz respeito a sua formulação. Sua gênese está relacionada a recuperação ou as reconsiderações em torno da leitura e principalmente da escrita como objeto de análise histórica, mudança iniciada nos anos 60. E a escrita e suas potencialidades tem em Armando Petrucci, paleógrafo italiano, o principal expoente dessa renovação. Ao propor uma “ciência da escrita” ele argumenta que os textos podem revelar além do seu conteúdo expresso, os valores e condutas de uma época. A partir da fusão de duas vertentes – no caso a história social da escrita e a história do livro e da leitura -, cuja reformulação permitiu uma renovação dos pressupostos teóricos e metodológicos que pautava tais temas, tais modificações conferiram ao estudo da escrita e da leitura um ponto de observação privilegiado para a compreensão das sociedades pretéritas.
O livro no seu conjunto está organizado em 6 partes. No primeiro capítulo, o autor aborda os diferentes significados da leitura na sociedade hispânica – o que se lia, como liam e as avaliações a respeito desse habito-, pois como registrou Miguel de Cervantes, através de seu imortal personagem, Dom Quixote, do qual se dizia que de “tanto ler secaria o cérebro”. No segundo dedica atenção a leitura erudita, a leitura por excelência nas avaliações mais tradicionais sobre o tema, e seu vínculo imediato com a escrita. O terceiro “Paixões solitárias”, apresenta um estudo sobre as práticas de leitura daqueles indivíduos privados de liberdade, que exatamente pela reclusão atrás das grades, buscavam na leitura um alento. No quarto capitulo “Ler em comunidade” trata das leituras femininas, particularmente aquelas realizadas por religiosas efetuadas em conventos, no caso a leitura de textos espirituais que tem nas monjas carmelitas descalças, seguidoras de Santa Teresa de Jesús, seu exemplo maior. Nos capítulos finais, Castillo dedica atenção a dois temas de sua predileção: as práticas leitoras cotidianas e o contato estabelecido com a leitura nas ruas, através de folhetos, avisos ou mesmo os pasquins infamantes. O último capítulo é dedicado ao contato com os livros e a leitura. Analisa como esta prática despertou em alguns o desejo de se converter também em autores, seja através da redação de diários ou de “autobiografias”, uma manifestação de uma memória pessoal.
Pelo exposto e evidente que diante da primazia da cultura letrada durante o Século de Ouro espanhol a leitura e a escrita promoveram transformações que afetaram tanto as formas de organização política como as relações sociais. Sem dúvida, a prática da escrita e da leitura foi mais acentuada nos espaços régios, nos círculos cortesãos, mas também estava presente nas oficinas dos artesãos e mesmo nas ruas. Em seus trabalhos o autor tem procurando descrever através da análise dos materiais escritos, tanto os permanentes ou efêmeros, os significados relacionados à presença da leitura e da escrita, indagando a respeito dos efeitos da alfabetização entre as camadas médias e subalternas.
Ao contemplar a atividade de leitores particularmente nos espaços urbanos Antonio Castillo centra atenção àqueles que ao transgrediram as normas vigentes, fizeram outros usos da leitura. Afinal, não saber ler não implicava obrigatoriamente estar excluído do mundo da cultura escrita, e muitos indivíduos ao compartilharem a leitura com os demais utilizaram-na para finalidades distintas. O foco são os outros leitores. As leituras realizadas pelos grupos menos favorecidos, que nos espaços públicos entram em contato com os textos lidos de forma coletiva, independente do fato de serem escutadas ou lidas, permitiram aos distintos públicos contato com os últimos acontecimentos ou mesmo o conteúdo das edições recentes.
No seu conjunto a análise morfológica dos produtos escritos, dos textos manuscritos, está voltada a reconstruir as possíveis conexões existentes entre as diferentes práticas letradas e seus contextos sociais de recepção. Esta é uma das particularidades presentes a história social da cultura escrita, ou seja, uma interpretação pautada em evidências, na constituição de um corpus documental.
Por suas inquietações Antonio Castillo Goméz não se rende às explicações simplistas a respeito dos recortes sociais em sociedades de Antigo Regime. Seu interesse são aqueles grupos cujas evidências de sua capacidade alfabética, apesar de mais esparsas, comprovam a abrangência social da leitura. E a escrita, apesar de suas implicações imediatas com o poder, nem sempre remete obrigatoriamente a uma leitura elitista da sociedade e seu estudo têm sinalizado outras indagações a respeito do consumo cultural. Enhorabuena, repito, os leitores brasileiros agora têm ao seu alcance este excelente conjunto de textos.
Eduardo Santos Neumann – Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rua Ivan Iglesias 184, Porto Alegre, RS, 91.210-340, Brasil eduardosneumann@gmail.com.
Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação – SCOTT et. al (VH)
SCOTT, Rebecca J; HÉBRARD, Jean M. JOSCELYNE, Vera. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Campinas: Editora da Unicamp, 2014. 296 p. DIÓRIO, Renata Romuldo. Provas de liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 57, Set./ Dez. 2015.
Edouard Tinchant, um homem negro, “descendente de haitianos”, nascido em New Orleans, sul dos Estados Unidos, viveu na Antuérpia, onde foi fabricante e comerciante de tabaco. Em 1899, ele escreveu para Máximo Gomez, um dos líderes pela luta da independência cubana, para fazer um pedido. Tinchant pretendia usar o nome e o retrato do general Gomez como marca de seus melhores charutos. O pedido seria uma forma de reverenciar um defensor do antirracismo, causa que marcou a história dos seus antepassados e descentes.
A referida carta foi encontrada por Rebecca Scott e Jean Hébrard, no Arquivo Nacional de Cuba, e, a partir desta, esses pesquisadores iniciaram uma busca surpreendente por outras informações relativas à vida profissional e pessoal de Tinchant. Eles obtiveram dados sobre cinco gerações de uma família constituída pela união entre uma africana e um francês, Rosalie e Michel Vincent, e essa extensa pesquisa documental deu origem ao livro Provas de Liberdade: uma odisseia atlântica na era da emancipação.
As trajetórias de homens e mulheres de cinco gerações da família de Tinchant foram resgatadas com base em registros encontrados em arquivos. Estes documentam momentos de suas vidas em diferentes locais onde se instalaram, como Cuba, Estados Unidos (Luisiana), Haiti, Bélgica (Antuérpia) e França. As histórias são elucidadas a partir da análise de cartas de alforria, batismos, testamentos, contratos de casamento, recenseamentos, dentre outros. O pano de fundo são os acontecimentos políticos que perpassam a crise do escravismo e do colonialismo no Mundo Atlântico e as revoluções antirracistas e de cunho liberal do século XIX. As principais são a Revolução Haitiana, a Revolução Francesa de 1848, a Guerra Civil e a Reconstrução nos Estados Unidos.
Por meio dos estudos dessa família, o livro aborda questões relativas a tráfico, escravidão, liberdade e condições impostas aos descendentes de escravos nos séculos posteriores à emancipação e em contextos de guerras. As histórias dos membros dessa família convergem na luta por direitos, como a preservação da liberdade, a legitimidade das uniões conjugais e a garantia da cidadania. Na opinião de Rebecca Scott e Jean Hébrard, Rosalie e seus descendentes eram conscientes da importância dos documentos para a reivindicação de suas prerrogativas, e em função disso, procuravam os meios para que os registros fossem produzidos. Esse é o fio condutor de histórias vivenciadas pelas pessoas que possuíam laços consanguíneos em locais e momentos tão díspares.
O livro dialoga com trabalhos mais recentes que buscam uma narrativa de biografia. Nesse caso, trata-se de pequenas biografias desenvolvidas a partir das escolhas individuais dos descendentes de Rosalie, apresentadas em nove capítulos. São micro-histórias “em constante movimento”, como afirmam os autores. Partidas, chegadas e fixação em diferentes localidades denotam uma relação direta com condicionantes como legislação, hierarquia social e guerra.
Tráfico, escravidão e liberdade são elucidados pela trajetória de vida de Rosalie na segunda metade do século XVIII. Os principais mecanismos de administração da escravidão nos domínios franceses e espanhóis no Novo Mundo são relatados a partir das experiências dessa africana dentro de um contexto mais amplo em que estava inserida. São evidenciados os indícios da sua travessia pelo Atlântico, da Senegâmbia para Santo Domingo, Caribe, passando pelo período que viveu sob o regime da escravidão até a sua libertação.
No período da Revolução Haitiana Rosalie era denominada na documentação como Marie Françoise. Nessa ocasião, ela era liberta e possuía quatro filhos, fruto da relação conjugal com o francês Michel Vincent. Em uma tentativa de fuga para Cuba, a família foi separada, a filha, Elisabeth Vincent, foi levada para Nova Orleans, onde mais tarde casou-se com o carpinteiro Jacques Tinchant. Edouard, mencionado anteriormente, era um dos cinco filhos nascidos dessa união, nenhum deles se encontrou com a avó, Marie Françoise. Embora os Tinchant apresentassem uma confortável situação na Louisiana, a família partiu para a França em 1840. Pelo que consta nas fontes encontradas, o motivo teria sido a tentativa de escapar das severas leis que incidiam sobre homens negros e seus descendentes nos Estados Unidos daquela época.
A trajetória política de Edouard Tinchant merece destaque, pois ele foi diretor de uma escola de crianças libertas, veterano do exército da União na guerra civil e representante multirracial no sexto distrito de Nova Orleans. No entanto, foi na Antuérpia que ele teve uma espetacular ascensão econômica com a produção e venda de charutos finos. Seus negócios estenderam-se para Nova Orleans e também para o México, onde Joseph Tinchant, irmão de Edouard, representou o empreendimento. Eles transitaram entre a América do Norte e a Europa, deixando registros como empresários ou cidadãos respeitáveis. Em 1875, Joseph foi mencionado nos documentos como Don Joseph Tinchant, que, de acordo com as formas de tratamento local, indicava ser um cidadão do México.
Em 1937, Marie-José Tinchant, uma jovem de 21 anos que era neta de Joseph Tinchant, deu uma entrevista ao jornal londrino Daily Mail. A publicação mostra que, embora Marie-José fosse uma moça delicada, culta e filha de um próspero comerciante de charutos da Antuérpia, teve seu casamento anulado por causa da tez da sua pele. Mesmo fugindo e conseguindo realizar o casamento, ocorreram tentativas de anulação da união da parte dos pais do noivo, com base no preconceito racial. Anos depois ela é presa pelas forças nazistas de ocupação da Bélgica, supostamente por ser um membro do Movimento de Resistência durante a Segunda Guerra, e morre em um campo de concentração em 1945, na Ravensbrück, Alemanha.
Os momentos de vida elucidados no livro resultam de um levantamento exaustivo de fontes sobre os membros das famílias de descendentes da ex-escrava Rosalie, depois referida como Marie Françoise. As histórias são retratadas com acentuada tendência, por parte dos autores, em suposições de informações que não são captadas por meio dos documentos. De todo modo, isso em nada compromete o trabalho, tamanho o esforço em evidenciar como essas gerações fizeram uso desses papéis para legitimar seus direitos e superar restrições que os ligavam à escravidão. O livro nos mostra que quanto mais distante da condição escrava, maiores as chances de obter ascensão econômica, social e até mesmo política. Contudo, também deixa claro que em cada uma dessas conquistas havia uma luta constante em torno do combate ao racismo que assolou e ainda assola gerações até os nossos dias.
Por abarcar um período tão abrangente, marcado por tantas mudanças, o livro interessa aos especialistas da escravidão, do fim do colonialismo e dos conflitos antirracistas no Mundo Atlântico, mas também àqueles dedicados a debates mais contemporâneos acerca da luta contra o racismo
Renata Romuldo Diório – Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Pós-Doutoranda em História Social da Cultura. Universidade Federal de Minas Gerais. Rua Amador Catarino Jales, 105, Distrito de Padre Viegas, Mariana, MG, 35422-000, Brasil. renatadiorio@hotmail.com.
Guerra Literária: panfletos da Independência (1820-1823) – CARVALHO e. al (VH)
CARVALHO, José Murilo de; BASTOS, Lúcia; BASILLE, Marcelo (Orgs). Guerra Literária: panfletos da Independência (1820-23). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. GASPAR, Tarcísio de Souza. Guerra Literária: panfletos da Independência (1820-23). Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 57, Set./ Dez. 2015.
A confluência de novas tecnologias de comunicação – as chamadas redes sociais – com velhas insatisfações políticas tem modificado, disseminado e talvez potenciado o debate e a mobilização política no Brasil e noutras partes do globo, e contribuído para a ocorrência de movimentos como a Primavera Árabe e os protestos de junho de 2013 no Brasil. É impossível prever o futuro dessa interação. Mas o seu passado, isto é, o da correlação entre a efervescência de ideias e de manifestações públicas de opinião e a deflagração de conflitos políticos de grande escala, foi historicamente consagrado. Nos últimos séculos, momentos de crise coincidiram quase sempre com a proliferação de falas, de textos e de outras expressões do pensamento. Alterações políticas trouxeram consigo furor comunicativo. Ou, antes disso, a popularização de conceitos ocasionou modificações no vocabulário e nas estruturas políticas.
A monumental obra em questão, dividida em quatro grossos volumes, expõe uma dessas felizes – e raras – combinações entre proliferação da palavra e efervescência política na história brasileira. Organizada por três grandes nomes de nossa historiografia política, a coleção de panfletos da Independência traz boa parte do que se escreveu e se discutiu publicamente no Brasil ao longo de um curto, porém, crucial período, no qual transformações políticas decisivas se sucederam em ritmo acelerado. O movimento liberal do Porto, em agosto de 1820, foi o estopim de tensões impactantes no mundo luso-brasileiro, suscitadoras da produção de expressivo conjunto de panfletos manuscritos e impressos, que alimentaram o debate envolvido na constitucionalização do reino lusitano, nas eleições e nos debates das Cortes, na emancipação brasileira e na afirmação inicial do novo Estado americano. Em obra pretérita, intitulada Às armas, cidadãos! (2012), os organizadores já haviam dado à luz 32 panfletos manuscritos redigidos entre 1820 e 1823. Agora, em Guerra Literária: panfletos da Independência, completam a coleção com a parte mais robusta do acervo, composta pelos folhetos políticos impressos à mesma época, num total de 362 panfletos.
Coligida em diferentes instituições, ao longo de décadas de pesquisa acumulada por seus organizadores, a edição crítica dos panfletos é um colosso documental. Seu impacto na historiografia interessada na independência e na história do pensamento político brasileiro na primeira metade do século XIX promete ser expressivo, tanto por facilitar o acesso a documentos importantes, quanto por revelar fontes pouco utilizadas ou desconhecidas. Os impressos informam sobre a formação de uma incipiente esfera pública de discussão política, que incluiu “periodiqueiros”, jornalistas, membros das elites coimbrã e brasiliense, bacharéis, militares, religiosos, letrados e leitores diversos e se estendeu, pela oralidade, até grupos populares e iletrados. Esse lastro social do processo constitucional e independentista apenas recentemente começou a ser descortinado por nossa historiografia. A obra interessa ainda por se coadunar a diferentes perspectivas da história política em voga, como as que perseguem conceitos (sob influência de R. Koselleck),linguagens (inspirada em autores como J. G. A. Pocock e Q. Skinner) e culturas políticas. Essa historiografia, mais afeita às expressões populares e ordinárias do pensamento político, de preferência aos cânones e aos registros oficiais, tem reconstituído formas de pensar, de agir e de se exprimir em embates ou processos políticos, historicamente situados.
Guerra Literária cumpre bem os requisitos de uma obra de referência. Os volumes estão ordenados por gêneros literários e, no interior desses, os panfletos se dispõem em ordem cronológica anual. A opção pelo gênero textual adequa-se às características da documentação. Datados apenas com o ano de publicação, os folhetos não se prestam a sequenciamento cronológico preciso. Tampouco poderiam ter sido organizados por autor, haja vista a ocorrência comum do anonimato e do pseudônimo. Os dois primeiros tomos, compostos por cartas (v. 1) e por análises, reflexões e projetos de teor especulativo (v. 2), são mais homogêneos. O terceiro e o quarto englobam tipos distintos: sermões, orações, discursos, diálogos, catecismos, dicionários, manifestos, proclamações, representações, protestos, apelos e elogios (v. 3); e poesias, relatos, exposições, memórias, notícias e narrações (v. 4). Nesse volume ainda constam os folhetos políticos impressos na Cisplatina, então parte do Reino Unido. Os organizadores contribuíram com uma introdução geral à coleção e outras específicas a cada volume. Os panfletos platinos tiveram introdução especializada, redigida por Ana Frega. O leitor conta ainda com cronologia do período, índices onomásticos, notas biográficas e o rol das tipografias envolvidas.
Os impressos eram “literatura de circunstância” que almejava comunicar-se com o grande público. A oralidade impregnou textos em forma de diálogo, orações, catecismos, entre outras. Cabia fazer circular o “novo vocabulário político”, valendo-se de técnicas retóricas e de artifícios literários. Os panfletos tomaram as ruas. A leitura em voz alta e a rede de murmurações e de boatos levaram o conteúdo de discursos e de comunicações escritas àqueles que não sabiam ler. Baratos e acessíveis, os escritos de circunstância serviam, como se disse à época, ao entretenimento dos que não podiam pagar entrada no teatro. Num contexto de agitação política, foram instrumentos fundamentais de participação e de mobilização. Possibilitaram a intervenção do homem comum no espaço público. Disseminaram notícias e informações políticas, tornando-as de domínio público. Popularizaram, em frequência inédita no Brasil, os conceitos políticos oriundos da Ilustração e do contexto revolucionário que desestruturou o Antigo Regime (v. 1, p. 12-16).
Apesar do clima de liberdade de expressão e de participação política, manifestada inclusive através do voto, as heranças coloniais daquela sociedade escravista restringiram e, no limite, inviabilizaram essa esfera pública. Nos panfletos relativos à situação brasileira, a escravidão metaforizava o despotismo e a tirania. A princípio, a constituição deveria estipular “os direitos do cidadão livre”, distinguindo-o do “escravo de tantos senhores”. Em seguida, a postura recolonizadora adotada pelas Cortes transformou-se numa tentativa de escravização, “como se fôssemos um punhado de miseráveis escravos sujeitos à discrição e capricho de seus senhores, e não um Reino aliado mais poderoso e com mais recursos do que o mesmo Portugal” (v. 2, p. 110-123). Um poema feminino que se acredita ter sido escrito por menina baiana de 13 anos indagou: “Justos céus, de que nos servem/Bases da Constituição/Se a lusa tropa só quer/Impor-nos a escravidão” (v. 4, p. 263).
A independência garantiu a alforria política das elites regionais, antes submetidas à metrópole europeia. Como discursou posteriormente o deputado Lino Coutinho, “o Brasil quebrou os ferros da escravidão e separou-se do reino e se pôs no estado de independência”. Mas não estendeu esse “estado” à massa de africanos e de descendentes submetidos ao cativeiro doméstico, desprovida do foro de cidadania, privada do acesso à educação formal e alheia, portanto, aos conteúdos da cultura escrita e do debate político letrado. Segundo José Bonifácio, “nossa independência não é mais do que aquela de um filho que se emancipa”. Em 1822 apenas uma parte da ex-colônia se emancipou ou, em termos kantianos, atingiu sua maioridade política. Faltou que o mesmo ocorresse à outra parte, cuja razão, desprovida de uso público, ainda forceja por libertar-se da escravidão.
Tarcísio de Souza Gaspar – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Campus Muzambinho. Estrada de Muzambinho, km 35, Bairro Morro Preto, Muzambinho, MG, 37.890-000, Brasil. tarcisio.gaspar@gmail.com.
História da educação brasileira: do período colonial ao predomínio das políticas educacionais neoliberais – SHIGUNOV NETTO (VH)
SHIGUNOV NETO, Alexandre. História da educação brasileira: do período colonial ao predomínio das políticas educacionais neoliberais. São Paulo: Salta, 2015. 277 p. FORTUNATO, Ivan. História da educação brasileira: do período colonial ao predomínio das políticas educacionais neoliberais. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 57, Set. / Dez. 2015.
Parece simples a tarefa de produzir uma resenha: ler, reler, entender, resumir e comentar. Mas não é. Trata-se de ler, reler, compreender o que foi escrito dentro do contexto em que fora produzido, cotejando-o com as referências e os objetivos da obra, sejam estes declarados ou apanhados nas entrelinhas. Mais ainda, trata-se de tornar público o pensamento do autor, pois, é pela resenha que estudantes, professores, pesquisadores… leitores, tomam conhecimento da importância e relevância de determinado livro para determinada obra. Particularmente, por precaução, não costumo assumir toda essa responsabilidade. Prefiro assinar o que escrevo, pois qualquer equívoco recai somente sobre minha própria produção.
Não obstante, a “História da educação brasileira: do período colonial ao predomínio das políticas neoliberais” é um livro que merece todo esse esforço, redobrado até. Isso porque a tarefa escolhida – e cumprida com êxito – exigiu de seu autor demasiado empenho para recobrir toda nossa história educacional que, praticamente, se equivale a nossa própria história cultural desde o “descobrimento”, tendo em vista que as primeiras escolas foram criadas e geridas pelos jesuítas, que também foram os primeiros mestres.
Não obstante, Shigunov Neto deixa claro os propósitos de sua investigação logo na apresentação do livro: “indicar que a educação brasileira sempre esteve vinculada aos interesses da ideologia dominante” (p. ix). Assim, o leitor pode esperar muito mais do que somente ler sobre o desenvolvimento cronológico da educação brasileira desde o século XVI até o momento atual. Isso porque Shigunov Neto nos apresenta uma obra que circunscreve toda nossa história educacional a partir das complexas contingências sócias, econômicas e políticas de cada período vivido pelo país… sendo a educação, como reforça constantemente o autor, vinculada aos interesses daqueles que estavam no poder.
Ao prefaciar a obra, o professor Pedro Demo deixa expresso que o livro de Shigunov Neto é “obra longa, densa, resultado de esforço hercúleo de pesquisa sistemática” (p. vii). E de fato é. Seu autor consultou algumas dezenas de livros, tratados, leis, documentos etc. listando quase duas centenas de referências no final. Ademais, o autor faz excelente uso das notas de rodapé, esclarecendo, por meio de breves explicações biográficas, quem foi quem na história da educação brasileira, fortalecendo ainda mais a contextualização dos acontecimentos. Sua redação é clara, objetiva e impessoal, tornando-se outro ponto de destaque da obra pois, para cada momento histórico apresentado, foi feito um excelente cotejamento de ideias de vários autores, promovendo não apenas o relato do período, mas possibilitando a reflexão sobre a transformação histórica do Brasil e da história da nossa educação.
O livro começa recuperando o período das grandes navegações, recobrindo o momento vivido por Portugal e os motivadores que levaram os portugueses a procurar por novas terras além-mar e, assim, “descobrir” o Brasil. Os primeiros capítulos são destinados, então, a descrever as navegações e as subsequentes fases de colonização do país e os diferentes projetos educacionais implantados: o jesuíta, o pombalino, o ideal de D João VI… Na densa redação que oferece para cada projeto, Shigunov Neto busca evidenciar sua hipótese de que cada reforma educacional no país teve (e ainda tem) como propósito “a total destruição e substituição das antigas propostas” (p. 47).
O capítulo sexto é o mais intenso do livro, tratando, em mais de uma centena de páginas, sobre o período republicano, momento em que a educação pública e para o trabalho industrial entra efetivamente na pauta na agenda política: “foi somente no período republicano”, afirma (p. 267), “que a educação começou a tomar contornos diferenciados e a se constituir num problema de ordem social”. Assim, Shigunov Neto recobre os ideais de educação nas constituições federais e nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, 1968, 1971 e 1996, sem se desvincular de seu objetivo principal: demonstrar que a educação brasileira sempre esteve vinculada aos interesses de quem assumia o poder. O último capítulo do livro é dedicado às discussões a respeito da influência das políticas neoliberais na educação nacional, buscando retratar o momento vivido desde o final do século passado.
Essa densa e extensa obra a respeito da História da Educação Brasileira pode e deve ser lida pelos alunos de todas as licenciaturas e de cursos voltados para ciências humanas, assim como precisa ser lido por estudantes de pós-graduação interessados na história e na educação brasileira. Pode ser lido de uma só vez, mas não é recomendado. Deve ser lido parcimoniosamente, permitindo-se momentos de parada. Ao final, se o trabalho de Shigunov Neto resultou na análise de uma trajetória pessimista, conforme indicou Pedro Demo no prefácio, cabe aos educadores de hoje e de amanhã encararem essa triste jornada, compreendendo-a para, então, transformarem-na em uma marcha um tanto mais entusiasmante.
Ivan Fortunato – Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Ensino, Ciência, Cultura e Ambiente (NuTECCA). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus de Itapetininga/SP. Avenida João Olimpio de Oliveira, 1561, Itapetininga , SP, 18.202-000, Brasil. ivanfrt@yahoo.com.br.
Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur – ÁGUILA; ALONSO (VH)
ÁGUILA, Gabriela; ALONSO, Luciano (Coord). Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2013. 300 p. GONÇALVES, Marcos. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 56, Mai./ Ago. 2015.
Quais as correspondências possíveis entre o regime franquista (1939-1975) e as ditaduras militares instaladas ao sul do nosso continente a partir da década de 1960? Existem categorias de análise comuns que podem constituir-se em grade de interpretação sistêmica desses objetos? Estas são duas das indagações que atravessam os ensaios reunidos na coletânea “Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur”, coordenada por Gabriela Águila, professora de História Latino-americana da Universidad de Rosário, e Luciano Alonso, catedrático de História e Teoria Social da Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe/Argentina).
Desde o Prólogo a obra sinaliza para a complexidade de tais questões, não apenas pela evidência prévia das distâncias cronológicas e geográficas, mas igualmente pelas origens políticas e culturais distintas dos conflitos sociais que fizeram emergir esse conjunto de regimes. A este duplo aspecto são aditados os desdobramentos díspares quanto aos processos da experiência repressiva e transição democrática vivenciados pelas sociedades respectivas.
No entanto, as assimetrias passam a significar um fator de menos densidade quando a elas são aplicados modelos de compreensão que se afastam das definições normativas e rígidas, atribuindo a essa obra coletiva unidade metodológica, coerência teórica e pluralidade documental. A coletânea reúne contribuições de historiadores e estudiosos das ciências sociais de países como Espanha, Brasil, Chile, Argentina e Uruguai cuja especialidade na temática núcleo – a ditadura repressiva como síntese sociopolítica dessas sociedades no século XX, e as consequentes sequelas herdadas – convida a revisitar subtemáticas alicerçadas ao núcleo. As categorias chaves de análise são o sistema repressivo engendrado pelos regimes; as coalizões de violência formadas por diversos níveis organizacionais e hierárquicos; as atitudes sociais que conformaram extensas redes de relacionamentos situadas entre o consenso e a resistência; o exílio como símbolo primordial do desterro.
A obra conta com a reedição de um clássico artigo escrito por Julio Aróstegui e publicado em dezembro de 1996, no Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne. Atual e robusto pelas inquietações que suscita, “Opresión y pseudojuricidad. De nuevo sobre la naturaleza del franquismo,” (p.23-40) funciona como o fundamento metodológico para o agrupamento de ensaios que problematizam o papel das ditaduras de ambos os lados do Atlântico. No texto, Aróstegui advoga a necessidade de superação de tipologias dependentes da casuística politológica, para que sejam reconsiderados, efetivamente, os estatutos histórico e historiográfico da questão.
Em outras palavras, para Aróstegui, partindo do problema espanhol, a análise do sentido histórico de um regime não pode estar encoberta pela sua significação; ou, as interrogações não devem ser lançadas aos referentes do objeto numa categoria dada a prioriou circunscrita em definições formais de regimes políticos segundo critérios já estabelecidos. (p.25) Aróstegui reivindica uma “suficiente empiria” propiciada pela análise histórica que desconstrua as estratégias argumentativas da ciência política e da sociologia em interpretarem como “fascista”, “sin apelación, a un régimen [franquismo] que jamás se llamó a sí mismo tal cosa. Y lo mismo cabría decir de sus calificaciones como “autoritarismo” – con o sin “pluralismo limitado” -, “bonapartista” o “dictatorial.” (p.28)
Tendo em vista esses postulados teóricos, abrem-se para os autores da coletânea questões em série, todas elas proporcionadas, claro está, pela legitimação heurística e prática cotidiana que foram atribuídas aos regimes por si mesmos. De modo que as possibilidades de comparação não frutificam somente entre os regimes que tiveram certa proximidade geográfica e cultural; mas existem razões que justificam “comparaciones ampliadas”. Tais casos comparativos aparecem na reflexão de Luciano Alonso (p.43-68) e Daniel Lvovich, (p.123-146) ao ponderarem sobre os marcos gerais de uma época; as estruturas sociais e instituições políticas; os vínculos internacionais; e, principalmente; as mútuas influências e características ideológicas, fatores suficientemente capazes de romper barreiras temporais, culturais e geográficas assumindo certo caráter de permanência e densidade histórica, e tornando factíveis as comparações ampliadas, assim como, as devidas diferenciações entre os grupos políticos.
Não obstante, a grade de interpretação sistêmica mais recorrente da obra coletiva é instaurada pela noção de “dimensão repressiva” como aquilo que parece representar ou definir a natureza dos regimes políticos. Coerentes a essa noção, autores como Jorge Marco mergulham nos sistemas de “limpeza política” na Espanha franquista que levaram a assassinatos extrajudiciais. (p.69-96) Como reforço do argumento comparativo, esta prática em muito encontra parentescos com o que viria a ocorrer mais tarde em países como a Argentina, com a lógica de “desaparición” e Chile com os “assassinatos públicos” que inauguraram a ditadura pinochetista. Os dois países são analisados respectivamente por Gabriela Águila, no texto “La represión en la historia reciente argentina: fases, dispositivos y dinámicas regionales,” (p.97-121) ou Igor Goicovic Donoso que em “Terrorismo de Estado y resistencia armada en Chile,” (p.245-270) desbasta a radicalização profunda da sociedade chilena com a chegada do socialista Allende ao poder, acompanhada do inconformismo de uma sociedade tradicional e na qual as Forças Armadas gozavam de imenso prestígio. Donoso destaca que, obstinadas pela ideia de uma “refundação” da sociedade chilena, as Forças Armadas recorreram à repressão como principal mecanismo de controle social: “La represión política fue, por lo tanto, una condición imprescindible para garantizar el éxito del proceso refundacional y un elemento clave para anular la relación entre izquierda política y movimiento popular.” (p.245)
A coletânea ainda conta com artigos sobre os sistemas repressivos do Brasil, a cargo de Samantha Quadrat, e Uruguai, com um ensaio escrito por Carlos Demasi. Enquanto Quadrat problematiza as cadeias de comando repressivo e as variantes de violência política; Demasi debate as ambíguas formas de coexistência entre a sociedade uruguaia e a ditadura.
Tal obra coletiva é especialmente recomendada aos estudiosos (professores e alunos de pós-graduação) da história política recente da América Latina, bem como, aos pesquisadores preocupados com a dimensão transnacional e de cruzamentos da cultura política hispanoamericana. Fundamentada em sólida metodologia e original emprego de documentação (sob a ótica de atribuir voz própria aos regimes políticos), a conjugação das variadas facetas assumidas pelos sistemas repressivos em pauta na coletânea pode subsidiar, como marco historiográfico comparativo uma série auspiciosa de objetos de estudos: o funcionamento dos sistemas penitenciários, as resistências armadas ou pacíficas, as funções representacionais e legitimadoras das ditaduras, os posicionamentos dos distintos agentes frente à dominação ditatorial, ou ainda, a autonomia adquirida pelo sistema repressivo nos âmbitos regionalizados.
Marcos Gonçalves – Departamento de História. Universidade Federal do Paraná. Rua General Carneiro, 460, 6º andar, Ed. D. Pedro I, Curitiba, PR, 80.060-150. marcos.goncalves@ufpr.br.
O lugar da geografia brasileira: A Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro entre 1883 e 1945 – CARDOSO (VH)
CARDOSO, Luciene P. Carris. O lugar da geografia brasileira: A Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro entre 1883 e 1945. São Paulo: Annablume, 2013. 240 p. MARTINELLO, André Souza. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 56, Mai./ Ago. 2015.
É quase senso comum ver disciplinas vizinhas dialogarem pouco, pelo menos sobre a tradição que já tiveram. Mas existem tentativas de aproximação da História e da Geografia, como a obra de Luciene P. Carris Cardoso. Essa historiadora publicou pela editora Annablume partes da sua dissertação de mestrado e da tese de doutorado. Trata-se de um trabalho acadêmico com relevante atenção aos detalhes, e sem perder o contexto maior: concepções “pré-geográficas” antes da institucionalização formal da Geografia.
Entre suas contribuições está recolocar em discussão as ações de institutos e indivíduos que adensaram os debates sobre determinadas áreas das ciências, antes de conquistarem legitimidade. Anteriormente à criação de Universidades, das Faculdades de Educação e, com destaque, antes mesmo dos Departamentos e cátedras de Geografia (e/ou História pois, quase sempre, inicialmente eram um só curso), houve sim, um profundo e permanente debate de uma – com o perdão da expressão – “proto-Geografia” brasileira ou “Pré-disciplina”. Nesse livro, percebem-se saberes geográficos de várias tendências se constituindo, antes da disciplina Geografia formalmente existir. E a disciplinarização, a criação dos cursos de formação de professores e bacharéis, enfim, da ciência geográfica em geral foi, de início, extremamente influenciada por essa Sociedade aqui estudada.
A partir do caso da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro/SGRJ fundada no Império (fortemente apoiada pela Coroa e parte influente da Corte), em 1883, seguem-se ideias de pessoas que pensavam a Geografia como central para o País. O recorte do trabalho vai até o final de 1945 quando a Sociedade alterou seu nome e passou a ser Sociedade Brasileira de Geografia. Vários pontos marcam a obra, entre eles, a passagem e conferência na SGRJ do renomado geógrafo francês Elisée Réclus, assim como Marechal Candido Rondon e demais intelectuais, burocratas, estadistas, ídolos ou heróis daquela Sociedade (tal como o Imperador D. Pedro II e Getúlio Vargas, para ficar em exemplos de governantes), entre outros. A maneira metodológica de organização das fontes que Cardoso utilizou para construir seu texto é didática, seguindo uma certa ordem cronológica. O estudo nos apresenta uma profunda relação entre formas de se pensar a(s) Geografia(s) e o Poder(es), a partir do papel daqueles indivíduos membros filiados que constituíram a Sociedade, seja a produção de reuniões, materiais e temas de interesses, suas publicações, a Geografia como instrumento para o Estado, para o nacionalismo mas também, para os próprios sujeitos que mobilizavam tal Sociedade para proporem e realizarem políticas, ideias e visibilidade de opiniões pessoais.
Das documentações mais presentes no livro estão as publicações e atas de reuniões da SGRJ, com as quais a autora consegue também constituir parte da trajetória biográfica de pessoas que pertenceram a essa Sociedade, justamente a partir dos textos publicados pela SGRJ. Além de certa periodicidade de publicações, do usos de Anais de Eventos, o livro aponta alguns papéis ocupados por figuras-chave na compreensão de tal Sociedade, seus interesses, dos discursos e “ideologias geográficas” (essa última expressão de Antonio Carlos Robert Moraes, autor que apresenta a primeira capa a “orelha” do livro) da SGRJ. Não foi por mera coincidência que um (ex-)chanceler, por exemplo, foi presidente daquela Sociedade. A própria escolha das sedes das cidades para realização de eventos da SGRJ, também é outro exemplo da existência de acordos entre os membros, pois os encontros e congressos organizados pela SGRJ não eram “escolhas imparciais”, mas desejos de seus membros e questões candentes com a época.
Quero chamar atenção para a 9ª reunião Nacional de Geografia – e me toca pessoalmente tal exemplo por ter sido a sede a antiga Faculdade de Educação, conhecida FAED, na qual me licenciei – evento realizado em Florianópolis, cidade escolhida em reunião da SGRJ, tema de um dos últimos capítulos do livro. A escolha da capital de Santa Catarina se deveu aos fatores do contexto geopolítico e nacionais da Segunda Grande Guerra pois, naquele ano de 1940, pensava-se a relevância da difusão de brasilidade via Geografia em um dos Estados do País com maior número e contingente de imigrantes alemães. Havia, portanto, como bem aborta a autora, uma “cultura geográfica do Estado Novo” na e pela SGRJ; e a escolha de realizar o evento em terras catarinenses refletiu um pouco aquele momento. Por outro lado, também a escolha de Santa Catarina para receber tal evento se deveu ao peso institucional do catarinense José A. Boiteux (1865-1934), ativo membro da SGRJ, idealizador do 1º Encontro dessa Sociedade ainda na “República Velha”. Portanto, a Nova reunião em Florianópolis foi uma forma de retribuição e homenagem póstuma a Boiteux. Destaca-se também a realização de trabalho de campo no Vale do Itajaí, coordenado pelo conhecido geógrafo francês – naquela época professor da USP – Pierre Monbeig.
Acredito que os leitores interessados nas discussões presentes no livro de Luciene P. Carris Cardoso serão constantemente surpreendidos com tantas valiosas informações discutidas na obra, e talvez sintam aquele gostoso prazer de re-ler o que acabou de ser lido. Esse trabalho realizado pelo espectro da História traz novamente a necessidade de continuação das trocas além dos departamentos e de maneira interdisciplinar, pois afinal, com esse livro conseguimos compreender “o lugar da geografia brasileira”, essa expressão que nomeia o livro que logo deverá ser leitura obrigatória e bibliografia de referência nos melhores cursos e centros de discussão de Geografia. É mais uma vez um bom momento para pensarmos os lugares possíveis da História e da Geografia no Brasil e os distanciamentos que ambas tomaram de si mesmas, podendo aprofundar com melhor qualidade os debates com a publicação sobre as histórias da Geografia brasileira e da Sociedade que “fundou” interpretações geográficas antes mesmo de existir uma Geografia stricto sensu.
André Souza Martinello – Laboratório de Geografia Política. Universidade de São Paulo. Av. Engenheiro Max de Souza 1327, ap. 102, Cond. São Gabriel, Coqueiros, Florianópolis, SC, 88.080-000. andresoumar@gmail.com.
Transformando o Brasil: uma história do desenvolvimento nacional na era do pós-guerra – IORIS (VH)
IORIS, Rafael. Transformando o Brasil: uma história do desenvolvimento nacional na era do pós-guerra. Nova York: Routledge, 2014. 270 p. ROGER, Thomas D. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 56, Mai./ Ago. 2015.
Em setembro de 1957, uma jovem estudante de uma escola pública do interior de São Paulo, chamada Dorothy Del Ben Pedroso, enviou uma carta ao Conselho Nacional de Desenvolvimento (CD). O presidente Juscelino Kubitschek havia encarregado a agência de executar seu ambicioso Plano de Metas, e o CD tinha a reputação de instituição tecnocrática de alto nível envolvida em pesados problemas da política nacional. Mesmo enfrentando essas graves responsabilidades, os membros do CD reservaram um tempo para ler as perguntas de Dorothy sobre o objetivo de aumentar a mecanização agrícola, sobre as quais ela aprendeu em material publicado sobre os planos de JK. O secretário-geral do Conselho, Lucas Lopes, um confidente pessoal de Kubitschek e um poderoso formulador de políticas, leu a carta junto com outros quatro membros do CD. Esse detalhe sobre as operações internas da agência demonstra uma das grandes realizações de Rafael Ioris em seu novo livro completo sobre desenvolvimento durante o governo Kubitschek. Ioris fornece um relato detalhado e texturizado das origens do Plano de Metas e como ele foi colocado em ação. Ele vincula seu exame dos debates em torno da política e da mecânica de sua implementação à história mais ampla de como ela foi envolvida por vários setores sociais.
A carta de Dorothy mostra que os debates sobre desenvolvimento atingiram amplamente a sociedade brasileira da década de 1950. Das elites políticas aos alunos das escolas rurais, todo tipo de pessoa sabia algo sobre os objetivos de Kubtschek e achava que estava interessado no processo de realizá-los. Ioris fornece narrativas claras e cativantes do progresso desses debates, em seus vários níveis de abstração e influência. Ele cataloga as perspectivas e argumentos apresentados em uma ampla gama de materiais publicados, divulgados por grupos de negócios e grupos de reflexão. Ele também analisa as operações internas das agências federais, como indica sua atenção à correspondência do CD. E ele analisa as visões da classe trabalhadora, especialmente da indústria automobilística, usando documentos como A Voz do Metalúrgico. Apesar de tantos grupos terem participado ativamente da discussão sobre a busca pelo desenvolvimento, Ioris sustenta que “não existia definição consensual de desenvolvimento nacional” na época (p. 6). A heterogeneidade de opinião fornece mais uma razão para reconstruir esses debates e determinar quais vozes ecoaram mais alto durante o rápido desenvolvimento que ocorreu durante o governo de JK. Ioris também fornece um corretivo para uma visão reducionista da época – que Kubitschek presidiu um período de concordância social e apoio monolítico às suas políticas.
Uma das principais intervenções de Ioris reside em seu argumento insistente de que o Conselho de Desenvolvimento não funcionou como um corpo transcendentemente tecnocrático, isolado da influência externa. Ioris argumenta que o mais importante dos interlocutores do CD veio da comunidade empresarial. O Conselho manteve vínculos claros e amplos com interesses privados e, de fato, os objetivos do Plano de Metas que foram alcançados foram precisamente aqueles em torno dos quais houve maior interação entre a agência e o capital privado. Além disso, os defensores mais fortes do Plano vieram de setores sociais com maior probabilidade de negar o conteúdo político de suas posições. Os setores de renda média e alta, incluindo líderes empresariais, defendiam uma abordagem “técnica” da política que ressoava com o estilo aparente de JK. Mas por mais que possam obscurecer isso, essas abordagens eram certamente políticas. E a tendência a favor da governança tecnocrática ajudou a estabelecer as bases para o apoio desses militares aos setores, quando tomou o governo em 1964.
Ioris apresenta um argumento perspicaz sobre o contexto da queda do regime democrático em 1964. Primeiro, ele fornece uma visão do crescimento de uma predileção por administradores supostamente não políticos. Segundo, ele demonstra que a abordagem consistentemente favorável aos negócios da JK encerrou oportunidades para outros setores sociais contribuírem com sua própria visão de desenvolvimento, principalmente a classe trabalhadora que cresce rapidamente. Sua crescente frustração com um modelo de desenvolvimento que falhou em lidar com as desigualdades regionais e de classe ajuda a explicar a polarização dos anos de Goulart. Enquanto o período de JK registrou um crescimento anual de 11% na produção industrial, por exemplo, os empregos industriais aumentaram apenas 3% ao ano. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento industrial concentra-se cada vez mais em São Paulo, e particularmente na região do ABC.
Lendo os relatos de Ioris sobre os debates em andamento nas páginas da Conjuntura Econômica ou Cadernos do Nosso Tempo, ou nos jornais dos metalúrgicos, fica impressionado como a questão do desenvolvimento nacional impregnava a cultura da época. Mesmo que os brasileiros não concordassem com o que o desenvolvimento deveria significar, a maioria concordou que eles queriam. Ioris concentra-se amplamente nos diálogos políticos e intelectuais, mas oferece um contexto importante para outras expressões dos debates maiores. Por exemplo, “Eles não usam black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri, estreou em 1958, no meio do período que Ioris descreve e apresenta o segmento de trabalhadores que ele examina. A caracterização do quinto capítulo da cultura emergente do consumo abre essa discussão, mas Ioris deixa para outros estudiosos explorar ainda mais os elos entre os debates sobre cultura e desenvolvimento.
Os seis capítulos do livro dividem-se ordenadamente em duas seções. A primeira seção descreve o contexto histórico para a elaboração e implementação do Plano de Metas e a segunda examina as relações de três grupos distintos com o Plano. Os três capítulos que constituem a primeira seção preparam o terreno para a compreensão da história do pensamento desenvolvimentista no Brasil, preenchendo antecedentes e contexto para compreender os anos do pós-guerra. Ioris também coloca o Brasil em um contexto internacional, demonstrando onde sua experiência nacional se encaixa em um cenário mais amplo e particularmente hemisférico. Finalmente, esta seção explica como o Conselho de Desenvolvimento foi formado e funcionou. A segunda seção é composta pelos três capítulos finais, que avaliam seqüencialmente os intelectuais do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, líderes de negócios (incluindo executivos de publicidade da influente empresa norte-americana J. Walter Thompson) e trabalhadores de automóveis. Este livro bem pesquisado oferece uma imagem rica da trajetória de desenvolvimento nos anos da JK e servirá como uma referência valiosa.
Thomas D. Rogers – Universidade de Emory. 561 S. Kilgo Circle. 221 Bowden Hall. Atlanta, GA 30322. tomrogers@emory.edu.
A América portuguesa e os sistemas atlânticos na época moderna: monarquia pluricontinental e Antigo Regime – FRAGOSO et. al (VH)
FRAGOSO, João; GUEDES, Roberto; KRAUSE, Thiago. A América portuguesa e os sistemas atlânticos na época moderna: monarquia pluricontinental e Antigo Regime. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2013. v.1. 184 p. CONCEIÇÃO, Helida Santos. A América portuguesa e os sistemas atlânticos na época moderna: monarquia pluricontinental e Antigo Regime. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 55, Jan. /Abr. 2015.
Nos últimos 20 anos a historiografia brasileira tem revisado o que se convencionou chamar de “modelos explicativos da economia colonial”, mais precisamente o sentido da colonização e a ideia de que a sociedade da América poderia ser traduzida em termos de latifúndio, monocultura e escravidão. O sentido teleológico contido nessa interpretação, formulada por Caio Prado Jr. na década de 1940, visava explicar a nossa dependência estrutural do capital externo, insistindo na ausência de uma economia interna e reduzindo a complexidade da sociedade que se formou no novo mundo às noções de exclusivismo colonial, pacto colonial e relação metropóle-colônia. Por essa perspectiva a sociedade colonial estava dividida basicamente entre senhores e escravos não havendo espaço para perceber historicamente outros agentes sociais.
O fato é que essa visão engessada do nosso passado colonial, não pode mais se sustentar em função dos novos direcionamentos da historiografia brasileira e da incontornável revisão teórica pela qual passou tais modelos explicativos. Por não sublinhar aspectos essenciais das sociedades que se formaram na América a partir de suas relações com as monarquias europeias, é que verificou- se a limitação desses modelos para analisar estas sociedades entre os séculos XVI e XVIII.
Atualmente diversos trabalhos desenvolvidos no âmbito das pós-graduações, vem estudando a América portuguesa nos termos de uma sociedade inserida no Antigo Regime. No entanto, faltava uma publicação que apresentasse essa discussão de modo direto, com uma linguagem factível e centrada não somente em novos aportes teóricos, mas chamando atenção para outras possibilidades de exploração de fontes documentais, tais como os assentos paroquiais e as fontes cartorárias, necessárias para uma apreensão mais complexa e relacional da dinâmica interna desta sociedade.
O livro A América Portuguesa e os sistemas atlânticos foi escrito por três historiadores ligados ao grupo de pesquisa Antigo Regime nos Trópicos, e cumpre um papel relevante para o desenvolvimento do conceito de monarquia pluricontinental, como uma hipótese de trabalho válida para estudar a monarquia católica portuguesa e a formação dos sistemas atlânticos. A obra está dividida em três capítulos, cada um dos quais articulados com a ideia da consolidação de um sistema atlântico em perspectiva comparada, com ênfase nas transformações socioeconômicas vividas pela América lusa entre os séculos XVI e XVIII. E, ao final, há um glossário, muito útil para os investigadores do tema, com os principais conceitos discutidos no texto.
O argumento principal é explorar como a produção e o excedente econômico estavam voltados para a reprodução interna da sociedade escravista com suas diferenças de status (sociedade estamental), atestados pela hierarquia social costumeira, através de um mercado regulado pela política. O conceito de monarquia pluricontinental, vale ressaltar, ainda em construção, tende a diferenciar-se do conceito de monarquia compósita formulado por J. Elliot para descrever a coroa Hispânica nos séculos XVI e XVII, muito embora ambas as monarquias ibéricas fossem católicas
Mesmo que apareçam similaridades, há que sublinhar que existiam diferenças consideráveis entre a monarquia compósita dos Austrias de Espanha e a pluricontinental lusa na gestão de suas possessões no novo mundo. Uma delas diz respeito a interação entre as elites reinóis e americanas nas formas de administração das populações nativas. A monarquia lusa vivia dos rendimentos auferidos nas conquistas, portanto possuia a centralidade na sua periferia, fatores que reiterariam a sua natureza sistêmica como uma monarquia pluricontinental. Para deixar ainda mais claro a formulação deste conceito, os autores analisam em perspectiva comparada as possessões ibéricas, com as colônias inglesas no Caribe, exploradas por uma racionalidade diferente, sob a influência das revoluções de 1640 e 1688, nas quais o lucro de proprietários absenteístas retornavam para suas praças europeias.
Dessa forma a monarquia portuguesa vista como Pluricontinental era também polissinodal e corporativa, orientada por uma disciplina social católica e modulada no interior da segunda escolástica. Baseados em estudos recentes, os autores atestam que nos territórios das conquistas, assegurou-se a autonomia das instituições com poderes concorrenciais, sobretudo no autogoverno dos municípios, orientados pelo princípio do bem comum e da economia das mercês. Tal situação inclusive havia se configurado em Angola, o que teria permitido a montagem do sistema atlântico luso do tráfico de escravos, uma vez que na monarquia pluricontinental as formas de governabilidade estavam alicerçadas em negociações e pactos políticos entre as elites locais e a administração do Império. A formação de vínculos de dependência/lealdade, gerou uma visão de mundo, ou seja um ethos, que configurou-se como ligação incontornável entre sua majestade e o controle dos territórios das conquistas.
Esse sentimento de pertencimento à monarquia traduzia-se numa obediência amorosa, portanto consentida e voluntária, difundida através da disciplina social católica. De acordo com os autores, essa seria uma relevante chave interpretativa para o entender o funcionamento da economia no Antigo Regime católico. Nessa sociedade parte da riqueza social era comandada pelo além-túmulo, ou seja, a cada geração, uma parcela da riqueza social era transferida para instituições religiosas, retornando sob a forma de crédito que poderiam ser dispostos no mercado, possibilitando assim a reprodução da hierarquia social. Nesta realidade havia uma constante sociabilidade entre os diversos agentes – nobreza da terra, escravos, forros e pardos – que interagiam através de variados vínculos (parentais, compadrio, amizade, proteção) e agências necessárias à administração da república e do mercado.
A mobilidade social e a mestiçagem são também aspectos que deram o tom destas transformações ao longo do tempo, um indicativo disso segundo os autores é o aparecimento dos pardos como grupo social. A compilação de dados retirados de assentos paroquiais de duas principais freguesias do Rio de Janeiro são utilizados para demonstrar como esse grupo surge como resultado da interação coeva entre os indivíduos. Nesse sentido a oikonomia, entendida como economia doméstica, perfazia o lugar central da organização da hierarquia social, sendo a base que regulava o trabalho familiar e a escravidão, passando ao largo da interferência das leis de sua majestade.
A contribuição historiográfica deste livro não é totalmente inédita, uma vez que os conceitos já foram apresentados em outros trabalhos publicados pelo grupo de pesquisa Antigo Regime nos Trópicos. Ao final da leitura a questão que se coloca é sobre a pertinência de ampliarmos tal proposta teórica para outras áreas da América Lusa, sobretudo para vermos como diferentes configurações sociais se comportaram frente ao quadro teórico apontado pelos autores.
Helida Santos Conceição – 1Universidade Federal do Rio de Janeiro. Largo de São Francisco, s. 205, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 20.051-070, Brasil.helidas@gmail.com.
Medo, reverência, terror: Quatros ensaios de iconografia política – GINZBURG (VH)
GINZBURG, Carlo. Medo, reverência, terror: Quatros ensaios de iconografia política. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 200 p. Tradução de Federico Carotti, Júlio Castañon Guimarães e Joana Angélica d’Avila Melo. RABELO, Elson de Assis. Medo, reverência, terror: Quatros ensaios de iconografia política. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 55, Jan./ Abr. 2015.
Já faz algum tempo que a dimensão visual da história e da vida em sociedade tem chamado a atenção do principal nome do campo conhecido como micro-história, seja na Itália ou fora dela. Depois de seus estudos mais importantes nesse campo, o autor passou a explorar o gênero do ensaio, com a verve da polêmica e da erudição, como se vê nas obras Relações de força, Olhos de madeira, O fio e os rastros, nas quais Carlo Ginzburg tem apresentado sucessivamente não apenas seu farto conhecimento sobre longos períodos da história do Ocidente, particularmente da Europa, mas tem posto essa erudição em função de problemas históricos instigantes, a partir das possibilidades dadas pelo método indiciário que ele sistematizara em texto hoje clássico.
O ponto de partida que reúne os quatros capítulos do seu mais recente livro, Medo, reverência, terror, originalmente publicados como quatro ensaios independentes, é a temática mais ou menos comum que lhes abrange e que Ginzburg filia ao conceito de Pathosformeln. Lançado pelo historiador da arte alemão Aby Warburg, mestre de uma geração e conhecida referência do autor italiano, o conceito designa as fórmulas históricas de representação das emoções na arte, vazadas na gestualidade corporal ou na expressividade facial dos sujeitos. Mas, desta vez, trata-se de uma releitura, considerando-se que Ginzburg, em Mitos, Emblemas, Sinais, já mapeara o conceito sobre a obra de Warburg.
Como “instrumento analítico”, as Pathosformeln constituem uma noção que “ilumina as raízes antigas de imagens modernas e a maneira como tais raízes foram reelaboradas” (p.12), especialmente sob o signo da ambivalência entre emoções contraditórias. As Pathosformeln informariam a criação visual, mesmo que o próprio artista eventualmente não saiba de onde vêm essas formas que ele emprega. Ao acentuar a tensão entre morfologia e história, que também havia sido abordada antes, Ginzburg, enquanto historiador, testa o conceito em favor da condição histórica das obras de arte, de sua criação e recepção, com ênfase na questão do político e dos temas das três emoções correlatas (medo, reverência, terror) que, embora distintas, teriam se reforçado e sustentado a dominação, a contestação e a memória do poder.
Ricos em imagens, os capítulos têm o mérito de não reduzi-las ao uso ilustrativo, mas convoca-as para a narrativa, chamando o leitor para que veja os indícios privilegiados na abordagem. No entanto, esse exercício chega a ser um tanto exaustivo, dado o volume de vestígios e informações levantados, que pedem, e permitem, mais análise das imagens em si mesmas. Inclusive, no primeiro capítulo, o privilégio não é dado à imagem e sua constituição: o próprio Ginzburg diz que trata, antes, de um caso de Logosformel (“fórmula de ideias”), pois a abordagem sobre os frontispícios de duas edições do Leviatã, de Hobbes, cede espaço à discussão dos conceitos do medo e da reverência, onde são exploradas as possíveis conotações religiosas da construção filosófica do pensador inglês sobre o Estado, contrariando a tradição que o considera já secularizado, e secularizador, da política.
No segundo capítulo, uma das mais famosas pinturas do período revolucionário francês, o Marat em seu último suspiro, de Jacques-Louis David, é confrontada com outras obras de seu tempo e com as formas capturadas indiretamente da religião e que teriam favorecido o surgimento do “culto” a esse personagem político. O terceiro capítulo indaga detalhes do cartaz que trazia o rosto do marechal-de-campo inglês Lord Kitchener, no começo do século XX, que veio a inspirar não apenas o cartaz estadunidense de recrutamento para a guerra com o rosto do Tio Sam, como também vários produtos similares da propaganda política que tiveram por função intimar o espectador. Segundo o historiador, a língua “demótica” da propaganda atualizou um motivo clássico da pintura – aquele do olhar vigilante e do dedo apontado que parecem saltar da tela rumo ao espectador por força da expressão pictórica.
O quarto capítulo, em que Ginzburg mais uma vez visita a obra de Pablo Picasso, depois do ensaio anteriormente publicado sobre Demoiselles d’Avignon, é, sem dúvida, o mais denso, e o que mais chama a atenção dos historiadores interessados nas circunstâncias sociais de elaboração de uma obra de arte. Após nova digressão pelos temas clássicos da pintura das paixões encarnadas nos corpos, temas que de algum modo chegaram a Picasso, Ginzburg olha para a iconosfera e para os impressos que envolviam o pintor, antes e no momento da produção de Guernica, em 1937: a arquitetura, os objetos escultóricos, a imprensa, os textos surrealistas. E o cotejamento com os esboços fotografados do mural ampliam ainda mais esse espectro documental, e colocam a possibilidade de análise das operações de escolha e exclusão do artista, repercutidas na obra acabada e no tecido histórico para o qual ela virá à luz e do qual fará parte.
Pode-se dizer que os ensaios de Ginzburg têm a ver com um momento em que a historiografia tem se preocupado com aquilo que foi chamado por vários nomes, como cultura visual, modos de ver, com a visualização, enfim, do passado – e que não é preocupação exclusiva dos historiadores que privilegiam a abordagem de documentos visuais, mas um ângulo estratégico de questionamento dos vestígios que pode interessar seja aos historiadores da arte, seja aos da mídia, ou aos da política. E isso é indicativo de uma atenção ética, pontuada pelo autor logo no primeiro capítulo, ao assédio exercido atualmente pelas imagens, que, por sua ubiquidade, tornaram-se cada vez mais indissociáveis das nossas práticas de conhecimento, de produção cultural e de inserção na esfera do político. Embora o autor defina critérios próprios de análise e chegue às suas conclusões em função de problemas específicos, é inegável a constatação de que seus textos engrossam a fileira de uma historiografia que tem relacionado o político e a dimensão visual, exemplificada no capítulo sobre poder e protesto do livro de Peter Burke, Testemunha Ocular, ou no outro livro deste sobre Luís XIV, e nas diferentes tradições de estudos que têm relacionado a arte às suas demais implicações na sociedade, e daí podem se incluir, dentre outros, os nomes de importantes historiadores, como o próprio Warburg e seu círculo de Hamburgo e Londres, Pierre Francastel, Svetlana Alpers, Michael Baxandall, Louis Marin e Georges Didi-Huberman, embora Ginzburg se afaste deliberadamente de algumas perspectivas deste último.
Resta que, em que pese a defesa, por Ginzburg, de um método por excelência conjectural, nem sempre ficam claros os trânsitos de perdas e acréscimos das Pathosformeln, o que demandaria estudos de mais fôlego do que os ensaios podem comportar. Mas isso em si é revelador de que o historiador italiano não toma o conceito de Warburg como cartilha mecânica, mas como provocação para que se investiguem questões particulares com rigor de método para tratar os artefatos trabalhados como documentos, como ele demonstra em relação ao circuito social de produção, circulação e, eventualmente, consumo de algumas obras.
Além disso, lembramos que certas vertentes da historiografia brasileira, por vezes genericamente chamada de “história cultural”, acostumaram-se a trabalhar com as emoções e sensibilidades, nem sempre com chaves de leituras como a do medo, mas, em todo caso, com pouca articulação com a questão do político, e pouca exploração da dimensão visual, salvo algumas exceções. Mas se existe nesse tipo de abordagem o risco de só ver os vestígios históricos das emoções naqueles produtos que foram nomeados como o sendo o “sorriso da sociedade” (como a arte, a literatura ou mesmo a publicidade), seria possível pensar na existência, entre os grupos sociais sem escrita e sem o mercado institucionalizado de arte, de formas históricas recorrentes, e que sofrem reinterpretações, na expressão e na representação das emoções? Seus vínculos, cotidianos, insuspeitos, com a política, não constituiriam matéria de interesse para o historiador, sobretudo em espaços, como os que há e houve no Brasil, nos quais a política, seus ritos e seu espetáculo foram durante muito tempo expressos, veiculados e vividos em termos orais, gestuais, costumeiros, cerimoniais, que recorriam também ao ver e à sua historicidade? Por outro lado, a ferramenta conceitual das Pathosformeln serve para o tratamento de outras imagens, aquelas chamadas de “técnicas” pela crítica especializada, como o cinema e a fotografia, que, a depender do circuito social, podem, com efetividade, jogar o papel inequívoco de cristalização e veiculação das paixões políticas?
Para finalizar, entendemos, portanto, que o livro de Ginzburg abre clareiras metodológicas que ultrapassam suas referências predominantemente europeias, sendo útil no sentido de pensar, para outras configurações sociais, uma história política, ou uma história social da arte, ou uma história das sensibilidades, que desbordem seus campos tradicionais, pondo em xeque os engavetamentos – “história cultural”, “história política” etc. -, e enfocando os problemas a partir do cruzamento de abordagens.
Elson de Assis Rabelo – Colegiado de Artes Visuais, Universidade Federal do Vale do São Francisco Av. Antonio Carlos Magalhães, 510, Juazeiro, BA, 48.902-300, Brasil elson_rabelo@hotmail.com.
1964: o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil | Ângela de Castro Gomes
Os historiadores Ângela de Castro Gomes e Jorge Ferreira trazem a publico um livro emblemático, 1964: o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil, no ano em que meio século se passou daquele 31 de março. Por meio de uma escrita que captura o leitor desde as primeiras páginas, rapidamente se é tomado por uma curiosidade crescente sobre o relato seguinte, o passo seguinte, a negociação, o cenário. Como a mirar um caleidoscópio, os eventos são narrados alternando temporalidades e espacialidades articulados a um grande domínio das informações bibliográficas e documentais. E não poderia ser diferente, a obra é resultado de uma vida de pesquisa e escritas de livros e artigos, de dois historiadores que muito produziram sobre essa temática e esse período. O enorme conhecimento sobre a documentação e a bibliografia relacionada à temática e ao período é elemento decisivo que potencializa essa capacidade de pensar a arquitetura da escrita em seus múltiplos vórtices de efeitos de verdade.
O livro narra um curto período da história política do Brasil: da crise da renúncia de Janio Quadros, em agosto de 1961, até o golpe civil militar de 1964. No entanto, as dimensões sociais, econômicas e culturais se entrelaçam à narrativa quer no detalhamento das lutas sindicais e de setores da sociedade civil, quer nas tensas negociações das estratégias econômicas, quer nas campanhas da UNE e de defensores de uma reforma educacional ampla, entre outros aspectos abordados. Leia Mais
Os vultos da nação. Fábrica de heróis e formação dos brasileiros – ENDERS (VH)
ENDERS, Armelle. Os vultos da nação. Fábrica de heróis e formação dos brasileiros. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014. 392 p. CEZAR, Temístocles. Os vultos da nação. Fábrica de heróis e formação dos brasileiros. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 55, Jan./Abr. 2015.
Imaginemos Plutarco no Brasil. Parece ser mais fácil imaginar um Plutarco Brasileiro. Foi o que fez João Manuel Pereira da Silva em 1847 ao publicar O Plutarco brasileiro, pela editora Laemmert. Armelle Enders imaginou as duas situações: em 2000, a historiadora francesa publica, na revista Estudos Históricos, o artigo ‘O Plutarco Brasileiro’. A produção dos Vultos Nacionais no Segundo Reinado (http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2114); em 2012, a versão de sua tese de habilitação, defendida na Sorbonne em 2004, intitulada Plutarque au Brésil: passé, héros et politique, 1822-1922 – pela editora Les Indes Savantes, de Paris – que aparece agora em português sob o título Os vultos da nação. Fábrica de heróis e formação dos brasileiros. Plutarco é uma espécie de fantasma que atravessa constantemente as paredes deste panteão de papel que os letrados brasileiros esforçaram-se por erigir. Nesse sentido, tanto para Pereira da Silva quanto para Enders, Plutarco é, simultaneamente, um instrumento heurístico e uma hipótese de trabalho.
Quem foram, quem são, nossos grandes homens, nossos homens ilustres, nossos heróis? Tiradentes, José Bonifácio ou Getúlio Vargas encarnam no plano nacional este papel de varão de Plutarco. A colocação da questão nestes termos não dissimula um problema de ordem historiográfica. Afinal, são personagens cuja importância simbólica depende da conjuntura política e do regime de historicidade no qual adquirem fisionomia. É nas disputas pela memória entre a independência de 1822 e sua comemoração um século depois que Enders analisa tais tensões. Nessa duração média seria instalada uma espécie de fábrica historiográfica e pedagógica, na qual heróis ganhariam vida – passada e/ou presente.
Em sete equilibrados capítulos, uma introdução densa e uma conclusão que abre novas possibilidades de pesquisa, Enders apresenta um século que não cabe em si. Ele é pleno de projetos, alguns abortados em sua gênese, outros abandonados pelo caminho, outros ainda que permanecem e se convertem em políticas e em instituições públicas, cujos efeitos lançam-se como luz ou sombra para a ulterior história do Brasil.
No primeiro capítulo, “Os Tácitos no senado”, nota-se também a presença dos antigos como instrumento de inteligibilidade tanto para a fonte que dele se serve quanto para a análise de Enders. Assim, Joaquim Manuel de Macedo explica que estes Tácitos não escreveram a história da independência posto que estavam ocupados fazendo a independência. Pedro I e José Bonifácio são figuras incontornáveis desta conjuntura.
De Pedro II à Republica ou “o império da história”, ou de “Como se deve escrever a história do Brasil”, ao “Plutarco Brasileiro” e à “Fábrica de benfeitores” no qual é ressaltado a atuação dos positivistas, respectivamente, segundo, terceiro, quarto e quinto capítulos, Enders examina com detalhes os fundamentos institucionais e os enunciadores desta prática discursiva responsável pela fabricação dos heróis nacionais.
“Porque me ufano do meu país”, título do polêmico livro de Afonso Celso de 1900, é apropriado por Enders no sexto capítulo com o objetivo de investigar a releitura do passado (por exemplo, a figura de Tiradentes, o centenário de 1808 ou a reavaliação dos bandeirantes) e do presente (por exemplo, Santos Dumond, o Barão do Rio Branco) empreendida pelos homens da Primeira República.
O sétimo capitulo é dedicado à resposta a seguinte questão: “1822-1922: um século para nada?”. 1922 teria sido um ano difícil para a sociedade brasileira. Para o povo como sempre, mas também para os intelectuais, artistas e políticos. Enders fala mesmo de um clima indutor de certa “introspecção nacional”. Uma efeméride “eloquente”, muitas obras, certa tristeza no ar e a abertura para um futuro que logo escapará de seus contemporâneos.
Notável exercício de história da historiografia, o erudito trabalho de Armelle Enders torna-se imediatamente uma referência incontornável para os estudiosos do período e do tema. Ressalta-se a competente tradução de Luiz Alberto Monjardim de Calazans Barradas e a edição cuidadosa da Editora FGV. A historiadora é uma arguta observadora da realidade nacional (eu pensei em escrever da “nossa” realidade, como se Enders fosse uma pesquisadora de “olhar distante”, mas seria injusto pois Armelle não é uma brasilianista, ela não escreve desde um ponto de vista francês ou europeu, mas desde uma compreensão inequívoca da história brasileira em a que a cultura historiográfica não se divide em nós e eles). Não é sem razão que na conclusão não lhe escapam as figurações modernas dos heróis nacionais, entre os quais Zumbi, elevado a tal condição por pressões dos movimentos sociais acatadas pelo então presidente da República, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que inclusive decreta o 20 de novembro como “Dia da consciência negra”.
Porém, gostaria de concluir esta pequena resenha, retomando o “modelo” Plutarco. Um herói de verdade deveria subjugar as injunções entre o político e o histórico, deveria estar acima das querelas, deveria aliar mito e história. Ele não poderia mais ser um homem do século XIX, nem do período colonial, mas do final do século XX. Alguém que conseguisse despertar paixões coletivas. Logo, o “herói completo” não poderia mais ser um mártir social ou um homem político, mas uma celebridade, um star, que, se possível, ultrapassasse as fronteiras da nação. Ayrton Senna seria, para Enders, um bom exemplo deste tipo-ideal de herói requerido pelo mundo contemporâneo. Portador de traços aristocráticos, característica dos heróis anteriores ao Estado-Nação, mestre na arte de pilotar carros de corrida sofisticados, esporte ligado ao que há de mais moderno na atualidade, o habilidoso piloto, em cujo capacete exibia para quem quisesse ver as “cores do Brasil”, tinha por seu país um “patriotismo quase místico” (p. 12) que arrebatava multidões. Para completar morreu cedo, fazendo o que mais sabia e o que mais gostava. Como Aquiles.
A fábrica de homens ilustres, de grandes homens, de celebridades e de heróis do momento, ora comemorados, ora esquecidos, é, como demonstra Enders, uma instância intelectual da sociedade capaz de gerar e de apagar memória(s) e de constituir e de desestabilizar identidade(s).
Temístocles Cezar – Departamento de História Universidade Federal do Rio Grande do Sul Av. Bento Gonçalves, 9.500. Prédio 43.311, s. 116 Porto Alegre, RS, 91.509-900, Brasil t.cezar@ufrgs.br.
Oração e memórias na Academia das Ciências de Lisboa: Introdução e coordenação editorial de José Alberto Silva – ALMEIDA (VH)
ALMEIDA, Teodoro de. Oração e memórias na Academia das Ciências de Lisboa: Introdução e coordenação editorial de José Alberto Silva. Porto: Porto Editora, 2013. 121 p. Resenha de: FERREIRA, Breno Ferraz Leal. Oração e memórias na Academia das Ciências de Lisboa: Introdução e coordenação editorial de José Alberto Silva. Varia História. Belo Horizonte, v.31, no. 55, Jan. /Abr. 2015.
Com a publicação de José Alberto Silva – doutorando em História e Filosofia das Ciências pela Universidade Nova de Lisboa e membro do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia – dos textos referentes à participação do padre Teodoro de Almeida (1722-1804) na Academia das Ciências de Lisboa, temos uma nova oportunidade para buscar acompanhar os passos dados pelo pensamento ilustrado em Portugal, bem como as disputas que lhe foram constitutivas. Como parte da Coleção Ciência e Iluminismo, trata-se de mais uma iniciativa que vem muito a contribuir para diminuir a distância entre o que era produzido no contexto das Luzes e o que o público leitor de hoje tem acesso para conhecer aquele período.
Silva assina as notas e a competente introdução à obra, na qual situa a produção intelectual de Teodoro de Almeida no contexto das Luzes e do movimento acadêmico dos séculos XVII e XVIII. Escolhido por seu prestígio junto a uma parcela da elite intelectual portuguesa do período pós-pombalino para o cargo de orador oficial da Academia das Ciências, e por isso responsável pelo seu discurso inaugural, o padre da Congregação do Oratório foi, sem sombra de dúvidas, uma das figuras mais emblemáticas e eruditas da segunda metade do século XVIII, o que o coloca em pé de igualdade a nomes como Antonio Pereira de Figueiredo (1725-1797) e Manuel do Cenáculo Vilas-Boas (1724-1814). Somente uma personalidade dotada de imenso saber poderia ser responsável pela maior obra de divulgação científica do setecentos português, os dez volumes que compõem a Recreação Filosófica (1751-1800), iniciativa de caráter enciclopédico tipicamente iluminista – para além de outras obras em que transitou entre variados gêneros e temas, que foram da literatura à poesia, da filosofia à religião. Sucesso editorial na segunda metade do século XVIII e início do XIX, com reedições contínuas da maior parte dos seus tomos, a Recreação tinha o propósito de alcançar o público leitor da época com a exposição de variados temas vistos pelo prisma do padre, conteúdos que hoje infelizmente são pouco acessíveis justamente pela falta de edições recentes.
As cartas e memórias agora reunidas em livro dizem respeito, portanto, sobre apenas uma fase da vida do padre, a saber, o momento em que retornou a Portugal após oito anos de exílio no exterior. A perseguição promovida por Sebastião José de Carvalho e Melo aos oratorianos nos anos 1760 levou Almeida a residir a maior parte da década subsequente em Baiona (França). Tendo falecido D. José, abriu-se caminho para o seu retorno, o que ocorreu em 1778. Em Lisboa, passa a compor o grupo liderado por D. João Carlos de Bragança (1719-1806), o 2º Duque de Lafões, responsável pela formação da Academia das Ciências, tendo sido eleito em assembleia como orador oficial e sócio efetivo da classe de cálculo. Porém, ao contrário do que se poderia esperar, a partir daí iniciaram-se contratempos em sua carreira dentro da mesma instituição. É isso que mostra um primeiro conjunto de textos presente na obra editada por Silva.
Incluem-se nesse conjunto a oração de abertura recitada por Teodoro de Almeida a 4 de julho de 1780 e mais sete cartas que fazem referência ou a ela ou ao padre e à Academia. Infelizmente, ainda não foi possível elucidar a autoria da maioria delas, especialmente das que lhe foram críticas. Conforme outros historiadores já haviam defendido, destacadamente Francisco Contente Domingues, a disputa teve como pano de fundo a defesa do legado pombalino, particularmente presente na Carta em crítica à oração do Pe. Teodoro de Almeida e na Sátira. Espalhada contra um religioso de S. Filipe Néri, interpretação essa aceita por José Alberto Silva (p.22). Por sua vez, assumindo uma postura que pode ser compreendida como antipombalina, o padre oratoriano celebrou a fundação da Academia como o grande momento da história cultural portuguesa do século, o momento a partir do qual finalmente os portugueses poderiam se considerar equiparados às nações mais cultas da Europa. Esse posicionamento dava margem à interpretação de que o padre fazia pouco das iniciativas culturais e educacionais instituídas durante o ministério de Pombal (1750-1777), como a reforma estatutária da Universidade de Coimbra (1772). A Resposta à precedente sátira, também de cunho antipombalino, vinha a defender Almeida, argumentando que a intenção do padre não era dizer que a ignorância não havia começado a ser dissipada nos anos precedentes, mas apenas dizer que ela ainda predominava, apesar dos esforços anteriores. Em todas elas, portanto, a discussão sobre o atraso que viria a marcar as gerações futuras e que em Portugal adveio atrelada ao discurso pombalino.
A publicação desta Resposta constitui uma contribuição inédita, dado que as demais cartas já haviam sido publicadas em outras obras. Porém, mesmo no caso destas, a sua reunião vem bem a calhar, pois, além de juntá-las todas num único volume, o que temos agora em mãos é o resultado do cotejamento das diferentes versões de cada um dos manuscritos encontrados por Silva em diferentes arquivos e bibliotecas. Também já publicadas anteriormente são as memórias que compõem um segundo conjunto de textos, transcritos a partir dos manuscritos que constam na Biblioteca da Academia das Ciências. Quatro trabalhos dos apresentados nas assembleias acadêmicas (“Sobre a natureza do sol”, “Sobre a natureza da luz e vácuo celeste”, “Sobre a rotação da lua” e “Sobre uma máquina para conhecer a causa física das marés”), por razões desconhecidas não foram publicados nos volumes de memórias da Academia, mas foram incluídos nos tomos das Cartas físico-matemáticas (1784-1799) – ainda que com algumas alterações, como anotou Silva no texto introdutório. De outras memórias lidas têm-se registro, mas os manuscritos seguem desconhecidos.
Cabe a suspeita de que outros capítulos das Cartas, para além dos citados por Silva, possam também ter sido resultado de memórias apresentadas à Academia. Um deles com certeza o foi, a “Carta XXX – Sobre algumas observações físicas do terremoto de 1755” (Cartas físico-matemáticas, Tomo III, 1798), já que há uma versão ligeiramente modificada do mesmo texto publicada na edição do poema Lisboa destruída, em 1800, em Lisboa, pela Oficina de Antonio Rodrigues Galhardo, sob o título de “Observações sobre as circunstâncias do terremoto”. No prefácio desta obra, Almeida afirma ter resolvido inserir no volume uma “dissertação acerca das circunstâncias físicas do terremoto de Lisboa, que há anos li na Academia Real das Ciências”. (p.VI) A inclusão dessa dissertação numa obra de documentos relativos à participação acadêmica do padre tornaria completa a obra coordenada por José Alberto Silva.
Não há mais reparos possíveis a se fazer a uma edição cujo autor também teve o mérito de discutir satisfatoriamente as razões da não aprovação das memórias nos volumes editados pela Academia. Podem-se conjeturar algumas razões para o fato do padre ter exercido um papel reduzido nas atividades acadêmicas. Teria sido em função da má repercussão de sua oração inaugural? De uma desatualização científica do padre, por supostamente não ter acompanhado os progressos do conhecimento em Portugal nas últimas décadas? A essas e outras possibilidades, Silva acrescenta a derrota de um projeto escolar para a Academia almejado pelo padre, em função de um programa mais propriamente utilitário defendido por sócios como o naturalista Domingos Vandelli (1735-1816), que acabou vencedor (p.19-26).
O que temos, portanto, é uma obra que contribui não só para a compreensão de um fragmento da vida intelectual de um autor de obra tão vasta quanto Teodoro de Almeida, mas também dos caminhos percorridos pelo pensamento iluminista em Portugal. Por meio da exposição de José Alberto Silva e dos textos editados, ganha-se em conhecimento a respeito das escolhas feitas pelos ilustrados entre diferentes projetos acadêmicos, das distintas visões acerca do legado pombalino no final do século e da consciência daqueles homens acerca do papel da ciência em Portugal na modernidade.
Breno Ferraz Leal Ferreira – Doutorando, Programa de Pós-Graduação em História Social Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Universidade de São Paulo Av. Prof. Lineu Prestes 338, São Paulo, SP, 05.508-900, Brasil breferreira@gmail.com.
Where the Negroes Are Masters : An African Port in the Era of the Slave Trade – SPARKS (VH)
SPARKS, Randy J. Where the Negroes Are Masters: An African Port in the Era of the Slave Trade. Cambridge: Massachusetts: Londres: Harvard University Press, 2014. 309 p. SILVA JR., Carlos da Silva. Where the Negroes Are Masters: An African Port in the Era of the Slave Trade. Varia História. Belo Horizonte, v. 31, no. 55, Jan. /Abr. 2015.
A participação das autoridades africanas era indispensável para o bom funcionamento do comércio transatlântico de escravos. Ao longo da costa ocidental africana, a presença europeia reduzia-se a poucos fortes litorâneos, sempre sob a vigilância dos potentados locais. A estes cabia a aquisição dos cativos no interior, o transporte para o litoral e sua venda aos comerciantes europeus. O livro de Randy J. Sparks, Where the Negroes Are Masters (“Onde os Negros são senhores”), lança um olhar sobre essa questão a partir um importante porto, embora pouco estudado, do tráfico de escravos: Annamaboe (ou Anamabu, em português), durante o século XVIII. De uma pequena vila de pescadores no final do Seiscentos, Anamabu converteu-se no principal empório escravista na Costa do Ouro (atual Gana) no século XVIII, segundo estimativas do banco de dados Voyages (www.slavevoyages.org).
Em livro anterior, The Two Princes of Calabar (Harvard University Press, 2007), Sparks investigou a trajetória de dois membros da elite de Old Calabar (Velho Calabar), no golfo de Biafra, pelo mundo atlântico. Amparado em ampla pesquisa documental, o autor agora analisa o comércio negreiro na Costa do Ouro, suas relações com as autoridades africanas, os “senhores” de Anamabu, e com o mundo atlântico do século XVIII.
Entre outros méritos, Where the Negroes Are Masters contribui para os estudos do Atlântico Negro, “que compreensivelmente tem se focado no tráfico de escravos e suas milhões de vítimas, mas tem prestado menos atenção às elites comerciais africanas que facilitavam aquele comércio e eram tão essenciais para a economia atlântica quanto os comerciantes de Liverpool, Nantes ou Middelburg” (p. 6). Sparks investe, portanto, nas histórias de indivíduos – especialmente dos africanos – que participaram, em maior ou menor grau, do comércio negreiro em Anamabu.
Não por acaso, dois capítulos tratam de figuras-chave para o tráfico de escravos e que permeiam todo o livro: John Corrantee e Richard Brew. Este, funcionário britânico da Royal African Company (RAC) e mais tarde mercador particular (quando a RAC foi substituída, nos anos 1750, pela Company of Merchants Trading to Africa, ou CMTA) cuja carreira em Anamabu durou mais de vinte anos até sua morte em 1776; aquele, comandante militar africano e mais importante caboceer (do português cabeceira, literalmente “capitão”, título aplicado a altos dignatários) de Anamabu até seu falecimento em 1764. A diplomacia era peça essencial em Anamabu, e ambos utilizaram-na, cada um à sua maneira. Corrantee envolveu-se profundamente nos negócios do tráfico e usou a rivalidade entre as nações europeias (França e Inglaterra, notadamente) em proveito próprio. Richard Brew, que na década de 1760 era o maior exportador de escravos na Costa do Ouro, fez uso de sua influência para mediar conflitos tanto entre os britânicos e as autoridades locais quanto entre as principais entidades políticas na Costa do Ouro: os Fante, que controlavam Anamabu, e os Achante ou Axanti, principais fornecedores de escravos do interior.
As nações europeias tentavam a todo custo ganhar o favor de Corrantee. Os franceses queriam construir um forte em Anamabu, mas os ingleses, que já tinham um forte ali, tentavam evitá-lo de todas as formas. John Corrantee manipulou habilmente os interesses comerciais europeus em seu favor. Graças a suas manobras diplomáticas, ele pôde enviar seus dois filhos à Europa para receber educação formal. A vida desse negociante demonstra a complexidade das relações entre comerciantes europeus e mercadores africanos na costa africana durante o século XVIII. Aliás, como astutamente nota Sparks, “Corrantee e seus companheiros caboceers deveriam ocupar um lugar central na historiografia do tráfico de escravos” (p. 67).
Richard Brew, por sua vez, logo percebeu que uma das chaves para o sucesso em Anamabu estava em estreitar laços com as elites locais, o que fez através do casamento com a filha de John Corrantee. Ele formou, segundo palavras de Randy Sparks, uma “família de crioulos atlânticos” (p. 68). O conceito, emprestado do historiador Ira Berlin, aplicava-se aos africanos adaptados às línguas, modos, valores e culturas dos europeus no litoral ocidental da África. Uma alternativa à noção de “crioulos atlânticos” é o conceito de “ladinização”. Empregado primeiramente por João José Reis para o caso dos libertos baianos no século XIX (Domingos Sodré, um sacerdote africano, Companhia das Letras, 2008), ele serve sem dúvida para explicar as dinâmicas sociais e culturais na Costa do Ouro (e na costa ocidental da África como um todo) no século XVIII. Ao aprender a língua europeia e enviar seus filhos para obter educação formal (ou formar uma família com mulheres locais, no caso dos europeus), esses africanos “ladinos” aprenderam os mecanismos de negociação com as diversas nações europeias, sem tornarem-se necessariamente “crioulos” no sentido cultural.
Nos capítulos seguintes, Sparks aborda temas caros à historiografia africanista mais recente, como a origem dos africanos deportados via tráfico transatlântico, a circulação de africanos e sua articulação dos portos africanos com o mundo atlântico. No primeiro caso, punições judiciais, raptos, a prática de “panyarring” – escravizar um devedor ou um parente seu até que a dívida fosse sanada, sob pena de colocá-los em escravidão permanente – e o “pawn” (“penhora humana”) cumpriam papel importante no suprimento de escravos. Contudo, a maioria dos escravos foi capturada em guerras promovidas pelos Achante no interior da Costa do Ouro. Quanto à circulação através do Atlântico, marinheiros, escravos, ex-escravos e filhos da elite de Anamabu se deslocavam sob o manto de redes comerciais e religiosas de Anamabu para as colônias inglesas na América do Norte (em especial Rhode Island), Jamaica, Bristol, Liverpool, Londres e outros pontos do mapa do tráfico. No entanto, as mortes de John Corrantee e Richard Brew e os conflitos entre os Fante e o rei Achante contribuíram para desarticular as redes comerciais no porto de Anamabu no ultimo quartel do Setecentos. Por fim, a abolição do tráfico britânico, em 1807, declarou o ocaso de Anamabu, cuja economia se baseava, quase exclusivamente, no comércio transatlântico de escravos.
O livro é uma importante contribuição para a história da África e, ao mesmo tempo, para os estudos de História Atlântica, campo fértil no hemisfério norte mas que no Brasil ainda dá seus primeiros passos. Bem escrito, é livro de leitura fácil, que interessa não apenas ao leitor especializado, mas também ao público mais amplo. A obra conta ainda com um glossário, facilitando a vida do leitor menos familiarizado com o tema. A constante menção a Corrantee e Brew, ao longo do texto, mais do que simples repetição, enfatiza a importância de ambos no tráfico transatlântico em Anamabu. Pena que este livro, provavelmente, não será traduzido e publicado entre nós, porque no país que mais recebeu escravos do tráfico é muito pequeno o interesse de editoras por livros dessa natureza.
Carlos da Silva Jr – Doutorando Bolsista Marie Curie/European Union Wilberforce Institute for the study of Slavery and Emancipation (WISE) University of Hull Hull, UK, HU67RX carlos@eurotast.eu.
A consciência de um império: Portugal e o seu mundo (sécs. XV-XVII) – MARCOCCI (VH)
MARCOCCI, Giuseppe. A consciência de um império: Portugal e o seu mundo (sécs. XV-XVII). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012, 533 p. PANEGASSI, Rubens. Varia História. Belo Horizonte, v. 30, no. 52, Jan./ Abr. 2014.
Giuseppe Marcocci é um historiador cujas publicações tem ganhado notoriedade junto aos investigadores dedicados ao estudo da formação do Império ultramarino português. Doutor em História pela Scuola Normale Superiore (2008), atualmente é professor da Università degli Studi della Tuscia e tem dedicado suas investigações ao mundo ibérico, com especial atenção ao caso Português e seus principais temas, tais como Inquisição, escravidão, missões extra-europeias e também a justiça no Antigo Regime. No Brasil, participou recentemente evento, além de ter publicado artigos em periódicos relevantes, tais como a Revista de História da Universidade de São Paulo e a revista Tempo da Universidade Federal Fluminense.
Sem perder de vista as contribuições de grandes nomes da historiografia, tais como Luís Filipe Thomaz, António Manuel Hespanha, Francisco Bethencourt e Laura de Mello e Souza, importa notar que o livro de Marcocci traz efetiva colaboração a um campo de estudos onde o número de pesquisas é relativamente escasso. Desse modo, ao preencher uma notória lacuna a respeito do âmago das conquistas lusas, o livro consolida seu trabalho como referência imprescindível aos intressados no debate a respeito da configuração dos impérios coloniais e suas doutrinas políticas nos primórdios da Época Moderna.
Assim, ainda que o autor nos assegure que a noção de império seja pouco comum nas fontes da época, A consciência de um império compreende Portugal como a primeira monarquia europeia a fundar um império de dimensões globais, bem como um necessário aparato ideológico que solucionasse os problemas de natureza jurídica e moral que se desdobravam da ingerência reclamada como direito frente a diversidade de grupos étnicos e suas variadas manifestações culturais e religiosas. Em vista disso, Giuseppe Marcocci parte das bases jurídicas daquilo que denomina como a “vocação imperial portuguesa”, para alcançar a especificidade da herança das elaborações políticas de um império moderno, mas que deitava suas raízes na escravidão, uma instituição atrelada fudamentalmente à antiguidade. Em síntese, é a figuração de Portugal como um agressivo império marítimo o legado que se definia no próprio momento em que a Europa ganhava os contornos de um mosaico de impérios em concorrência.
Trabalho de fôlego, o livro recupera a densidade e o vigor do expansionismo ao atar os laços existentes entre as esferas da economia e da política, aos esquemas culturais e religiosos que estruturaram a consciência do Império português. Diante disso, traz uma perspectiva inovadora ao se deter sobre os pressupostos conceituais característicos do ideário português nos primórdios da Época Moderna, sem perder de vista sua peculiaridade: o entrelaçamento entre Estado e Igreja.
Os doze capítulos que compõem o livro estão distribuídos ao longo de quatro partes bem definidas. Na primeira, A vocação imperial portuguesa, Marcocci debate a intervenção a posteriori do papado na fundação das premissas jurídicas do futuro Império, com ênfase no papel estruturante que a bula Dum diversas (1452) teve como instrumento legitimador de suas futuras ocupações. Partindo desta proposição, o autor esclarece os vínculos de obediência existentes entre os portugueses e o papado, bem como a reivindicação lusa pela ortodoxia católica. Pautada pela necessidade de justificar o tráfico de escravos negros na costa da Guiné, Roma tutelou o acesso exclusivo dos portugueses aos litorais da África atlântica. Em suma, é da incapacidade de legitimar suas conquistas num paradigma distinto das concessões papais que Portugal traçaria o percurso a ser seguido por outros grandes impérios europeus. Entretanto, no início do século XVI o país ibérico definiria um novo posicionamento em relação a Roma no intuito de garantir maior autonomia na gestão de seu império com a criação da Mesa da Consciência, órgão encarregado de se pronunciar sobre matérias tocantes à consciência do rei e que promoveu uma fusão sem precedentes entre as esferas política e religiosa no vértice do reino.
Em A Etiópia, prisma do império, ganha relevância os diferentes usos políticos do mito do Preste João em Portugal. Se num primeiro momento a figura do lendário soberano tornou-se emblemática referência do sucesso da expansão marítima em concomitância à figuração da Etiópia como aliada para a reunificação da Igreja, em um segundo momento são as implicações subversivas do cristianismo etíope que ganham notoriedade. Ou seja, a construção da legitimidade das conquistas a partir da celebração de cristão julgados como heréticos tornou-se um modelo a ser necessariamente abandonado. Tal mudança foi definida pelas rígidas posições frente ao cristianismo etíope adotadas por um atuante grupo de teólogos no interior da corte portuguesa. Doravante, o mítico aliado desapareceria do horizonte cultural português, e paralelamente, vozes dissonantes do movimento humanista seriam sufocadas. Desse modo, ao lado da Mesa da Consciênca, a Inquisição e a censura literária se tornariam as três principais instituições a concorrerem para a definição de um império católico no qual a Etiópia passaria da condição de reino aliado a terra de missões. Definitivamente, a consciência do Império português atrelava-se de modo cada vez mais significativo às formas de inclusão da diversidade na comunidade de crentes.
A terceira parte, Conquista, comércio, navegação: um senhorio disputado, é a mais extensa e se detém nas controvérsias a respeito do controle das especiarias e da supremacia sobre os mares. Aqui, o autor assinala que foi no calor das polêmicas levantadas pelas monarquias europeias contra as pretensões imperialistas das coroas ibéricas que a consciência de um “império marítimo” ganhou seus primeiros contornos no reino português. Sobretudo em face das críticas pela participação direta da coroa no tráfico comercial, que embora possuissem justificativas, encontravam também seus limites nas tradicionais doutrinas cristãs da Idade Média. Por sua vez, a negligência da veiculação da imagem de um príncipe amado e temido, sugerida por alguns ideólogos do Império também foi pautada por estas tradições, que presumiam um modelo político marcado pelos valores da ética cristã. Ou seja, no âmbito das ideias, a violência estaria diluída na perspectiva da conquista espiritual. Com efeito, todo este dabate não correria separado das primeiras reflexões a respeito do papel que o mar desempenharia no equilíbrio de um complexo sistema de domínio que se constituía para além dos limites da Europa. Objeto controverso na época, Marcocci sugere que os descobrimentos modificariam definitivamente a relação entre a terra e o mar, sendo que este passaria a ser compreendido nos quadros de um novo equilíbrio que se origina do pleno conhecimento da verdadeira forma geográfica, bem como das efetivas distâncias do mundo.
Conversões imperiais: para uma sociedade portuguesa nos trópicos? é a última parte do livro. Nela, Marcocci nos faz notar que a ascensão das ações missionárias deu-se no exato momento em que o Brasil tornava-se o centro do sistema colonial lusitano. Tendo em vista que as sociedades nascidas do Império português são caracterizadas pela presença de escravos em resposta às exigências de um sistema produtivo agrícola, o autor atribui relevância ao sacramento do batismo, uma vez que o domínio sobre homens privados de liberdade em nome da conversão era o fundamento jurídico do Império. Assim, na perspectiva do autor, a formação histórica do Brasil nos quadros do Império português está atrelada a um projeto missionário onde os jesuítas desempenharam papel fundamental, de modo que a relação entre batismo e escravidão logo se entrelaçou aos
debates sobre a humanidade dos índios. De todo modo, ao passo que este sacramento seria o instrumento capaz de mudar a posição jurídica e social dos conversos, o contraste entre a perspectiva libertadora da conversão e a dura realidade dos escravos é apresentado como o mais notório vínculo de todo o mundo português do início da Época Moderna.
Por fim, cabe observar que o livro nos conduz à percepção de que a interpenetração entre o Estado e a Igreja define as linhas gerais de inúmeros aspectos da História do Portugal Imperial. Mesmo a retomada do modelo do Império Romano, tida pelo autor como uma das características mais originais da cultura renascentista portuguesa foi sufocada no que tangia à admiração dos autores lusos pela religião romana, o que nos revela o atuante pressuposto de um enquadramento doutrinal que se mostrava indispensável diante do problema da inclusão civil dos novos súditos da coroa. Elemento imprescindível a uma construção política cujo primado, por sua importância e originalidade, seria amplamente valorizada pela cultura europeia, em uma conjuntura de franca mundialização.
Fundamentado em sólida e diversificada pesquisa documental, Marcocci faz uso tanto de cartas, tratados e crônicas impressas, quanto de processos inquisitoriais e outros códices manuscritos pertencentes a fundos diversos, investigados majoritariamente em arquivos portugueses e italianos. Com efeito, um dos fundos ao qual o autor reserva especial atenção é a Mesa da Consciência e Ordens, parcialmente conservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. Com escrita clara, o livro interessa não apenas aos especialistas, mas a todos que entendem a história como um recurso para a compreensão dos debates contemporâneos, cujos ecos do passado encontram reverberação em fenômenos como a globalização da economia, a homogeneização cultural, ou até mesmo o emprego maciço da força militar como garantia da manutenção da ordem mundial.
Rubens Panegassi – Departamento de História Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa (MG), Brasil, e-mail: rubenspanegassi@gmail.com.
Cross-cultural exchange in the Atlantic world: Angola e Brazil during the Era of the Slave Trade – FERREIRA (VH)
FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural exchange in the Atlantic world: Angola e Brazil during the Era of the Slave Trade. Nova York: Cambridge University Press, 2012, 282 p. CORRÊA, Carolina Perpétuo. Varia História, Belo Horizonte, v. 30, no. 52, Jan./ Abr. 2014.
No início do século XIX, uma mulher negra livre chamada Francisca da Silva foi escravizada em Benguela depois de ser acusada de ter se utilizado de feitiçaria para assassinar Diniz Vieira de Lima, comerciante de escravos que, apesar de ser natural daquela cidade, falecera no Rio de Janeiro. Assim se inicia o livro de Roquinaldo Ferreira, que integra a prestigiosa série African Studies, publicada, desde 1968, pela Cambridge University Press.
Biografias de pessoas comuns, como Francisca da Silva, elaboradas a partir de documentos oficiais da época, associadas à análise de memórias e relatos de viagem, formam a base da obra, fruto de uma abordagem micro-histórica. Aliando profundo domínio dos estudos históricos recentes sobre o tema, lúcida reflexão metodológica e extensa pesquisa documental realizada em arquivos angolanos, brasileiros e portugueses, o historiador brasileiro radicado nos Estados Unidos tece um rico panorama do mundo atlântico nos séculos XVIII e XIX. O maior desafio metodológico, a feitura de generalizações a partir de exemplos reveladores – estudos de caso de indivíduos cujas vidas foram registradas para a posteridade justamente por serem, de algum modo, atípicas – é solucionado por meio da descrição densa e da atenção ao contexto. O historiador, atento, procura conectar sempre os eventos que se desenrolam no nível micro com o processo maior do qual fazem parte.
Além disso, a adoção de um recorte espacial inspirado na História Atlântica, constructo analítico segundo o qual os acontecimentos da era moderna são organizados a partir do entendimento da Bacia Atlântica como um lugar onde ocorriam intercâmbios demográficos, econômicos, sociais e culturais entre os continentes por ela banhados, permite dar ênfase a aspectos dinâmicos que transcendem as fronteiras administrativas ou nacionais.1 Essa combinação de redução da escala de análise e ampliação do recorte geográfico traz contribuições importantes tanto para a História do Brasil quanto para a História da África Centro-Ocidental.
Apesar do impacto do comércio de escravos para o Brasil, a historiografia pátria guardou silêncio quase absoluto até a década de 1990 sobre as relações entre as duas regiões. A África foi frequentemente encarada como um continente primitivo, homogêneo, estático no tempo e destituído de história, e os africanos, associados automaticamente aos escravos. Por essa razão, o trabalho de Ferreira aparece àqueles familiarizados com a produção historiográfica nacional sobre a escravidão e o tráfico de escravos como a peça faltante para que o quebra-cabeça adquira seu pleno sentido. Vem, portanto, ao revelar a face africana do negócio negreiro, somar novos conhecimentos aos importantes trabalhos que pensam o tráfico do ponto de vista do Brasil, como os de Manolo Florentino e Jaime Rodrigues.
Entretanto, só teremos uma percepção adequada do alcance da obra, se a analisarmos sua contribuição para a História da África Centro-Ocidental. Em 2004, Boilley e Thioub2 argumentavam que, durante o século XX, a escrita da história da África, influenciada, por um lado, pelos combates anticoloniais e, por outro, por modelos eurocêntricos, tendeu a considerar que, depois do contato com o ocidente, a África e os africanos se tornaram vítimas de um sistema que, rompendo com o curso normal da história, constitui a causa principal, senão exclusiva, do lugar subalterno que o continente ocupa nos negócios contemporâneos do mundo. Pensando em como a produção acadêmica sobre o comércio de cativos poderia superar essas limitações, os autores sugeriam que era preciso compreender as implicações dos africanos nos processos históricos, analisando a arquitetura social, bem como os sistemas locais de produção, de troca, de dominação e de exploração da força de trabalho. A chave seria explorar as dinâmicas internas sem silenciar quanto aos interesses e ao envolvimento de atores autóctones no negócio negreiro.
Ferreira desempenha tal tarefa com maestria, mergulhando na sociedade centro-africana durante o período do comércio de escravos. Filia-se, assim, a uma tradição historiográfica inaugurada na década de 1970 por estudiosos como Jill Dias, Beatrix Heintze, Isabel Castro Henriques e Joseph Miller, que procura superar o caráter etnocêntrico das análises sobre as regiões africanas engajadas no comércio atlântico e abordar a política, a economia e a sociedade locais em sua historicidade e em sua complexidade.
Esses autores pioneiros, muitas vezes mesclando métodos e abordagens próprios da história, da antropologia e da etnografia, abriram novas possibilidades para o estudo da África Centro-Ocidental, desenvolvendo trabalhos com fontes inéditas encontradas em arquivos angolanos e portugueses. Ademais, elaboraram sofisticadas reflexões teóricas sobre o lugar da África na História Mundial, o papel do historiador ao se relacionar com fontes de natureza diversa (tradição oral, achados arqueológicos, documentos escritos) e os métodos para lidar com os filtros por meio dos quais estrangeiros (os autores da documentação consultada e os próprios pesquisadores) apreenderam a realidade africana. Inovaram ao abordar temas que, durante o período colonial, eram tabus difíceis de serem rompidos, como a fragilidade da dominação portuguesa na região e a participação dos africanos no comércio de escravos, atribuindo a eles um protagonismo em sua história que lhes foi frequentemente negado.
Na contemporaneidade, uma nova geração de historiadores veio se juntar a esses pesquisadores já consagrados, desvendando novos aspectos da sociedade centro-africana no contexto do comércio atlântico. Um bom exemplo é Mariana Cândido3 que empreendeu um estudo sobre Benguela entre 1780 e 1850, argumentando que o tráfico negreiro ajudou a fundar ali uma sociedade crioula, na qual pessoas oriundas de culturas diversas acabaram forjando uma identidade comum.
Em sua dissertação de mestrado, Ferreira já havia se ocupado de Angola, mas investigando os impactos econômicos da proibição do tráfico negreiro para o Brasil entre 1830 e 1860. Em Cross Cultural Exchange in the Atlantic World, o historiador recua no tempo, analisando aquela sociedade durante o auge do comércio atlântico, tecendo para Angola uma análise em muitos sentidos equivalente a que Law e Mann dedicaram à Costa dos Escravos.4 Como esses autores, chega a conclusões abrangentes a partir de histórias individuais, enfatizando as conexões culturais e sociais transatlânticas.
A primeira seção se inicia com a narrativa de uma expedição comandada pelo ex-capitão de navios negreiros Francisco Roque Souto, em 1739, ao Reino de Holo, cujo intento era proporcionar à administração portuguesa contatos comerciais diretos com essa região fornecedora de escravos. A análise do episódio possibilita o exame da intensificação do comércio itinerante no interior de Angola, no contexto do aumento da demanda por cativos no Brasil no século XVIII, decorrência das descobertas de ouro na região das Minas. Tal comércio, conduzido nos sertões africanos por intermediários conhecidos como pumbeiros e sertanejos, consistia na troca de mercadorias importadas por escravos, que eram então conduzidos até os portos de embarque no litoral.
São os impactos do incremento dessa atividade comercial nas estruturas sociais e econômicas de Angola que o autor se propõe a desvendar, e o faz narrando vários casos retirados das fontes, como o de três africanos que tinham chegado a Benguela em 1789, fugidos após todos os outros 25 carregadores da caravana na qual trabalhavam terem sido embebedados e posteriormente escravizados pelo sertanejo Jerônimo Corrêa Dias. Partindo desses estudos de caso, o autor analisa o aumento de formas de escravização não militar, decorrentes de endividamento ou de acusações de feitiçaria, o desvirtuamento de formas de dependência temporária tradicionais e a ampliação progressiva da esfera de atuação dos Tribunais de Mucanos, cortes competentes para conhecer casos de escravização injusta, oriundas das práticas legais Mbundu.
A segunda seção é dedicada ao panorama cultural, religioso e político de Angola durante o período estudado. O historiador explora a demografia e a economia de Luanda, expondo uma sociedade dinâmica, na qual eram fluidas as fronteiras entre escravidão e liberdade e frequentes as oportunidades de convivência entre indivíduos de condições sociais e origens diversas. Nesse mundo cosmopolita, no qual a administração portuguesa tinha dificuldades de se impor, europeus e outros forasteiros acabavam aculturados pelos locais, conforme atestam a prevalência do quimbundo sobre o idioma português.
Especial atenção é dada à religião e à cultura africanas, exploradas a partir da fascinante história de Mariana Fernandes, uma mulher negra livre acusada de feitiçaria e presa em Luanda em 1726. O estudo do processo movido contra Mariana pela Inquisição revela uma mulher dotada de grande autonomia, poder e influência, decorrentes de sua atuação como ganga, autoridade religiosa de Angola. Da leitura emerge a força da religiosidade africana, que perpassava todas as camadas sociais, unindo indivíduos oriundos de realidades muito diversas.
O autor analisa, a seguir, a vida social de Luanda e de Benguela tomando como ponto de partida a história do escravo Manoel da Salvador, que, criança, fora enviado ao Rio de Janeiro, retornando, já adulto, a Luanda, onde, em 1771, é acusado de assaltar a casa de um taberneiro. Para rebater a acusação, Salvador alega que a elevada soma de dinheiro encontrada em sua posse não era produto do roubo, mas fruto da venda de mercadorias enviadas a ele pelo irmão, que continuava a residir no Brasil. Embora boa parte da versão de Salvador pareça ter sido uma mentira, o crédito dado às suas alegações, em um primeiro momento, pelas autoridades, ajuda
a revelar a grande mobilidade geográfica no mundo Atlântico. O estudo de dezenas de outros casos mostra que pessoas livres e escravas atravessavam o oceano em razão de punições por crimes e comportamentos inadequados, mas também para aprender uma profissão, buscar instrução, conduzir negócios e visitar parentes.
Os laços culturais, políticos e comerciais que uniam essas regiões africanas ao Brasil eram tão robustos, que, em 1824, prósperos comerciantes de Benguela, liderados por um homem negro nascido no Rio de Janeiro, de nome Francisco Ferreira Gomes, iniciaram um movimento rebelde que pretendia romper os laços com Portugal e anexar a província ao Brasil recém-independente. A tentativa de secessão, longe de ser uma empreitada fantasiosa, era coerente com a conjuntura da época, sendo mesmo esperada pelas autoridades portuguesas.
Ao enfatizar a organicidade entre as possessões portuguesas, o autor evidencia a esterilidade dos embates em torno dos conceitos “crioulo” e “crioulização”, rótulos estáticos que, segundo ele, dificilmente são capazes de abarcar toda a complexidade dessas mutáveis sociedades, nas quais os indivíduos manipulavam as diferentes esferas culturais, religiosas e jurídicas existentes de acordo com suas necessidades momentâneas.
A obra, inspirador exercício de erudição e imaginação histórica, adiciona mais uma peça ao intrincado quebra-cabeças do Atlântico Português, dando rara ênfase à dimensão humana das sociedades africanas setecentistas e oitocentistas, contribuindo, como sugere Miller, para que “a história atlântica se apoie solidamente em três pernas”,5 e que os africanos, como os outros, assumam o seu lugar como “atores inteligíveis” na trama do passado.
1 RUSSEL-WOOD, A. J. R. Sulcando os mares: um historiador do império português enfrenta a “Atlantic History”. História, São Paulo, v.28, n.1, p.17-70, 2009. [ Links ]
2 BOILLEY, Pierre; THIOUB, Ibrahima. Pour une histoire africaine de la complexité. In AWENENGO, Séverine; BARTHÉLÉMY, Pascale; TSHIMANGA, Charles (eds.). Écrire l’histoire de l’Afrique autrement?. Paris: L’Harmattan, 2004, p.23-45.
3 CÂNDIDO, Marina P. Enslaving frontier: slavery, trade and identity in Benguela, 1780-1850. Toronto: York University, 2006 (História, Tese de Doutorado). [ Links ]
4 LAW, Robin; MANN, Kristin. West Africa in the atlantic community: the case of the Slave Coast. The William and Mary Quarterly,Third Series, v. 56, n.2, p.307-334, apr. 1999. [ Links ]
5 MILLER, Joseph. History and Africa/Africa and History. The American Historical Review, v.104, n.1, p.1-32, feb. 1999. [ Links ]
Carolina Perpétuo Corrêa – Instituto de História Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro (RJ), Brasil, e-mail: cpcorrea2@hotmail.com.
Centering animals in Latin American history – FEW; TORTORICI (VH)
FEW, Martha; TORTORICI, Zeb (ed.). Centering animals in Latin American history. Durham: Duke University Press, 2013, 391 p. BENEVIDES, Fernanda Cornils Monteiro. Varia História. Belo Horizonte, v. 30, no. 52, Jan./ Abr. 2014.
No século XVIII, uma festa de casamento chamou a atenção dos membros do tribunal da inquisição da cidade do México. O matrimônio ocorreu em uma residência onde “muitas pessoas de ambos os sexos e todas as classes sociais participaram da celebração festejando, dançando e bebendo”.1 Segundo uma testemunha, Juan Antonio López, um homem de 38 anos, o casório foi celebrado por um padre legítimo, que seguiu, passo a passo, o protocolo católico. Após questionar os noivos sobre juramentos e obrigações da vida a dois, o pontífice os decretou marido e mulher “em nome do Pai, da Mãe e do Filho”. Após a cerimônia, os noivos foram conduzidos ao leito matrimonial, enquanto a festa se desenrolava com pompa.
Essa seria uma história banal, se não fosse por um detalhe: os noivos eram cachorros. As autoridades eclesiásticas consideraram o casório canino uma heresia. O fato levou o padre Basterrechea a ficar detido por semanas na prisão secreta da inquisição mexicana e, mais tarde, a desculpar-se publicamente por ter cometido uma blasfêmia. Segundo Zeb Tortorici, casamentos, batizados e funerais de animais de estimação não eram raros no México dos anos 1700. Traziam à tona o lugar deles na elite da sociedade mexicana.
Essa é uma das histórias contadas no livro sob apreço, uma coletânea de textos cujo ponto de partida foi o painel Animals, Colonialism, and the Atlantic Word, realizado durante o Annual meeting of the American Society for Ethnohistory. O encontro ocorreu em 2006, na cidade de Williamsburg, Virginia, Estados Unidos da América. Os editores do volume são Zeb Tortorici, Professor Assistente de Literatura e Línguas Portuguesa e Espanhola, na New York University, e Martha Few, Professora Associada de História Colonial
Latino-Americana na University of Arizona, em Tucson. Os demais autores são historiadores, pesquisadores e professores de universidades latinas e norte americanas. Eles partiram de uma proposta inovadora: contar a história da América Latina a partir do ponto de vista de “animais não humanos”.
Divide-se o volume em três partes que retratam a influência dos animais na história colonial e pós-colonial do México, Guatemala, Peru, Porto Rico, Cuba, Chile, Brasil, República Dominicana e Argentina. A primeira parte, denominada Animals, Culture and Colonialism, composta de três artigos, trata da relação entre humanos e animais nas colônias espanholas. Em The Year the People Turned into Cattle, León Garcìa Garagarza analisa as consequências da introdução de espécies exóticas de animais de pastoreio no México desde os anos 1500 e como as populações indígenas resignificaram a multiplicação dos rebanhos bovinos ao interpretarem o grande número de animais como transmutação de gente em gado. Para se livrar desse destino, os indígenas acreditavam que deveriam retornar à dieta ancestral e não consumir carne bovina.
Na segunda parte da obra, intitulada Animals and Medicine, Science and Public Health, os autores enfocam a relação entre medicina, animais e fronteiras entre espécies. Adam Warren, em From Natural History to Popular Remedy juntamente com Neel Ahuja, em Notes on Medicine, Culture, and the History of Imported Monkeys in Puerto Rico apontam o uso dos animais não só como recursos para produção de medicamentos presentes nos manuais de medicina popular no Peru colonial, como também para experimentos da indústria farmacêutica em Porto Rico. No artigo Pest to Vector: Disease, Public Health, and the Challenges of State-Building in Yucatán, Mexico, 1833-1922, Heather McCrea descreve a mudança de categoria dos mosquitos: eles passaram de praga para vetores a partir do estabelecimento dos programas de saúde pública no México.
A terceira seção do volume, intitulada The Meanings and Politics of Postcolonial Animals, é a mais extensa do livro, composta por quatro artigos. O artigo Animal Labor and Protection in Cuba: Changes in Relationships with Animals in the Nineteenth Century, de Reinaldo Funes Monzote, aborda a mudança da percepção do uso de animais nas plantações de cana-deaçúcar em Cuba. Essa mudança ocorreu de acordo com as alterações na economia, a importação de tecnologia e o aumento/diminuição de trabalho humano. Paralelamente à intensificação do uso dos animais de tração, deuse início, em 1882, a um movimento contra maus tratos aos animais, com a fundação da Sociedad Cubana Protectora de Animales Y Plantas. Isso tinha raízes em uma tradição iniciada na Inglaterra, com a fundação da Society for the Prevention of Cruelty to Animals, em 1824.2
Da exploração à conservação, esse é o fio condutor dos artigos da terceira parte da obra: Birds and Scientists in Brazil: In Search of Protection, de Regina Horta Duarte, e On Edge: Fur Seals and Hunters along the Patagonian Littoral, 1860-1938, de John Soluri. Duarte aborda desde o uso intenso de penas e plumas de pássaros brasileiros em acessórios femininos, durante as primeiras décadas do período republicano brasileiro, as ações e medidas conservacionistas iniciadas por alguns naturalistas atuantes dos museus de ciências brasileiros como também a influência da atuação desses profissionais na elaboração de leis conservacionistas nos anos 1930. Soluri relata a caça predatória das focas na Patagônia e as medidas conservacionistas que tentaram coibi-la. A última parte do volume é encerrada com Trejillo, The Goat: Of Beasts, Men, and Politics in the Dominican Republic, de Lauren Derby, que narra a escolha feita por opositores políticos do odiado ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo, de representa-lo na figura de um bode.
O livro encerra-se com uma conclusão do antropólogo Neil L. Whitehead. O autor comenta o crescimento do debate filosófico sobre a interação entre animais humanos e “não-humanos” a partir do aparecimento das obras de Peter Singer Animals Liberation em 1975 e, em 1976, de Tom Regan, Animals Rights and Human Obligations.3 Whitehead afirma que a percepção da presença dos animais como parte da história teve seu início com o livro Man and the Natural World: Changing Attitudes in England 1500-1800 do historiador britânico Keith Thomas.4 O autor defende ainda que, para escrever uma história do ponto de vista animal, é preciso levar em conta povos entre os quais a divisão entre humanos e animais não é estanque.
Esse desafio metodológico, de contar a história a partir do ponto de vista dos animais, é encarado de diferentes formas pelos autores presentes na coletânea. Alguns trataram dos animais como agentes da história, outros autores consideraram os animais como categorias sociais, juntamente com outras amplamente tratadas na historiografia tradicional, como Estado, Igreja e classe social. Há ainda textos que lidaram com os animais a partir de um viés utilitarista, como em Notes on Medicine, Culture, and the History of Imported Monkeys in Puerto Rico. Neel Ahuja trata da mudança no status dos macacos Rhesus (Macaca mulatta), que passaram de instrumentos de progresso científico, devido ao uso em testes da indústria farmacêutica norte-americana à praga que colocava em risco a vida e a segurança dos humanos devido a encontros crescentes em áreas urbanas entre seres humanos e macacos, como também investidas de grupos de primatas a plantações nas franjas urbanas de Porto Rico. O departamento nacional de agricultura de Porto Rico, devido a esses problemas, propôs regras e legislações que implicaram em proibições gradativas a importação e posse dos animais a partir de 1990.
O livro não alcança o objetivo proposto de contar a história da América Latina mediante a perspectiva dos animais. Talvez isso seja devido à dificuldade implícita nesse tipo de narrativa, já que a história dos animais no livro é contada a partir de relatos de humanos, ou seja, os animais são apropriados como seres sociais. Entretanto, o livro alcança outros objetivos válidos, tais como evidenciar o antropocentrismo da historiografia tradicional. Pela leitura dos artigos, fica claro que as fronteiras entre o ser humano e os animais são borradas e que a definição do que seja um animal é o primeiro passo para redefini-las. Centering Animals in Latin American History vai além de casos excêntricos e curiosos, como o do casamento canino, já que (re) introduz os animais na história colonial e pós-colonial da América Latina. Os textos enfatizam a questão da interdependência entre os seres humanos e outros seres vivos além dos vários significados dos animais ao longo da historia da humanidade. O livro é indicado para acadêmicos e interessados no papel dos animais na história das sociedades humanas bem como aos envolvidos nas iniciativas de cuidado com os animais, selvagens ou domesticados, no período colonial dos Países citados. Depois de ler a coletânea, percebe-se que, sem os animais, a história das sociedades humanas seria muito mais trivial.
1 FEW, Martha; TORTORICI, Zeb (ed.). Centering animals in Latin American History, p.93. [ Links ]
2 MCCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. [ Links ]
3 SINGER, Peter. Animal liberation. New York: New York Review of Books, 1990; [ Links ] REGAN, Tom. The case for animal rights. Berkeley: University of California Press, 1983. [ Links ]
4 THOMAS, Keith. Man and the natural world: changing attitudes in England 1500-1800. London: Peguin Books, 1984. [ Links ]
Fernanda Cornils Monteiro Benevides – Centro de Desenvolvimento Sustentável Universidade de Brasília (UnB), Brasília (DF), Brasil, e-mail: cornils.fernanda@hotmail.com.
The rise of the Trans-Atlantic slave trade in Western Africa, 1330-1589 – GEEN (VH)
GREEN, Toby. The rise of the Trans-Atlantic slave trade in Western Africa, 1330-1589. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 323 p. SCHLICKMANN, Mariana. Varia História. Belo Horizonte, v. 29, no. 51, Set./ Dez. 2013.
Os estudos acerca do tráfico de escravos em África já realizaram avanços primorosos, contudo, ainda há diversas lacunas em seus anos iniciais, sobretudo no oeste africano. Neste sentido, o livro The rise of the Trans-Atlantic slave trade in Western Africa, 1330-1589, publicado em 2012 e ainda sem tradução para o português, é uma imensa contribuição que o historiador britânico Toby Green – conhecido no Brasil por sua obra Inquisição: o reinado do medo – realiza para a história desta região pouco estudada.
Green se dedica, como o próprio título do livro indica, a estudar a ascensão do tráfico atlântico de escravos, do século XIV ao XVI. A área pesquisada é o oeste africano, termo utilizado primeiramente por George Brooks1 para se referir à área da Alta Guiné (que vai do Rio Senegal até Serra Leoa) e Cabo Verde. O objetivo desta obra é mostrar a importância da região para a consolidação do tráfico atlântico de escravos e para o surgimento de culturas e identidades criadas a partir da experiência da diáspora.
Utilizando fontes orais e documentos escritos por árabes e europeus, o autor defende que, no início do século XIV, o poderio do Império do Mali passa a se estender por toda a região da Alta Guiné, ao mesmo tempo em que o comércio transaariano de escravos aumenta e se afirma na área. A prática do comércio de escravos pelo deserto vem junto com uma cultura de violência, que se insere no cotidiano das sociedades que conviviam com os processos de captura, comércio e utilização de escravos.
Para o autor, as populações locais, ao passarem pelo processo de malinkização (apropriação de elementos culturais e religiosos do Império do Mali), ajustaram-se rapidamente à nova cultura de violência imposta pelo comércio de escravos. Esta capacidade de rápida adaptação a uma nova conjuntura cultural, política, religiosa e comercial; a flexibilidade e tolerância com novos povos deram ares cosmopolitas à região; fato que foi fundamental para o surgimento e depois consolidação do comércio com os europeus.
A ideia central deste livro é de que o oeste africano teve um papel chave não só no tráfico, mas na própria criação do mundo atlântico e no surgimento de identidades diaspóricas em todo o planeta, pois ali ocorrem as primeiras trocas comerciais, culturais e sociais que serviram inicialmente como um padrão. Por isso, uma perspectiva global permeia todo o livro, no intuito de mostrar as múltiplas conexões e as relações interdependentes entre o local e o global. O conceito de “mundo atlântico” auxilia metodologicamente Green neste sentido, que o utiliza em congruência com Russel-Wood: um espaço além de fronteiras políticas ou nacionais, onde intercâmbios sociais, culturais, comerciais e demográficos ocorreram de forma intensa entre os continentes europeu, africano e americano.2
O livro está dividido em duas partes. Na primeira – cujo recorte temporal é de 1300 até 1550 -, é traçada uma história regional antes do contato com os europeus, mostrando como as relações entre os mandingas e os guineenses influenciaram a conjuntura social que propiciou o comércio internacional, uma vez que moldou as populações de forma a se tornarem flexíveis e receptíveis em relação a novas culturas. É com esta sociedade cosmopolita, que não impõe barreiras para a realização de negócios com estrangeiros, que os europeus fizeram os contatos iniciais, conseguiram estabelecer e consolidar trocas comerciais.
A preocupação central do autor é expor que os comerciantes locais daquela área ditaram inicialmente o ritmo das negociações, pois as mercadorias e rotas traçadas eram as mesmas do comércio interno. Neste primeiro momento ele também mostra como as interações e trocas culturais entre europeus e africanos foram mudando ao longo do século XV, e como a chegada dos cristãos novos de ascendência ibérica na região no século XVI acarretou em mudanças na dinâmica do comércio, do tráfico e do jogo político de alianças locais.
Mudanças ocorreram também com a chegada de judeus, que exercem um papel importante no contexto e também na formação do mundo atlântico, ressalta Green, e também José da Silva Horta e Peter Mark.3 Os judeus formaram uma comunidade comercial muito importante no final do século XVI, que causou grande impacto na região. Uma delas foi a reorganização das redes de poder, uma vez que os estrangeiros procuravam se inserir através de casamentos com mulheres das elites locais, como aponta Havik,4 e dependiam destas para o sucesso comercial. Green procura também desconstruir a visão da dominação das mulheres pelos homens ao mostrar o importante papel ocupado por elas nestas sociedades atlânticas do oeste africano.
A segunda parte abarca de 1492 até 1589, e procura integrar a história regional até então traçada com o mundo atlântico, mostrando como um mundo afetou o outro e vice-versa. É apresentada a explosão do contrabando e a extensão da rede do tráfico de escravos, que se expandiu rapidamente no século XVI. Também é apontado que a criação de sociedades crioulas nesse contexto só foi possível através das conexões entre forças locais e globais em ambos os lados do Atlântico, uma vez que para o estabelecimento de relações, os comerciantes tinham de adotar os costumes dominantes do local, ao invés de propagar ou preservar suas diferenças culturais, o que propiciou a criação de redes e identidades diaspóricas e do fenômeno da crioulização.
Para compor este livro, o historiador britânico fez uso de história oral, com o objetivo de entender as práticas culturais locais das áreas pesquisadas e também de vasto material do Arquivo de História Oral da Gâmbia. Também fez observações etnográficas em Casamansa, Guiné Bissau e Cabo Verde entre 1995 e 2011. Como fontes escritas, utilizou relatos de viajantes, documentação oriunda de arquivos sobre escravidão, tráfico, história atlântica e o Santo Ofício da Colômbia, Portugal, Espanha e do Vaticano e uma vasta bibliografia sobre o tema.
Ele defende que apesar de grande parte do seu trabalho estar pautado em fontes externas – principalmente as produzidas por europeus – isso não torna seu trabalho eurocêntrico, uma vez que ele é capaz de interpretar as fontes sabendo dos limites impostos pelo contexto e mentalidade da época. Acredita que as fontes orais utilizadas, pertencentes ao Arquivo de História Oral da Gâmbia, permitem a integração de perspectivas africanas em sua análise, além de uma perspectiva diferente sobre um mesmo episódio. Cabe observar que o autor procura durante todo o texto analisar os documentos de forma crítica, sem forçar os limites impostos pelos mesmos e pautando todos os seus argumentos em diversos tipos de fontes.
No texto, Green critica a tendência de se estudar a história do tráfico por um viés quantitativo, pois se corre o risco de subestimar o número de africanos deportados nos primórdios deste tipo de comércio. Contudo, ele não ignora as importantes contribuições oferecidas por bancos de dados como o Trans-Atlantic Slave Trade Database, apesar de preferir seguir uma perspectiva não quantitativa, que ressalta os aspectos e impactos sociais, culturais e políticos do comércio de escravos, tendo para isso um arcabouço conceitual pautado principalmente no conceito de crioulização.
A crioulização, ou creolisation5, mostra a corrente historiográfica adotada pelo autor, o qual entende que o contato entre as diferentes culturas e costumes fez surgir algo novo: as culturas e identidades crioulas ao redor do mundo, que mesmo novas podem preservar características dos povos que a originaram. Roquinaldo Ferreira também partilha desta mesma visão, mas alerta que ela “está longe de ser consensual”.6 Green deixa claro que sua perspectiva tem o caráter linguístico como ponto de partida para observar as transformações sociais e culturais que decorrem do contato entre europeus e africanos, pois “o desenvolvimento de uma nova língua pode refletir novas forças sociais. Onde as interações sociais e as trocas são intensas, as mudanças linguísticas seguem” (p.12).7
Ao colocar esta região no centro do mundo, o livro de Toby Green passa a interessar não só os especialistas em História da África, mas a todos que se interessam pelo tema do tráfico, da escravidão, da diáspora africana e da História Atlântica.
1 BROOKS, George E. Landlords and strangers: ecology, society and trade in Western Africa, 1000 – 1630. Boulder: Westview Press, 1993.
2 RUSSELL-WOOD, A.J.R. Sulcando os mares: um historiador do império português enfrenta a “Atlantic History”. História, v.28, n.1, p.20, 2009.
3 HORTA, Jose da Silva; MARK, Peter. Judeus e muçulmanos na Petite Cotê senegalesa do início do século XVII: iconoclastia anti-católica, aproximação religiosa, parceria comercial. Cadernos de Estudos Sefarditas, n.5, p.29-51, 2005.
4 HAVIK, Philip. A dinâmica das relações de gênero e parentesco num contexto comercial: um balanço comparativo da produção histórica sobre a região da Guiné-Bissau – séculos XVII e XIX. Afro-Ásia, n.27, p.79-120, 2002.
5 Toby Green utiliza diversos referenciais para a utilização deste conceito, entre eles: MINTZ, Sidney W.; PRICE, Richard Price. The birth of African-American culture: an anthropological approach. Boston: Beacon Press, 1992; BERLIN, Ira. From Creole to African: Atlantic Creoles and the origins of African-American society in Mainland North America. The William and Mary Quarterly, 3rd Ser., v.53, n.2, p.251-288, April 1996; HEYWOOD, Linda; THORNTON, John K. Central Africans, Atlantic Creoles, and the foundation of the Americas, 1585-1660. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 2007.
6 FERREIRA, Roquinaldo. Ilhas crioulas: o significado plural da mestiçagem cultural na África Atlântica. Revista de História, São Paulo, n.155, p.19, 2006.
7 Tradução da autora. “The development of a new language may reflect new social forces. Where social interactions and exchanges are intense, linguistic change follows”.
Mariana Schlickmann – Departamento de História. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte (MG). Brasil. Mestranda em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Contato: mariana.schli@gmail.com.
A teoria da Revolução no jovem Marx – LOWY (VH)
LOWY, Michael. A teoria da Revolução no jovem Marx. Tradução: Anderson Gonçalves. São Paulo: Boitempo, 2012. 218 p. ALMEIDA, Fábio Py Murta de. Varia História. Belo Horizonte, v. 29, no. 51, Set./ Dez. 2013.
O livro A teoria da Revolução no jovem Marx1 de Michael Lowy, diretor emérito do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS/França) em Paris, tem forma densa e precisa, mérito do autor que onera anos de atividade profissional dedicada aos fenômenos sociais/históricos. Pela opção metodológica apresenta a Europa do século XIX tendo em vista a vida de Marx através da sociologia da cultura.2 Buscando relacionar a obra marxiana com o movimento operário na época, apresenta a teoria da revolução no jovem Marx como formulação das experiências européias. Desse modo, o autor fortalece a sua tese que defende a relação entre Karl Marx e a classe que representava, através da teoria goldmanniana, no sentido de procurar conectar classes sociais, ideologia e cultura ao seu tempo.3
Para trabalhar o jovem Marx, Michael Lowy introduz historicamente suas palavras no pano de fundo da própria ideologia marxista entre 1830 e 1848. Pensadores e pensamentos são suas preocupações: desde o hegelianismo de esquerda até o socialismo e seus adeptos. Percebe como o termo revolucionário se fazia presente no tempo de Marx com o comunismo e a auto-emancipação do proletariado. Detém-se aos momentos de 1842-1844, com a primeira produção de Marx na Gazeta Renana, ligada ao hegelianismo de esquerda, que o leva a enveredar na política; antes disso, Marx trabalhava com jurisprudência. A partir desse momento, detalha a passagem de Marx do hegelianismo de esquerda para o comunismo, um processo lento, gradual, porém, conciso. Os trabalhos na Gazeta Renana dão mostras disso, principalmente quando crítica o Estado e os proprietários privados pela situação de sofrimento dos camponeses passíveis de penúria, carências e sofrimento.
No ano de 1842 o autor aponta um Marx ignorante sobre o comunismo, e mostra isso ao publicar sua biografia intelectual. Já o ano de 1843 é fundamental, pois ocorre “sua ruptura com a burguesia liberal no início de 1843 e essa descoberta do proletariado no início de 1844, Marx passou por um período de transição, ‘democrático-humanista’, fase de desorientação ideológica e tateamento que levara ao comunismo” (p.72). Levando à escrita da Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, por querer uma “verdadeira democracia” não ligada à propriedade privada. Escreve cartas a Ruge desenvolvendo idéias até aderir ao comunismo, caracterizado por: “o comunismo de massas” (p.85).
Depois se preocupa com o hiato de 1844 a 1846, quando Marx relaciona o socialismo e o movimento operário. Vinculam-se as ligas e as sociedades operárias secretas francesas estudando o ideólogo do período Buonarroti e sua “conspiração para igualdade”. Buonarroti pensa: 1) a tomada do poder pela conspiração de uma sociedade secreta; 2) a necessidade de uma ditadura revolucionária depois da insurreição; 3) e a aspiração de uma revolução igualitária que suprimia a propriedade privada. Marx estuda a obra de Dezamy, citada por ele na sua Sagrada Família de preocupações com uma sociedade proletária, quando Lowy destaca o vínculo de Marx com a Liga dos Justos, que teve contato em abril-maio de 1844, formada por artesãos alemães.
O contexto é responsável por Marx enveredar no comunismo alemão. A partir do qual as Ligas, na figura de Wilhelm Weitling, eram a vanguarda da tendência ideológica do artesanato proletariado na sua produção. Ele seria o “intelectual orgânico”4 do movimento, como diria Antônio Gramsci. Na própria Alemanha ocorreu a insurreição dos tecelões de junho de 1844 na Silésia. Esse foi o momento catalisador da reviravolta teórico-prática de Marx, como escreve, sobre a insurreição sendo “contra os burgueses e não contra as máquinas que o levante ocorreu” (p.188). Entre 1844 e 1846 produz sua teoria da revolução esboçada nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, percebendo o proletariado como classe alienada e o oposto do comunismo grosseiro é o comunismo filosófico.
A obra A Sagrada Família (primeira obra comum de Marx e Engels de 1844) opõe a Bauer, propondo um “comunismo de massa” por meio do processo histórico concreto projetando um comunismo materialista e um socialismo crítico. A próxima obra, as Teses sobre Feuerbach, seria a primeira obra marxista de Marx, o primeiro texto que expõe o pensamento da filosofia da práxis, em três níveis: epistemológico, antropológico e político. Visava superar a análise, mas descobriu a função “de entre do pensamento e ação, unidade dialética, crítico-prática revolucionária” (p.191). A obra A ideologia alemã, escrita entre setembro de 1845 e 1846 é outra obra conjunta de Marx e Engels, sendo o ponto de chegada da evolução dos pensamentos de Marx desde 1842. Critica ideólogos alemães e sua caminhada intelectual mostrando suas mudanças rejeitando a idéia de revolução apenas filosófica, citando pela primeira vez o termo “partido comunista”.
Entre 1846 e 1848, Lowy relaciona a atividade de Marx e Engels com o movimento operário, vinculado na querela do partido comunista. A partir desse momento, “as Teses sobre Feuerbach e do essencial da A ideologia alemã: é somente a partir desse momento que eles vêm claramente neles mesmos, chegam a uma visão de conjunto coerente” (p.175). Funda o Comitê de Correspondência Comunista em Bruxelas, em 1846 (primeiro partido marxista). Marcando rachas, diferenças e verossimilhanças entre os comunistas europeus e os cartistas. Em 1847, surge a Liga dos Comunistas. Para Lowy, dois temas da Miséria de Filosofia (a constituição do partido operário e o papel dos escritores comunistas) são retomados no Manifesto do Partido Comunista dando passos adiante de Miséria de Filosofia. Fundamental a percepção de que Marx participava da Liga dos Comunistas, e para ela escreve o Manifesto do Partido Comunista (p.194).
Após 1848, a teoria da revolução permeia sua obra até sua morte em 1883. O professor do CNRS sinaliza apontamentos posteriores da carreira de Marx. No âmago de sua mensagem em 1850, no Comitê Central da Liga Comunista, entende que era preciso tornar a revolução permanente até a tomada do poder do proletariado. Também, o conflito de Marx e Lasalle, este que acreditava que o socialismo seria “vindo de cima pelas graças de um salvador, contra a teoria marxista da revolução autoemancipadora” (p.195), vinculando-se à filosofia de Hegel. Para Marx, Lasalle propunha um socialismo da monarquia prussiana. Outra atividade de Marx foi a Primeira Internacional Comunista, junto a Comuna de Paris. Nesse tempo, Marx e Engels relacionam-se com o partido social-democrático alemão de 1875-1883, segmento no qual ajudaram a fundar, visando “uma luta política vigorosa e intransigente contra tendências oportunistas, reformistas e pequeno-burguesas” (p.199). Por fim, Marx produz cartas, debates e artigos contra os “homens de uma evolução pacífica que esperavam a emancipação proletária propriamente dita apenas dos burgueses cultivados, isto é de seus semelhantes” (p.207).
O livro A teoria da Revolução no jovem Marx encerra com apêndice da jornada de trabalho, retirada de Das Kapital (livro I, volume VIII). De maneira geral, no livro, há a convergência da história moderna européia confluindo na formação do jovem Marx e na composição da teoria revolucionária. Ele é um convite para os estudos da história da Europa e da gênese do marxismo. Por isso, indica-se que, caso os leitores queiram aprofundar os argumentos apresentados pelo autor, vale a pena conferir a obra Revoluções (organizada pelo próprio Michael Lowy5), e o título de Leandro Konder, Em torno de Marx.6
Michael Lowy conseguiu superar a dimensão espacial, levantando uma riqueza de detalhes e publicações sobre o “bom” Marx. Faz isso sem deixar de apresentar questões que levaram à formação do jovem Marx junto à teoria revolucionária e seu engajamento político. Ao mesmo tempo, o autor faz uma aproximação da disciplina de formação das idéias socialistas desde as atividades de Marx na Gazeta Renana, passando pelo partidarismo e tendo ponto final no comunismo marxista. Portanto, utilizando livros, artigos, cartas e debates, ele mapeia o desenvolvimento intelectual de Marx, esforço que ajuda a popularizar tais ideias no Brasil e poderão estimular novos estudos sobre o marxismo. A obra é importante para a formação acadêmica de diversas áreas, principalmente História, Ciências Sociais e Geografia.
1 O livro foi publicado originalmente no Brasil em 2002, e essa nova edição de 2012 se diferencia da primeira, pois se enxertaram novas partes e se editaram outras. Por exemplo, um fragmento foi acrescido intitulado: “A revolução da jornada de trabalho é a condição do reino da liberdade”, encontrado na p.209-216.
2 LOWY, Michel. Entrevista. Tempo, ano 2, v.4, p.1-9, agosto de 2008.
3 Destaca-se o início da obra quando Michael Lowy admite fazer uso da “sociologia da cultura” de seu orientador Lucién Goldmann, dessa forma: “em termos de condicionamento será demasiado esquemática se não introduzimos outro elemento: a autonomia parcial da esfera das idéias; pois se é verdade que as categorias fundamentais de uma obra podem ser socialmente condicionadas, não podemos indica deixar de observar que o desenvolvimento do pensamento obedece a um conjunto de exigências internas (…) com muita freqüência, é absolutamente inútil procurar as bases econômicas de todo conteúdo de uma obra a origem desse conteúdo deve ser procurada também nas regras específicas de continuidade e desenvolvimento da história das idéias” (p.34).
4 GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p.202-207.
5 LOWY, Michael. (org.). Revoluções. São Paulo: Boitempo, 2009.
6 KONDER, Leandro. Em torno de Marx. São Paulo: Boitempo, 2010.
Fábio Py Murta de Almeida – Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro (RJ). Brasil. Doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Contato: pymurta@gmail.com.
Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural – ASSMANN (VH)
ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011, 453 p. QUELER, Jefferson José. Varia História. Belo Horizonte, v. 29, no. 49, Jan./ Abr. 2013.
Ainda existe memória no mundo contemporâneo? Qual o papel da cultura em sua formulação ao longo do tempo? Tais são alguns dos desafios enfrentados por Aleida Assmann em seu livro Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. A obra foi recentemente traduzida do alemão por pesquisadores ligados à Universidade Federal do Paraná e publicada pela Editora da Unicamp, em 2011. Trata-se de versão modificada de uma tese de livre-docência apresentada à Universidade de Heidelberg, em 1992. Professora da Universidade de Konstanz, com formação em língua e literatura inglesa e em egiptologia, Assmann foi bem-sucedida em ultrapassar as fronteiras de suas especialidades. Atualmente seu trabalho desfruta de renome internacional entre as mais diversas áreas do pensamento, e pode estimular novas abordagens sobre a questão da memória no Brasil.
O livro foi produzido em meio ao rompimento do “silêncio coletivo” sobre o Holocausto e o período nazista na Alemanha, em momento em que tais temáticas assumem lugar de destaque em debates públicos naquele país. Da mesma forma, apareceu na esteira da crescente digitalização da mídia, em situação em que os computadores contribuem para modificar as formas de se lidar com o passado.
Diante de tais transformações, Assmann questiona posições que apontam o fim da memória nas últimas décadas. O alvo privilegiado de suas críticas, destacado desde as primeiras páginas do texto, é o historiador francês Pierre Nora. A obra deste último, em especial seu Les lieux de mémoire, obteve grande repercussão internacional ao proclamar a subsunção da memória pela história. Com o advento da modernização, a primeira, pautada por discursos espontâneos e naturais, seria cada vez mais incorporada pela história, marcada por um discurso artificial e racionalizado. Diante dessas colocações, Assmann coloca as seguintes perguntas: “É assim mesmo? Não existe mais memória? E que tipo de memória não existiria mais?”.
O eixo de sua argumentação consiste em demonstrar que não há uma essência da memória. Não apenas os indivíduos lembram-se das coisas, como também grupos e as mais diversas coletividades. Ou seja, os modos de recordar são definidos culturalmente, variam ao longo do tempo e segundo a formação cultural em que são formulados. Desse modo, se há o desaparecimento da memória, como quer Nora, isso é verdade apenas na medida em que há o descrédito de algumas formas de recordar. A mnemotécnica, tão exaltada na Antiguidade, sobretudo por Cícero, proclamava o valor do saber de cor, habilidade procurada em líderes e governantes. Entretanto, tal uso da memória cai em descrédito nos dias atuais, resvalando até mesmo na esfera do patológico. Afinal, perguntam-se muitos, por que decorar o que se pode registrar por escrito? Segundo a autora, não se considera mais a memória como vestígio ou armazenamento, mas como uma massa plástica constantemente reformulada sob as diferentes perspectivas do presente. Um pouco de exagero, pois poderíamos pensar na coexistência de diversas formas de se conceber e usar a memória atualmente.
Porém, a relevância do trabalho não deve ser diminuída. Assmann recorre a uma erudição impressionante para sustentar seus pontos de vista. Dialoga com autores clássicos das mais diversas épocas e áreas do conhecimento: Platão, Aristóteles, Shakespeare, Wordsworth, Halbwachs, Benjamin, Rousseau, Freud – mérito seu, evidentemente, mas que deve ser igualmente atribuído à situação institucional que abriu espaço para a elaboração desse trabalho de fôlego. E, a partir de tais autores, constata não apenas os mais diversos usos da memória, como também as diferentes formas pelas quais ela foi pensada e teorizada. Assim, enquanto Cícero notabilizou-se por delinear a arte da mnemotécnica, Nietzsche destacou-se por conceber a memória enquanto elemento central na formação da identidade. Outros embates são traçados: a memória recompõe cenas do passado, ou as reconstrói? Erige-se a partir tão-somente de um esforço deliberado, ou também de forma involuntária? Forma-se apenas com lembranças, ou também a partir de esquecimentos?
Nos horizontes de Assmann, destaca-se a preocupação de considerar tanto a memória quanto a história como formas de recordação. Elas, a seu ver, “não precisam excluir-se nem recalcar-se mutuamente”. As ciências históricas são vislumbradas como uma memória de segunda ordem, uma memória das memórias, a qual integra aquilo que perdeu relação vital com o presente. É o processo de formação dos Estados modernos o pano de fundo para o desenvolvimento delas. O interesse pela identidade nacional aumentou a velocidade do movimento arquivista, com a formação de coleções reunindo traços de um passado esquecido. E, uma vez reconquistado o passado das mãos dos monges e da Igreja, tornou-se premente a crítica das fontes. Mesmo diante de tais esforços, a autora aponta que os modos de recordar o passado nunca se concentraram exclusivamente nas mãos de profissionais ou especialistas. A memória nunca foi enquadrada totalmente pela história.
Os modos de recordação, por vezes, reconhecem revivescências. Assmann indica como a memória cultural tem seu núcleo antropológico na memoração dos mortos. Segundo tabu universal, estes devem ser sepultados e levados ao repouso; caso contrário, vão incomodar o mundo dos vivos. A Antiguidade, por sua vez, insistirá na eternização de alguns nomes. Poetas, cantores e historiadores serão mobilizados nessa tarefa. Concepção que, após interlúdio durante a Idade Média, será retomada no Renascimento. Casos como o memorial do Holocausto, por outro lado, marcariam o fim de quaisquer retóricas da Fama, voltando à forma original da lembrança histórica: a memoria dos mortos. Segundo a autora, contrapondo-se a Nora, a cobertura da Europa com locais de recordação da guerra não tem nada a ver com a modernização, mas com o regime totalitário e o genocídio planejado dos nazistas.
O livro de Assmann é publicado no Brasil em momento em que se instala uma Comissão da Verdade destinada a investigar, sem a prerrogativa da punição, crimes e abusos contra os direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. Trata-se de situação bem distinta do contexto de produção da obra. Afinal, muitos dos criminosos nazistas foram julgados e condenados tão logo terminou a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, é bem verdade, seguiu-se longo silêncio sobre o Holocausto entre a sociedade alemã. E a obra de Assmann foi construída justamente em conjuntura em que tal negação do passado era revista. No caso brasileiro, há que se perguntar se as diferentes formas de recordação presentes no debate público, tanto a memória quanto a história, serão capazes de iluminar os caminhos tomados pela Comissão da Verdade: suas formas de rememorar o passado talvez possam ser relativizadas a partir do trabalho de Assmann. Portanto, o livro em questão é de interesse não apenas para historiadores e cientistas sociais, como também para qualquer público interessado nas problemáticas colocadas pela memória.
Jefferson José Queler – Professor do Departamento de História. Universidade Federal de Ouro Preto. jeffqueler@hotmail.com.
História, teatro e política – PARANHOS (VH)
PARANHOS, Kátia. (org). História, teatro e política. São Paulo/Belo Horizonte: Boitempo/FAPEMIG, 2012, 248 p. DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. Varia História. Belo Horizonte, v. 29, no. 49, Jan./ Abr. 2013.
O conhecimento histórico é uma construção refinada que dialoga com diferentes fontes documentais e discursos pretéritos. O teatro, em sua diversidade, é simultaneamente objeto de pesquisa, narrativa histórica e fonte documental. Nesse sentido, as relações do teatro com a História são necessariamente complexas e exigem do pesquisador competência para construção de trânsito interdisciplinar e sensibilidade para compreensão da narrativa teatral em si mesma. Exige também formação capaz de fazer da arte teatral um recurso epistemológico possível, na construção de abordagens históricas, que possibilitem compreender o tempo, as espacialidade e as relações sociais constitutivas da própria História.
Essa complexa inter-relação de dinâmicas e procedimentos metodológicos encontrou um belo lugar de expressão no livro História, teatro e política, organizado pela historiadora Kátia Paranhos. A obra de 248 páginas, publicada pela Editora Boitempo, tem o mérito de reunir textos, que embora referentes a experiências peculiares, trazem em comum a “compreensão do fato teatral como uma rede extensa e complexa de relações dinâmicas e plurais que transitam entre a semiologia, a história, a sociologia, a antropologia, a técnica e arte, a representação e a política” (p.10).
Ao abraçar essa perspectiva, o livro contribui para reflexão metodológica sobre o uso de fontes e teorias. Além disso, apresenta ao leitor, um retrato dinâmico de experiências históricas concretas em que teatro e política dialogam.
Na bela e densa apresentação da obra, Kátia Paranhos analisa como o movimento de redefinição do campo da História alargou possibilidades. Entre elas destaca-se a da compreensão do texto teatral não somente como documento ou fonte, mas também como elemento constitutivo da própria trama da história, uma vez que como fato é também ato. Nesse sentido, afirma:
A atividade teatral dialoga com outros campos do fazer artístico e, assim é lógico que incentive uma história que dê conta das relações verificadas dentro e fora do fenômeno teatral. (p.9).
Nesse sentido, para autora teatro é História, ou é a História em ato.
Essa orientação de valorização das inter-relações no campo do teatro está muito bem expressa no artigo de autoria de Adalberto Paranhos, História, teatro e política em três atos. Em seu texto analisa a interseção entre teatro e política, na construção da história por sujeitos sociais ativos:
O teatro seja autodenominado, político, engajado, revolucionário ou até apolítico, é sempre político, independentemente da consciência que seus autores e protagonistas tenham disso. O mundo da política é habitado por todos nós, queiramos ou não, quanto mais não seja porque toda e qualquer elação social implica, inescapavelmente, relações de poder, tenham essas o sentido de dominação ou não. (p.36).
Nesse sentido, não seria temeroso afirmar que a compreensão da organizadora da obra e dos autores dos textos nela reunidos é de que em sua construção artesanal cada espetáculo teatral é único. Mas que o teatro em si é heterogêneo, dialético e inserido em determinados tempo e espacialidade.
A dialética é inerente à extensa e diversificada rede de relações e dinâmicas que compõem o fenômeno teatral. Rede que, em uma tessitura de múltiplos fios, transita entre História, semiologia, sociologia, antropologia e política. Considerada essas características de mobilidade e pluralidade, o livro, em seu conjunto reafirma sua filiação a um campo renovado de produção do conhecimento histórico. Renovação que absorve novos objetos e novas formas de construção epistemológica, que considera a narrativa não uma simples reprodução do real, mas uma escolha permeada por variáveis diversificadas.
Ao traduzirem a complexa heterogeneidade inerente ao movimento da história e à construção do saber histórico, os textos selecionados pela organizadora do livro, além de reflexões sobre fontes, trazem rica contribuição sobre temas variados, entre eles o teatro russo e o teatro espanhol. A ênfase maior recai, todavia, sobre a produção teatral brasileira, em especial o teatro brasileiro de engajado, crítico e contestador, no período do imediato pré 1964 e na conjuntura que sucedeu o golpe político ocorrido naquela ano.
Na abertura da coletânea o leitor encontrará o belíssimo texto, “Editar Shakespeare”, de autoria de Roger Chartier, professor da Universidade da Pensilvânia” e membro do Centro de Estudos Europeus na Universidade de Harvard. Chartier, com precisão regada por formação histórica erudita, analisa a construção e a materialidade do texto shakespeariano e sua inerência histórica.
A coletânea também é composta por textos que abordam assuntos variados, tais como:
– relação entre História, teatro e política;
– teatro revolucionário russo;
– o teatro engajado de João das Neves;
– a produção dramática de Miguel Hernades à época da Guerra Civil Espanhola;
– a obra teatral de Oduvaldo Vianna, nos tempos sombrios brasileiros, pós AI5;
– produção de cenas teatrais por artistas como Hélio Oiticica e Lina Bo Bardi;
– itinerários da opereta e mapeamento de fontes selecionadas nas cidades do rio de Janeiro e São João Del Rei.
Os textos referentes ao teatro brasileiro são expressivos da importância histórica do teatro com especial destaque para o tempo presente, a bem dizer contemporâneo de muitos dos autores que contribuíram para a construção de um livro intenso que, embora de autoria múltipla, não se apresenta como um quebra cabeça desarticulado.
Como assinala Kátia Paranhos na apresentação do livro, o teatro em cena e o teatro em texto transbordam para além da representação e do fato teatral em si ganhando multiplicidade fulgurante e expressão histórica singular. A consideração da multiplicidade e da singularidade são também características do livro por ela organizado. As abordagens interdisciplinares inerentes aos capítulos escritos por autores de formação variada, trazem efetiva contribuição para a ampliação de horizontes metodológicos no campo da História em particular e das Ciências Humanas em geral.
Além disso, o livro cumpriu o objetivo de sua organizadora de “oferecer ao leitor um quadro inicial das diferentes categorias de discurso teatrais” (p.12). Ou seja, avançar para além do discurso teatral hegemônico e voltar o olhar para discursos teatrais não iluminados pela crítica. Para tanto considerou o fenômeno teatral em toda sua amplitude, incorporando análises sobre dramaturgia e dramaturgos, experiências cênicas, escrita teatral, gêneros do teatro, relações entre escolas de pensamento e práticas teatrais e, finalmente relação entre teatro e sociedade.
Essas são razões que considero mais do que suficientes para leitura do livro. Além disso, com certeza, o olhar e a compreensão dos leitores, encontrarão em suas narrativas e análises outros holofotes a iluminar a cena da leitura e as correlações entre o fazer teatro e política na História.
Lucilia de Almeida Neves Delgado – Departamento de História. Universidade de Brasília. lucilianeves@terra.com.br.
Domingos Álvares: African healing, and the intellectual history of the Atlantic World – SWEET (VH)
SWEET, James H. Domingos Álvares. African healing, and the intellectual history of the Atlantic World. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2011, 300 p. MELLO E SOUZA, Marina de. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 48, Jul./ Dez. 2012.
A história de Domingos Álvares, possível de ser reconstituída por ter ele sido alvo de um processo inquisitorial e da pesquisa minuciosa de James Sweet, permite que sejam discutidos vários aspectos das sociedades formadas a partir das relações tecidas em torno do Atlântico no século XVIII. Como já havia feito em seu livro anterior, Recreating Africa, o autor tem como projeto de fundo inserir processos históricos e universos mentais africanos no conjunto de variáveis a serem consideradas nas análises de situações coloniais que envolveram o Brasil e Portugal,e de trajetórias de africanos inseridos à força, por meio da escravização e da introdução na sociedade escravista brasileira, em relações que abarcavam espaços de três continentes, conectados por interesses econômicos, políticos, e palco de intercâmbios culturais. Com uma escrita de alta qualidade e uma narrativa muito bem construída, conduz o leitor por uma sequência de fatos que o envolvem num crescendo no qual a força do texto não prescinde de uma pesquisa de grande fôlego. Cada elemento apresentado pela narrativa foi minuciosamente pesquisado em arquivos e discutido à luz de estudos anteriores, com os quais o autor mantém diálogos que permitem que reflexões já feitas sejam utilizadas de forma a tornar mais consistente sua própria análise.
O fio condutor da narrativa são os acontecimentos da vida de um curandeiro que é obrigado e se reinventar constantemente ao ser escravizado e transportado do Daomé para Pernambuco, dali para o Rio de Janeiro, onde compra sua liberdade e é preso como feiticeiro, sendo então levado para Lisboa, onde conhece os horrores dos porões inquisitoriais, antes de ser condenado ao exílio no extremo sudeste de Portugal, passando então a vagar em busca de uma sobrevivência cada vez mais árdua de ser obtida. Tendo saído adulto de um Daomé convulsionado pelas guerras de expansão do tempo de Agaja, que impunha sua autoridade sobre territórios vizinhos, submetendo os chefes tradicionais e tornando-se o principal fornecedor de escravos para o comércio atlântico a partir da segunda década dos setecentos, levou consigo o conhecimento especializado já adquirido, que o habilitava a recorrer aos voduns e antepassados para lidar com as adversidades do mundo visível, fossem elas pertinentes a questões físicas ou emocionais. Ligado a tradições perseguidas por Agaja que se via ameaçado pelas estruturas de poder a elas ligadas, nativo de uma região submetida ao expansionismo irradiado a partir de Abomé, foi um dos muitos escravizados naquele contexto de guerras regionais, entre os quais deviam se encontrar vários especialistas em práticas mágico-religiosas como ele. Mas de poucos deles foram registradas informações detalhadas. Para desgraça de Domingos Álvares e fortuna do pesquisador e de seus leitores, ele caiu nas garras da inquisição, talvez até por ter superestimado seus poderes e não ter sido suficientemente discreto e cuidadoso no exercício de suas atividades de adivinhação e cura.
As muitas lacunas da história de Domingos Álvares, extraída do processo inquisitorial aberto contra ele, são preenchidas com suposições fundamentadas em informações de ordem diversa, como a história do Daomé e as tensões entre Agaja e os sacerdotes de Sakpata, vodun responsável pela cura da varíola, e as obtidas no banco de dados sobre o tráfico atlântico de escravos, sob a coordenação de David Eltis, que indica a quantidade significativa de escravizados jejes desembarcados no Recife nas primeiras décadas do século XVIII. Para entender o percurso do escravizado Domingos Álvares, primeiro em um engenho nas cercanias de Recife e depois naquela cidade, o autor traça um quadro da economia da época, que passava por um período de crise com muitos engenhos parados, e das relações sociais escravistas que exigiam determinados comportamentos não só dos escravos mas também dos senhores, de forma a garantir a manutenção do sistema. A presença significativa de pessoas escravizadas oriundas da região do Daomé é rastreada não só pelos dados quantitativos produzidos pelo comércio de escravos, mas também pela centralidade do fon no dicionário da língua geral organizado por Antonio da Costa Peixoto, que entre outras coisas associou o vodunon com o padre católico. Em um ambiente de misturas antigas, entre índios, portugueses e africanos, entre os quais até então haviam predominado os bantos, nos anos seguintes a 1720 chegaram muitos jejes, adeptos dos voduns, em consonância com os processos de escravização em curso na costa ocidental da África.
Nesse meio social que propiciava alguma identificação entre africanos vindos da mesma região e que passava por uma crise econômica, os conhecimentos curativos de Domingos Álvares foram agenciados pelo seu proprietário em Recife, para que atuasse não só junto aos escravos como também entre os brancos, pois até mesmo padres católicos integravam elementos de origem africana em suas práticas. Certamente homem de inteligência e sagacidade acima da média, Domingos logo incorporou conhecimentos curativos que circulavam em terras pernambucanas, como plantas adequadas para combater certas doenças e uma prática que adotará a partir de então que consistia em envolver a cabeça do paciente em uma toalha sobre a qual era lentamente derramava água.
Ao detectar a possibilidade de, por meio de suas atividades de cura e adivinhação, articular laços sociais entre seus semelhantes e reivindicar maior independência entrou em atrito com seu senhor que não abriu mão do controle que tinha sobre suas ações. No embate entre a busca de mais autonomia por parte de Domingos e o empenho do proprietário em mantê-lo sob controle conforme as regras da sociedade escravista, as relações entre ambos deterioraram,e seus poderes mágicos foram direcionados contra o senhor e sua família. Já no gozo da fama de curandeiro poderoso, foi acusado de tentar matá-los e encarcerado até que aparecesse um comprador, que o embarcou para o Rio de Janeiro, sendo assim afastada a ameaça que representava não só para aquela família como para a manutenção da ordem senhorial. A falta de vento durante a viagem foi atribuída a resultante de feitiço seu, o que lhe rendeu boas chibatadas e a confirmação de que se tratava de um elemento altamente perigoso, que manipulava forças mágicas.
A despeito dessa fama, ou devido a ela, foi comprado por uma pessoa cuja esposa sofria de uma doença crônica da qual ninguém dava jeito. Nessa nova casa também não foi possível a convivência entre os escravos e seus senhores, que o acusaram de agravar a doença da senhora e mesmo tentar matá-la. Por outro lado, a integração entre os negros do Rio de Janeiro foi rápida e logo Domingos estava novamente exercendo sua atividade de curandeiro. Quando sua permanência na casa do senhor se tornou insustentável devido ao grau a que haviam chegado os conflitos e a ameaça que ele passou a representar à vida da senhora, uma autoridade colonial foi chamada a intervir para solucionar o caso, sugerindo que fosse transferido para a casa de outro senhor, cujos escravos estavam adoecendo em quantidade acima do normal, podendo ser Domingos de utilidade em função dos seus talentos, cujos benefícios eram àquela altura amplamente reconhecidos apesar dos mesmos poderem também ser materializados em malefícios, como ocorreria na casa em que se encontrava.
O sucesso de suas adivinhações e desmanche dos feitiços que estavam provocando as doenças entre os escravos foi imediato e o novo senhor entrou em um acordo que foi favorável a ambos, dando-lhe a autonomia que buscava e liberdade para exercer sua profissão de curandeiro em troca de pagamento. As vantagens pecuniárias foram tão altas para os dois, que apesar do baixo índice de alforrias entre homens africanos, Domingos conseguiu comprar sua liberdade, depois de ter dado um bom lucro ao seu senhor. Sweet atribui os diferentes comportamentos de seus senhores no Recife e no Rio de Janeiro às diferenças entre a maneira de pensar e agir de um senhor de uma área rural conservadora, atrelado à sua lógica econômica, e a maneira de pensar e agir de um senhor inserido num mundo urbano pautado pelo empreendedorismo, para o qual o ganho obtido por meio do trabalho do escravo era mais importante do que a manutenção de uma dada estrutura social.
A etapa final da trajetória de Domingos Álvares no Brasil transcorreu entre a população livre do Rio de Janeiro, africana, afrodescendente, mestiça e mesmo branca, com ele atuando sempre nas fímbrias, seja do centro urbano, seja entre aqueles inseridos nos lugares menos privilegiados da organização social. Depois de ter seus talentos monopolizados pelo senhor em Recife, contra o qual se insurgiu, ter conquistado autonomia e propiciado altos ganhos para si e seu segundo senhor no Rio de Janeiro, o que lhe permitiu comprar sua liberdade, entrou numa terceira etapa de sua adaptação à vida na sociedade escravista brasileira, ao construir em torno de si uma comunidade de adeptos, estabelecida num centro de culto que atraía pessoas em busca de cura para seus males. Tal sucesso deve ter lhe subido à cabeça e dado uma autoconfiança que fez com que não percebesse o perigo que corria com o exercício público e aberto de suas curas e adivinhações. As denúncias aos representantes da inquisição se multiplicaram (e serviram de base para a reconstituição de sua atuação como adivinho e curandeiro) e em 1742 Domingos acabou enviado para Lisboa para ser julgado pelo Santo Tribunal. Junto com ele desembarcaram em Lisboa outras duas acusadas de feitiçaria: uma crioula chamada Luzia da Silva Soares e Luzia Pinta, nascida em Luanda e objeto de alguns estudos que buscam entender as misturas presentes em suas práticas e os processos culturais que levaram à formação delas.
Depois dos interrogatórios, mais de dezoito meses na prisão e uma sessão de tortura rápida e eficiente, Domingos abjurou de suas culpas, saiu em auto da fé e rumou para Castro Marim, na divisa com a Espanha, onde deveria cumprir a pena de quatro anos de exílio. Premido pela necessidade de sobrevivência ignorou a pena imposta e perambulou pela região fazendo curas em troca de comida e abrigo, e adaptando-se às necessidades locais ao incorporar novos conhecimentos. Tratou doenças com ervas e disse ser capaz de encontrar tesouros enterrados uma vez que esta era uma forte demanda local para os portadores de poderes de adivinhação. Conseguiu construir vínculos com uma ou duas pessoas que o ampararam em momentos de maior necessidade mas nunca foi tão marginal, com as marcas da alteridade inscritas na cor de sua pele, nos orifícios nas orelhas e nariz, nas incrustações nos dentes, todos indícios de sua condição de africano e ex-escravo, ainda por cima condenado ao exílio pela inquisição. Mesmo assim não abriu completamente mão de sua ousadia e descumpriu a ordem de permanecer em Castro Marim, e voltou a exercer sua profissão de curandeiro e adivinho, para o que chegou a forjar situações que simularam a interferência de forças do além para impressionar seus clientes.
Mais uma vez denunciado, voltou a argumentar diante do tribunal a partir da lógica da racionalidade ocidental e do catolicismo, dizendo que apenas usou ervas para curar e que os incidentes sobrenaturais não passaram de engodo estimulado pela extrema necessidade em que se encontrava. Seu estado deplorável talvez tenha comovido o juiz, que o libertou depois de alguns meses de cárcere, condenando-o ao exílio em Bragança onde parece nunca ter chegado pois findam em Évora, onde foi julgado pela segunda vez, os registros acerca de sua existência.
A história de Domingos Álvares, é narrada com extrema competência tanto no que diz respeito à minuciosa pesquisa que busca completar as informações do processo inquisitorial e dar subsídios para uma análise que transcenda a esfera individual e proponha uma compreensão de contextos pelos quais o indivíduo transitou, quanto no que se refere ao texto propriamente dito, que transporta o leitor para o seio dos acontecimentos e prende sua atenção num crescendo que faz com que se emocione com o destino do personagem. Mesmo sendo um livro essencialmente descritivo, com potencial para interessar um público mais amplo do que o de um grupo de historiadores, contém uma boa análise sobre a realidade apresentada, sempre conectando a história do Daomé com os processos em curso ao redor do Atlântico, e a organização social dos grupos daquela região da África com as experiências vividas por Domingos Álvares. Nesse sentido, argumenta que as estruturas básicas que ligam o homem à sua ancestralidade e ao grupo social do qual é parte indissociável estariam sempre orientando as suas ações, ao mesmo tempo que ele buscaria se adequar aos contextos nos quais se encontrava, para o que geralmente, mas não sempre, demonstrava especial sensibilidade, ao perceber quais comportamentos seriam mais proveitosos. Pois se não escondeu suas atividades de adivinho e curandeiro, talvez sentindo-se fortalecido pela comunidade que criou ao redor da sua casa de culto no Rio de Janeiro, ao ser inquirido pelos juízes do tribunal da inquisição entendeu ser mais proveitoso se apresentar como escravo, mesmo já tendo comprado sua liberdade, pois dessa forma evocava um vínculo com alguém que poderia protegê-lo no contexto da sociedade escravista e buscava evitar o pior, que seria a existência totalmente isolada, afastada fosse dos ancestrais, fosse dos senhores.
Com uma interpretação bem mais consistente do que a presente em seu livro anterior, Recreating Africa, James Sweet continua, entretanto, a tratar a cultura como um conjunto de traços o que faz com que busque paralelismos entre práticas daomeanas e brasileiras, como por exemplo quando equipara os processos de iniciação no culto de Sakpata e o batismo católico. Mais interessado em detectar equivalências que expliquem as novas práticas, do que em desvendar processos de interpretação e de tradução simbólica, sua análise perde fôlego no que se refere à esfera da cultura, e o fascinante quadro de trocas simbólicas que seu texto desvenda não chega a ser explorado além da descrição de práticas e da indicação de paralelismos. Nesse sentido, não entra no conjunto de preocupações do autor a busca por compreender os mecanismos por meio dos quais Domingos Álvares adotou tradições em vigor em Pernambuco, no Algarve, e mesmo incorporou explicações típicas do discurso inquisitorial, como quando acusou uma mulher de feiticeira, pois anos antes ela teria dormido com o Demônio. Essa ausência só é notada porque os contatos culturais estão constantemente presentes no texto e não chegam a ser explorados com mais vagar, como acontece com vários outros assuntos introduzidos pela documentação. Domingos é apresentado como se reinventando constantemente, como um híbrido cultural, como tendo uma extraordinária capacidade de adaptação, mas não é proposta uma análise dos processos pelos quais essas transformações ocorreram. A constatação, presente em vários momentos do livro, de que a partir do exílio era necessário construir novas comunidades, orienta a análise para a esfera das relações sociais e talvez seja essa a razão da interpretação final carecer de densidade, pois propõe uma análise do universo intelectual existente no quadro de circulações atlânticas sem ter se detido com mais vagar sobre as questões culturais, pertinentes, me parece, ao que chama de intelectual.
Ao comparar os destinos de Domingos Álvares e de uma menina que Tegbesu mandou de presente ao rei de Portugal (por meio de um embaixador que enviou a Salvador em 1750), mas que por ter ficado cega não seguiu para Lisboa, James Sweet conclui seu livro ressaltando casos nos quais a invisibilidade social e a solidão prevaleceram, atribuindo essa derrota às instituições imperiais que levaram à individualização, por oposição às tradições africanas nas quais os laços de parentesco, seja com os vivos, seja com os mortos, eram constitutivos básicos do ser.Segundo essa perspectiva, que não toca na questão das relações de poder em jogo, podemos pensar que de nada teria valido a capacidade de adaptação de Domingos Álvares diante das determinações do mundo capitalista em construção. Segundo Sweet, suas práticas de cura, que não diziam respeito apenas às pessoas mas também à sociedade, pois desvendavam conflitos e tensões, representariam uma alternativa para neutralizar o infortúnio por meio da ênfase no bem estar comum. Mas no embate entre diferentes lógicas, de um lado a das tradições africanas, e de outro a da Coroa portuguesa, da Igreja católica, e dos senhores coloniais, restou para Domingos Álvares o isolamento social e a penúria. E para isso os interesses imperiais do Daomé trabalharam junto com os de Portugal, pois também para Agaja e Tegbesu o poder dos ancestrais e dos voduns deveria ser neutralizado para não constituírem uma ameaça a eles. Esse, aliás, é um dos pontos fortes e originais da análise de Sweet, que argumenta que havia uma interconexão entre os processos imperiais em curso em Portugal e no Daomé, que se encontraram no mundo Atlântico do século XVIII.
Considerando Domingos um intelectual africano, o que me parece um uso inadequado do conceito, com a ressalva de que não tenho familiaridade com os estudos dos quais extrai essa ideia, Sweet entende que pessoas como ele, mesmo quando neutralizadas pelo poder institucional português, produziram um profundo impacto no discurso intelectual do mundo atlântico ao oferecer uma linguagem alternativa de cura que desafiava o nascente imperialismo sócio econômico. Mesmo sendo parte derrotada nesse embate as ideias africanas fariam parte das construções atlânticas, ao lado da herança intelectual europeia. Apesar de concordar com sua afirmação, discordo da maneira como a fundamenta, pois, no meu entender, se a contribuição africana está presente na construção do que Sweet chama de mundo intelectual atlântico não é por ter proposto uma lógica alternativa, que confrontou a dominante, e sim porque muitas pessoas foram bem sucedidas ao participar de processos de construção de comunidades que, apesar de dominadas, fizeram parte da formação desse novo mundo atlântico e da interpretação de sistemas simbólicos que resultaram em concepções e práticas que mesmo não hegemônicas integram-no.
Na ânsia de chamar atenção para o lugar da contribuição africana na construção do mundo atlântico, inclusive considerando os processos políticos internos ao Daomé, Sweet propõe uma interpretação que não me parece ser sustentada pela sua pesquisa e pelo seu admirável texto, que conta a história de uma pessoa que, depois de um sucesso temporário, fracassou em sua tentativa de recriar laços sociais a partir de práticas de cura africanas, mergulhando na obscuridade da solidão e do isolamento, enquanto tantas outras foram bem sucedidas e, elas sim, participaram da construção de um mundo atlântico, no qual o lugar da contribuição africana está sendo cada vez mais demonstrado. Como já transparecia em seu livro anterior, Sweet prefere abordar os diferentes sistemas culturais em contato, africanos e europeus, como estruturas que entram em choque e não como sistemas que criam áreas de comunicação, que resultam em produtos culturais novos. No que entende ser um embate entre um estilo europeu individualista e iluminista (e não nos é dito como este se coadunaria com o tribunal da inquisição), e sistemas de pensamento africanos que enfatizariam o bem estar comum, percebe a derrota deste, no seu entender temporária, com a saída de cena de Domingos Álvares. A sua resistência em voltar a atenção para os processos de diálogo cultural não permite que invista na análise do que a história que nos conta aponta com mais força, ou seja, a maleabilidade do comportamento de Domingos Álvares e a sua capacidade de perceber rapidamente o mundo que o cerca, adaptar-se a ele e buscar formas de integração que comportam práticas e comportamentos de sua sociedade de origem.
Ao ignorar o caminho que considera o compartilhamento de códigos culturais na formação de um mundo atlântico e enveredar pelo que ressalta o confronto entre eles, força uma análise segundo a qual a contribuição africana, fundada no enfrentamento das vicissitudes pela perspectiva da cura, teria antecipado a contestação à escravidão e ao imperialismo que surgiria mais tarde, resultante do humanitarismo e das ideias relativas às liberdades individuais. Por esse caminho reivindica um lugar para a contribuição africana no desenvolvimento de posturas humanistas, para as quais seriam sempre apontadas apenas as contribuições europeias e americanas, e entende Domingos Álvares como um típico exemplar da modernidade, ao mesmo tempo que feroz oponente do mundo capitalista, em formação à época em que viveu. Ao deixar de explorar os processos pelos quais as contribuições africanas formaram o mundo atlântico na medida em que participaram de um diálogo, mesmo ocupando o lugar de dominados, busca identificar essa contribuição na linguagem gestada a partir do pensamento ocidental, identificando nas tradições africanas elementos de modernidade antes que esta se constituísse enquanto tal. Proposta certamente ousada e não destituída de interesse, não chega a ser plenamente convincente ao tomar como base para sua defesa a vida de Domingos Álvares, pela qual somos magistralmente conduzidos pela sua perícia de narrador e pesquisador.
Marina de Mello e Souza – Departamento de História da Universidade de São Paulo – FFLCH/USP, São Paulo – SP, marinamellos@uol.com.br.
O mundo negro: hermenêutica da reafricanização em Salvador – PINHO (VH)
PINHO, Osmundo. O mundo negro: hermenêutica da reafricanização em Salvador. Curitiba: Progressiva, 2010, 491 p. SANTOS, Erisvaldo Pereira dos. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 48, Jul./ Dez. 2012
No final da década de 1970, a emergência do movimento social negro urbano, denunciando as práticas racistas, as desigualdades raciais e desmistificando a democracia racial brasileira, produziu um novo interesse de interpretação e mudança da problemática social e racial no Brasil. No contexto internacional, esse interesse hermenêutico sofreu influências não somente das lutas contra o racismo e em prol dos direitos civis empreendidas por negros dos Estados Unidos, que tiveram início na década de 1960; mas também das lutas em favor das independências de países africanos, contra o racismo e pela valorização da cultura negra, nas quais se encontravam intelectuais carismáticos do porte de Leopold Senghor, Cheikh Anta Diop, Amilcar Cabral, Kwane N’Krumah, Frantz Fanon, Aimé Cesaire e Jean Paul Sartre. No contexto nacional, o resultado da produção científica da Escola de Sociologia da USP, assinada por intelectuais como Roger Bastide, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Otávio Ianni, revelava, além dos aspectos perversos do racismo e da integração do negro na sociedade de classes, as sobrevivências africanas no Brasil, através de pesquisas sobre o candomblé da Bahia, desenvolvidas por Roger Bastide. No cadinho desses acontecimentos políticos, culturais e epistêmicos, no seio da juventude negra que ingressou nas universidades despontaram intelectuais interessados em apresentar novas interpretações sobre a história e o pensamento social negro brasileiro, a partir de configurações culturais e reações políticas, evidenciadas como reterritorialização do espaço urbano, através da agência de segmentos da população negra. É nesse contexto que se inscreve a obra O mundo negro: hermenêutica da reafricanização em Salvador de Osmundo Pinho, cujo conteúdo é resultado de sua tese de doutorado em Ciências Sociais, realizado na UNICAMP.
A fim de evidenciar características da reafricanização e o desenvolvimento de novas identidades e organização negra em Salvador, o autor inicia sua reflexão identificando vínculos entre raça e classe na história da fundação do Bloco Ilê Aiyê, no meado da década de 1970, informando que tanto os fundadores do Ilê Aiyê quanto do Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR, mais tarde denominado MNU), eram trabalhadores da Petrobrás e do Polo Petroquímico de Camaçari. Na inserção dos negros no trabalho industrial, o autor identifica transformações que foram mudando a paisagem social, econômica e cultural de Salvador. Conforme o autor, as deficiências estruturais das lutas antirracistas na Bahia, talvez possam ser atribuídas à inserção precária dos negros no mercado de trabalho (p.80).
Como expressão de luta antirracista, o Bloco Ilê Aiyê (expressão em língua iorubá, que em uma tradução livre pode significar mundo negro), constitui-se como “uma insurreição contra a tradição baiana, congelada entre o espaço vazio da inserção precária no trabalho e a folclorização de práticas culturais de resistência como o samba e o candomblé” (p.83). Dessa forma, o Ilê Aiyê é o dado empírico que representa o paradigma da reafricanização na Bahia, através da agência política de negros trabalhadores da indústria petroquímica, os quais além de seduzidos pela “onda de soul” no Brasil da década de 1970, também foram inspirados pelas lutas globais de emancipação racial (p.14). Assim, “O mundo negro” que o Ilê Aiyê levou para as ruas no Carnaval de 1974, de Salvador, em pleno contexto da Ditadura Militar, era mais uma maneira de dar visibilidade à população negra da capital baiana. Expressando-se a partir de uma linguagem estética, marcada por ritmos, sons, cores e coreografias, performances que recriavam o espaço do terreiro de candomblé Ilê Axé Jitolu, onde nasceu o bloco, na grande avenida da cidade, os componentes do Ilê Aiyê demonstravam que a tentativa de fazer desaparecer as heranças africanas e o povo negro no Brasil havia malogrado. A palavra de ordem do bloco era evocada no canto que dizia: “Que bloco é esse, eu quero saber. É o Mundo Negro, que viemos mostrar pra você.” Com refrão musical, os negros e as negras organizados/as na Ladeira do Curuzu, no bairro da Liberdade, instauravam um Carnaval negro na cidade de Salvador.
O autor procurou “edificar uma leitura sobre o surgimento de novas identidades afrodescendentes em Salvador, seus contextos e cenários, suas articulações e conexões, seus níveis de constituição e reprodução […] como modo de fazer uma revisão compreensiva dos estudos afrodescendentes […]” (p.14-15), cujo “objetivo foi a construção da reafricanização como um objeto para a reflexão crítica […] tomando a narrativa de Risério [sobre “Carnaval Ijexá”] como ponto de partida para sua des-representação através dos textos e discursos”. A revisão dos estudos sobre afrodescendentes é constituída por aportes que se encontram presentes em uma vasta bibliografia que trata sobre o negro do Brasil, envolvendo autores como: Nina Rodrigues, Manuel Querino, Artur Ramos, Gilberto Freyre, Edson Carneiro, Ruth Landes, Roger Bastide, Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes, Thales de Azevedo, Oracy Nogueira, até reflexões mais contemporâneas como as de Júlio Braga, Vivaldo da Costa Lima, Jocélio Teles, Lívio Sansone e João José dos Reis. Além desses pensadores e pesquisadores, o autor utiliza-se de outras fontes como as entrevistas feitas aos membros fundadores do Ilê Aiyê.
Do ponto de vista metodológico, o tratamento dos dados se inscreve na perspectiva de uma hermenêutica crítica, pois como afirma o autor “ao invés de enfatizar o aspecto essencializante das identidades negras, preferi, de outro modo, apontar suas características críticas e por em relevo, o peso cristalizado das representações, discursos (…) ambiente para as relações raciais no Brasil” (p.22). A abordagem teórica utilizada para conduzir a interpretação pretendida, envolve autores como Marx, Heidegger, Rorty, Foucault, Baudrillard, Derrida, Deleuze, Michel de Certeau, Bourdieu, Homi Bhabha e Paul Gilroy. A partir da confluência dessas fontes bibliográficas sobre o negro brasileiro e os aportes teóricos desses pensadores, os quais estão vinculados a diferentes campos epistêmicos, O mundo negro passa a ser uma obra que se destina não apenas ao público interessado sobre a temática da sociologia do negro no Brasil, mas também aos pesquisadores que se debruçam a história do pensamento social negro no século XX.
Compreendendo a obra de Nina Rodrigues como um aporte do pensamento racialista do Brasil, o autor inscreve como seus herdeiros tanto Arthur Ramos quanto Gilberto Freyre, identificados como representantes da transição entre os paradigmas racialistas para os culturalistas (p.172). Em Arthur Ramos encontra-se a perspectiva da aculturação e integração do negro na sociedade brasileira, através de modelos de transformação como o sincretismo. Em Gilberto Freyre, “o negro é parte integrante da alma nacional, uma vez que está miscigenado e que todos nós temos algo de negro se não no sangue, na alma.” (p.175-6). Na concepção do autor, os estudos afro-brasileiros, ao constituir o “negro” como “objeto de ciência,” impediram sua constituição como sujeito político da representação. (p.302). Ainda segundo o autor, foi Roger Bastide, em sua obra Religiões africanas no Brasil o responsável por desenvolver um conjunto de argumentos anti-culturalista que além de deslocar a reflexão sobre o “problema do negro”, passou a “considerar a tradição africana no Brasil como inserida em estruturas sociais historicamente enraizadas, como que habitando-as.” (p.283-4). Outro pensador que criticou os Estudos Afro-Brasileiros foi Guerreiro Ramos, ao afirmar que tais estudos “transformavam o negro em ‘peça de museu’ ao estudarem os aspectos tradicionais da cultura negra, vistos por ele como elemento de atraso e de ignorância” (p.424).
Como uma obra realiza uma reflexão hermenêutica sobre a história do pensamento social negro e sobre a agência política e cultural de segmentos negros organizados, tendo o bloco Ilê Aiyê como um paradigma da reafricanização e contestação da realidade social, política e cultural da população negra de Salvador, os resultados apresentados são bastante alvissareiros, no que se refere à reterritorialização e também à valorização da cultura negra em Salvador. No entanto, o texto apresenta alguns problemas que não são apenas aqueles apontados pelo autor quando na conclusão caracteriza seus argumentos como “precariamente alinhavados” (p.433). O primeiro problema diz respeito ao conjunto de informações imprecisas que o autor oferece sobre o candomblé de Salvador, demonstrando que tem um conhecimento limitado do candomblé, sobretudo quando se refere ao bori (p. 133-4, 146) e também quando apresenta tabelas imprecisas sobre correspondências e hierarquias (p. 139, 140, 142).
Concluo destacando ainda mais dois problemas. Um refere-se à maneira pouco sistemática como o autor transita em campos epistêmicos tão diferenciados, sem estabelecer mediações discursivas, como no caso das apropriações que faz de abordagens filosóficas tão distintas, envolvendo os estudos culturais e autores de diferentes tradições epistemológicas como Foucault, Heidegger, Marx, Rorty. O outro problema se refere à conclusão, onde praticamente desaparece não somente o objeto principal do estudo – “O mundo negro do Ilê Aiyé” -, mas também o foco da hermenêutica da reafricanização, inicialmente direcionado para o vinculo entre raça e classe, os discursos do modelo do candomblé jeje-nagô e para a tradição dos estudos afro-brasileiros. Esse último problema aparece justamente em razão do autor pretender refletir sobre o Teatro Experimental Negro – TEN, sem que esse tenha sido um dos objetivos do estudo.
Erisvaldo Pereira dos Santos – Departamento de Educação (ICHS) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Mariana – MG, erisvaldosanto@yahoo.com.br.
From Africa to Brazil: culture, identity, and an Atlantic slave trade, 1600-1830 – HAWTHORNE (VH)
HAWTHORNE, Walter. From Africa to Brazil: culture, identity, and an Atlantic slave trade, 1600-1830. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2010, 288 p. MARCUSSI, Alexandre Almeida. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 48, Jul./ Dez. 2012.
O Estado do Grão-Pará e Maranhão é uma região relativamente pouco estudada pelos historiadores que se debruçaram sobre a América Portuguesa, se o compararmos com as capitanias do Nordeste ou com a região de Minas Gerais, por exemplo. Da mesma forma, dentre as regiões da costa africana que participaram significativamente do comércio atlântico de escravos, o tre-cho localizado entre os rios Senegal e Serra Leoa – a costa conhecida como Alta Guiné – talvez seja um dos menos bem contemplados pelos estudiosos. É natural, portanto, que a obra de Walter Hawthorne, que aborda a conexão entre ambas as regiões, seja uma adição bem-vinda à historiografia que trata do período colonial.
Hawthorne, que atualmente leciona História da África na Universidade Estadual de Michigan, é autor de outra obra importante sobre a Alta Guiné, Planting rice and harveting slaves, na qual analisa a produção de arroz na região. Em From Africa to Brazil, ele alarga o escopo da pesquisa para com-preender a articulação dessa região com o Maranhão, outra importante área produtora de arroz do Atlântico que estabeleceu fortes vínculos com o comér-cio guineense de escravos – mais especificamente, com os portos portugueses de Cacheu e Bissau, ao sul do rio Gâmbia.
Como já sugere o subtítulo da obra, que poderia ser traduzido como “Cul-tura, identidade e um comércio atlântico de escravos, 1600-1830”, o objetivo do autor é compreender as influências da diáspora guineense sobre a experi-ência cultural das comunidades escravas no Maranhão, sobretudo no período que se estende de 1750 a 1830, quando houve predomínio numérico de cativos oriundos da Alta Guiné nas importações do porto de São Luís. Esse vínculo é explicado em parte pelo regime de ventos e correntes marítimas do Atlântico, que favorecia as viagens entre a costa norte do Brasil e os portos de Cacheu e Bissau, e em parte pelas políticas pombalinas de desenvolvimento econômico do Estado do Grão-Pará e Maranhão, que tiveram como base a produção do arroz empregando mão-de-obra africana fornecida por esses portos.
O autor compara manifestações culturais dos povos da Alta Guiné com as das comunidades escravas do Maranhão para propor a tese de uma con-tinuidade cultural entre as duas realidades. Dessa forma, a perspectiva de Hawthorne alinha-se à de outros historiadores norte-americanos normalmente denominados “afrocêntricos”, tais como Paul Lovejoy, John Thornton e James Sweet, com os quais Hawthorne mantém intenso diálogo ao longo do livro.
É interessante notar, inclusive, que o plano de capítulos de From Africa to Brazilecoa a organização temática de A África e os africanos na formação do mundo atlântico, de John Thornton,1partindo da realidade africana para iluminar aspectos culturais das sociedades americanas, num projeto de com-preender o protagonismo dos africanos na configuração do mundo atlântico. O primeiro capítulo aborda a transição do regime de mão-de-obra indígena para o trabalho africano no Maranhão, na década de 1750, e analisa a origem geográfica dos escravos desembarcados. Na sequência, o autor empreende um estudo da organização do comércio escravista e da cultura da Alta Guiné, para depois passar à realidade americana, discutindo o regime de produção agríco-la do arroz, as estruturas matrimoniais e familiares vigentes na comunidade escrava e, por fim, as práticas religiosas dos africanos e seus descendentes.
A obra de Hawthorne partilha com a historiografia dita “afrocêntrica” muitos de seus pressupostos e métodos de análise – bem como alguns de seus limites interpretativos. Nota-se logo a importância capital da demografia na argumentação: o autor demonstra que o maior grupo dentre os escravos im-portados para o Maranhão proveio da Alta Guiné, correspondendo a 57% dos ca-tivos desembarcados entre 1751 e 1842. Mais que isso, a análise dos etnônimos nos inventários maranhenses e o profundo conhecimento que o autor tem do funcionamento do comércio escravista na África ainda permitem demonstrar que, dentre os escravos que vieram dessa região, houve claro predomínio das etnias habitantes da faixa costeira (balantas, bijagós, papel, floup, banyuns e brames), em detrimento dos fulas e mandinkas do interior, caracterizando um cenário em que o autor identifica um certo grau de homogeneidade cultural.
A partir daí, a obra busca os vínculos culturais entre as duas regiões. A análise está ancorada, em grande medida, no trinômio origem-etnia-identida-de. Trata-se de propor que os escravos guineenses puderam resgatar a etnia como critério de identidade no Maranhão, recriando na América elementos de sua cultura de origem. Contudo, o autor ressalta que eles não resgataram propriamente suas etnias particulares, mas uma espécie de cultura comum da Alta Guiné, baseada em pressupostos culturais largamente compartilhados, que foram enfatizados na diáspora.
Pode ser proveitoso pensar no argumento do autor à luz daquilo que Luis Nicolau Parés denomina “identidades metaétnicas”, agrupando vários etnô-nimos em denominações mais amplas a partir da interação entre africanos e europeus.2Hawthorne explica de várias maneiras a formação dessa identidade compartilhada: em alguns momentos, sugere que ela possa ter sido uma es-tratégia dos escravos para evitar conflitos étnicos no interior do grande grupo guineense. Predomina na obra, no entanto, a ideia de que essa identidade te-ria sido uma recriação mais ou menos “espontânea” baseada em similaridades culturais já existentes desde a África. Nesse sentido, ela seria de fato um res-gate de uma realidade cultural africana, e não propriamente uma recriação específica da sociedade colonial ou do mundo atlântico.
Observa-se que, em alguns casos, as supostas continuidades culturais com a Alta Guiné estão fundamentadas em fenômenos que também podem ser observados em outras regiões da África e no restante da América Portuguesa – por exemplo, as bolsas de mandinga3 – , enfraquecendo um pouco a argumen-tação do autor. Até por conta disso, a ênfase na costa da Alta Guiné como fon-te majoritária da cultura escrava maranhense soa um tanto exagerada, ainda mais se considerarmos que as etnias da costa nunca chegaram a compor mais de 32% da população escrava.
A despeito de seus limites interpretativos, em grande parte derivados da perspectiva teórica escolhida, a obra apresenta diversas contribuições re-levantes. Para além dos pouco conhecidos dados a respeito da comunidade africana maranhense, cabe destacar a abordagem do comércio de escravos na Guiné, que foge dos modelos clássicos ao mostrar que o tráfico não implicou centralização política naquela região. Vale ainda mencionar a sofisticada aná-lise a respeito da implantação da cultura do arroz no Maranhão, que articula vasta informação documental, um profundo conhecimento acerca do cultivo de arroz no Novo e no Velho Mundo e uma reflexão sobre o comércio atlântico colonial. O autor estabelece um diálogo com a chamada “tese do arroz ne-gro”, segundo a qual o conhecimento técnico para o plantio do arroz na Amé-
rica teria sido trazido pelos africanos da Alta Guiné. Comparando as técnicas de cultivo na África e no Maranhão, o autor demonstra definitivamente que essa tese não pode ser estendida para o Brasil. Para ele, a natureza mercantil da colonização determinou as características ambientalmente predatórias do plantio, enquanto o conhecimento africano pôde ser preservado e empregado apenas nas etapas do beneficiamento e do preparo culinário. Daí, portanto, a ideia de que o arroz maranhense não seria nem “branco” e nem “negro”, mas “marrom”.
Do ponto de vista metodológico, From Africa to Brazilfundamenta-se em uma extensiva e sólida pesquisa documental. Embora falte em alguns mo-mentos uma crítica mais rigorosa de algumas fontes, o autor demonstra am-plo conhecimento, contemplando uma documentação heterogênea que vai de inventários maranhenses até relatos de viajantes na costa africana, passando pelas fontes inquisitoriais.
From Africa to Brazilnão interessa apenas aos especialistas na história do Maranhão, mas também a todos os estudiosos das culturas afro-americanas e do comércio atlântico de escravos. A obra de Hawthorne preenche uma lacuna importante, trazendo à luz as especificidades de realidades históricas pouco conhecidas na historiografia. Esta é sem dúvida, sua maior contribuição.
1 THORNTON, John Kelly. A África e os africanos na formação do mundo atlântico: 1400-1800. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
2 PARÉS, Nicolau. A formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2006, p. 26.
3 Compare-se a perspectiva do autor com SANTOS, Vanicléia Silva. As bolsas de mandinga no espaço Atlântico: século XVIII. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008. 256 p. (Tese de doutorado – História Social); e SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
Alexandre Almeida Marcussi – Doutorando em História Social Departamento de História da Universidade de São Paulo – FFLCH/USP São Paulo – SP alexandremarcussi@gmail.com.
Mulheres em Macau – PENALVA (VH)
PENALVA, Elsa. Mulheres em Macau: donas honradas, mulheres livres e escravas (séculos XVI e XVII). Lisboa: CHAM/CCCM: 2011, 237 p. Resenha de: WAGNER, Ana Paula. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 47, Jan./ Jun. 2012.
Macau está longe de nós, se tivermos como ponto de referência o espaço geográfico brasileiro. Entretanto, o trabalho de Elsa Penalva chega para fazer uma aproximação, trazendo àqueles que desconhecem as particularidades da história macaense elementos que permitem um contato com a sociedade em questão. Numa parceria entre o Centro de História de Além-Mar e o Centro Científico e Cultural de Macau, o trabalho da autora foi publicado na Coleção Estudos e Documentos, que tem divulgado investigações relacionadas com a História dos Descobrimentos e da Expansão Lusa, assim como a presença portuguesa no mundo.
O primeiro ponto a ser evidenciado é que as mulheres são as protagonistas dessa obra, o que já se encontra anunciado no próprio título do trabalho. São mulheres de diferentes estatutos sociais, que viviam em Macau entre finais de Quinhentos e meados de Seiscentos. No topo da hierarquia local estavam as “donas honradas”. Conforme ressaltado por Elsa Penalva, essa condição, ser “honrada”, não se ligava necessariamente a uma conduta moral reta; mas era acrescida de uma valoração positiva facultada “pelo enlace com um homem com poder econômico, e com possibilidades de acesso às elites atinentes ao exercício do poder político”. Abaixo desta categoria, “donas honradas”, encontravam-se as mulheres livres e, depois, as escravas. Para estas últimas, equivalia situar-se na base da pirâmide social macaense, no lugar mais indesejado. Num campo intermediário estavam as mulheres livres. Entretanto, para esses dois segmentos sociais, independentemente da condição de livre ou escrava, “significava ter que se organizar, atendendo à sociedade patriarcal em que se inseriam”. Eram mulheres que, no geral, tinham dinâmicas de vida muito trabalhosas.
Porém, o universo feminino em Macau era muito mais complexo e diversificado do que a existência dessas três categorias, contando também com a presença de órfãs, religiosas, viúvas com posses ou não etc. Essa heterogeneidade é devidamente explorada pela autora no livro, além de ser redimensionada em razão do caráter multicultural da sociedade macaense, com indivíduos de diferentes procedências, como Portugal, China e Japão, por exemplo. Desse amplo quadro, a autora acaba por apresentar maiores detalhes do segmento das mulheres economicamente mais favorecidas. Tal circunstância deriva, possivelmente, de uma escolha feita por Elsa Penalva e, certamente, do tipo de documentação utilizada para a elaboração da pesquisa.
Em grande medida, ao problematizar a inscrição das mulheres na vida social de Macau, a autora procura não superestimar as ações delas, buscando equilibrar sua argumentação. A conclusão que chega é que “sem capacidade política, nem autoridade pública, e com reduzida intervenção social, a mulher em Macau, dificilmente escapava à dominação masculina a partir da riqueza de que dispunha”. Ou seja, a maior parte delas encontrava-se submetida a uma valoração fundamentada em índices de riqueza e, nesse ambiente, o casamento era considerado a principal garantia de segurança e de sobrevivência material. Mas, por outro lado, a condição de viúva, quando acompanhada de poder econômico, facultava à mulher a “manutenção do prestígio social e a aproximação ao universo masculino”.
Elsa Penalva não valoriza demasiadamente o papel da mulher em Macau, mas também não as vitimiza, procurando sempre um ponto de equilíbrio. No que diz respeito ao casamento, por exemplo, percebido como um importante mecanismo do processo de inserção social e de diferenciação entre o grupo feminino, ele foi um instrumento bem aproveitado pelas mulheres que viviam em Macau. Ainda que em algumas circunstâncias o matrimônio tenha sido imposto, as mulheres buscaram construir espaços de movimentação e, na medida do possível, procuraram atuar independente dos códigos sociais a que estavam sujeitas.
Como indicamos, a autora acabou privilegiando, em seu estudo, as mulheres economicamente melhor favorecidas, no caso, as viúvas com posses. Particularmente no que se refere a esse grupo social, as ideias de passividade feminina não se configuravam como majoritárias no período em análise, séculos XVI e XVII. Em relação ao aspecto econômico, algumas viúvas conseguiram ultrapassar determinadas barreiras e chegaram a ser as responsáveis pelo gerenciamento de seus patrimônios (garantindo a sua rentabilidade), constituindo-se em grande feito para a conjuntura daquela sociedade:
Algumas [mulheres], após terem enviuvado, tornaram-se elementos activos no meio mercantil em que viviam. Foi o caso de Isabel Reigota que entre 1652 e 1663 se opôs ao jesuíta Manuel de Figueiredo à data, Procurador da Vice-Província da China. Em causa estava o comércio do sândalo, e uma luta pelo poder travado no seio da Companhia de Jesus. O comportamento desta viúva deixa entrever uma aprendizagem de âmbito prático, fruto da observação atenta da actividade do marido, Francisco Rombo de Carvalho, e do contacto com os jesuítas com que privava. A sua casa, local de práticas dos vários saberes a que tinha acesso como mulher, permitira também a aquisição de conhecimento próprios do universo masculino, que, face à morte do marido, se tornaram recorrentes, funcionando como mecanismos de manutenção e sobrevivência.
A história da Isabel Reigota, indicada acima, sintetiza muito bem a argumentação da autora, e apresenta todos os elementos envolvidos na trama oferecida pelo livro. Ou seja, revela o cotidiano de mulheres que, por meio do casamento com um indivíduo com posses, tem acesso a um ambiente que lhes possibilita desenvolver conhecimentos e habilidades, que foram utilizados no momento em que seus cônjuges faltaram. Do mesmo modo, evidenciam as relações estabelecidas entre algumas ordens religiosas instaladas em Macau e determinados segmentos populacionais, fosse no contato para cuidar dos assuntos sagrados, ou sociais, ou econômicos.
Como se nota, paralelamente à história da condição social das mulheres de Macau, a autora descortina alguns aspectos do mundo religioso institucional da localidade, particularmente aquele que dizia respeito à Companhia de Jesus. Conforme Elsa Penalva, essa ordem era a que tinha maior poder em Macau, “pela sua antiguidade, modelo de aproximação à população, e ocupação logística do terreno. Isto pelo menos desde 1565 até inícios da centúria seguinte”. As Clarissas, ordem religiosa feminina que se instalou em Macau, em 1633, também ganhou atenção da autora. Segundo seu argumento, a partir de 1642, essas religiosas “funcionaram como um grupo de pressão nas lutas pelo poder que se desencadearam na cidade”, passando a se constituírem nas grandes oponentes à Companhia de Jesus naquele território. Entre as Clarissas estavam as filhas de mercadores abastados e influentes que se estabeleceram em Macau. Nota-se, assim, a configuração de um quadro bastante complexo que interliga o cotidiano das mulheres e as disputas religiosas e econômicas locais.
Sem dúvida, o livro em questão atende aos interesses daqueles leitores que buscam informações sobre as experiências das mulheres na Macau dos séculos XVI e XVII; contudo, também contempla a história de algumas ordens religiosas instaladas naquela localidade. Em grande medida, esse é um dos méritos do livro, fazer com que diminuam as distâncias que separam Macau de seus leitores. Embora a sociedade macaense tenha suas particularidades, devidamente exploradas e contextualizadas pela autora, tem-se a impressão de que é possível identificar algumas semelhanças com a história de outros territórios de colonização portuguesa, em especial nas questões relacionadas ao cotidiano das mulheres. É nesse sentido que dizemos que o livro de Elsa Penalva permite estabelecer algumas aproximações, desde o contato com esse espaço geográfico que constituía Macau até o conhecimento de experiências sociais nele desenroladas e comuns a outras sociedades.
Outra grande contribuição do livro Mulheres em Macau é a publicação, como anexos, de três documentos redigidos no século XVII, especificamente entre 1644 e 1690. Embora esses textos tenham sido escritos por homens e, portanto, nos digam muito do universo masculino, as mulheres que tiveram suas histórias vividas em Macau continuam sendo as protagonistas daquelas narrativas. Aliás, essa preocupação com as fontes e o recurso a um sólido trabalho documental é um dos pontos fortes da obra. Elsa Penalva pesquisou uma vasta documentação para compor seu trabalho, como os legados da Santa Casa da Misericórdia de Macau, documentos relativos a Câmara Municipal, processos inquisitoriais e registros de contendas relativos a Macau. Saliente-se, a propósito, a cuidadosa transcrição e referenciação dos documentos e da bibliografia consultada. Por fim, os capítulos apresentados no livro têm como base os estudos empreendidos pela autora em sua tese de doutorado (defendida em 2005) e comunicações apresentadas em congressos, porém ampliados à luz de novas indagações. Enfim, o que se tem em mãos é uma investigação de grande fôlego que requer e merece uma leitura atenta.
Ana Paula Wagner – Pesquisadora do Centro de Documentação e Pesquisa em História dos Domínios Portugueses (CEDOPE)/DEHIS-UFPR. Rua Senador Xavier da Silva, n. 272, ap. 41. Curitiba/Paraná. Cep: 80.530-060 anapwagner@gmail.com.
Jerusalém colonial – VAINFAS (VH)
VAINFAS, Ronaldo. Jerusalém colonial. Judeus portugueses no Brasil holandês. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, 376 p. Resenha de: FEITLER, Bruno. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 47, Jan./Jun. 2012.
Nesse livro, que é dos últimos resultados da sua importante produção historiográfica, Ronaldo Vainfas se mantém dentro da temática dos estudos sociorreligiosos, seguindo um veio que iniciou com seu Trópico dos pecados (1989). Vainfas estuda desde então fenômenos vários de desvios religiosos no mundo católico português. Esse prisma na verdade diz muitas vezes mais sobre as instituições e as culturas dominantes do que os estudos a elas diretamente dedicados. Essa história sociológica, voltada para as rupturas e as descontinuidades à la Foucault, e que Vainfas domina com uma extrema sensibilidade e familiaridade, é uma importante contribuição para a compreensão do Brasil colônia e também um estímulo metodológico para os historiadores brasileiros.
Em seu livro, Jerusalém colonial. Judeus portugueses no Brasil holandês, mais do que apenas estudar a estrutura e o funcionamento da comunidade sefaradita local (o que não deixa de fazer), Vainfas continua a tratar daqueles comportamentos e personagens heterodoxos. Contudo, não lhe interessa estudar ritos e cerimônias religiosas, mas sim o comportamento social e os dilemas identitários dos seus personagens, tratando assim de uma questão que não deixa de ser de uma extrema atualidade. Com todos os cuidados necessários, ele abre uma janela para as ligações existentes entre religião, cultura, origem geográfica e identidade no mundo português, no qual esses judeus estavam inseridos muitas vezes com extremo gosto, e a despeito da rejeição que sofriam de parte dos “bons” católicos.
Essa leitura sociológica da (curta) história da comunidade judaico-nordestina (1636-1654) tem assim origem no próprio percurso de Vainfas. Mas ela também deve muito à mais recente produção historiográfica sobre a diáspora sefaradita, como ele claramente frisa desde a sua introdução, sobretudo nos trabalhos de Yosef Kaplan e com seu conceito de “judeu-novo”.
Esses judeus, descendentes daqueles convertidos à força no Portugal de 1497, em seguida estigmatizados pelo epíteto de “cristãos-novos”, sofreriam, por sua origem judaica e por uma vivência católica por vezes secular, “dramas de consciência” (p. 15). Assim, Vainfas faz uma história geral da comunidade judaica do Recife de Israel (Kahal Kadosh Tsur Israel), cuidadosamente reconstituindo o percurso da comunidade mãe de Amsterdã, e retomando de José Antônio Gonsalves de Mello, sua principal inspiração, temas como a importância dos sefaraditas para a economia da empresa comercial da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil, concentrando-se na questão identitária. Vainfas intencionalmente quis se manter livre de adotar qualquer conceituação mais ampla de um “espírito judaico” ou sefaradita, como fizeram muitos dos seus predecessores no estudo da diáspora judaico-portuguesa. Ele quer assim evitar reduzir a análise da religiosidade dessas pessoas a algo de unívoco, desviando-se do caminho seguido pelos inquisidores (“Melhor não imitá-los”, p.278), e pondo em causa autores mais recentes como Nathan Wachtel, que defendem a ideia de uma “essência judaica” generalizada dos cristãos-novos ibéricos (p.41). Nosso autor contudo sucumbe, ao meu ver, a uma certa generalização, ao afirmar que “a ambivalência dos judeus novos era, portanto, inerente à identidade cultural – e individual – da maioria deles” (p.75). Mas essa pequena nota não diminui em nada a importância do seu livro. Vainfas aplica ao caso brasileiro, no seu estilo instigante e inconfundível, as mais recentes interpretações historiográficas sobre o judaísmo sefaradita, que até agora permaneceram restritas a limitadas publicações acadêmicas.
Jerusalém colonial também traz novidades. Vainfas revê de modo surpreendente, entre outras questões (a origem recifense do judaísmo de Nova York, a figura do jesuíta Antônio Vieira, as divisões no seio da comunidade judaica, etc.), a personagem de Isaac de Castro Tartas. Preso na Bahia em nome da Inquisição em 1644, e queimado vivo em seguimento ao auto-da-fé lisboeta de 1647, ele foi transformado num verdadeiro mártir do judaísmo pela comunidade de Amsterdã. Vainfas desfaz o mito do erudito e corajoso rapazola que de Recife teria passado a Salvador para proselitizar cristãos-novos, mostrando a trágica indefinição identitária de Isaac.
O autor também consegue, retomando uma documentação de certo modo já surrada, encontrar novas e interessantes leituras da estrutura social da comunidade judaica do Pernambuco holandês. Vainfas mostra que Tsur Israel foi monopolizada por homens vindos da Europa. Ele fala primeiramente de “Uma nova diáspora. Diáspora colonial” para se referir à comunidade pernambucana, tendo em vista a sua intrínseca ligação com a empresa da Companhia das Índias Ocidentais (p.160-161). Mas em seguida mostra que essa colonialidade também pode ser flagrada na preponderância numérica que os “retornados” na Europa tinham sobre os que se tornaram judeus professos no Brasil. Para crescer, a comunidade dependeu sobretudo da imigração. Finalmente, essa preponderância europeia também era social. “Os judeus convertidos no Recife acabaram relegados à condição de judeus de segunda categoria. Judeus incertos. Judeus coloniais” (p.188). É sem dúvida isso que explica que alguns desses judeus-novos tenham escolhido ir para Amsterdã para se fazer circuncidar, em vez de utilizar os serviços dos mohelim locais.1
Já a escolha de uma estrela de seis pontas para ilustrar a capa do livro parece ser um anacronismo editorial, já que a chamada estrela de Davi só se tornou um símbolo especificamente judaico durante o século XVIII, a partir do mundo askenazi.2
Em todo caso, é o trabalho uma grande contribuição aos estudos dos judeus no Brasil, sobretudo em tempos de redefinições identitário-religiosas.
1 Lisboa. Arquivos Nacionais da Torre do Tombo (ANTT). Inquisição de Lisboa (IL). Processo 11562. Processo contra Pedro de Almeida.
2 Ver SCHOLEM, Gershom. L’étoile de David: histoire d’un symbole. In: Le messianisme juif… Paris, 1992, p.367-395. [ Links ]
Bruno Feitler – Departamento de História – Unifesp. Estrada do Caminho Velho, 333. 07252-312. Guarulhos, S.P. feitler@unifesp.br.
Inventar a heresia? ZERNER (VH)
ZERNER, Monique (org.). Inventar a heresia? Discursos polêmicos e poderes antes da Inquisição. Campinas: Editora da Unicamp, 2009, 304 p. Resenha de: SILVA, Carolina Gual da. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 47, Jan./ Jun. 2012.
A Editora da Unicamp, em parceria com o LEME (Laboratório de Estudos Medievais USP/Unicamp), inaugura com essa obra uma série de traduções de importantes textos dedicados à História Medieval com o intuito de tornar acessíveis obras que discutem de forma original e atualizada temas da historiografia medieval. Este livro, organizado por Monique Zerner, discute a construção do discurso anti-herético na Europa pré-Inquisitorial.
Monique Zerner, professora emérita da Universidade de Nice, pesquisadora vinculada ao CNRS e experiente em estudos sobre as heresias, 1 coordenou os trabalhos de outros nove pesquisadores da Antiguidade Tardia e Idade Média, reunidos no seminário “Heresia, estratégias de escrita e instituição eclesial” acontecido em Nice entre 1993 e 1995. O livro publicado na França em 1998 agora chega para os leitores brasileiros em versão traduzida.
A obra é composta por uma introdução, feita pela organizadora, oito capítulos, dois excursos e um posfácio. Os dois primeiros capítulos se referem a textos da Antiguidade Tardia com Jean-Pierre Weiss escrevendo o primeiro capítulo, “O Método Polêmico de Santo Agostinho no Contra Faustum” e Jean-Daniel Dubois com “Polêmicas, Poder e Exegese: o exemplo dos gnósticos antigos no mundo grego”. A esses capítulos se segue o primeiro excurso que inaugura a discussão em torno do século XI, “Saint-Victor de Marselha no Final do Século XI: um eco de polêmicas antigas?”, escrito por Michel Lauwers. A partir do excurso temos os capítulos referentes aos séculos XI e XII, o principal foco do livro: capítulo 3, de Guy Lobrichon, Arras, 1025, ou o “Processo Verdadeiro de uma Falsa Acusação”; capítulo 4, “A Argumentação Defensiva: da polêmica gregoriana ao Contra Petrobrusianos de Pedro, o Venerável”, de Dominique Iogna-Prat; capítulo 5, de Monique Zerner, “No Tempo do Apelo às Armas Contra os Hereges: do Contra Henricum do monge Guilherme aos Contra Hereticos“; capítulo 6, novamente de Michel Lauwers, “Os Sufrágios dos Vivos Beneficiam os Mortos? História de um tema polêmico (séculos XI-XII)”; capítulo 7, “Na Época em que Valdo não era Herege: hipóteses sobre o papel de Valdo em Lyon (1170-1183)”, de Michel Rubellin; capítulo 8, escrito por Jean-Louis Biget, “Albigenses: observações sobre uma denominação”; o segundo excurso, “Um Caso de não Heresia na Gasconha no ano de 1208”, por Benoît Cursente; e finalmente o posfácio escrito por Robert Ian Moore.
É interessante notar que, embora seja uma coletânea de diferentes autores, os textos aparecem como capítulos de uma mesma obra e não como artigos independentes reunidos. Isso se deve, em parte, ao contexto de produção do livro, resultante de pesquisa conjunta dos autores ao longo de cerca de cinco anos. Os textos de Inventar a Heresia? possuem uma coerência e coesão muito grande não apenas na temática, mas também no tipo de documentação utilizada e principalmente na linha teórico-metodológica que seguem. Eles podem, sim, ser lidos separadamente, mas é em seu conjunto que eles ganham uma força argumentativa e explicativa que tornam essa uma obra tão rica.
Zerner nos apresenta, na introdução, todas as motivações teóricas e metodológicas que guiaram os textos apresentados no livro. O impulso inicial veio das pesquisas dos anos 1980 da própria autora e da inquietação dela e de vários outros pesquisadores, principalmente a partir dos anos 1990, em relação ao tratamento dado pelos historiadores ao catarismo, nas palavras da autora, “tomado como um fato indiscutível na historiografia francesa”.2 Com os seminários de Nice colocou-se a necessidade de pensar as relações entre heresia e estratégias eclesiásticas que tiveram um papel fundamental em sua construção doutrinal e historiográfica.
Surge, assim, a necessidade de considerar as fontes de uma maneira mais crítica, pensando-as dentro da lógica de sua produção, questão ressaltada por Moore no posfácio como sendo “a regra mais elementar porém facilmente negligenciada por nosso métier“.3 Assim, a preocupação com as fontes pode ser vista claramente no tratamento dado, em todos os capítulos do livro, aos seus respectivos documentos. Todos os autores baseiam suas pesquisas fortemente sobre a análise crítica das fontes primárias em relação aos seus contextos de produção (presente em todos os textos, mas com maior ênfase no capítulo de Monique Zerner no tratamento da autoria e composição dos manuscritos), aos mecanismos retóricos e discursivos (particularmente o texto de Jean-Pierre Weiss a propósito da obra de Santo Agostinho e de Dominique Iogna-Prat a respeito do discurso de Pedro, o Venerável), aos termos utilizados (especialmente na discussão sobre o termo “albigense” feita por Jean-Louis Biget) e às relações do texto escrito com as práticas sociais (Michel Lauwers no capítulo sobre os sufrágios dos vivos). Essa orientação dialoga com a historiografia anglo-americana sobre as práticas da escrita com o tema da literacy.4
Outro elemento de coerência da obra está na escolha das fontes utilizadas pelos pesquisadores. Os estudos trabalham com os textos polêmicos dos séculos XI e XII, à exceção dos dois capítulos iniciais dedicados aos textos polêmicos da Antiguidade Tardia. As fontes desses capítulos iniciais, especificamente o Contra Faustum de Agostinho e o texto de Irineu de Lyon contra os gnósticos, têm como função explicar o método polêmico e lançar luz sobre as técnicas retóricas utilizadas. Eles servem como uma ferramenta para que se possa entender, mais à frente, o tipo de texto que se desenvolveu nos séculos XI e XII e cujas formas de argumentação são bastante semelhantes.
Por fim, os textos são guiados pelo título provocador da obra em forma de pergunta: Inventar a heresia? O capítulo que se atém de forma mais direta a essa pergunta é o de Jean-Daniel Dubois, mas a resposta – ou a pergunta – é o fio condutor de todos os autores. Numa organização que vai progressiva e quase que cronologicamente montando o quadro das heresias nos séculos que antecedem a Inquisição, cada autor procura demonstrar que o discurso sobre a heresia se constitui muito mais como uma construção discursiva – daí a ideia de invenção – do que uma realidade vivida.
Guy Lobrichon, por exemplo, demonstra a autenticidade do sínodo de Arras de 1025. Entretanto, ele comprova que a maneira como o manuscrito foi registrado e organizado em um dossiê, mais de um século depois, junto com outros documentos anti-heréticos, deturparam seu sentido original em nome de interesses e realidades da época da compilação. Zerner faz o mesmo com a edição de um tratado contra o herege Henrique, feita por Raoul Manselli nos anos 1950. A autora mostra que a edição, na verdade, une três documentos diferentes de épocas também diferentes e cria a falsa impressão de um dossiê anti-herético que jamais existiu para o caso de Henrique.
De forma mais direta, Michel Lauwers inicia seu texto já com a afirmação “A heresia é certamente o produto de um discurso forjado pela instituição eclesial”. 5 Além da ênfase na construção do discurso, Lauwers coloca outro tema que é uma constante do livro: a relação entre a institucionalização da Igreja e o combate à heresia. Lobrichon associa esse movimento anti-herético ao crescimento e fortalecimento dos cistercienses, hipótese também fortemente sustentada por Michel Rubellin e Jean-Louis Biget. Iogna-Prat, Zerner, Rubellin e Cursente enfatizam o processo da reforma gregoriana, particularmente o fortalecimento do poder papal, como um importante fator na “invenção” da heresia.
O elemento político também aparece de forma bastante clara, culminando com o caso relatado no último excurso, de Benoît Cursente, em que aquilo que seria possivelmente considerado como heresia em outras regiões da França ou mesmo da Itália na Gasconha foi dispensado como um incidente sujeito apenas a leves penas e multas e facilmente resolvido. Não interessava ao contexto político envolvendo o papa Inocêncio III e o rei João da Inglaterra que aquilo tomasse as proporções de uma heresia. O caso deveria “ser tratado com cuidado, como um abscesso local a cortar e não como uma metástase da peste herética a erradicar”. 6
Outro exemplo da interferência do fator político é o caso de Valdo, como discute Rubellin. Até o ano de 1183, Valdo teria sido um aliado do arcebispo de Lyon, inclusive com a simpatia do papa Alexandre III, o que permitiu que ele seguisse seus ideias religiosos livremente. Com a morte desses dois aliados, a eleição de um novo arcebispo cisterciense e o contexto senhorial da região, Valdo e seus seguidores foram expulsos de Lyon. No momento em que os interesses locais se transformaram, Valdo tornou-se uma ameaça em potencial e foi, então, tachado de herege.
Jean-Louis Biget também demonstra o quanto a “fraqueza relativa” do condado de Toulouse, envolvido em inúmeras guerras e disputas internas, favoreceu o desencadeamento da cruzada albigense de 1209. A existência e quantidade de hereges na região de Albi foram amplamente exageradas com o intuito de desviar as forças que ameaçavam a região. Além do contexto político, Biget destaca, novamente, que o espírito cisterciense teve papel fundamental na elaboração da noção dos albigenses como hereges.
Essa referência repetida ao papel de Cister na criação do discurso anti-herético nos séculos XI e XII também aponta para o elemento religioso e espiritual presente nesse movimento. Embora enfatizem o elemento político, os autores em nenhum momento eliminam o componente religioso da equação. Há questões de doutrina e crença envolvidas, mas elas são colocadas, na maioria das vezes, a serviço dos interesses de unificação e institucionalização da Igreja.
Os autores tampouco negam a existência de heresias. A afirmação da “invenção” da heresia se refere especificamente à maneira como a Igreja construiu a imagem delas, transformando-as em uma heresia, exagerando seu alcance e seu perigo, definindo o que era um comportamento herege, por fim criando uma imagem tão bem elaborada que orientou boa parte das pesquisas sobre heresias até os dias atuais. Essa postura dos autores também revela uma crítica à leitura literal, quase ingênua, da documentação por boa parte dos estudiosos.
Ela também tem o intuito de deixar claro que o contexto dos séculos XI e XII é bastante diferente daquele do século seguinte, com a instituição dos tribunais inquisitoriais. Iogna-Prat, em seu capítulo sobre o Contra Petrobrusianos, lembra que, a partir do século XIII, a heresia se torna algo impronunciável. Não é mais o momento de polemizar, argumentar. O tom dos textos muda radicalmente. Com a Inquisição e o estabelecimento da heresia como crime de lesa-majestade passa-se do plano judiciário ao mais discursivo.
E foi nesse contexto da Inquisição que a maioria dos dossiês e tratados anti-heréticos foi compilado. Com isso, criou-se a falsa impressão de que as heresias, particularmente aquela denominada genericamente de “cátara”, explodiam já nos séculos XI e XII e exigiam empreitadas maciças para combatê-las. Sem uma análise criteriosa da documentação através dos elementos da crítica documental, corre-se o risco de ver nesses documentos uma expressão da realidade e não uma construção discursiva que cria uma realidade.
É ao trazer essa abordagem crítica e nova de fontes já conhecidas (é importante ressaltar que as fontes utilizadas são já estudadas, muitas delas editadas) que a obra organizada por Monique Zerner se mostra um elemento fundamental para o avanço dos estudos sobre as heresias na Idade Média. Além disso, os textos mesclam um caráter bastante didático – explicando os contextos e fornecendo dados biográficos e históricos para o leitor não tão familiarizado – com um tom altamente erudito – apresentando citações originais em latim, trazendo em anexos trechos dos documentos trabalhados e fazendo uma discussão teórica e metodológica muito aprofundada.
O Posfácio não é tanto uma conclusão quanto um apanhado geral da obra, ressaltando e resumindo alguns dos pontos mais importantes discutidos. Robert Ian Moore, ele próprio um grande contribuinte para o estudo das heresias,7 destaca que esse livro é apenas o começo, mas um começo de extrema importância para que se escreva de novo a história das heresias nos dois séculos que antecedem a cruzada albigense. Monique Zerner aponta para estudos e edições em andamento que poderão trazer novas interpretações. Espera-se que a tradução dessa obra para o português ajude os estudantes medievalistas brasileiros a se inserirem nesse debate historiográfico tão atual e significativo e quem sabe trazer, eles também, contribuições futuras. Reutilizando Duby a partir de Monique Zerner – que foi sua aluna – “A história continua”.8
1 Entre seus trabalhos estão: La croisade albigeoise. Paris: Gallimard, 1979; Le cadastre, le pouvoir et la terre:le comtat venaissin pontifical au début du XVe siècle. Rome: Ecole française de Rome, 1993; (org.). L’histoire du catharisme en discussion:le concile de Saint-Félix, 1167. Nice: Centre d’études médiévales, 2001.
2 ZERNER, Monique. Introdução. In: Inventar a heresia? Discursos polêmicos e poderes antes da Inquisição. Campinas/São Paulo: Unicamp, 2009, p.7. [ Links ]
3 MOORE, Robert Ian. Posfácio. In: Inventar a heresia?, p.279.
4 Zerner aponta, particularmente, para os estudos de Brian Stock.
5 LAUWERS, Michel. Os Sufrágios dos vivos beneficiam os mortos? História de um tema polêmico (séculos XI-XII). In: Inventar a heresia?, p.163. [ Links ]
6 CURSENTE, Benoît. Um Caso de não Heresia na Gasconha no ano 1208. In: Inventar a Heresia?, p.273.
7 Sua mais importante obra é MOORE, Robert Ian. The formation of a persecuting society: power and deviance in western Europe, 950-1250. Oxford: Blackwell Publishers, 1987, [ Links ] na qual já apresentava a ideia da heresia como uma “criação” vinculada ao desenvolvimento e fortalecimento das autoridades eclesiásticas.
8 Citado por ZERNER, Monique. Introdução. In. DUBY, Georges. L’histoire continue. Paris: Poches Odile Jacob/Points/Seuil, 1991, p.13. [ Links ]
Carolina Gual da Silva – Mestre em História Social pela USP. Doutoranda em História – Unicamp/Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris – Bolsista CNPq/CAPES Departamento de História/IFCH Cidade Universitária Zeferino Vaz Distrito de Barão Geraldo -13083-896 – Campinas – SP carolgual@hotmail.com/gual.carolina@ehess.fr.
La humanitas hispana – GIBERT (VH)
GIBERT, Javier García. La humanitas hispana. Sobre o humanismo literário em Siglos de Oro. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010, 239 p. Resenha de: GILES, Ana Inés Rodríguez. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 47, Jan./ Jun. 2012.
La humanitas hispana visa completar a pesquisa sobre o humanismo espanhol, deficiente entre os interesses dos estudiosos. Neste livro, J. García Gibert expõe uma defesa meticulosamente justificada do humanismo espanhol, no contexto da corrente européia. Como o autor distingue o movimento ibérico do movimento continental, por argumentar que o primeiro não rompeu com o passado como os movimentos franceses ou italianos, ele analisa o debate historiográfico sobre esse assunto. Ele também distingue o humanismo espanhol do europeu, porque o primeiro buscou popularizar o conhecimento, enquanto os humanistas de outras regiões não o fizeram, como enfatiza ao longo do livro. O autor também analisa outras diferenças, como as influências mútuas entre o movimento nacional e o continental,
García Gibert encontra duas dificuldades que tentam resolver ao longo do livro, que dizem respeito à possibilidade, em termos ideológicos, de a cultura espanhola ter um humanismo renascentista e se foi preparado o aspecto linguístico. A primeira parte é resolvida pelo autor, afirmando que havia uma lenda negra sobre a Espanha, que ele não aceita, enquanto analisa esse debate histórico. Ele afirma que o humanismo espanhol era diferente porque não destruía os aspectos que faziam parte de uma herança, mas poderia ser construído a partir deles, tendo métodos e procedimentos errados, mas as intenções humanísticas e seguindo os aspectos formais, que estão relacionados com o segundo problema e resolve dessa maneira.
García Gibert analisa diferentes livros e corpus, movimentos ou escritores particulares, separando forma e função do discurso. Ele compara os autores espanhóis, mas também inclui escritores de outros países europeus. Ao longo deste livro, podemos encontrar muitas análises sobre literatura espanhola e algumas biografias intelectuais também. Também podemos encontrar um estudo iconográfico extremamente interessante, no qual ele examina a função dos livros nas esculturas funerárias espanholas, através das variações das posições dos corpos mentirosos, prestando atenção ao volume que estão carregando. Este estudo é útil para analisar a mudança na importância da literatura para nobres e clérigos, e é muito interessante do ponto de vista metodológico.
O autor chama especialmente sua atenção para a questão da Reforma Católica e defende as possibilidades de um desenvolvimento do humanismo consagrado nesse movimento, contra a possibilidade de um protestante. Ele conclui que não podemos distinguir entre o humanismo renascentista e a mente pós -identista, que o influenciou e incentivou na Espanha.
Sobre esse problema, García Gibert revisa a discussão sobre a influência da Inquisição no movimento humanista. O autor afirma que, apesar de a Inquisição expurgar livros e incomodar numerosos intelectuais, despertou o espírito dos escritores, que conscientizaram a importância de suas mensagens. O autor se refere à clareza das regras e proibições nessa redução da intervenção da Inquisição no movimento intelectual espanhol. Essa defesa significa que os acusadores foram responsabilizados pelas dificuldades que os intelectuais experimentaram. O autor conclui que o pensamento contra-reformista espanhol não foi restringido por agentes repressivos externos, além disso, o renascimento espanhol se espalhou pela península e influenciou a contra-reforma,
Duas idéias prevalecem ao longo do livro: livre arbítrio e decepção. Quanto ao primeiro, podemos encontrar muitas referências ao longo deste estudo, relacionando o trabalho de muitos autores – como ele faz na interessante comparação entre Alonso de Cartagena, Marqués de Santillana e Juan de Mena – a esse conceito. As referências à decepção são ainda mais interessantes e são colocadas no século XVII do humanismo espanhol, desde que entendidas como uma reação psicológica a uma situação histórica específica. Ele encontra aqui a forma do ceticismo na Espanha durante esse período, enquanto em outros lugares lançou as bases para a revolução científica e filosófica. O pensamento espanhol não teria se interessado particularmente nessas áreas de conhecimento, como em assuntos místicos.
O aspecto mais fraco deste livro é a idéia que se refere à “alma nacional” espanhola, onde o autor encontra uma justificativa romântica para esse fenômeno: a falta de interesse do pensamento espanhol na pesquisa científica expressaria sua lealdade a uma longa tradição filosófica focado em assuntos espirituais. A idéia da alma espanhola foi proposta em seu tempo, mas finalmente discutida e abandonada pelos historiadores.
No entanto, o livro tem outras idéias originais. É o caso do estudo mais destacado deste livro, que diz respeito ao conceito de analogia. O autor analisa como o ser humano tem sido considerado um centro analógico por meio de um mecanismo que possibilitou superar a distância entre o finito e o infinito de tal maneira que essa ideia incorporou a noção de transcendência.
O autor também encontra algumas particularidades nesse humanismo relacionadas ao desenvolvimento do erasmismo na Espanha e à ausência de discussão entre propostas clássicas e modernas. Dessa forma, ele introduz a importância do idealismo e do realismo na literatura renascentista espanhola, mas também a importância do pensamento escolástico como uma particularidade do movimento.
Por fim, García Gibert analisa o trabalho dos principais escritores do período barroco, atendendo aos diferentes paradigmas que eles levantaram: Cervantes e liberdade; Quevedo e o potencial aprimoramento moral do ser humano – levando em conta seu livre arbítrio e a importância da cultura escrita para atingir esse objetivo -; Baltasar Gracián, cujo projeto humanista é considerado pelo autor como o mais representativo do movimento barroco espanhol, enquanto o mais característico da mente contra-reformista. A partir da análise da obra deste escritor, o autor traz à discussão a questão da “discrição” e o conceito de “pessoa”, considerando a humanidade como um conceito cultural: se o artifício é o estigma da imperfeição humana, então,
As idéias colocadas por García Gibert tornam este livro uma leitura particular que pode surpreender os estudiosos por causa de sua transgressão, mas também as novas maneiras de ler a literatura clássica, considerando-a formar conceitos que não eram usuais não apenas neste período, mas também para historiadores, misturando eles com alguns outros conceitos que já foram abandonados pela historiografia.
Ana Inés Rodríguez Giles – Centro de Estudos de História Social Européia / Instituto de Pesquisas em Humanidades e Ciências Sociais (UNLP – CONICET). Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação (FaHCE). Universidade Nacional da Prata (UNLP). anarodriguezgiles@hotmail.com.
Por uma história do político – ROSANVALLON (VH)
ROSANVALLON. Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2010, 101 p. Resenha de: SANTOS, João Batista Ribeiro. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 47, Jan./ Jun. 2012.
A história filosófica e a história conceitual são âmbitos das proposições enunciadas sobre o político e sobre a política. O autor, Pierre Rosanvallon, tem por objetivo historicizar os últimos decênios de estudo do político.
O livro começa com o artigo que apresenta Pierre Rosanvallon, “A democracia como problema: Pierre Rosanvallon e a Escola Francesa do Político”, escrito por Christian Edward Cyril Lynch. Nesse artigo a obra teórica e a vida acadêmica de Rosanvallon, suas influências, importância e, sobretudo, seu debate nos domínios do político são apresentados tendo por intuito facilitar ao leitor o acesso à história do político.
Christian Edward afirma que o estudo da teoria política foi colocado à margem, como “idealista e elitista” pela humanitas, representada pelas histórias social e das mentalidades, mas também pelo marxismo; mesmo no século XX, após a Primeira Guerra Mundial, a história do político, como estudo acadêmico, foi tida como “anedótica e individualista”. Poderia mencionar que o resgate da história política só acontece destacadamente com Reinhart Koselleck e John A. Pocock.
É nessa época que os teóricos da história do político reagem aos seus adversários, mormente com René Rémond1 e seu livro, Por uma história política. Rémond postula “a renovação da história política a partir da multidisciplinaridade”; nesse sentido, alarga os domínios do político e busca dialogar com as várias disciplinas das ciências humanas e sociais, sem negar ao político a sua capacidade de arbitrar os conflitos. Entretanto, quem define o conceito de político são os pesquisadores do Centro de Pesquisas Políticas Raymond Aron, do qual Rosanvallon participou desde o início.
O artigo procura demonstrar a importância de Alexis de Tocqueville (1805-1859) para a teoria política e para as pesquisas coetâneas realizadas na França, destacando a sua compreensão da democracia como regime político moderno capaz de fornecer ferramentas adequadas para a igualdade de condições entre os cidadãos, a democracia como opção frente ao desaparecimento da ordem aristocrática e o retorno ao liberalismo através da democracia. Estes três eixos de Alexis de Tocqueville fizeram parte da historiografia dos pesquisadores do Centro Aron. Christian Edward procura ainda delimitar as ações e influências de François Furet e Claude Lefort sobre a obra de Rosanvallon. Esclarecedor do pensamento daqueles dois mestres é a trajetória de Furet e Lefort, da esquerda marxista ao liberalismo conservador pensado por Raymond Aron, seja por decepção política, seja por virada ideológica da maturidade científica – sendo ambos críticos da “experiência soviética”. É importante salientar que Claude Lefort entendia que o político é anterior ao social; seguindo esse raciocínio, eu diria que o político arquiteta o âmbito social.
O artigo de Christian Edward demonstra que Rosanvallon sente-se seguro para retomar seu objetivo inicial, ou seja, reconstruir a teoria geral da democracia; é nesse contexto que o autor do artigo o situa como historiador do político. Demonstra mais espanto por não compreender o motivo que levou Rosanvallon a trocar, na aula inaugural no Colégio de França em 2002, em sua abordagem historiográfica, a qualificação “filosófica” por “conceitual”. Também o autor do artigo não se dá conta que quando Rosanvallon afirma que “a tarefa do historiador é a de tentar restituir ao passado sua dimensão de presente”2 está, possivelmente, dialogando com Reinhart Koselleck,3 o Koselleck de Futuro passado.
Politicamente discordo dos postulados liberais, mas leio com agrado a exposição concisa da trajetória do pensador do político Pierre Rosanvallon, que “define o mundo da política como segmento do mundo do político, operado pela mobilização dos mecanismos simbólicos de representação”.4
No ensaio “Por uma história filosófica do político”, Pierre Rosanvallon faz um balanço, como acadêmico engajado, pelo “retorno do político”. Analisa a história filosófica do político, trazendo ao centro do debate a questão da democracia, mormente o sufrágio universal. Considera que até a década de 1960 a divisão ideológica serviu para preparar a qualificação intelectual para o debate entre marxistas e liberais. A qualificação se deu também em relação à metodologia da filosofia do político quanto ao entendimento dos problemas das sociedades contemporâneas. Na definição dessa história, Rosanvallon recorre mais uma vez a Claude Lefort: o político é “o conjunto de procedimentos a partir dos quais desabrocha a ordem social”,5 unindo assim o político e o social. E para tanto, para pensar a sociedade, Rosanvallon declara juntar textos clássicos a obras menos nobres, cujo objetivo precípuo é fundamentar uma abordagem e um conteúdo originais no campo da história filosófica do político – consciente das objeções suscitadas, cuja voz mais potente é a de Roger Chartier.
Na aula inaugural proferida no Colégio de França, cujo título é “Por uma história conceitual do político”, era de se esperar que Rosanvallon justificasse a mudança de abordagem do político entre história filosófica e história conceitual. Eis aqui algo que merece crítica. Por essa razão, justifico a menção a um possível diálogo entre Pierre Rosanvallon e Reinhart Koselleck. Para o pesquisador alemão, conceito é ferramenta para realizar uma história dos conceitos, mas que também se preocupa com a modernidade, tendo esta como fundamento da democracia. Por outro lado, em síntese, Rosanvallon faz história conceitual do político, e logo define o seu conceito de político: “compreendo o político ao mesmo tempo a um campo e a um trabalho“.6 Como campo o político abarca os âmbitos sociais dos seres humanos; como trabalho, movimenta-se nos contextos vitais, nas atividades que tornam a polis uma comunidade viva. Notem que o conceito quase se assemelha à filosofia do político.7 Talvez isso o possibilite a permanecer no campo do político. Assim, Rosanvallon pôde teorizar sobre a democracia como fundamento da modernidade, ainda que a considere “uma solução problemática” na constituição de uma polis de cidadãos. Ao que parece, não é apenas a democracia que é considerada problemática, mas também o povo; como o sufrágio universal institui a igualdade política, o povo é considerado conflituoso. Deter-me-ei agora em duas questões historiográficas.
A história do político distingue-se então, pelo próprio objeto, da história da política propriamente dita. Além da reconstrução da sucessão cronológica e dos acontecimentos, esta última analisa o funcionamento das instituições, disseca os mecanismos de tomada de decisões públicas, interpreta os resultados das eleições, lança luz sobre a razão dos atores e o sistema de suas interações, descreve os ritos e símbolos que organizam a vida. A história do político incorpora evidentemente essas diferentes contribuições. Com tudo o que ela acarreta de batalhas subalternas, de rivalidades de pessoas, de confusões intelectuais, de cálculos de curto prazo, a atividade política stricto sensu é, de fato, o que ao mesmo tempo limita e permite, na prática, a realização do político. Ela é ao mesmo tempo uma tela e um meio.8
Muito esclarecedora a definição acima, a menos que se confronte a consideração acerca do povo, conflituoso, por um lado, quando considerado “nós”; mas quando visto inserido na democracia, legitimado pelo sufrágio universal, torna-se detentor do poder. Concomitantemente, o autor alude a “ficções jurídicas” arroladas ao desenvolvimento das convenções para “assegurar uma igualdade de tratamento e de instituir um espaço comum para homens e mulheres que são, contudo, bastante diferentes entre si”9. E esta é a segunda questão. Pierre Bourdieu destacou que o campo político é um campo de força e que a tarefa dos líderes, nesse caso, seria obter a adesão dos cidadãos. Como o fictício não é nem verdadeiro nem falso (Carlo Ginzburg), quais as mudanças que podem ocorrer na “comunidade” e em que medida? Rosanvallon poderia se considerar com mais um problema de conceito para resolver. Quanto ao pessimismo com relação à democracia, Rosanvallon traz consigo, como apoio argumentativo, Aleksandr Issaievitch Soljenitsyn e, mais uma vez, a crítica ao bolchevismo. No entanto, mesmo para quem prefere endurecer mais contra o que se seguiu a Vladimir Illitch Ulianov Lenin ao nazismo, a democracia não deveria ser tão ruim. Não obstante, por fim chega Marcel Mauss, “nenhuma lentidão é suficiente; em matéria de prática, não se pode esperar”.10 A prática é um risco, sem falácia.
Enfim, Pierre Rosanvallon atinge tanto o objetivo historiográfico quanto, especificamente, conceitual, e insere as suas pesquisas nos debates contemporâneos sobre a história do político, mormente quando analisa a prática política no âmbito do político.
1 RÉMOND, René. Por uma historia política. Rio de Janeiro: FGV, 2003. [ Links ]
2 ROSANVALLON. Pierre. Por uma história do político, p.34.
3 KOSELLECK, Reinhardt. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto/ Editora PUC Rio, 2006 [ Links ]
4 ROSANVALLON. Pierre. Por uma história do político, p.30.
5 ROSANVALLON. Pierre. Por uma história do político, p.41.
6 ROSANVALLON. Pierre. Por uma história do político, p.71.
7 ROSANVALLON. Pierre. Por uma história do político, p.78.
8 ROSANVALLON. Pierre. Por uma história do político, p.78.
9 ROSANVALLON. Pierre. Por uma história do político, p.82.
10 ROSANVALLON. Pierre. Por uma história do político, p.100.
João Batista Ribeiro Santos – Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), mestrando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), pesquisador-bolsista da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). jj.batist@gmail.com.
Measuring the New World – SAAFIER (VH)
SAFIER, Neil. Medindo o Novo Mundo: Ciência do Iluminismo e América do Sul. Chicago: University of Chicago Press, 2008, 387p. Resenha de: COLACIOS, Roger Domenech. Varia História . Belo Horizonte. v. 27, n. 46, jul / dez. 2011.
Qual o formato do mundo? Seria achatado ou inchado nos polos? Este questionamento provocou um debate científico entre inglês e francês no século XVIII, os primeiros a entender a posição de Isaac Newton de um planeta achatado em suas extremidades, os últimos favoráveis à argumentação de René Descartes dos polos inchados. Como resolver este problema? Um fim de realizar medições que comprovaram uma outra teoria, expedições científicas foram enviadas, em 1737, para duas partes do mundo: uma para Quito, na América Espanhola, com Louis Godin, Pierre Bouguer e Charles-Marie La Condamine, e outra para a Lapônia, liderada por Pierre-Louis Moreau de Maupertuits. Ao final, segundo os savants envolvidos na controvérsia, Isaac Newton estava correto.
Este é o pano de fundo do histórico Neil Safe em Medindo o Novo Mundo: Ciência do Iluminismo e América do Sul , publicado em 2008 e ainda sem edição no Brasil. Uma disputa entre academias que levou seus membros a partir de uma pesquisa de comprovação de teorias e hipóteses com respeito à circunferência do mundo. Mas este não é o foco principal da obra: sua análise está voltada para os resultados desta expedição científica para o Novo Mundo, com os desdobramentos do trabalho e a apropriação do conhecimento adquirido junto aos “nativos” (indígenas, mestiços e espanhóis), que, assimilados e transformado pelos europeus, ganhou novo sentido, perdendo a identificação de suas origens mistas.
A problemática de Safier está direcionada para duas questões: o que foi alterado na prática das ciências empíricas quando esta mudou de local de atuação – no caso da Europa para o Novo Mundo? E também o que foi alterado nos locais por onde estes cientistas passaram? Esses questionamentos são respondidos por Safier tendo como ferramenta de análise o que chamou de intercâmbios e plataformas transnacionais na construção do conhecimento científico a partir de dois vieses: 1) transformação do conhecimento obtido, adaptando-o aos padrões europeus em seu sentido estético, seja textualmente ou cartograficamente; 2) apropriação do conhecimento obtido e sua incorporação (devidamente transformado) no corpus científico europeu, pelo valor (commodities) na economia do saber, uma forma de apagar o que foi feito anteriormente e controlar desta forma os discursos acumulados.
O autor monta um palco onde diversos atores promovem a interação e o intercâmbio de conhecimentos científicos entre áreas transnacionais com a intenção de compreender a trajetória do conhecimento adquirido na viagem extraeuropeia de La Condamine. A estratégia narrativa segue a mesma lógica em todo o texto: inicia os capítulos e a introdução utilizando um recurso teatral, no qual monta um cenário onde insere os protagonistas que irá analisar na sequência. A partir da cena enquadrada, faz a contextualização dos fatos centrais ou das trajetórias dos objetos científicos gerados com as expedições (como mapas e livros), associando essa estratégia às negociações entre os atores principais; neste caso, trabalha com os elementos não-normativos, mais voltados para questões políticas e de interesses pessoais.
Essa estratégia faz o autor beirar a ficção literária em sua escrita, mas logo na continuação do texto aparece o problema que pretende responder e/ou a chave-interpretativa – o trabalho de transformação estética e textual, nas modificações e seus sentidos, e demais assuntos internos da apropriação de um saber ou de um objeto pelos cientistas europeus -colocando, assim, a análise histórica em primeiro plano. Um jogo de cena, onde os atores envolvidos, sejam eles cientistas ou não, desempenham papéis na trama que está sendo montada: a obtenção de conhecimento a partir de métodos científicos europeus e com a associação da experiência nativa. As práticas científicas são colocadas num espaço socialmente ocupado, embora com características diferentes das encontradas na Europa, mostrando as ciências como circunscritas pela sociedade e como uma encenação material.
As fontes do autor são variadas: livros, mapas e cartas. Não somente de La Condamine, mas de muitos outros atores que estiveram envolvidos na trama de Safier, ou participaram indiretamente, como Humboldt e suas impressões, mais de cinquenta anos depois, do local onde foram realizadas as medições da circunferência terrestre. Suas fontes são o material produzido por vários atores nativos ou europeus e suas consequentes modificações no terreno da Europa.
O recorte histórico de Safier não é preciso. Navegando por meados da metade do XVIII, apresenta apenas o momento inicial, especificamente a partir de 1739, quando uma peça teatral (que dá o mote ao trabalho de Neil Safier) foi encenada na Vila de Tarqui, local dos trabalhos dos cientistas europeus no Novo Mundo. Uma montagem na qual os nativos representam os cientistas, com seus instrumentos e toda a estrutura gestual particular do trabalho científico. Esta pantomima, como entende Safier, teria enchido os olhos de La Condamine, tanto por ter sido homenageado pelos nativos, quanto pela reprodução exata de suas atitudes e gestos. Mas a pergunta do autor que segue a esta descrição do teatro é o ponto principal para a compreensão de seus objetivos no livro: Qual o sentido desta representação, tanto para os europeus quanto para os nativos?
Para responder a esta questão, o movimento narrativo feito por Safier passa por três estágios de interação e apropriação do saber: material, visual e textual. Procurando descrever e analisar a transformação do conhecimento, o primeiro movimento parte da construção de um marco: as Pirâmides de Yaruqui, um monumento para a perpetuação do saber. Essas esculturas, erguidas pelos nativos a partir da ideia de La Condamine, representaram quando finalizadas apenas o papel dos europeus na empreitada. Quando os cientistas as descreveram na Europa foram apagados os laços com os seus construtores braçais, diluindo a interação no campo material entre dois espaços: as pedras e braços do Novo Mundo e a realização intelectual dos savants europeus. As pirâmides erguidas nos dois locais de medição da circunferência do mundo seriam, numa primeira análise e justificativa de La Condamine, a demarcação dos pontos utilizados como referências geodésicas para quando fosse necessária a verificação dos resultados ou a realização de novos trabalhos.
O segundo movimento vem da transformação visual desta interação entre dois espaços distintos, mediante a construção de mapas do Novo Mundo. O capítulo quatro, Correcting Quito, representa este movimento, trazendo a análise do processo de constituição de mapas (Carta de La Província de Quito – 1750) produzidos nos ateliers de artistas e gravadores na França, sob a tutela de D’Anville. Essas representações cartográficas foram baseadas nas anotações de Pedro Maldonado, que participou de expedições com La Condamine, com a consequente adaptação aos requisitos estéticos da Europa e a perda da identidade autoral, com a inclusão de vários autores, mas terminando com La Condamine como o principal.
O último movimento, a apropriação textual, tem como exemplo o capítulo seis, “Incas in the King’s Garden“, no qual Neil Safier trabalha com uma das diversas traduções da obra de Garcilaso de La Vega sobre a cultura e história Inca. A análise do autor utiliza a versão francesa, reorganizada como um livro de História Natural e, principalmente, apropriada pelo Jardin du Roi para promover a “instituição” e a sua importância na introdução de novas espécies alimentícias na França.
A obra de Neil Safier apresenta uma assimetria. Apesar de sua intenção, ele não promove plenamente a interação do conhecimento entre os espaços transnacionais, pois toda a análise é baseada em textos e representações gráficas europeias. É pela narração de La Condamine que o autor descreve a encenação indígena, pelas cartas trocadas entre D’Anville e La Condamine que irá compreender as manipulações cartográficas. A obra de Garcilaso é modificada apenas por europeus, por exemplo. O olhar do autor é assimétrico, tendo em vista que o filtro é proveniente apenas de um lado da balança, o de cima, europeu. Não temos a palavra direta do outro lado. Em alguns momentos aparece um contexto híbrido, com a presença das correções (muitas não efetuadas) de Maldonado, ou a descrição (embora breve) do livro de Garcilaso. O seu foco de fato é a obra e a figura de La Condamine, as táticas e estratégias deste na própria modelação como um renomado membro da Academia de Ciências da França e, consequentemente, como um savant de sua época. Portanto, são as apropriações deste ator das transformações, das interações e do “esquecimento” que proporcionam, na utilização dos saberes de outro contexto social, outro espaço de criação de conhecimento, o Novo Mundo.
Essa assimetria, entretanto, não tira o mérito do livro. A obra deve ser colocada junto às demais da historiografia sobre esta transposição de saberes entre espaços, antes entendidos na clivagem entre centro e periferias, e agora como núcleos diversos de produção de conhecimentos e ciências. Neste sentido, a obra de Neil Safier, somada aos trabalhos de Kapil Raj sobre as trocas entre ingleses e indianos e também Jorge Cañizares-Esguerra quanto ao papel “esquecido” dos países ibéricos na constituição das ciências modernas na Europa, traz novos aspectos das colonizações europeias, as suas interações com os nativos, sejam autóctones ou colonos.
Roger Domenech Colacios – Doutorando em História Social – FFLCH / USP. Av. Luciano Gualberto, 315, CEP: 05508-900. Cidade Universitária, São Paulo-SP / Brasil. rdcolacios@usp.br .
Portugal em transe. Transnacionalização das religiões afro-brasileiras: conversão e performance – PORDEUS JÚNIOR (VH)
PORDEUS JR. Ismael de A. Portugal em transe. Transnacionalização das religiões afro-brasileiras: conversão e performance. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2009, 168 p. Resenha de: SANTOS, Milton Silva dos. Varia História. Belo Horizonte, v. 27, no. 46, Jul. /Dez. 2011.
Os portugueses, assim como os brasileiros, estão familiarizados desde antanho com rezas, mezinhas, bruxedos, simpatias, previsões, promessas, ex-votos e toda sorte de amuletos capazes, creem muitos, de afastar malefícios e infortúnios. Isto bastaria para evitar o assombro a quem recebesse a inédita notícia de que na terra de Camões também há diversos terreiros (ou “macumbas”, diriam outros sem pudor) frequentados por lusitanos em busca de auxílio espiritual e alívio dos estados de aflição causados pela modernidade secular. Este é o cenário de Portugal em transe, livro publicado por Ismael Pordeus Jr., professor titular aposentado da Universidade Federal do Ceará e autor dedicado, há mais de quinze anos, ao estudo da expansão transnacional dos cultos afro-brasileiros nos países da Europa e, principalmente, em Portugal, “onde esse fenômeno encontra-se intrinsecamente relacionado [num primeiro momento histórico] com a migração, sobretudo a migração feminina portuguesa” (p. 9).
Desde então os lusitanos têm multiplicado o número de terreiros onde é possível vivenciar experiências antes desconhecidas, como, por exemplo, a “técnica do transe” mediúnico e suas variadas performances nos cultos afro-brasileiros transnacionalizados para Portugal. Daí o título do livro, que também pode remeter-nos à adoção de formas culturais em “mouvance“, de religiões que pululam na modernidade contemporânea, movimentando e instalando-se em diferentes países. Isso vem ocasionando não só a recomposição do campo religioso português, como também o solapamento do catolicismo, que agora divide espaço com outras orientações religiosas, incluindo as redes neopentecostais brasileiras também de olho nas aflições alheias.
Baseado numa etnografia híbrida e dialógica (Mikhail Bakhtin e Hommi Bhabha), na interpretação e não na explicação (James Clifford) e no intercâmbio entre observador e observado (Vincent Crapanzano), Pordeus Jr. abre espaço aos discursos dos próprios convertidos1 e procura encontrar, nas histórias de vida e nos relatos de conversão, o motivo para a adoção de uma religião oriunda de outro país. Seu universo de pesquisa é composto por aproximadamente vinte terreiros, percorridos ao longo de várias estadias entre os portugueses; a última delas, ocorrida entre 2005 e 2007, originou a publicação ora apresentada. A fim de analisar as formas de atuação religiosa dos novos convertidos, ele evoca Victor Turner e propõe duas categorias, que podemos chamar de descritivas e analíticas. A primeira delas é a performance do tipo “communitas” que resulta em comunidades de adeptos dispostos a receber e a incorporar “um sistema de significados” e “a construir e disciplinar uma identidade comunitária dentro dos valores” peculiares aos cultos luso-afro-brasileiros (p. 27). A segunda é a performance “anticommunitas“, estritamente mágico-religiosa e individual, dos pais e mães-de-santo portugueses e brasileiros que vão a Portugal, por curta temporada, veicular seus serviços especializados em jornais locais e atender suas clientelas nas casas de parentes consanguíneos e/ou religiosos, bem como em espaços alugados para consulta espiritual. Ao contrário da primeira, a segunda categoria não cria comunidades religiosas baseadas em laços sociorreligiosos.
A partir desse quadro teórico-metodológico delineado no capítulo um (e retomado no final do segundo) é possível acompanhar os depoimentos, identificando neles as performances “de todos aqueles que dizem e fazem as religiões luso-afro-brasileiras em Portugal” (p. 15). Dentre esses performers encontram-se Fernanda e Georgete, as “irmãs precursoras” da “nova religião”, e Mãe Virgínia Albuquerque, que fundou a primeira “casa luso-afro-brasileira com certeza”2 em 1974, ano em que a “Revolução dos Cravos” pôs fim à ditadura de Marcello Caetano, sucessor de Salazar. Essas três mulheres emigraram para o Brasil em meados de 1950, mas retornaram para Lisboa, duas décadas depois levando, na bagagem, a umbanda, “uma religião brasileira”.3 Seus relatos de conversão, assim como os depoimentos de suas filhas-de-santo portuguesas, são muito semelhantes. Através de parentes, amigos, anúncios de jornal, etc., elas acorreram aos terreiros a fim de solucionar problemas familiares, espirituais ou “dificuldades de saúde em consequência dos guias” (p. 33).
Além dessas sacerdotisas pioneiras, existem outros pais e mães-de-santo que atuam “além de Lisboa”, ou seja, em Sintra, Mafra, Cadaval, Coimbra, Porto e noutras cidades. Seus depoimentos reunidos nos capítulos três e quatro evidenciam, pode-se dizer, a segunda fase de expansão dos cultos luso-afro-brasileiros, que ocorreu, mais intensamente, na última década do século passado, período no qual alguns brasileiros desembarcaram em Portugal e lá se instalaram como sacerdotes. Dentre os brasileiros ouvidos por Pordeus Jr. estão o cearense Pai Cláudio – “Terreiro de Umbanda Caboclo Nharauê”, fundado em 2002 -, que se diz responsável por uma “rede” de três terreiros, sessenta médiuns e cerca de “200 filhos e filhas de fé” (p. 73); o pernambucano Pai Arnaldo, que viveu em Madrid (Espanha), onde dirigia um terreiro de candomblé e jurema, antes de migrar e fundar um novo terreiro na cidade portuguesa de Cadaval; o “juremeiro” Josenildo, também natural de Pernambuco, amigo e auxiliar de Pai Arnaldo; e a Mãe Virgínia de Mafra, natural do Espírito Santo, a única mãe-de-santo de nacionalidade brasileira encontrada pelo autor, dirigente da “Casa de Caridade Maria de Nazaré”, inaugurada em 2007. Outros terreiros também foram fundados na mesma década em que Portugal promulgou, em 2001, a Lei de Liberdade Religiosa.
Se os processos de transnacionalização afro-religiosa comportam “a criação e não simplesmente a repetição” (p. 141), no penúltimo capítulo da obra é possível conhecer a primeira “entidade genuinamente portuguesa”, o Marinheiro Agostinho, um marujo nascido numa localidade perto de Peniche, uma tradicional região de pesca portuguesa. Incorporado numa sessão dirigida por Pai Cláudio, performance cambaleante e típica de alguém não habituado à terra firme, Agostinho narra sua biografia de pescador e fala de suas viagens pelo Brasil durante uma longa “entrevista (…) entrecortada de risos” (p. 144). Diz que nasceu em 1874 e que morreu no mar, naufragado no álcool. Aliás, a bagaceira, “líquido de ouro”, do lado de lá, e a cachaça, o rum ou a cerveja, do lado de cá, são bebidas rituais sem as quais a “linha” da marujada ébria não trabalha. Antes de “subir” ou morrer, Marinheiro Agostinho já havia conhecido o catimbó (culto afro-ameríndio) em Sergipe e a umbanda, tendo sido doutrinado para “trabalhar no astral” (p. 144).
Tal criatividade pode provocar a ampliação e a reordenação do panteão de entidades cultuadas cujos perfis imitam ou se aproximam dos perfis sociais de alguns personagens e tipos populares e regionais, como o marujo Agostinho. Certas ressemantizações ou adaptações estimulam a aceitação das religiões afro-americanas em países cujas populações reconhecem nos guias e orixás os atributos associados aos santos da Igreja. Esse é um dos caminhos para se compreender a adesão transnacional aos cultos afro-brasileiros, conforme revela Pordeus Jr. no conclusivo capítulo sete.
Graças às pistas que abre, é inevitável sair deste “ensaio”, conforme define seu autor, sem interrogações. A propósito, convém perguntar: em razão das disputas por espaço e reconhecimento na esfera pública, as performances “communitas” dos pais e mães-de-santo portugueses vêm originando laços de solidariedade extrarreligiosa entre os seguidores e as casas de culto? Como os peregrinos-convertidos interpretam o processo de conversão? Se sentem abrasileirados e/ou africanizados pela fé? Será que estão adotando as novas religiões e descartando as identidades religiosas herdadas através das gerações? Ou se posicionam como dúplices religiosos, isto é, indivíduos que optam pelo continuum, conjugando, na vida cotidiana, as cerimônias católicas e os ritos de terreiro?
Se considerarmos especialmente o quinto capítulo onde o autor descreve as “interritualidades” da “linha das capelas”4 e do rito do “lava-pés”,5 podemos concluir que os portugueses em transe estão compatibilizando, aqui e ali, diferentes sistemas de crenças cada vez mais procurados e acessíveis no luso mercado de bens mágico-religiosos.
Em se tratando de acessibilidade, no caso desta edição – de fácil leitura e atraente tanto para especialistas em história, antropologia e ciências da religião quanto para os demais leitores interessados nos trânsitos religiosos entre Brasil e Portugal – há um glossário de termos religiosos, entre os quais a curiosa e lusitana expressão “bruxedo da intrusa”. A edição ficaria ainda mais interessante se reunisse imagens do trabalho de campo, ou melhor, dos terreiros visitados, das cerimônias públicas observadas, etc., e dos adeptos-narradores para os quais a obra foi dedicada.
1 Cit. HERVIEU-LÉGER, Danielle. A religião despedaçada: reflexões prévias sobre a modernidade religiosa. In: O peregrino e o convertido: a religião em movimento. Petrópolis: Vozes, 2008, p.31-56. Pordeus Jr. baseia-se em dois modelos descritivos ideais, a saber: o peregrino, que trilha um caminho espiritual individual, e o convertido, que escolhe a sua própria família e pertença religiosas. Em se tratando das religiões luso-afro-brasileiras, ele funde os dois modelos e propõe um terceiro, o do peregrino-convertido. Este, vindo “de outras práticas religiosas, passa por experiências em outros credos, deambula no campo religioso e converte-se a uma religião onde encontraria uma resposta para os seus problemas”. HERVIEU-LÉGER, Danielle. A religião despedaçada: reflexões prévias sobre a modernidade religiosa, p.68.
2 PORDEUS Jr., Ismael. Uma casa luso-afro-brasileira com certeza: emigrações e metamorfoses da umbanda em Portugal. São Paulo: Terceira Margem, 2000.
3 CONCONE, Maria Helena Vilas Boas. Umbanda: uma religião brasileira. São Paulo: FFLCH/USP, CER, 1987.
4 Pessoas que trabalham em capelas de Lisboa, realizando também trabalhos de umbanda.
5 Rito realizado por Mãe Virgínia Albuquerque numa Sexta-Feira Santa. O mesmo está relacionado à Última Ceia, momento em que Cristo lava os pés dos Apóstolos. Na umbanda lisboeta de Mãe Virgínia é o preto velho, espírito tido como humilde e caridoso, quem “lava cada pé da pessoa, enxuga-o e faz uma cruz na parte de cima do pé com pemba” (p. 110).
Milton Silva dos Santos – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP. Rua Cora Coralina, s/nº, Campinas. São Paulo. 13083-896. miltonrpc@gmail.com.
Apesar de vocês: oposição à ditadura – GREEN (VH)
GREEN, James Naylon. Apesar de vocês: oposição à ditadura brasileira nos Estados Unidos, 1964-1985. Tradução S. Duarte. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, 582p. Resenha de: MONTENEGRO, Antonio Torres. Varia História. Belo Horizonte, v. 27, no. 45, Jan. /Jun. 2011.
O livro de James N. Green começou a ser pensado, segundo ele mesmo, quando, em 1998, durante um encontro da Lasa (Associação Americana de Estudos Latino Americanos), um historiador brasileiro criticou os brasilianistas por não terem atuado de forma significativa na resistência ao regime militar que tomou o poder, no Brasil, em 1964. Posteriormente, constatou que uma parcela de intelectuais brasileiros também tinha uma avaliação semelhante. Discordando dessa leitura, James, ao longo de dez anos, pesquisou diversos documentos para construir outra historiografia acerca da reação de uma parte de intelectuais dos EUA ao regime militar.
Duas seriam as razões básicas que James, afirma terem concorrido para produzir essa avaliação “não verdadeira” acerca da atuação de certos setores da sociedade dos EUA, especialmente intelectuais, em relação ao regime militar que dominou o Brasil de 1964 a 1984. A primeira estaria relacionada à censura, o que dificultava o conhecimento acerca das campanhas internacionais contra o regime, tanto na Europa quanto nos EUA. A segunda seria a corrente antiamericanista, que se espalhou pelo mundo acadêmico, quando análises marxistas, antiimperialistas e nacionalistas, tornaram-se dominantes nas décadas de 1950 à 1970.
James N. Green propõe romper com essa perspectiva antiimperialista que domina muitos estudos macropolíticos e macroeconômicos, acerca das relações políticas e culturais entre o Brasil e os EUA.
Por meio de uma significativa pesquisa documental, associada a mais de cem entrevistas, o autor apresenta as redes que se formaram nos EUA, congregando exilados políticos brasileiros, ativistas americanos, professores de diferentes universidades dos EUA, religiosos, políticos, jornalistas e pessoas simpáticas a causa dos direitos humanos.
O percurso narrativo é construído apresentando um acirrado embate entre forças políticas antagônicas, que inclui o movimento em defesa dos direitos humanos, a embaixada do Brasil em Washington, o Departamento de Estado, a grande imprensa dos EUA, o conselho de Igrejas. Mas não são apenas essas redes, grupos, ou órgãos e instâncias de poder que se digladiam. Dentro do próprio Estado Americano há divergências e conflitos de orientação política. O Departamento de Estado e o Congresso dos EUA, algumas vezes, entram em rota de colisão acerca da política adotada em relação ao Brasil. Também se descobre como a grande imprensa americana produz editoriais e artigos que não correspondem ao que o governo, gostaria que fosse debatido e divulgado. Em outros termos, James, lembra-nos como a generalização no campo da história se apresenta como uma grande armadilha. Sobretudo, porque simplifica e minimiza os confrontos e apaga o trabalho de resistência dos indivíduos, grupos sociais e organizações que também produzem ações com efeitos de verdade e mudanças na definição das políticas de Estado.
Nesse sentido, é revelador dos interesses e princípios conflitantes que informam a política externa, entre Brasil e EUA, o novelo de forças que se constitui logo após a promulgação e publicação do AI – 5, em 13 de dezembro de 1968. Narra o autor que o embaixador americano William Belton estabelece a linha política a ser adotada pelo Departamento de Estado, ou seja, dos EUA permanecerem discretos quanto ao pronunciamento público contra o regime militar, mas passando também a considerar a idéia de suspender ajuda ao Brasil. Talvez, informado, Delfin Neto, ministro da Fazenda, no governo do general Costa e Silva, veio a público desmentir qualquer possibilidade de congelamento da ajuda, no que foi apoiado irrestritamente pelo presidente da Câmara de Comércio norte-americana, em São Paulo, que teria declarado: “as empresas norte-americanas em São Paulo apóiam o governo brasileiro e consideram [o] AI – 5 a melhor coisa que poderia ter acontecido ao país”.1 Mesmo sob pressão da grande imprensa dos EUA, o Departamento de Estado não contrariou os interesses da Câmara de Comércio e nem desfez os prognósticos de Delfin Neto.
Assinala James, que a imprensa dos EUA, que até então raramente tinha publicado alguma crítica ao regime militar, após o AI – 5 passa a nomear o regime político do Brasil de ditatorial e a fazer denúncias de abuso de poder. No entanto, é em razão de um editorial do The New York Times, em dezembro de 1968, criticando o AI 5 – e que causou indignação aos militares brasileiros – que o professor Robert Levine na época jovem professor assistente na Universidade Estadual de Nova York em Stony Brook enviou uma carta a esse jornal, tecendo críticas ao referido editorial, mas em um sentido oposto. Para Levine, o editorial estava equivocado ao afirmar, que os militares tinham boas razões para derrubar o governo constitucional de João Goulart. Levine inaugura – segundo o autor – a série de artigos e pronunciamentos públicos de intelectuais norte-americanos contra o regime militar.2
Porém, gostaria de chamar a atenção para passagens que me parecem carregadas de muitos significados. Em certo momento – como documenta o autor – é possível acompanhar o esforço do regime civil-militar brasileiro de tentar influir no discurso da imprensa nos EUA e na Europa, quando são publicadas matérias relativas a torturas e prisões arbitrárias. A tentativa do regime, de criar um órgão exclusivamente para cuidar da imagem do Brasil no exterior, é uma informação importante para refletir acerca do esforço dos governos em produzirem seus discursos de verdade e poder. Por outro lado, quando o Washington Post publicou um editorial condenando as práticas de tortura e afirmando o quanto este fato era grave para a imagem dos EUA – pois estaria sendo associado a um governo opressor – , imediatamente, há forte reação do governo brasileiro. O ministro das relações exteriores do Brasil convida tarde da noite o embaixador americano para uma conversa. Reclama que houve por parte da imprensa dos EUA um “ataque ofensivo, perverso e insultuoso contra o governo brasileiro”.3 Essa reação também estava relacionada ao fato de que, neste editorial, o presidente Médici é nomeado de “general bronco”. E o embaixador, Mario Gibson Barboza, inicia um trabalho sistemático junto a alguns jornais dos EUA para tentar alterar as matérias críticas ao governo: “No entanto, após seis meses de intensa interação com importantes jornais do país, chegara à conclusão de que as posições ideológicas do Post, do Times e do Christian Science Monitor os levava a tratar do Brasil de maneira hostil, apesar de sua “ação incansável para esclarecer [os relatos enganosos de] pessoas influentes nesses jornais, sem resultado”. Barboza informou ao ministro das Relações Exteriores: “Minha avaliação é que não se trata de um problema de esclarecimento e persistência, e sim de uma posição ideológica estabelecida e, portanto, muito difícil de demover”.4
O ministro, ao afirmar que os jornais defendiam uma posição ideológica e não apenas conjuntural, remete ao problema do imperialismo. Ou seja, os EUA têm uma agenda política, econômica, cultural, social que expressa seus projetos de dominação e interage com os demais países a partir dessa agenda. Como documenta James, essa agenda sofre variações e pressões diversas. A repressão e a tortura seriam inadmissíveis para diversos segmentos da sociedade norte-americana, no entanto, para outros segmentos não, como o livro documenta. Mas, penso que não se pode avaliar essa história política fora dos quadros complexos das relações desiguais entre as nações, em que aqueles que têm mais riqueza e poder instituem e agenciam o discurso do justo e do verdadeiro. Ou seja, deve-se analisar historicamente este quadro ou jogo de interferências de poder entre nações na perspectiva de uma política imperialista. Essa análise histórica não é contemplada por James Green ao estudar as formas de manifestação política contra o regime militar do Brasil a partir de 1964 nos EUA, o que enriqueceria sua obra.
Noam Chomsky, em entrevista recente na China, afirmou:
O ano de 2010 é chamado “O Ano do Irã”. O Irã é descrito como uma ameaça para a política externa dos EUA e para a ordem mundial. Os EUA impuseram sanções severas e unilaterais, mas a China não lhe seguiu o exemplo… Poucos dias antes de deixar a China, o Departamento de Estado dos EUA advertiu a China de uma maneira muito interessante. Disse que a China tem de assumir as responsabilidades internacionais, ou seja, seguir as ordens dos EUA. São estas as responsabilidades internacionais da China. Isto é o imperialismo típico: os outros países têm de agir de acordo com os nossos desejos. Se não, são irresponsáveis. Essa é a lógica típica do imperialismo.5
Em síntese, o livro de James traz importante pesquisa sobre as lutas, os confrontos, as alianças, os boicotes no cotidiano da política dos EUA, na relação com o regime civil-militar que se instala em 1964, particularmente após o AI 5. Revela uma trama complexa, em que os exilados brasileiros nos EUA, os brasilianistas, as organizações religiosas, os políticos dos EUA comprometidos com a agenda dos direitos humanos, atuaram de forma importante e significativa para desnaturalizarem as práticas autoritárias de governabilidade do regime militar que os EUA ajudaram a montar.
1 GREEN, James Naylon. Apesar de vocês: oposição à ditadura brasileira nos Estados Unidos, 1964 -1985. Tradução S. Duarte. São Paulo: Companhia das Letras. 2009, p.145.
2 GREEN, James Naylon. Apesar de vocês, p.149.
3 GREEN, James Naylon. Apesar de vocês, p.228.
4 GREEN, James Naylon. Apesar de vocês, p.297-298.
5 Noam Chomsky interviewed by Southern Metropolitan Daily, August 22, 2010.
Antonio Torres Montenegro – Professor Titular Programa de Pós-Graduação em História/ Centro de Filosofia e Ciências Humanas Universidade Federal de Pernambuco. Campus Recife Avenida Acadêmico Hélio Ramos S/N 10º andar CFCH. Cidade Universitária -Recife- PE- Brasil. CEP:50670-901 montenegroantonio084@gmail.com.
S
A Biologia militante – DUARTE (VH)
DUARTE, Regina Horta. A Biologia militante: o Museu Nacional, especialização científica, divulgação do conhecimento e práticas políticas no Brasil – 1926-1945. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010, 219 p. Resenha de: PEREIRA, Airton dos Reis; OLIVEIRA JÚNIOR, Rômulo José Francisco de. “A voz mais alta da Biologia”: Diálogos entre história política e história da ciência. Varia História. Belo Horizonte, v. 27, no. 45, Jan. /Jun. 2011.
A Biologia Militante, de Regina Horta Duarte, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, é, certamente, uma grande contribuição aos muitos cursos de graduação e pós-graduação em História e permite-nos não apenas aprender sobre o tema analisado, mas compreender os procedimentos teórico-metodológicos do fazer histórico.
A partir da leitura dessa obra temos a certeza de que, além de pesquisas em arquivos, a escrita da história é fruto de escolhas afetivas, de constantes perguntas, da busca por conhecimentos transformadores e do desejo de fazer História como uma aventura intelectual que ressignifica nossas questões referentes à relação presente-passado por meio da construção de narrativas plausíveis.
A Biologia Militante é uma escrita leve, sedutora, clara e traz excelentes análises sobre a história do Brasil no período varguista. O fio condutor adotado foi a história do Museu Nacional do Rio de Janeiro, no período compreendido entre 1926 e 1945, privilegiando as articulações entre prá-ticas cientificas e vida política, o surgimento das especializações, no caso especifico da ciência biológica, e as experiências de divulgação científica.
O livro nos convida a entrar em contato com os conhecimentos e as práticas de três cientistas do Museu Nacional: Edgar Roquette-Pinto (18841954), antropólogo; Alberto Sampaio (1881-1946), fitobotânico; e Cândido de Mello Leitão (1886-1948), aracnólogo. Ambos haviam passado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro quando esta tinha passado por reformas, com a introdução de novas disciplinas e ênfase no ensino prático. As novas tendências européias de valorização do laboratório e do conhecimento biológico, sob influência da teoria de Pasteur, estiveram presentes na faculdade, nesse período. Esses homens fizeram de suas pesquisas ferramentas para a construção de uma identidade nacional e por meio da noção de saber criativo possuíam a esperança de que este tipo de conhecimento transformaria a sociedade brasileira
Roquete-Pinto foi professor do Museu Nacional desde 1906, sóciofundador da Academia Brasileira de Ciências (ABC), membro fundador da Associação Brasileira de Educação (ABE) e participou ativamente da organização da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro da qual foi seu secretáriogeral. Mello Leitão iniciou sua carreira como zoólogo, em 1913, na Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, do Rio Janeiro e no ano de 1916 trabalhou com Roquete-Pinto na Escola Normal do Rio de Janeiro. Sampaio foi contratado como professor de Botânica do Museu Nacional, em 1912, era membro da ABE e participou ativamente das atividades da Rádio Sociedade. Roquete-Pinto e Sampaio, embora que em momentos distintos, participaram de viagens feitas por Marechal Rondon no interior do Brasil.
Além de serem grandes amigos, tais cientistas articulavam, entre si, não só a produção e difusão de conhecimentos, mas o jogo de reconhecimento pessoal e intelectual e, por outro lado, partilhavam grandes expectativas de transformação do Brasil numa grande nação, num contexto de jogo político intenso do governo provisório de Getúlio Vargas. A perspectiva era a construção de uma sociedade sem conflitos, harmônica, corporativa e regida por um Estado forte e centralizado. Estudos como os de Mello Leitão – num processo de negação ao darwinismo -focalizavam a vida social dos animais negando a competição entre os seres vivos, mas a obediência, harmonia, bondade, solidariedade, a hierarquia. Não obstante, as perspectivas de Vargas encontraram eco nas concepções defendidas pelos cientistas do Museu Nacional. Apesar das nuances do jogo político da época, esses cientistas foram atores em sintonia com as perspectivas do governo provisório de Vargas em “curar o corpo e aperfeiçoar o espírito” de um povo desvalido e empobrecido, vítima de elites egoístas.
O livro é composto de três capítulos. No primeiro, “A voz mais alta da biologia”, a autora argumenta que, desde o final do século XIX, a idéia da natureza como patrimônio nacional era um tema importante, e acreditava-se que o Brasil deveria se afinar ao debate internacional para amoldar-se aos padrões de civilidade. A hipótese central deste capítulo era de que, entre 18951930, a biologia se afirmou como saber específico e diferenciado, ganhando importância política e visibilidadede “mestra da vida”. Duarte estabelece sua argumentação a partir de quatro temas: a eugenia nas primeiras décadas do século XX,a biomedicina,a entomologia (médica e agrária) e o que ela vai chamar de a experiência de campo (em que poderíamos denominar de pesquisas para obter a noção da relação teoria e prática dos estudos).
A autora mostra como a biologia se constituiu como campo específico do conhecimento e como este se firmou como um saber decisivo na resolução de problemas políticos, principalmente a partir da emergência da população como objeto de preocupação nacional. Neste capítulo, Duarte trata ainda da participação de Roquette-Pinto, Mello Leitão e Sampaio, autoridades científicas do Museu Nacional, na elaboração de um anteprojeto do Código de Caça e Pesca, solicitado pelo Ministério da Educação e Saúde, em 1933, cujo decreto foi assinado pelo Presidente da República, no ano seguinte. O Código de Caça e Pesca seria um instrumento importante na regularização e preservação do patrimônio flora-faunístico. Naquela época era notória a extinção de espécies animais cujas peles eram exportadas para compor a moda da “alta sociedade”. Os cientistas advogaram a necessidade do Governo Federal regular os “apetites” das elites em favor dos interesses de todos. Duarte destaca os êxitos e as frustrações dos cientistas no tocante ao texto final da Lei.
No segundo capítulo, A miniatura da Pátria, a historiadora inicia discorrendo sobre um churrasco realizado na Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro, por contingentes das forças armadas gaúchas que visitavam a capital do Brasil. Edgar Roquette-Pinto, diretor do museu, convidou os soldados e os acomodou no Museu Nacional para assistir vídeos educativos sobre a natureza fauna-florística brasileira. Tal evento ganhou expressão para compreender como os biólogos articulavam uma série de meios comunicativos para propagar a idéia de preservação da natureza do país. Rádio, cinema, jornais e a Revista Nacional de Educação foram os principais divulgadores dessa idéia e o Museu Nacional abriu as portas para aulas práticas com crianças e jovens, e para visitas à sala de exposições de antropologia. Divulgar o conhecimento natural de todas as formas possíveis, ensinar às massas a ler e a escrever eram metas dos biólogos do museu. Ao final deste capítulo a autora se debruça sobre a documentação da Coleção Brasiliana1 e analisa as idéias dos três cientistas publicadas em diversos livros que produziram e cujo tema central versava sobre a biologia no Brasil. Entretanto, sendo o período histórico em questão, um momento na qual circulava no país as concepções da Escola Nova, seria muito mais enriquecedor se a autora tivesse tecido relações com essa postura pedagógica. Acreditarmos que essas análises seriam um elemento a mais para compreender a propagação das políticas de divulgação do conhecimento científico na era Vargas.
No terceiro capítulo, Como se fazia um biólogo, a autora nos apresenta a criação da Sociedade dos Amigos do Museu Nacional. Esse grupo surgiu em detrimento do afastamento dos três cientistas do museu e nos conduz a compreender a trajetória de Cândido de Mello Leitão ao analisar esmeradamente as obras escritas por ele e como sua produção foi significativa para a Biologia tornando-o reconhecido nacional e internacionalmente como um especialista em aracnídeos. Duarte não deixa de mencionar que o Museu Nacional perdeu força no fim da era Vargas como instrumento constituidor de opinião pública e que o discurso biológico, da mesma forma, se enfraqueceu como símbolo da identidade brasileira. Não obstante, a Biologia despontou como ciência importante no cenário brasileiro e ganhou espaço significativo nas universidades do país.
A leitura de A Biologia Militante é fundamental por ser um exemplo de trabalho bem escrito, fundamentado teoricamente e com fontes utilizadas de forma burilada. Deve ser lido para entender que o exercício interdisciplinar, lançado mão desde a Escola dos Annales, é extremamente significativo para as pesquisas históricas. É possível ainda conhecer possibilidades do exercício prosopográfico e perceber que muitos temas podem ser vistos como edificadores da nacionalidade brasileira.
O texto nos mostra ainda que a melhor referência teórica a ser aplicada na escrita depende dos documentos que escolhemos para cotejar as informações; é assim que Michel Foucault emerge diversas vezes na obra, principalmente quando fica notória a noção de que os sujeitos se constituem nas redes relacionais em que atuam, como no caso dos biólogos analisados. A obra coloca o leitor na perspectiva da História como conhecimento criador, realizado nas condições de possibilidades de cada pesquisa. Ao analisar racionalmente o papel do fazer científico na instituição das sociedades ao longo dos tempos, a autora busca se afastar do que Marc Bloch chamou do “satânico inimigo” da História: a mania de julgar.
A Biologia Militante, além de ser um excelente diálogo entre História e Biologia, pode permitir primorosos debates sobre questões sócio-ambientais, no Brasil, além de servir de alerta à sociedade brasileira para não aplainar o novo Código Florestal, aprovado em maio de 2011, sem indignações.
Mais do que um discurso histórico construído na interface da história política e da história da ciência, o livro de Regina Horta Duarte ajuda a compreender as articulações e os arranjos políticos que certos intelectuais fazem em seu tempo, no campo de produção e no jogo de relações com os poderes instituídos. Podemos, com certeza, afirmar: é uma excelente contribuição ao campo da história intelectual.
Programa de Pós-Graduação em História/Centro de Filosofia e Ciências Humanas.Universidade Federal de Pernambuco. Campus Recife.Avenida Acadêmico Hélio Ramos S/N10º andar CFCH. Cidade Universitária -Recife- PE- Brasil. CEP:50670-901.
1 A Coleção Brasiliana foi inaugurada em 1931 por Fernando Azevedo e o projeto central era de “descobrir o Brasil aos brasileiros”.
Airton dos Reis Pereira – Doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Professor da Universidadedo Estado do Pará (UEPA) e membro do Grupo de Pesquisa: Movimentos Sociais, EducaçãoeCidadania na Amazônia/UEPA/CNPq. airtonper@yahoo.com.br.
Rômulo José Francisco de Oliveira Júnior – Doutorando em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Integrante do GEHISC/UFRPE/CNPq. romulojunior7@hotmail.com.
Paulistas e emboabas no coração das Minas – ROMEIRO (VH)
ROMEIRO, Adriana. Paulistas e emboabas no coração das Minas: idéias, práticas e imaginário político no século XVIII. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2008, 431 p. Resenha de: STUMPF, Roberta. Varia História. Belo Horizonte, v. 27, no. 45, Jan. /Jun. 2011.
Publicado em 2008, este livro da professora Adriana Romeiro, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, tem como tema a Guerra dos Emboabas, como ficou conhecido o levante ocorrido na capitania das Minas Gerais em 1708-1709. Já nas primeiras páginas retoma as análises historiográficas de um episódio que foi exaustivamente estudado até a segunda metade do século XX, perguntando-se o que de novo poderia dizer sobre a matéria. E não é preciso avançar demasiadamente na leitura para observar que apresenta uma visão claramente inovadora, ao adotar uma perspectiva analítica que privilegia a história política “à luz de uma perspectiva cultural” (p.26).
É esta mesma proposta a de seu livro anterior, publicado em 2001, Um visionário na corte de D. João V: revolta e milenarismo nas Minas Gerais,1 pelo que se pode dizer que a trajetória de investigação da autora apresenta um percurso homogêneo, não obstante a diversidade dos temas aos quais se dedica. Neste livro anterior, estuda um personagem fascinante, o português Pedro de Rates Henequim, que ao voltar ao Reino, depois de viver nas Minas, foi acusado de heresia pelo Santo Ofício e queimado em um auto de fé, em 1744. Em ambos os livros, a análise recai não tanto na história de vida dos personagens ou na descrição dos eventos, por si só interessantes ao leitor. O que lhe importa analisar são as práticas e as idéias de acentuado cunho político que coexistiram nas Minas do século XVIII e que tinham diferentes matrizes: uma portuguesa e outra, original, inovadora, mestiça, sertaneja, popular….
Sobre a última obra publicada, o que nos importa explorar é a tese principal de Romeiro, que permeia todos os capítulos, embora se apresente com maior clareza no quinto, “Idéias e práticas políticas”, o qual segundo a própria autora é “o âmago do livro”. Neste caso, não opta por seguir uma seqüência cronológica linear, comum aos historiadores mais interessados na descrição dos eventos. Antes opta por um percurso narrativo que vai da dimensão imperial ao nível local das Minas, atenta sempre às idéias e às práticas daqueles que atuaram neste contexto particularmente importante na história das Minas e de todo o Império português: a década inicial do Setecentos.
As diferentes propostas administrativas que eram gestadas para as Gerais são compreendidas mediante a análise dos imaginários políticos que coexistiram e que acabaram por explicar o confronto que teve a capitania como palco. O posicionamento da Coroa e de seus representantes é cuidadosamente analisado porque foi determinante para o sucesso ou o fracasso das estratégias adotadas por paulistas e emboabas, que irão se enfrentar ao longo das diferentes etapas que constituíram este processo de descobrimento e colonização das Gerais.
Longe de apresentar uma atuação uniforme, a política governamental foi determinada muitas vezes pelos interesses pessoais de governadores gerais e governadores da Repartição Sul assim como pelas diferentes percepções que dividiam as autoridades no Reino em relação à importância estratégica do ouro e das Minas para a monarquia portuguesa. As incertezas em relação aos benefícios da extração aurífera e à importância do estabelecimento de um aparato administrativo consolidado beneficiou, nos primeiros anos do século XVIII, os paulistas que encontraram naqueles sertões recém descobertos um terreno propício para agirem. A valentia destes homens, guiados por valores como a honra, que mais do que ninguém sabiam vencer os perigos de um território povoados de índios e súditos rebeldes, foi útil à empresa colonizadora nas Minas, como haviam sido, na figura de Domingos Jorge Velho, na luta contra o quilombo dos Palmares (p.197). Pelo que nos primórdios a Coroa aproveitou-se da ambição dos paulistas pelas distinções para cooptar seus serviços, provendo-os em cargos políticos importantes e beneficiando-os com o primeiro Regimento que regularizava a distribuição das datas.
É verdade que muitas autoridades não eram favoráveis a esta tendência pró-paulista, pois a outra face da “legenda negra”, associada a estes, e que eles próprios contribuíram para consolidar, prejudicava a consolidação de uma ordem nos moldes desejados pela monarquia. Quando a riqueza proveniente do ouro despertou a cobiça régia e a monarquia julgou necessário controlar a região, a imagem dos paulistas como homens inclinados à autonomia ganhou maior acolhimento. A forma particular que tinham em negociar com as instâncias políticas centrais, a adoção de uma tática de “guerra brasílica”, o sangue mestiço, ou mesmo a violência utilizada em defesa da honra, sustentavam a desconfiança, por exemplo, dos conselheiros ultramarinos que resistiam cada vez mais lhes conceder mercês.
A semelhança do que ocorria em outras paragens da América, onde os primeiros descobridores ou restauradores de um território ocupado por inimigos julgavam-se beneméritos de mercês régias, também os homens do Planalto se apropriaram da retórica do “direito da conquista” para “pleitear as mais valiosas honras e mercês” (p.38). Mas a vertente detrativa da imagem atribuída aos mesmos dificultou seus intentos favorecendo, por sua vez, os emboabas, como eram chamavam pelos paulistas aqueles que não descobriram as Minas, mas que para lá se dirigiam para tirar proveito de suas riquezas e de seus cargos ainda por ocupar. Mas se estes forasteiros não podiam se valer do fato de terem sido os primeiros a desbravar os sertões, esforçavam-se por serem vistos como fieis súditos do monarca que restaurariam o poder régio na região comandada pelos tirânicos paulistas. Trata-se de duas retóricas distintas, e igualmente legítimas para a cultura política vigente, adotadas por dois grupos que tinham estratégias diversas que visavam o mesmo fim e que traduziam, como evidencia com sucesso a autora, imaginários políticos em confronto, que terão repercussões duradouras naquele território.
É este talvez o maior contributo desta obra: o destaque dado a um conflito que não teve como principal palco o campo de batalha. Os vencedores não foram os que sabiam melhor guerrear ou os que tinham as armas bélicas mais eficazes. Mas sim aqueles que percebendo a realidade, e agiam nesta, de forma mais conveniente aos interesses régios, foram eleitos como sendo os mais dignos de receberem as recompensas, cargos ou honras, que ambos os grupos almejavam conquistar. A economia moral do dom não fora apenas um instrumento que permitiu a consolidação dos laços entre súditos e monarcas. Foi um sistema tão atrativo aos desejos de ascensão social que determinou muitas vezes que súditos envolvidos em embates na disputa de recursos e mercês utilizassem retóricas distintas e conflitantes para verem-se agraciados pelas autoridades.
Por vezes somos levados a pensar que Romeiro atribui à naturalidade dos vassalos um fator essencial para explicar o posicionamento régio e consequentemente o desfecho do levante, contrariando assim as análises historiográficas mais recente que insistem na pouca relevância da oposição entre naturais da América e do Reino, ao menos até o final do século XVIII. Se os paulistas possuíam uma identidade cultural que os singularizava, ou mesmo “étnica” como afirma a autora, eram reconhecidos evidentemente como sendo os naturais de São Paulo. Porém, no que compete aos em-boabas, se há indícios de que os conselheiros ultramarinos lhes atribuíam uma naturalidade reinol, provavelmente assim faziam para salientar as diferenças em relação aos paulistas, a quem faziam fortes ressalvas. A autora, no entanto, cita outros documentos coevos que comprovam o quanto a naturalidade dos emboabas era uma questão controvérsia, que tampouco deve ser resolvida. Assim, embora a dimensão paulista seja sempre enfatizada, ao mostrar que os emboabas eram tanto americanos como reinóis, a autora critica as análises que deram ao levante um cunho nativista. Se no contexto de 1708-9 a naturalidade paulista estava associada a uma postura contestadora e autonomista, no decorrer da centúria nada indica que esta associação continue a ter a mesma intensidade, ao menos é o que percebemos no teor das solicitações de mercês efetuadas pelos habitantes das Minas nas quais a naturalidade não aparece nos pareceres como um critério a legitimar ou não a justiça das súplicas.
Se o levante emboaba, como se infere no título do livro, é crucial para entender todo o século XVIII mineiro, não o é por esta razão. Seu maior legado, como afirma a autora nas conclusões, são as formulações políticas que naquele contexto eclodiram e que serão essenciais ao imaginário político da população local (p.317). Ao longo do Setecentos as idéias e as práticas políticas, que traduzem matrizes da tradição insurgente e também não insurgente, sobreviverão, muitas vezes com um conteúdo remanejado. Tanto o discurso embasado no “direito da conquista” como o “restauracionista”, defendidos respectivamente por paulistas e emboabas, legitimaram motins e sedições, entre os quais o mais importante deles ocorrido em 1788-9. Talvez fosse interessante saber, seguindo a sua própria linha de raciocínio, se ao longo desta centúria os súditos interessados em fazer valer seus direitos pelas vias consideradas legítimas, se apropriaram destes discursos para solicitar mercês ao Conselho Ultramarino.
A autora, porém, apesar de mencionar na introdução a importância de se evitar uma análise da Guerra dos Emboabas que se restrinja à curta temporalidade, ou seja, ao episódio em si, só analisará rapidamente a permanência destas retóricas nos movimentos sediciosos na última página do quinto capítulo, voltando a lhe dar destaque nas conclusões. Romeiro não despreza a importância do tema, mas não o aprofunda, quase como se estivesse a sugeri-lo para uma investigação futura, de sua autoria ou de outro historiador, disposto a aproveitar esta dica tão valiosa.
Esta obra foi bem acolhida pela historiografia brasileira, e deve continuar a sê-lo pelo que nela foi dito e exaustivamente analisado, ou pelo que foi apenas sugerido, já que a consistência das sugestões também se deve ao rigor e à originalidade da pesquisa que apresenta.
1 ROMEIRO, Adriana. Um visionário na corte de D. João V: revolta e milenarismo nas Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001.
Roberta Stumpf – Pesquisadora do Centro de História de Além Mar/Universidade Nova de Lisboa Rua Berna, 26C, gabinete 2.19, Edifício DRM Lisboa, Portugal, CEP1069-061, robertastumpf@gmail.com.
Histórias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas – FARBERMAN; RATTO (VH)
FARBERMAN, Judith y RATTO, Silvia. (coords.) Histórias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas, siglos XVII-XIX. Buenos Aires: Biblos, 2009, 222 p. Resenha de: CERCEAU NETTO, Rangel. Varia História. Belo Horizonte, v. 27, no. 45, Jan. /Jun. 2011.
Desde a obra O Pensamento Mestiço, do francês Serge Gruzinski,1 despontam para as Américas possibilidades que versam sobre as ruínas dos povos indígenas e a renascença de novos estudos sobre criações mestiças – nem européias e nem pré-hispânicas -, mas resultado de um processo de fusão de mundos díspares. Este referencial historiográfico aparece como um arquétipo inspirador dos estudos sobre as misturas e tem iluminado as novas abordagens.
Pode-se dizer que nos últimos anos, na historiografia sobre o período colonial da América Latina, as trajetórias de vida de homens e mulheres têm causado grande fascínio em pesquisadores e em leitores interessados nessas pequenas histórias. No caso das Américas, a exemplo de O pensamento mestiço, os estudos que têm a mestiçagem como eixo imprimem dinâmica especial aos trânsitos individuais, grupais e familiares. O foco dessas dinâmicas surgiu pela valorização de personagens ou de grupos anônimos que viveram e formaram as populações do complexo universo colonial americano.
É nesta perspectiva que se insere a coletânea de artigos publicados no livro Historias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas, siglos XVII-XIX, coordenado pelas pesquisadoras portenhas Judith Farberman e Silvia Ratto. Os trabalhos reunidos neste livro retratam os processos de mestiçagens envolvendo as uniões matrimoniais e de compadrio, bem como suas vinculações religiosas e jurídicas. Também constitui um estudo das categorias taxonômicas sócio-étnicas e das identidades profissionais dos chamados indo-mestizos.
Para essas análises temáticas foi utilizado um corpus documental muito diversificado: códigos de leis coloniais, cartas e disposições do reino e das áreas administrativas, relatos e memoriais de governantes e autoridades reais, protocolo de escrivães, censos populacionais, registros paroquiais de batismos e matrimônios, processos civis e criminais, visitas eclesiásticas e dicionários de época. Todo este maço documental está disponível em bibliotecas, arquivos regionais, nacionais e internacionais da antiga metrópole.
O livro está inserido na dinâmica migratória que levou cerca de 30 milhões de indivíduos de outros continentes às Américas, durante o período colonial. Ele reflete o impacto planetário e demográfico causado pelo tráfico oceânico de escravos, pelos deslocamentos não forçados de pessoas para o Novo Mundo e pelas formas de trabalhos compulsórios marcados pela escravidão, encomienda e mita. Tudo isso demonstra que a América foi marcada por um amplo processo de adaptações entre os povos nativos e os que chegaram de fora deste continente, os quais ali passaram a viver formando um mosaico de novas realidades, um verdadeiro laboratório de experiências.
A coletânea é composta de seis artigos sobre a história de Tucumán colonial e dos pampas e pode ser comparada à história de outras regiões da América espanhola e portuguesa. Essa comparação se deve à enorme variedade étnica de índios, europeus, africanos e de mestiços já frutos de intensa mescla processada. Também, a presença de libertos, escravos e nascidos livres derivados das formas de trabalho compulsório, como a escravidão, a encomienda e a mita, promoveu realidades regionais mundializadas e bem similares.
O estudo coordenado por Farberman e Ratto corrobora com estudos recentes2 que abordam o fenômeno das mestiçagens e das formas de trabalhos forçados nas sociedades ibero-americanas. Aliás, a história de Tucumán e dos Pampas colonial está longe de ser uma realidade isolada para as regiões espanholas urbanas e rurais. Outras regiões, cidades e vilas coloniais como: Lima, Potosi, Cartagena de Índias, Santa Cruz de La Sierra, Quito, México, Puebla, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Sergipe Del Rey, Vila Rica, Sabará, Minas Nova do Arrassuai, Vila do Príncipe entre outras, também conheceram intensa mestiçagem entre povos africanos, europeus e indígenas.
Na verdade, a obra buscou analisar as regiões do litoral e do interior da antiga jurisdição de Córdoba e que hoje fazem parte do território argentino. Ela retratou, de forma regionalizada, porém conectada ao global, as experiências inovadoras envolvendo as mesclas culturais e biológicas de diversas pessoas e grupos sociais, especialmente dos grupos de espanhóis e índios que compreendiam a maioria dos casos envolvendo os processos de mestiçagem na região de Tucumán e dos pampas.
Outra questão importante contemplada na coletânea e pouco abordada pela historiografia argentina foi as mestiçagens originárias de outros grupos étnicos e sociais que não envolviam somente os europeus e os índios. A presença dos africanos e da escravidão na cultura andina compôs um quadro social mais amplo e complexo para a história das Américas espanhola e portuguesa. Mérito deste estudo que recupera essa dimensão histórica das populações africanas em relação às indígenas e as européias, apagadas propositalmente dos anais da história argentina. Nesta perspectiva, o estudo mostrou um enorme avanço historiográfico e coloca novas perguntas. Como foi possível, durante tanto tempo, a população negra daquela região sumir das interações sociais e das mesclas com europeus e índios? A quem interessou a construção da memória que suprimiu a presença desses africanos, negros e mulatos que povoaram a região de Tucumán e dos Pampas? Ou mesmo o desaparecimento da escravidão que estava presente concorrendo com outras formas de trabalho compulsório como a encomienda e a mita. Neste sentido, o livro aponta para a necessidade de novas abordagens comparativas da dinâmica populacional daquela região com outros lugares no período colonial.
Nesta obra, as mesclas entre índios nativos, africanos escravizados e colonizadores europeus constituíram o foco do problema a ser investigado. O termo mestiçagem passou a ser visto como sinônimo de um processo. Ele é problematizado nos seus múltiplos significados e temporalidades, evocando as dinâmicas contraditórias e adaptativas dos processos que levaram à conquista da América e a chegada de novos povos. Por um lado, a mestiçagem apareceu vinculada ao processo violento de dominação, de perda de identidade e de genocídio, fruto dos choques causados pelas diferenças culturais entre espanhóis e povos nativos. Por outro lado, reflete a intermediação cultural gerada pela aproximação entre espanhóis, indígenas e, posteriormente, dos africanos. Esses indivíduos forjaram um Novo Mundo, adaptando invenções e novas maneiras de viver e pensar, ainda que numa síntese conflituosa ou pacífica.
O ponto forte do livro está na forma explicativa e processual na qual as misturas biológicas e culturais ocorreram nos matrimônios inter-étnicos entre espanhóis e índios. No primeiro momento, as misturas derivadas desses relacionamentos foram apoiadas pelas estratégias dos ibéricos de lançarem “indivíduos línguas” (aqueles que tinham facilidade em aprender as línguas nativas) para fazer a mediação comercial e de troca de práticas e saberes com os povos nativos.
Todavia, a ambientação dos colonizadores europeus ocorreu no momento em que eles se envolveram com os indivíduos da nobreza indígena e, destes relacionamentos, geraram filhos mestizos. As pesquisadoras do grupo liderado por Farberman e Ratto analisaram as uniões familiares que promoveram as etno-genesis ou a criação étnica do grupo dos hispanocriollos, filhos de espanhóis e dos mestizos nascidos nas Américas. Esse grupo de mestiços envolvendo espanhóis com nativos ou seus descendentes representam 85% dos casos retratados pela obra.
Para as pesquisadoras do livro, os hispanocriollos constituíram a marca da ambiguidade e da ambivalência já que esses mestizos empregavam estratégias eficazes para reivindicar os benefícios legados a eles, pela ascendência dupla de seus pais. Para os peões comuns, mestizos filhos de espanhóis com índios, e os mulatos, filhos de espanhóis com negros ou filhos de índios com negros, o uso das estratégias de disfarce, segundo sua conveniência e necessidade, foi fator corriqueiro, pois eles faziam uso de roupas e símbolos pomposos ou evocavam a ascensão do pai conquistador para fugir de impostos e tributos e do trabalho compulsório como a encomienda e a escravidão. Nesta mesma lógica, figuravam os criollos e os mestizos de certa nobreza e que formavam a elite proprietária da mão de obra encomendeira e escravocrata e, também, os personagens mesclados dos grupos médios responsáveis pelos ofícios qualificados que promoveram a produção e o consumo de bens nas áreas urbanas e rurais.
Outra característica importante abarcada pela coletânea compreende a própria formação e mobilidade social adquiridas pelos grupos que se auto-reconheceram como hispanocriollos, mestizos e mulatos entre outros. Estes, muitas vezes, produzindo ou se apropriando de novas taxonomias identitárias, procuravam reformular e reconstruir as suas próprias identidades e, ao se afirmarem enquanto grupos sociais, buscavam a distinção entre si, criando e/ou readaptando as hierarquias sociais já existentes.
Também, a formação e a readaptação das identidades destes grupos mesclados, tomados na América espanhola por castas, estavam intimamente ligadas aos processos de ascensão social e econômica vivenciados por eles. Assim, utilizando-se dos simbolismos de poder dos conquistadores ou das próprias sociedades pré-hispânicas, esses hispanocriollos, mestizos e mulatos lançavam mão, por exemplo, do florete e do espadim para justificar a sua posição social e hierárquica.
A contribuição mais relevante deste livro é oferecer ao campo das ciências humanas uma melhor compreensão da pluralidade e da polissemia que marcou e constituiu uma parcela da população americana no período colonial.
1 GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. Trad. Freire d’ Aguiar. São Paulo: Cia das Letras, 2001.
2 Alguns desses estudos são: QUEIJA, Berta Ares y STELLA, Alessandro. (coord.) Negros, mulatos, zambaigos: derroteros africanos em los mundos ibéricos. España, 1999; AIZPURU, Pilar Gonzalbo y QUEIJA, Berta Ares. (coords.) Las mujeres em la construcción de las sociedades iberoamericanas. Sevilla-México, 2004; PAIVA, Eduardo França & ANASTASIA, Carla Maria Junho. (orgs.) O trabalho mestiço: maneiras de pensar e formas de viver – séculos XVI a XIX. São Paulo/Belo Horizonte: Annablume/PPGH-UFMG, 2002; PAIVA, Eduardo França e IVO, Isnara Pereira. (orgs.) Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas. São Paulo/Belo Horizonte/Vitória da Conquista: Annablume/PPGH/UFMG: Edunesb, 2008; PAIVA, Eduardo França; IVO, Isnara Pereira e MARTINS, Ilton César. (orgs.) Escravidão, mestiçagens, populações e identidades culturais. São Paulo/Belo Horizonte/Vitória da Conquista: Annablume/PPGH/UFMG: Edunesb, 2010.
Rangel Cerceau Netto – Mestre e Doutorando em História pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Bolsista da CAPES, Membro do Conselho Editorial da Revista Temporalidades Av. Antônio Carlos, 6627, FAFICH/História, Belo Horizonte, MG, 31270-901, cerceaup@gmail.com.
Na trama das redes – FRAGOSO; GOUVÊA (VH)
FRAGOSO, João e GOUVÊA, M. F. (orgs.) Na trama das redes: política e negócio no império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, 599p. Resenha de: ROIZ, Diogo da Silva. Varia História. Belo Horizonte, v. 27, no. 45, Jan. /Jun. 2011.
Em 2001, o livro O Antigo Regime nos trópicos, constituiu-se num conjunto de resultados inovadores, tanto quanto instigantes, sobre as peculiaridades da dinâmica imperial portuguesa. Entre suas principais constatações, encontravam-se: a) “a importância da dinâmica imperial constituída pelas conexões e interações de diferentes formas sociais, que iam desde a sociedade aristocrática reinol, passando pela escravidão americana, pelas hierarquias sociais africanas e pelas que configuravam o Estado da Índia”; b) a de visualizar as “discussões em voga acerca do processo de formação do Estado Moderno, por meio das quais se questionou o suposto caráter absolutista e/ou centralizado dos impérios ultramarinos português, britânico, dentre outros”; c) a de que “minhotos, açorianos e outros reinóis haviam chegado e se instalado nos trópicos, criando uma sociedade dita colonial, com um universo mental e cultural que lhes era próprio”, quer dizer, “as características de Antigo Regime com a sua concepção corporativa de sociedade”; d) e, enfim, “a compreensão de que tal concepção de mundo constituí-se em um dos pontos de partida desse processo de organização social, havendo ainda vários outros” (p.13-14). Assim, consideravam João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa, ao fazerem um rápido balanço daquele empreendimento, e demonstrarem sua contribuição para a consecução de Na trama das redes. Mesmo que não seja tão direta sua relação com o livro: Conquistadores e negociantes, de 2007, que perscrutou a história e a organização das elites do Antigo Regime nos trópicos, evidentemente, tal projeto contribuiu para o amadurecimento dos resultados que o leitor encontrará em Na trama das redes.
Neste novo livro coletivo, que em muitos pontos dá continuidade ao anterior, O Antigo Regime nos trópicos, há um avanço considerável sobre o tratamento dado a essas e a novas questões, assim como sobre as fontes, os grupos e os indivíduos. A reunião de 16 textos, distribuídos em quatro partes não foi casual. Ela constitui uma bem fundamentada proposta, articulada teórica e metodologicamente entre suas partes. Na primeira, Debates entrecruzados: estados modernos e impérios ultramarinos, encontram-se dois textos, de António Manuel Hespanha e o de Jack P. Greene. Na segunda, Redes e hierarquias sociais no império, há outros cinco, de Mafalda da Cunha, Maria de Fátima Gouvêa, Roquinaldo Ferreira, João Fragoso, e o de Ronaldo Vainfas. Na terceira, O império e seus centros, há mais quatro, de Nuno Monteiro, Maria Fernanda Bicalho, Júnia Furtado, e o de Francisco Cosentino. Na quarta e última parte, Povos e fronteiras imperiais, encontramse outros cinco textos, de Hebe Mattos, Antonio Carlos de Sampaio, Luís Frederico Antunes, Nauk de Jesus, e o de João José Reis.
Todos os trabalhos visam explorar as peculiaridades do Antigo Regime estabelecido nos trópicos, a partir da pormenorização das redes socioculturais e das tramas políticas e econômicas que as compuseram entre os séculos XVI e XVIII. Não por acaso, a “conquista e a organização da sociedade nos trópicos pelos portugueses foram presididas por conjuntos de valores e sistemas de regras vindas da Europa meridional: a concepção corporativa da sociedade” (p.15), amplamente transplantada para as Américas (Portuguesa, e também Hispânica). Daí a importância de se estudar indivíduos e grupos, que se estabeleceram nos trópicos, fazendo amplo uso dessas estratégias para constituírem suas redes sociais, políticas e econômicas, assim como seus desdobramentos culturais ao longo do tempo. Se tal questão foi comum no Antigo Regime, dado que o funcionamento corporativo da sociedade a viabilizava nos trópicos como os autores demonstram, apesar do ambiente favorável, a transplantação desses modelos de sociabilidade, não deixaram de despertar certas resistências, que não se limitaram aos nativos, o que os fez encontrarem respostas e tramas originais para a sua boa execução. E é detendo-se sobre alguns desses exemplos, um dos pontos altos da coletânea, que os ensaios demonstram de que maneira houve a trama de certas redes, vinculando os indivíduos, a projetos de cunho político, econômico, social e até cultural – por darem alguns dos principais contornos ao espaço público e privado, e que, por sua vez, organizariam determinadas formas de sociabilidades entre seus habitantes. Aí se justificaria o estudo de personagens, como: o capitão Manuel Pimenta Sampaio, João Soares (pardo), d. Luis da Cunha, Luis César de Meneses, Manuel Pimenta Tello, dentre outros, que firmaram suas relações sociais nos trópicos, em corporações que formariam tentáculos que se prolongariam no tempo, estabelecendo redes de sociabilidade, cuja função, entre outras coisas, estava em efetuar a manutenção das classes dirigentes nessas terras.
Para levarem a bom termo tal empreendimento, eles fizeram uso de termos como monarquia pluricontinental, que “é entendida como o produto resultante de uma série de mediações empreendidas por diversos grupos espalhados no interior do império” (p.17). Nela se encontraria o reino de Portugal, único a operacionalizar as tramas com os trópicos, e também estaria cerceado por uma só aristocracia e diversas conquistas. Pois, as ramificações dos governos no Novo Mundo, gerando autogovernos, em muitos casos, independentes a centralização metropolitana, “foram veiculadas nas práticas e vontades surgidas no âmbito das relações sociais daquelas mesmas localidades (…) produzidas pela interação de agentes sociais como potentados, escravos minas e crioulos, índios e pardos”. Contudo, mais “importante é perceber que tais práticas e costumes veiculados pelas instituições locais eram reconhecidos em termos do próprio princípio de autogoverno praticado pela monarquia portuguesa” (p.18). Nesse sentido, o “império resulta (…) do processo de fusão da concepção corporativa e da de pacto político, fundamentada na monarquia, e garantindo, por princípio, a autonomia do poder local”. É dentro dessas circunstâncias específicas, que a “monarquia pluricontinental se torna uma realidade graças à ação cotidiana de indivíduos que vivem espalhados pelo império em busca de oportunidades de acrescentamento social e material” (p.19).
Assim caminham os textos de António Hespanha e o de Jack Greene, ao procurarem demonstrar a especificidade do império português nos trópicos. Para o primeiro, este seria definido pela “justaposição institucional, pluralidade de modelos jurídicos, diversidade de limitações constitucionais do poder régio e o consequente caráter mutuamente negociado de vínculos políticos” (p.57), enquanto para o segundo, completando a argumentação do primeiro, para a obtenção do “consentimento e [d]a cooperação daquelas classes, os oficiais metropolitanos não tinham outra escolha a não ser negociar com eles sistemas de autoridades” (p.111), nos quais esse “processo de barganha, tão semelhante ao que caracterizou a formação do Estado nos primórdios da Europa moderna, produziu variações de governo indireto que ao mesmo tempo definiu fronteiras claras em relação ao poder central, reconheceu os direitos das localidades e das províncias a vários graus de autogoverno e assegurou que, em circunstâncias normais, as decisões metropolitanas que afetassem as periferias teriam de consultar ou respeitar interesses locais e províncias” (p.111-12).
A par dessas questões, e dos resultados que oferece de acordo com a ação e a forma de organização dos grupos e dos indivíduos no poder, o texto de Mafalda da Cunha perscruta como se conformaram certas redes sociais em torno dos recrutamentos de governantes no período das conquistas (entre 1580 e 1640), muito semelhante ao que fez Maria de Fátima Gouvêa ao estudar as redes governativas portuguesas, e a maneira como ocorreram as centralidades régias no mundo português (entre 1680 e 1730). Por sua vez, o texto de Roquinaldo Ferreira se deterá sobre as redes de comércio ilegal no mercado ultramarino português (de 1690 a 1750), enquanto João Fragoso irá questionar a forma pela qual se compunham as hierarquias sociais no Rio de Janeiro do século XVIII, por meio da investigação da trajetória do capitão Manuel Pimenta Sampaio. Com o objetivo de rastrearem os vários centros, em torno do império português, Nuno Monteiro reconstituirá a ‘tragédia dos Távoras’, por meio da análise da estrutura de parentesco, das redes de poder e as facções políticas na monarquia portuguesa do século XVIII. Maria Fernanda Bicalho o fará dando ensejo a interpretação das tramas políticas que se formaram em torno dos conselhos, secretários e juntas na administração da monarquia portuguesa e de seus domínios ultramarinos. Ao centrar sua análise na trajetória de dom Luis da Cunha, Júnia Furtado, objetivou vislumbrar a organização geopolítica do novo império luso-brasileiro.
Desnecessário se alongar nos exemplos que são explorados por outros ensaios, visto que eles próprios também fazem parte de uma trama bem articulada pelo conjunto dos textos. Portanto, ao se apoiarem nas sugestões de Barth, Grendi e Levi de que “todos os sistemas de normas são incoerentes, na medida em que estão em contínuo movimento” (p.16), que em seus ensaios os autores procuraram visualizar o impacto desse tipo de movimento contínuo na conformação das tramas políticas e econômicas, ao mesmo tempo formadoras de redes socioculturais e de seus desdobramentos no tempo, assim como de suas dissoluções e reformulações em formas metamorfoseadas, mas nem sempre totalmente novas, pois, alicerçadas sobre ramificações forjadas no passado, que manifestavam a ambição de manter certa continuidade no tempo.
Diogo da Silva Roiz – Doutorando em História pela UFPR, bolsista do CNPq. Professor da UEMS. diogosr@yahoo.com.br.
O outono da Idade Média – HUINZINGA (VH)
HUINZINGA, Johan. O outono da Idade Média. São Paulo: Cosac & Naify, 2010, 656 p. Resenha de: BAGOLIN, Luiz Armando. Varia História. Belo Horizonte, v. 27, no. 45, Jan. /Jun. 2011.
Se confiasses teu barco ao sabor dos ventos, não navegarias para a direção desejada, mas para onde eles te levassem; se jogasses tuas sementes nos campos, haveria a alternância entre os anos bons e ruins. Tu te abandonaste ao domínio da Fortuna: deves submeter-te aos caprichos de tua mestra. Pretendes sustar a rápida revolução de sua roda? Oh, insensato! Então a Fortuna não seria mais a Fortuna.
Boécio, A Consolação da Filosofia
Extraída de A Consolação da Filosofia, de Boécio (livro II, 1), a citação acima repropõe a imagem da Fortuna (Týche) como circular, produzindose desde a História de Heródoto, na qual a Fortuna é roda, que não cessa de girar, alternando, no alto e no baixo, vitoriosos e derrotados, elevados e decaídos, luz e treva, verão e inverno. Johan Huizinga a revisita, a roda da Fortuna, em seu livro O Outono, recolhendo-a nas histórias de Chastellain, Froissard, Eustache Deschamps, Meschinot, Mathieu d’Escouchy, Jean Gerson, Dionísio Cartuxo, Ruysbroeck, Eckhart, Suso, Tauler, assim como nas pinturas dos Van Eyck e de seus sucessores, para a construção de sua história das formas de vida e de pensamento presentes na Borgonha, na França e nos Países Baixos durante os séculos XIV e XV. O cronista assemelha-se a um pintor que traz para o seu quadro certamente um colorido artificial, mas que imita as cores naturais. A moderação implícita na crônica, não sua exatidão, implica que se considerem as diferenças entre aquele tempo e o nosso, dele muito distante. O príncipe era visto de forma esquemática, simplificada e ao mesmo tempo fantástica, sendo o imaginário político do público afetado diretamente pela canção popular e pelo romance de cavalaria.
Não dominando os gêneros retóricos implicados na constituição destes discursos enquanto crônicas, Huizinga, confere a eles um grau de realismo, ainda que reconheça que este seja bem menor que o proposto para o documento oficial utilizado pelo medievalista tradicional. Como media res ou posição intermediária na roda, o mal que para o historiador, seguindo os cronistas, existiu, pode tanto seguir seu curso rumo à sua extinção pelo bem, pela luz, quando o movimento for ascendente, quanto, o contrário, seguir para a escuridão extrema, no descendente, lugar da crueldade, do terror e da miséria. Diante de um mundo mesquinho, cruel e miserável, ao homem medieval, segundo Huizinga, restaram apenas três saídas, três caminhos: o da “renúncia”, o do melhoramento do próprio mundo e o do “sonho” ou da aspiração por um mundo inundado de beleza no qual arte e vida se serviriam mutuamente.
Como ideal de vida bela, a “estética cavalheiresca” traduz-se pelo desfile de belos trajes e sentimentos elevados de honra, nobreza e virtude representados pelo orgulho em enfrentar o perigo. O topos que circula é o do aristoi, o herói despojado, casto, defensor das mulheres a quem honra por amor e cujo exemplo é Jean Le Meingre, le maréchal de Boucicaurt. Degenerando o teatro da vida idealizada por detrás da viseira do cavaleiro, dá-se lugar ao sentimento da vida pastoral, às formas do gênero campestre em que se canta a tranquilidade do bucólico, não sem que se desconsidere ou cesse a imposição da presença da morte ou de sua lembrança recorrente (memento mori) como imagem da deterioração e do apodrecimento. As danças da morte expõem-se quase nunca fantasmagóricas, porque os cadáveres exibem os seus ventres abertos, rindo de escárnio de nobres e plebeus por entre nesgas de carne e vestes pendentes, como na figura da morte no Cemitério dos Inocentes.
Não havendo escapatória à morte, pois seus dignitários escabrosos estão prontos a ceifar toda a inveja, mas também todo orgulho, atenuam-se as fronteiras entre o sentimento religioso e o erótico, que faz do primeiro, dentro dos limites de uma inconveniência proposital, um sentimento vicário. Huizinga vê, no entanto, o cruzamento do erótico com o religioso como “irreverência blasfema para com o sagrado” tornada possível graças às incongruências, aos descompassados do “espírito medieval”. Como exemplo, acolhe o Díptico da Madona de Antuérpia ou Díptico de Melun, pintado por Jean Fouquet, particularmente quanto à representação da Madona, mostrando-a, com um dos seios desnudo e redondo como um pequeno perfeito melão, lívida como o manto branco que recobre seus ombros e costas, deixando à vista o seu colo, alvíssimo, apertado por um corselete muito justo de fino veludo cinzento que se abre na altura de seu diafragma. Para o autor, “apenas uma sociedade totalmente permeada pelo sentimento religioso, e que aceita a fé como algo óbvio, conhece todos esses excessos e degenerações”. Portanto, os inúmeros exemplos, raros na arte, mas corriqueiros nas crônicas de época, de devassidão e desrespeito aos lugares e signos sagrados, não podem ser interpretados como ateísmo, mas como uma forma estranha, controversa, de devoção.
Exprimir o “inexprimível”, eis o que se lia na palavra de São Paulo aos Coríntios, por exemplo: “videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem”. “Ver face a face”, entretanto, não é expressão que deva ser interpretada como designativa de um ato empírico, fruto de um “pensamento causal”, oposto ao “simbólico”, conforme propõe Huizinga. “Do ponto de vista do pensamento causal”, diz Huizinga, o simbolismo é considerado um curto-circuito intelectual. O pensamento procura a conexão entre duas coisas não ao longo das sinuosidades ocultas de seus vínculos causais, mas sim saltando por cima das conexões de causa. A conexão não é um elo entre causa e efeito, mas entre significado e objetivo.
Como metáfora estendida ou continuada, a alegoria é um tropo de pensamento que substitui um pensamento em causa por outro, por relação de semelhança a ele. Por um lado, a construção da representação, como fala e escrita, por outro, uma hermenêutica, ambas reguladas quanto à adequação entre um sentido figurado e um sentido próprio. Adepto aparentemente da visão romântica, segundo a qual a alegoria é vista como artificial e fria, um invólucro vazio e exterior, oposta, portanto, ao símbolo, autorrepresentativo, signo ou manifestação de uma qualidade interior, não nominativa, Huizinga propõe a alegoria como sendo um “simbolismo projetado num poder de imaginação superficial” com “o potencial de ser reduzida a um pedante lugar-comum e ao mesmo tempo reduzir uma ideia a uma imagem”. Mas e a arte? Uma das motivações de Huizinga ao escrever O Outono foi a de perceber como as formas de vida da cultura franco-borguinhã do final do século XV poderiam ser compreendidas a partir da pintura dos Van Eyck, assim como de Rogier van der Weiden e Memlinc, e da escultura de Sluter. Mas entendido pelo autor como um “poslúdio sem fim”, a poluição visual do “estilo flamboyant gótico” revelaria o esgotamento de um sistema de representação formal aliada ao horror vacui, “que dá a cada detalhe uma elaboração contínua, a cada linha, a sua contralinha”.
Como expressão tardia da arte do período, a pintura dos Van Eyck exibe “a imaginação terrena do divino” a partir do mais extremado “naturalismo” consoante às representações textuais a ela contemporâneas, tais como os sermões de Johannes Brugman ou as descrições de Dionísio Cartuxo. Huizinga acredita que a pintura permaneceu na “seriedade dos trípticos e do retrato”, enquanto a “literatura” escancarava “o sorriso voluptuoso da sátira erótica e do horror monótono da crônica”. Refém da “elaboração irrefreada de detalhes”, a pintura torna-se um gênero subordinado ao cômico, ao burlesco, segundo o autor, mas ainda neste terreno, ela é ultrapassada pela palavra.
A pintura do norte do século XV, diferentemente do que acontece com a italiana do Trecento, da época de Giotto, não busca o sentido de coesão dos elementos representados, carecendo de ritmo e perspectiva. Retórica, oratória e poética são vistas pelo autor como temas que passam a comparecer nos escritores franceses do século XV, principalmente, aliando aos antigos cronistas, Chastellain, La Marche, Molinet e outros, os novos representantes de um estilo humanista, como Villon, Coquillart, Henri Baude e Carlos de Orléans.
Enrijecido por uma visão evolutiva de acordo com a história das mentalidades sob a qual não disfarça a teleologia aplicada à produção artística, Huizinga não consegue visualizar a pintura que tanto o encantou como uma máquina retórica para a qual a alegoria, como parte da elocução, é importantíssima, encarecendo pelo ornatus o discurso. É esta máquina, longe de ser um tropeço para o pensamento, que faz circular a metáfora por toda a parte onde a Fortuna se apresente.
Luiz Armando Bagolin – Professor Doutor Docente e pesquisador da área de história da arte Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP, lbagolin@usp.br.
Proteção à natureza e identidade nacional no Brasil – FRANCO (VH)
FRANCO, José Luiz de Andrade; DRUMMOND, José Augusto. Proteção à natureza e identidade nacional no Brasil, anos 1920-1940. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2009, 272 p. Resenha de: MENARIN, Carlos Alberto. Varia História. Belo Horizonte, v. 26, no. 43, Jun. 2010.
A proteção ao meio ambiente é dos temas mais atuais. Diariamente são veiculadas pelos meios de comunicação notícias relacionadas à degradação ambiental registradas em regiões e cidades do Brasil e no mundo. Desde a década de 1980 vemos um número crescente de ONGs propondo ações para amenizar tais impactos sobre populações e ambientes. Numa leitura apressada poderíamos reduzir essa questão ao descaso dos Estados. Entretanto, se a atuação dos governos tem deixado a desejar, vale lembrar que no Brasil, o Estado tem sido o principal indutor de políticas de proteção a natureza. Portanto, torna-se importante compreender a atuação desse Estado frente a essa questão ao longo do tempo.
O objetivo do livro Proteção à Natureza e Identidade Nacional no Brasil, anos 1920-1940, (2009) de José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond, é analisar a atuação de um grupo de cientistas preocupado com a proteção da natureza no Brasil da primeira metade do século XX, os quais tiveram papel importante na elaboração dos primeiros textos normativos sobre essa questão. Se a atuação do Estado não é o foco da obra, sua importância está presente em todo o volume, da incorporação das discussões e implementação dos códigos e leis às contingências impostas pelos interesses privados quanto à exploração dos recursos naturais. Sob essa perspectiva, sem dúvida, o livro oferece um rico debate sobre a constituição do campo de políticas públicas voltadas à proteção da natureza no país.
Com um texto de agradável leitura, articulado com fartas e longas citações das obras dos cientistas analisados, o livro se presta tanto ao público especializado quanto aos interessados de modo geral sobre o tema. O cerne da obra é fruto da pesquisa de doutoramento em História, realizado por Franco na UnB. Parte do conteúdo foi apresentado em forma de artigos em revistas acadêmicas, como Vária História, (n.26, jan.2002 e n.33, jan. 2005), Textos de História (v.12, n.1 e 2, 2004), revista Ambiente e Sociedade (v.08, n.01, 2005), História, Ciências, Saúde – Manguinhos (v.12, n.03, 2005 e v.14, n.04, 2007), dentre outras, já contando com a parceria de Drummond. Desse período de “maturação” eis que emerge uma obra coesa e vigorosa na análise e interpretação que propõe.
O grupo de cientistas e intelectuais estudado pelos autores era constituído pelo botânico Alberto José Sampaio, o jornalista e artista plástico Armando de Magalhães Correa, o zoólogo Candido de Mello Leitão – todos tiveram passagem como professores no Museu Nacional do Rio de Janeiro – e Frederico Carlos Hoehne, que, inicialmente prestando serviços como jardineiro naquele Museu, autodidata em botânica, chegou a acompanhar a Comissão Rondon pelo Brasil. Hoehne, posteriormente fixou residência em São Paulo participando na criação do Instituto de Botânica e do Jardim Botânico. Embora houvesse particularidades quanto às concepções de proteção à natureza entre esses cientistas, um traço que lhes garantiu certa coesão dizia respeito à necessidade de construção de um Estado nacional forte e de uma identidade nacional.
O livro proporciona um instigante passeio pela história da emergência de áreas protegidas, como os Parques Nacionais, em diversas partes do mundo. No índice remissivo presente ao final do volume, temos acesso às diversas instituições, temas, personagens e ao grande número de conferências internacionais ocorridas de fins do século XIX até a primeira metade do século XX; pouco conhecidas e estudadas, constituindo relevante entrada para análise das diversas concepções sobre a proteção à natureza em voga naquele período.
Ressalta-se dessa obra, além da recuperação e exame crítico das discussões e projetos de proteção à natureza do referido grupo de cientistas, a importância de instituições como o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Um espaço de articulação e atuação desses intelectuais na promoção e difusão de pesquisas, capaz de influenciar setores da burocracia varguista sobre a proteção do patrimônio natural, bem como oferecendo apoio e infra-estrutura para a realização da Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, realizada entre os dias 08 e 15 de abril de 1934. Na análise desse evento, Franco e Drummond identificaram duas formas de valorização da natureza que o permearam: o mundo natural como recurso econômico a ser usufruído racionalmente e o seu culto e fruição estética.
Essa análise permitiu aos autores apresentarem de forma abrangente o contexto de circulação de idéias sobre a proteção à natureza, os debates entre “preservacionistas” e “conservacionistas” e a ressonância das diversas conferências, reuniões e encontros internacionais realizados no período e a prática de criação de Parques Nacionais, inspirados no modelo norte americano de Yellowstone (1872). Perceberam que, no Brasil, as discussões entre as concepções de preservação e conservação apareciam de maneira “intercambiáveis”.
Não circunscrito ao grupo analisado, mas partindo dele, Franco e Drummond, estabelecem ligações com instituições e cientistas de outros países e mesmo de período anterior, mostrando como circulavam idéias e concepções de proteção à natureza. O livro apresenta quão relevante foi para o referido grupo, a recuperação do pensamento de Alberto Torres como matriz teórica para pensar a proteção à natureza naquele momento, concebendo-a como bem nacional, e, para protegê-la, a importância de atrelá-la, tanto do ponto de vista científico, como de divulgação, com o processo de construção de uma identidade comum.
Com argúcia e sutileza, os autores perscrutaram o pensamento desse grupo de intelectuais que vinculava preocupações de proteção à natureza e o estabelecimento de reservas naturais a um projeto de construção da nacionalidade, alcançando espaço nas instâncias deliberativas do governo Vargas, mostrando-se, ainda, em sintonia com as discussões, idéias e práticas que vigoravam nos demais países quanto à proteção da natureza.
Outras instituições como o Museu Paulista, a Comissão Geográfica e Geológica e sua seção de Botânica, instalada na Serra da Cantareira, tiveram atuação destacada no Estado de São Paulo. Mesmo com a presença estrangeira característica no âmbito dessas instituições, o brasileiro Edmundo Navarro de Andrade teve atuação relevante, contando com o aval do governo para empreender ações e agindo com cautela para não contrariar os interesses dos grandes proprietários de terras. Traço que revela a importância da compreensão das relações entre as políticas públicas e os interesses privados.
Nesse sentido, é significativo o aspecto apontado por Warren Dean, citado pelos autores, de que muitos funcionários públicos, entravam em conflito com o próprio governo que os empregava “dominados como eram pelos grandes proprietários de terra, cujas premências especulativas, técnicas destrutivas de manejo e zelo por seus direitos de propriedade iriam constituir barreiras à implementação de políticas conservacionistas”. Ou seja, um componente imprescindível que deve ser considerado para compreendermos o processo de formulação, a abrangência e os limites das políticas de proteção ambiental e as relações de poder regidas a partir de interesses privados.
Ao alargarmos um pouco os horizontes dessa obra, chegaríamos á geração de 1830-1870 que teve o romantismo como base para construção de uma idéia de nação e buscou estabelecer os aspectos que caracterizariam o Brasil, dos quais se destacou a singularidade da natureza, processo argutamente analisado por Bernardo Ricupero. Ou o trabalho da historiadora Cláudia Heynemann, sobre a região que viria a ser a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, colocando em evidência o papel da natureza no processo de constituição de um ideal de civilização almejado pela classe dirigente imperial. Com o reflorestamento de tal área, a partir de 1861, a elite política refletia sua proposta de organização do Estado Imperial a partir do ordenamento da natureza.
O grupo estudado por Franco e Drummond se inseriu no contexto político intelectual da época, tendo o seu relativo alcance dado pelo fato de terem relacionado proteção à natureza com a questão da identidade nacional, além de demonstrarem uma sensibilidade romântica em relação ao mundo natural. Nesse aspecto, a análise empreendida por Ricupero poderia dar maior profundidade a essa constatação. Não se trata de precisar e afirmar a valorização da natureza no pensamento romântico do século XIX, mas de problematizar essa sensibilidade como objeto de intervenção política; a classe dirigente imperial, a partir de um programa orientado para produção de obras literárias e historiográficas que dessem conta da articulação dos elementos considerados constituintes da identidade nacional, empreendia um projeto político de afirmação do poder e de construção do Estado nacional. De certa forma, esse projeto político da classe dirigente do Segundo Reinado tornou-se hegemônico, e em grande medida, a concepção de natureza como elemento característico da nação brasileira utilizada pelos cientistas e intelectuais do início do século XX, emerge desse projeto.
O Epílogo “A incompatibilidade entre o desenvolvimento e o uso racional dos recursos naturais” reafirma a importância da obra e dá o tom de intervenção crítica sobre a realidade atual, ao apontar os motivos pelos quais foram pontuais os efeitos dos regulamentos editados nos anos de 1930, dado, sobretudo, pela prevalência do “desenvolvimentismo, como ideologia que galvanizou todos os componentes do espectro político e todos os grupos sociais”. Ideal que ainda apresenta grande vitalidade no discurso político contemporâneo.
A periodização trabalhada pelos autores definiu-se por um momento de reorganização do Estado brasileiro, em busca de eliminar as instituições herdadas da Primeira República, inspiradas no liberalismo, impondo a intervenção de um Estado forte. Questão que, na atualidade, reveste-se de significativa importância, dada a ascensão da política neoliberal no Brasil dos anos de 1990 em diante, e a conjuntura daí decorrente, onde se impõe para o novo século a compreensão dos papéis desse Estado, particularmente, frente à proteção ambiental e exploração dos recursos naturais. Ou seja, a leitura de Proteção à Natureza e Identidade Nacional no Brasil, anos 1920-1940, nos dá o alento necessário para continuarmos pensando alternativas para o modelo político-econômico vigente, ainda calcado no ideal desenvolvimentista excludente e dilapidador do patrimônio ambiental do país.
2 Cf. HEYNEMANN, Claudia. Floresta da Tijuca: natureza e civilização no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura/Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural/Divisão de Editoração, 1995.
Carlos Alberto Menarin – M stre e Doutorando em História Faculdade de Ciências e Letras – UNESP Av. Dom Antonio, 2.100 – Parque Universitário. Assis – São Paulo – 19806-205. menarin@bol.com.br; cmenarin@gmail.com.
A sentinela da liberdade e outros escritos (1821-1835) – BARATA (VH)
BARATA, Cipriano. A sentinela da liberdade e outros escritos (1821-1835). Organização e edição: Marco Morel. S.Paulo: EDUSP, 2009, 936 p. Resenha de: REZENDE, Irene Nogueira de. Varia História. Belo Horizonte, v. 26, no. 43, Jun. 2010.
Não fosse o Brasil um país de heróis equivocados e construídos artificialmente pelas elites governantes, certamente Cipriano Barata seria uma das figuras mais reverenciadas da história do século XIX. Não por mirabolantes atos de heroísmo, antes por sua pertinácia em defesa da liberdade de expressão. Trajetória de lutas que incluiu longos períodos passados na prisão – foram mais de onze anos no total – e a participação direta ou indireta em grandes rebeliões, como a Conjuração Baiana, de 1798, Confederação do Equador, de 1824, na intensa oposição ao governo de Pedro I, nas agitações soteropolitanas do Mata Marotos durante o ano de 1831.
Barata teve notável influência sobre os liberais exaltados com suas idéias avançadas, defendendo veementemente a liberdade de imprensa, a igualdade entre os sexos e o direito de voto para as mulheres, a inserção total de negros e mulatos à cidadania e, a república como forma ideal para o Estado que se projetava naquele momento. Tudo através de sua pena afiada e de sua palavra arrebatadora e apaixonada.
Foi em boa hora, portanto, que o historiador Marco Morel publicou Sentinela da liberdade e outros escritos. Como o próprio organizador adverte, não se trata da coleção completa da produção do jornalista, mas uma reunião de textos que permite uma visão ampla de conjunto de sua obra da vida inteira.
O livro teve uma edição bem cuidada, em capa dura e um estudo introdutório de Morel, contendo dados biográficos, a metodologia empregada na escolha dos textos, uma cronologia, além de fac-similes de alguns números do Sentinela, uma bibliografia completa sobre Cipriano Barata e seu jornal. A obra integra a coleção Documenta Uspiana, organizada por István Jancsó (recentemente falecido) e Pedro Puntoni.
O organizador dividiu a produção barateana em seis conjuntos de escritos, iniciando cada um deles com um comentário explicativo sobre os critérios que nortearam suas escolhas para montar cada um desses conjuntos. A primeira parte se refere à atuação do jornalista baiano nas Cortes de Lisboa, seguindo de sua produção jornalística logo após o retorno ao Brasil; seus escritos no período do primeiro reinado durante o qual esteve encerrado na prisão; o retorno à Bahia e novamente a prisão em 1831; os números do Sentinela que conseguiu publicar no tempo em esteve encarcerado no forte de Villegaignon, durante parte da regência e, finalmente, sua última fase, quando retorna a Pernambuco e consegue publicar, ainda, alguns números do seu jornal.
O volume vem enriquecido com ilustrações dos retratos que existem do jornalista e de seus colegas contemporâneos, reproduções de mapas do território brasileiro e ainda, lindas gravuras com paisagens da Bahia e do Rio de Janeiro da época. Um livro indispensável para aqueles que querem conhecer o Brasil das primeiras décadas do século XIX, pois além de objeto de estudo, o jornal constitui também generosa fonte de referências sobre os primeiros momentos do Brasil, como nação independente.
A introdução de Marco Morel aponta para a importância do conhecimento da dinâmica da imprensa coeva como instrumento de reflexão sobre os elementos iniciais da construção do Estado e da Nação. Elementos estes materializados nas páginas dos jornais, num momento em que a imprensa brasileira encontrava-se em fase de grande atividade, vivenciando a euforia de seus momentos primevos, determinando e dimensionando objetivos, experimentando novas formas de expressão, linguagens, estilos e introduzindo um vocabulário político responsável pela “explosão da palavra pública”. Indica ainda, a importância da primeira geração de jornalistas panfletários – na qual se incluía Cipriano Barata – que foram os agentes articuladores das “redes de sociabilidades”, através da imprensa periódica.
Nascido no ano de 1762, em Salvador, na Bahia, esse notável e incansável jornalista se destacou na luta pela independência e por um Estado nacional baseado na obediência às leis; morreu pouco antes de completar 76 anos em situação de quase penúria. Deixou uma conspícua descendência como Cândido Barata Ribeiro – primeiro prefeito do Rio de Janeiro -, o líder comunista Agildo Barata, o barítono Paulo Fortes e o humorista Agildo Ribeiro, este último ainda atuando na televisão.
Realizou seus estudos superiores em Coimbra, onde recebeu “diplomas de habilitação em Medicina e Matemática” e Filosofia em 1790. Na época de seu retorno ao Brasil já iniciara, na França, a revolução que derrubaria os Bourbons, fato que encheu Cipriano Barata de esperanças que por aqui chegasse logo a mesma onda revolucionária. Por ocasião de sua chegada dedicou-se, sem muito sucesso, à agricultura. Participou da Conjuração Baiana, de 1798, sendo preso e libertado mais de um ano depois. Foi eleito para representar o Brasil nas Cortes de Lisboa no processo da Revolução do Porto.
Octávio Tarquínio de Souza, em seu livro Fatos e personagens em torno de um regime, conta como o jornalista baiano andava pela capital portuguesa, vestido de maneira excêntrica, chamando a atenção de todos: só usava roupas confeccionadas com tecido de algodão grosseiro, genuinamente brasileiro, sapatos de couro cru e, na cabeça, um chapelão de palha. Compareceu assiduamente às sessões das Cortes, sendo notado pelos seus discursos atrevidos e pelo seu destempero de ter chegado às vias de fato com um colega baiano que defendia a continuação do Brasil dependente de Lisboa.
Depois de concretizado seu sonho de um Brasil independente, viu que não poderia descansar, pelo contrário, era hora de estar alerta (era seu brado constante: alerta!) e denunciar as arbitrariedades do novo governo. Era preciso manter-se vigilante contra os surtos absolutistas de D. Pedro I. Recusou de maneira peremptória a cadeira de deputado à Assembléia Constituinte por não confiar minimamente no governo. Em 1823, no Recife, fundou o jornal Sentinela da Liberdade e os seus violentos ataques aos governantes e, especialmente a José Bonifácio, lhe renderam a antipatia de D. Pedro I e um mandato de prisão.
Certa vez, ao responder a provocação de um desafeto sobre se queria ou não ser vassalo de D. Pedro I, disparou com verve e sagacidade: “(…) eu sou e quero ser de muito boa vontade súdito (mas nunca vassalo) de nosso Imperador Constitucional Liberal D. Pedro I. Mas saiba que eu o sou segundo o ajuste feito antes de ser coroado e segundo as promessas que ele fez aos Brasileiros, de ser amigo, defensor perpétuo, Imperador Constitucional Liberal do novo Império, para o qual nós o chamamos voluntariamente. (…) eu sou Leal Súdito e serei sempre com a condição, porém, de ser ele o Chefe do nosso Executivo Liberal, sem invadir por astúcia ou por força de qualquer parte dos poderes que não lhe pertencem, e sem privar o povo de qualquer porção de suas inalienáveis regalias e direitos, nem atentar levemente contra a independência e liberdade do Brasil.” Esta resposta é emblemática das convicções de Barata a respeito do liberalismo que professava e da veemência com a qual defendia a liberdade e o respeito às leis pelos governos constituídos.
Cipriano Barata era claro e direto nos seus textos, mas ao mesmo tempo em que citava os exemplos de grandes heróis da antiguidade, usava de palavras duras contra seus inimigos. Não pestanejava em chamar os jornalistas de oposição de pessoas de “poucas luzes” e “abjeto caráter” e os julgava “sumamente desprezíveis” e “abjetos eunucos”. Por ocasião da resistência das tropas portuguesas na Bahia, bradava de sua Sentinela: “Que é feito dos bigodes? Ora, quem não morreu ponha-se fora, por nossa misericórdia, em camisa e ceroulas. Tornem para Portugal, para serem pasto de piolhos”. Em outro número investe contra José Bonifácio, acusando-o de “imitar tanto as barbaridades do Marquês de Pombal” e perseguir os homens que trabalharam pela independência como o deputado Gonçalves Ledo. Sua palavra contundente lhe causaria todo o tipo de dissabores, mas Barata não esmorecia.
Seus últimos artigos de 1835, escritos em Pernambuco, dois anos antes de seu falecimento, são reveladores da maturidade e da propriedade com que falava das entranhas do poder. Afinal, os homens que agora participavam do governo eram velhos conhecidos seus, seja como adversários, ou como antigos aliados. Muitos deles foram contemporâneos de Cipriano Barata em Coimbra, nas Cortes de Lisboa, e mesmo nos grandes debates na imprensa e na política. Portanto, o jornalista falava do que conhecia. Como observou Morel, Barata faz “uma vigorosa interpretação da sociedade brasileira e de seus grupos dirigentes” e uma apaixonada defesa da república como forma de Estado que, para ele, amenizaria os efeitos deletérios da aristocracia.
O livro organizado por Marco Morel veio reparar uma falha que, Nelson Werneck Sodré há muito já reclamava: “Cipriano Barata aguarda ainda a justiça da História.” Com esta publicação certamente a justiça se fez.
Irene Nogueira de Rezende – Doutora em História pela Universidade de São Paulo e Pós-doutoranda/UFMG Av. do Contorno, 7236/ 302 Belo Horizonte/MG 30110-048 inrezende@uol.com.br.
Napoleão- LENTZ (VH)
LENTZ, Thierry. Napoleão. São Paulo: Editora Unesp, 2008. 179 p. Tradução C. Egrejas. Resenha de: MARTINEZ, Paulo Henrique. Varia História. Belo Horizonte, v. 26, n. 43, Jun. 2010.
Um pequeno volume dedicado a um personagem singular. O “século XIX foi o século de Napoleão”, explica Thierry Lentz, neste livro destinado a conferir maior historicidade à vida deste militar francês, a época napoleônica e as narrativas míticas sobre Bonaparte. Lentz vai além da simples biografia e da história política do século XIX. Ele nos oferece um atualizado guia de iniciação aos estudos napoleônicos. Publicado na França em 2003, o magro volume está organizado com introdução, cronologia, oito capítulos e bibliografia que inclui comentários sobre estudos existentes, livros em francês e outros idiomas, revistas, periódicos e sites na internet. Pouco criativo, o estereótipo da capa conspira contra o conteúdo do livro. Mais um argumento de que é preciso, e melhor, lê-lo.
Lentz ocupou-se em proporcionar esclarecimentos aos leitores para a compreensão da vida e da ação política de Napoleão. Em sua avaliação, estas se tornaram mais complexas devido a inúmeros mitos que pairam sobre Napoleão, suas realizações, sua época e história, e pela instrumentalização que sempre fizeram delas, tanto líderes partidários, quanto escritores, militares e artistas, de pintores a cineastas, na posteridade, desde o exílio, em 1815. O autor sugere percorrer algumas “linhas de reflexão sobre a biografia desse personagem”. Oito capítulos são desfiados em perspectiva cronológica e abordam desde o nascimento biológico, na Córsega do século XVIII, e o do mito Bonaparte, no início do XIX, até a derrocada do imperador dos franceses e do exército de lendas que acossa os historiadores nas universidades. Um Napoleão histórico surgiu apenas na segunda metade do século XX. Escrever a história nos livros parece, assim, mais difícil do que a escrever com as próprias mãos, no tempo e espaço, no mundo dos homens.
Em uma periodização clássica da vida e da trajetória militar e política de Napoleão Bonaparte, os acontecimentos são confrontados com a gestação de relatos fabulosos sobre diferentes lances de sua vida. Estas medições não ocorrem com vistas a um desmascaramento da história. Elas apontam antes para a contextualização e o superfaturamento que o discurso da posteridade fez de aspectos em torno da “formação enciclopédica” de Napoleão, leitor de clássicos gregos e latinos e de filósofos da Ilustração, e da publicação de livros, entre 1789 e 1793 – ensaios filosóficos e políticos, romances e trabalhos técnicos. Um indivíduo que foi legítimo filho do século XVIII, ainda que autor de livros, não adquire automaticamente o estatuto de filósofo das Luzes. Tanto quanto o general político que despontou na campanha da Itália, a partir do chefe militar, do exercício de governo e da diplomacia, do criador de repúblicas, da reforma de instituições, administração de recursos financeiros, e que acalentou o registro simultâneo dessas glórias em jornais, odes e pinturas. A erudição atribuída à expedição ao Egito, em 1798, unindo ciência, política e ação militar não logrou apagar o fracasso na estratégica busca de estrangulamento econômico da Inglaterra e que dera origem a essa campanha malograda.
A unificação das atividades administrativas, sob o grande Consulado, solucionando na prática querelas entre a colaboração e a separação dos poderes de Estado, propiciou a estabilidade política interna na França e, pela primeira vez, em dez anos, a paz externa. As reformas foram tangidas por inúmeras leis e decretos que ordenaram a ação governamental, a organização e a hierarquia administrativa, judiciária, das finanças e da educação. A anistia política e obras para a restauração da atividade econômica reforçariam o poder político pessoal de Napoleão. Em 1804, sem hesitar, foi proclamado Imperador dos franceses. A paz, a ordem e a retomada dos negócios foram fontes de acumulação e de legitimação do poder por Bonaparte. Neste esforço, Napoleão buscou fundir a soberania monárquica e a soberania nacional na figura de Carlos Magno, evocando sua lembrança como unificador do antigo império romano e fundador do novo império franco. Apresentando-se como sucessor daquele, apegou-se aos símbolos políticos do Antigo Regime, como o cetro, a coroa e a espada.
As guerras da França fornecem outra linha de reflexão. Lentz distingue aquelas que foram as guerras da revolução, entre 1792 e 1802, quando os girondinos queriam “levar a liberdade ao mundo”, marcadas pelas disputas ideológicas e militares entre o Antigo Regime e a Revolução. Estas seriam encerradas apenas com o Consulado. Já as guerras da França napoleônica retomaram a secular rivalidade com a Inglaterra, os históricos conflitos diplomáticos na Europa e adicionaram as ambições pessoais de Bonaparte. Entre 1803 e 1815, a guerra foi um instrumento para impor sua política imperial no continente, uma compensação pelo desmantelamento do império colonial. Esta foi uma história de sucessivos decréscimos. Em 1805, houve a destruição da frota francesa e espanhola pelos ingleses, na batalha de Trafalgar. No ano seguinte, teve início o embargo à Grã-Bretanha, visando, novamente, a sufocar o comércio e as finanças britânicas. Este gesto seria incrementado a partir de 1809, quando a revolta popular espanhola colocou fim ao período de vitórias contínuas, desde a Itália até aquela data. Revelou-se, aos olhos do mundo, que Napoleão não era invencível. O último feliz acontecimento político e pessoal veio com o nascimento do herdeiro masculino de Napoleão, em março de 1811. O Grande Exército, montado sobre o sistema de recrutamento, travou as grandes guerras de massas, com longos e contínuos deslocamentos, moral e coragem elevadas. Contudo, ele foi movido pela farta distribuição de aguardente, sempre mal equipado, com os soldos atrasados, dotado de arriscados serviços de saúde, alimentado pela pilhagem das cidades e dos territórios ocupados e a espoliação dos vencidos.
Na França, o Estado napoleônico, piramidal, fundado sobre princípios de autoridade e hierarquia – era o modelo militar – buscava pelo rigor e eficácia obter a centralização governamental, administrativa e social. O poder Executivo forte e concentrado não era, porém, controlável, mesmo com uma administração pouco numerosa. As distancias físicas, as comunicações precárias e limitadas tornavam morosa a transmissão e a execução de ordens governamentais. As administrações locais foram entregues às mãos dos prefeitos, então, ungidos representantes do governo central. Os sucessivos códigos napoleônicos – civil, comercial, criminal, penal, rural – visavam armá-los até os dentes com a força da lei e da justiça do Império. Segundo Lentz, “com sua expansão alcançando até a metade do continente, o Império não poderia ser eficazmente gerido de maneira centralizada”. Dirigir centralmente, governar localmente, foi outra estratégia política do general no comando da França imperial.
Cabe a indagação: como e por que foi vencido? A batalha e a derrota em Waterloo alimentaram a lenda e o desencantamento de Napoleão. Ele seria vencido no apogeu do prestígio e da fama que alcançara, com a expansão geográfica do império, a estabilidade política, a instauração da sua dinastia. Das extremidades da Europa partiram os abalos que fizeram ruir a paz e a ordem napoleônica. Na Espanha e na Rússia o inesperado e surpreendente engajamento popular contra as tropas francesas anunciava que o alvorecer das nações não comportava a ordem militar e diplomática instaurada por Bonaparte. Napoleão foi vitimado pelos seus próprios louros. Ao fecundar a Europa com os trunfos ideológicos e técnicos da revolução francesa, sobretudo, a nação e o recrutamento militar, estes, tão rápida e eficazmente absorvidos em distintas partes daquele continente, foram mobilizados também contra suas tropas invasoras e de ocupação. Em março de 1814, os exércitos coligados ocuparam Paris. Um ano depois, é Bonaparte quem estará na capital da França, reconduzido ao trono. Uma política de “soberania nacional” não agradou a nenhum segmento, recomeçou a guerra. Abdicou, em favor de seu filho, em junho de 1815, mas a saída “Napoleão II” fracassou. Feito prisioneiro dos ingleses, em outubro desembarcou na ilha de Santa Helena, no Atlântico sul. Nela sobreviveu até 1821. Ali seu corpo repousou até 1840, quando foi trasladado para a França e o novo sepultamento foi acompanhado por mais de um milhão de pessoas.
Em Santa Helena, Napoleão começou a reconstruir sua trajetória, carreira e a história do último quarto de século para a posteridade. Na França o consenso anti-napoleônico “quase não tinha raízes populares”. Em pouco tempo surgiu à lenda branca, na pena dos românticos, na geração seguinte à dos protagonistas e que não participara daquele momento, agora, tornado memorável. A “epopéia napoleônica tornou-se assim o pano de fundo da literatura romântica” e dela brotou um “Napoleão do povo”. Este penetrou a sociedade e a glorificação do passado pavimentou o caminho do bonapartismo político, este biombo cênico da dominação burguesa, que marcaria indelevelmente a França e que serviria ainda em muitos outros países europeus ou não. Logo, o personagem e a lenda inspiraram as artes e, já em 1897, o cinema dos irmãos Lumière. Napoleão tornou-se, assim, mais conhecido pelas fantasias da imaginação do que pela pesquisa histórica.
Os distintos legados da época napoleônica ganharam novas expressões no nacionalismo, nas instituições governamentais, nas codificações legais, na relação entre indivíduos e classes sociais em busca de ascensão e supremacia, ao longo do século XIX e mesmo no XX. Este espólio alimenta a diversidade, a instrumentalização e, logo, a necessidade dos estudos napoleônicos também nas universidades. Estes ganharam impulso apenas a partir de meados do século passado. São, portanto, muito recentes e desafiadores.
Este Napoleão de Thierry Lentz contempla os leitores da vida dos “grandes homens” com um texto agradável, fluente e informativo. Apresenta o debate aos iniciantes e alimenta os estudiosos devotados com uma síntese recente e erudita. Milita pelos estudos napoleônicos realizados pelos historiadores profissionais, ou seja, com o exame meticuloso de fontes, conhecimento crítico, novas informações, pesquisas monográficas, comparações, organização e divulgação de documentos e das análises. Unifica a história política ao redor dos atores, contextos e da apropriação social da história, contornando o gênero biográfico ou a microfísica do poder. Alerta, por fim, para o esforço permanente e necessário do estudo e da compilação sistemática do universo napoleônico, sem os quais as sínteses, imprescindíveis, não poderão ser alcançadas com sucesso interpretativo da história.
Paulo Henrique Martinez – Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis Universidade Estadual Paulista Av. Dom Antonio 2100 Assis – São Paulo – Brasil 19.806.900 martinezph@uol.com.br.
Cada um na sua lei: tolerância religiosa e salvação no mundo atlântico ibérico – SCHWARTZ (VH)
SCHWARTZ, Stuart B. Cada um na sua lei: tolerância religiosa e salvação no mundo atlântico ibérico. São Paulo/Bauru: Companhia das Letras/Edusc, 2009, 483 p. SOUZA, Evergton Sales. Varia História. Belo Horizonte, v.25, no.42, Jul. /Dez. 2009.
Stuart Schwartz é, sem sombra de dúvida, um dos mais talentosos historiadores dedicados ao estudo da América Portuguesa na época moderna. Nos últimos anos, como sabemos, tem ampliado para o mundo espanhol o espaço de suas investigações. Neste importante livro, fruto de mais de dez anos de pesquisa, examina o problema da tolerância religiosa em todo o espaço ibero-americano. Seu objetivo é demonstrar a existência de um substrato de tolerância religiosa que não foi sufocado pelas condições hostis do meio católico ibero-americano. A tarefa toma uma forma algo surpreendente, ou contracorrente como diz o próprio autor, ao optar por investigar os indícios desses pensamentos e atitudes tolerantes não em filósofos e teólogos, mas, sobretudo, em homens comuns. Neste sentido, o estudo de Schwartz alinha-se àqueles que procuram demonstrar o papel determinante que homens e mulheres anônimos têm na história. Mesmo quando se trata de uma questão plena de implicações teológicas, que poderíamos julgar terreno de competência exclusiva de teólogos, nota-se que as pessoas simples não deixam de ter sua própria maneira de analisar as coisas. Esta massa de indivíduos não se constitui, portanto, em mera consumidora e reprodutora de ideias.
O livro encontra-se dividido em três partes – Dúvidas ibéricas, Liberdades americanas e Rumo ao tolerantismo – que seguem critérios geográficos e cronológicos. Na primeira parte, o autor se limita ao espaço da península Ibérica dos séculos XVI e XVII; na segunda, trata da América hispânica e lusitana do mesmo período; na última parte, trata do conjunto ibero-atlântico no século XVIII, enfatizando a época do reformismo ilustrado.
Na parte dedicada à península Ibérica, o autor explora as manifestações de tolerância inter-religiosa e inter-étnica. É sem dúvida um dos grandes aportes deste livro para um melhor conhecimento da realidade ibérica. Em países de inquisição, marcados pela intolerância religiosa, a pesquisa de Stuart Schwartz revela um aparente contra-senso: são numerosos os indivíduos que manifestam algum tipo de tolerância em relação aos que pertencem a credos religiosos diferentes. Evidentemente, como o próprio autor chama a atenção, isto não altera o quadro de intolerância institucional no mundo ibérico, mas modifica alguma coisa em nossa percepção acerca das sociedades espanhola e lusitana.
A busca das manifestações de tolerância segue na América o roteiro das populações locais e transplantadas. Daí o interesse do autor pelos índios, africanos e mestiços que compõem estas sociedades e que provocam nela a emergência de novos discursos tolerantes que, não raro, se mesclam aos pré-existentes. Nesta segunda parte do seu estudo, Schwartz faz questão de assumir de modo peremptório sua escolha pelo estudo das “ideias heterodoxas, da dissidência popular e das dúvidas” contestatórias das “ideias universalistas e potencialmente hegemônicas” (p.193). Sobre esta escolha farei adiante algumas observações.
A terceira e última parte é consagrada à engrenagem de um pensamento de tolerância – “tolerantista” – no mundo atlântico ibérico, espécie de ponto de chegada da tese sustentada por Schwartz. O autor procura demonstrar que a tolerância que se vai formando ao longo do século XVIII tem duas fontes principais. Uma mais vinculada aos meios intelectuais europeus que vinha se desenvolvendo desde os tempos de Spinoza e desemboca nos filósofos iluministas do século XVIII. A outra derivava de uma tradição popular de tolerância arraigada nas sociedades ibéricas e ibero-americanas, cuja existência procurou demonstrar nas duas primeiras partes da obra. Estas duas fontes se entreteceram para formar um discurso de tolerância religiosa que colocava em xeque as instituições tradicionais da vida social e política.
A edição é bem cuidada e as poucas gralhas não comprometem a boa compreensão do texto. A tradução para a língua portuguesa está, no geral, bem feita. Nota-se, contudo a presença de alguns problemas. A utilização dos termos “pelagismo” (p.66) e “semipelagista” (p.70) para se referir a pelagianismo e semipelagiano são exemplos disto.
A grande força e novidade do livro residem justamente em sua opção por encontrar nas pessoas comuns os traços de uma resistência tolerantista. Entretanto, esta belíssima pesquisa em nada perderia de sua riqueza caso o autor tivesse se permitido analisar com mais detalhe os traços do tolerantismo no discurso teológico erudito do mundo ibérico. Penso que tal investigação, acompanhada de um exame mais acurado acerca das decisões romanas sobre os temas relativos a estas questões, poderia fornecer ricos elementos para a compreensão acerca da circularidade das ideias nos espaços estudados. Tentarei oferecer um exemplo que deixe claro o meu ponto de vista a este respeito.
Entre os numerosos casos relatados no intuito de mostrar que era recorrente no mundo atlântico ibérico a ideia de que cada um podia se salvar em sua lei, o autor relata a história, ocorrida no Maranhão, em 1696, de um jovem noviço carmelita que sustentava não estarem os índios condenados por Deus em sua gentilidade. Nenhum argumento de doutos teólogos ou de seu mentor carmelita fora suficiente para demovê-lo de sua firme convicção (p.287). Seria muito bom se pudéssemos saber quais as bases da crença do jovem carmelita, mas nem sempre as informações contidas nos Cadernos do Promotor – documentação consultada por Schwartz neste caso – apresentam maiores detalhes. Entretanto, ao estender o campo de observação, como sugiro, é possível colocar o problema em nova chave. Neste caso, seria imperativo perguntar o que motivara o estranhamento diante da opinião do jovem carmelita? Esta questão faz sentido por sabermos que algumas expressões próximas a esse modo de pensar, além de relativamente comuns, contavam com a aprovação da própria Igreja. O jesuíta Simão de Vasconcelos, mencionado no depoimento de um penitenciado da Inquisição de Cartagena, certo Sebastião Damil e Sotomaior, como inspirador de sua maneira de pensar (caso relatado por Schwartz às p.309-312), é um autor importante para uma discussão acerca do assunto. Em suas Notícias curiosas e necessárias das coisas do Brasil (1663 e reimpressas em 1668, acompanhando a sua Crônica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil), Simão de Vasconcelos, que também foi vice-reitor do colégio da Bahia, reitor do Colégio do Rio de Janeiro e provincial dos jesuítas entre 1655-58, sustentou, em relação aos índios, que “todos aqueles que nesta sua gentilidade vivessem, segundo a justa lei da razão, e ditame do bom e honesto, poderiam alcançar de Deus graça e salvar-se”.1 Isto parece mostrar que um jesuíta profundamente implicado no processo de missionação poderia compartilhar de uma visão mais otimista e tolerante em relação à possibilidade de salvação, sem que isto fosse um empecilho para que continuasse o seu fervoroso trabalho missionário entre os índios – ponto de vista que se distancia daquele apresentado pelo autor ao analisar a posição do padre Antônio Vieira (p.174). O argumento teológico do jesuíta funda-se principalmente nas Disputationes scholasticæ et morales de virtute fidei divina, de Juan de Lugo, e no Tractatus de fide, de Francisco Suarez. Sua posição guarda estreita relação com o princípio da ignorância invencível – referido no primeiro capítulo, p.68-70, do livro de Schwartz. Do princípio da ignorância invencível, Vasconcelos resvala para a defesa do que, mais tarde, seria conhecido como “pecado filosófico”, ao afirmar que os homicídios, adultérios, furtos e semelhantes ações cometidas por aqueles que ignoram a existência de Deus não são pecados mortais, nem seus autores são merecedores do inferno, pois como não conhecem a Deus não cometem injúria contra ele. Poderíamos pensar que a circulação de tais ideias estimulou alguns, religiosos e laicos, a adotarem tal percepção tolerantista – à época vista por seus adversários como um excesso laxista.
Já é hora de voltarmos ao jovem noviço carmelita do Maranhão. Algo deve ter ocorrido no campo teológico para que, pouco mais de trinta anos após a publicação da referida obra de Simão de Vasconcelos, sua ideia acerca da não condenação dos índios tenha parecido tão escandalosa aos seus superiores. E de fato ocorreu. Pelo Decreto do Santo Ofício de 24 de agosto de 1690, o papa Alexandre VIII, condenou a doutrina do pecado filosófico. Vez que a Santa Sé pronunciou-se sobre o assunto, é natural que toda opinião contrária seja entendida como heterodoxa.
Ao concentrar seus esforços no exame das manifestações de tolerância religiosa nos homens comuns, Schwartz optou por tratar os problemas teológicos norteadores das posições tolerantes e de suas condenações num único capítulo – o primeiro – no qual, após explicar o que são as tais proposiciones que constituem o conjunto fundamental de fontes para o seu estudo, empreende um esforço de contextualização acerca das disputas no campo das ideias teológicas e morais na Igreja católica moderna. Não obstante a qualidade desta contextualização, insistimos que uma análise comparativa mais detida entre algumas dessas proposiciones e as posições teológicas debatidas por teólogos católicos poderiam mostrar que certas opiniões tolerantes se encontravam no seio da própria Igreja e, mais do que isso, talvez tenham estimulado muito as construções soteriológicas das pessoas comuns. Neste sentido, fica exposta minha divergência em relação ao postulado de que “para alcançar os substratos da tolerância é preciso se aprofundar sob as histórias políticas oficiais e dos dogmas religiosos, que têm dominado o campo da historiografia, e examinar primariamente não o discurso letrado (geralmente controlado), nem a política de reis e governos, e sim os atos e palavras das pessoas que tentavam pensar por si mesmas” (p.365). Sem definir uma ordem de prioridades, talvez o melhor seja sempre estabelecer comparações entre os dois universos que poderíamos chamar, à falta de uma melhor conceituação, de erudito e popular.
Contudo, esta pequena observação feita por um historiador que confessa seu gosto pela história das ideias religiosas, em nada altera a percepção que tenho de estar diante de um grande livro de história, construído com o talento e o rigor metodológico que todos reconhecem em seu autor. Trata-se de leitura importante para todo aquele que quiser conhecer mais sobre a religião e a vida no mundo atlântico ibérico moderno.
1 Cf. VASCONCELLOS, Simão de. Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil e do que obraram seus filhos nesta parte do novo mundo…, Lisboa: A. J. Fernandes Lopes, 1865, v.I, p.CXVI. [ Links ] Sobre Simão de Vasconcellos ver os dados biográficos apresentados por SANTOS, Zulmira C. Em busca do paraíso perdido: a Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil de Simão de Vasconcellos, S.J. In: Quando os frades faziam história. De Marcos de Lisboa a Simão de Vasconcellos. Porto: Centro Interuniversitário da História da Espiritualidade, 2001, p.145-153. [ Links ]
Evergton Sales Souza – Professor Adjunto do Departamento e Programa de Pós-Graduação em História da UFBA, Rua Prof. Aristides Novis, 197. Federação. CEP: 40210-909. Salvador- Bahia, evergtons@yahoo.com.br.
Liberdades negras nas paragens do sul – ALADRÉN (VH)
ALADRÉN, Gabriel. Liberdades negras nas paragens do sul: alforria e inserção social de libertos em Porto Alegre, 1800-1835. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 204 p. VIANA, Larissa. Varia História. Belo Horizonte, v. 26, no. 43, Jun. 2010.
Nenhuma história da escravidão moderna pode prescindir da história dos processos de alforria. Conquistadas ainda na vigência do cativeiro, as alforrias nos desafiam de muitas maneiras: Colocavam em xeque a instituição escravista? Ofereciam, aos libertos, condições efetivas de mobilidade ascendente? Contribuíam para avivar conflitos no “campo negro”, ao beneficiar mais crioulos do que africanos? Ou, inversamente, contribuíam para alargar as expectativas da liberdade, transformando a experiência do cativeiro tanto entre crioulos como entre africanos? Tema de muitos trabalhos recentes da historiografia brasileira, os padrões de alforria constituíram-se em elementos centrais para a compreensão da dinâmica própria da desestruturação da escravidão, cujo marco temporal já não se pode resumir ao ano de 1888. Afinal, a extensão do acesso à alforria no Brasil, sobretudo no período do Império, tornava mais complexa a dinâmica do cativeiro em sociedades nas quais o ideário liberal implantava-se ao lado da manutenção da escravidão.
Liberdades negras nas paragens do Sul relata a história dos processos de alforria e das variadas formas de inserção dos libertos na região de Porto Alegre, nas primeiras décadas do século XIX. Apoiado em notável pesquisa documental, o excelente trabalho de Gabriel Aladrén destaca-se pela originalidade das interpretações, pelo denso diálogo com a historiografia brasileira e internacional, e, não menos, pelo exemplar tratamento metodológico das fontes analisadas. É também inovador, pois ilumina aspectos das liberdades negras em uma região relativamente pouco frequentada nos estudos sobre a escravidão, e até pouco tempo identificada a uma visão tradicional, que tendia a enxergar o Rio Grande do Sul como território de homens livres, herdeiros dos bandeirantes paulistas, inicialmente, e dos imigrantes açorianos, a partir do século XVIII.
Já no início do século XIX, os dados censitários forneciam argumentos contrários a essa visão tradicional. Se consideramos a capitania do Rio Grande de São Pedro, a população de cor, incluindo-se cativos e libertos, perfazia aproximadamente 39% da população total em 1814. O número impressiona, tanto quanto o impacto das alforrias da região de Porto Alegre e seu entorno propriamente ditos, onde Aladrén localizou um total de 771 escravos libertos entre 1800 e 1835. O perfil geral destes libertos, analisados a partir de suas cartas de alforria, é semelhante ao encontrado em pesquisas de outras áreas escravistas brasileiras: predominavam as mulheres e as pessoas nascidas no Brasil entre os que conquistavam a liberdade; do mesmo modo, as alforrias gratuitas e condicionadas superavam numericamante as manumissões pagas pelo próprio cativo. Os nascidos no Brasil eram também majoritários entre os cativos libertados gratuitamente ou sob condição, evidenciando a presença de relações mais próximas entre os crioulos e seus senhores, que, contudo, não excluíam a ocorrência de conflitos e negociações intensas para a obtenção de tais alforrias.
Embora não majoritária, era também muito significativa a incidência de alforrias pagas na região de Porto Alegre, modalidade na qual os africanos cativos se destacavam como “compradores” da liberdade com recursos próprios. A acumulação de pecúlio em uma área predominantemente rural revela as peculiaridades do contexto considerado por Gabriel Aladrén, no qual o acesso a roças em condições relativamente autônomas certamente contribuiu para a obtenção de recursos empregados na compra da liberdade.
A ênfase do livro recai sobre os libertos, cujas histórias descortinam-se, por vezes, com riqueza de detalhes. É o caso do preto forro Pedro Gonçalves, cuja trajetória pôde ser acompanhada através do cruzamento entre duas das fontes privilegiadas na pesquisa: processos criminais e inventários post-mortem. Por seus bens, Pedro Gonçalves apresentava uma posição incomum para os ex-escravos da região analisada: era proprietário de quatro escravos, um rebanho e uma casa com lavouras. Este caso de ascensão econômica significativa era excepcional e ilumina o caráter mais geral da amostra de forros inventariados analisada no livro. No conjunto 26 forros com inventários abertos, observa-se que dezesseis não possuíam nenhum escravo. De fato, os libertos da região de Porto Alegre dificilmente acumulavam o capital necessário para adquirir cativos. Não eram destituídos de recursos, como nota o autor, mas não apresentavam as condições de maior mobilidade econômica observadas em áreas urbanizadas ou mineradoras do Brasil escravista, que forneciam maiores possibilidades de acúmulo de bens aos ex-escravos engajados em atividades tipicamente urbanas, como o comércio ou a oferta de serviços.
De volta a Pedro Gonçalves, é sabido que um caso excepcional pode ser muito revelador. De acordo com Aladrén, este preto forro experimentou, além da ascensão econômica, uma restrita mobilidade social. Era casado e ocupava-se da lida com o rebanho e a lavoura, condições de relativa estabilidade – familiar e ocupacional – para a ampliação das possibilidades de ascensão social, de acordo com o autor. Outra condição valiosa para a referida ascensão era a manutenção de alianças com as elites locais. Pedro Gonçalves também as obteve, pois, mesmo na condição de forro, permanecia agregado nas terras do capitão Jozé Alexandre d’Oliveira, grande proprietário do distrito do Caí, provavelmente um dos intermediários locais do acesso de Pedro a terras de cultivo, e certamente um dos avalizadores do reconhecimento social conquistado por este liberto em particular.
A redefinição constante das designações de raça e cor era outra condição experimentada por muitos dos libertos da região de Porto Alegre. Nesse sentido, o aparente paradoxo localizado por Aladrén é intrigante à primeira vista: a maior parte dos alforriados pesquisados era constituída de pretos, mas os mapas de população indicavam que a maior parte dos libertos era designada como parda. Como compreender este deslizamento entre as categorias da cor e da condição em diferentes fontes, referentes ao mesmo período e contexto? A resposta a esta questão encontra-se na própria linguagem, racializada e politizada a um só tempo, que o contexto pós-independência contribuiu para disseminar em diferentes regiões do Brasil escravista. O termo preto, que preferencialmente designava os africanos cativos, era mais usual nas cartas de alforria, que traziam informações relativas a uma situação de liberdade ainda recente, na qual as marcas do cativeiro eram muitas vezes mais pronunciadas. O forro recente, africano ou não, tendia a ser designado como preto por ser esta uma qualificação que expressava sua ligação com o mundo dos cativos, com o qual mantinha vínculos possivelmente ainda estreitos, apesar da conquista da liberdade.
No recensseamento de população, pode-se supor, muitos libertos já eram considerados (pelas autoridades que realizavam tais registros) em fases mais estáveis de suas vidas, nas quais o reconhecimento social da condição de livre traduzia-se pela denominação pardo. Mestiços ou não, ao serem qualificados como pardos, tais libertos já apresentavam os sinais de uma inserção social que se transformava, de muitos modos, à medida que a experiência da liberdade se consolidava. Ou, nas palavras do autor, “pretos e pardos rio-grandenses vivenciaram experiências racializadas”, nas quais os designativos da cor remetiam aos múltiplos significados da experiência de tornar-se livre.
A liberdade negra chegou às paragens do Sul também no contexto das guerras de independência hispano-americanas. As Guerras Cisplatinas – disputadas entre os anos de 1811 e 1828 nos limites territoriais do Rio Grande do Sul com o atual Uruguai – mobilizaram parte da população negra escrava e liberta, engajada em campanhas militares nas áreas de fronteira que desafiavam a dinâmica da escravidão. O recrutamento forçado de escravos para a guerra, as promessas de alforria para os alistados nas tropas de José Artigas (no lado uruguaio) e as fugas de cativos para integrar os batalhões são algumas das experiências analisadas no livro, sempre visando compreender os múltiplos sentidos da guerra para os libertos. As conjunturas de guerra na fronteira, particularmente nessa “era das revoluções” que pôs à prova a manutenção do escravismo em terras americanas, criaram oportunidades de inserção e de mobilidade social para muitos pretos e pardos, alargando os domínios da liberdade em meio à retórica da ruptura com o jugo colonial.
O principal mérito do trabalho de Gabriel Aladrén, a meu ver, está na construção de novos argumentos em torno dos múltiplos significados da liberdade no contexto da formação do Estado brasileiro. A solidez da reflexão está explicitada em cada capítulo, convidando o leitor a trilhar os caminhos de uma história social da melhor qualidade.
Larissa Viana – Professora Adjunta do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense Campus do Gragoatá, Bloco O, 5 andar Gragoatá, 24210-370 – Niteroi, RJ – Brasil lviana@urbi.com.br.
Mazagão: a cidade que atravessou o Atlântico – VIDAL (VH)
VIDAL, Laurent. Mazagão: a cidade que atravessou o Atlântico. São Paulo: Martins Fontes, 2008, 294 p. Resenha de: FURTADO, Júnia Ferreira. Varia História. Belo Horizonte, v. 25, no. 41, Jan. /Jun. 2009.
Raiava o dia 11 de março de 1769. Na fortaleza portuguesa de Mazagão, situada no noroeste da África, encravada no Marrocos, cercada pelos mouros, desde cedo os moradores se irmanavam num movimento incomum. Para estes 1642 habitantes, esta data ficará gravada com fogo na memória de cada um, apesar desta praça, desde 1509 sob a posse da Coroa portuguesa, já ter passado pelas mais dolorosas privações. Durante 260 anos, as sucessivas gerações de moradores, vivendo isolados do restante do continente, numa fortaleza debruçada sobre o mar, ao qual se ligavam por uma estreita porta, haviam sido fustigadas pelo isolamento, pela fome, pelas epidemias, pelos conflitos internos, mas também pelo tédio e pela inércia, todos subprodutos da sua reclusão. Mas nada se comparava ao que estava para acontecer. Apesar de todas as dificuldades, ao longo dessa longa jornada, haviam sempre resistido bravamente aos avanços do inimigo infiel. A bandeira portuguesa, que, por dois séculos e meio, com orgulho e a todo custo, mantiveram hasteada na fortaleza, para além da submissão à Coroa portuguesa, também era símbolo de sua bravura, pois fora graças a esta que mantiveram viva a presença do catolicismo numa região dominada pelos hereges mulçumanos. Seus feitos e sua tenacidade repercutiriam ainda por longo tempo na memória dos portugueses.
Porém, nesse dia, um outro capítulo de sua história, bem diferente da tradição de heroísmo precedente, estava para se iniciar. Cercada por 120 mil soldados mouros, sob o comando do sultão Mohamed, ao longo do dia, sob as ordens do rei dom José e de seu poderoso ministro – o marquês de Pombal -, a fortaleza será evacuada de forma definitiva. Em Mazagão: a cidade que atravessou o Atlântico, Laurent Vidal se debruça sobre a saga destas 469 famílias desterradas, cujo destino vai flutuar, ao sabor das ondas, entre a África, Portugal e o Brasil. Premidos pelo contexto de disputa entre Portugal, Espanha e França pelos territórios americanos, a Coroa portuguesa decide trasladar toda a comunidade para os confins da Amazônia e, como peões num tabuleiro de xadrez a serviço da realeza, os mazaganenses vão ser deslocados sob a justificativa do uti possidetis – o direito de posse a quem efetivamente tiver povoado –, o que garantiria o efetivo domínio português das terras entre o norte do rio Amazonas e a Guiana Francesa.
Como acentua o autor, a cidade que atravessa o Atlântico vai ao longo do tempo se desdobrar em inúmeras outras. Com o passar das vagas, a cidade-fortaleza de Mazagão vai se configurando apenas como uma “cidade-da-memória”, cuja identidade guerreira, tão arduamente construída, vai aos poucos se dissolver nas espumas flutuantes do tempo para dar lugar a novas cidades que sintetizam as diferentes experiências vivenciadas pelos moradores na sua trajetória rumo à Nova Mazagão. Inicialmente, tendo perdido suas muralhas, embarcada em 14 naus, a cidade se transforma em “14 bairros flutuantes”, que procuram, balançando no mar salgado, reproduzir a ordem e a hierarquia da fortaleza abandonada. Em seguida, como num rito de passagem, a comunidade de Mazagão, distribuída em inúmeras residências temporárias, é instalada provisoriamente em Lisboa, dispersando-se pelo bairro de Belém. Torna-se uma cidade dentro de uma outra pré-existente, desta feita sem as muralhas que a circundavam. Esta “cidade-alojamento” ou “cidade-transitória” não dura por muito tempo, pois em setembro de 1769 chega então o tempo de uma nova mudança.
Aos poucos, num processo que se arrasta entre 1769 e 1770, “a cidade desmontada atravessa o Atlântico”. Do outro lado do oceano, novamente em caráter provisório, a “cidade-de-muralhas-líquidas” se instala em Belém, porta de entrada da Amazônia portuguesa. Ali, se transmuda na “cidade da espera”, uma cidade-do-vir-a ser, pois não é este ainda o destino final dos mazaganenses. Em Belém, o tempo se alonga e a “cidade-vivida” se altera com o passar do tempo: uns morrem, uns se casam, uns partem, outros nascem. Começa então a última etapa, chega o tempo de se transmudar novamente, para cumprir seu destino final. Em pequenos grupos, embarcados em frágeis canoas, a partir de 1771, a “cidade-em-deslocamento” vai aos poucos sendo conduzida pelo leito do rio Amazonas com destino ao seu novo pouso. Trata-se da cidade de Nova Mazagão, a “cidade-do-futuro”, às margens do rio Mutacá, cujas águas se lançam no Amazonas cerca de trinta léguas ao sul de Macapá, do outro lado da ilha de Marajó. Ali, utilizando-se de mão-de-obra indígena cuja presença se perdeu no tempo, no que se constituiu uma “cidade-sem-rosto”, a Companhia do Grão Pará vinha edificando uma “cidade-imagem”, como “aposta de um futuro possível” para que os mazaganenses-ainda-em-trânsito finalmente se instalassem e vivessem o destino que as autoridades tinham meticulosamente traçado para eles. A antiga cidade-guerreira deve se tornar uma cidade de agricultores-escravistas. Esse é o plano da Coroa, transforma-los em colonizadores para assegurar as fronteiras amazonenses.
Porém a cidade-do-sonho se configura numa dura realidade. A “cidade-de-papel” que as autoridades tinham planejado, ao ser vivida enquanto “cidade-renascente”, gera uma corrente sem fim de tensões e dificuldades. Os neomazaganenses não se ajustam a essa nova configuração. Para eles, trata-se de uma “cidade-purgatório” e coletivamente recusam a identidade amazônica que, artificialmente, as autoridades querem lhes imputar. A “cidade-da-memória” passa, então, a ser constantemente invocada como um passado ideal, “a linguagem perdida de uma sociedade morta”. Segundo o autor, 1783 marca o fim da transmigração da cidade e de sua refundação. Daí para frente, os documentos são escassos e a cidade quase desaparece entre a selva densa que a circunda, como a muralha perdida da Mazagão africana, tornando-se uma “cidade-invisível”, cuja saga em grande parte se perdeu no tempo. Porém, como o estudo revela, na verdade, ao longo dos séculos XIX e XX, se a “cidade-real” foi sendo aos poucos abandonada pelos antigos mazaganenses e seus descendentes, novos moradores vêm se instalar. São remanescentes de escravos, quilombolas, que, desta feita, conferem-lhe uma feição de “cidade-mestiça”. É essa “cidade-amazônica” que o autor visita em seu périplo para reconstruir seu passado e sua memória. Encontra uma cidade-em-festa que, na ritualística da luta entre mouros e cristãos, recria sua identidade atual, reinventa seu passado e projeta seu futuro. Nesse livro, como Homero, inspirado pela musa da História, Laurent Vidal nos revela, de maneira brilhante e instigante, os destinos de Mazagão, uma cidade-odisséia que atravessa o Atlântico.
Júnia Ferreira Furtado – Professora do Departamento e Programa de Pós-graduação em História da UFMG. Av. Antônio Carlos, 6627, Caixa Postal 253. Belo Horizonte – MG- CEP. 31.270-901. juniaf@ufmg.br.
Aleijadinho e o aeroplano o paraíso barroco e a construção do herói colonial – GRAMMONT (VH)
GRAMMONT, Guiomar de. Aleijadinho e o aeroplano o paraíso barroco e a construção do herói colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 320 p. CAMPOS, Adalgisa Arantes. Varia História. Belo Horizonte, v. 25, no. 41, Jan. /Jun. 2009.
O título sugere uma obra literária – a autora é escritora e dramaturga por vezes premiada -, contudo trata-se de Tese em Literatura Brasileira (USP, 2002), com estágio na École de Hautes Études em Sciences Sociales sob orientação de João Adolfo Hansen e de Roger Chartier, seus apresentadores. Guiomar de Grammont tem ainda formação em História e Filosofia, o que define o seu enquadramento metodológico, fundamentado, sobretudo na História Cultural francesa – cujas categorias e o próprio esquema de articular a reflexão dominam boa parte da produção intelectual nas últimas duas décadas no Brasil. Compreende-se também o pendor para o estudo da retórica e da abordagem com o viés político. Assim, Grammont se dirige ao leitor traquejado com tais conteúdos e paradigmas norteados para a realidade histórico/cultural.
Como estudiosa das manifestações artísticas das Minas Gerais não posso deixar de registrar alguns problemas na obra de Grammont. Primeiramente ela dialoga muito com autores de obras esparsas ou até de um único texto, pouco ou nada com aqueles que pesquisam há mais de 20 anos e que possuem uma trajetória importante. É omissa aos trabalhos acadêmicos (dissertações e teses), o que a leva a achar que os estudos sobre o fazer artístico/artesanal foram interrompidos com Barroco, Artes e Trabalho, de C. Boschi (1983), e que depois de Hannah Levy não houve nada digno para ser lido sobre o assunto estampas e modelos. Ora, na Biblioteca do Bispo e os arquivos paroquiais dessa microrregião (Ouro Preto e Mariana) existe acervo expressivo de livros ilustrados que pertenceram às fábricas paroquiais e às confrarias que vêm sendo alvo de estudos sistemáticos por estudantes de pós-graduação. A autora maximiza as referências a Leituras e leitores, de Chartier, com muitas recorrências a Luiz Villalta, permanecendo omissa aos acervos confrariais que indicam a presença dos grandes centros editorais da época.
Como só acredita no que vê empiricamente, à moda de São Tomé, a autora considera que as informações deixadas por viajantes e cronistas, bem como a Memória dos Fatos Notáveis do Vereador de Mariana e a biografia do Bretas foram baseadas em um boato veiculado pela tradição oral: Como “não há nenhum documento que se refira a Antônio Francisco Lisboa como ‘O Aleijadinho’” (p.85) ele é uma construção baseada na memória popular. Será que um aleijado, assinaria documentos colocando tal alcunha?
Tal desapreço à memória e representações coletivas seria sanado com uma consulta a “O mito do Aleijadinho” de Roger Bastide, divulgado em Psicanálise do CAFUNÉ e estudos de sociologia estética Brasileira, de 1941. O enfoque sociológico de Bastide valorizou pontos de conexão entre a tradição oral e os dados históricos. Já naqueles idos de 1941 a origem da mitologização era remetida ao pensamento e à epopéia gregos, que enfatizavam os feitos do herói, distinguindo o artista como um ser especial, de talento raro, um desregrado, que não se submetia às regras válidas para os comuns mortais (Plotino). Dentro dessa visão o artista não tem limites: enfrenta grandes desafios, a fatalidade (heróis gregos, Homero, Mozart, Beethoven, o Corcunda de Notre Dame, Rimbaud, Aleijadinho…); a expiação física e moral é assumida com grandeza, embora possa converter o artista em um mal humorado e incompreendido socialmente. Desse modo, o povo sofredor se identifica nesse artista-herói (no caso de Aleijadinho, mestiço e doente) e em sua via-sacra pessoal.
Pretendendo “desconstruir”, a autora não poupa os que tiveram empreendimentos hercúleos (principalmente Mário de Andrade, Sylvio de Vasconcellos) e estrangeiros como G. Bazin, R. Smith e J. Bury. Aliás, mostra aversão clara à geração heróica do IPHAN, como se ela vivesse alienada e alienando. Entretanto, ela ora “bate” ora “sopra”. Omite Affonso Ávila, organizador de Modernismo, coletânea em que se insere o magistral “Modernismo, uma reverificação da Consciência Nacional”, de Francisco Iglesias. De Myriam de Oliveira destaca texto de 1983, ao invés de sua brilhante tese publicada como O Rococó Religioso no Brasil. Não se o critério para a comparação quando se coteja um texto eventual de Ana T. FABRIS (p. 176), com trabalhos substanciosos que se enquadram dentro do método filológico, que coteja obras realmente datadas com fonte primária e que se empenham em estabelecer datação, características de mestres e respectivos ateliês, técnicas e materiais empregados.
Não obstante o tom pernóstico com aqueles que trabalham em órgãos de inventariação e preservação, vistos como se estivessem (todos eles) em conluio com colecionadores (p.119), a obra é bastante ousada, bem articulada e escrita, tornando-se doravante consulta obrigatória dos estudiosos da área.
Adalgisa Arantes Campos– Professora do Departamento e Programa de Pós-graduação em História da UFMG. Pesquisadora do CNPq, membro do Comitê Brasileiro de História da Arte. Av. Antônio Carlos, 6627, Caixa Postal 253. Belo Horizonte – MG- CEP. 31.270-901. adarantes@terra.com.br.
O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício – GINZBURG (VH)
GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar e Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, 454 p. ROIZ, Diogo da Silva. O labirinto da realidade, os princípios da História e as regras da historiografia. Varia História. Belo Horizonte, v. 25, no. 41, Jan. /Jun. 2009.
Do labirinto de que nos fala o mito (em que Teseu recebe de Ariadne um fio que o orienta pelo labirinto, onde encontrou e matou o minotauro) aos labirintos da realidade, que nos conduz a História e a sua escrita (em função da condição sempre fragmentária dos documentos e dos relatos), as distâncias (a)parecem, até certo ponto, intransponíveis para se determinar o princípio de realidade que deu base e originou cada uma daquelas diferentes narrativas (míticas e históricas). Mas essa condição de distanciamento entre o mito e a história talvez seja apenas aparente. É o que indicou Georges Balandier, em seu livro O dédalo, ao avaliar o processo de elaboração e manutenção de um mito no tempo e interpretar as mudanças drásticas, rápidas e sutis das sociedades (em especial, as contemporâneas), que lhe foi ensejada por meio da análise do mito do labirinto, não deixando de demonstrar as relações e as trocas complexas que se estabeleceriam entre o mito e a história ao longo do tempo. Sem ser indiferente a essa questão, Carlo Ginzburg se pautou no discurso do mito do labirinto, ao apreender a rica metáfora do “fio do relato, que ajuda a nos orientarmos no labirinto da realidade” (p.7), e sua relação com os infindáveis rastros, que as sociedades do passado nos legam em formas (definidas como) documentais. Nessa relação, entre os fios do relato e os rastros do passado, que os historiadores procurariam, de acordo com o autor, contar histórias verdadeiras (ainda que estas possam manter ligações estreitas com o falso), ao construir seu objeto de pesquisa e expor seus resultados sob a forma de uma narrativa, mesmo que peculiar. Para ele, hoje as relações entre verdadeiro, falso e fictício parecem muito mais tênues do que o foram para os historiadores oitocentistas.
Por isso argumenta, entre os quinze ensaios reunidos neste livro (e que foram produzidos entre 1984 e 2005), que há poucos decênios os historiadores passaram a dar maior atenção ao caráter construtivo e dinâmico de sua escrita, componente básico de seu ofício profissional. Alguns rastros dessa história recente do ofício de historiador formam o enredo principal deste livro, que se entrelaçam com a trajetória do autor, porque “a mistura de realidade e ficção, de verdade e possibilidade, est[iveram] no cerne das elaborações artísticas deste século” (p.334) e contra “a tendência do ceticismo pós-moderno de eliminar os limites entre narrações (…) ficcionais e narrações históricas, em nome do elemento construtivo que é comum a ambas, eu propunha considerar a relação entre umas e outras como uma contenda pela representação da realidade”, que seria matizada por “um conflito feito de desafios, empréstimos recíprocos, hibridismos”. Mas para enfrentar tal desafio não era possível se enclausurar em “velhas certezas”, era sim “preciso aprender com o inimigo para combatê-lo de modo mais eficaz” (p.9). Para o autor desse O fio e os rastros, a contenda apontada acima estaria no cerne dos debates desencadeados, desde os anos de 1950, sobre o ofício de historiador, no qual verdadeiro, falso e fictício ganhariam contornos mais híbridos, ao se desfazerem as distinções até então aceitas entre elas, e que se tornaram totalmente enfadonhas para a compreensão do passado, de acordo com a interpretação ‘cética’, dita pós-moderna.
Desde que publicou Olhos de madeira, Relações de força e Nenhuma ilha é uma ilha,1 que Carlo Ginzburg vem, cada vez mais, avançando em sua crítica ao desafio cético sobre o aspecto construtivo do texto histórico, que ao ser apresentado como um discurso narrativo, a crítica pós-moderna o assemelhou ao texto literário, desfazendo, com isso, as distinções até então em voga e que calcavam no primeiro a pretensão à verdade (em função da utilização de fontes documentais, com os quais os historiadores presumiriam reconstituir o passado) e ao segundo a liberdade de criação imaginativa. Neste novo livro, o autor acrescenta os seguintes pontos: a) contar e narrar, servindo-se dos rastros do passado, para escrever histórias verdadeiras continua a ser um dos princípios do ofício dos historiadores; b) as relações entre as narrações históricas e as narrações ficcionais, ora se aproximando, ora se distanciando, é uma contenda que constitui, ao longo do tempo, uma disputa pela representação da realidade, na qual historiadores e romancistas mais se distanciaram do que aproximaram suas narrativas; c) a imposição da tese que descarta a possibilidade de as narrativas históricas apresentarem (ou falarem de) uma realidade, mas sim de quem deixou os indícios que são utilizados como fontes, desaperceberia o caráter profundo mantido nos documentos (mesmo os não autênticos) sobre “a mentalidade de quem escreveu esses textos” (p. 10); d) por isso, ler os testemunhos do passado a contrapelo, como sugeria Walter Benjamin, até para levar em consideração aquilo que não intencionavam expor quem os redigiu “significa supor que todo texto inclui elementos incontrolados” (p.11); e) e, diante das relações entre ficção e realidade, se estabeleceria um espaço representado pelo falso, “o não-autêntico – o fictício que se faz passar por verdadeiro” (p.13), que, de fato, confirmaria-se à existência de uma realidade exterior ao próprio texto; f) nesse sentido, “destrinchar o entrelaçamento de verdadeiro, falso e fictício que é a trama do nosso estar no mundo” (p.14), não deixaria de ser uma das pretensões do ofício dos historiadores (quanto ainda de outros profissionais, mesmo que o façam de formas análogas). E foi seguindo as pistas deixadas pela obra póstuma de Marc Bloch, Apologia da história ou ofício de historiador, que o autor destes ensaios procurou entrelaçar seus textos numa nova defesa da História e de sua escrita. De Lucien Febvre (1878-1956), que figura constantemente em sua obra Relações de força (que é um debate aberto contra a crítica pós-moderna ao ofício de historiador), a Marc Bloch (1886-1944), que aparece neste texto como figura chave, os elos que se estabeleceram durante a trajetória do autor se apresentam de uma forma mais direta com a historiografia francesa. Mas não só com ela, pois, em função de suas origens familiares e educacionais, o autor manterá um débito direto com Arsenio Frugoni (1914-1970), Eric Auerbach (1892-1957), Walter Benjamin (1892-1940) e Arnaldo Momigliano (1908-1987). Além de uma exposição minuciosa sobre o desenvolvimento do ofício dos historiadores e suas contendas, este livro apresenta também o entrelaçamento e os débitos de Ginzburg para com os autores arrolados acima.
Já nos comentários feitos (no apêndice deste livro) à obra O retorno de Martin Guerre, de Natalie Zemon Davis, o autor aproveita para fazer de modo sutil, e até inesperado, uma revisão crítica aos apontamentos expostos por Hayden White, a partir de seu ensaio O fardo da história (publicado em 1966), ao ofício dos historiadores. Mas ao invés de refazer simplesmente o caminho pelo qual White sugeriu os contornos da divergência entre cientistas sociais e críticos literários aos historiadores, quando estes propunham que sua narrativa estaria em um nível médio, epistemologicamente neutro, de a história que escreviam estar entre a ciência e a arte, Ginzburg propôs seu ajuste de contas, demonstrando as relações instáveis que mediariam as trocas recíprocas, nas estratégias narrativas utilizadas tanto por historiadores, quanto por romancistas (e filósofos), a partir do século XV. E ainda, como sugeriu o autor, o leitor poderá ver nestes ensaios produzidos a partir da década de 1980, a gênese do projeto intelectual que deu origem aos textos reunidos neste livro. Por isso, não será por acaso, que se encontre desenvolvida entre os ensaios a proposta de mostrar “como resumos de fatos de crônica mais ou menos extraordinários e livros de viagem a países distantes contribuíram para o nascimento do romance e – através desse intermediário decisivo – da historiografia moderna” (p.319). Um intento justificado ainda pelo fato de o século XX vislumbrar de modo exemplar “a mistura de realidade e ficção, de verdade e possibilidade”, e que esteve “no cerne das elaborações artísticas deste século” (p.334).
Por outro lado, a divergência apontada por White não era recente. Ginzburg demonstra que desde que o gênero histórico surgiu há pouco mais de dois milênios, que as divergências entre o discurso histórico, o literário e o filosófico são recorrentes. Por implicarem, cada qual a seu modo, representações da realidade, filósofos e romancistas acabaram dando pouca atenção ao trabalho preparatório da pesquisa elaborada pelos historiadores, e estes, por sua vez, dedicaram pouca atenção ao caráter construtivo de seu ofício, ao qual é demarcado por uma escrita, que é mediada por uma forma narrativa (ainda que peculiar). De acordo com ele, nas “últimas décadas, os historiadores discutiram muito sobre os ritmos da história [tendo a obra de Fernand Braudel (1902-1985) como base]; [mas] pouco ou nada, o que é significativo, sobre os ritmos da narração histórica” (p.321), com a qual se avolumaram críticas internas (dos próprios historiadores, hávidos por responderem aos céticos) e externas (vindas de críticos literários e filósofos). Por isso, a “crescente predileção dos historiadores por temas (e, em parte, por formas expositivas) antes reservados aos romancistas (…) nada mais é que um capítulo de um longo desafio no terreno do conhecimento da realidade” (p.326). Nesse sentido, Ginzburg responderá a indagação de White (e de François Hartog) se apoiando em Arnaldo Momigliano, ao dizer que:
A recusa, essencialmente relativista, de descer a esse terreno faz da categoria ‘realismo’, usada por White, uma fórmula carente de conteúdo. Uma verificação das pretensões de verdade inerente às narrações historiográficas como tais implicaria a discussão dos problemas concretos, ligados às fontes e às técnicas da pesquisa, a que os historiadores tinham se proposto em seu trabalho. Se esses elementos são desdenhados, como faz White, a historiografia se configura como puro e simples documento ideológico (p.327).
O que ressaltará Ginzburg, lembrando Momigliano, de que os historiadores trabalham com fontes, “descobertas ou a serem descobertas”, e as ideologias contribuem “para impulsionar a pesquisa, mas (…) depois deve ser mantida à distância” (p.328), para que seja mantido o princípio de exposição da realidade, que está na encruzilhada entre a busca da verdade e a criação imaginativa, a que os historiadores estariam, de certo modo, ‘enclausurados’. Esse princípio condicionaria a interligação de todos os momentos do trabalho historiográfico (“da identificação do objeto à seleção dos documentos, aos métodos de pesquisa, aos critérios de prova, à apresentação literária”), aos quais, a redução “unilateral desse entrelaçamento tão complexo à ação imune a atritos do imaginário historiográfico, proposta por White [em Meta-história, de 1973] e por Hartog [em O espelho de Heródoto, de 1980], parece redutiva e, no fim das contas, improdutiva”. Foi precisamente graças aos atritos suscitados pelo princípio de realidade “que os historiadores, de Heródoto em diante, acabaram apesar de tudo se apropriando amplamente do ‘outro’, ora em forma domesticada, ora, ao contrário, modificando de forma profunda os esquemas cognoscitivos de que haviam partido” (p.328). Em resumo, este seria o ponto que uniria os outros quinze ensaios reunidos pelo autor neste livro, e demonstrariam como ao longo do desenvolvimento do ofício de historiador ocorreriam trocas recíprocas no campo estilístico (e, em menor proporção, expositivo dos dados) utilizados pela história, pela literatura e pela filosofia. Embora haja uma interligação entre os textos, verificável facilmente pela maneira como o autor os organizou, tendo em vista uma ordem cronológica crescente de apresentação dos dados do passado e do presente, esta não é totalmente linear como se verá. Ainda assim, dois princípios expositivos seriam plenamente visíveis: a) a do desenvolvimento do método histórico e suas trocas recíprocas com a literatura e a filosofia; b) e, neste movimento complexo, estabeleceria o lugar específico de sua obra nesta contenda, e como se posicionou durante essas últimas décadas. Para ele, a “questão da prova permanece mais que nunca no cerne da pesquisa histórica, mas seu estatuto é inevitavelmente modificado no momento em que são enfrentados temas diferentes em relação ao passado, com a ajuda de uma documentação que também é diferente” (p.334).
Ao evidenciar, no primeiro ensaio, que constatamos como reais os fatos contados num livro de história, como resultado do uso de elementos contextuais e textuais, o autor voltou-se com maior atenção para os textuais, com os quais historiadores antigos e modernos se utilizaram, e por estarem ligados a certos procedimentos literários, que por convenção presumiam estabelecer um ‘efeito de verdade’, em sua narrativa tida como parte essencial de seu ofício. Na Antiguidade Clássica esse componente textual (que daria um ‘efeito de verdade’ no relato escrito), relacionava-se a estratégia então usada de descrever ‘com vividez’ os acontecimentos. Os elos que se estabeleciam neste exercício (narração histórica – descrição – vividez – verdade) constituíam a base da escrita da história na época. Contudo, enquanto neste período, para gregos e para romanos, a verdade histórica se fundava na ‘vividez’ com que os eventos eram narrados, para nós, modernos, o autor dirá que esse efeito é encontrado por meio da utilização e interpretação dos documentos. Para ele, a historiografia moderna nasceria da convergência entre duas tradições intelectuais diferentes, a história filosófica e a pesquisa sobre a Antiguidade. Segundo ele, Momigliano teria notado o início desta mudança, no relato e na prática de pesquisa, no século XVII. Mas Ginzburg a verá no século anterior, por meio da interpretação da obra do italiano Francesco Robortello (1516-1567), que teve, de acordo com o autor, a sensibilidade de descrever parte daquelas alterações. Ao estabelecer o diálogo de Robortello com seus contemporâneos e com os autores da Antiguidade, Ginzburg acredita que demonstrou as raízes de um complexo problema, no qual surgiria à historiografia moderna, ao se distanciar das evidências puramente estilísticas e retóricas, que dariam maior vividez aos acontecimentos narrados, e dar maior atenção às “citações, notas e sinais lingüístico-tipográficos que as acompanham podem ser considerados – como procedimentos destinados a comunicar um efeito de verdade – os equivalentes” (p.37) da ‘vividez’ (a enargeia) na Antiguidade. E que estava ligada a uma cultura baseada na oralidade e na gestualidade, na qual a vividez do relato comunicaria a ‘ilusão’ da presença do passado. Já as citações e as remissões ao texto estarão ligadas a uma cultura dominada pelos gráficos e centrada na escrita, e o passado seria, portanto, “acessível apenas de modo indireto, mediado” pelos documentos. Para o autor foi graças “sobretudo à história eclesiástica e antiquária, [que] a prova documental (…) impôs-se sobre a” (p.38) mera evidência narrativa alcançada pela ‘vividez’ do relato.
A maneira como o francês Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) recolheu de suas experiências de viagem e de suas leituras os ingredientes fundamentais para a elaboração de seus ensaios é, para o autor, um caso exemplar, por que: a) demonstra como nos séculos XV e XVI eram construídas as relações entre ‘brancos’ europeus e ‘índios’ americanos, e, sobre isso, como o autor d’Os ensaios (cuja primeira edição é de 1580) a refez; b) e este transitou entre a ‘vividez’ do relato e a remissão a textos, para a comprovação de seus argumentos (no terceiro ensaio).
O diálogo entre ficção e história (exposto no quarto ensaio) ganhará mais envergadura no século XVII, quando em 1647 na cidade de Paris, Jean Chapelain (1595-1674) passou a avaliá-la em seu texto Sobre a leitura de velhos romances (cuja primeira edição póstuma foi publicada em 1728), ao ter como base o romance Lancelot. A maneira como François de La Mothe Le Vayer (1588-1672), a partir de 1646, tomará partido nesta questão dará ao ensaio um tom detetivesco, principalmente, ao destacar que “uma das tarefas da história é a exposição daquilo que é falso” (p. 90). Para Ginzburg:
Nesse caso, portanto, a distância crítica com respeito à matéria tratada não é obra de Diodoro mas dos seus leitores, sendo o primeiro de todos La Mothe Le Vayer. Para ele a história se nutria não só do falso mas da história falsa – para usar mais uma vez as categorias dos gramáticos alexandrinos retomadas polemicamente por Sexto Empírico. As ficções (…) referidas, e partilhadas, por Diodoro podiam tornar-se matéria de história. Chapelain, que dava um desconto à veracidade de Lívio, entendeu a argumentação do Jugement às ficções (…) de Homero e de Lancelot: ambas poderiam tornar-se matéria de história (p.91).
Mais ainda:
A fé histórica funcionava (e funciona) de modo totalmente diferente. Ela nos permite superar a incredulidade, alimentada pelas objeções recorrentes de ceticismo, referindo-se a um passado invisível, graças a uma série de oportunas operações, sinais traçados no papel ou no pergaminho, moedas, fragmentos de estátuas erodidas pelo tempo, etc. Não só. Permite-nos, como mostrou Chapelain, construir a verdade a partir das ficções (…) a história verdadeira a partir da falsa (p.93).
A partir da análise do milanês Girolamo Benzoni (1519-1570) em A história do novo mundo (de 1565), e suas implicações perante a compreensão do xamanismo e do uso de produtos entorpecedores na Europa, Ginzburg procurou demonstrar, ao relacioná-la a História geral e natural das Índias de Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), cuja primeira edição foi publicada em 1535, e aos débitos comuns destes autores para com Pomponio Mela e Solino sobre os trácios e Máximo de Tiro sobre os cita, que estão, por sua vez, relacionados a Heródoto, não deixa de ser tão surpreendente, quando se visualiza as possíveis raízes mongólicas e orientais dos rituais xamânicos dos citas, cujos autores do século XVI os aproximaram do xamanismo americano. Com isso, o autor observa que o “episódio interpretativo que reconstruí com minúcia talvez excessiva pode ser considerado quase banal: não a exceção, mas a regra” (p.111) para a construção e compreensão de qualquer processo histórico, que é matizado por testemunhos e esquecimentos, trocas recíprocas e inovações (algumas vezes até inesperadas).
A leitura de Eric Auerbach empreendida em Mímesis (obra pioneira, cuja primeira edição foi publicada em 1946) sobre Voltaire, é refeita por Ginzburg (no sexto ensaio) para demonstrar os contextos de ambos os autores e seus respectivos textos, suas leituras e seus débitos, com vistas a indicar como o estranhamento era uma estratégia estilística que Voltaire, inspirando-se em Swift, utilizava-se para propor uma representação sobre a realidade de sua época, na qual a diversidade cultural e religiosa, começava a ser homogeneizada, em função da ação da economia e do mercado mundial. Tal questão demonstraria as metamorfoses sobre a maneira com que Voltaire compreendeu a tolerância, e a forma como Auerbach a despercebeu em sua época.
O texto de Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) sobre a Viagem do jovem Anacársis à Grécia (de 1788) foi utilizado pelo autor (no seu sétimo ensaio) para demonstrar a inatualidade de sua estratégia narrativa, que não foi “nem um tratado sistemático de antiquariato, nem uma narrativa histórica” (p.146), mas teve uma inspiração direta nos antiquários, verdadeiros e falsos, e não nos historiadores que começavam a falar da realeza e de sua autoridade. Mesmo procurando documentar as indicações de seu texto (com mais de 20 mil notas, como lembrará Ginzburg), o trabalho de Barthélemy, em sua “híbrida mescla de autenticidade e ficção” procuraria superar os limites da historiografia existente. Mas durante seu processo de elaboração surgiria um outro texto, Declínio e queda do Império Romano, de Edward Gibbon (1737-1794), que se utilizaria da mesma cultura antiquária que inspirou Barthélemy, e a complementaria com outros elementos, como as idéias filosóficas de sua época, e que o tornariam o fundador da historiografia moderna “por ter sabido fundir antiquariato e história filosófica” (p.153). Nesse sentido, o caminho tomado por Barthélemy, que “propunha a fusão entre antiquariato e romance”, foi uma estratégia, em longo prazo, perdedora, e hoje, para o autor, inatual, mas que nem por isso deixaria de ser “um antepassado involuntário [da etnografia histórica, prática] de antropólogos ou pesquisadores, mais próximos de nós” (p.153).
Para contornar as críticas pós-modernas “de abolir a distinção entre história e ficção” (p.157) ele partiu (no oitavo ensaio) de um caso analisado em escala microscópica, para “decifrar a identificação de Julien Sorel com Israël Bertuccio à luz dessa leitura verossímil” (p.159), da obra, Marino Faliero, de George Gordon Byron (1788-1824), escrita em 1820, para chegar a conclusões análogas. O que na época Lord Byron (forma como era mais conhecido) via como a análise de ‘fatos reais’, para nós pertenceriam ao mundo da ficção literária, mas “justamente porque é importante distinguir entre realidade e ficção, devemos aprender a reconhecer quando uma se emaranha na outra” (p.169). Nesse caso, o exemplo de Marino Faliero permitiria que se observassem os contornos entre realidade e ficção, e as mudanças que se operaram nessa relação, nas primeiras décadas do século XIX, quando a historiografia moderna passará a circunscrever e circunstanciar as regras do método histórico, e a delinear as restrições e diferenças da escrita da história sobre a criação ficcional dos romances.
Ainda seguindo por esses rastros, o autor verá o desafio lançado por Henri-Marie Beyle (1783-1842), mais conhecido como Stendhal, aos historiadores em seu ‘romance’ O vermelho e o negro, que era “uma representação pontual da sociedade francesa sob a restauração” (p.178), e que será, depois, visto como uma construção (puramente) literária, não deixa de ser também um caso exemplar (quando cotejou seu processo de elaboração e a possível data de sua conclusão e publicação). Em especial, porque mostra como o ‘discurso direto livre’ foi descartado pela pesquisa histórica, por não deixar, por definição, traços documentais. Por isso, “um procedimento como o discurso direto livre, nascido para responder, no terreno da ficção, a uma série de perguntas postas pela história, pode ser considerado um desafio indireto lançado aos historiadores” e ao qual o autor acrescenta: “Um dia eles poderão aceitá-lo de uma maneira que hoje nem conseguimos imaginar” (p.188).
No rastro da interpretação de Eric Hobsbawm, em sua autobiografia Tempos interessantes (publicada em 2002), na qual indica uma transição subterrânea em processo, tal qual a que ocorreu durante o período de 1890 a 1970, entre os procedimentos da história dos eventos políticos para a história social, em função das críticas efetuadas pelos historiadores ‘modernizadores’ sobre os ‘tradicionais’ que se deu àquela mudança epistemológica, que Ginzburg se voltará para a gênese da micro-história italiana (no décimo terceiro ensaio). Por Hobsbawm o ter inserido dentro da análise pós-moderna, crítica quanto aos procedimentos da história, que este irá reconstituir o desenvolvimento da micro-história italiana, com vistas a demonstrar que mesmo inserido neste campo de estudo (e não na macro-história econômica e social, defendida por Hobsbawm) não deixou de refutar as críticas dos céticos, pós-modernos. Por isso refez o caminho trilhado pela micro-história, desde os anos de 1970, quando com Giovanni Levi passaram a discutir a questão. Ao mesmo tempo indicou a gênese do termo ‘micro-história’ no campo das ciências humanas. De George R. Stewart (que primeiro se utilizou da noção em 1959) a Luis González y González (que a usou em sua obra Uma aldeia em tumulto em 1968), perpassando pelas obras de Raymond Queneau, Primo Levi, Ítalo Calvino, Andréa Zanzotto, Richard Cobb, Emmanoel Le Roy Ladurie, François Furet e Jacques Le Goff, as reviravoltas das discussões sobre a compreensão do termo foram diversas. E a maneira pela qual a micro-história italiana se desenvolveu foi diversa e independente da maneira como ocorreram as discussões na Inglaterra e na França.
Dito isto, convém destacar que ao lado desta reconstituição da história do ofício de historiador, o autor insere um conjunto significativo de exemplos, para discutir as bases da pesquisa histórica, e responder e refutar as críticas pós-modernas à escrita da história (ao rever os conceitos de verdade, autenticidade, testemunho, provas, documento, narrativa, cientificidade e realidade). Da conversão dos judeus (cap.2) de Minorca em 417-8, que se seguiu à chegada das relíquias de santo Estêvão, descritas por Peter Brown em O culto aos santos (de 1981); as relações (apresentadas no cap.10) entre o Diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu de Maurice Joly (lançado anonimamente em Bruxelas em 1864) e os Protocolos dos sábios de Sião, de 1903, em que uma “refinada parábola política se transformou numa tosca falsificação” (p.209); aos testemunhos individuais que expressavam a única versão sobre acontecimentos traumáticos emitida pelo sobrevivente, o princípio de realidade é o centro da discussão (no cap.11); a maneira como Siegfried Kracauer, em sua obra póstuma História: as últimas coisas antes das últimas, lançada em 1995, na qual o autor estabelece uma reconstrução dinâmica e recíproca entre história e fotografia (e cinema) (no cap.12); até as discussões sobre as proximidades e diferenças entre o inquisidor e o antropólogo na coleta e organização dos testemunhos (cap.14), e as relações entre a feitiçaria e o xamanismo (cap.15), o que se verá será uma discussão que, no rastro da obra póstuma de Bloch, demonstrará, na contramão da crítica pós-moderna, que o princípio de realidade ainda constitui um campo legítimo da pesquisa histórica, e em seu processo construtivo, continua a manter uma ligação estreita entre verdade e provas.
Naturalmente, que pelo que até aqui foi dito, muitos poderão acusar Carlo Ginzburg de ser um (mero) atualizador dos antiquários dos séculos XVII e XVIII. Que seu método expositivo é impreciso, às vezes exagerado, ao apontar continuidades e descontinuidades milenares entre diferentes posturas teóricas, ou entre certos costumes, formas de agir e pensar, dos homens e das mulheres de outrora, como já indicou Perry Anderson,2 ressaltando que a “explicação que ele oferece é convencional e descuidada – pouco mais do que referências genéricas” (p.88). Ao empreender sua resposta ao desafio ‘cético’, dito ‘pós-moderno’, Carlo Ginzburg alerta para a necessidade de maior precisão do método e das pesquisas documentais, as quais favoreceriam a elaboração das ‘provas’, quando expostas em uma narrativa. Talvez seja o que indica, ao dizer que sabendo “menos, estreitando o escopo de nossa investigação, nós esperamos compreender mais”3 Contudo, seu método não passou ileso, mesmo entre os historiadores profissionais,4 o que não quer dizer que sua contribuição tenha sido irrelevante,5 tanto para a renovação dos estudos históricos, quanto para o desafio lançado pela ‘virada lingüística’, nos anos de 1960 e 1970, e que ele avança ainda mais neste livro.
1 GINZBURG, C. Olhos de madeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. [ Links ]
2 ANDERSON, P. Investigação noturna: Carlo Ginzburg. In:. Zona de compromisso. Tradução Raul Fiker. São Paulo: Edunesp, 1996, p.67-98. [ Links ]
3 GINZBURG, C. Latitudes, escravos e a Bíblia: um experimento em micro-história. Revista Artcultura, UFU, v.9, n.15, p.86, 2007. [ Links ]
4 ANDERSON, P. Investigação noturna: Carlo Ginzburg, p.67-98. [ Links ]
5 LIMA, H. E. A micro-história italiana: escalas, indícios e singularidades. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. [ Links ]
Diogo da Silva Roiz– Doutorando em História da Universidade Federal do Paraná. Rua Tibagi, n. 404, Edifcio Aruanã, ap. 100, Centro, Cep. 80060-110. Curitiba/PR. diogosr@yahoo.com.br.
Polémicas intelectuales en América Latina: del “meridiano intelectual” al caso Padilla (1927-1971) – CROCE (VH)
CROCE, Marcela (Org.). Polémicas intelectuales en América Latina: del “meridiano intelectual” al caso Padilla (1927-1971). Buenos Aires: Simurg, 2006. Resenha de: COSTA, Adriane A. Vidal. Varia História, Belo Horizonte, v.23, n.38, p. 643-648, jul./dez., 2007.
A coletânea organizada por Marcela Croce inclui um conjunto de textos que contemplam quatro importantes debates político-intelectuais do século XX na América Latina, marcados por questões polêmicas e por uma intensa “belicosidade discursiva”. O primeiro desses debates, envolvendo espanhóis e hispano-americanos, ocorre no contexto vanguardista dos anos 20, com a publicação do artigo do espanhol Guillermo de Torre, Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica, na revista madrilena La Gazeta Literária, em abril de 1927, no qual o autor, como o próprio título indica, propõe Madri como o meridiano intelectual da América Hispânica. O segundo debate também ocorre nos anos 20 e gira em torno das discussões entre os peruanos José Carlos Mariátegui e Víctor Raúl Haya de la Torre sobre a teoria e a prática do marxismo. O terceiro debate constitui a polêmica discussão entre o argentino Julio Cortázar e o peruano José María Arguedas sobre o indigenismo na literatura, que ocorre entre 1968 e 1971. E, por fim, o “caso Padilla” (1971), que suscitou um polêmico debate em torno do regime de Fidel Castro e sua relação com os intelectuais.
No conjunto, a obra reúne correspondências, poesias, manifestos e artigos que alimentam o debate intelectual com dúvidas profícuas e polêmicas fecundas. Além dessa documentação, o livro traz textos de vários autores que analisam, separadamente, os principais matizes dos quatro debates supracitados.
A introdução é de Marcela Croce, intitulada Polémicas, entredichos y disidencias en América Latina, na qual a autora afirma que, de um modo geral, o que dá o tom polêmico a esses debates é a vontade de criar uma verdade, ou seja, cada intelectual exprime suas razões como definitivas, mesmo quando simula certas concessões ao oponente para terminar desclassificando-o por sua ignorância, seu descuido, sua incapacidade ou sua má fé. O embate acontece quando as “verdades” são questionadas, e, na maioria das vezes, transforma-se no enfrentamento do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, do claro e do confuso. Quando esse ocorre, no afã de defender posições, as acusações ao oponente vêm à tona: incongruente, iconoclasta, ortodoxo, contraditório. São polêmicas, mal-entendidos, questionamentos que marcam o território da “belicosidade discursiva” no campo intelectual latino-americano. É a partir desses argumentos que Marcela Croce organiza a coletânea, ou melhor, uma “antologia de discursos polêmicos na América Latina”.
A primeira parte do livro é dedicada à polêmica do “meridiano intelectual” e traz, na íntegra, o texto de Guillermo de Torre, Madrid, meridiano intelectual de Hispanoamérica. Além disso, apresenta dois pequenos artigos que discutem a questão. No primeiro, Del lado de allá, Pablo Valle analisa um dos pontos mais polêmicos do texto de Guillermo de Torre, qual seja: Madri como o grande meridiano literário para os hispano-americanos, em substituição, principalmente, a Paris. E no segundo, Del lado de acá, Gabriela G. Cedro analisa a reação e o enfrentamento, quase que imediatos, de vários intelectuais hispano-americanos, que proclamam uma relativa autonomia intelectual em relação à Espanha. Além disso, a polêmica sobre o “meridiano intelectual” propicia o debate sobre questões estéticas, artísticas e culturais. Grande parte desse debate está nas páginas da revista ultraista e portenha Martín Fierro (n°.42, junho-julho de 1927), que contém as primeiras declarações belicosas contrárias à proposta do “meridiano”. O tom das declarações dos martinfierristas varia entre a ironia, a zombaria, a seriedade, o desprezo, mas sempre mantendo a coerência dos argumentos. Segundo Cedro, as respostas dos martinfierristas são vistas na Espanha como despropositadas e injuriosas.
O livro traz o número 42 da revista Martín Fierro, que contém os textos/ respostas de Ortelli y Gasset (Jorge Luis Borges e Carlos Mastronardi), A un meridiano encontrao en una fiambrera; Pablo Rojas, Imperialismo baldío; Raúl Scalabrini Ortiz, La implantación de un meridiano anotaciones de sextante; Jorge Luis Borges, Sobre el meridiano de una gaceta; Lisardo Zía, Para Martín Fierro; Ildefonso Pereda Valdés, Madrid, meridiano etc.; Ricardo Molinari, Una carta.
Na seqüência estão organizados os textos com as respostas de vários intelectuais espanhóis às declarações do martinfierristas, que são acusados, entre outras coisas, de arcaicos, retrógrados e desdenhosos. Os textos são publicados na revista La Gaceta Literária, Madri, 1°. de setembro de 1927, n°.17, com o sugestivo título Un debate apasionado; abaixo do título a inscrição: “campeonato para un meridiano intelectual. La selección argentina Martín Fierro (Buenos Aires) reta a la española Gaceta Literaria (Madrid). Gaceta Literaria no acepta por golpes sucios de Martín Fierro que lo descalifican. Opiniones y arbitrajes”.1 Os autores que assinam os textos são: Giménez Caballero, Guillermo de Torre, Ramón Gómez de la Serna, Benjamin Jarnés, Gerardo Diego, Antonio Espinosa, entre outros.
Como a intenção do volume é mostrar as polêmicas e os enfrentamentos nesse debate, foram compiladas também as réplicas dos martinfierristas aos intelectuais espanhóis. A réplica está no número 44/45 de Martín Fierro (ago/nov de 1927), nos seguintes artigos: Buenos Aires, metrópoli, de Santiago Ganduglia; Croquis, de Vizconde de Lascano Tegui; El pez por su boca muere, de M.F. (hijo); Carta a los españoles de la ‘Gaceta Literaria’, de Pablo Rojas Paz; Extrangulemos al meridiano, de Nicolas Olivari. Todo esse debate repercutiu em outras revistas hispano-americanas como Avance, de Havana, e Variedades, de Lima, mas não foi tão intenso como na revista Martín Fierro.
A segunda parte do livro traz o polêmico debate entre José Carlos Mariátegui e Víctor Raúl Haya de la Torre em torno da teoria e da prática do marxismo. O artigo é de Susana Santos, intitulado Polémicas de la ‘pátria nueva’ (1919-1930): ¿peruanizar el marxismo o marxistizar el Peru?, que mostra os principais pontos da polêmica entre os dois peruanos. A autora faz uma boa síntese e procura compreender a polêmica dentro da história peruana, mostrando o contexto político da Pátria Nueva, as lutas camponesas e a “Geração de 20”. Em contrapartida, os documentos anexados são escassos, ou seja, apenas um texto de Mariátegui, Aniversario y balance (Amauta, n°.17, 1928); uma breve síntese do programa da Aliança Popular Revolucionária Americana (APRA); e uma carta de Haya de la Torre para Mariátegui, escrita no México em 1928, que não são suficientes para expressar a intensidade da polêmica.
A terceira parte do livro é dedicada à polêmica Arguedas-Cortázar, que girou em torno do indigenismo na literatura.2 O artigo Entre la tierra originaria y la ciudad de las luces: un problema de ubicación: arriba o debajo de la torre del marfil, de Mariana Bendahan, esclarece a origem da polêmica e os canais nos quais ocorrem o enfrentamento e a “belicosidade discursiva”. Enfim, a autora faz um breve resumo do panorama textual e contextual em que se inscreve a polêmica, com o intuito de mostrar que o debate em torno do indigenismo canaliza outros temas centrais: a relação entre cultura e política, a natureza da função do intelectual na América Latina após a Revolução Cubana, a tensão entre localismo e cosmopolitismo, as posições polares de ambos a respeito do “boom” da literatura latino-americana(Córtazar no centro e Arguedas na periferia).3
A origem da polêmica é uma carta que Cortázar escreve, de Paris, a Roberto Fernández Retamar, em maio de 1967, publicada na revista cubana Casa de las Américas, na qual argumenta que a distância territorial promove benefícios em prol de uma melhor contemplação e entendimento da realidade intelectual latino-americana, e que, por isso, sua literatura possui uma raiz nacional e regional potenciada por uma experiência mais aberta e mais complexa. Arguedas, que não concorda com os argumentos de Cortázar, publica um artigo na revista peruana Amaru (abril-junho de 1968), expondo sua convicção em torno da tarefa do escritor: escrever novelas não é uma profissão, o escritor escreve novelas por amor, necessidade, prazer e não por ofício, ao mesmo tempo em que coloca em evidência a lógica mercantilista do boom na literatura latino-americana.
O livro recolhe, além das cartas, outros textos importantes da polêmica, como a entrevista de Cortázar, concedida à jornalista Rita Guibert para a revista norte-americana Life, em sua versão para o espanhol, em 1969, intitulada Julio Cortázar: fragmentos de las declaraciones recogidas en la nota Creador Solitário; o artigo que Arguedas publica na revista Amaru, nesse mesmo ano, com o título de Inevitables comentários a unas idéias de Julio Cortázar; e os fragmentos do Tercer diário, do livro de Arguedas, El zorro de arriba el zorro de abajo, publicado postumamente em 1971. Em todos os textos selecionados pela autora, fica claro o ponto central que gera e alimenta a “belicosidade discursiva”: o nacional e o cosmopolita como determinantes da prática literária do escritor latino-americano na década de 60.
A quarta parte do livro recupera o debate suscitado pelo “caso Padilla”,4 em 1971, que, segundo Marcela Croce, revela, ao mesmo tempo, um corporativismo intelectual e uma ruptura definitiva de parte da intelligentzia latino-americana com o governo cubano e suas instituições culturais.
A organização dessa parte do livro é a mesma das anteriores, ou seja, artigos breves, que situam o leitor no debate e, em seguida, os textos dos intelectuais envolvidos na polêmica. O artigo de Martín Chadad, Testimonio de partes, o quién es quién, mostra como Padilla deixa de ser um sujeito para tornar-se um caso, um caso que impunha, para muitos, uma nova forma de avaliar e compreender a Revolução Cubana. No outro artigo, El difícil ofício de calcular, o donde me pongo, Verônica Lombardo mostra a dimensão que adquire o “caso Padilla”, em 1971, desde a prisão do poeta até a sua autocrítica. Segundo a autora, o campo intelectual polariza-se e pauperiza-se, anulando qualquer possibilidade de dialética para circunscrever-se na oposição entre o melhor modelo intelectual a ser seguido: ou se é um intelectual crítico ou um intelectual revolucionário.
O “caso Padilla”, segundo Lombardo, permite polemizar não só os caminhos da Revolução Cubana e as formas estéticas da arte, mas também coloca em jogo um debate muito profundo sobre os valores, os alcances e os limites do intelectual, no que diz respeito à sua responsabilidade estrutural na esfera de transformações políticas e sociais. Dessa polêmica participam importantes intelectuais latino-americanos: a lúcida crítica de Ángel Rama, publicada em Cuadernos de Marcha; a posição inicialmente oscilante de Julio Cortázar até sua firme adesão à revolução; a postura esquiva e conciliatória de García Márquez, que permanece fiel a Fidel Castro; a posição controvertida de Mario Vargas Llosa, que culmina com sua renúncia do Comitê da Casa de las Américas e sua ruptura drástica com Cuba.
A resposta dos intelectuais latino-americanos radicados na Europa, e de muitos intelectuais europeus, ao “caso Padilla”, é imediata. A primeira (re) ação é uma carta aberta, Declaración de los 54, endereçada ao “Comandante Fidel Castro”, na qual expressam a preocupação com a detenção de Heberto Padilla. Assinam a missiva Carlos Barral, Simone de Beauvoir, Ítalo Calvino, Fernando Claudín, Julio Cortázar, Marguerite Duras, Hans-Magnus Enzensberger, Carlos Franqui, Carlos Fuentes, Maurice Nadeau, Octavio Paz, Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, Mario Vargas Llosa, entre outros. Uma outra carta, Declaración de los 62, é endereçada a Fidel Castro em 1971, após a autocrítica de Padilla, que, segundo os intelectuais, havia sido forçada. Essa carta não conta com a adesão de Julio Cortázar, que declara posição favorável a Cuba.
Além de compilar as duas cartas citadas acima, o livro reúne também outros documentos sobre o debate em torno do “caso Padilla”: os fragmentos do poema de Padilla, Final del Juego (1968), e o texto com a sua autocrítica (1971); os fragmentos do discurso de Fidel Castro no Primeiro Congresso Nacional de Educação e Cultura (1971); a carta de Mario Vargas Llosa a Haydée Santamaría (1971) e a resposta de Haydée Santamaría; as declarações de García Márquez à imprensa colombiana (1971); a carta de Julio Cortázar a Haydée Santamaría; a opinião de Rodolfo Walsh em Cuadernos de Marcha (n°.49, Montevidéu, 1971); a carta aberta de David Viñas a Roberto Fernández Retamar; e o artigo de Ángel Rama, Una nueva política cultural en Cuba, publicado em Cuadernos de Marcha, n°49.
Enfim, pode-se concluir que o panorama traçado pelos autores da coletânea esboça a história dos intelectuais em quatro momentos diferentes da história latino-americana, amarrados por uma questão recorrente no discurso intelectual: a polêmica. Polemizar significa, entre outras coisas, tentar compreender e traduzir uma época e, ao mesmo tempo, os caminhos do futuro.
Notas
1 CROCE, Marcela (comp.) Polémicas intelectuales en América Latina: del “meridiano intelectual” al caso Padilla (1927-1971). Buenos Aires: Simurg, 2006, p.86.
2 Em termos gerais, o indigenismo, como prática discursiva, tem como referencial a representação do mundo indígena, ou seja, da realidade social, política, econômica e cultural dos povos indígenas da América Latina. Tem seu início em fins do século XIX, com ampla vigência até meados da década de 1960. Para uma concepção crítica do indigenismo na literatura ver CORNEJO POLAR, Antonio. O condor voa: literatura e cultura latino-americanas. Belo Horizonte: UFMG, 2000.
3 Na década de 1960, assistimos ao surgimento do “boom” da literatura latino-americana, em especial dos romances. Nesse período, são produzidos vários livros de grande valor literário, que ganham projeção internacional. O “boom” traduz-se em uma produção bastante original nas letras latino-americanas, tem seu limite temporal circunscrito em torno de figuras como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa e José Donoso. Em apenas seis anos aparecem obras como Rayuela, Cien años de soledad, Sobre héroes y tumbas, La ciudad y los perros, entre outras. O que motiva o “boom”, a nível comercial, além da qualidade literária das obras, é o impulso das editoras (sobretudo européias) e a irrupção da Revolução Cubana, que motiva inúmeros leitores, pelo mundo afora, a conhecerem a literatura, a cultura e a história latino-americana. Ver DONOSO, José. História personal del “boom”. Barcelona: Anagrama, 1972.
4 Heberto Padilla foi perseguido por causa de suas opiniões sobre a Revolução Cubana. Em 1971, Padilla foi preso e fez, ou, como muitos afirmaram, foi coagido a fazer, uma autocrítica, negando tudo que havia dito anteriormente. Isso desencadeou uma onda de protestos da parte de antigos aliados de Cuba, de Jean-Paul Sartre a Mario Vargas Llosa.
Adriane A. Vidal Costa – Mestre e doutoranda em História pela Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte – MG. E-mail: adrianevidal@oi.com.br
[DR]
Semear horizontes: uma história da formação de leitores na Argentina e no Brasil, 1915-1954 – SOARES (VH)
SOARES, Gabriela Pellegrino. Semear horizontes: uma história da formação de leitores na Argentina e no Brasil, 1915-1954. Belo Horizonte: Editora UFMG/ FAPESP, 2007. Resenha de: MISKULIN, Sílvia Cezar. Varia História, Belo Horizonte, v.23, n.38, p. 639-642, jul./dez., 2007.
Semear horizontes: uma história da formação de leitores na Argentina e no Brasil, 1915-1954 analisa com rigor o surgimento da literatura infantil no Brasil e na Argentina, na primeira metade do século XX. O trabalho que agora temos o prazer de ler é fruto da Tese de Doutorado de Gabriela Pellegrino Soares, defendida no Departamento de História da USP, sob orientação da Profa. Dra. Maria Ligia Coelho Prado.
A autora debruça-se sobre a formação da literatura infantil, destacando as semelhanças e diferenças entre os escritores argentinos e brasileiros. Diferenciando-se da literatura produzida para a escola, a literatura infantil constituiu-se em um campo próprio, no qual se buscava a ampliação do público leitor e a democratização do conhecimento por meio das produções e traduções de obras voltadas para o público infantil. O objetivo da pesquisa é compreender os esforços realizados no Brasil e na Argentina para promover a prática de leituras não escolares entre as crianças. As diferenças entre os dois países foram mostradas pelo panorama que Gabriela Pellegrino Soares traçou da rede de ensino primário e de bibliotecas escolares e populares presentes na Argentina desde fins do século XIX, enquanto no Brasil as políticas públicas voltadas à difusão da leitura foram bem mais restritas e efetivaram-se somente no século XX.
Além desta diferença de contexto, Gabriela soube muito bem enfocar o repertório nacional que compunha a literatura infantil em cada um dos países. Na Argentina, muitos escritores se dedicaram a temas nacionalistas e trabalharam em suas obras elementos da história da nação, do folclore e da natureza. Dentro deste grupo a autora apresenta as obras infantis de Ada María Elflein, Alvaro Yunke, Hugo Wast, Rafael Jijena Sánchez, Horacio Quiroga, Guillermo Enrique Hudson e Ana Maria Berry.
Entretanto, o trabalho destaca um outro horizonte na literatura infantil argentina, conformado pela revista Biliken e seu criador Constancio C. Vigil. O objetivo da publicação era a formação da bagagem cultural da criança, que se tornaria no futuro o homem moderno, self-made man. Na revista, ecoavam as idéias da escola nova, que buscava uma progressiva autonomia da criança. Além disso, Biliken era irreverente, jogava com o humor, a imaginação e a estética para valorizar o esforço e a inteligência como forma de ascensão social.
A morte de Constancio C. Vigil em 1954 encerrou uma época na literatura infantil argentina e marcou o recorte cronológico final da pesquisa. Já o recorte inicial do trabalho, 1915, refere-se ao ano de surgimento da coleção “Biblioteca Infantil”, da editora Melhoramentos, a pioneira no Brasil no campo da literatura infantil, que será estudada na segunda parte do livro.
Outro destaque dado por Gabriela Pellegrino Soares à literatura infantil argentina passou pela trajetória de Javier Villafañe, criador do teatro de títeres. Villafañe trabalhava com as dimensões lúdicas, imaginativas e poéticas através da narrativa oral, dialogando também com os princípios da renovação educacional da escola nova. Muitas de suas histórias também acabaram editadas.
No Brasil, o livro enfocou detalhadamente a produção dos escritores Monteiro Lobato e Tales de Andrade. As obras de Tales de Andrade tinham balizas ideológicas, cívicas e educacionais muito bem definidas. A maioria de suas histórias tinha como protagonista uma criança do campo que conseguia, graças aos estudos, tornar-se um “arauto das luzes” em seu meio. Neste caso, o saber letrado significava o progresso para a população rural.
Monteiro Lobato foi um marco no surgimento da literatura infantil brasileira. Ele primou pela elaboração artística nos livros infantis, pois seu objetivo era conquistar novos leitores. Gabriela relaciona as concepções educacionais de Monteiro Lobato com as idéias de Anísio Teixeira, já que Lobato via na escola uma parceira da literatura no projeto de modernização da sociedade brasileira. Anísio Teixeira, por sua vez, foi o introdutor da filosofia de John Dewey no Brasil, que propunha a integração da aprendizagem escolar com as experiências sociais.
Lobato e Teixeira acreditavam que a educação infantil deveria se dar em um “meio purificado”, em que se eliminariam os aspectos nocivos do ambiente social, sem nenhum tipo de violência física ou psicológica. O alvo era incentivar a busca pela melhoria de vida e a integração social das crianças. Em sua minuciosa pesquisa, Gabriela Pellegrino Soares mostrou como as obras de Monteiro Lobato criaram situações de aprendizagem em que se exemplificaram as práticas educacionais de Anísio Teixeira.
A autora também ressalta que os elementos críticos, ateus e irreverentes da obra de Monteiro Lobato encontraram resistências entre certos mediadores culturais, por exemplo, os censores católicos, as autoridades governamentais e até entre certos expoentes da escola nova, como Lourenço Filho e Cecília Meireles.
A segunda parte de Semear horizontes: uma história da formação de leitores na Argentina e no Brasil enfoca sobretudo as mediações e os mediadores culturais, ou seja, indivíduos e instituições que se dedicaram a criar, divulgar ou circular a literatura infantil. Duas mediadoras foram selecionadas pela autora: Gabriela Mistral, escritora chilena, mas com uma importante atuação no campo educacional argentino e mexicano e, no caso do Brasil, a escritora Cecília Meireles. Gabriela Mistral foi professora no ensino público do Chile por duas décadas e atuou nas reformas educacionais de José Vasconcelos no México. Difundiram-se na Argentina suas perspectivas de educação infantil, muito afinadas com as idéias da escola nova. Além disso, em suas obras criou poesias voltadas às crianças, trabalhando com elementos do folclore, do campo e da cultura popular.
Cecília Meireles participou do movimento escolanovista, além de assumir a direção do Instituto de Pesquisas Educacionais no Rio de Janeiro. Fundou a Biblioteca Popular Infantil em 1934, que se tornou o Centro de Cultura Infantil no Rio de Janeiro, com a promoção de inúmeras atividades culturais. Entretanto, em 1937, foi invadido e fechado por ordem do interventor sob o pretexto de possuir em seu acervo um livro de “conotação comunista”: As aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain.
Gabriela Pellegrino Soares também nos presenteia com a apresentação das produções infantis de Cecília Meireles e aproxima sua obra daquela elaborada por Mistral: as duas escritoras valorizavam a sensibilidade e a vivacidade infantis, ao acreditarem que o amor, a alegria e a harmonia estariam no cerne das atitudes voltadas às crianças. O livro não deixa de apontar as diferenças entre elas, já que Cecília Meireles combatia o ensino religioso nas escolas brasileiras, enquanto que Gabriela Mistral tinha uma formação cristã.
Ao destacar instituições culturais que foram mediadoras das leituras infantis, Gabriela Pellegrino Soares elegeu duas bibliotecas modelares: a Biblioteca Nacional de Maestros, de Buenos Aires, cuja seção infantil foi fundada em 1916 por Leopoldo Lugones, e a Biblioteca Infantil de São Paulo, criada em 1935, durante a gestão de Mário de Andrade no Departamento de Cultura de São Paulo, e dirigida por Lenyra Fracarolli.
Ao analisar o acervo, os funcionários e o ambiente das bibliotecas, além da freqüência das crianças às mesmas, o objetivo do trabalho foi constatar como as bibliotecas participaram da criação de repertórios culturais e da construção de atividades sociais junto ao público infantil, ao visar sua formação moral e intelectual e a democratização do acesso aos livros. Na visão da autora, as duas Bibliotecas foram formas de realização de ações de modernização cultural por parte do Estado, perante a sociedade da época, já que divulgaram um determinado repertório e também contribuíram para a internalização de atitudes e de princípios morais e estéticos nas crianças.
Por último, analisa as concepções editorais da Melhoramentos, cuja coleção “Biblioteca Infantil” foi dirigida por Lourenço Filho. Por meio da análise de seus pareceres, Gabriela Pellegrino Soares pode ricamente nos mostrar o papel de destaque que a literatura infantil ocupou nesta editora, já que Lourenço Filho acreditava que as obras infantis deveriam complementar o papel da escola. A autora destacou como o diretor da coleção tinha restrições aos contos de fadas e também as depurações que fazia com os contos da tradição oral popular. Como as obras infantis sempre passavam pela leitura de um educador antes de chegar nas mãos das crianças, o objetivo de Lourenço Filho era conquistar a confiança dos mediadores culturais, para finalmente chegar às crianças de forma criativa e recreativa.
Ao realizar uma extensa e exaustiva pesquisa em diferentes tipos de fontes raramente examinadas,1 o livro de Gabriela Pellegrino Soares proporciona aos leitores do início do século XXI um olhar esclarecedor das concepções intelectuais, educacionais e literárias que guiaram os diversos agentes e instituições que buscaram conformar um campo da literatura infantil no Brasil e na Argentina na primeira metade do século XX. Trata-se de uma contribuição fundamental para pensar as diferenças e semelhanças que certas vezes distanciaram e muitas outras aproximaram a história dos dois países vizinhos na América Latina.
Nota
1 Walter Benjamin dedicou-se em alguns trabalhos a analisar livros infantis. Veja: BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Trad. de Marcus Vinicius Mazzari. São Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2004.
Sílvia Cezar Miskulin – Doutora em História pela Universidade de São Paulo – USP. Pós-doutoranda em História/ Universidade de São Paulo/ bolsa FAPESP. E-mail: silmiskulin@uol.com.br
[DR]
Territórios de mando: banditismo em Minas Gerais, século XVIII – SILVA
SILVA, Célia Nonata da. Territórios de mando: banditismo em Minas Gerais, século XVIII. Belo Horizonte: Crisálida, 2007. Resenha de: ROMEIRO, Adriana. Varia História, Belo Horizonte, v.23, n.37, p. 237-240, jan./jun., 2007.
Originalmente escrita como tese de doutorado, defendida no Programa de Pós-Graduação do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, o livro Territórios de mando – banditismo em Minas Gerais, século XVIII debruça-se sobre um campo raramente explorado pela historiografia mineira: a vasta região rural da capitania, dominada por potentados e poderosos locais, perdidos em meio às lonjuras de um sertão inóspito e distante. Poucos foram os estudiosos que se aventuraram por esse verdadeiro continente indevassado, a exemplo de Bernardo da Mata-Machado1e, mais recentemente Carla M. J. Anastasia, num trabalho pioneiro sobre as turbulentas zonas de fronteira, intitulado A geografia do crime.2 Ao contrário do enfoque predominante na historiografia sobre o Setecentos mineiro, voltada para o universo das vilas e arraiais, a urbanização restringia-se a uns poucos núcleos populacionais, para além dos quais abria-se, imenso e inquietante, o sertão.
Filiada às novas tendências historiográficas, a autora se propõe a examinar a configuração política peculiar que floresceu à roda dos grandes potentados sertanejos, responsáveis pela constituição de vigorosos pólos de poder privado, que, ao longo de todo o século XVIII, minou insidiosamente as sucessivas tentativas da Coroa portuguesa no sentido de estender os seus tentáculos por toda a capitania. Afinal, como se dava o exercício do poder e do mando entre esses homens, tidos freqüentemente por facinorosos e rebeldes? Que valores pautavam o imaginário político deles? Ao longo da pesquisa, Célia Nonata da Silva descobre uma cultura política singular, profundamente marcada pelas concepções barrocas do Portugal restaurado, reinventadas no contato com as tradições locais. Mestiça, essa cultura política estruturava-se em formas de mando complexas, que estavam longe do estereotipo fixado pelos contemporâneos, que viram nelas tão-somente a expressão de uma violência irracional, típica do cenário bárbaro em que supostamente viviam os sertanejos.
Encarnando um poder que fustigava a Coroa, contra a qual empreenderam uma tenaz e bem-sucedida resistência, os potentados dominavam vastas extensões de terra – os chamados territórios de mando -, nos quais eram reconhecidos como chefes políticos legítimos, e por essa razão, obedecidos e respeitados por um número expressivo de moradores. Um exemplo disso é a situação inusitada em que se viu o Conde de Assumar, por ocasião do motim de Barra do Rio das Velhas, obrigado a enviar bandos para informar a população local de que ela devia obediência e vassalagem ao rei de Portugal e não a Manuel Nunes Viana. Apesar disso, este último continuou a reinar soberano e absoluto na região, desafiando acintosamente os esforços desesperados do governador para estabelecer ali o poder público.
Ao carisma destes potentados, somavam-se práticas de dominação que se traduziam sob a forma de ritos de violência específicos, como o recurso à vingança, a valorização da honra, a exibição de signos de virilidade, como a valentia, a bravura e o desafio, dos quais resultou um exercício de poder marcadamente privado, refratário, em alguns casos, à negociação, em outros, abertos à transação. Em torno deles, gravitava uma complexa rede de solidariedades, de que faziam parte escravos, forros, homens livres e pobres – e por vezes, as próprias autoridades locais – organizados em bandos armados, dispostos a executar os desígnios dos chefes locais, engalfinhados na luta pela expansão de seus territórios de mando e nas contendas entre famílias.
O principal mérito do livro reside no estudo sistemático da lógica e racionalidade do poder privado, buscando apreendê-lo como uma outra forma de exercício de poder, e não como mera negação da ordem pública. Dele emergem potentados a um só tempo fascinantes e perturbadores, como o contrabandista Mão de Luva, líder de uma quadrilha que aterrorizou por anos a Mantiqueira, ou o já mencionado Manuel Nunes Viana, que se valia de crenças mágicas africanas – como o ritual do corpo fechado – para controlar as populações da Barra do Rio das Velhas. Situados numa zona cinzenta, nos tênues limites entre a ordem e a desordem, os poderosos do sertão resistem à tipologia simplificadora proposta por Eric Hobsbawm em seu clássico Bandidos, cujo objeto são os indivíduos considerados criminosos pelo Estado. O caso dos potentados mineiros é muito mais complexo: se desafiavam as leis de Sua Majestade, perpetrando toda sorte de crimes e violências, ainda assim era os seus mais valiosos aliados, os únicos capazes de impor alguma ordem em meio às lonjuras da América. A este respeito, é bem reveladora a trajetória de Manuel Nunes Viana – que nada tinha de extraordinária ou excepcional, se comparada à de outros potentados. Tido pelos contemporâneos por um dos mais homens mais experientes nas matérias relativas ao sertão, investido de uma autoridade reconhecida pelos sertanejos, o chefe emboaba era, na opinião de um ouvidor do Rio das Velhas, o único indivíduo capaz de levar alguma ordem àquele “receptáculo para criminosos de toda a América”. Endossando esta idéia, o marquês de Angeja tecia-lhe elogios em carta ao rei, observando que “é certo que o dito Manuel Nunes Viana não só é o homem mais capaz que tem aqueles distritos, tanto para fazer o cabal informe que se lhe manda, e executar as ordens de V. Majestade fazendo-as observar e respeitar como devem ser; mas é o único que atualmente dá cumprimento ao que se lhe mandam, e faz ter em sossego e respeito o distrito, que se lhe tem assinado como sua capitania mor, sossegando-a e limpando-a dos ladrões todas as vezes que aparecem alguns por aqueles distritos…”.3 Existia mesmo, no início da década de 1710, um consenso generalizado entre os funcionários régios sobre o seu papel estratégico nos sertões distantes e, mesmo os inimigos, a exemplo do conde de Assumar, reconheciam que, não obstante seus excessos e tiranias, ele era uma figura respeitada e obedecida nos territórios distantes do controle da Coroa. Sensíveis à importância do conhecimento acumulado por estes potentados, verdadeiros depositários de um saber essencialmente sertanejo, que abrangia desde as condições ecológicas até a índole dos moradores, os sucessivos governadores-gerais sempre os tiveram em altíssima conta, encarregando-os de uma série de diligências relevantes nos confins da capitania.
O caráter ambíguo das relações entre os poderes público e privado é refutado veementemente pela autora, que vê nos potentados e poderosos do sertão o foco de um poder privado, a serviço de interesses particulares – e por essa razão, incompatível com as exigências das autoridades. Aliás, mesmo essas, como a própria autora admite, submeteram-se ao processo de privatização do poder, transformando-se também em pólos de poder concorrente, capazes de prejudicar – e mesmo subverter – a soberania portuguesa em terras mineiras.
Atenta às formas de expressão e consolidação da ordem privada, a autora opta por não esmiuçar o outro pólo do exercício político dos chefes sertanejos: a comunidade que a eles devotava respeito e admiração. Para além do nível mais imediato de capangas, caboclos e escravos, configurando os bandos armados, havia largos setores da população que os reconheciam como uma liderança política legítima e absoluta. Tudo indica que, nas paragens distantes em que a Coroa não havia instalado o seu aparato administrativo, a ordem privada desempenhava um papel decisivo no cotidiano miserável dessas populações, uma vez que proporcionava desde o exercício da justiça e a solução dos conflitos vicinais até a cura de doenças e o auxílio a doentes e inválidos.
Campo vasto, mas árduo, o tema do poder privado nos sertões mineiros esbarra em inúmeras dificuldades, sendo a principal delas o fato de que as fontes disponíveis reproduzem o olhar das autoridades e por essa razão tendem a mascarar a natureza complexa da ordem privada, reduzindo-a à mera violência e barbárie. Se os potentados não tiveram direito à palavra, o mesmo também aconteceu com os seguidores deles: sociedade de analfabetos, não legaram aos estudiosos relatos mais densos sobre as suas motivações políticas. É através do olhar enviesado dos seus detratores que o historiador tem de adentrar no imaginário político desses homens, buscando nas entrelinhas as pistas e indícios das idéias e práticas que floresceram no sertão.
Por fim, é preciso elogiar a bela edição da Crisálida – cuja única restrição é a falta de uma revisão cuidadosa -, com um destaque especial para a sugestiva capa, inspirada numa xilogravura de Arlindo Daibert. A promissora editora firma-se assim como mais um veículo de publicação que se abre às numerosas e competentes dissertações de mestrado e teses de doutorado que, a exemplo do trabalho de Célia Nonata da Silva, tem revigorado a historiografia mineira.
Notas
1 MATA-MACHADO, Bernardo Novais da. História do sertão noroeste de Minas Gerais (1690-1930). Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1991.
2 ANASTASIA, Carla M. J. A geografia do crime: violência nas minas setecentistas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
3 Ambos os documentos foram citados por RUSSELL-WOOD. Manuel Nunes Viana: paragon or parasite of Empire? The Americas, April 1988, v.37, p.488-489, n.4.
Adriana Romeiro – Professora do Programa de Pós-graduação da UFMG. E-mail: adriana.romeiro@uol.com.br
[DR]
Biologia, ciência única: reflexões sobre a autonomia de uma disciplina científica – MAYR (VH)
MAYR, Ernst. Biologia, ciência única: reflexões sobre a autonomia de uma disciplina científica. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. Prefácio de Drauzio Varella. Tradução de Marcelo Leite. Resenha de: FONSECA, Alexandre Torres. Varia História, Belo Horizonte, v.22, n.36, p. 574-576, jul./dez., 2006.
As contribuições feitas por Ernst Mayr à biologia evolucionária o colocariam certamente em qualquer lista dos maiores biólogos evolucionários do século XX. Edward Wilson e Stephen Jay Gould, colegas de Mayr em Harward, chegam a colocá-lo como o maior biólogo de todos os tempos. Mas as realizações de Mayr se estenderam para além da biologia. Além de seus trabalhos de divulgação da história natural e da evolução, ele também escreveu sobre a história e a filosofia da ciência, especialmente da biologia.
Se levarmos em consideração o volume, a abrangência e a profundidade do trabalho de Ernst Mayr, ele ocupa um lugar único no desenvolvimento da biologia evolucionária no século XX. E, para entendermos adequadamente este desenvolvimento, nós precisamos entender seu trabalho. E é exatamente isso que Biologia, ciência única nos permite. A cuidadosa edição da Companhia das Letras, com tradução de Marcelo Leite, transforma Biologia, ciência única: reflexões sobre a autonomia de uma disciplina científica (2005) em um livro indispensável tanto para historiadores da ciência quanto para os historiadores ambientais, e, naturalmente, também para os biólogos.
Mayr, que morreu em fevereiro de 2005 com cem anos, começou seus estudos em medicina, mudando depois para a biologia. Publicou seu primeiro paper aos dezenove anos, em 1923; tornou-se Ph.D. com 22 anos pela Universidade Humboldt em Berlim. Publicou quase 700 papers e 25 livros, dos quais o último é Biologia, ciência única, que é, segundo ele, uma versão revisada e mais madura de seus pensamentos.
Mayr, ao mudar-se para os Estados Unidos em 1931, considerava-se um ornitologista. Durante sua vida deu nome a 26 espécies e a 473 subespécies novas de pássaros, publicou cerca de 300 artigos discutindo e descrevendo a variação geográfica e a distribuição dos pássaros. Como muitos de seus contemporâneos acreditava na herança lamarkiana até se tornar amigo e interlocutor de Theodosius Dobzhansky, o qual vai exercer grande influência no pensamento de Mayr. Desse encontro surgirá a Moderna Síntese evolucionária.
A teoria evolutiva moderna surgiu entre 1936 e 1947, com a Síntese Evolucionária ou Síntese moderna. Este termo foi introduzido por Julian Huxley no livro Evolution: The Modern Synthesis, em 1942. Esta síntese é reunião da teoria de Darwin com a genética e as contribuições da sistemática e da paleontologia. Este processo começou com R. A. Fisher, J. B. S. Haldane e Sewall Wright. Alguns anos mais tarde, o paleontólogo George Gaylord Simpson, o biólogo Ernst Mayr e o geneticista Theodosius Dobzhansky irão alargar o paradigma neodarwinista. E da união entre o darwinismo e a genética nascerá o neodarwinismo.
O termo neodarwinismo ou teoria neodarwinista é usado correntemente como sinônimo de Síntese Moderna por quase todos os biólogos evolucionários, como por exemplo, Dennett, Gould, Futuyma e Dawkins. É neste sentido que este termo é usado neste artigo. Ernst Mayr, embora tenha usado neodarwinismo com esse sentido, mudou de idéia em Biologia, ciência única (2005). Por isso, a importância deste livro. Fica claro que a promessa feita na introdução do livro, de apresentar uma versão revisada e mais madura de seu pensamento, é realizada.
Neste livro (capítulo 7, Maturação do darwinsimo), ele diz que é um equívoco chamar de neodarwinismo à versão do darwinismo desenvolvida nos anos 1940, porque Romanes já havia usado este termo, em 1894, para qualificar o “paradigma darwiniano sem a hereditariedade leve [soft inheritance] (isto é, sem a crença na herança de características adquiridas)” (2005, p. 147). Na sua nova maneira de pensar, a teoria sintética da evolução, o “produto da síntese das teorias dos estudiosos da anagênese e da cladogênese” (p. 147), deveria ser chamada simplesmente de darwinismo, pois se trata
em essência, da teoria original de Darwin com uma teoria válida de especiação e sem a hereditariedade leve. Como essa forma de hereditariedade foi refutada mais de cem anos atrás, não pode haver equívoco na retomada do simples termo “darwinismo”, porque ele engloba os aspectos essenciais do conceito original de Darwin. Em particular, refere-se à inter-relação entre variação e seleção, o cerne do paradigma de Darwin, e confirma que é melhor referir-se ao paradigma evolucionista, após um longo período de maturação, simplesmente como darwinismo (p. 147).
Outro exemplo é a discussão sobre o que constitui uma espécie (capítulo 10, Um outro olhar sobre o problema da espécie). O conceito de espécie defendido por Mayr é ao mesmo tempo sua mais conhecida contribuição para o estudo da biologia, e o motivo pelo qual a maioria dos biólogos, hoje em dia, discordam da visão de espécie de Darwin. Neste capítulo ele critica o conceito de espécie dos “taxonomistas de poltrona”.
Mayr também descreve as causas que o levam a considerar a biologia uma ciência única, autônoma, com vários conceitos ou princípios específicos, necessitando, por isso, de uma filosofia da biologia específica, que difere de filosofia da ciência, segundo ele, mais ligada à física. No capítulo 9, As revoluções científicas de Thomas Kuhn acontecem mesmo?, discute as idéias de Kuhn sobre revolução científica e paradigma, chegando à conclusão que esta não é uma boa teoria para a biologia. Mayr considera que “as descrições da epistemologia evolucionista darwiniana parecem captar melhor a mudança em teoria em biologia” (p. 184), fazendo uma clara opção por esta última.
Ernst Mayr é importante para a história da biologia e para o pensamento biológico por ter sido tanto um participante ativo da história na criação da Moderna Síntese quanto por sua significativa obra reflexiva sobre a filosofia da biologia. Nos últimos vinte anos de sua vida, ele se dedicou mais à história e à filosofia da biologia. Seu grande trabalho nesta área é The growth of Biological thought, de 1982, um tour de force de 974 páginas, que demorou dez anos para ser concluído. Havia a promessa de um segundo volume que não se realizou. Além disso, ele influenciou consideravelmente três ou quatro gerações de biólogos. Mayr diz que “por toda a biologia há numerosas controvérsias não resolvidas, e que ele não era otimista a ponto de acreditar que [ele tivesse] resolvido todas (ou mesmo a maioria)” (p. 13-14) delas. E o desafio que ele propõe aos jovens pesquisadores evolucionistas é ir em busca tanto das questões não respondidas quanto, e isso é o mais importante, de questões não formuladas. Com certeza, Biologia, ciência única é um bom começo.
Alexandre Torres Fonseca – Doutorando em Ciência e Cultura na História. UFMG. E-mail: atfonseca11@gmail.com
[DR]
A história escrita: teoria e história da historiografia – MALERBA (VH)
MALERBA, Jurandir (org.) A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: Contexto. 2006. Resenha de: MACHADO, Paulo Pinheiro. Varia História, Belo Horizonte, v.22, n.36, p. 572-573, jul./dez., 2006.
Do texto viemos, ao texto iremos. Sem querer simplificar o atual debate acerca das diferentes abordagens teóricas sobre a história — seja a história do acontecido ou a escrita sobre o acontecido — é difícil encontrar, em língua portuguesa, livro com um balanço equilibrado e atualizado sobre este debate. A publicação de “A história escrita”, obra de um diversificado grupo de historiadores coordenada por Jurandir Malerba chega para preencher este espaço importante para o debate e a reflexão historiográfica, sendo útil a profissionais, pesquisadores e estudantes. Além da atualidade dos temas e abordagens, os autores não deixam de fazer um abrangente balanço dos impasses, crises e contribuições de importantes historiadores do século XX. As trajetórias intelectuais de Benedetto Croce, Marc Bloch, Lucien Febvre, Le Goff, Arnaldo Momgliano e outros importantes historiadores, são analisadas em diferentes textos, o que dá uma interessante unidade ao conjunto do livro.1
Um dos pontos centrais da discussão é o balanço da contribuição do vendaval pós-estruturalista (ou pós-moderno) sobre a forma de se trabalhar a história. As intervenções dos herdeiros intelectuais de Nietzche, sem dúvida, advertiram a nova geração para as precariedades da ciência e deram sério golpe em noções de finalidade e de progresso da história. A contribuição de Hayden White adverte para a importância das formas narrativas, dos tropos e da grande dose de subjetividade presente na historiografia. No entanto, estas contribuições foram muito pouco férteis no sentido de enfrentar os problemas quotidianos dos historiadores. O debate final da obra, entre White e Ginzburg, sobre uma questão-limite, a “veracidade” do holocausto dos judeus na segunda guerra mundial, acaba por levantar importantes considerações políticas e morais das concepções mais analíticas dos textos e menos inquiridoras de “indícios” e “provas” do que pode ser considerado como “realidade”.
O ponto mais inovador da coletânea é a necessidade de avaliação, comparação e crítica historiográfica. Estamos acostumados a fazer balanços historiográficos sem critérios muito precisos do que deva ser considerado. Além de considerações aleatórias do “gostar” e do “não gostar” de determinados textos, os autores nos chamam a atenção para a avaliação da excelência de nosso ofício. Deverá o historiador, como Heródoto, ser um hábil escritor para cativar seus leitores com a beleza de sua narrativa? Ou devemos, como Tucídides, despreocuparmos com a beleza e atentarmos para a precisão e utilidade de nosso labor? A eleição de critérios para a avaliação e debate historiográfico depende de escolhas teóricas dos autores. Jurandir Malerba, recuperando Benedetto Croce, lembra que, como a crítica poética critica a “poeticidade”, na crítica historiográfica se avalia a “historicidade”, o que abre caminho para considerar a crítica historiográfica como parte integrante da pesquisa histórica. Uma boa discussão sobre termos comparativos na relação entre historiografia ocidental e oriental encontramos no texto do professor Masayuki Sato, da Universidade de Yamanashi, no Japão. Com ele aprendemos que além de considerações teórico-metodológicas este debate precisa incorporar diferenças culturais, já que a história tem especificidades como ofício em diferentes culturas, além de distintos estatutos públicos. Importante discussão neste sentido é levantada por Jörn Rüsen, da Universidade de Bielefeld, Alemanha, no entanto, seu quadro de periodização do pensamento histórico parece algo excessivamente esquemático e contraditório com a proposta original. Angelika Epple, da Universidade de Hamburgo, em texto muito inteligente, propõe um alargamento das fontes para considerar uma história e historiografia das mulheres, além dos limites acadêmicos, ou seja, abrir para admissão de narrativa histórica textos literários, onde sempre houve forte presença feminina.
Enfim, temos a disposição do público uma coletânea com diferentes aspectos das teorias, das metodologias e das fontes historiográficas que procuram criar pontes de discussão e interlocução entre diferentes tradições historiográficas nacionais.
Nota
1 Além de Jurandir Malerba, publicam nesta obra Angelika Epple, Arno Wehling, Carlo Ginzburg, Frank Ankersmit, Hayden White, Horst Walter Blanke, Jörn Rüsen, Masayuki Sato e Massimo Mastrogregori.
Paulo Pinheiro Machado – Doutor em História pela UNICAMP e professor do Departamento de História UFSC. E-mail: pmachado@mbox1.ufsc.br
[DR]
História e Teoria. Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade – REIS (VH)
REIS, José Carlos. História e Teoria. Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade. 3ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. Resenha de: DILMANN, Mauro. Varia História, Belo Horizonte, v.22, n.36, p. 567-571, jul./dez., 2006.
Nesta obra, José Carlos Reis transparece, com erudição, a importância da filosofia e de suas construções teóricas. Nas páginas finais do último artigo, ele ressalta: “Filosofia e história são atitudes complementares – toda pesquisa filosófica é inseparável da história da filosofia e da história dos homens e toda pesquisa histórica implica uma filosofia, porque o homem interroga o passado para nele encontrar respostas para as questões atuais” (p. 240). O livro é uma junção de ensaios do próprio autor, cada um com uma especificidade singular e, ao mesmo tempo, contínua, linear: todos tratam de “teoria da história”. Valendo-se de uma abordagem dos principais parâmetros contemporâneos do contexto historiográfico, Reis interroga, instiga, mostra caminhos, posicionamentos. Seu poder de síntese é invejável: diz muito em tão pouco. Para quem já estava cansado ou mesmo entediado com as discussões sobre verdade, modelos epistemológicos, historicismo, além das que envolvem concepções de tempo histórico e das oposições entre modernidade e pós-modernidade, o autor demonstra que ainda é possível um pensamento crítico e um esforço reflexivo.
No primeiro capítulo, o autor traz a “história da história”, analisando desde a metafísica até a pós-modernidade. A preocupação dos historiadores com a “humanidade universal” e o “sentido histórico” pautam sua análise. Ele quer discutir a passagem modernidade/pós-modernidade e suas possíveis repercussões na historiografia. Começa com os gregos, que não teriam construído a idéia de “humanidade universal”, tendo sido formulada com os romanos. Com o Cristianismo, a história esteve dominada pela Providência Divina e o futuro dependia da fé. A partir do século XIII ele perde sua força e surge uma outra representação da história: a “modernidade” e sua busca da racionalização.
A modernidade trouxe uma nova consciência do sentido histórico, uma nova representação da temporalidade histórica e, com ela, o mundo se fragmentou em valores distintos. O espírito capitalista (entenda-se burguês) é moderno, desencantado, secularizado, racional, tenso.
No século XVIII retorna a idéia de história universal. Pensa-se em direitos universais. Nesse momento, a modernidade através das filosofias da história recolocaria à história a questão do sentido histórico: é o desenvolvimento do processo de progresso, revolução, utopia; a idéia de história está dominada pelos conceitos de razão, consciência, sujeito, verdade e universal.
No século XIX , a história-conhecimento torna-se científica, o conhecimento histórico aspira a objetividade científica, a verdade. A eficácia da história está em servir ao Estado e às instituições da sociedade burguesa. Nietzsche seria o primeiro a romper com o conhecimento histórico científico e, a partir do século XX, aprofundariam-se as críticas, passando-se a recusar o determinismo, o reducionismo e o destino inescapável. A pós-modernidade concretizou-se no pós-1945, não acreditando na razão, pois os sentidos são multiplicados – o universal se pulveriza, fragmenta-se – e a história global é descartada. Os interesses voltam-se ao pequenos dados, aos indivíduos, o olhar em migalhas opera por fatos, biografias, múltiplas narrações: é a desaceleração da história. O estruturalismo aprofundou a revolução cultural pós-moderna, desconfiando do sujeito, da consciência, da revolução, da razão. Para Reis, estamos vivendo a pós-modernidade. O novo ambiente cultural é complexo e ambíguo: os historiadores pensam em rupturas, fragmentação, individualismos em plena globalização. O conhecimento histórico prioriza a esfera cultural, as idéias, os valores, as representações, linguagens, e a história torna-se ramo da estética, aproximando-se da arte, da literatura, do cinema, da fotografia, da música.
No segundo capítulo, Reis procura fazer um balanço das possíveis perdas e/ou dos possíveis ganhos do percurso da história do “global” às “migalhas”. Para tal, segue os pressupostos de François Dosse, o crítico francês dos Annales que destacou a descontinuidade presente nos “seguidores” dos “pais fundadores”. Para conseguir um balanço entre perdas e ganhos, Reis conceitua história global e história em migalhas. História global teria dois sentidos: “história de tudo” e “história do todo”. O primeiro sentido seria entendido por “tudo é história”, o segundo seria a intenção de apreender o “todo” de uma época. Este último sentido não teve espaço na terceira geração dos Annales. Já as migalhas, podem significar a multiplicação dos interesses e das curiosidades históricas; a fragmentação, a especialização extrema, a desarticulação dos tempos históricos. Ou, no sentido otimista, as migalhas significaram o amadurecimento do projeto inicial; a história escrita no plural, múltipla, que analisa partes da realidade global. Por fim, nosso autor faz uma enumeração riquíssima em termos de prós e contras dessa passagem do global às migalhas, colocando-se no lugar de quem avalia uma perda ou um ganho.
O terceiro capítulo, intitulado A especificidade lógica da história, levanta questões que colocariam em dúvida a possibilidade do conhecimento histórico, entre elas: “A história é um conhecimento possível?”. Salienta a importância da reflexão teórica problematizante, alertando sobre a impossibilidade de ser historiador sem tomar o conhecimento histórico como problema. A questão a ser pensada seria a existência de um conhecimento histórico reconhecível. Esse conhecimento talvez estivesse na recusa da ficção. Nessa luta contra a ficção, a história aproxima-se da ciência. Quanto a possibilidade de história científica, José Reis apresenta quatro modelos: nomológico, compreensivo, conceitual e narrativo. O modelo nomológico, centrado em Hempel, defende a unidade da ciência, as explicações causais; é um modelo neopositivista, que busca encontrar leis gerais, da mesma forma que as ciências naturais. O modelo compreensivo tem dois expoentes: Dilthey e seu método da compreensão e interpretação das ciências do espírito, e Weber com uma visão racionalista da compreensão. A sociologia compreensiva busca interpretação da conduta humana; para compreender, pode-se construir o “tipo ideal” de uma ação racional. Para Reis, Weber ainda sustenta uma visão racional da história. O modelo conceitual está baseado na história científica weberiana: ela é racionalmente conduzida, fundamentada na compreensão e em conceitos. A compreensão e subjetividade incluídas na história não abdicariam a abordagem científica da mesma, presentes através de tipos e conceitos. Paul Veyne, com influência weberiana também defendeu a história conceitual, que para ele estaria entre a ciência e a filosofia. Para o Veyne de O Inventário das diferenças, a história conceitual seria científica porque oferece uma inteligibilidade comparativa. Já o Veyne de “Como se escreve a história”, tem a história como “narrativa verdadeira”, mas não científica. François Furet, também influenciado por Weber – e Reis salienta que os Annales “parecem dever mais a Weber do que querem admitir” – percebe a história como oscilação entre arte da narração, inteligência do conceito e rigor das provas, mas não como ciência. Por fim, no modelo narrativo e atual (alguns autores sustentam que o discurso histórico sempre foi narrativa), espera-se uma relação mais estreita com o vivido, o tempo, os homens. A história-problema entrou em crise por afastar-se dos homens e negar a temporalidade. Para Veyne, a história é uma narrativa que explica enquanto narra, é compreensão, é atividade intelectual. Paul Ricoeur esclarece a estrutura de uma nova narrativa histórica, lógica e temporal, ou seja, temporalidade e a narratividade se reforçam. Ricoeur defende o primado da compreensão narrativa em relação à explicação, sendo a narrativa histórica uma representação construída pelo sujeito, que se aproxima da ficção e retorna ao vivido. A história, em última análise é a narrativa do tempo vivido.
No quarto capítulo, Reis discute as posições da verdade sobre o conhecimento histórico. Os céticos em relação à história fazem várias objeções à possibilidade da objetividade e verdade em história, entre elas estaria o fato desse conhecimento estar ligado ao presente (que sempre reinterpreta o passado), à subjetividade, à compreensão e à intuição; ainda ao fato de não produzir explicações causais, de ser conhecimento indireto do passado, de utilizar a mesma linguagem da ficção, de utilizar fontes lacunares, de ser interpretação e construção de um sujeito e ter o conhecimento pós-evento. O conhecimento objetivo seria aquele válido para todos, universal, analítico, problematizante, necessário. Para Reis não há razão para o ceticismo. Ele cita Koselleck, para quem a história precisa sustentar duas exigências: produzir enunciados verdadeiros e admitir a relatividade. Na tentativa de indicar posições para o alcance da verdade histórica, Reis busca as teses de alguns autores. Divide-os em realistas metafísicos e nominalistas. Começando pelos primeiros, tem-se que para Ranke a história produziria verdade através do método crítico. Nesse sentido o sujeito não se anula, apenas se esconde, se autocontrola. Weber não vê a possibilidade de abordar o real em si, apenas aspectos, partes. O sujeito divide-se em esferas lógicas autônomas. Duas subjetividades buscam a verdade, que é conhecimento empírico. Em Marx, o sujeito deve assumir sua subjetividade. A verdade não é universal, mas de um grupo social. O conhecimento histórico produzido é objetivo, mas parcial, relativo, pois o historiador precisa tomar partido. Para Ricoeur, a verdade é traduzida pelo sujeito de forma comunicável a partir de uma objetividade que exige a presença da subjetividade. Na mesma direção, Marrou declara ser a objetividade histórica, específica, subjetiva, através de valores éticos universais. Todos procuram critérios universais para a verdade, todos são construções totalizantes da verdade histórica. Nos nominalistas, a subjetividade é plena, o universal é impensável. Em Foucault a verdade é construção de um sujeito particular e expressa relações de poder: essas relações criam linguagens e saberes para se legitimarem. Michel de Certeau tem a história como fabricação do historiador, um discurso que emerge de uma prática e de um lugar institucional e social. Duby assume a história subjetiva, que estaria próxima da literatura e do cinema, onde a imaginação e o sonho não são proibidos. Por fim, Koselleck sustenta a verdade histórica caleidoscópica, se relaciona com a história da história, examina a historiografia anterior. O passado é selecionado, reconstruído em cada presente. Reis conclui esse capítulo ressaltando que a verdade histórica é obtida com exame exaustivo do objeto, com todas as leituras possíveis.
O quinto capítulo traz a discussão sobre o tempo histórico em Ricoeur, Koselleck e nos Annales. O historiador tem interesse no temporal, na alteridade humana, não deseja conhecer o que está fora do tempo, o que não muda, deseja sim, conhecer a mudança, logo o tempo da história seria um terceiro tempo. Para Ricoeur, o tempo histórico refere-se à vida humana e o calendário é indispensável, pois é ele que numera e em cada marca dessa numeração existiu um homem individual (social). Outro conceito é o de geração, trata-se de vida compartilhada. O tempo histórico representa permanência de gerações e seqüência de gerações. A terceira conexão são os vestígios, os arquivos, pois as gerações deixam sinais, marcas, que são buscadas pelo historiador. Koselleck critica o conceito de tempo calendário, mas não o descarta, advertindo para o conhecimento interior do mundo humano, a idade interna de uma sociedade, ou seja, a relação estabelecida entre seu passado e seu futuro. Na perspectiva dos Annales, o tempo histórico é estrutural – influência das Ciências Sociais que compreendiam o tempo como “estrutura social” – existindo a recusa da mudança, em favor do modelo, da quantidade, da permanência. A influência foi o aparecimento na história do mundo mais durável, mais estrutural (estruturas econômicas, sociais, mentais), de movimentos lentos, com desaceleração das mudanças, e é justamente o conceito de “longa duração” que permitiu maior consistência ao terceiro tempo do historiador.
O sexto e último capítulo é dedicado à contribuição de Dilthey para a história, que, aliás, é considerado como o pensador que “redescobriu a história”. Dilthey é associado ao historicismo, embora seja difícil enquadrá-lo em algum rótulo. Ele estaria entre um historicismo romântico e um epistemológico por buscar compreender o homem enquanto ser histórico, compreender a alteridade e todos os aspectos da vida de um povo; a história em Dilthey é mudança e o que permanece é compreensão, comunicação entre homens diferentes, sendo o homem “experiência vivida” e a verdade, o processo histórico.
No contexto do século XIX, Dilthey apontou o caminho da história, da vida, tendo por missão da história “apreender o mundo dos homens através do estudo das suas experiências no passado” (p. 241). Reis diz que em Dilthey filosofia e história estão unidas. Talvez esse fato tenha cativado nosso autor a ponto de despertar tanto seu interesse por Dilthey.
De fato, Reis cativa o leitor com sua narrativa, sua exposição, sua paixão pela teoria. Este livro é mais uma referência obrigatória a todos que se preocupam em pensar o papel da teoria na contemporaneidade; ele incita os historiadores ao conhecimento dos paradigmas atuais das ciências sociais. Se José Reis pretendia com este livro, “fazer circular, renovar, estimular e transmitir cultura” (p. 13), parece-nos que ele conseguiu!
Nota
1 Resenha publicada originalmente na revista eletrônica CANTAREIRAS, da Universidade Federal Fluminense.
Mauro Dilmann 1 – Mestrando em História UNISINOS – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, RS. E-mail: maurodillmann@terra.com.br
[DR]
História & Natureza – DUARTE (VH)
DUARTE, Regina Horta. História & Natureza. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. Resenha de: ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A sabedoria vegetal. Varia História, Belo Horizonte, v.22, n.35, p. 240-243, jan./jun., 2006.
Retiro semelhanças de pessoas com árvores
de pessoas com rãs
de pessoas com pedras
etc etc
Retiro semelhanças de árvores comigo.
Não tenho habilidade pra clarezas.
Preciso obter sabedoria vegetal.
(BARROS, Manoel Desejar ser. In: Livro sobre nada, p. 51)
Aprendi com Manoel de Barros que a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. Talvez seja esse o desafio lançado para a História Ambiental, do qual o livro de Regina Horta Duarte, História & Natureza, é um belo exemplo: menos classificar e nomear e mais medir os encantos, falar dos sentidos, dos sentimentos, das imagens, que cada sociedade humana atribuiu ao que se chama de natureza. Encantos é que não falta autora, dona de olhos azuis de céu e bochechas de rosa. Ao ler seu livro, páreo estar escutando a sua voz doce e carinhosa, quase um canto de sabiá laranjeira, a dizer com simplicidade e firmeza que não concorda com tal leitura feita sobre a nossa relação com a natureza. Como sempre, fazendo uma crítica equilibrada, percuciente, atentando para o que há de pertinente em cada uma das formulações, comumente conseguindo encontrar um caminho próprio, uma forma própria de ver. Quase a escuto dizendo, sussurrando, a fórmula mágica e quase impossível de resistir, a interjeição que sempre nos faz aderir sua posição, expressão do que seria um jeito bem mineiro de ser: “né”!
O livro é composto de três capítulos. No primeiro, Os historiadores em diálogo com seu tempo, a autora vai se dirigir aos jovens, a quem, como confessa na apresentação, seu discurso é dirigido, na tentativa de modificar a visão sobre a disciplina histórica que parece prevalecer entre eles, ou seja, a de que a história trata de coisas velhas, de trastes, de restos do passado, não tendo nada a dizer ao tempo presente. A história seria uma matéria maçante, chata, exigindo a memorização de uma montanha de eventos que não serviria para nada, que nada significariam para esta juventude que vive preocupada com o futuro e habita um mundo radicalmente distinto daquele sobre o qual a história costuma falar. Ao tomar a natureza como tema de análise histórica, ao tratar das formas como o homem pensou e praticou a natureza, como nela interferiu e com ela se constituiu, a história estaria tratando de um tema dos mais candentes do nosso tempo. A questão de nossa relação com o meio ambiente é, hoje, um problema que se coloca como prioritário para esta juventude. Ela deve procurar encontrar soluções, ou seja, inventar formas novas de se relacionar com o meio ambiente, o que implica rever as próprias concepções acerca da natureza e do homem presentes em nossa cultura. A história tem um papel importante a desempenhar neste processo de revisão de práticas e valores, medida que pode contribuir para desnaturalizar a nossa forma de lidar com o ambiente, nos ajudando a entender como chegamos ao estado atual de degradação, de poluição e de modificação dos ecossistemas.
No segundo capítulo, Sociedade, natureza e história, a obra faz uma incursão pela história da relação entre homem e natureza, nas várias sociedades humanas, procurando deixar claro que não é apenas a sociedade moderna ou contemporânea que devastou ou devasta a natureza ou que explorou ou explora os recursos naturais, muitas vezes, acima da sua capacidade de renovação; mas que isso ocorreu desde as formas de organização mais simples dos grupos humanos, sendo esta intervenção no meio ambiente e seu poder transformador, quase sempre, relativo ao grau de desenvolvimento técnico destas sociedades. Fugindo de qualquer mirada romântica, que contamina muitas discussões e muitas práticas em torno da questão ambiental, o livro nos fala de que o homem nunca viveu em completa harmonia com a natureza, nem com a sua própria, justamente por ser um animal cultural, o que implica de saída em negar, de certa forma a natureza, inclusive a sua própria. O texto coloca-se, claramente, em oposição a certo discurso ecológico que faz dos índios, por exemplo, seres como que pertencentes natureza, como se fossem elementos da paisagem, o que implica na animalização destes e a defesa, muitas vezes explicita, de que não devem ter acesso aos benefícios, que afinal também foram trazidos pelo processo civilizatório. Discorda, ainda, do sonho edênico de uma natureza intocada, de um retorno a uma vida natural, presente em muitos discursos ecológicos, mostrando, como, paradoxalmente, a vida natural tornou-se uma das principais mercadorias vendida, hoje, no mercado capitalista. Lendo o livro de Regina Horta, levei o susto de quem aprende algo que nunca havia parado para sequer imaginar, quando ela narra a devastação ambiental feita pelos gregos antigos ou pelo Império romano. Neste momento me perguntei como é possível que a terra e seus recursos tenham aguentado tanta devastação, por tanto tempo. Acostumado aos massacres humanos que formam a história, me dei conta, lendo este livro, de outros tantos massacres que também vieram constituir o que chamamos de história; não apenas o massacre dos gatos, tema do texto de Robert Darnton, com sua gloriosa função de forma de resistência da classe trabalhadora, mas dos pássaros, dos leões, dos ursos, das raposas, dos carvalhos, dos mognos, etc . Cheguei a me perguntar, lendo o número de animais abatidos nas arenas romanas, em uma só ocasião festiva, como ainda temos tal biodiversidade espalhada pelo planeta.
Entendemos um pouco como isso foi possível medida que a história feita pela autora não é uma história maniqueísta, uma história feita por mocinhos e vilões, mas uma história que busca tratar o tema que se propõe a estudar com muito equilíbrio, vendo-o por vários ângulos e em toda a sua complexidade, explorando, inclusive suas ambiguidades. Aqui Regina revela um dos seus melhores traços como pessoa: ela não é uma pessoa arrogante e autoritária, e isso aparece em sua maneira de escrever a história. Ela escreve uma história que não arrota verdades definitivas, nem posições inquestionáveis. Em um outro percurso pelas várias sociedades humanas, a obra vai mostrar todas as práticas e discursos daqueles que denunciaram a devastação da natureza, que colocaram as suas vidas em defesa dos animais e das plantas. Vai mostrar, inclusive, como um fenômeno histórico, que normalmente é tratado hoje com muitas reservas, o processo de expansão comercial e política européia, foi um fator de disseminação de variedades diversas de plantas e animais, iniciando o que poderíamos chamar de processo de globalização da natureza, do qual a criação dos vários jardins botânicos e zoológicos é um fenômeno importante. Contraditoriamente, a mesma colonização que aumenta a biodiversidade por onde passa, trazendo plantas e animais que seriam a base da alimentação das novas sociedades em construção, aumenta, também, a diversidade de microrganismos letais á saúde de populações nativas que não carregam em seus corpos defesas imunológicas contra os efeitos destes vírus ou bactérias alienígenas.
No terceiro capítulo, História e História Ambiental, o livro vai contar a história da emergência da história ambiental, procurando mostrar os problemas que levaram sua emergência, as discussões conceituais que a atravessa, as correntes em que se subdivide. Ensaia também uma sumária e incompleta arqueologia da história ambiental entre nós, onde a falta de referência ao livro Nordeste, de Gilberto Freyre, Ø uma lacuna a ser revista numa próxima edição, já que sem dúvida, mais do que os textos citados de Capistrano de Abreu, de Caio Prado Jr. e de Sérgio Buarque de Holanda, onde a abordagem ecológica está presente, mas é tangencial, o livro de Freyre Ø explicitamente estruturado em torno da relação entre homem e natureza, e se coloca como um ensaio de eco sociologia. Este capítulo mostra como a autora está a par das discussões mais contemporâneas no campo da história ambiental, sendo uma especialista reconhecida, nacional e internacionalmente, neste campo historiográfico.
O livro História & Natureza, é de leitura obrigatória, não só por seu conteúdo, pelas informações valiosas que traz acerca da história da relação entre homem e meio ambiente, ao longo do tempo, mas também por ser leitura agradável, leitura bem informada, leitura crítica e problematizadora de nosso lugar na história e na natureza. Ler este livro, mais do que saber acadêmico, me trouxe saber vegetal, que é, segundo Manoel de Barros, receber com naturalidade uma rã no talo. E ler este texto é como receber uma rã no talo, pois sua leitura provoca a sensação de choque e de desconforto, nossa sensibilidade fica eriçada, ele é um convite a gesto instintivo e necessário, sua leitura provoca surpresa e angústia. A leitura nos faz experimentar o sobressalto que provoca, em doutores formados, a escritura daquilo que, de certa forma, já sabíamos, mas possivelmente tínhamos medo de sequer dizer. Coisas que, durante muito tempo, foram imprestáveis e impensáveis para a palavra do historiador, tinham existência só coisal, agora ditas nos levam a boquiabrir. Espero que elas passem a dar germânios, depois que Regina regou a horta dos historiadores e nela fez brotar coisas que abasteciam o abandono, coisas esquecidas na terra, e que agora urgem em falar ou ser faladas. A história está aprendendo, talvez, que mais do que desencantar ela precisa encantar seus leitores e aqueles que a fazem. Talvez, com este livro aprendamos que precisamos escrever história com passarinhos fazendo poleiro na cabeça.
Durval Muniz de Albuquerque Junior – Departamento de História/ Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: durvalal@hotmail.com
[DR]
O Olhar Eterno de Chichico Alkmim – SOUZA; FRANÇA (VH)
SOUSA, Flander; FRANÇA, Verônica Alkmim (orgs.). O Olhar Eterno de Chichico Alkmim. Belo Horizonte: Editora. B, 2005. Resenha de: BORGES, Maria Eliza Linhares. Varia História, Belo Horizonte, v.22, n.35, p. 235-239, jan./jun., 2006.
Em fins de 2005 a Editora B lançou O Olhar Eterno de Chichico Alkmim/The eternal vision of Chichico Alkmim. Esta publicação bilingue divulga uma pequena e significativa amostra do trabalho de Francisco Augusto Alkmim: o Chichico Alkmim, fotógrafo mineiro que nos legou um acervo de 5.000 negativos em vidro produzido na cidade de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, na primeira metade do século XX.
Livros como este são muito cortejados pelo mercado editorial, inclusive internacional. Seu público-alvo é, em geral, formado por aficionados pela história da fotografia, bem como por aqueles que lançam mão da imagem fotográfica para analisar questões da vida social. Como veremos a seguir, esta modalidade de publicação tende a destacar o padrão técnico e estético seguido por fotógrafos dos anos oitocentos e das primeiras décadas do século XX, além de colocar o leitor diante de versões particulares de temas presentes no mundo da fotografia deste mesmo período.
A padronização e a reprodução dos signos fotográficos, bem como a análise de seus usos e suas funções sociais são questões recorrentes entre os estudiosos da história da fotografia. Apenas para exemplificar, lembremos: em 1931, Walter Benjamim (Pequena História da Fotografia) já chamara a atenção para o papel da fotografia na compreensão dos rumos da cultura moderna, mais especificamente da cultura oriunda do capitalismo industrial. Seis anos mais tarde, em 1937, um pesquisador do Museu de Arte Moderna de Nova York, Beaumont Newhall, lançava seu History of photographe. Em pouco tempo este livro viria a se tornar uma espécie de paradigma para se ver, pesquisar e pensar a história da fotografia, sobretudo no mundo ocidental. A partir dos anos de 1960, mais especificamente da década de 1980, o mercado editorial internacional e nacional foi inflacionado por uma série de publicações acerca da fotografia oitocentista e de inícios dos anos novecentos. Este fenômeno não é gratuito. Sinaliza, por um lado, um movimento de valorização da fotografia em outros campos, como a crescente presença da fotografia nas galerias de arte e nos museus; o papel relevante que esta imagem tem tido nos debates sobre a preservação da memória e o patrimônio histórico; o investimento dos arquivos, públicos e privados, na montagem de seus acervos fotográficos; etc. Por outro, ele é contemporâneo das reflexões que hoje se fazem em torno da crise teórico-metodológica que tem permeado o modelo da história da fotografia conforme sugerida por Beaumont Newhall.
No Brasil, instituições como a FUNARTE, o Instituto Moreira Salles, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, dentre outras, têm devotado grande atenção edição de livros sobre a história da fotografia aqui produzida por fotógrafos estrangeiros e nacionais. Simultaneamente, estudiosos independentes ou vinculados s Universidades têm alimentado o mercado editorial nacional com estudos onde a fotografia se constitui num objeto de pesquisa privilegiado. Muitos deles se detêm nos debates teórico-metodológicas relativos aos alcances e limites dos usos da fonte fotográfica para a análise de temas próprios das Ciências Sociais.
Mas o que tudo isso tem a ver com a resenha aqui proposta? Muito, sem dúvida. Os leitores de O Olhar Eterno de Chichico Alkmim/The eternal vision of Chichico Alkmim verªo que o fotógrafo Chichico Alkmim pertenceu linhagem de fotógrafos dos anos oitocentos e das primeiras décadas do século XX. Mais, ainda, a estrutura do livro e os textos que a alinhavam valorizam a fotografia de autoria, uma visão da história da fotografia muito afinada com o modelo proposto por B. Newhall.
Organizado em dez partes, das quais fazem parte uma apresentação, uma introdução e uma parte final com informações sobre a vida profissional do fotógrafo, o livro, propriamente dito, se inicia e se encerra com dois retratos do autor: o fotgrafo Chichico Alkmim. A primeira foto foi feita por sua esposa na década de 1920; a outra, clicada por seu filho, não tem data, mas certamente retrata o fotógrafo décadas depois. Entre uma e outra, os autores ordenaram as cinco partes do livro, cujos títulos já antecipam um pouco da trajetória temática percorrida por este fotografo nascido em 1886 na Fazenda do Sitio, no município de Bocaiuva/MG.
Em Silenciosa luminosidade, dos 13 retratos de adultos, individuais e em grupo, 12 mostram o trabalho de estúdio> Apenas um foi feito no local onde provavelmente viviam as retratadas: um convento de freiras. Para a parte intitulada Photografia, os autores privilegiaram a infância em suas faces religiosa e lúdica; em Eternidade, a fotografia mortuária-infantil exalta a dor da perda, celebra a memória do último ciclo da vida: a morte. Em Diamantina passava por Chichico, nossos olhos passeiam por representações de tipos físicos e sociais locais. Dentro ou fora do estúdio do fotógrafo, todas as poses foram meticulosamente estudadas e produzidas; ressaltam, cada uma delas, um aspecto específico do retratado: a virilidade, a posição social; a afinidade com alguns signos da modernidade, como a bicicleta, ou com a permanência da tradição, como o casamento, por exemplo. Paisagens humanas, paisagens urbanas, como o próprio título indica, foi composta a partir de vistas urbanas de Diamantina e de cenas de convívio social, as quais dão a ver “a alta sociedade diamantinense”; sua banda de música; seus jovens ilustrados; o aprendizado infantil da dilapidação de diamantes, o garimpo, o mercado central; as igrejas, as festas, a arquitetura colonial, etc. Após A mão que colhia rosas, que apenas contem o retrato do fotógrafo, clicado por seu filho, segue-se Um retrato retocado, como dito antes, ai o leitor se depara com informações sobre seu ofício de fotógrafo.
Á medida que passamos as páginas deste belíssimo livro e nos deparamos com cada uma de suas imagens, fica uma certeza: seus autores não mediram esforços para apresentar uma fração do que há de melhor deste fotógrafo cuja iniciação no mundo da fotografia parece datar de 1902, quando ele contava apenas com dezesseis anos de idade. Incentivado pelos mestres Padre Manuel González e Passig, ainda na fazendo do Caetermirim, o jovem Francisco Augusto Alkmim começou a aprender os mistérios da captação e criação dos fragmentos de vida refletidos nas lentes de sua máquina fotográfica. Como tantos outros fotógrafos de sua Época, Chichico Alkmim foi um autodidata. Juntamente com seus negativos de vidros, sua família localizou o Manual Prático de Photographia, de autoria de Adalberto Veiga, datado de 1910, e um livreto da Kodak brasileira: o Kodaks Graflex e acessórios, produzido no Rio de Janeiro e datado de 1926. Além de seguir suas instruções, sabe-se, também, que o fotógrafo frequentou o ateliê de Igino Bonfiolli que, nos idos de 1920, foi um dos espaços fotográficos mais respeitados da capital mineira. Depoimentos orais com membros da família Alkmim ainda nos informam: o fotógrafo de Diamantina era leitor voraz de revistas ilustradas como Careta, A Noite Ilustrada e Ilustração. Este conjunto de práticas, aliado ao seu talento pessoal, informou o manuseio que ele fazia de sua câmera de fole 13×18 com objetiva.
Uma vez radicado em Diamantina, por volta de 1917, Chichico Alkmim, manteve-se fiel a esta câmera até 1955, ano em que encerrou sua carreira de fotógrafo.
Tal fidelidade nos permite algumas provocações. Sabe-se, por exemplo, que em 1927 a Leica já se encontrava disponível no mercado; na década de 1930, sua venda chegou a mais de 100.000 exemplares. Por que será que o profissional Chichico Alkmim não abriu mão de sua câmera de fole 13×18 com objetiva? O que este dado que merece ser melhor pesquisado estaria sinalizando? Seu apego a uma tradição técnica e/ou estética? Um distintivo em relação a outros fotógrafos da região? Sabemos, por outras fontes, que Chichico Alkmim não foi o único fotógrafo de Diamantina. Por volta dos anos de 1920, viveu nesta cidade um outro fotógrafo: Francisco Manuel da Veiga.
Tendo conhecido outra parcela das fotografias deste fotógrafo, sabemos ser o esmero de Chichico Alkmim uma constante da maior parte de seus cenários e de suas poses. Contudo, como toda obra, a sua também é desigual. Explicar suas raízes, bem como tentar compreender os porquês de seu possível apego à tradição técnica e/ou estética dos anos oitocentos, é um convite e também um desafio a ser enfrentado por aqueles que certamente se dedicarão, no futuro próximo, ao estudo de seu acervo.
Não poderíamos encerrar as informações sobre este belo livro sem antes chamar a atenção para outro aspecto importante mas nem sempre considerado na avaliação de publicações como esta. Referimo-nos, em especial, às técnicas utilizadas tanto em sua composição, quanto na digitalização de suas imagens. Como lembram os teóricos da história do livro e da leitura, a análise das escolhas relativas impressão de um livro é um dos aspectos cruciais para se compreender os alvos pretendidos pelos editores. Segundo informações do fotógrafo e professor de fotografia, Tibério França, a impressão de O olhar eterno de Chichico Alkmim/The eternal vision of Chichico foi feita em papel couchê, em tritone, o que implicou em duas impressões do preto, para as áreas de sombras profundas e outra mais clara para os meios tons, cor escolhida da escala pantone, uma variação do branco, quase creme, com um tom um pouco mais quente na impressão. Para a digitalização das imagens foi utilizado o definition and resolution. Cada original de vidro foi escaneado três vezes, sendo uma para luzes, outra para sombras, e outra, ainda, para os tons médios. Outro software foi utilizado para recuperar os detalhes de luzes, sombras e meios tons.
Por fim, faz-se necessário informar alguns aspectos sobre a descoberta do fotógrafo Chichico Alkmim. Sabe-se que em 1978, data de seu falecimento, a família herdou um acervo de 5.000 negativos em vidro, minuciosamente organizado pelo próprio fotógrafo entre os anos de 1950 e 70. Segundo os autores de O olhar eterno de Chichico Alkmim/The eternal vision of Chichico, em 1980, a cidade pôde, por primeira vez, conhecer e avaliar uma fração do conjunto de seu trabalho. A exposição de algumas de suas imagens, no salão do Museu do Diamante, durante o 16o Festival de Inverno/UFMG, despertou o interesse, de pesquisadores e autoridades, para o trabalho de Chichico Alkmim. A partir da estavam criadas as condições para o início do trabalho de higienização, digitalização, indexação e identificação de seus negativos em vidros, a cargo da FEVALE (Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha). Em parte, pode-se dizer que esta atividade, iniciada em 1998, no Centro de Memória Cultural do Vale do Jequitinhonha, em Diamantina- mediante financiamento da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais) e apoio da Universidade do Estado de Minas Gerais, propiciou a confecção e a publicação do livro ora resenhado.
Muito provavelmente, sua circulação estimular a produção de estudos e análises tanto sobre seu acervo, quanto sobre sua obra propriamente dita. Ao pesquisador da história da fotografia e também dos diferentes campos do saber histórico, investigar este acervo equivaler a imiscuir-se no universo de problematizações sobre a cultura da fotografia de ateliê, praticada nos moldes da fotografia oitocentista e de primeiras décadas dos anos novecentos. Permitirá, quem sabe, compreender e avaliar seus alcances e limites, bem como sua inserção no sistema perceptivo da época.
A beleza das imagens que compõem este livro, as histórias e os mistérios que ele encerra e os desafios analíticos nele contidos são, por si sós, um convite à sua leitura.
Maria Eliza Linhares Borges – Doutora em Sociologia e Professora do Departamento de História/UFMG. E-mail: liliza@uai.com.br
[DR]
A geografia do crime: violência nas Minas Setecentistas – ANASTASIA (VH)
ANASTASIA, Carla Maria Junho. A geografia do crime: violência nas Minas Setecentistas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. Resenha de: JESUS, Alysson Luiz Freitas de. Varia História, Belo Horizonte, v.21, n.34, p. 523-525, jul., 2005.
A obra de Carla Anastasia, publicada pela Editora da UFMG, tem como principal objetivo analisar as relações de violência entre os habitantes da capitania das Minas Gerais, ao longo do século XVIII. A historiadora procura avaliar- a partir de textos em sua maioria já publicados em outras ocasiões- a imprevisibilidade da ordem social setecentista nas Minas, principalmente em regiões onde a administração da Coroa não conseguia penetrar. Nesse sentido, o conceito de violência e a análise das relações sociais no sertão acabam por se constituir o eixo protagonista das discussões da autora.
Na introdução do livro, Anastasia procura esclarecer o papel que os atos violentos tiveram no cotidiano da população das Minas. As autoridades responsáveis pela tentativa de ordenamento acreditavam que os tumultos, desordens e assassinatos eram resultados da ”má qualidade dos povos” que viviam na região. Aliava-se a isso a enorme presença de escravos e forros na região, que, sob a tica dos homens do poder, eram diretamente responsáveis pelos atos violentos e pela desordem. De acordo com as autoridades, esclarece Carla Anastasia, as Áreas mineradoras estavam infestadas de quantidade de negros, forros e mulatos, vagabundos sem oficio, que viviam com demasiada liberdade, prontos a praticarem latrocínios e mortes com graves prejuízos dos povos. (p.15) O cotidiano das Minas convivia, portanto, com uma tentativa de tornar previsível, o imprevisível.
Quanto aos negros, mais especificamente, fica claro para as autoridades o envolvimento constante em situações de violência na capitania. Um componente especial no universo criminoso dos negros eram as práticas mágicas, que, com isso, contribuíram para transformá-los nos principais inimigos dos brancos. Essa situação levava a população a nutrir um forte medo com relação aos negros, que, era tanto maior (o medo) quanto mais se adentrava por paragens desertas, sem lei e sem ordem, onde os desmandos uniam escravos, forros, brancos pobres e, muitas vezes, grandes proprietários e ministros do rei. (p.18)
A autora divide a sua obra em 4 partes. Na primeira, intitulada A construção dos espaços da violência, Anastasia recupera a formação da capitania, dedicando especial atenção a ocupação e (des)organização administrativa. Uma das características do setecentos mineiro foi o baixo grau de institucionalização política na capitania. As tentativas de se controlar os territórios de potentados e de mandos no sertão setecentista não surtiram resultados. Portanto, as estratégias levadas frente para normatizar a capitania esbarravam principalmente nessas Áreas, uma vez que os criminosos dificilmente eram encontrados. A partir da a autora passa a discutir a estrutura social e política dessas regiões, o que nos leva segunda parte do texto, intitulada “Terra de ninguém”.
Para Anastasia, a violência dos facinorosos nos sertões constitua zonas de non-droit (termo mantido em francês pela dificuldade de se traduzir com eficácia a expressão, ou seja, zonas nas quais a arbitrariedade era a regra, em que os direitos costumários e a justiça não eram reconhecidos pelos atores sociais, fossem autoridades, fossem vassalos, escravos ou forros.) p.23. Privilegia-se aqui o mandonismo nos sertões do rio das Mortes e do São Francisco. Nesse segundo, em especial, a ausência do poder da Coroa levou á consolidação dos territórios de mando. A violência, nesse sentido, se fazia presente principalmente nos sertões. Isso era propiciado, em grande parte, pelo cárter geográfico da região:
Dos perigos imaginários, contava-se a boca pequena. O sargento de milícias, Romão Fagundes do Amaral, afirmava que a mata do Senhor Bom Jesus dos Perdões, situada nos confins do termo da vila de São José, no sertão da comarca do Rio das Mortes, era bom refúgio para os criminosos, próprio por ser de mata geral com poucas estradas e mal abertas, propícias para mortais emboscadas. (p.20)
Além disso, o componente sobrenatural contribua na formação do imaginário que se fazia da generalização da violência nessas regiões, classificadas como locais “assombrados por criaturas estranhas e superlativas, onde se reproduzem caprichos sobrenaturais e foras malévolas”.
A terceira e quarta partes do livro (intituladas, respectivamente, “Rapina, contrabando e vendeta” e “Joaquim Manoel de Seixas Abranches – um ouvidor bem pouco ortodoxo”) têm como aspecto principal a análise da atuação de determinados bandos de facinorosos da Capitania, entre eles a famosa Quadrilha da Mantiqueira, o bando liderado pelo Mão de Luva e o do Sete Orelhas. Esses homens, criminosos por excelência, faziam da rapina o seu modo de vida. Na quarta parte, a autora examina o comportamento transgressor de uma autoridade, nos fornecendo mais instrumentos para se repensar a questão do público e do privado no Brasil.
Conforme esclarecemos anteriormente, a obra privilegia alguns aspectos que vêm merecendo especial atenção por parte dos estudiosos. No que diz respeito violência, diversos estudos vêm sendo produzidos- muitos deles sob orientação da própria autora, professora titular do Departamento de História da UFMG, contribuindo para um melhor entendimento das relações sociais de ruptura e tentativa de ordenamento das Minas. Por se tratar de uma obra que privilegia o estudo em regiões onde a violência se fazia mais presente, a autora objetiva demonstrar as raízes que possibilitaram essas manifestações, o que levou, nessas áreas, a uma não da legitimidade da violência. Talvez, depois da obra clássica de Maria Sylvia de Carvalho Franco, Homens Livres na Ordem Escravocrata, poucos estudiosos no Brasil trataram com tanta competência a temática do cotidiano da violência.
Por fim, um outro aspecto muito abordado na obra é a questão dos direitos costumeiros. Anastasia destaca o caráter das relações entre a Coroa e os seus vassalos, permeado por regras que deveriam ser respeitadas. Determinados limites eram impostos também ao poder metropolitano, assim como aos vassalos. Para a autora, “se é usual afirmar que os colonos várias vezes reagiram exacerbação do poder metropolitano, é menos comum chamar a atenção para o fato de que os mesmos se beneficiaram com os limites colocados a esse poder”. (p.23) Assim, quando essas regras eram desrespeitadas, rompia-se a ordem. Foi o que aconteceu em vários conflitos nas Minas setecentistas, entre os quais os Motins do São Francisco em 1736.
O livro não esgota como não poderia deixar de ser as análises sobre o cotidiano da violência nas Minas Gerais. Antes disso, o livro é uma contribuição fundamental para futuros estudos sobre a história da capitania, principalmente, acreditamos, no que se refere as análises da centúria posterior, o século XIX. Publicações como “A geografia do crime” são um estímulo para uma produção cada vez mais intensa da história das Minas, não apenas sobre o setecentos, mas, em especial, sobre o oitocentos, tão carente de estudos de qualidade como o livro de Carla Maria Junho Anastasia.
Alysson Luiz Freitas de Jesus – Mestrando em História pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG. Bolsista CAPES. Professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Montes Claros/UNIMONTES. E-mail: alfluiz@yahoo.com.br
[DR]
Saberes, terapias e prácticas médicas en Argentina (1750-1915) – DI LISCIA (VH)
DI LISCIA, Maria Silvia. Saberes, terapias e prácticas médicas en Argentina (1750-1915). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Instituto de História, 2002. Resenha de: PEREIRA, Júnia Sales. Varia História, Belo Horizonte, v.20, n.32, p. 275-277, jul., 2004.
“Itinerários curativos nos pampas”
No início do século XXI, as certezas que acompanharam a sociedade ocidental de um crescimento indefinido, prosperidade sem limites e de resolução de todos os problemas humanos a partir da ciência não se sustentam de maneira alguma. Acena-se para novas formas de conhecimento que interpretam a realidade por sua complexidade, sem, contudo, desprezar outras possibilidades investigativas. acena-se, sobretudo, para uma epistemologia desvestida do essencialismo e consciente de sua falibilidade e historicidade. Essa nova epistemologia exige conhecimento do limite da racionalidade valorizada pelo Ocidente e abertura permanente a novas lentes interpretativas. Nosso interesse pela realidade, especialmente a realidade a ser explicada pela ciência, pressupõe previsão de instabilidade e desordem, caos e multidimensionalidade. Rompendo com os pressupostos do racionalismo clássico e assumindo o desafio de investigar a história a partir dos pressupostos de uma epistemologia renovada, Sílvia Di Liscia avalia os saberes, terapias e práticas médicas na Argentina entre meados do século dezoito até início do século XX.
Na fronteira da história com a antropologia, sua análise tem o mérito de buscar entender as racionalidades que informam os saberes e práticas indígenas, populares e médico-institucionais nos pampas, bem como suas interfaces e influências. Sua abordagem pressupõe o entendimento da “medicina” como toda terapia, empírica ou mágica, assim como toda reflexão teórica que inclua formas de cura, sem que necessariamente tenham que estar descritas ou inseridas num sistema organizado e codificado formalmente. Esse pressuposto permite à autora demarcar algumas linhas de fronteira entre saberes e práticas de três sistemas de cura — a medicina indígena, a medicina popular e a medicina ocidental, bem como possibilita entender que os limites entre esses três sistemas de cura nunca estiveram demasiadamente claros. Pelo contrário, a autora revela que entre elas houve linhas de contato, confluências conceituais, apropriações e usos mútuos que nos permitem perceber não somente as diferenças e contraposições mas também as semelhanças e apropriações recíprocas.
O movimento de percepção dos limites e dos embricamentos entre diferentes sistemas sustentou, em seu percurso de análise, as características comuns a esses saberes, terapias e práticas de cura, classificados, todos eles, pela autora, de pensamentos racionais. Inspirada em Lévi-Strauss, a autora pressupõe racionalidades singulares e específicas de cada complexo dedicado à cura e reflete sobre a busca de ordem e taxonomia nos três sistemas analisados, o que possibilitou aproximação e comparação entre eles, cuidando-se para que nenhum fosse avaliado a partir de hierarquização em relação a outros.
Na consecução da pesquisa, Di Liscia realiza uma sistemática avaliação de fontes de natureza diversa, reunindo um corpus heterogêneo e vasto composto por relatos de viagem (viajantes, funcionários, militares, naturalistas e cientistas), relatos de cativos europeus que viveram entre indígenas nos pampas, teses de médicos, manuais científicos, fontes literárias, estatísticas e ensaísticas, além de documentação oficial. Como afirmou a autora, a maioria trata-se de fontes produzidas no interior da chamada medicina científico-acadêmica e testemunha sobre as práticas e remédios populares e indígenas deste ângulo específico.
A obra é organizada em oito capítulos, sendo que a primeira parte (discutida nos três capítulos iniciais) privilegia a relação entre medicina acadêmica e medicina indígena. A autora centra-se no entendimento das relações entre os especialistas médicos e as terapias mágicas indígenas, avaliando de que forma ocorreu uma apropriação de conhecimentos indígenas — especialmente da flora e da fauna pampeana — e, por outro lado, de que maneira se justificou e se realizou a eliminação étnica promovida pelos ocidentais contra os indígenas. Um dos pontos fortes da obra diz respeito ao movimento conceitual realizado no interior do pensamento ocidental em relação ao indígena bárbaro e selvagem. Entre finais do século XVIII e início do XIX, a autora percebe um gradativo abandono da idéia de mal originalmente associada ao indígena — vinculado, pois, ao demônio a ser eliminado — para uma lenta e gradativa elaboração que passa a descrever a sua suposta barbárie não pela maldade, mas pela falta de educação suficientemente equivalente à cultura européia. Nessa tradição, o indígena deixa de ser aquele a ser eliminado, e passa a figurar como aquele a ser educado, representado, portanto, como bárbaro-primitivo. À educabilidade do indígena associa-se a idéia da necessidade de eliminação do charlatanismo e da mentira. Essas últimas justificativas sustentarão, na relação entre ocidentais e indígenas nos pampas, por um lado, a apropriação das positividades das práticas e saberes indígenas pelos espanhóis e, por outro lado, a eliminação de suas negatividades, especialmente as práticas de chamanismo, a feitiçaria e o uso de talismãs. Foi possível à autora avaliar momentos em que a medicina indígena aproxima-se da medicina acadêmica, especificamente em decorrência dos benefícios advindos da vacinação anti-variólica. Nesse processo, não passam desapercebidos o uso político desse movimento de aproximação e as conseqüências de aniquilação cultural para os diferentes grupos indígenas. Em contrapartida, foi possível localizar, nos jardins das missões jesuíticas, herbários com plantas medicinais e a catalogação de benefícios de seu uso a partir de prescrições indígenas, bem como as recomendações alimentares e a observação de hábitos indígenas por jesuítas.
A segunda parte da obra (capítulos 4, 5, 6, 7 e 8) analisa as relações entre medicina popular e medicina científica. A medicina popular, segundo a autora, foi nomeada e descrita pela medicina acadêmica que passou a descrever os saberes considerados atrasados, geralmente associados a setores não hegemônicos, superstições e crendices, desprezando-os por alegação de inconsistência, falta de relação com o real, falta de racionalidade e de eficácia. A partir da definição de cultura como “sistema de significados, valores e atitudes compartilhados e de formas simbólicas através das quais se expressa ou encarna”, tomada de Peter Burke, a autora realizará uma avaliação das formas e relações estabelecidas entre medicina popular e científica. o que permitirá desvelar tradições, costumes e práticas das chamadas classes incultas da mesma forma que permitirá à autora o entendimento das relações entre Igreja, Estado e setores da medicina institucionalizada com as concepções e práticas socialmente produzidas.
Nesse percurso, foi possível perceber tensões e acordos, bem como mútuas inserções de cada um dos sistemas em análise. Digna de nota é a análise dos chamados mecanismos de automedicação, tão combatidos pela medicina institucionalizada mas, ao mesmo tempo, efetivamente justificados em finais do século XIX, quando os próprios médicos começaram a formular enciclopédias de uso familiar, à semelhança do que já faziam os farmacêuticos, práticos e outros. Mais uma das contradições que a própria medicina ocidental nunca conseguiu dissolver desde então.
Na delimitação do exercício profissional — o que, afinal preocupava às autoridades — aparecem questões como o combate aos saberes dos práticos, curandeiros, parteiras, feiticeiros e raizeiros, a perseguição ao curandeirismo estrangeiro (considerado danoso à pátria), o combate às vias de acesso ao conhecimento alheias às prescrições ocidentais (chamanismo, invocações, uso de totemismo, etc), bem como a delimitação do limite de ação das chamadas medicinas alternativas, a homeopatia e as consultas informais. Nada disso parece ser privilégio dos pampas, como, afinal mostraram as obras de Betânia Figueiredo1 e Márcia Moisés Ribeiro,2 para citar somente duas publicadas recentemente no Brasil.
Interessante ressaltar que o século XIX parece ser decisivo para afirmação da racionalidade médica ocidental sobre as demais, especialmente com recurso de associação entre médicos, Estado e Igreja. Contudo, o estudo revela que, a despeito dessa associação, ocorreram enfrentamentos velados entre esses setores nesse período. A documentação compulsada permitiu avaliar cuidadosamente o posicionamento da Igreja, por exemplo, em relação ao tétano (chamado popularmente de “pasmo” e, no caso do recém nascido, “mal de sete dias”) e em relação às medidas sanitárias que recomendavam o afastamento entre mortos e vivos. No primeiro caso, autoridades médicas, no início do século XIX, chegaram a proibir o batismo antes que a criança completasse oito dias, tempo considerado suficiente para que a água do batismo não contaminasse o bebê. No segundo caso, as autoridades médicas e sanitárias, também da mesma maneira que o fizeram em outras nações latino-americanas, passaram a recomendar que os cemitérios fossem afastados dos centros de circulação de pessoas. A análise da postura de diferentes sujeitos em relação a esses problemas de ordem religiosa, médica e de saúde pública permitiu à autora perceber as formas e justificativas em jogo, bem como os projetos que foram vitoriosos em cada época analisada.
Ancorada em reflexões sobre a ciência, sua multidimensionalidade e a complexidade necessárias a uma reflexão sobre racionalidades diferenciadas, Silvia Di Liscia apresenta uma obra de amplo interesse, ancorada numa longa e refletida pesquisa documental e num profícuo e aprofundado diálogo entre história e antropologia. Além disso, a obra tem uma contribuição importante para os estudos de história da América, inclusive apontando abordagens singulares para um conjunto de saberes, terapias e práticas sociais e seus instigantes itinerários.
Uma obra relevante e profícua que causa, contudo, incômodos a jovens pesquisadores preocupados em evitar a dispersão temporal, a profusão de fontes e a proliferação de temáticas e recortes em análise. Se essas questões podem ser consideradas problemáticas, sobretudo por prejudicarem vez ou outra a manutenção do foco analítico e mesmo da narrativa, podemos dizer que Saberes, terapias e práticas médicas na Argentina é de interesse de todo pesquisador das ciências humanas, especialmente porque contribui para alargar os horizontes interpretativos da história (especialmente uma história dos saberes e das práticas de comunidades diferenciadas), contribui para difusão de metodologias de interpretação informadas pelas noções de circularidade e hibridismo cultural, abrindo, por isso, inúmeras outras possibilidades de pesquisa, esta, talvez, uma das importantes funções de uma ciência pautada pela pluralidade, pela sensibilidade investigativa e pela interlocução permanente.
Notas
1 FIGUEIREDO, B.G. As artes de curar. Vício de Leitura, 2002.
2 RIBEIRO, M.M. A ciência dos trópicos; a arte médica no Brasil do século XVIII. São Paulo: Hucitec, 1997.
Júnia Sales Pereira – Professora da FAFI-FEMM – Sete Lagoas. Professora e Coordenadora do Centro de Pesquisa e Extensão das Faculdades Pedro Leopoldo. E-mail: juniasales@uai.com.br
[DR]
O Rococó religioso no Brasil e seus antecedentes europeus – OLIVEIRA (VH)
OLIVEIRA, Myriam Ribeiro. O Rococó religioso no Brasil e seus antecedentes europeus. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. Resenha de: KLAUSING, Flávia Gervásio. Varia História, Belo Horizonte, v.20, n.31, p. 278-282, jan., 2004.
O Brasil tem se preocupado em catalogar e estudar as obras do seu acervo artístico, já há algum tempo. Desde o resgate e reconhecimento do barroco, feito pelos modernistas no primeiro quartel do século XX, a arte colonial luso-brasileira vem sendo estudada. Entrementes, foi o próprio Mário de Andrade que realizou um anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, no então governo de Vargas; órgão que, desde sua abertura preza não só pela preservação dos monumentos característicos da nossa história, como também pelos estudos sobre os mesmos.
Na sua “fase heróica”, tendo na presidência Rodrigo Melo Franco de Andrade, procedeu-se ao levantamento de obras a nível nacional, jamais visto até então — inventário este, documentado pela Revista do SPHAN. Deve-se levar em conta, entretanto, o caráter nacionalista desta empreitada. A influência do movimento modernista e o próprio contexto de construção de nação delegaram a estes estudos um aspecto essencialmente patriótico- buscava-se uma originalidade e uma brasilidade incipiente no período denominado então de “barroco mineiro”, sendo que hoje, até o uso deste termo, é discutível.
Ao longo dos anos, o interesse por esta arte persistiu, visto, por exemplo, a criação e extensão da Revista BARROCO, que divulgou estudos que tratavam de forma mais ampla aquele fenômeno cultural. Segundo Affonso Ávila, poeta, ensaísta e coordenador da revista, o barroco é mais que uma manifestação artística, consiste em uma visão de mundo. Uma das pesquisadoras mais atuantes de então é Myriam Ribeiro de Oliveira, historiadora doutora que se dedica ao inventarioo e à análise da arte luso-brasileira. Seus estudos — que englobam temas como Aleijadinho e sua oficina, pintura em perspectiva nos forros das igrejas mineiras, tipologia de retábulos e da imaginária, dentre inúmeros outros — são reconhecidos e tidos como referência para os pesquisadores da área. Seu método fundamenta-se na perspectiva do “connaisseur”, que parte da observação empírica da obra e, em confronto com as fontes arquivísticas, estabelece informações sobre a datação e autoria, escola regional/nacional, estilo individual e de época, e análises técnica e iconográfica.
Partindo da suposição de que a manifestação do rococó no Brasil não estava definida de forma clara e precisa, o livro da professora Myriam intitulado “O Rococó Religioso no Brasil — e seus antecedentes europeus” visa compreender melhor o estilo e favorecer sua fruição estética. Ela principia definindo sua origem na França, em fins do século XVII, quando houve uma reação ao excessivo peso ornamental do barroco e uma necessidade de redimensionamento do espaço da alta burguesia e da nobreza. Buscou-se criar assim, um ambiente de luxo, com uma decoração leve e suntuosa baseada no uso de formas fluidas e sinuosas, principalmente do ornamento rocalha.
Dividido entre os períodos Regência e Rococó, o estilo que teve sua origem no campo civil, poderia se adaptar à esfera religiosa, mesmo levando em conta os valores em importantes ao Oitocentos — o hedonismo, o racionalismo e o anti-religiosismo? Myriam responde afirmativamente a esta questão bastante controversa, alegando que a fé cristã passou por uma mudança de concepção, tornando-se mais serena e positiva. Citando o forte crescimento da Igreja (vide o grande número de construções de capelas), a autora considera o propalado anti-clericalismo do século XVIII, como, antes de tudo, um ataque às Instituições, e não à doutrina católica que se encontrava forte e revigorada.
A maleabilidade do rococó que não estava ligado sistematicamente a nenhuma doutrina teórica, sua coexistência com o estilo barroco tardio, desenvolvido na Itália no século XVIII, sua adaptação a tradições locais e, conseqüentemente, sua apresentação em aspectos variados, dificulta uma sistematização em um conjunto de categorias estéticas e histórico-artísticas. Myriam delega também a estes fatores a visão equivocada do estilo — geralmente visto como um desdobramento do barroco, sem autonomia e sem conhecimento do seu repertório formal. Foram nomes como Starobinski, Fiske Kimball, Minguet e Schoenberg que, a partir de 1950, não se limitaram a interpretações restritivas ou preconceituosas daquela concepção visual. Assim como a própria autora coloca, é fundamental perceber o longo caminho ainda a percorrer visando desvendar a diversificada gama de manifestações estilísticas, tanto no âmbito civil, como no religioso.
É também importante ressaltar o processo de internacionalização do estilo, através do intercâmbio de obras e artistas, mas, principalmente, por meio da divulgação em fontes impressas. Com a ascensão do mercado editorial de livros leigos — que tinha nas cidades francesas e na cidade germânica de Augsburgo, seus principais centros irradiadores —, se deu a circularidade dos elementos constitutivos do rococó através dos tratados teóricos, manuais e gravuras, usados permanentemente nas oficinas e levados para terras distantes da Europa Central, Portugal e colônias, onde foram, posteriormente, reinventados.
Esse papel das fontes impressas vem sendo estudado na Europa, inclusive em Portugal1 mas, no Brasil, ainda há muito o que investigar. Hannah Levy2 escreveu artigos demonstrando a recorrência às gravuras na pintura colonial e abriu o caminho para correlações afins. Fazer um levantamento destas fontes e relacioná-las com a produção artística, é um ponto fundamental na análise da arte colonial e, principalmente, na determinação das influências da mesma.
O rococó, à medida que se internacionalizava, se integrava às tradições locais. Assim, na região da Baviera, o rococó religioso vai se desenvolver de forma original, buscando produzir uma sensação de bem estar e conforto e privilegiando a oração na fé e na alegria, através de uma “obra de arte total” — na qual os efeitos de conjunto têm função primordial.
Foi assim também em Portugal, local que se caracteriza pela diversidade das escolas regionais. Em terras lusitanas porém, o estilo sofria forte concorrência com o barroco tardio, visto a grande influência italiana que o “império pombalino” vai somente acentuar. As regiões de Porto e Coimbra irão apresentar maior homogeneidade e originalidade na divulgação do rococó por meio, principalmente, da talha e da azulejaria. Componente característico da arte portuguesa, os azulejos irão se tornar um importante veículo do estilo francês, se utilizando da rocalha, da assimetria e ondulação dos contornos e, tendendo, com o tempo, a uma maior delicadeza e elegância. Myriam Ribeiro de Oliveira assinala também o papel destes azulejos na divulgação do repertório do rococó no Brasil, visto o grande número de importação para o litoral brasileiro. Ao mesmo tempo, vemos em Minas uma carência da utilização deste recurso — provavelmente devido à dificuldade de transporte — o que originou a criação de uma técnica, pelo Ataíde, da pintura em madeira de fingimento de azulejo, presente na Capela de São Francisco da Penitência em Ouro Preto, e na Matriz de Santo Antônio, em Santa Bárbara.
A circularidade propiciada pelas fontes impressas permitiu à colônia brasileira receber a influência não só de Portugal, mas também da região da Alemanha e da França e, juntamente com as tradições locais, realizou-se um mosaico de interpretações do estilo rococó. É elucidativo pensar a aproximação entre o rococó germânico e aquela produzido em Minas — muitas vezes o que se delega como “original”, é uma peculiaridade do rococó religioso — e também a grande semelhança entre as duas sociedades, visto que, em ambas, a maioria dos artistas eram locais, formados em oficinas e eram fortemente ligados às tradições artísticas próprias da região e ao seu tipo específico de sensibilidade estética.
Myriam assinala também o papel das irmandades leigas na estruturação da sociedade colonial e, a partir de meados dos Oitocentos, período em que o rococó inicia sua penetração no Brasil, na promoção de construções religiosas, visto a sua abertura à experiência de novas tendências. A autora aponta para a necessidade de se estudar a vida econômica destas confrarias, elucidando assim, aspectos importantes daquela sociedade.
Ao analisar as condições de trabalho e as categorias profissionais, Myriam ressalta o papel fundamental dos mestres de obras portugueses, que, devido à sua perícia técnica, legaram obras de grande apuro. A historiografia sobre a arte colonial tendeu a supervalorizar a contribuição dos mulatos para assim reconhecerem na colônia, um símbolo de liberdade social. Esta postura vem sendo revista e trabalhos estão sendo feitos no sentido de apurar ponderações feitas a priori.3
A autora também mostra, ao considerar detidamente a arquitetura, talha e pintura mineira, que a arte em Minas não se resume a dupla Aleijadinho-Ataíde. O panorama artístico da capitania era muito mais rico e composto de nomes que, na sua maioria, ainda estão para serem estudados. Um exemplo é a região de Diamantina em que, além do trabalho do Guarda-mor José Soares de Araújo, já analisado, vem sendo descoberto outros nomes de artistas atuantes na região, como o do cartógrafo e pintor Caetano Luiz de Miranda e Silvestre de Almeida Lopes.4
A obra não se resume à análise da produção artística do território mineiro, abarcando também o estudo do rococó no Rio de Janeiro — com uma produção específica, porém, mal conservada —, no litoral nordestino — de forte influência portuguesa — e no Pará — onde se encontra obras do arquiteto italiano Antônio Landi, grande nome do barroco tardio. A ênfase da historiografia em Minas, muitas vezes relega a importância destes centros, que também possuíram uma produção artística de forte expressão.
O livro de Myriam, como toda síntese, peca por trazer lacunas. O que, de modo algum retira o mérito desta obra, abrangente, cuidadosa e inovadora em sua interpretação. A autora inclusive reconhece que ainda há muitos estudos a serem feitos, que irão complementar este grande quadro da nossa arte colonial. Um passo importante a ser realizado ainda é o de inventariar as obras artísticas brasileiras, processo iniciado pela equipe do então SPHAN, em meados de 1940 e ainda não completado. Esse trabalho filológico é o ponto de partida para todos aqueles que querem estudar a arte luso-brasileira. Pode-se dizer, contudo, que Myriam alcança seus objetivos de, ao revisar conceitos tradicionalmente aceitos, ajudar a compreender melhor o rococó e assim, produz uma obra de referência fundamental.
Notas
1 Sobre o assunto ver o artigo de MANDROUX , Marie-Thérèse: ‘La circulation de la gravure d’ornament em Portugal du xvie. au xviiie”. In: Congresso Internalionale di Storia dell’Arte, Bolonha, 1983.
2 Cf. LEVY, Hannah. “Modelos europeus na pintura colonial” In: Revista do SPHAN, 8 (1944): 07-66.
3 Ver SANTOS, Antônio Fernando B. dos. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo e a pintura ilusionista de José Soares de Araújo. Dissertação de Mestrado em Artes Visuais, Escola de Belas Artes/UFMG, 2002.
4 Cf. ARAÚJO, Jeaneth Xavier. Para a decência do culto de Deus: artes e ofícios na Vila Rica setecentista. Dissertação de Mestrado em História/ UFMG, 2003; vj. Ainda CAMPOS, Adalgisa Arantes. “Vida cotidiana e produção artística de pintores leigos nas Minas Gerais: José Gervásio de Souza Lobo, Manoel Ribeiro Rosa e Manoel da Costa Ataíde” IN: PAIVA, Eduardo F. & ANASTASIA, Carla (0rg). O trabalho mestiço: maneiras de pensar e formas de viver — séculos XVI a XIX. Belo Horizonte: UFMG- Annablume, 2001. Pp. 247-264.
Flávia Gervásio Klausing – História/UFMG-FAPEMIG. Bolsista de Iniciação no Projeto Pompa e Semana Santa no Barroco luso-brasileiro, CNPq coordenado pela profa. Adalgisa Arantes Campos.
[DR]
A princesa do oeste e o mito da decadência de Minas Gerais: São João del Rei (1831-1888) – GRAÇA FILHO (VH)
GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste e o mito da decadência de Minas Gerais: São João del Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume. São João del Rei: UFSJ, Funtir, 2002. Resenha de: BOTELHO, Tarcísio R. Varia História, Belo Horizonte, v.20, n.31, p. 275-277, jan., 2004.
Desde a guinada de final dos anos 1970 e princípios dos anos 1980, a historiografia econômica e demográfica de Minas Gerais tem conhecido enormes avanços. Ela tem contribuído para uma revisão do significado dos séculos XVIII e, sobretudo, XIX na constituição do mercado interno, na demografia escrava e em outras dimensões da vida brasileira do período. A obra de Afonso de Alencastro Graça Filho vem acrescentar novos detalhes ao quadro já traçado e enriquecer as perspectivas com que se tem elaborado as interpretações sobre a província mineira. Versão revisada da sua tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em História do IFCS/UFRJ, sob orientação da professora doutora Maria Yedda Linhares, ela se inscreve em um duplo esforço coletivo: de um lado, a preocupação com a história agrária e regional, que marca a atuação de sua orientadora; e de outro, o esforço em repensar o passado provincial mineiro.
O livro tem por objetivo acompanhar a evolução da economia e das estruturas agrárias da região do Termo de São João del Rei, cabeça da Comarca do Rio das Mortes. A região sempre se caracterizou como o celeiro das Minas Gerais, posto que desde o século XVIII a agricultura sobrepujou a mineração como sua atividade central. O trabalho em análise, contudo, focaliza o século XIX, mais precisamente as décadas de 1830 a 1880. As hipóteses de trabalho prendem-se à capacidade de acumulação endógena dessa economia voltada para o abastecimento. Em relação ao comércio, o autor pretende demonstrar que “além de possuir uma boa capacidade de acumulação de capitais na intermediação dos negócios interprovinciais, especialmente na primeira metade do século XIX, suas estratégias de apropriação alcançavam outra dimensão, esquecida pela historiografia, de centro financeiro” (p. 25).
Para realizar a empreitada, o trabalho estrutura-se em cinco capítulos, além da introdução e das conclusões. Na introdução, são revistas algumas das principais abordagens historiográficas sobre a economia mineira no século XIX, justifica-se o enfoque regional e apresenta-se algumas perspectivas teóricas a serem adotadas. O Capítulo 1, intitulado “A Comarca do Rio das Mortes e a princesa do oeste: o ouro da lavoura das vertentes”, descreve em rápidas linhas a evolução político-administrativa de Minas Gerais ao longo dos séculos XVIII e XIX e apresenta um primeiro quadro geral da economia da região escolhida para análise. Com base em dados demográficos e em evidências colhidas de inventários post-mortem e de relatos de viajantes, o autor aponta para a capacidade de acumulação de capitais por parte da elite sanjoanense, sobretudo a partir de suas atividades comerciais.
O Capítulo 2 (“O comércio de São João del Rei: comendadores e endividados”) procura dissecar o conteúdo e a natureza desse comércio. Em primeiro lugar, são apresentadas estatísticas de produção, de exportações e de importações e informações sobre licenças comerciais e de ofícios da vila de São João del Rei. Em seguida, os inventários de grandes comerciantes são analisados a fim de expor as relações de endividamento e os mecanismos de financiamento da produção e do consumo locais. As relações familiares entre os endinheirados locais também serviam para reforçar a acumulação desses capitais. O padrão dos investimentos mostra como esses homens compartilharam atividades comerciais e agropecuárias. Além disso, à medida que avançava o século XIX, cresciam os capitais alocados em títulos públicos ou investidos em companhias industriais, estabelecimentos financeiros e empresas de transportes (a Estrada de Ferro Oeste de Minas e a Companhia União e Indústria).
No Capítulo 3 (“A civilização do milho: a estrutura agrária de São João del Rei”), expõe-se o padrão de financiamento da agropecuária local, demonstrando como São João del Rei drenava o crédito e o comércio atacadista da Comarca do Rio das Mortes e com isso criava laços de dependência com produtores de vastas regiões da província. A agricultura regional, por sua vez, apresentava uma estrutura produtiva diversificada, comportando desde pequenos agricultores até fazendas escravistas de alimentos que estavam à altura das médias e grandes fazendas da agroexportação quanto à posse de escravos e à concentração fundiária. Também para os agricultores, as relações familiares eram importantes para sua reprodução social, o que se reflete na importância dos dotes e das terras herdadas. A análise dos inventários desse grupo mostra sua diferenciação face aos comerciantes: não investiam em apólices ou ações, concentravam suas riquezas em imóveis rurais e escravaria, apresentavam um monte-mór médio inferior a metade do observado entre os comerciantes.
O Capítulo 4, intitulado “Barões e roceiros: simplicidade e ostentação na sociedade sanjoanense”, é o mais curto de todos. Em oito páginas, procura mostrar que a riqueza em São João del Rei apresenta um grau de concentração significativamente menor que outros lugares, notadamente Salvador e Rio de Janeiro.
Esses quatro primeiros capítulos apresentam um quadro bastante expressivo da economia regional, embora pequem pela falta de uma maior ordenação dos argumentos de modo que o leitor possa navegar de forma mais tranqüila pela enorme massa de informações e dados. Todos esses problemas, porém, são superados pelo que se descortina no quinto e último capítulo.
O Capítulo 5 intitula-se “Preços e salários: os ciclos econômicos de São João del Rei”. Em primeiro lugar, o autor constrói séries de preços com base nos dados dos livros de receitas e despesas da Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei. Divididos entre gêneros de importação, gêneros de produção e consumo local, gêneros de exportação e produtos de origem animal, foi possível estabelecer períodos de alta e de baixa para os diversos produtos que apareciam nas pautas de compras da Santa Casa. Com esses dados, construiu-se um índice geral de preços (não ponderado) que permitiu acompanhar as conjunturas de flutuação dos preços. Ao compará-los com o observado para o Rio de Janeiro e para Salvador, o autor pôde concluir que “a concordância entre as conjunturas de preços de São João del Rei e outras cidades brasileiras nos permite questionar o caráter ‘natural’ ou ‘vicinal’ da economia do sul de Minas, particularmente na segunda metade do século XIX” (p. 190). Trata-se de uma conclusão extremamente relevante, já que pela primeira vez é possível testar essa hipótese da economia vicinal mineira a partir de evidências empíricas bastante sólidas. A partir daí, o autor procura articular a análise dessa economia regional com as discussões recentes sobre a economia escravista brasileira em geral e as possibilidades de uma acumulação endógena de capitais. Nesse sentido, o seu trabalho contribui não apenas para a compreensão da dinâmica regional, mas colonial/nacional como um todo. Na seqüência desse capítulo, a observação do mercado de terras, das condições de reprodução do contigente cativo (via reprodução natural e tráfico) e do movimento de salários tornam ainda mais sofisticada a análise das condições de reprodução das fazendas escravistas de alimentos e de todo um mercado regional que se estruturava a partir delas.
Como se vê, trata-se de uma obra de leitura obrigatória para todos os que se interessam pela história regional (e não apenas pela história de Minas Gerais), bem como para aqueles envolvidos com o debate em torno do caráter da economia escravista brasileira e seus rumos no século XIX. Alguns problemas de revisão (como a numeração de notas finais e outros) e de editoração (dadas as dificuldades para se ler os mapas e os gráficos de preços e salários), que podem ser resolvidos em uma segunda edição, não tiram o brilho da publicação, ainda mais pela incorporação de interessante iconografia de São João de Rei e sua elite.
Tarcísio R. Botelho – Professor da PUC-MG.
[DR]
Jardim América: o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura – WOLF (VH)
WOLFF, Silvia Ferreira Santos. Jardim América: o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/Fapesp/Imprensa Oficial do Estado, 2001. Resenha de: AGUIAR, Tito Flávio Rodrigues de. Jardim América, o subúrbio jardim em versão brasileira. Varia História, Belo Horizonte, v.19, n.29, p. 157-161, jan., 2003.
São Paulo, a maior metrópole brasileira, é freqüentemente evocada por sua impressionante massa edificada, composta por edifícios altos, espalhada por extensa área, e por sua confusa, densa e violenta periferia. Porém, em meio ao mar de concreto armado e bem longe do caos da periferia, despontam bairros residenciais marcados pela exuberante presença do verde e por casas afastadas das ruas sinuosas e arborizadas. São os bairros-jardins, que dão forma ao núcleo da São Paulo cosmopolita e próspera, a região que os paulistanos simplesmente chamam de Jardins.
Jardim América, Jardim Europa, Jardim Paulistano são hoje símbolo da cidade, talvez exatamente por seu caráter de exceção. Constituem o ambiente que os paulistanos desejariam ver e ter em toda a sua cidade. Surgiram na década de 1910, como uma alternativa para a expansão dos bairros até então ocupados pelas elites — Campos Elísios, Higienópolis e a Avenida Paulista. Caíram no gosto das camadas altas e médias. Foram modelados a partir dos subúrbios-jardins que, ao longo da segunda metade do século XIX, tomaram forma nas cercanias de grandes cidades britânicas e americanas — Londres, Nova York, Chicago. E, por sua vez, serviram de modelo para diversos outros bairros residenciais, enquanto consolidaram-se entre os anos 1920 e 1950 como espaço de vida das faixas mais ricas e dinâmicas da população da cidade. Por tudo isso, foram tombados pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo), nos anos 1980, após intensa pressão popular.
Os Jardins vêm despertando a atenção de historiadores, arquitetos e urbanistas. Os historiadores — com destaque para Nicolau Sevcenko, em seu Orfeu extático na metrópole, e para Roney Bacelli, com sua dissertação A presença da Cia. City em São Paulo (1915-1940) e a implantação do primeiro bairro-jardim — interessados nas articulações da constituição dos Jardins com a modernização da sociedade paulista e nas possibilidades que o estudo dessa região abre para a história social e cultural da metrópole brasileira. Os arquitetos e urbanistas — entre eles Hugo Segawa e Dacio Araújo Benedicto Ottoni — fascinados pelas conexões entre o estabelecimento dos Jardins e uma das mais influentes utopias urbanísticas do fim do século XIX, a cidade-jardim proposta em 1898 pelo inglês Ebenezer Howard (1850-1928) como alternativa para as congestionadas cidades européias, numa obra com título eloqüente: Tomorrow: a peaceful pathto social reform1. Fascínio esse amplificado por serem os arquitetos que traçaram o Jardim América, o primeiro dos bairros-jardins paulistanos, os ingleses Raymond Unwin (1863-1940) e Barry Parker (1867-1947), os mesmos que, sob a liderança de Howard, conceberam e implantaram acerca de 70 quilômetros ao norte de Londres, a partir de 1903, a primeira garden city britânica, Letchworth. E por serem eles, também, os arquitetos que, entre 1903 e 1907, projetaram Hampstead, um bem sucedido garden-suburb nos arredores de Londres, já sem vínculos com Howard mas incorporando muito da experiência por eles desenvolvida em Letchworth.
Cidade-jardim, subúrbio-jardim e bairro-jardim são concepções urbanísticas surgidas a partir dos anos 1850 como respostas aos problemas decorrentes da rápida urbanização que marcou a Europa e a América do Norte no século XIX. O subúrbio-jardim pode ser entendido como o desdobramento de configurações urbanas que desde a Antiguidade estiveram presentes na cidade ocidental: chácaras e casas de campo nos arredores das cidades, possibilitando aos privilegiados a fuga dos densos ambientes urbanos. No século XIX, o desenvolvimento de estradas de ferro e linhas de bonde tornou viável o estabelecimento dos espaços de vida de grande número de pessoas em subúrbios cada vez mais distantes dos centros urbanos, expandindo as cidades. A Garden city de Howard foi, por sua vez, desdobramento desse processo de expansão urbana, propondo a criação de comunidades autônomas e de crescimento controlado, integrando campo e cidade. Com o subúrbio jardim, arquitetos britânicos e americanos também buscaram associar campo e cidade, porém sem pretenderem a autonomia característica da garden city. O subúrbio-jardim deve, assim, ser entendido como extensão da grande cidade, enquanto a cidade-jardim coloca-se como uma nova cidade, distinta da metrópole à qual se articula. Por fim, o bairro jardim surgiu da aplicação do modelo do subúrbio-jardim a contextos essencialmente urbanos, como no caso de São Paulo.
O primeiro bairro-jardim paulistano, o Jardim América, é o objeto do livro de Silvia Ferreira Santos Wolff. Longe de fazer a história de um bairro, a autora constrói seu objeto a partir de uma inquietação. Como pesquisadora do Condephaat, Silvia Wolff constatou que o processo de tombamento dos bairros-jardins e os mecanismos legais adotados em 1985 para a preservação desses bairros visavam sobretudo a conservação da paisagem urbana, do verde, das ruas e das praças. Ou seja, a preservação do espaço urbano. Quanto à conservação dos edifícios, pouca coisa, quase nada. Ora, sabemos que o traçado e a paisagem urbana dependem do modo como os edifícios configuram o espaço da cidade. Seria possível, portanto, preservar o espaço urbano sem conservar a arquitetura que o constitui? Por que a arquitetura do Jardim América (e de outros bairros, como o Pacaembu) não despertou maior interesse do Condephaat?
Para responder a essas questões, Silvia Wolff repassou em sua tese de doutoramento em Arquitetura, desenvolvida na USP sob orientação do Professor Carlos Lemos, o estabelecimento do Jardim América, empreendimento imobiliário comercial, distante das concepções utópicas da cidade-jardim e próximo ao subúrbio-jardim anglo-americano. Considerando que a arquitetura das casas do Jardim América vem sendo pouco estudada, por ser ela produção arquitetônica de transição entre duas produções mais valorizadas no campo da arquitetura — o ecletismo classicizante das últimas décadas do século XIX e a arquitetura modernista que se tornou hegemônica na paisagem paulistana após a Segunda Guerra Mundial —, Silvia Wolff levou a cabo um extenso levantamento arquitetônico das edificações do Jardim América com base no acervo do arquivo da Cia. City, empresa responsável pela implantação desse bairro-jardim. Levantamento que, apoiado por cuidadosa revisão da concepção urbanística da cidade-jardim e do subúrbio-jardim, é o ponto alto do trabalho e traz contribuições para pesquisadores interessados no estudo das grandes cidades brasileiras e nos modos de vida de seus habitantes.
A pesquisa histórica desenvolvida por Silvia Wolff nos arquivos da Cia. City deve ser destacada, pois aponta caminhos instigantes para arquitetos e historiadores que, tomando a produção arquitetônica como produção cultural, procuram lançar novas luzes sobre as transformações urbanas, especialmente desvelando as convergências e conflitos entre os interesses privados e o poder público na acelerada expansão das cidades brasileiras, no século XX. Conhecida como Cia. City, a City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited foi organizada em 1911, com escritórios em São Paulo, Londres e Paris, associando o arquiteto Joseph Bouvard e o banqueiro Édouard Fontaine de Laveleye, ambos franceses, a um grupo de investidores e proprietários de terras nos arredores de São Paulo, integrantes da elite paulista e com acesso franco à cúpula político-administrativa do estado. Cincinato Braga, político paulista, Horácio Belfort Sabino, advogado e proprietário de terras, e Victor da Silva Freire, professor da Escola Politécnica e diretor de Obras Públicas da Prefeitura de São Paulo, estiveram ligados ao início da atuação da Cia. City. Lord Balfour, presidente da São Paulo Railway Co. e governador do Banco da Escócia, também fazia parte da primeira diretoria da empresa. Com os capitais reunidos, a Cia. City comprou aproximadamente 12 km² de terras nas vizinhanças das áreas que já vinham sendo ocupadas pelas camadas altas da sociedade local. Constituída, a companhia iniciou a urbanização de partes dessas terras e a venda dos lotes, entrando no movimentado mercado imobiliário paulistano. Ainda hoje a Cia. City é atuante nesse mercado e seu sucesso derivou, em grande medida, das estratégias inovadoras e bem traçadas que marcaram seus primeiros anos. Estavam entre essas estratégias, por um lado, técnicas de venda a prazo dos lotes, de financiamento da construção das casas e de seleção dos compradores e, por outro lado, a busca de soluções urbanísticas que tornassem diferentes e atraentes seus loteamentos.
Isto explica a contratação, em 1913, de Raymond Unwin e Barry Parker para a elaboração do projeto do Jardim América e a vinda do segundo a São Paulo, em 1917, para conduzir a implantação do bairro-jardim. Em Londres, Unwin e Parker projetaram a concepção básica do loteamento, lançando mão do know-how acumulado nos projetos da cidade-jardim de Letchworth e do subúrbio-jardim de Hampstead. Em São Paulo, entre 1917 e 1919, Barry Parker desenvolveu o projeto, participou dos trabalhos de urbanização, definiu padrões urbanísticos para o Jardim América, influenciou a legislação urbanística da cidade (através de contatos com o diretor de obras da Prefeitura, Victor da Silva Freire) e estabeleceu padrões arquitetônicos para as casas do bairro-jardim, projetando algumas delas, inclusive. O levantamento da passagem de Parker por São Paulo é outro ponto destacado no trabalho de Silva Wolff e, sem dúvida, interessa aos historiadores e arquitetos que estudam as grandes cidades brasileiras.
Em resumo, o livro de Silvia Wolff, deve ser entendido como um trabalho que, desenvolvido a partir do campo da arquitetura e do urbanismo, situa-se na fronteira entre o campo da história e o campo da história da arquitetura e do urbanismo. Lançando mão do método histórico para o estudo da produção arquitetônica e da cidade, a autora traz uma importante contribuição à história social e cultural de São Paulo.
Por fim devemos elogiar a qualidade da edição e o modo como os numerosos desenhos, mapas, fotos e reproduções de peças publicitárias, pertencentes ao acervo do arquivo da Cia. City, estão associados ao texto, especialmente na parte dedicada ao levantamento e análise da arquitetura do Jardim América. Porém, não podemos deixar de lamentar a ausência de um glossário dirigido aos leitores menos familiarizados com os termos usualmente empregados na arquitetura e urbanismo. Num trabalho de fronteira, como esse de Silvia Wolff, é sempre útil lembrar que nem todos os dicionários comuns explicam o que vem a ser um traçado hipodâmico ou uma sash window.2
Notas
1 Amanhã: um caminho pacífico para a reforma social. Em 1902, essa obra seria reeditada com o título: Garden cities of tomorrow — Cidades-jardins de amanhã. Para os interessados, vale consultar a tradução brasileira, editada em São Paulo, em 1996, pelas editoras Hucitec e Annablume, reeditado em 2002.
2 Traçado hipodâmico é nada mais que o velho traçado em tabuleiro de xadrez, no qual ruas se cruzam ortogonalmente definindo quarteirões retangulares. O termo evoca Hipódamo, o grego que, no século VI a.C., teria sido o primeiro a propor esse traçado regular. Sash window é um tipo de janela comum nas casas inglesas, com duas folhas envidraçadas (sash) que podem ser levantadas ou abaixadas com facilidade, lembrando o funcionamento de uma guilhotina. Daí vem o termo brasileiro: janela de guilhotina.
Tito Flávio Rodrigues de Aguiar – Arquiteto. Doutorando em História, UFMG.
[DR]
Fragmentos da História Intelectual: entre questionamentos e perspectivas – SILVA (VH)
SILVA, Helenice Rodrigues da. Fragmentos da História Intelectual: entre questionamentos e perspectivas. Campinas: Papirus, 2002. Resenha de: LOPES, Marcos Antônio. O mapa de um labirinto: a História Intelectual, seus problemas, seus métodos e incertezas. Varia História, Belo Horizonte, v.18, n.28, p. 225-229, dez., 2002.
Em Fragmentos da História Intelectual Helenice Rodrigues da Silva apresenta ao leitor brasileiro campos temáticos e domínios teóricos em relação aos quais ainda não há “fronteiras” bem definidas. Como campo de pesquisa relativamente recente na França, as temáticas e os métodos de abordagem da História Intelectual ainda estão por ser fixadas. Segundo a autora, isto faz da História Intelectual um campo de estudos marcado pela indeterminação dos objetos e à procura de uma verdadeira identidade.
Gênero historiográfico forte na Inglaterra e nos Estados Unidos, países nos quais a expressão História Intelectual possui sentidos muitos diferentes, a variante francesa apresenta diferenciais que a particularizam, tornando-a um “desvio” fecundo e revelador de aspectos novos que as obras de pensamento podem propiciar. Mesmo que aguarde por uma definição de seus estatutos e pela conquista de seus direitos de cidade, a História Intelectual francesa, a julgar por este livro, não se afigura como um passo em falso, como uma disciplina que se desloca em terreno movediço.
Os oito textos densos e instigantes reunidos sob a marca despretensiosa de “fragmentos” demonstram que o gênero pode não possuir as suas cartas de nobreza, principalmente quando comparado à grande tradição de outros ramos da pesquisa histórica no país de Michelet. Mas esses “fragmentos” de Helenice Rodrigues demonstram, com um excesso espantoso de evidências, que a História Intelectual francesa já conseguiu definir traços bem pronunciados de identidade. Neste sentido, ela não pode ser confundida com a Intelectual History norte-americana de Martin Jay e de Dominique LaCapra como também não pode ser aproximada, sem reservas, da História Intelectual inglesa praticada pelo círculo de Cambridge, apesar de alguns elementos compartilhados com esta última vertente.
Certamente, ao fazer alianças teóricas ou ao recusá-las, nota-se que a História Intelectual francesa já entrou em seus anos de maioridade. Sem dúvida, os temas, os problemas e os métodos da História intelectual aparecem, neste livro, formulados com muito vigor e sofisticação. Não há nada que lembre uma narrativa empírica ao acaso das evidências. Pelo contrário, a autora vai tecendo a sua complexa tapeçaria matizando-a com um aparato teórico que impressiona. Assim é que, por “fragmentos da história intelectual” devemos compreender, muito antes, um conjunto multifacetado de nuanças do que um agrupamento de objetos dispersos.
Entretanto, riqueza temática e sofisticação teórica podem apresentar um peso excessivo, cobrando preço elevado ao leitor. Curto mas denso, rápido porém complexo, o livro de Helenice Rodrigues é uma panorâmica na qual se justapõem, por uma opção autoral lúcida e muito apropriada, o movimento das idéias e a dinâmica da história efetiva francesa em cinco décadas de embates dos intelectuais entre si e em meio às lutas de seu tempo. À diversificação temática do livro, que devemos compreender por riqueza de nuanças, alia-se a simplicidade e a elegância da escrita da autora. Certamente que a sua editora poderia ter se esmerado um pouco mais na revisão dos originais, pois as sucessões de gralhas ao longo do texto hão de provocar algum desconforto nos leitores que apreciam conteúdo e forma. A ausência de hifenização, as grafias incorretas dos nomes de autores e uma série de pequenos problemas de tradução, como é o caso do livro do filósofo francês Julien Benda — A traição dos clérigos, quando o mais razoável seria A traição dos letrados ou mesmo A traição dos intelectuais — poderiam ter merecido uma maior atenção.
Em seu texto, a autora dá mostras de se esforçar em não elidir a trajetória dos intelectuais do mundo histórico e das circunstâncias sobre as quais viveram e atuaram. Ao destacar a importância da produção, da recepção dos textos e das intervenções públicas dos intelectuais franceses, ela revela toda a sua preocupação em distinguir a História Intelectual de uma história de sistemas formais de pensamento, esta última desenraizada da vida social e sem conexões com a realidade às vezes cruel e selvagem da história efetiva do mundo contemporâneo. Este é particularmente o caso dos capítulos sobre Hannah Arendt e Jean-Paul Sartre, em que a barbárie do nazismo e a opressão do colonialismo revelam a face negra da civilizada Europa.
Esta orientação teórica, ou antes, esta opção de foco, definida com ênfase no ensaio de abertura “História Intelectual: condições de possibilidades e espaços possíveis” pode parecer um esforço preventivo elementar, mas na prática não o é. Ora, quando movimentadas pelos historiadores, muitas vezes, as idéias tendem a ganhar uma força centrífuga que, em geral, guiam-nas para áreas de escape sem base consistente de apoio. São as derrapagens comuns dos historiadores que acabam centrando suas abordagens em circuitos analíticos que se esgotam no próprio sistema de idéias e na arte pedregosa de sua interpretação. É o que se tem denominado por internalismo, com um fraco impulso para a integração do texto ao mundo histórico que o gerou e uma quase total carência de indagações pertinentes à pesquisa histórica.
Creio que a autora tenciona deixar uma mensagem não completamente explicitada: o mundo da pesquisa histórica está cheio de boas intenções para estabelecer a perfeita síntese entre teoria e objeto. Isto pode significar que as tais boas intenções criteriosamente expostas em páginas e páginas em que o plano teórico certo e seguro é celebrado como instrumento eficaz de conexão das idéias com a realidade histórica que as gerou, nem sempre é seguido à risca por aqueles que as costumam enunciar. Desse modo, a História Intelectual pode fazer com que as idéias desfilem nuas por um longo tempo, quando despidas de sua armadura natural, ou seja, quando separadas de seu contexto. E por contexto não devemos compreender apenas o chamado circuito da tradição interpretativa dos textos, mas preocuparmos com os problemas reais do mundo histórico do autor. Além disso, é preciso cercar as análises dos textos de uma teoria da ação.
Sem dúvida, este esforço de enraizamento, de contextualização, pode ser uma virtude real da História Intelectual francesa. E tanto mais ainda se a compararmos às tendências pós-estruturalistas, em que o apego à análise textual é a nota forte. Tudo é texto, ou melhor, discurso, parece ser o principal argumento dessa história de extração internalista. Ora, hoje há consenso de que a História é um tipo específico de discurso. Mas um tipo específico de discurso sobre o quê? Ora, sempre houve ou existirá uma realidade fora do texto que requer a parcela mais substancial da atenção dos historiadores. Cabe distinguir, então, que se um documento histórico, de qualquer natureza, deve ser apreendido pelo historiador como algo que nunca representa a verdade — é apenas uma representação de realidades contingentes e, portanto, um “monumento” da capacidade de representação humana — o discurso define algo como a “alma” do texto: uma matéria opaca que apenas tornar-se-á legível pelo esforço da operação interpretativa. Como afirma Ricoeur, o estruturalismo tende a estudar a linguagem poupando o sujeito, a ação, os eventos. A História Intelectual, segundo a defesa de Helenice Rodrigues, investe na capacidade do locutor, na força ilocucionária dos discursos, na capacidade do sujeito em situar-se como ator no mundo, como um agente ativo que se opõe a interlocutores reais, como um coeficiente de força que quer atingir um alvo em sua existência histórica concreta.
Outro mérito destes Fragmentos… é que, além de retratar a complexidade do universo de relações dos intelectuais em meio aos escombros do pós-guerra e dos dilemas das três décadas gloriosas da retomada econômica da França (1945-75), o livro é também uma bem fundamentada exposição de teoria e metodologia da história. Nesse sentido, constitui-se num elenco de abordagens de autores que, apesar de não serem historiadores de ofício, prestaram um grande contributo ao desenvolvimento da história-disciplina: Bourdieu, Elias, Cassirer, etc.
Surpreendente pelas tramas e tensões que revela ao leitor, e, sobretudo, pela novidade e originalidade das análises, é preciso confessar a sensação de perplexidade diante de um conjunto temático tão rico e, consequentemente, tão difícil de devassar. Sempre explorando temas candentes da história francesa contemporânea, questões geradoras de intensos debates e grandes mobilizações sociais (reflexos do nazismo, a revolta de 68, a independência da Argélia, a divisão identitária da Revolução Francesa), Helenice Rodrigues se aproxima bastante de uma história social das idéias, ao destacar as correntes intelectuais que influenciaram e contribuíram para dar “forma” às representações coletivas dos franceses na segunda metade do século XX.
Inegavelmente, há um grande esforço em levar a bom termo uma História Intelectual empenhada em demonstrar a gênese e a difusão das idéias e da influência exercida por alguns intelectuais em determinadas conjunturas. A autora demonstra como os acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais foram influenciados pelo movimento das idéias (e vice-versa), por certos “climas” intelectuais que lhes antecedem no tempo e que, em certa medida, lhes preparam o terreno. Mas, não tendo a intenção de enfocar as idéias sob o ângulo de uma história dos intelectuais, a autora não explora qual foi a real força transformadora do intelectual interventor (caso de Sartre) que brande a pena como uma espada afiada. E não demonstra, por exemplo, como as idéias de Sartre agiram como uma espécie de “doutrina preparatória” (caso da guerra de independência da Argélia) que, combinadas à linhagem de marxismo adotada pelo intelectual engajado, atuaram como uma força desagregadora do autoritarismo e da opressão colonial.
Em a Traição dos intelectuais, o filósofo francês Julien Benda demonstrou como estas doutrinas preparatórias atingem um potencial de transformação a partir do momento em que os vulgarizadores de idéias entram em cena. É o que Benda chamou por “expressão derivada” da obra intelectual, que os intelectuais engajados “digerem”, reformulam e difundem. A título de ilustração, trata-se, por exemplo, do uso pragmático que o leninismo e mais tarde o stalinismo fizeram da obra de Marx, deformando algumas de suas idéias originais para melhor empregá-las no processo de convencimento de seus adeptos. As idéias, assim reapropriadas, e, em certa medida, transformadas em sua natureza original por uma confraria de discípulos, se difundem entre as massas, podendo levar a transformações. Mas aqui vale a regra de que não se pode esperar do autor o que ele não prometeu levar a cabo. Identificar todos os nós de uma rede, para usarmos um termo tomado de empréstimo a Foucault, talvez seja mesmo extrapolar os limites impostos à problemática da obra: “questionamentos e perspectivas”.
Em síntese, os problemas formulados por esta História Intelectual, da forma como a pratica Helenice Rodrigues, são todos legítimos e pertinentes de pesquisa e de reflexão. O único equívoco será mesmo o de continuar dissertando sobre o livro, de cuja energia galvanizadora extraímos estas tortas linhas. Insistir nisto é algo assim como fazer a autêntica obra do “escavador de precipícios”, para recordarmos a irônica expressão que Voltaire gostava de empregar ao caracterizar os personagens mais equivocados de seus textos históricos e de seus contos filosóficos.
Marcos Antônio Lopes – Departamento de Ciências Sociais/Universidade Estadual de Londrina.
[DR]
O Brasil descobre a pesquisa científica: os museus de ciências naturais no século XIX – LOPES (VH)
LOPES, Maria Margaret. O Brasil descobre a pesquisa científica: os museus de ciências naturais no século XIX. São Paulo, Hucitec, 1997. Resenha de: FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. Os Museus e a pesquisa. Varia História, Belo Horizonte, v.18, n.27, p. 161-162, jul., 2002.
Os museus têm despertado interesse crescente enquanto objeto de pesquisa e intervenção de vários campos profissionais. Afinal, hoje, reconhece-se que estes espaços podem movimentar alguns milhões de dólares. Mas independente do fator econômico, os museus estão se tornando importantes enquanto objeto de pesquisa, mais especificamente os museus de ciência, criados no Brasil no século XIX, podem ser compreendidos como espaços privilegiados para analisar aspectos dos primórdios do desenvolvimento da pesquisa científica no País.
Podemos citar dois títulos que contemplam este objeto de estudo, respeitando as especificidades dos recortes temáticos e teóricos de cada um. São eles “O espetáculo das raças” de Lilia M. Schwarcz e “O Brasil descobre a pesquisa científica” de Maria Margaret Lopes, respectivamente publicados em 1993 e 1997. O primeiro recebeu ampla divulgação, mas o objetivo maior do texto não estava centrado nos museus e sim nas instituições e na questão racial no Brasil no século XIX. Mesmo assim, entre as instituições estudadas, os museus são contemplados. Ambas autoras escolheram como tema de análise para o entendimento do século XIX uma passagem pelo mundo dos museus brasileiros, especialmente os chamados museus de ciência.
De modo mais direto, este é o objeto de pesquisa de Maria Margaret Lopes em “O Brasil descobre a pesquisa científica”. A grande novidade do texto é a mescla entre a pesquisa histórica propriamente dita, especificamente no campo da história da ciência, com a literatura especializada em museologia. Mesmo tendo formação básica em geologia, a autora, ao desenvolver pesquisa histórica para fins do seu doutoramento, incorporou, não apenas o método histórico, ou parafraseando E. P. Thompson a “lógica da história”, como também dominou com destreza os meandros da discussão sobre museus nos tempos atuais. Desta forma foi possível realizar uma análise histórica, tendo como parâmetro um entendimento de museu extremamente contemporâneo. O pressuposto básico deste entendimento moderno de museus pressupõe que os objetos (exemplares da fauna, da flora, artefatos etc), ao serem recolhidos (retirados do contexto original) para tornarem-se objetos pertencentes ao acervo do museu, perdem seu valor primeiro, transformam o valor original, agregam novos valores. Esta metamorfose sofrida pelos objetos agregados aos acervos museológicos trata-se da formação/criação de novos semióforos, de acordo com Pomian1.
Outro ponto alto do texto em questão é ter privilegiado uma abordagem de história da ciência para se investigar as origens dos museus de ciência no Brasil. Se por um lado é possível identificar bons trabalhos de pesquisa sobre os primórdios da ciência no Brasil, por outro lado não havia uma preocupação em compreender os museus de ciência como espaços privilegiados de se produzir ciência. O texto em questão, O Brasil descobre a pesquisa científica, vem romper esta barreira e tabu, elegendo como tema central os próprios museus de história natural.
Os museus são espaços propícios às intervenções e análises interdisciplinares. Podem ser abordados do ponto de vista da comunicação com o público, da organização do acervo, da estrutura das exposições, das políticas de comunicação e intercâmbios com instituições afins para citarmos alguns exemplos. Mas os museus também podem ser estudados e analisados a partir da sua origem e das relações estabelecidas para viabilizar sua existência. Dentro deste ponto de vista o estudo dos museus insere-se no espaço da história da ciência.
No final do livro encontram-se algumas ilustrações que sem dúvida ganhariam se estivessem apresentadas ao longo do texto.
Nota
1 pomian, k. coleção. enciclopédia einaudi, 1. memória – história. porto: imprensa nacional/casa da moeda, 1984.
Betânia Gonçalves Figueiredo – Professora do Departamento de História – UFMG – Grupo Scientia & Technica.
[DR]
Erário Mineral – FERREIRA (VH)
FERREIRA, Luís Gomes. Erário Mineral. Organização de Júnia Ferreira Furtado. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Estudos Históricos e Culturais. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2002, 2 Vol. ilustr. (Coleção Mineiriana, Série Clássica). Resenha de: MIRANDA, Tiago C. P. dos Reis. Óleo de ouro: as Minas e seus tesouros médicos e minerais. Varia História, Belo Horizonte, v.18, n.26, p. 156-163, jan., 2002.
Em 1735, Luís Gomes Ferreira, natural de São Pedro de Rates, na Província do Minho, fez estampar em Lisboa um grosso volume com o relato de mais de vinte anos de experiência a combater as doenças dos novos sertões da América Portuguesa. Denominou-o Erario Mineral dividido em doze Tratados, dedicado e offerecido á Purissima, e Serenissima Virgem Nossa Senhora da Conceyçaõ: título digno, alto e elegante embora engenhoso, logo à partida, e equivocamente alusivo às virtudes do ouro. Dele houve notícia Diogo Barbosa Machado, que o registou de forma sucinta no tomo terceiro da Bibliotheca, enobrecendo as circunstâncias do seu autor (“cirurgiaõ approvado”), em “professor de Chirurgia”.
Outros letrados da altura parecem haver acolhido com mostras de estima o lançamento desse trabalho de vulto. A começar pelos censores, que lhe gabaram a utilidade, e pelos poetas que compuseram versos encomiásticos, também publicados antes do texto de Gomes Ferreira. Estudos recentes de história do livro indicam que ele figurou com alguma freqüência em coleções coloniais, sobretudo na zona das Minas (José Maurício de Carvalho, “O que se lia no Brasil Colonial”, Cultura, Vol. XIV, 2002, p. 44). Chegou-se a notar, inclusive, ser o Erario o único título constante em várias listagens de impressos setecentistas da região de Sabará (cf. texto introdutório de Júnia Ferreira Furtado, p. 26). Estranhamente, porém, ao fim de umas décadas, tornar-se-ia muito difícil conseguir encontrá-lo.
Inocêncio Francisco da Silva, no início dos anos de 1860, dizia ter visto somente um exemplar, em poder de João José Barbosa Marreca, conservador da Biblioteca Nacional de Lisboa. Nada, de resto, aduzia de novo sobre o formato da obra, nem a respeito da origem de quem a escrevera. Num curto verbete do Diccionario, o que se acha é um juízo bastante severo sobre o valor das doutrinas de Gomes Ferreira, que sofreriam de uma aflitiva falta de “precisão, methodo, ordem, e conhecimento dos termos facultativos”, como se via de suas receitas para tratar a gafeira das bestas (sarna ou morrinha) ou os “sonhos medonhos e tristes”. A esse respeito, merecedora de referência seria também uma breve passagem em que o autor aludia à maneira como utilizava “os seus segredos nos enfermos encarregados a seus collegas, mas occultamente, porque elles lhos costumavão impugnar, de certo com boa razão”. Aos olhos severos de Inocêncio, os preciosos saberes de Gomes Ferreira, por não guardarem qualquer paralelo com “formulas e dimensões pharmaceuticas”, só soavam apenas “disparatados”.
O vagaroso processo subseqüente de reabilitação processou-se sobretudo no campo da história da medicina, e no Brasil. Ainda em meados da década de 1880, pôde o Erario assegurar a sua presença numa importante iniciativa universitária para valorizar o patrimônio bibliográfico nacional (v. Carlos António de Paula Costa, Catálogo da exposição medica brasileira…, Rio de Janeiro, Typografia Nacional, 1884). Anos depois, seria citado num estudo de Álvaro A. de Sousa Reis (“História da literatura médica brasileira”, Revista do Instituto Histórico e Geografico Brasileiro, Vol. 9, 1922, pp. 501-549), basicamente com o mesmo propósito de enumeração que ainda se havia de observar num pequeno apanhado sobre práticas médicas coloniais que em 1960 Lycurgo Santos Filho redigiu para o volume segundo da História Geral da Civilização Brasileira (p. 157), dirigida por Sérgio Buarque de Holanda. Este foi, aliás, um dos raros autores que, até ao final da década de 1950, parece ter lido Gomes Ferreira em busca de dados originais: com a espantosa familiaridade de quem freqüentava os títulos mais obscuros, no seu ensaio “Metais e pedras preciosas” Sérgio Buarque de Holanda recorreu ao Erario para aduzir um efêmero exemplo individual em favor da idéia da probabilidade de um ingresso significativo de estrangeiros na região das Gerais, no início do século XVIII (Ibidem, p. 289).
Muito menos contido se veio a mostrar, logo em seguida, o erudito e historiador anglo-saxônico Charles Ralph Boxer. Vários parágrafos de um dos capítulos centrais de A Idade do Ouro do Brasil (1962) assentam sobre passagens de Gomes Ferreira. Dele são, entre outros, alguns testemunhos das condições inumanas a que se viam submetidos os negros faiscadores, das diferentes categorias em que na altura os próprios colonos os classificavam, e das doenças ou ferimentos que afligiam tanto os escravos, como os senhores da zona das Minas. Na pena de Boxer, as qualidades profissionais de Gomes Ferreira merecem leitura compreensiva: pelo cuidado em prescrever o banho diário e pelo empenho com que evitava o recurso à sangria e ao purgante, “nosso cirurgião estava muitos anos à frente de sua época” e sua obra constituiria “fascinante prólogo para um moderno Manual de Medicina Tropical”.
Tamanho encanto foi o de Boxer, que, após alguns anos, foi ele outra vez quem teve o cuidado de assinalar a obtenção para o acervo da Lilly Library de um espantoso novo espécime bibliográfico: Erario mineral, utilissimo, não só para os professores de cirurgia que residem na America Portugueza, a cujo beneficio particularmente se escreveo, mas universalmente para todos, os que professão a mesma faculdade… Agora novamente impresso, e augmentado com hum copioso numero de exquisitas, e admiraveis receitas… Lisboa, 1755. Dois volumes in-quarto (“A Rare Luso-Brazilian Medical Treatise and its Author: Luís Gomes Ferreira and his Erario Mineral of 1735 and 1755”, Indiana University Bookmark, Vol. 10 [Nov., 1969], pp. 48-70, in Opera Minora, Edição de Diogo Ramada Curto, Vol. II [Orientalismo], Lisboa, Fundação Oriente, 2002, pp. 221-234). Até ao momento, essa segunda edição nunca fora devidamente descrita. Voltando portanto a insistir no interesse da obra, Charles Boxer soube agarrar a ocasião para alargar os seus comentários na Idade do Ouro, debater um recente trabalho de Ivolino de Vasconcelos sobre o trajeto de vida de Gomes Ferreira (“Notícia histórica sobre Luís Gomes Ferreira e sua obra, o Erario Mineral”, Anais do Congresso Comemorativo do Bicentenário da transferência da sêde do governo do Brasil da cidade do Salvador para o Rio de Janeiro, 1763-1963, Vol. III, Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1967, pp. 375412) e sugerir a existência de algumas passagens revistas e ampliadas no Tratado Terceiro do exemplar recém-descoberto. A apurada comparação das duas versões demoraria mais de três anos a efetuar-se, por causa da dificuldade de acesso ao texto de ‘35. Quando por sorte, em Indiana, se adquiriu um exemplar da primeira impressão, Charles Boxer pôde afinal confirmar a validade de suas hipóteses (“A Footnote to Luís Gomes Ferreira, Erario Mineral, 1735 and 1755”, Indiana Universty Bookmark, Vol. 11 [Nov., 1973], pp. 89-92 in Opera Minora [Supra cit.], pp. 235-237).
Atualmente, parece não haver notícia de outro qualquer conjunto completo de 1755. Ao que se sabe, apenas existe o registro de uma cópia do segundo volume na Biblioteca da Faculdade de Medicina de Lisboa (Catálogo das obras da Colecção Portugueza anteriores à fundação das Régias Escolas de Cirurgia em 1825, Lisboa, 1942, p. 138). Rubens Borba de Moraes limita-se a informar que se trata de edição ainda mais rara que a primeira (Bibliographia Brasiliana, Rio de Janeiro, Livraria Kôsmos Editora, [1983], Vol. I, p. 307).
Quanto ao tomo de ’35, Charles Ralph Boxer referiu a existência de oito exemplares; quatro, no Brasil. Infelizmente, pouco mais disse a esse respeito, além de que um deles estava na posse de familiares de Gomes Ferreira, no Rio de Janeiro. Sabe-se agora que, ainda no Rio, se acha também um exemplar na Fundação da Biblioteca Nacional, e um segundo, na FIOCRUZ. Em Belo Horizonte, o Centro de Memória da Medicina da UFMG possui uma cópia em que falta uma folha. Por fim, em Sabará, encontra-se outra a necessitar de restauro na coleção da Biblioteca Borba Gato.
As indicações bibliográficas das “Bases de dados sobre história da ciência, da medicina e da técnica em Portugal e Brasil, do Renascimento até 1900” (Lusodat), do Grupo de História e Teoria da Ciência da Universidade de Campinas (http://www.ifi.unicamp.br/~ghtc/lusodat.htm), permitem a localização de um bom exemplar na Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Os Reservados da Biblioteca Nacional de Lisboa têm uma cópia em estado satisfatório, originária da livraria de D. Francisco de Melo Manuel da Câmara (Cabrinha); possivelmente, a que leu Inocêncio. É, no entanto, na Biblioteca de Mafra que parecem estar dois dos mais soberbos espécimes da rara edição de 1735: encadernados em inteiras de pele e com lombadas marcadas a ferros de ouro, praticamente não apresentam indícios de uso. Foram descritos em 1963 no catálogo datilografado de Guilherme José Ferreira de Assunção, “O Brasil nas obras da Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra”, que nos últimos anos de vai ampliando (muito agradeço as informações facultadas a este respeito pela bibliotecária, Dr.ª Teresa Amaral).
Cabe agora ao Centro de Estudos Históricos e Culturais da Fundação João Pinheiro a importante iniciativa de facilitar o acesso ao texto do Erario, lançando-o na Série de Clássicos da sua já longa “Mineiriana”. Trata-se de edição acadêmica em dois volumes fartamente ilustrados. Logo a abrir, vê-se a imagem do frontispício do exemplar da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, singularizado por marcas de traça marginais. Não aparece aí o carimbo de posse “Da Real Bibliotheca”, porque o puseram na folha de rosto da dedicatória “Á Puríssima Virgem Maria Nossa Senhora da Conceyção”. Quem o quiser conferir, encontrará igualmente na folha de guarda um pequeno lembrete em caligrafia cursiva setecentista: “Este Livro entregou/ o Pe Fr Antº de S Martinho/ da Provª da Solede pª q lho goar/dassem”.
Do dossiê iconográfico, também fazem parte algumas dezenas de reproduções de ex-votos do século XVIII, cenas de práticas médicas, interiores de hospitais, instrumentos de cirurgiões, utensílios de farmácia e plantas curativas. O quotidiano das Minas do Ouro surge em imagens de catas e negros. Algumas delas, oitocentistas. De interesse especial é um retrato de um homem maduro, de condição mediana, que, segundo se crê, representa Gomes Ferreira.
Esta nova publicação atualiza a ortografia do texto de ’35, mesmo nos versos encomiásticos introdutórios. Preserva, porém, as regências verbais, as contrações de preposição e artigo, e a maior parte das letras maiúsculas. Realça, além disso, em tipos de itálico, os nomes das obras e dos autores citados e as palavras e construções em latim. Graficamente, conservam-se ainda os pequenos resumos de colocação lateral e a disposição do índice de “coisas notáveis”, no fim do volume. Capitulares da “Officina do Impressor do Senhor Patriarca”, Miguel Rodrigues, rematam, por vezes, o termo das páginas.
Mais de uma dúzia de profissionais colaboraram neste projeto. Só para os glossários, contam-se sete. Escrevem ensaios temáticos cinco outros estudiosos: Eliane Scotti Muzzi, Ronaldo Simões Coelho, Maria Cristina Cortez Wissenbach, Maria Odila Leite da Silva Dias e a organizadora, Júnia Ferreira Furtado. É esta que abre o primeiro volume, com um trabalho em que procura reconstituir o percurso do autor, valorizando uma série de dados que ele próprio fornece, pelo cotejo com informações de caráter geral. Merece destaque a bem-sucedida reconstrução dos laços sangue e afinidade dos Gomes Ferreiras em diferentes paragens da arquidiocese de Mariana. Mesmo o leitor menos atento à história das Minas há de encontrar interesse nos vários indícios de proximidade do cirurgião e seu sobrinho José ao negociante João Fernandes de Oliveira, titular do primeiro contrato de diamantes na região do Tejuco e pai do senhor de Chica da Silva (pp. 20-23).
Maria Odila Leite da Silva Dias parte também do pormenor biográfico, para propor uma nova visita a todo o “Sertão do Rio das Velhas e das Gerais”, como “frente de povoamento”. As desventuras de Gomes Ferreira e os relatos de suas curas permitem rever a constituição dos grupos humanos que se encontraram no território, e observar as modalidades de interação que entre eles se foram tecendo, muitas vezes à margem da lei. Em Sabará, por exemplo, a autoridade dos governadores apenas chegou anos depois do surgimento de várias fazendas e arraiais. Ainda assim, por muito tempo, a maioria das “vilas” da zona das Minas conservaria feições bastante precárias, com suas casas de pau e taquara cobertas de barro, que a força da chuva trazia para as ruas, em forma de lama. A capacidade de reunir testemunhos escritos que hoje permitem rememorar vizinhanças inteiras de núcleos urbanos tão frágeis (pp. 91-95) não deixa de ser espantosa.
Os quinze poemas que antecedem o “Índex dos Tratados e Capítulos” existentes no Erario têm direito a um ensaio em separado. Ciente da relativa estranheza que o leitor atual deve sentir diante dos “protocolos que codificavam os gêneros do discurso nos século XVII e XVIII”, Eliane Scotti Muzzi dedica-se a apresentar em linhas gerais a estrutura do sistema de ensino neoescolástico e a esclarecer a importância que, na altura, se atribuía ao retórico. Especificamente sobre a origem das obras poéticas da edição de ‘35, que se supõem compostas por indivíduos “participantes da realidade das Minas”, parece assumir-se uma certa dificuldade em descobrir elementos de comparação inteiramente operativos no patrimônio setecentista da literatura colonial (p. 34). A referência (quase canônica) à atividade das academias provinciais, como a do Aureo Throno Episcopal (1748), sugere a hipótese de que um tão grande conjunto de versos talvez também se pudesse haver concebido, “precocemente”, para ofertar ao autor do Erario, em ato público. Nele teriam, portanto, participado Tomás Barroso Tinoco, Tomás Pinto Brandão, João Bernardes e dois ou três outros “poetas de circunstância” (ibidem), amigos de Gomes Ferreira – que, por suposta modéstia, se não assinaram.
Dessa seqüência de nomes, ressalta o de Pinto Brandão. Embora ainda não se conheçam em pormenor as circunstâncias da sua vida, sabe-se há muito que escreveu em Lisboa poemas satíricos e joco-sérios durante a maior parte do longo reinado de D. João V (Diogo Barbosa Macado, Opus cit., Vol. III, pp. 747-748). Tem-se tido por certo que visitou o Brasil por mais de uma vez, chegando a travar amizade com Gregório de Matos. No Rio de Janeiro, parece haver conseguido ajustar matrimônio com uma certa Josefa de Melo, antes de retornar ao mundo da corte, no início da Guerra da Sucessão Espanhola (v. Tomás Pinto Brandão, Antologia. Este é o Bom Governo de Portugal, Prefácio, leitura de texto e notas de João Palma-Ferreira, [Mem Martins], Publicações Europa América, 1976, pp. 5-7, Alberto Dines, Vínculos do Fogo, 2ª edição, [São Paulo], Companhia das Letras, [1992], pp. 508-509, Jair Rattner, Verdades pobres de Tomás Pinto Brandão. Edição crítica e estudo, Lisboa, Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1993, pp. 21-29, e Adriano Espínola, As Artes de Enganar. Um estudo das máscaras poéticas e biográficas de Gregório de Matos, [Rio de Janeiro], Topbooks, [2000], pp. 203 e ss.). Ao publicar a mais volumosa das suas obras (Pinto renascido empenado, e desempenado. Primeiro Voo, Lisboa, Officina da Musica, 1732), morava na rua do Picadeiro, ao Bairro Alto (cf. Júlio de Castilho, Lisboa Antiga. O Bairro Alto, 3ª ed., Vol. II, Lisboa, Oficinas Gráficas da Câmara Municipal de Lisboa, p. 209). Não é improvável que conhecesse e cultivasse o convívio com indivíduos que, tal como ele, tinham passado uma parte importante das suas vidas em territórios coloniais; mais de uma vez, já se mostrou uma efetiva tendência para a conservação desse tipo de laços (v., por exemplo, Jaime Cortesão, Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, T. I, Vol. I, Rio de Janeiro, Ministério das Relações Exteriores, [1952], pp. 107-119, e Alberto Dines, Opus cit., passim), praticamente inevitável em alguns grupos, como o dos grandes comerciantes (v. Jorge Pedreira, “Brasil, fronteira de Portugal. Negócio, emigração e mobilidade social”, in Mafalda Soares da Cunha [coord.], Do Brasil à Metrópole. Efeitos Sociais, séculos XVII-XVIII, [Évora], Universidade de Évora, 2001, pp. 63-69). De qualquer modo, nada comprova que Tomás Pinto tenha, de fato, “participado da realidade das Minas” em condições equiparáveis às do autor do Erario.
Os dois derradeiros ensaios da série de cinco tratam do tema da inserção social dos cirurgiões da colônia e do saber e experiência acumulados por Gomes Ferreira. Maria Cristina Cortez Wissenbach reúne com desenvoltura as trajetórias de mais de uma dezena de profissionais, mostrando a disparidade de suas origens e estatutos. Ao discorrer sobre o Erario, mostra também a existência de um intrincado convívio entre a “ciência” colhida nos livros e as tradições forjadas na prática: na expressão de Pedro Nava, “amálgama inseparável na obra dos mestres portugueses” até ao final do XVIII (p. 132). Se algo se encontra, a este propósito, que singularize Gomes Ferreira é o cuidado com que descreve as condições específicas do interior do Brasil e as receitas aí adoptadas, com largo recurso às riquezas nativas. Botânicas e minerais.
Mesmo no centro do livro, há um tratado “da rara virtude” de um dos mais nobres medicamentos que na altura se utilizava: o “óleo de ouro”. Diz o autor que “assim como o ouro é o soberano de todos os metais, assim também o seu óleo é o mais soberano remédio que até o dia de hoje se tem descoberto […]” (p. 489). Formulação grandiloquente, mas acadêmica e assisada; pois, nesses tempos, não falta quem creia que o ouro “[…] conforta o coração, & as faculdades vitaes […]”, podendo inclusive ser consumido como “ouro potável”, na esperança de reduzir os achaques e prolongar os anos de vida (Raphael de Bluteau, Vocabulario Portuguez e Latino, Vol. VI, pp.148-152 e 651-652). Gomes Ferreira resiste a deixar que o brilho das Minas o leve tão longe: sempre que trata do uso do ouro, mantém-se restrito à consagrada receita do “óleo”. A abundância com que depara permite, porém, empregá-lo nas mais variadas patologias, que ele enumera pelo relato de casos concretos, com um orgulho de pioneiro: gangrenas, furúnculos, carbúnculos, fleumões, antrazes, panarícios, apóstemas, cirros, cancros, feridas de peito e carnes supérfluas. Todo o senhor que possa pagá-lo, deve deter uma pequena porção de óleo de ouro em sua casa. Não só para si, ou para a sua família, mas, igualmente, em benefício dos pobres (p. 513). Como resume Ronaldo Coelho, o alegado sucesso de Gomes Ferreira se assenta de fato num amplo conjunto de qualidades (pp. 151-154 e 167-168).
Fica o desejo de que esta última iniciativa do Centro de Estudos Históricos e Culturais da Fundação João Pinheiro possa ser divulgada como merece e, se possível, que incentive outros trabalhos de reedição de textos setecentistas pouco comuns.
Tiago C. P. dos Reis Miranda– Centro de História da Cultura/ Universidade Nova de Lisboa.
[DR]
Entre mitos, utopia e razão: os olhares franceses sobre o Brasil (século XVI-XVIII) – PALAZZO (VH)
PALAZZO, Carmen Lícia. Entre mitos, utopia e razão: os olhares franceses sobre o Brasil (século XVI-XVIII). Coleção Nova Vetera. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. Resenha de: PIERONI, Geraldo. Varia História, Belo Horizonte, v.18, n.26, p. 153-155, jan., 2002.
André Thevet, Jean de Léry, Claude d’Abbeville, Yves d’Evreux… Voilà les français! Estes são apenas alguns dos Messieurs que atravessaram o mar oceano e, deslumbrados, desembarcaram na costa brasileira. O que procuravam nesta imensa Terra Brasilis estes nossos cultos viajantes? Talvez poderíamos arriscar uma resposta comum a todos eles: conhecer o Novo Mundo: exótico, diferente, antítese da Europa civilizada.
Relatar o que eles observaram não é o objetivo primeiro de Carmen Lícia Palazzo ao escrever Entre mitos, utopia e razão: os olhares franceses sobre o Brasil (séculos XVI a XVIII). Sua intenção vai muito além do evidente. A autora, historiadora experiente, doutora em História pela Universidade de Brasília, com muita competência e domínio da historiografia, apresenta ao leitor um excelente trabalho. Sua investigação é criteriosa acerca dos múltiplos e matizados olhares que os viajantes franceses lançaram sobre o Brasil, desconhecido em muitos aspectos, porém fascinantemente atraente.
Os documentos utilizados foram, sobretudo, os registros de viagens e obras eruditas de pensadores que debruçaram, embora muitas vezes sem o contato direto, sobre estas novas terras d’além mar.
Com relação à idéia sobre o Brasil, há interrupção ou prosseguimento nos olhares dos franceses? Problematizou a autora! Sua conclusão foi que estes viajantes e pensadores dos séculos XVI ao XVIII deixaram registrados inúmeros comentários e obras onde se pode perceber pontos de vista que foram se transformando. Este movimento de mudanças, no entanto, não se dá no ritmo dos cortes cronológicos tradicionais. Uma leitura cuidadosa dos escritos e, a título complementar, da iconografia de cada época, permitiu à historiadora detectar continuidades relevantes inseridas no universo mental dos viajantes – continuidades estas que se mantêm até quase o final do século XVII. Somente a partir do século XVIII, particularmente com o iluminista La Condamine, é que se pode verificar uma efetiva mudança nas visões francesas do Brasil.
Recorrendo aos recursos da história comparativa, a historiadora aborda e confronta dois momentos específicos: o das permanências (séculos XVI-XVIII) e o da ruptura capturada pelas visões da modernidade (século XVIII).
A exemplo de Jacques Le Goff, defensor, entre outros, de uma “longa Idade Média” que se prolonga até quase às portas da Revolução Industrial, a autora utiliza semelhantes conceitos fixando-os no contexto das grandes viagens e mentalidades culturais dos séculos XVI e XVII. A própria iconografia corroborou a idéia das permanências. Gravuras e telas da época evidenciaram elementos que remetiam ao imaginário medieval. As narrativas e ilustrações dos viajantes assimilaram abundantemente figuras extraordinárias, demônios e monstros. Seus discursos são destoantes das características culturais e políticas da Idade Moderna. Neles prevalecem os componentes ainda amarrados ao imaginário Medievo. O espaço dedicado aos mitos e utopias é enorme: o fantástico predomina. Só a partir do século XVIII, com a razão iluminista, é que se evidenciam as rupturas da assim chamada modernidade. Daí para frente ciência e razão são os principais instrumentos para a leitura do Outro – distante e diferente – para buscar entendê-lo e, sobretudo, explicá-lo. E como conclui a autora: “Com o abandono de mitos e maravilhas, é o espaço do sonho que se retrai”.
O trabalho de base contido no livro permite melhor compreender os mecanismos das transformações que se tornam visíveis somente se inseridas no tempo longo. Foi exatamente este recurso teórico que Carmen Lícia utilizou para confeccionar a textura do seu livro. No prudente labor de perceber as mutações na longa duração, como já referido acima, foram estudadas iconografias da época e escritos de pensadores, como o abade Raynal, Voltaire e Buffon. Neste conjunto de representações é possível desvelar perfis de comportamentos e imagens que, prolongando ou alterando-se gradativamente no tempo, resultam novas e movediças nuanças das representações do Brasil.
Entre mitos, utopia e razão: os olhares franceses sobre o Brasil (século XVI a XVIII) é uma obra profundamente instrutiva e sua cronologia é primorosa. Rupturas ou continuidades? Permanências medievais ou triunfo das Luzes? Neste caso a razão iluminista não foi mais aberta à alteridade do que o foram os viajantes anteriores que aceitaram o mítico e o maravilhoso como explicações para a diferença.
Geraldo Pieroni – Doutor em História pela Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Professor na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Autor, entre outros, dos livros: Os Excluídos do Reino, editora UnB, Brasília: 2000 e Vadios, Ciganos, Heréticos e Bruxas: os degredados no Brasil colônia. Editora Bertrand do Brasil, Rio de Janeiro: 2000.
[DR]
Tropical Versailles: empire, monarchy, and the portuguese Royal Court in Rio de Janeiro – SCHULTZ (VH)
SCHULTZ, Kirsten. Tropical Versailles: empire, monarchy, and the portuguese Royal Court in Rio de Janeiro, 1808-1821. New York: Routledge, 2001. Resenha de: NEEDELL, Jeffrey. Varia História, Belo Horizonte, v.17, n.25, p. 255-258, jul., 2001.
Redefinindo a Monarquia em uma Sociedade Escrava1
É um antigo lugar comum observar a particularidade estabilidade política do Brasil no século dezenove. Normalmente, se discute que isso deriva de circunstâncias singulares da conquista da sua independência com a manutenção das instituições e do herdeiro da monarquia Portuguesa no Rio de Janeiro. É sempre sugerido que a estabilidade deveu-se, assim, muito ao fato de que as estruturas políticas e sociais da colônia brasileira se mantiveram relativamente intactas devido a essa singular transição. A bem sucedida história intelectual e cultural da Corte Real no exílio, de Schultz, deixa de lado esses lugares comuns ao examinar o quanto a monarquia mudou e como essa mudança foi percebida entre 1808 e 1822, e a forma com que essas mudanças foram vistas e se manifestaram no pensamento e no dia-a-dia.
Por mais que esse estudo se deva aos últimos dez ou vinte anos da moderna história cultural, ele se baseia em um estudo muito meticuloso de fontes de arquivos e trabalhos contemporâneos publicados. De fato, algumas das preocupações centrais do livro são baseadas na minuciosa leitura de correspondência particular e do Estado, registros policiais, teatro e literatura, panfletos de política contemporânea e da coleta invejável de outras fontes publicadas da época, tanto em Portugal quanto no Brasil. Além disso, Schultz lucrou com a recente preocupação de seus colegas em torno dessa época, citando um número de trabalhos recém-publicados e teses não publicadas e dissertações no Brasil e nos Estados Unidos. Também merece comentários a imparcialidade de suas análises e conclusões. Por mais provocativos que fossem os assuntos, ela transporta a perspectiva dos contemporâneos com cuidado e chega a sua própria avaliação com criteriosa objetividade.
Inevitavelmente há imperfeições. Na minha leitura, elas parecem se acumular no terceiro capítulo, onde, freqüentemente, uma ou duas fontes são a única evidência para o pensamento ou a resposta a um número de pessoas (e. g., pp. 73-74, 78-80, 81, 85), ou no terceiro e quinto capítulos, onde as citações nem sempre suportam o peso das interpretações (e. g., 73-75, 103,164, 166). Também me pergunto porque, em um livro em que se faz tão boas observações com tão boas evidências, a autora se sinta obrigada a citar tantos autores recentes no texto (ao invés de fazer nas notas) para apoiar seus argumentos ou sugerir questões em comum. Mas nenhuma dessas faltas ocasionais é de importância no argumento central do livro, e elas são um pequeno preço a se pagar pela informação, pela análise e pelas sugestões que a autora nos dá aqui.
A contribuição do livro deve ser entendida no contexto historiográfico. Pode-se dizer que o sentido político da monarquia Brasileira sofreu terrivelmente de uma extrapolação ahistórica, na contramão do seu sucesso histórico. Isto é, a unidade da América Portuguesa depois da independência e a sua relativa estabilidade política tendem a serem dadas por certas. A maioria dos historiadores, por algum tempo, gastou sua energia em estudar a monarquia posterior, para entender a passagem do regime, ou, mais freqüentemente, eles compreenderam a história política da monarquia como algo que não mudava e se concentraram na análise de história social ou econômica, particularmente, sobre a escravidão e a abolição. Essas modas vêm se revertendo vagarosamente tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos.
José Murilo de Carvalho teceu competentemente uma elegante análise política das preocupações sócio-econômicas na publicação portuguesa de 1980 de sua dissertação feita em Stanford em 1974. Em 1985, Emilia Viotti da Costa retrabalhou muitos dos seus artigos originais em uma história do império; em 1988, Roderick Barman nos forneceu uma impecável narrativa política explicando a formação nacional entre a última década do século dezoito e 1853. Richard Graham tentou fazer um modelo provocativo do comportamento político nos níveis local e nacional, em 1990. Outros se ativeram a análises políticas mais particulares, como Thomas Flory, em 1981, sobre a ideologia e as reformas da oposição liberal dos anos de 1820 e 30. Neill Macaulay escreveu um delicioso estudo revisionista do primeiro imperador, em 1986. Eul-Soo Pang tentou desenvolver um entendimento da nobreza, em 1988, Barman forneceu aguda e completa biografia do segundo império, em 1999, e , no mesmo ano, Judy Bieber publicou estudo de caso da história política e comportamento no interior de Minas Gerais. Artigos bastante recentes de Jeffrey Mosher e Jeffrey Needell sugerem livros a serem publicados sobre a história política de Pernambuco e do Partido Conservador , respectivamente, e também temos artigos e livros de autoria de Hendrik Kraay (2001) e Peter Beattie (2001) interligando a instituição da monarquia, o exército, à história política e social do regime. No Brasil, o trabalho de Carvalho foi precedido por uma rica e pioneira antologia a respeito da independência, editada por Carlos Guilherme Mota em 1972, e então seguido pelo ambicioso estudo de Ilmar Rohloff de Mattos, sobre a ideologia do estado, em 1990. Em 1998, temos a sofisticada análise da cultura pública da monarquia colonial tardia e da recém-proclamada monarquia nacional de Iara Lis Carvalhos Souza e o tour fascinante de Lilia Moritz Schwartz sobre cultura pública e a iconografia do Segundo Reinado. Em 1999,Cecilia Helena de Salles Oliveira forneceu sua análise investigativa dos interesses sócio-econômicos influenciando a independência; em 2000, Isabel Lustosa publicou sua instigante análise da imprensa periódica política da segunda década do século dezenove, porta-voz dos interesses e das ideologias dominantes.
Em uma frase, o magistral trabalho de tais pioneiros como Murilo de Carvalho, Viotti da Costa, e Barman nos permitiu atacar partes menores de um todo, suprimindo muito que era pobre e superficialmente entendido. O livro de Schultz é, então, apenas a última contribuição à redescoberta e reavaliação da história política da monarquia. É, no entanto, especialmente convincente na metodologia, informando sua idéia e a centralidade do seu foco. A transição Portuguesa e Brasileira para monarquia constitucional e a independência foram habilmente traçadas por Macaulay e contribuintes da antologia de Mota (particularmente Maria Odila Leite da Silva Dias, Francisco D. Falcon e Ilmar Rohloff de Mattos), e Barman, entre outros. Estes, e mais recentemente Salles Oliveira, já nos serviram com narrativas políticas detalhadas e análises baseadas em fatos sobre a transição em termos de ideologia, contingência política e interesses sócio-econômicos. A contribuição de Schultz está em ir além dos eventos e das forças sócio-econômicas ou políticas dirigindo-nos a um entendimento de como a transição ocorreu na experiência vivida no centro político do Brasil.
Shultz faz essas coisas quando amarra a análise arquivística típica da melhor historiografia tradicional com as inovadoras preocupações dos estudos de cultura política comuns entre os novos historiadores. Ela o faz em um estudo de como a fuga e o exílio da Corte Portuguesa levou a uma reavaliação e reconstrução da instituição da monarquia em uma época revolucionária e em uma sociedade escravista marcada por distinções raciais. Os capítulos são organizados cronologicamente, amarrando questões chave: o impacto do exílio na natureza do império Português e a legitimidade da monarquia, a metamorfose do posto de vice-rei do Rio de Janeiro na Corte de um império, o impacto da proximidade monárquica dos seus vassalos americanos, a ambigüidade do papel da monarquia com respeito à instituição da escravidão, a metamorfose do comércio do Atlântico e o papel dos brasileiros, portugueses e ingleses em tudo isso e o desafio do constitucionalismo liberal na antiga metrópole e no novo reino do Brasil.
Nesses capítulos ela demonstra que o exílio transformou a monarquia de um regime absolutista Europeu com colônias no além-mar em uma regenerada, até mesmo nova, monarquia e então, finalmente, em uma instituição constitucional tentando conter revoluções políticas e equilibrar os reinos de ambos os lados do Atlântico. Ao fazê-lo, ela explora a forma com que discourso político e cerimonial indicam e incorporam as mudanças e desafios da época, e são refletidos nos usos da monarquia, no aparecimento da cidade, nas medidas de repressão e controle dos escravizados, na correspondência e nos memorandos dos oficiais e cortesãos da Coroa e na percepção e controle dos pobres e cativos. Essa aproximação cultural e íntima leitura ideológica são contribuições inovadoras com claro potencial para futuros trabalhos de outros historiadores. De fato, isso é algo que Schultz faz alusão quando nota que muitas das contradições da transição da monarquia foram legadas de forma intacta ao Império do Brasil. É um livro bem vindo, escrito claramente, vigorosamente discutido, e potencialmente seminal. Certamente vai resistir.
Nota
1 Em parceria com H-LatAm e H-Net.
Jeffrey Needell – History Departmente/University of Florida/USA.
[DR]
Amor y opresión en los Andes coloniales – LAVALLE (VH)
LAVALLE, Bernard. Amor y opresión en los Andes coloniales. Lima: IEP/IFEA/UPRP, 1999 (Estudios Históricos, 26). Resenha de: CAMPOLINA, Cristina. Varia História, Belo Horizonte, v.17, n.24, p. 278-281, jan., 2001.
Aqueles que têm os interesses voltados para o estudo da história dos Andes por seguro já conhecem a obra de Bernard Lavalle e a grande sensibilidade do autor em relação aos sinais do passado colonial andino. Neste livro, o autor nos apresenta doze textos elaborados durante as duas últimas décadas, tendo alguns já sido publicados em revistas especializadas.
Embora o autor não seja pioneiro no tema, a leitura desse livro nos leva ao lugar das possibilidades de liberdade e reivindicações das classes oprimidas no interior de um sistema de repressão. A criatividade na busca das fontes e a perspicácia na leitura dos documentos tornam seus textos essenciais para aqueles que procuram outras vias para a construção do passado histórico. No caso, a sociedade andina comporta uma outra história àquela marcada apenas pela exploração de uns pelos outros, pela profunda desigualdade social e marginalização de alguns grupos sociais. Através de uma postura não preconceituosa e livre dos entraves da história tradicional e parcial, Lavalle desvenda realidades ocultas enfocando micro acontecimentos para enfeixá-los como expressão do coletivo e daí entender a globalidade do sistema. Respaldado por vasta documentação, o ponto para o qual todos os textos convergem será a peculiaridade do diálogo entre dominadores e dominados. Pelo exposto, o surpreendente resultado dessa coletânea é uma fascinante revisão da complexidade social e política andina.
A obra está composta por três eixos principais: “Casal e Família Como Reveladores Sociais”; “O Longo Caminhar da Resistência Negra”; “Falhas e Fendas do Sistema Colonial”.
Na primeira parte, o autor se alimenta de uma fonte vital, o Arquivo Arcebispal de Lima (herdeiro do antigo Tribunal Eclesiástico), nas seções relativas às causas criminais de matrimônio, aos litígios matrimoniais, aos divórcios e anulações de matrimônio. Lavalle identifica o lugar ocupado pela família e suas relações mais íntimas sob o olhar controlador e regulador da Igreja, então sob a mira de uma sociedade eminentemente machista. Grande parte das fontes primárias utilizadas pelo autor são os testemunhos sobre as desavenças conjugais. O fenômeno mais comum no contexto dos divórcios e anulações de casamento foi a violência doméstica e familiar. As razões que levaram à abertura dos processos multiplicam-se desde as incompatibilidades pessoais, étnicas, financeiras, às questões sexuais. Por razões óbvias, o discurso do corpo relacionado com a líbido e desempenho no intercurso sexual se manifestam de maneira alusiva ou metafórica em consonância com a codificação social da época. A Igreja não considerava esta uma causa para o divórcio. No outro extremo, os expedientes que denunciavam trangressões sexuais às normas vigentes, como o homossexualismo e a sodomia, eram encaminhados aos Tribunais da Inquisição.
Segundo o autor, essa documentação é insuficiente para julgar as normas de conduta matrimonial limenha dadas as distorções as quais se pode conduzir o manejo unilateral de ações judiciais. No entanto, ela fornece os subsídios para investigar os comportamentos abusivos e a subsequente atitude das vítimas, em geral mulheres e índios, frente aos mesmos. Assim, ainda que as relações estáveis e duradouras não possam ser checadas, os documentos analisados revelam uma parte significativa do panorama mental e social da época e a relação de força onde amor e rendimento pareciam normais e parte da potestade marital.
Na segunda parte do livro, Lavalle utiliza os Atos do Cabildo de Trujillo na série Causas Criminales, localizado no Archivo Regional de la Libertad e no Archivo Nacional del Ecuador. Essa parte está dividida em 4 capítulos que tratam da resistência negra no contexto da violência, abuso e marginalização do escravo, o qual respondia com fugas e outros comportamentos que serão julgados pelas autoridades como mera criminalidade. Ser “cimarrón” nos Vales de Trujillo, no século XVII, foi a forma mais difundida e espontânea da contestação negra sem resultar na ruptura com o mundo dominante. O autor decreve as diferentes formas de “cimarronage”, revelando seus esconderijos, tipos de assalto e bandoleirismo, tamanho dos grupos (em geral pequenos) e o isolamento dos fugitivos, que muitas vezes os levaram ao suicídio, expediente drástico para interromper com a misérias da escravidão e as angústias de um castigo anunciado quando capturados. As manifestações de violência negra eram dirigidas contra os amos e, de uma forma geral, contra a população branca. No entanto, havia a possibilidade para o negro, autor de um delito grave, acolher-se ao sagrado, isto é, refugiar-se em uma Igreja onde a Justiça jamais o capturava. Sabia-se muito bem que o promotor fiscal do bispado defendia com zêlo e eficiência as fronteiras dos foros eclesiásticos. Ao lado disso, os proprietários de escravos civilmente responsáveis pelos seus negros tinham justos interesses na proteção oferecida pela Igreja. A eles eram cobradas multas pelas faltas de seus escravos, além de serem acusados de negligência e correção dos negros. Daí a tentação de encobrir os culpados. Conhecedores da convergência de interesses, os negros infratores, escravos ou livres, serão, em última análise, beneficiados.
No século XVII, os palenques ofereceram uma alternativa frágil, mas clara ao mundo escravista. Esses palenques evoluíram até a formação de quadrilhas de salteadores de caminhos e estradas. Nos finais do século XVIII, o bandoleirismo “cimarrón” contribuiu para questionar em outros termos a ordem e as relações de forças escravistas. Houve um aumento acentuado da demanda de escravos para o cumprimento da lei pela manumissão, paródia da liberdade pois o escravo nem sempre saía ganhando.
Todos esses dados são amostras do que estava ocorrendo no Peru como em todo o Império. O questionamento da escravidão adotou formas que, assomadas a uma série de movimentos índigenas e de mestiços contra a nova política fiscal, só faziam aumentar as angústias dos dominadores. As explosões de ressentimento e as exigências então expressadas nas mais diferentes formas sinalizavam para o desmoronamento geral da estrutura de autoridade na qual o mundo escravista descansava. Enquanto os senhores qualificavam os negros de insolentes, esses, paralelamente a uma atitude agressiva, recorriam com grande freqüência à Justiça.
A partir da última década do século XVIII, os expedientes estudados contém frases e expressões muito mais duras contra os amos e seus excessos. O notável é que, por essa época, os pleiteantes insistiam sobre o fato de que ser escravo ou escrava não invalidava o fato de continuarem a ser seres humanos. Como conclusão, diríamos que: as Luzes cunhadas no século XVIII abriram um espaço para a afirmação da igualdade fundamental; que o sistema jurídico espanhol abria um espaço para combater os excessos cometidos contra os escravos; que os negros demonstravam a pertinaz vontade de sacudir o jugo que lhes foi imposto; e que entre certos elementos das classes dominantes soavam discrepantes vozes abolicionistas. Embora não se possa inferir daí que os donos de escravos estivessem abrindo mão de seus interesses, o tempo já conspirava em sentido contrário.
A terceira e última parte do livro, “Falhas e Fendas do Sistema Colonial” , está organizada em 4 capítulos que tratam das táticas da violência indígena, das demandas dos naturais e da doutrinação dos índios. Esta última tarefa que, por definição, deveria ser norteada apenas pelo espírito religioso, foi, também, motivada pelas grandes vantagens econômicas que proporcinava aos padres. Isso não significa que a catequese não tenha sido feita por homens de fé, mas aponta para outros aspectos que esvaziam a catequese de um purismo religioso. Inteirados dos abusos dos padres, recorrentes em todo o período colonial, os administradores espanhóis tomaram sérias providências moralizantes que esbarraram com fortes reações das ordens religiosas contra a ingerência do Estado na missão da fé. As Cédulas Reais que tentaram corrigir essa deformação de parte do clero foram pouco eficazes e, em que pese a atuação de padres bem intencionados, muitos deles não se diferenciaram dos “encomenderos”, corregedores, “hacendados” ou mineiros.
As evidências mostram que o século XVII pode ser considerado um século de paz em comparação com as reações de violência indígena que pontilharam o século XVIII. A resistência podia se manifestar desde atos de extrema violência ao mais intenso silêncio, no marco de uma sutil tática de auto-exculpação bem organizada desde há muito tempo, frente a um adversário, o poder colonial, todo poderoso, mas conhecido, e perante o qual os índios sabiam como manobrar.
Em pesquisa realizada no Arquivo Departamentel de Trujillo e no de Cajamarca, na seção intitulada “Protector de Naturales”, o autor analisa o conjunto de demandas e pleitos indígenas que indicam a capacidade dos índios de recorrer ao direito que o sistema colonial espanhol havia organizado e que com o tempo transformou-se em válvula de escape para a população oprimida. Se a eficácia do “Protector” foi comprometida pela pressão do poder colonial, essa mesma eficácia toma lugar através da honra de muitos funcionários encarregados do manejo das leis e também da tomada de consciência daqueles que do fundo de sua miséria seriam beneficiados.
Sendo as mulheres, os índios e os negros parte da grande massa dos silenciados da História, a pesquisa aponta para a validade dos espaços de questionamento que as próprias forças de coesão social, no caso a Igreja e o Estado Espanhol, davam a esses indivíduos que, por outro lado, enquadravam e pressionavam. Finalmente, o livro de Lavalle pode ser sintetizado como um exemplar estudo da “história vivida dos homens”.
Cristina Campolina – Departamento de História – FAFICH-UFMG.
[DR]
A pobreza no Satyricon de Petrônio – FAVERSANI (VH)
FAVERSANI, F. A pobreza no Satyricon de Petrônio. Ouro Preto: Editora UFOP, 1999. Resenha de: GARRAFFONI, Renata Senna. Varia História, Belo Horizonte, v.16, n.23, p. 246-249, jul., 2000.
Este livro de Fábio Faversani, publicado recentemente pela Editora da Universidade Federal de Ouro Preto, é o resultado de sua pesquisa para obtenção do título de Mestre em História e leva-nos a uma viagem pelos setores subalternos da sociedade romana do início do principado.
Logo nas primeiras páginas percebemos que o historiador desenvolve um estudo no campo da História Social e tem como fonte principal uma obra literária, o Satyricon de Petrônio. Escrito de uma maneira clara e objetiva, este trabalho permite ao leitor compreender algumas polêmicas presentes no estudo da Antigüidade Clássica. Tais polêmicas são analisadas com seriedade e compreendem não só aspectos literários da fonte como também as que envolvem a construção de seu objeto de pesquisa.
Assim, para cumprir estes objetivos, Faversani divide seu estudo em três capítulos. O primeiro — Satyricon — é centrado na fonte. De maneira ordenada, somos introduzidos ao universo do romance por meio de um resumo de seus principais episódios e, em seguida, o historiador discute sua datação, os problemas com relação à autoria, a provável origem de seu título, os locais em que se ambientam as aventuras dos protagonistas, a preservação do texto ao longo dos séculos e encerra comentando o estilo literário e as intenções de Petrônio ao escrevê-lo.
Já no segundo capítulo — Relações de Poder na Análise da Pobreza —, estabelece o quadro conceitual que vai empregar ao analisar a fonte. Para tanto, inicialmente, realiza um balanço teórico no qual problematiza o lugar da pobreza dentro dos estudos clássicos. De acordo com Faversani, até a década de 60 muitos historiadores afirmavam que não havia necessidade de se pesquisar este tema; eram poucos os que consideravam sua importância e, quando o faziam, acabavam tomando viéses analíticos que tinham como pressupostos preconceitos desvalorizadores: criou-se uma tradição que demonstrava um quadro falso da pobreza em que os pobres seriam alimentados e divertidos pelo Estado ou por homens ricos, tendo uma vida sem grandes esforços, seriam, enfim, tratados a “pão e circo”.
Ao questionar esta postura conservadora, Faversani apresenta-nos uma outra realidade na qual os pobres não se comportavam como parasitas do Estado. Considerando que somente os cidadãos romanos poderiam participar da distribuição do trigo, o estudioso afirma que haveria necessidade de se estabelecer, entre os demais agentes, outras estratégias de sobrevivência que não se restringissem às doações. Recuperá-las e descobrir quem eram os pobres romanos e como viviam seria, portanto, uma tarefa do historiador clássico.
Antes de estabelecer os instrumentos analíticos para compreender melhor este mundo, Faversani examina dois conceitos desenvolvidos pela História Social e empregados acriticamente no estudo da Antigüidade Clássica: classe e estamento. Analisando estes conceitos, e confrontando-os com as características do personagem Trimalcião1, descritas por Petrônio, o historiador considera a insuficiência de tais instrumentos analíticos e acaba por concluir que as deficiências de análise podem ser supridas se forem consideradas as relações diretas de poder2. Tais relações foram propostas por Faversani com base nos trabalhos de Garnsey e Saller, primeiros a mencionar esta possibilidade de estudo do Mundo Antigo, e são concebidas como sendo interações estabelecidas entre os agentes, pressupondo os seguintes elementos: pretensão de longa duração, inexistência de regulação legal, ocorrência de troca de bens e serviços, flexibilidade, isto é, possibilidade de promoção social de um dos agentes e, por último, existência de uma estimativa recíproca da posição de cada agente.
Assim, sob este ponto de vista, o pobre seria aquele que ocupava uma posição inferior nas relações de poder sem que esta posição seja uma categoria jurídica como o caso dos escravos, por exemplo. O pobre seria, então, “( … ) uma noção antes de tudo, relativa. Alguém pode ser pobre do ponto de vista de um agente social, mas não para um outro, colocando em ponto diverso da escala social. Faz parte do próprio jogo de manutenção da ordem social esta relatividade e permissividade do conceito de pobre” (pp. 87-88).
No terceiro e último capítulo — Relações de Poder no Satyricon —, temos a análise das ações dos protagonistas (Ascilto, Gíton, Encólpio e Eumulpo) e suas estratégias de sobrevivência, além da interpretação do episódio de Quartila, da Cena Trimalchionis, da viagem à Crotona e da farsa que se desenvolve nesta cidade sob a ótica das relações de poder. A partir destas considerações, o historiador conclui que a imagem que Petrônio nos fornece em sua obra é que as relações diretas de poder são elementos que ordenam e estruturam a sociedade romana; a posição social dos agentes seria, portanto, relativa e determinada pela sua inserção nas redes de relações de poder.
Esta conclusão é, na verdade, uma confirmação da hipótese levantada logo na introdução de seu trabalho (pp.11-12), o que explicita a posição teórica que o autor assume: apresenta ao leitor um questionamento das falhas dos conceitos existentes e desenvolve um modelo mais completo para testá-lo tomando por base o Satyricon de Petrônio.
O conceito adotado por Faversani foi, inicialmente, desenvolvido por Garnsey e Saller para interpretar as relações estabelecidas entre os membros da elite. Ao reelaborar este conceito, Faversani o expande e abre a possibilidade de utilizá-lo para uma maior compreensão dos submundos da Antigüidade. Embora seja uma categoria analítica mais convincente que classe ou estamento, pois proporciona uma visão mais ampla e diversificada do mundo pobre, a essência de ambos ainda continua presente, uma vez que propõe um conceito baseado na ordenação das relações sociais. Neste sentido, cada personagem representaria um papel específico dentro da trama do Satyricon e, mais genericamente, na sociedade romana.
A partir destas considerações, percebemos que a base de seu argumento é a ordem e, conseqüentemente, o estabelecimento de hierarquias: quem não possui uma boa posição nas redes de relações de poder sempre estará submetido à vontade de outrem. Este tipo de postura proporciona uma análise totalizante da sociedade e permite ao autor transitar da obra literária para o cotidiano romano, pois assim como as relações expressas no romance ordenam as atitudes dos personagens, elas seriam, também, elementos estruturadores da sociedade em que Petrônio vivera3.
Tendo ressaltado estes pontos, percebemos que o autor procura estabelecer os padrões sociais de maneira globalizante e, ao optar por este modelo de análise, acaba deixando de lado alguns aspectos mais particulares da composição do discurso petroniano, como por exemplo os exageros e os recursos lingüísticos e literários empregados para caracterizar a presença das diferenças entre os personagens. Tais aspectos poderiam revelar não somente estruturas sociais, mas também a visão de mundo de um membro da elite romana sobre a sociedade de seu tempo. No entanto, esta pequena ressalva não tira o principal mérito de seu livro: a preocupação política em dar voz e procurar alternativas para compreender um segmento da sociedade que foi, durante muito tempo, apagado ou menosprezado pela grande maioria dos historiadores clássicos.
Notas
1 Trimalcião é um liberto rico que, ao longo do romance, oferece um banquete extraordinário. A riqueza de detalhes presente neste episódio gerou inúmeras polêmicas entre os classicistas e fez com que este personagem fosse o centro de longos debates. Muitos estudiosos da Antigüidade discutiram o papel que este liberto representaria na sociedade romana. O próprio Faversani apresenta os artigos de Veyne e Rostovtzeff e os questiona apoiado em outros pesquisadores. – Para abordagens recentes sobre a famosa Cena seria interessante, por exemplo, conferir também: – Aquati, C., “Uma história arrepiante no Satíricon”, Clássica (suplemento 2), Araraquara, SBEC, 1993, pp. 55-61.
– ________, “O narrador da Cena Trimalchionis: ironia e omissão”, texto base para a comunicação – SBEC, R.J., 1995, pp. 2-11 (Ensaio)
– _________, “Linguagem e caracterização na Cena Trimalchionis: Hermerote”, in: Glotta, S.J. Rio Preto, 16: 4763, 1994/95.
– Gonçalves, C.R., A cultura dos libertos no Satyricon: uma leitura, Dissertação apresentada ao curso de Mestrado em História da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da UNESP/Assis, S.P., 1996.
– Rosen, K., “Römische Freigelassene als Aufsteiger und Petrons Cena Trimalchionis”, in: Gymnasium, 102, Bonn, 1995, pp.79-92.
2 De acordo com suas próprias palavras: “neste sentido, parece-nos proveitoso – obviamente, aos pesquisadores preocupados em compreender a história social antiga em uma perspectiva transformadora – procurar mecanismos alternativos àqueles estabelecidos pelo conceito de classe social para a compreensão de grupos sociais. Assim, é promissora uma perspectiva de análise fundada nas relações diretas de poder. Essa propicia, por um lado, possíveis soluções às críticas levantadas ao conceito de classe e, por outro, garante, se empregada de forma múltipla, como as redes de relações, a definição de grupos sociais que permitam a compreensão das ações coletivas.” (p.61).
3 Esta postura é clara em sua conclusão: “essa análise totalizante, fundada em um quadro conceitual adequado, confirmou nossa hipótese de que as relações diretas de poder são elemento ordenador e estruturador da sociedade, ao menos daquela cuja imagem Petrônio nos transmite” (p.160).
Renata Senna Garraffoni – Doutoranda em História – IFCH/UNICAMP. Bolsista da Fapesp.
[DR]
Entre a mão e os anéis: a Lei dos Sexagenários e os caminhos da abolição no Brasil – MENDONÇA (VH)
MENDONÇA, Joseli Maria Nunes de. Entre a mão e os anéis: a Lei dos Sexagenários e os caminhos da abolição no Brasil. Campinas: Unicamp, 1999. Resenha de: RICCI, Magda. Varia História, Belo Horizonte, v.16, n.23, p. 241-245, jul., 2000.
Quem já não ouviu falar da Lei dos Sexagenários? Lei conhecida. Malfadada lei. Promulgada em 28 de setembro de 1885, seu texto e contexto social foram, durante muito tempo, crivados por interpretações que menosprezavam os seus significados mais marcantes. Para alguns parecia inútil estudá-la. Argumentava-se que o teor da lei de 1885 parecia colocá-la na contramão do processo abolicionista. Libertar idosos aos 60 anos de idade, impondo-lhes ainda mais um período de 5 anos sob a tutela senhorial, em um regime de liberdade condicional, parecia fora de lugar e tempo. Desta forma, a lei de 1885 significava uma ultrapassada fórmula de emancipação lenta e gradual, que só fazia sentido dentro de uma desesperada tentativa escravocrata e senhorial de continuar a sustentar um regime social que tinha, em princípio, os dias contados dentro da lógica capitalista que se estabelecia. Assim, a lei de 1885 pôde ser menosprezada durante muito tempo.
Ao longo das décadas de 1960 e 1970, estudar os últimos tempos da escravidão no Brasil foi se tornando sinônimo de análises sobre a ação direta dos negros por liberdade, ou sobre os problemas que impediram estas ações. Deste modo, por um lado, restava pesquisar os levantes, quilombos e fugas escravas. Do outro lado da questão estava uma perspectiva política e historiográfica que percebia a escravidão como uma luta dos escravos para se desvencilhar do espectro do sistema ou modo de produção escravista. Estes estudos muitas vezes levaram o historiador da escravidão no Brasil para longe da legislação, porque esta última remetia ao campo de análise do supra-estrutural, sendo um terreno ideologicamente construído. Dentro deste contexto, o estudo das leis remetia a um outro debate historiográfico.
A maioria das pesquisas sobre as leis ou sobre a esfera política, em um sentido mais restrito, acabava enfatizando as vicissitudes da vida política Imperial, com a descrição das turras partidárias entre liberais, conservadores e republicanos na criação do mundo oligárquico e clientelista, desnudado, em sua plenitude, somente depois de 1889. Ou ainda desembocava em estudos que revelavam a ascensão ao poder do grupo dos cafeicultores paulistas, em especial os do chamado oeste paulista que, moradores em zonas fronteiriças, eram imigrantistas e abolicionistas, tornando-se, desta forma, descortinadores de uma nova mentalidade social: a saber, aquela que fazia a apologia ao trabalho livre e à civilização dentro dos padrões europeus. Desta forma, ficava exposto um fosso entre os estudos sobre escravidão, e aqueles reveladores da formação da classe trabalhadora no Brasil, como bem mostrou um estudo de Silvia Hunold Lara1.
Por tudo o que foi descrito, a lei de 1885 parecia fadada ao esquecimento. Inútil politicamente e incorreta para entender o processo de abolição, ela, no máximo, seria relevante para uma história da elite política e econômica, que desembocou na crise do Império escravocrata e na proclamação da primeira república imigrantista e civilizadora. No entanto, como afirma o historiador francês Jacques Le Goff, a roda da fortuna sempre gira e, em uma de suas voltas, o que era turvo ilumina-se de uma maneira especial.
O livro de Joseli Mendonça dota a lei e seu contexto de uma nova vida, iluminando, com outros significados, um passado que parecia esquecido nas velhas páginas dos jornais e do parlamento Imperial. Qual a mudança de perspectiva proposta por este estudo? Primeiramente, um trabalho de pesquisa sério e pormenorizado, que — saindo da letra da lei e dos íngremes debates parlamentares — atinge seus desdobramentos no seio da sociedade, passando pelos jornalistas e chegando às senzalas em inúmeros processos minuciosamente analisados. Por outro lado, Joseli Mendonça revê as relações sociais da escravidão nas últimas décadas do século XIX através de uma belíssima narrativa. Em seu livro, os documentos casam-se com a bibliografia, criando um texto rico em movimentos de ir e vir no tempo e no espaço, que nos faz sair das mais jocosas falas dos deputados, até as mais tristes histórias de vidas e de lutas de escravos e abolicionistas em torno do que deveria ser a abolição ou a liberdade individual e social.
São quatro capítulos que nascem e vão crescendo em complexidade no decorrer da narrativa. O primeiro caminha de uma lei abolicionista para outra, ou seja, do passado de 1871 até o ano 1885. Nele, paulatinamente, constrói-se um percurso que une a tramitação e cláusulas das leis com suas interpretações e usos por parte de abolicionistas e escravos. Em um segundo momento, a autora penetra em seu tema central: os libertos e a Lei dos sexagenários. Indo de 1871 até 1885, Joseli Mendonça vai somando documentos, reunindo indícios os mais diversos para expor a questão central do período, ou seja, como conduzir com segurança o processo de passagem do mundo escravo para o livre. Ali a autora explicita o quanto esta questão evidencia um momento em que todos, univocamente, pareciam ser favoráveis à abolição da escravidão. No entanto, havia discordâncias as mais diversas sobre o processo que levaria à liberdade escrava. Questões como o controle do trabalhador liberto e a indenização da propriedade escrava estavam no centro do debate, que, entre outras conseqüências, derrubou o ministério Dantas e fez subir o Saraiva.
Contudo, Joseli Mendonça vai além das falas parlamentares como reflexo de um debate sobre a transição entre duas formas de trabalho no século XIX. Ao tocar no polêmico ponto do controle social do liberto ou na questão da propriedade escrava, a autora envereda sua análise para os significados e práticas sociais em torno destes aspectos. Neste sentido, senhores e escravos, desde 1871, mas, sobretudo, depois de 1885, começam a perceber o acirramento de um debate sobre os limites da legitimidade do poder ou do domínio senhorial, o que, em última instância, inaugura uma discussão sobre os sentidos da liberdade e a construção da cidadania no Brasil.
Afinal, o que era a liberdade ou o fim da escravidão? Se hoje podemos perceber o processo desencadeado entre 1871 e 1888 como a transformação de escravos em trabalhadores, ou a passagem de um modo de produção em que pessoas eram vendidas e compradas, para outro, em que se comprava e vendia apenas a força de trabalho, entretanto, para muitos homens e mulheres dos anos finais do século XIX, a liberdade certamente assumia outros pressupostos e significados. Utilizando-se de leis como as de 1885, fugindo, procurando abrigo entre os abolicionistas, muitos escravos buscavam uma liberdade mais ampla, que a de trocar seus senhores por patrões. É dentro desta perspectiva que a autora elabora os dois últimos capítulos e sua conclusão. É assim também que percebe o sentido de estudar leis como a de 1885, que não pode ser entendida apenas em seu teor supostamente positivo, mas, deve ser vista dentro dos pressupostos de sua ambigüidade e de seus múltiplos usos, tal qual enfatizava o historiador Edward Thompson para a lei negra na Inglaterra do século XVIII.
Um outro aspecto importante: o livro de Joseli Mendonça explicita a escravidão e a liberdade como problemas sociais e não como discursos ou representações das elites. As falas dos parlamentares, as dos jornalistas paulistas estão permeadas de suas experiências. Neste sentido, Joseli vê o texto dos deputados, dos jornalistas, bem como a letra da lei e o teor presente em seus vários projetos como frutos de relações sociais concretas em um contexto que vai sendo alterado cotidianamente pelos conflitos entre classes sociais distintas e resignificadas ao longo da luta.
Se há muitos e merecidos elogios ao livro, também existem críticas as quais, no limite, devem servir para continuar o movimento da roda da fortuna, dando sentido a novas investidas e outros estudos. Não se passa impunemente por uma análise tão densamente construída em torno da idéia de interpretação das leis e das classes sociais a partir dos estudos de Thompson. Depois de Formação da Classe Operária Inglesa e de Senhores e Caçadores, Thompson dedicou-se ao que denominou de “costumes em comum”. Assim, dentro do fazer-se de uma classe social, a questão cultural tornou-se fundamental. Neste ponto, apesar de várias notas explicativas e algumas incursões sobre a cultura escrava e a senhorial, o estudo de Joseli não procurou entender esta questão como central para a compreensão do mundo do liberto e de suas estratégias para pleitear e compreender os significados das leis na obtenção de sua liberdade. É muito mais dos embates sociais entre os escravos (classe) e o mundo senhorial, em especial em torno do espaço da justiça, que a autora retira suas explicações. Por seu turno, as páginas dos jornais paulistas, bem como os romances, a descrição dos viajantes e suas iconografias e tantos outros documentos, começam a servir de fontes para estudos que, ampliando o campo de luta escrava, o compreenda mais imbricado com os laços e disputas culturais que o conformavam.
Ainda neste sentido, também os diversos tipos de associações entre os escravos poderiam ser mais explorados. Eram em irmandades religiosas, nas festas e devoções aos santos e santas, nas rezas e práticas de cura e de feitiço que se teciam laços importantes para se entender as estratégias de luta escrava e sua contrapartida senhorial. Também carece de aprofundamento o estudo das inter-relações familiares, bem como as de compadrio, com aquelas oriundas da cultura negra, que foi se constituindo localmente. Talvez este entrelaçamento seja tão central quanto a bipolaridade senhor-escravo para a compreensão do universo de relações sociais constitutivos da sociedade paulista entre 1871-1888. Finalmente, eram nas igrejas que se faziam as eleições, que se reuniam os devotos e fiéis em louvor a um santo ou santa, que se discutia a pauta do dia das irmandades religiosas, que se benziam as rezadeiras e curandeiros.
Como fica claro, o livro de Joseli Maria Nunes Mendonça não esgota os caminhos da abolição em São Paulo e nem mesmo em Campinas. No entanto, depois dele fica difícil duvidar da abrangência e da gama de diferentes significados que se estabeleceram em torno do debate e promulgação da Lei dos Sexagenários. O que critico neste livro não é seu eixo central de análise, mas tão somente aponto que é possível ir mais longe através dele. Para terminar, volto ao princípio desta resenha, lembrando que quando um livro possibilita tecer uma enorme rede de significados, unindo — de forma rica e diversa — o presente com o passado, ele merece mais do que ser lido por trabalho e obrigação dos pesquisadores que estudam escravidão. Ao estabelecer o percurso da abolição e suas polêmicas como centro de análise, o estudo de Joseli nos faz lembrar o quanto a experiência de vida de homens e mulheres de 1885 podem ainda hoje ser importantes. Fazendo perceber que a justiça e a lei não são letras mortas e criadas de forma a serem sempre aplicadas positivamente, os escravos e escravas que Joseli estuda nos fornecem indícios de outros caminhos para os nossos dias.
Nota
1 Sílvia Hunold Lara. “Escravidão, cidadania e história do trabalho no Brasil”. Projeto História: revista do programa de estudos de pós-graduação do Departamento de História da PUC/SP. no 16 (1998):25-38.
Magda Ricci – Professora do Departamento de História da Universidade Federal do Pará.
[DR]








