Posts com a Tag ‘MACHADO André Roberto de A (Res)’
Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil | Yuko Miki
Yuko Miki | Foto: Fordham News |
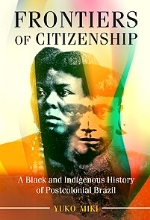
Frontiers of Citizenship, de Yuko Miki, já mereceria ser saudado por explorar essa primeira “fronteira”: a que separa a história de afro-brasileiros e de indígenas no Império do Brasil. Mais uma vez, o olhar estrangeiro nos ajuda a questionar os cânones da história nacional. Miki nascida em Tóquio, mas há muitos anos radicada nos Estados Unidos, onde é professora da Fordham University (NY), conta ao longo do livro o seu estranhamento em ver a história desses dois grupos tão apartada. Por outro lado, o livro – e especialmente seus comentários de contracapa – lhe atribuem muitas vezes uma originalidade que não é verdadeira. Muitos pontos – sobretudo em relação à história dos povos indígenas – podem ser pouco conhecidos do público estrangeiro, mas são absolutamente sabidos entre os historiadores brasileiros. A despeito disso, o esforço em buscar uma única interpretação, ou mesmo pontos de encontros, para a história de indígenas e afro-brasileiros escravizados é um ganho real.
Desde o início o livro chama a atenção por essa fusão que não está apenas na capa – uma bela arte de sobreposição de imagens de indígenas e afro-brasileiros – mas por se tratar de um volume da “Afro-Latin America” da Cambridge que tem como recorte espacial o vasto território conhecido na historiografia por ser aquele que foi alvo de D. João, em 1808, para se fazer guerra aos indígenas botocudos. Poucos territórios têm tão marcadamente um tema e uma cronologia: a guerra justa contra os botocudos e o período de 1808 a 1831, quando esta prática é extinta pelo Parlamento. Quase que exclusivamente tratado pela historiografia sobre os povos indígenas, é centro de discussão para as políticas indigenistas e as modalidades de trabalho imposta a estes povos. [4]
Miki implode esses parâmetros. Em primeiro lugar, avança a análise até o final do Império, permitindo revelar um quadro de mudanças muito mais complexo do que aquilo que se vê apenas até 1831, passando inclusive pelo Regulamento das Missões (1845) [5], o movimento abolicionista e a própria abolição. Ainda mais importante, Miki tenta enxergar essa região – que ela chama de “Fronteira Atlântica”, algo que problematizaremos adiante – como uma espécie de síntese, de um laboratório do Império. Afinal, foi ali que se abriu no começo do século XIX uma política generalizada de extermínio indígena. É verdade que isto jamais foi suprimido no Império português, mas especialmente depois de Pombal as políticas que tentavam transformar os indígenas em portugueses tornaram-se centro da estratégia do Império na disputa por territórios com Madri.
Ao mesmo tempo, o espaço colonial é o símbolo de uma mudança política com a vinda da Corte, Corte que não valorizava mais “zonas tampão” – papel que o território e os botocudos tinham ocupado até 1808 para impedir o desvio de pedras preciosas. Ao invés disso, o que se precisava era expandir-se “para dentro”, feliz expressão de Ilmar Mattos que fará ainda mais sentido já no Império do Brasil. [6] A expansão agrícola na “Fronteira Atlântica” é acompanhada de tentativas de implementação de novas alternativas de propriedade e trabalho. A mais famosa dessas iniciativas é a Colônia Leopoldina, incentivada pela própria Coroa através da vinda imigrantes e a distribuição de pequenas propriedades. A rápida transformação dessa experiência em apenas mais uma grande monocultura tocada com braços de escravizados afro-brasileiros, somada ao fato de ter se tornado um dos símbolos da resistência escravista, é extremamente destacado pela autora. Em alguma medida, o tom pessimista de toda a obra é sintetizado no “fracasso” da Colônia Leopoldina em manter-se com o trabalho livre.
Ainda que não dito explicitamente, Miki parece descrever um processo de mudança que nunca ocorre totalmente, como se o peso do passado fosse intransponível. A polissemia da palavra fronteira é habilmente explorada pela autora. A “Fronteira Atlântica” é a região que estuda. Os indígenas e afro-brasileiros estão fisicamente nesta fronteira, mas a sua cidadania também está em uma fronteira mais intangível, em uma área difícil de saber com clareza quem está dentro e quem está fora. Ainda que se valendo de análises já bastante conhecidas – sobretudo, de Sposito e Slemian [7] – Miki faz uma problematização dessa questão, lembrando que a constituição brasileira não era racializada. Ou seja, não era a cor da pele que determinava os direitos políticos. Por outro lado, condições jurídicas intrinsicamente ligadas à condição de homens e mulheres não brancos – como ser escravo ou considerado “selvagem” no caso dos indígenas – excluíam essas pessoas do “pacto político”. É apenas no final do livro – já discutindo o abolicionismo e o final do Império – que Miki deixa explícito que a negativa de direitos políticos para indígenas e negros era um projeto e não uma deficiência do sistema. Nesse ponto, há uma perfeita sintonia entre os projetos que analisa para indígenas e para os escravos após a abolição: em todos esses casos jamais se pensa em entregar terras e autonomia a esses povos. Ao contrário, a condição de subordinados, tutelados por fazendeiros ou religiosos é vendida como a única forma para impedir que ex-escravizados ou indígenas se entregassem ao ócio. Um discurso que se sustentou por décadas – e no caso dos indígenas, por séculos – e que ela registrou ecoar até mesmo entre os mais radicais abolicionistas da “Fronteira Atlântica”.
Se ao discutir a extensão da condição de cidadãos para indígenas e afro-brasileiros, Miki consegue uma análise mais integrada, o mesmo não acontece a respeito de outros aspectos. O exemplo mais evidente nesse sentido é o uso desses homens como mão de obra. Há, evidentemente, a demonstração de que em todo esse território havia o emprego significativo de indígenas e afro-brasileiros. No entanto, este são universos que estavam no mesmo território, mas que a narrativa organiza em sistemas produtivos bastante distintos. Ou seja, o enfoque para os indígenas está, de modo geral, nas missões e os escravizados afro-brasileiros nas fazendas. A pureza dessas separações tão estanques é difícil de acreditar em um território como esse. Bezerra Neto já mostrou que as fazendas monocultoras do Pará, por exemplo, sempre foram tidas como tocadas por mão de obra exclusivamente escravizada afro-brasileira, mas na verdade dividia os campos com indígenas. [8]
Antes que se diga que se trata das “excentricidades” do Cabo Norte, Marco Morel, em belíssimo e recente trabalho sobre os botocudos, justamente mostra como a sua mão de obra era frequentemente requisitada para os mais diferentes tipos de trabalho, ocupando frentes inclusive no entorno da Corte. Além do trabalho em obras públicas, Morel dá vários exemplos de como eram recorrentes as denúncias do emprego de indígenas em fazendas em toda essa região, muitas vezes desviados de instituições públicas sob a alegação de que era um método de civilização mais barato. [9] Para além disso, Miki passa ao largo da discussão mais interessante da historiografia recente: aquela que implode a visão dicotômica que separava todo o trabalho no Brasil do século XIX nas categorias de trabalho livre ou trabalho escravo. Em vez disso, há uma gigantesca zona cinzenta – não só no Brasil, mas em todo o mundo – em que homens livres são obrigados a trabalhar sob as mais diferentes formas de coerção, inclusive físicas. [10] Indígenas e afro-brasileiros eram especialmente alvo dessas ações que Miki totalmente ignora no livro.
Por fim, há ainda uma última consideração geral: a ideia de classificar esta região de ataque aos botocudos como “Fronteira Atlântica”. Miki insiste muito na ideia da fronteira, certamente influenciada pela tradição americana e critica o pouco uso desse termo na historiografia brasileira. No entanto, esta designação parece ter muitas fragilidades: no Império do Brasil, no processo de “expansão para dentro”, a fronteira é o recorrente e não a exceção. Nesse sentido, a região estudada por Miki parece estar longe de ser algo particularmente singular.
Mais especificamente sobre a distribuição dos capítulos é importante salientar que as suas divisões são temáticas, ainda que de modo geral a evolução dos capítulos também siga em alguma medida um avanço cronológico. Assim, o primeiro capítulo explora as “fronteiras da cidadania”, enquanto o segundo busca dar uma interpretação ao que ela chama de “política popular” (em tradução livre). Nos capítulos seguintes, outros temas giram em torno de tópicos como a mestiçagem, a violência, os “campos negros” e o abolicionismo. Os capítulos podem ser lidos separadamente, quase sem prejuízo do seu entendimento, o que por sua vez revela um problema de coesão da obra no seu conjunto. Também é peculiar a mistura de abordagens mais “estruturais” – como as discussões da cidadania a partir de documentos do centro político do Império – com narrativas totalmente focadas na “agência”. Especialmente nesse último ponto a obra encontra mais dificuldades. Há alguns insights maravilhosos, mas custa enxergar que alguns eventos possam ser usados para generalizações reiteradamente feitas.
Apesar das críticas, Frontiers of Citizenship é um livro que provoca muitas reflexões e incomoda ao buscar análises de ângulos inusuais. Isso por si só já basta para merecer a sua leitura.
Notas
3. Entre outras novas evidências, percebe-se o uso da mão de obra indígena mesmo em regiões irrigadas com escravizados afro-brasileiros, como São Paulo ou mesmo a região do Vale do Paraíba, pelo menos até um determinado período. Entre outros, veja LEMOS, Marcelo Sant’ana. O índio virou pó de Café? Resistência indígena frente à expansão cafeeira no Vale do Paraíba. Jundiaí: Paco Editorial, 2016; DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsório e escravidão indígena no Brasil imperial: reflexões a partir da província paulista. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 38, nº 79, 2018.
4. Para uma síntese, SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime português. Análise da política indigenista de D. João VI. Revista de História (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.
5. Trata-se da primeira lei para os povos indígenas como validade em todo o território do Império.
6. MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade política. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.
7. SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-45). São Paulo: Alameda, 2012; SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadãos? Os impasses na construção da cidadania nos primórdios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSÓ, István (org.). Independência: História e historiografia. São Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.
8. BEZERRA NETO, José Maia. Escravidão Negra no Grão Pará (séculos XVIII-XIX). Belém: Paka-tatu, 2012.
9. MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistência indígena. São Paulo: Hucitec, 2018.
10. Entre outros, MACHADO, André Roberto de A. O trabalho indígena no Brasil durante a primeira metade do século XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Ré, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). História e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.São Paulo: Publicações BBM / Alameda, 2020; Mamigonian, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017; LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma história global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013; STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991.
Referências
BEZERRA NETO, Jose Maia. Escravidao Negra no Grao Para (seculos XVIII-XIX). Belem: Paka-tatu, 2012.
DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsorio e escravidao indigena no Brasil imperial: reflexoes a partir da provincia paulista. Revista Brasileira de Historia. Sao Paulo, v. 38, nº 79, 2018.
LEMOS, Marcelo Sant’ana. O indio virou po de Cafe? Resistencia indigena frente a expansao cafeeira no Vale do Paraiba. Jundiai: Paco Editorial, 2016.
LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma historia global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013.
MACHADO, Andre Roberto de A. O trabalho indigena no Brasil durante a primeira metade do seculo XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Re, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). Historia e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.Sao Paulo: Publicacoes BBM / Alameda, 2020.
MAMIGONIAN, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construcao da unidade politica. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.
MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistencia indigena. Sao Paulo: Hucitec, 2018.
Resenha de MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018.
SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadaos? Os impasses na construcao da cidadania nos primordios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSO, Istvan (org.). Independencia: Historia e historiografia. Sao Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.
SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime portugues. Analise da politica indigenista de D. Joao VI. Revista de Historia (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.
SPOSITO, Fernanda. Nem cidadaos, nem brasileiros. Indigenas na formacao do Estado nacional brasileiro e conflitos na provincia de Sao Paulo (1822-45). Sao Paulo: Alameda, 2012.
STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991
André Roberto de A. Machado – Universidade Federal de São Paulo, Departamento de História. Guarulhos – São Paulo – Brasil. Professor do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. É graduado e doutor em História pela Universidade de São Paulo e realizou pós-doutorados no CEBRAP e nas universidades de Brown e Harvard. E-mail: andre. [email protected]
MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018. Resenha de: MACHADO, André Roberto de A. Construindo fronteiras dentro das fronteiras do Império do Brasil. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021.
A quebra da mola real das sociedades: a crise política do antigo regime português na província do Grão-Pará (1821-1825) / André R. A. Machado
A obra ora resenhada faz parte da renovação historiográfica nos estudos sobre as mudanças políticas vividas no mundo lusobrasileiro no primeiro quartel dos oitocentos. Durante décadas, debruçados sobre a “questão da Independência” – tema de forte apelo nacional –, historiadores de diferentes matizes obscureceram as alternativas políticas que se apresentavam para o momento. A mesma perspectiva transformou a Revolução do Porto – vitoriosa em agosto de 1820 – numa espécie de “antecedente” da Independência, reação última ao “projeto recolonizador” levado a cabo pelas Cortes portuguesas.
Desde a década de 1990, autores como István Jancsó – mestre de todos nós e orientador da tese que dá origem a este livro – destacavam os pressupostos a serem refutados e sugeriam os caminhos a serem trilhados por um renovado conjunto de historiadores. Em síntese: 1) recusava-se a pré-existência do Estado e da Nação, com a abolição de expressões como “manutenção da unidade”, “restauração das províncias rebeldes”, “separatismo do Norte”; 2) propunha-se a recuperação da dinâmica política a partir das variáveis que afligiam os cidadãos que se movimentavam na nova cena pública, sem o peso de explicações estruturais, como aquelas pautadas na “truculência das Cortes”, na “falência ibérica” e nas “novas necessidades do capital”; 3) recuperava-se a participação dos “homens do comum”, que ganharam vida: anseios, vinganças e frustrações motivaram sua efetiva participação política, perspectiva muito diversa das “massas de manobra”, por vezes denunciadas sob a falsa aparência de criticidade; 4) por fim, convidava-se a uma imersão no conjunto de documentos produzidos dentro e fora da esfera estatal: códices, caixas e latas conviveriam agora com jornais e folhetos, tomados como novos ingredientes de uma política cujo aprendizado se dava também em praça pública.
Pesquisador atento a tais ensinamentos, André Machado os tomou como balizas para a sua pesquisa, sem, contudo, ater-se a receitas prontas, já aplicadas ao estudo de outras províncias. De maneira autônoma, com sólida discussão bibliográfica e conjunto documental, propôs uma história das possibilidades políticas abertas desde a “adesão” do Grão-Pará à Revolução do Porto até o Reconhecimento da Independência.
Tal recorte poderia sugerir uma “História da Independência desde a Revolução do Porto”, perspectiva teleológica e tradicional que encadeou episodicamente esses dois momentos, dando-lhes inteligibilidade. Em direção diametralmente oposta, o autor reserva à Independência – palavra evitada ao longo do texto e substituída pela noção de “novo alinhamento” – um papel absolutamente secundário ante as disputas suscitadas pelas possibilidades advindas do constitucionalismo português. A seu modo, todos eram portugueses, pressuposto que inviabiliza a perspectiva de “projetos nacionais” emersos com o “7 de setembro”, ou, no caso do Grão-Pará, com o “15 de agosto de 1823”.
Essa é a tônica da primeira parte do livro, dividida em três capítulos. Desde as primeiras linhas, o autor compartilha a narrativa com seus personagens, perscrutando as incertezas e a provisoriedade das posições políticas assumidas ao sabor das circunstâncias. A “quebra da mola real das sociedades bem constituídas” – expressão de autoria do bispo do Pará, inspiração para o título do livro e norte para a noção de “instabilidade” construída pelo autor ao longo da narrativa – provocara um dissenso heterogêneo, múltiplo em suas razões e frágil em sua capacidade de construir acordos duradouros.
Tais questões são acompanhadas de uma análise que articula os estratos dominantes da província às relações de poder expressas nos “partidos” que então se organizavam. Sem recorrer a relações mecânicas de classe / partido, conclui que os proprietários de fortuna acumulada recentemente tendiam a ser “mais constitucionais”, forma de atingir postos até então ocupados por figuras ligadas ao ancien régime português. Para o autor, esses grupos “mais constitucionais” se demonstraram, gradativamente, propensos ao “alinhamento” com o Rio de Janeiro, na medida em que seus projetos políticos foram inviabilizados internamente.
Outras razões são apresentadas na explicação para o “alinhamento”, mas seguramente a mais original é a noção de “bloco regional”, rede composta por sólidos laços econômicos e políticos que aproximavam as províncias do Grão-Pará, Maranhão, Goiás e Mato Grosso.
Construída a partir de certa leitura de Benedict Anderson (Nação e consciência nacional) – autor comumente evocado pela historiografia brasileira nos debates sobre nações como “comunidades imaginadas” –, a noção serve ao autor como mais um importante contraponto ao clássico “Brasil versus Portugal”.
Sem transformar o “alinhamento” do Grão-Pará em mero reflexo dos interesses do “bloco regional”, estabelece conexões entre a inviabilidade de sua manutenção, por exemplo, a partir do “alinhamento” do Maranhão1, em 28 de julho de 1823, decisão seguida pelo Grão- Pará, poucos dias depois.
Destaque-se ainda a alternativa que o autor oferece às explicações pautadas na centralidade das pressões militares para o “alinhamento”, corporificadas na atuação de John Grenfell, inglês que chegou ao Pará em agosto de 1823 e assumiu a incumbência de comandar as forças navais a serviço de D. Pedro I. Trilhando outros caminhos, tangencia o debate sobre o papel das tropas externas: seu foco são as condições “internas” (dinâmica política provincial e interesses do “bloco regional”) que viabilizaram o “alinhamento” da penúltima província da América portuguesa ao Império nascente.
Na segunda parte do livro, composta por dois capítulos, o autor persegue os conflitos que tiveram continuidade com o “alinhamento”, forte indício de que a questão principal não estava aí, mas nas disputas abertas com a “quebra da mola real”. Se projetos políticos “préalinhamento” persistiam, novidades como a Confederação do Equador – também tomada como proposta de um “bloco regional” – traziam novos ingredientes para o campo da política.
Somem-se a esse quadro de instabilidade a crescente participação política de negros e tapuios, grupos que muitas vezes compartilhavam projetos de futuro distintos daqueles levados a cabo pelos “partidos” da província, e a partida de Grenfell, em março de 1824, uma das poucas autoridades minimamente reconhecidas entre os grupos em litígio.
Gradativamente, constrói a “solução brasileira”, tomando como referência a inviabilização de pelo menos dois importantes projetos: a alternativa republicano-regional, fracassada com a derrota da Confederação do Equador, e o realinhamento a Portugal, prejudicado pelo Tratado de Reconhecimento da Independência, assinado em meados de 1825. Paralelamente, apresenta-nos os sucessos obtidos pela junta de Santarém, representação composta majoritariamente por proprietários e comerciantes, que a partir dos primeiros meses de 1824 acumulou vitórias políticas e militares, recompondo os estratos dirigentes da província ante o “perigo maior” de uma nova São Domingos.
Por fim, vale-se de uma apropriada metáfora de Immanuel Wallerstein (Capitalismo histórico & civilização capitalista) para sintetizar as preocupações que o acompanharam por toda a pesquisa. Para o autor citado, crises sistêmicas se assemelham à experiência de passar por vários pontos de bifurcação, que obrigam a sucessivas escolhas e alimentam incertezas na busca pela estabilidade perdida. Os homens do Grão-Pará, em tempos de crise, não escaparam a essa máxima. Já nós, historiadores, talvez sejamos eternos “homens em tempos de crise”: para o nosso conforto, textos como esse demonstram que é possível, diante de cada bifurcação, aprimorar a caminhada.
Marcelo Cheche Galves – UEMA. E-mail: [email protected].
MACHADO, André Roberto de A. A quebra da mola real das sociedades: a crise política do antigo regime português na província do Grão-Pará (1821-1825). São Paulo: Hucitec / Fapesp, 2010. 321 p. Resenha de: MACHADO, André Roberto de A. Outros Tempos, São Luís, v.7, n.10, p.292-205, dez. 2010. Acessar publicação original. [IF].


