Posts com a Tag ‘Indígenas’
Vivir en policía y a son de campana. El establecimiento de la república de indios en la provincia de Santafé/1550-1604 | Jorge Iván Marín Taborda
El título del libro, Vivir en policía y a son de campana. El establecimiento de la república de indios en la provincia de Santafé, 1550-1604, adelanta de manera precisa el objeto de la investigación desarrollada por Jorge Iván Marín Taborda: el proceso de establecimiento de la república de indios como cuerpo político en la provincia de Santafé, Audiencia del Nuevo Reino de Granada, durante la segunda mitad del siglo XVI. El libro estudia específicamente la conflictiva participación en dicho proceso de los actores e instituciones coloniales y eclesiásticas (la Corona, el Consejo de Indias, la Audiencia, los visitadores, los vecinos encomenderos, las sociedades indígenas y sus autoridades, el clero regular y secular, los obispos, entre otros), para lo cual analiza un complejo mundo de relaciones sociales y políticas durante el proceso de transición hacia la consolidación del sistema colonial en la región. Leia Mais
The Mexican Mission. Indigenous Reconstruction and Mendicant Enterprise in New Spain/1521-1600 | Ryan Dominic Crewe
Joaquín García Icazbalceta (1825-1894) siguió a su mentor Lucas Alamán (1792-1853) al reconocer al siglo XVI como el más importante de nuestra historia, el siglo fundador, cuando México se hizo lo que es, católico y mestizo, y consideró a los frailes, particularmente a los franciscanos, como los verdaderos héroes de la historia mexicana. Con el fin de estudiar este proceso, más allá de los escasos libros antiguos y modernos que Alamán pudo consultar para sus Disertaciones sobre la historia de la República Mejicana (1843-1849), era necesario documentarlo y García Icazbalceta invirtió sus ganancias empresariales para formar a lo largo de su vida una gran colección de documentos y libros antiguos, que estudió, editó y aprovechó en magníficas publicaciones. El historiador francés Robert Ricard (1900-1984) retomó la documentación publicada y roturada por García Icazbalceta, a la que se agregó la publicada por el padre jesuita Mariano Cuevas (1879-1949), para formular su completa síntesis sobre La conquista espiritual de México, de 1933, que abarca el primer medio siglo, entre la llegada de los franciscanos, en 1523-1524, y la creación del tribunal de la Inquisición y la llegada de los jesuitas, en 1571-1572. Leia Mais
Esclavos e indígenas realistas en la Era de la Revolución. Reforma/ revolución y realismo en los Andes septentrionales/ 1780-1825 | Marcela Echeverri
Podría pensarse que ésta es una historia de la lealtad y que el libro relata la lucha que sostuvieron indios y esclavos por el rey, y no por la patria, en las revoluciones independentistas. En realidad, se trata de algo más complejo e interesante. El de Marcela Echeverri es un estudio de la acción política de comunidades de indígenas y de esclavizados y su participación concreta en los procesos de reforma, crisis y disolución de la monarquía española en América. Es el análisis del tránsito del orden virreinal de la Nueva Granada al estado nacional colombiano a partir de una muy particular provincia, Popayán; laboratorio idóneo para comprender y explicar la diversidad de experiencias que los conflictos y la guerra de ese tránsito acarrearon.
Nada en esa región peculiar del suroccidente neogranadino parece encajar con las narrativas nacionalistas tradicionales de las independencias: indios y negros dirigidos por indios y negros que persisten contra todo y contra todos, Bolívar incluido, en nombre del rey. Es el mundo al revés en el que los libertadores son conquistadores, la república es tiranía y la victoria se asume como derrota. Ahí las guerrillas son de realistas, son los patriotas quienes reintroducen tributos y exacciones y la independencia es tan indeseada como el rey parece ser anhelado. Leia Mais
Cofradías de indios y negros: origen/ evolución y continuidades | Teresa Eleazar Serrano Espinosa
Resultado del proyecto “Las cofradías y organizaciones cívico-religiosas en México, siglos XVI-XIX”, y producto también del encuentro “Las cofradías, panorama histórico y antropológico en México”, realizado en 2014, la obra que reseñamos reúne diez estudios monográficos en torno a este tema ya bien conocido de nuestra historiografía. Como es común en los libros colectivos, su riqueza se encuentra en la diversidad de objetos de estudio y de metodologías de análisis, bien que en este caso encontramos tanto planteamientos muy clásicos como algunos realmente originales. Según se indica desde el título, en el amplio y casi inabarcable océano del universo cofrade, la coordinación de la obra eligió en concreto una categorización a partir de criterios étnicos. Esta delimitación se hace aún más específica a partir de un marco cronológico novohispano, según se aclara en la presentación, en la que además se explica la voluntad de reflexionar historiográficamente sobre su conformación “entre grupos marginales”. Se extraña un poco que no haya en esa introducción un balance historiográfico, pues sólo se remite al lector a una obra previa derivada del mismo proyecto. Dicho balance acaso hubiera propiciado una reflexión más profunda en torno a la noción misma de cofradía y las ambigüedades del vocabulario utilizado para definirla. Lo mismo se habla de ellas en términos de “asociación” que de “institución colonial”, y en los capítulos siguientes también se les reconoce como “corporación”, nociones todas que ameritarían una explicación particular. En cambio, la presentación anticipa las líneas generales que efectivamente se encuentran en el desarrollo del capitulado: la relación conflictiva con “diversas autoridades”; su “larga duración” a pesar de ello, y su “dinámica económica”, es decir, sus bienes y sus usos. Leia Mais
Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil | Yuko Miki
Yuko Miki | Foto: Fordham News |
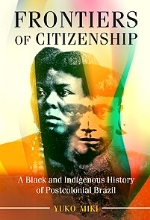
Frontiers of Citizenship, de Yuko Miki, já mereceria ser saudado por explorar essa primeira “fronteira”: a que separa a história de afro-brasileiros e de indígenas no Império do Brasil. Mais uma vez, o olhar estrangeiro nos ajuda a questionar os cânones da história nacional. Miki nascida em Tóquio, mas há muitos anos radicada nos Estados Unidos, onde é professora da Fordham University (NY), conta ao longo do livro o seu estranhamento em ver a história desses dois grupos tão apartada. Por outro lado, o livro – e especialmente seus comentários de contracapa – lhe atribuem muitas vezes uma originalidade que não é verdadeira. Muitos pontos – sobretudo em relação à história dos povos indígenas – podem ser pouco conhecidos do público estrangeiro, mas são absolutamente sabidos entre os historiadores brasileiros. A despeito disso, o esforço em buscar uma única interpretação, ou mesmo pontos de encontros, para a história de indígenas e afro-brasileiros escravizados é um ganho real.
Desde o início o livro chama a atenção por essa fusão que não está apenas na capa – uma bela arte de sobreposição de imagens de indígenas e afro-brasileiros – mas por se tratar de um volume da “Afro-Latin America” da Cambridge que tem como recorte espacial o vasto território conhecido na historiografia por ser aquele que foi alvo de D. João, em 1808, para se fazer guerra aos indígenas botocudos. Poucos territórios têm tão marcadamente um tema e uma cronologia: a guerra justa contra os botocudos e o período de 1808 a 1831, quando esta prática é extinta pelo Parlamento. Quase que exclusivamente tratado pela historiografia sobre os povos indígenas, é centro de discussão para as políticas indigenistas e as modalidades de trabalho imposta a estes povos. [4]
Miki implode esses parâmetros. Em primeiro lugar, avança a análise até o final do Império, permitindo revelar um quadro de mudanças muito mais complexo do que aquilo que se vê apenas até 1831, passando inclusive pelo Regulamento das Missões (1845) [5], o movimento abolicionista e a própria abolição. Ainda mais importante, Miki tenta enxergar essa região – que ela chama de “Fronteira Atlântica”, algo que problematizaremos adiante – como uma espécie de síntese, de um laboratório do Império. Afinal, foi ali que se abriu no começo do século XIX uma política generalizada de extermínio indígena. É verdade que isto jamais foi suprimido no Império português, mas especialmente depois de Pombal as políticas que tentavam transformar os indígenas em portugueses tornaram-se centro da estratégia do Império na disputa por territórios com Madri.
Ao mesmo tempo, o espaço colonial é o símbolo de uma mudança política com a vinda da Corte, Corte que não valorizava mais “zonas tampão” – papel que o território e os botocudos tinham ocupado até 1808 para impedir o desvio de pedras preciosas. Ao invés disso, o que se precisava era expandir-se “para dentro”, feliz expressão de Ilmar Mattos que fará ainda mais sentido já no Império do Brasil. [6] A expansão agrícola na “Fronteira Atlântica” é acompanhada de tentativas de implementação de novas alternativas de propriedade e trabalho. A mais famosa dessas iniciativas é a Colônia Leopoldina, incentivada pela própria Coroa através da vinda imigrantes e a distribuição de pequenas propriedades. A rápida transformação dessa experiência em apenas mais uma grande monocultura tocada com braços de escravizados afro-brasileiros, somada ao fato de ter se tornado um dos símbolos da resistência escravista, é extremamente destacado pela autora. Em alguma medida, o tom pessimista de toda a obra é sintetizado no “fracasso” da Colônia Leopoldina em manter-se com o trabalho livre.
Ainda que não dito explicitamente, Miki parece descrever um processo de mudança que nunca ocorre totalmente, como se o peso do passado fosse intransponível. A polissemia da palavra fronteira é habilmente explorada pela autora. A “Fronteira Atlântica” é a região que estuda. Os indígenas e afro-brasileiros estão fisicamente nesta fronteira, mas a sua cidadania também está em uma fronteira mais intangível, em uma área difícil de saber com clareza quem está dentro e quem está fora. Ainda que se valendo de análises já bastante conhecidas – sobretudo, de Sposito e Slemian [7] – Miki faz uma problematização dessa questão, lembrando que a constituição brasileira não era racializada. Ou seja, não era a cor da pele que determinava os direitos políticos. Por outro lado, condições jurídicas intrinsicamente ligadas à condição de homens e mulheres não brancos – como ser escravo ou considerado “selvagem” no caso dos indígenas – excluíam essas pessoas do “pacto político”. É apenas no final do livro – já discutindo o abolicionismo e o final do Império – que Miki deixa explícito que a negativa de direitos políticos para indígenas e negros era um projeto e não uma deficiência do sistema. Nesse ponto, há uma perfeita sintonia entre os projetos que analisa para indígenas e para os escravos após a abolição: em todos esses casos jamais se pensa em entregar terras e autonomia a esses povos. Ao contrário, a condição de subordinados, tutelados por fazendeiros ou religiosos é vendida como a única forma para impedir que ex-escravizados ou indígenas se entregassem ao ócio. Um discurso que se sustentou por décadas – e no caso dos indígenas, por séculos – e que ela registrou ecoar até mesmo entre os mais radicais abolicionistas da “Fronteira Atlântica”.
Se ao discutir a extensão da condição de cidadãos para indígenas e afro-brasileiros, Miki consegue uma análise mais integrada, o mesmo não acontece a respeito de outros aspectos. O exemplo mais evidente nesse sentido é o uso desses homens como mão de obra. Há, evidentemente, a demonstração de que em todo esse território havia o emprego significativo de indígenas e afro-brasileiros. No entanto, este são universos que estavam no mesmo território, mas que a narrativa organiza em sistemas produtivos bastante distintos. Ou seja, o enfoque para os indígenas está, de modo geral, nas missões e os escravizados afro-brasileiros nas fazendas. A pureza dessas separações tão estanques é difícil de acreditar em um território como esse. Bezerra Neto já mostrou que as fazendas monocultoras do Pará, por exemplo, sempre foram tidas como tocadas por mão de obra exclusivamente escravizada afro-brasileira, mas na verdade dividia os campos com indígenas. [8]
Antes que se diga que se trata das “excentricidades” do Cabo Norte, Marco Morel, em belíssimo e recente trabalho sobre os botocudos, justamente mostra como a sua mão de obra era frequentemente requisitada para os mais diferentes tipos de trabalho, ocupando frentes inclusive no entorno da Corte. Além do trabalho em obras públicas, Morel dá vários exemplos de como eram recorrentes as denúncias do emprego de indígenas em fazendas em toda essa região, muitas vezes desviados de instituições públicas sob a alegação de que era um método de civilização mais barato. [9] Para além disso, Miki passa ao largo da discussão mais interessante da historiografia recente: aquela que implode a visão dicotômica que separava todo o trabalho no Brasil do século XIX nas categorias de trabalho livre ou trabalho escravo. Em vez disso, há uma gigantesca zona cinzenta – não só no Brasil, mas em todo o mundo – em que homens livres são obrigados a trabalhar sob as mais diferentes formas de coerção, inclusive físicas. [10] Indígenas e afro-brasileiros eram especialmente alvo dessas ações que Miki totalmente ignora no livro.
Por fim, há ainda uma última consideração geral: a ideia de classificar esta região de ataque aos botocudos como “Fronteira Atlântica”. Miki insiste muito na ideia da fronteira, certamente influenciada pela tradição americana e critica o pouco uso desse termo na historiografia brasileira. No entanto, esta designação parece ter muitas fragilidades: no Império do Brasil, no processo de “expansão para dentro”, a fronteira é o recorrente e não a exceção. Nesse sentido, a região estudada por Miki parece estar longe de ser algo particularmente singular.
Mais especificamente sobre a distribuição dos capítulos é importante salientar que as suas divisões são temáticas, ainda que de modo geral a evolução dos capítulos também siga em alguma medida um avanço cronológico. Assim, o primeiro capítulo explora as “fronteiras da cidadania”, enquanto o segundo busca dar uma interpretação ao que ela chama de “política popular” (em tradução livre). Nos capítulos seguintes, outros temas giram em torno de tópicos como a mestiçagem, a violência, os “campos negros” e o abolicionismo. Os capítulos podem ser lidos separadamente, quase sem prejuízo do seu entendimento, o que por sua vez revela um problema de coesão da obra no seu conjunto. Também é peculiar a mistura de abordagens mais “estruturais” – como as discussões da cidadania a partir de documentos do centro político do Império – com narrativas totalmente focadas na “agência”. Especialmente nesse último ponto a obra encontra mais dificuldades. Há alguns insights maravilhosos, mas custa enxergar que alguns eventos possam ser usados para generalizações reiteradamente feitas.
Apesar das críticas, Frontiers of Citizenship é um livro que provoca muitas reflexões e incomoda ao buscar análises de ângulos inusuais. Isso por si só já basta para merecer a sua leitura.
Notas
3. Entre outras novas evidências, percebe-se o uso da mão de obra indígena mesmo em regiões irrigadas com escravizados afro-brasileiros, como São Paulo ou mesmo a região do Vale do Paraíba, pelo menos até um determinado período. Entre outros, veja LEMOS, Marcelo Sant’ana. O índio virou pó de Café? Resistência indígena frente à expansão cafeeira no Vale do Paraíba. Jundiaí: Paco Editorial, 2016; DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsório e escravidão indígena no Brasil imperial: reflexões a partir da província paulista. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 38, nº 79, 2018.
4. Para uma síntese, SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime português. Análise da política indigenista de D. João VI. Revista de História (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.
5. Trata-se da primeira lei para os povos indígenas como validade em todo o território do Império.
6. MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade política. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.
7. SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-45). São Paulo: Alameda, 2012; SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadãos? Os impasses na construção da cidadania nos primórdios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSÓ, István (org.). Independência: História e historiografia. São Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.
8. BEZERRA NETO, José Maia. Escravidão Negra no Grão Pará (séculos XVIII-XIX). Belém: Paka-tatu, 2012.
9. MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistência indígena. São Paulo: Hucitec, 2018.
10. Entre outros, MACHADO, André Roberto de A. O trabalho indígena no Brasil durante a primeira metade do século XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Ré, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). História e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.São Paulo: Publicações BBM / Alameda, 2020; Mamigonian, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017; LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma história global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013; STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991.
Referências
BEZERRA NETO, Jose Maia. Escravidao Negra no Grao Para (seculos XVIII-XIX). Belem: Paka-tatu, 2012.
DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsorio e escravidao indigena no Brasil imperial: reflexoes a partir da provincia paulista. Revista Brasileira de Historia. Sao Paulo, v. 38, nº 79, 2018.
LEMOS, Marcelo Sant’ana. O indio virou po de Cafe? Resistencia indigena frente a expansao cafeeira no Vale do Paraiba. Jundiai: Paco Editorial, 2016.
LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma historia global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013.
MACHADO, Andre Roberto de A. O trabalho indigena no Brasil durante a primeira metade do seculo XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Re, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). Historia e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.Sao Paulo: Publicacoes BBM / Alameda, 2020.
MAMIGONIAN, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construcao da unidade politica. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.
MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistencia indigena. Sao Paulo: Hucitec, 2018.
Resenha de MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018.
SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadaos? Os impasses na construcao da cidadania nos primordios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSO, Istvan (org.). Independencia: Historia e historiografia. Sao Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.
SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime portugues. Analise da politica indigenista de D. Joao VI. Revista de Historia (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.
SPOSITO, Fernanda. Nem cidadaos, nem brasileiros. Indigenas na formacao do Estado nacional brasileiro e conflitos na provincia de Sao Paulo (1822-45). Sao Paulo: Alameda, 2012.
STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991
André Roberto de A. Machado – Universidade Federal de São Paulo, Departamento de História. Guarulhos – São Paulo – Brasil. Professor do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. É graduado e doutor em História pela Universidade de São Paulo e realizou pós-doutorados no CEBRAP e nas universidades de Brown e Harvard. E-mail: andre. [email protected]
MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018. Resenha de: MACHADO, André Roberto de A. Construindo fronteiras dentro das fronteiras do Império do Brasil. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021.
Battista Venturello. Las huellas de un largo peregrinaje por territorios indígenas | Augusto Javier Gómez López
Este libro revela una cautivadora coleccion fotografica que se encontraba hasta hace poco resguardada en un pesado y viejo baul de la familia Venturello.
El libro, coeditado por la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, hace parte de la coleccion especial Sublimis, la cual, tal y como su nombre lo indica, tiene como objetivo la publicacion de obras eminentemente extraordinarias. Al abrir y pasar sus paginas, el lector atraviesa una galeria etnografica y al internarse en la lectura de los textos, poco a poco encuentra y comprende el trasfondo historico en el que Battista Venturello obtuvo estos registros. Venturello nacio en el canton de Piamonte italiano en 1900 y a sus 22 anos salio de Turin en busqueda de las selvas africanas, pero un cambio de rumbo lo llevo a America. Alli, recorrio varias regiones colombianas durante la primera mitad del siglo xx y, finalmente, se radico en la ciudad de Cali. En la decada de 1960 fue el fundador, de la mano de sus hijos, de la primera industria de antenas de television en el pais. Leia Mais
Poderes Y Personas: Pasado y Presente de la Administración de Poblaciones en América Latina – BRETÓN (LH)
BRETÓN, Víctor; VILALTA, María José (eds). Poderes Y Personas: Pasado y Presente de la Administración de Poblaciones en América Latina. Icaria: Institut Català de’Antropologia, 2017, 304 pp. Resenha de: RODRIGUES, Isabel P. B. Fêo. Ler História, v.74, p. 280-284, 2019.
1 Theoretically and methodologically inspired by the influential anthropological work of Andrés Guerrero in the Andes, this edited volume is organized around his conception of population control and administration of populations deemed to be inferior or incapable of ruling themselves. The volume fuses anthropology with history in order to interrogate the colonial and postcolonial historical processes as well as the everyday socio-cultural mechanisms that gave rise to a blinding form of domination specifically designed to control and silence entire populations, particularly the indigenous peoples across Latin-America. As nineteenth-century hegemonic conceptions of territory and nation encased Latin America’s nation-states, the act of governing inextricably involved the creation of institutions and daily practices designed to administer entire territories and a plurality of populations that were excluded from the institutions of power that formed the postcolonial state apparatus. All ten chapters that compose this volume, present case studies that illustrate different practices and mechanisms of domination across specific historical times and regions paying close attention to the interface between state domination and its effects on the subaltern groups that were and still are subjected to state control and colonialism. The majority of the case studies are on Ecuador, with Peru and Mexico offering comparative studies that illustrate the vast potential of Guerrero’s theoretical and methodological contributions to understand the dual and paradoxical processes of constructing citizenship while simultaneously and producing exclusion and subjugation of indigenous populations across Latin America.
2 The volume is organized into two parts aimed at bringing together the historical development of mechanisms of rule and population control and those who are subjected and made the targets of such domination. The first part, Administración de poblaciones or administration of populations, aims to provide the historical bedrock on which modern states built their mechanisms of domination. The second part, Poblaciones administradas or administered populations, focuses on the actual view from bellow and the acts of resistance indigenous populations and Afro-Ecuadorian devised to gain access to their land, resist state control, and undermine the actual mechanisms of domination and exclusion.
3 Most case-studies are theoretically grounded on Michel Foucault’s conceptions of power as a capillary instrument operating through multiple agents and institutions designed to discipline, punish, surveil, and regulate daily practices orchestrated to homogenize populations and produce conforming citizens. In addition to Foucault, Antonio Gramsci’s conception of hegemonic power operating through the entwined forces of ideology and praxis, enabling acquiescence and conformity, plays a strong analytical role in all the case-studies. Fittingly, the volume starts with María José Vilalta whose work examines the controversial role of the clergy and parish priests during colonial times in producing population registries which enabled the colonial state to control and administer populations extending its tentacles across the Andes, ensnaring the Quechua population into a regime of servitude. Catholicism operated to evangelize and convert souls for the Spanish empire while simultaneously producing a body of texts and registries —from baptismal registries to marriage and death— which were instrumental in deciphering and organizing data during colonial rule. Furthermore, through religious control and early data basis they enabled the extraction of indigenous tribute or tributo indígena contributing to a process of labor extraction to benefit the colonial state and the Spanish descent population.
4 This state of affairs extended beyond the Andes as María Dolores Palomo’s work shows in the case of Chiapas, Mexico. She argues that the emergence of the nation-state transformed the relationship between the new nations and the indigenous populations into new projects of control. The colonial system invented the indio, and the Indian village organized along Spanish principles of urbanization and Catholic morality. There, they imposed a logic of empire which was subsequently recycled into postcolonial municipalities. In municipalities, the separation between indio and ladino implied the superiority of the latter. Ladinization became an instrumental mechanism of cultural and symbolic control conforming to Catholic morality and its domination over minds and bodies.
5 Along the same lines, but engaging the postcolonial state, Eduardo Kingman’s work examines how nineteenth-century Ecuadorian state developed the notion of national security in order to normalize hierarchies and bring about nation-state consolidation. The city became a privileged site of control and Quito the first city in modern Ecuador to have a standing police force regulating public spaces, imposing order, and administering migrations, many of whom were indigenous peoples escaping the oppressive and decrepit hacienda system. Part and parcel with the development of a police force, was the enforcing of Catholic morality. Hence, the act of policing and moral disciplining went hand in hand with Catholic charities playing an instrumental role in sanitizing urban public spaces and creating a moral economy that enhanced the elite’s social capital. With the consolidation of the modern state, the policing, and particularly the policing of urban spaces, is enhanced by infrastructural developments, which facilitated the regulation of population movements and migratory fluxes. As he shows, the city and the modern nation-state became interdependent. From urban areas emanated the instruments of control, which would play a critical role in forming conforming citizens from the nineteenth century through the present.
6 The development of mechanisms of control, as Ana María Goetschel demonstrates, is indispensable to organize how the state apparatus relates to its population. Critical to this organization is the administration of populations based on census and statistical data. The census creates social categories and produces over time a large body of statistical information, which will be used to regulate populations, create the first criminal registries, and design mechanisms more efficient mechanism of extraction and policing. Not surprisingly, the indigenous population has avoided being counted and participating in national census and registries. Nevertheless, the use of census categories can also be instrumental in the construction of ethnic categories and in enhancing the visibility of certain populations. Such is the case-study of Afro-Ecuadorian populations by Carmen Martinez Novo. She argues that during the 1990’s the indigenous movement in Ecuador was quite powerful and successful in creating effective institutions for the education and development of indigenous peoples. Nevertheless, only 7% of Ecuadorians identified as indigenous people in the census of 2010, suggesting that the indigenous population continues to distrust the census as a mechanism historically used to extract their labor and impose tribute. In contrast, the Afro-Ecuadorian population have only been counted since 2001 and their newly gained visibility is tied to its participation in the census. Influenced by North American hypodescent racial conceptions, Afro-Ecuadorians brought the conception of “raza” through, which is also used by the contemporary neo-liberal state to fracture the population into several ethnicities ultimately enhancing state control.
7 The second part of the volume, Poblaciones Administradas, starts with Víctor Bretón on the political dimensions of identity across the Andes. He argues that the indigenous Identities in the Andes have not been static, but have changed along historical axis tied to access to land and indigenous resistance. The end of the hacienda system facilitated and accelerated new migrations, which led to a pan-indigenous consciousness. Subsequently, the land reforms of the 1960’s and 1970’s in Ecuador accelerated internal process of differentiation among the Quechua population. After the 1980’s, the neoliberal state will open to international ONGs working with subaltern populations coopting indigenous leaders and reinforcing ethnic boundaries as the prime organizational principal of international cooperation producing new forms of ventriloquism and ethnic essentialism. Delegating the administration of the indigenous people to the private realm as was the case with the hacienda system, as Luis Alberto Tuaza shows enabled the domination of the white-mestizo population over the indigenous people and the impunity of a colonial patriarchal regime that has silenced the daily forms of oppression including sexual violence. Resistance and collectivism were among the indigenous strategies of survival still based on ancient systems of reciprocity.
8 Likewise, Jordi Gascon, in his case-study on Peru documents the hacienda as a system of domination overtaking the state’s role in population management and indigenous rural areas. The brutality of this regime left its marks across the region denying basic human and civil rights just as Latin American nations were constructing citizenship and codifying civil rights. As such, resistance to this form of structural violence was key, such is the case with indigenous paintings that Laura Soto studied in Tigua, Ecuador. This naïve art became an alternative language of cultural survival used to inscribe indigenous history and culture and create a new semantics capable of documenting the indigenous way of life in their own terms. As Ecuador’s neoliberal state reinvents new ways to manage populations, the rise of NGO’s across the region and competing foreign economic interests have become new agents of territorial and population control. Particularly in the Amazonian region where Javier Martinez Sastre takes place. As he documents, indigenous people had to reorganize and define themselves along the syntax of ethnicity that was recognized by international players.
9 These rich case-studies altogether highlight regional nuances without losing sight of the interstices between historical similarities and regional specificity deployed to effectively enact the governing of plural populations. Ultimately, all case-studies show how the act of governing and administering subjected populations is processual and deeply embedded in social life and daily forms of producing and enacting power and control, which over time become hegemonic and unchallenged. Thus, the necessity to interrogate the mechanisms that render power and domination invisible must be central to the social sciences as this volume demonstrates in a language that is theoretically well grounded and yet accessible to students.
Isabel P. B. Fêo Rodrigues – Department of Anthropology & Sociology, University of Massachusetts Dartmouth, USA. E-mail: [email protected].
Gabriela Mistral. Somos los andinos que fuimos | Magda Sepúlveda Eriz
Desde sus primeras páginas, la Dra. Magda Sepúlveda nos advierte que este no es un libro para encontrarse con la educadora, con la madre y la poetisa de las rondas; no a simple vista o no en la forma banal que le damos a estas labores cuando nos referimos a la escritora. En este nuevo siglo en que buscamos con efervescencia reencontrarnos con las figuras literarias señeras de antaño, la autora nos advierte, a través de un complejo entramado de aportes teóricos y declaraciones afines a su propuesta, que muchos personajes insignes que creemos representativos de nuestra idiosincrasia, identidad o tradiciones han sido vaciados de su contenido original, para ser consumidos por la masa en el remanso de lo que se quiere sostener por cultura nacional. El caso de la poeta Gabriela Mistral no escapa a esta realidad, pues acostumbramos ubicarla en el selecto recinto del verso al abnegado pueblo, en la figura de la maestra cercana al infante. Ante esto, la premisa de la autora es que se ha desconocido la vertiente indígena, proletaria y mujeril de Mistral, despachando, con una retórica de empequeñecimiento, su pensamiento e intectualidad a un reducto filial y blanqueado por el patronazgo idiosincrático chileno. En contra de esta posición, la Dra. Sepúlveda nos declara en su hipótesis: “Mistral diseña una conciencia andina, con saberes y modelos discursivos pertenecientes a esa región cultural. […] configura una retórica de signo andino, para hablar de sí misma y de las subjetividades latinoamericanas oprimidas” (p. 18).
A partir de la enunciación de su conjetura, se comprende que el “Prólogo. Gestos de darme agua”, dividido en “Los estudios culturales transandinos” y “Mistral desde el imaginario social”, haga hincapié en una posición descentrada de la hegemonía cultural, política y artística con una marcada ascendencia hacia lo trashumante de la condición andina de la poeta de Montegrande, defendida y enaltecida en cada una de sus obras. Con ello, Mistral, y de acuerdo a la lectura de la Dra. Sepúlveda, busca reconectar al latinoamericano con su ancestralidad andina e indígena, además de campesina y feminil. Leia Mais
O nascimento do Brasil e outros ensaios – OLIVEIRA (Tempo)
OLIVEIRA, João Pacheco de. O nascimento do Brasil e outros ensaios: “pacificação”, regime tutelar e formação de alteridades. Rio de Janeiro: Contracapa, 2016. Resenha de GARCIA, Elisa Frühauf. O nascimento do Brasil e outros ensaios. Tempo, v.24, n.1, Niterói jan./abr. 2018.
Em O nascimento do Brasil e outros ensaios, João Pacheco de Oliveira reúne nove textos elaborados nos últimos anos, originalmente publicados como artigos em coletâneas e periódicos ou apresentados em congressos e afins. Organizados em formato de livro, discutem temas relacionados aos povos indígenas que, em alguma medida, representam a trajetória do autor e suas opções epistemológicas. Professor titular de antropologia do Museu Nacional (UFRJ) desde 1997 e um dos mais influentes antropólogos de sua geração, João Pacheco começou seu percurso profissional realizando pesquisa de campo entre os Ticuna na tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Peru). Dedicou-se também ao estudo de políticas públicas e, desde meados da década de 1990, vem desenvolvendo pesquisas sobre os povos indígenas do Nordeste. Lançado em 2016, o livro recebeu da ANPOCS em 2017 o prêmio de Melhor Obra Científica.
Os capítulos refletem as preocupações que o autor demonstrou já no início de sua trajetória com o estudo da condição indígena a partir do colonialismo e das interações entre os diferentes segmentos sociais. O colonialismo, neste caso, não se restringe ao sentido mais utilizado pelos historiadores, referindo-se ao período no qual o Brasil foi parte do império português. Trata-se de uma discussão mais ampla sobre a relação do Estado com os povos indígenas, marcada por diferentes recursos jurídicos e administrativos que limitavam a capacidade civil dos nativos. Tais dispositivos vigoraram oficialmente até a extinção da tutela pela Constituição de 1988. A implementação da mudança, contudo, encontrou uma série de entraves. Como demonstrado no capítulo 8, “Sem a tutela, uma nova moldura de nação”, os marcos legais não substituem facilmente culturas institucionais arraigadas. Alguns órgãos administrativos, sobretudo a Funai, mantiveram na prática a vigência de categorias e percepções tributárias da tutela.
A análise da atuação dos órgãos relacionados à questão indígena, considerando a legislação vigente, as culturas administrativas e as ações de funcionários orientadas pelo senso comum, nos conduz a uma questão central, a definição de quem é índio. O tema é complexo: a condição indígena no país está marcada não apenas por diferenças culturais dos povos entre si e destes em relação à sociedade envolvente, mas por aspectos históricos. Se o tema perpassa toda a trajetória de João Pacheco, foi com o trabalho sobre os povos indígenas do Nordeste que suas reflexões nesta linha adquiriram maior centralidade e densidade conceitual. O capítulo 5, “Uma etnologia dos ‘índios misturados’? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais”, é uma referência imprescindível nos estudos de antropólogos e historiadores sobre a temática indígena. Fruto de uma conferência originalmente apresentada no concurso para professor titular no Museu Nacional e já publicado em outras ocasiões, contribuiu para a construção de um campo de pesquisa que vem se desenvolvendo com bastante vivacidade desde então (Oliveira, 1999 e 2011).
Ao abordar os povos indígenas do Nordeste, João Pacheco enfrentou o desafio teórico-metodológico de trabalhar com uma população cujo contato com a sociedade envolvente remete aos primórdios da construção do Brasil colonial no século XVI. Suas interações com grupos de diversas origens, tanto europeias quanto africanas, foram constantes desde então e eles não se enquadram na definição de índio caracterizada por uma alteridade cultural radical. Com frequência, pesquisadores e agentes estatais alegavam sua condição de “misturados” como desqualificadora de reivindicações políticas e de sua legitimidade como um objeto de pesquisa etnológica. Diante disso, o autor optou por problematizar a trajetória dessas populações. Apresentou os diferentes “momentos de mistura” gerados pelas políticas administrativas implementadas em um primeiro momento pelo Estado colonial português e, já no século XIX, pelo Império do Brasil. Evitou, assim, a condição indígena entendida como uma essência e forneceu os elementos conceituais para que ela fosse percebida em sua historicidade, relacionada a situações específicas.
O autor elenca três momentos fundamentais de “mistura”: os aldeamentos promovidos pelo Estado português a partir de meados do século XVI; a aplicação da legislação pombalina iniciada na década de 1750 e a dissolução das aldeias no século XIX. No primeiro momento, os índios foram sujeitos a uma política administrativa que lhes adjudicou um determinado território onde deveriam passar a viver após a inserção na sociedade colonial: as aldeias missionárias. João Pacheco não interpreta tais espaços apenas como ambientes que ameaçavam, ou mesmo extinguiam, a condição indígena a partir da “aculturação”, como então se pensava nos estudos históricos desenvolvidos no país. As aldeias são apresentadas como propulsoras da formação de novas identidades, explicadas a partir da noção de “territorialização”. Conceito-chave para os estudos nessa linha, remete ao processo pelo qual os índios, objeto de uma política colonial que os circunscreve a determinado espaço, se apropriam daquele ambiente, reformulando suas políticas identitárias em uma situação específica. O conceito fez parte das reflexões que possibilitaram uma mudança fundamental na perspectiva sobre as aldeias missionárias no Brasil colonial, cujo trabalho mais influente no âmbito historiográfico foi o de Maria Regina Celestino de Almeida (2003).
Suas reflexões a partir de uma antropologia histórica o levaram também a enfocar a questão indígena em uma perspectiva de longa duração. Para tanto, articula a análise das diversas imagens que hoje manejamos sobre o tema, em geral desencontradas e idealizadas, com seus usos e construções em momentos específicos. Os dois primeiros capítulos, “O nascimento do Brasil: revisão de um paradigma historiográfico” e “As mortes do indígena no Império do Brasil: o indianismo, a formação da nacionalidade e seus esquecimentos”, abordam visões estabelecidas sobre o lugar das populações nativas em nossa história. Retomando os diferentes momentos das relações dos índios com os europeus no século XVI e analisando os processos artísticos do indianismo do século XIX, a ideia é entender e questionar a consolidação de uma percepção da história do Brasil que deliberadamente desconsiderou os povos nativos. Como demonstra o autor, a mudança recente de paradigma, com sua inclusão como agentes importantes, decisivos em vários contextos, é fundamental para explicarmos que foi a apropriação violenta de seus recursos (sua força de trabalho, suas terras e seus conhecimentos) que possibilitou a construção do Brasil. Esse processo, por sua vez, não desencadeou a extinção física e cultural dos índios, mas sua incorporação à sociedade envolvente em uma condição subordinada. Tal lógica não está restrita aos primeiros contatos, ela se reproduziu ao longo do tempo em diferentes situações à medida que se avançava “sertão adentro”.
A expansão da sociedade envolvente sobre os territórios indígenas articula-se a uma noção fundamental para a história do Brasil: a fronteira. Nos capítulos três e quatro, “A conquista do vale amazônico: fronteira, mercado internacional e modalidades de trabalho compulsório” e “Narrativas e imagens sobre povos indígenas e Amazônia: uma perspectiva processual de fronteira”, o autor analisa tal expansão vinculada à extração da borracha. Para tanto, evita a ideia de uma fronteira naturalizada, que refletiria uma determinada realidade. Ao contrário, utiliza o termo como uma categoria analítica para pensar a subordinação daquela região específica a interesses econômicos externos, com grande peso internacional. Enfatiza como as análises anteriores desconsideraram a presença e a perspectiva dos povos indígenas que habitavam aqueles espaços, especialmente sua atuação em determinados tipos de seringais. A proposta é interpretar a história da região partindo das relações concretas que lá existiam, considerando sobretudo os impactos do “apogeu” da extração da borracha nas dinâmicas locais.
A ausência dos índios nas narrativas históricas, apresentados como meros “remanescentes” que seriam inexoravelmente “extintos” pela expansão da sociedade envolvente, ou seja, não teriam um futuro como um grupo diferenciado dentro da “nação” brasileira, foi questionada pelos resultados dos últimos censos. Verificou-se, especialmente a partir do realizado no ano 2000, um crescimento do número de índios muito superior aos demais segmentos da população (IBGE, 2005). Porém, como demonstrado no capítulo seis, “Mensurando alteridades, estabelecendo direitos: práticas e saberes governamentais na criação das fronteiras étnicas”, os resultados dos últimos recenseamentos devem ser interpretados em perspectiva histórica. Longe de serem um mero reflexo da composição demográfica do Brasil, refletem paradigmas e configurações de poder específicos. A mudança nas últimas contagens espelha, entre outros aspectos, as disputas no campo indigenista e as iniciativas desenvolvidas pelos próprios índios. Em grande parte, foram seus vínculos identitários e suas ações políticas que questionaram os prognósticos sobre seu “desaparecimento” iminente. Relacionam-se, também, à disputa por direitos, pois os dados oficiais são documentos fundamentais na elaboração de políticas públicas e na distribuição de recursos.
O livro termina com a abordagem de uma categoria muito empregada em diferentes contextos na relação do Estado com as populações indígenas: a “pacificação”. A reflexão foi ocasionada pelas políticas de segurança pública desenvolvidas no Rio de Janeiro a partir de 2008. Na ocasião, uma operação militar na comunidade Santa Marta era apresentada como o início de uma “nova” presença do Estado nestes espaços, com promessas de combate ao tráfico e do estabelecimento de uma série de serviços de atendimento à população. O autor parte de um desconforto compartilhado por todos aqueles que conhecem minimamente a longa e controversa história da categoria “pacificação”, utilizada em diferentes contextos, desde o período colonial, para lidar com a alteridade indígena de maneira subalterna. A opção por sua recuperação na contemporaneidade em um contexto urbano revela a permanência de um paradigma estigmatizador das populações que habitam as comunidades na construção das políticas públicas de segurança. Denota ainda a presença de antigas práticas como referencial para iniciativas apresentadas como “novas” e nos leva a suspeitar em que medida elas representam de fato uma ruptura com um passado desairoso.
Os capítulos, produzidos em diferentes ocasiões, como já mencionado, foram articulados por um prefácio esclarecedor, no qual o autor retoma suas principais preocupações e contextualiza a leitura. Trata-se de uma publicação que deve ser lida por todos aqueles interessados na história no Brasil. Os temas tratados e a metodologia utilizada nos recordam que a história não é linear desde nenhuma perspectiva. Os povos indígenas do Brasil não têm uma trajetória única, e o que eles são hoje se vincula à maneira como se relacionaram, e foram afetados, pelas políticas estatais e pelas ações de diferentes agentes sociais. Vincula-se, ainda, às suas expectativas de futuro e às possibilidades apresentadas pelo tratamento que o Estado e a sociedade civil dão ao tema. Afinal, como João Pacheco enfatiza ao longo do livro, a questão indígena está intrinsecamente relacionada às discussões sobre a formação da “nação brasileira” e de suas hierarquias sociais. Ao não nos questionarmos sobre as origens das interpretações e das categorias que utilizamos, corremos o risco de naturalizarmos os projetos e sentidos daqueles que, baseados em seus próprios interesses e convicções, desenharam uma história do Brasil ancorada no eurocentrismo.
Referências
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003. [ Links ]
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Tendências demográficas: uma análise dos indígenas com base nos resultados da amostra dos Censos Demográficos 1991 e 2000. Rio de Janeiro, 2005. [ Links ]
OLIVEIRA, João Pacheco (Org.). A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contracapa, 1999. [ Links ]
OLIVEIRA, João Pacheco (Org.). A presença indígena no Nordeste: processos de territorialização, modos de reconhecimento e regimes de memória. Rio de Janeiro: Contracapa , 2011. [ Links ]
Elisa Frühauf Garcia – Instituto de História, Universidade Federal Fluminense (UFF) – Niterói (RJ) – Brasil. E-mail: [email protected].
Terra de índio: imagens em aldeamentos do Império | Marta Amoroso
Conheçamos o projeto de uma fazenda ideal, imaginada por um francês no Brasil durante a primeira metade do século XIX. O sujeito pensou-a cercada por um cenário paradisíaco na Serra da Mantiqueira, interior de Minas Gerais. Seria uma fazenda produtiva e assentada em terras férteis. Para viabilizar tal prosperidade, o francês acreditava ser possível manter índios e negros em paz, submissos a ele e trabalhando de maneira eficiente. Os africanos escravizados, a benevolência de seu senhor faria que eles se portassem de maneira cordata, retribuindo com dedicação ao trabalho. Já os índios, estes deveriam ser atraídos com presentes. Uma vez que se tornassem aliados, o caminho para sua submissão seria a catequese (p. 38-39). Esse foi um projeto idílico de Auguste de Saint-Hilaire, botânico que viajou por diversas partes do Brasil entre 1816 e 1822, coletando milhares de espécies vegetais e animais, escrevendo relatos. Seus textos são alguns dos mais preciosos escritos sobre o Brasil no século XIX. Apresentam elementos não só sobre a fauna, a flora e a geografia do território, mas também sobre as populações dos sertões do Brasil, incluindo os povos indígenas das várias províncias que conheceu.
O projeto idílico da fazenda Saint-Hilaire, nunca realizado, era apenas uma miragem, uma idealização de como controlar a natureza submetendo-a aos interesses da ciência e do desenvolvimento econômico. Dentro dessa visão, alguns cientistas como ele acreditavam que os povos ameríndios representavam um estágio de degeneração da espécie humana e que cabia aos povos europeus encontrar caminhos para os “civilizar”.
A passagem descrita acima é uma das preciosidades apresentadas e analisadas neste novo trabalho de Marta Amoroso, publicado em 2014 e lançado em 2015 pela editora Terceiro Nome. Com base em arquivos sediados em diferentes países, em especial a documentação da Ordem Menor dos Frades Capuchinhos, de orientação franciscana, sediada no Rio de Janeiro (Arquivo da Custódia dos Padres Capuchinhos no Rio de Janeiro), – Amoroso escreveu uma importante contribuição aos estudos sobre os índios do século XIX. Utilizando-se das ferramentas teóricas da Antropologia, relendo os estudos clássicos de Telêmaco Borba e Curt Ninuemdaju sobre os Guarani no início do século XX, a autora visa não só descrever as políticas de Estado e os dilemas que os freis enfrentaram nos interiores do Brasil, principalmente no Paraná, mas problematizar como os coletivos indígenas (termo up to date entre os etnólogos para se referir aos grupos indígenas) se inseriram nos aldeamentos.
Os aldeamentos no Império do Brasil foram um novo-velho modelo de controle dos índios. A política das aldeias sob controle dos brancos no XIX pode ser lida no sentido de uma reedição, uma espécie de mescla de referências jesuíticas e pombalinas do período colonial. Ao mesmo tempo, traz as novidades de um Estado nacional que buscava controlar as populações do território que pretendia como seu, dinamizando a economia dessas regiões dentro da lógica produtiva do capitalismo. Além disso, a autora mapeia os fundamentos científicos que embasaram as ações dos viajantes europeus ao Brasil no XIX, das concepções dos padres capuchinhos e das formas como os diferentes grupos indígenas traduziam e se inseriam nas novas situações.
Marta Amoroso é antropóloga, professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Defendeu o seu mestrado na Unicamp, sob orientação de Roberto Cardoso de Oliveira, estudando o povo Mura na Amazônia no século XVIII. No doutorado, na USP, sob orientação de Manuela Carneiro da Cunha, fez uma etnografia do aldeamento São Pedro de Alcântara (1855-1895), onde viveram populações Guarani, Kaiowá e Kaingang na província do Paraná. Ingressou na USP como docente no ano de 2000. Desde então vem integrando importantes grupos de pesquisa, orientando pesquisadores e produzindo uma série de artigos e coletâneas centrados nos temas da Etnologia Indígena, História dos Índios no Brasil e estudos sobre os Mura na Amazônia. É uma das pesquisadoras principais do Centro de Estudos Ameríndios (CEstA) na USP, coordenado por Dominique Gallois.
A tese de doutorado de Marta Amoroso, “Catequese e evasão. Etnografia do aldeamento indígena de São Pedro de Alcântara, Paraná (1855-1895)”, defendida na USP em 1998 é um estudo denso que articula dados de arquivos e levantamentos quantitativos por meio de uma refinada leitura etnográfica. Amoroso, ao longo de sua obra e especialmente em sua tese de doutorado, resolve muito bem a leitura dos dados etnográficos sobre as sociedades indígenas, conseguindo fazer esses dados serem compreendidos dentro do contexto em que foram gerados. Realizar esse tipo de análise com méritos tanto no campo da História como na Antropologia, à maneira de Manuela Carneiro da Cunha e Nádia Farage, é algo raro e merece ser celebrado.[1]
No entanto, a tese de doutorado de Marta Amoroso permanece inédita, pois o livro não é a tese, avisa a autora logo na introdução. Terra de índio: imagens em aldeamentos do Império é uma síntese dos estudos realizados nos últimos 20 anos pela autora. É certo que esses estudos se iniciam na tese, mas transcendem a ela. O presente livro, dividido em três partes, se propõe permitir uma melhor compreensão dos aspectos que cercaram seu objeto inicial, a experiência do aldeamento São Pedro de Alcântara no Paraná e os relatos do frei capuchinho Timotheo de Castelnuovo. É importante registrar que a não publicação da tese configura-se numa grande perda, pois ela é quase inacessível, estando disponível apenas para empréstimo físico na Biblioteca Florestan Fernandes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O banco de teses online da universidade não possui a tese de Amoroso em seu catálogo, visto que ela foi defendida antes de a USP implantar seu acervo digital de acesso universal.
Voltemos ao livro. A primeira parte, “Explorando a Mata Atlântica”, é composta pelos capítulos “O mal-estar de Guido Marlière” e “Dos Andes e Amazônia, rumo ao crânio botocudo”. Discute os princípios científicos que respaldaram a atuação de muitos viajantes estrangeiros atraídos para o Brasil depois da chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro. É nessa parte que está situada a análise da “fazenda imaginária” de Saint-Hilaire, mencionada no início desta resenha.
Já a segunda parte, “Propondo a catequese e civilização”, integrada pelos capítulos “Das selvas ao solo ubérrimo” “Descontinuidades”, aparece como um ensaio antropológico. Aqui a autora utiliza o conceito de “equivocações controladas”, de Eduardo Viveiros de Castro, para pensar desencontros e traduções dentro e fora dos aldeamentos entre os diversos coletivos indígenas, capuchinhos, escravos negros, imigrantes e demais moradores do entorno.
A terceira e última parte, “Construindo o aldeamento indígena”, que contém os capítulos “Ficções em frei Timotheo de Castelnuovo”; “Lavoura (s)” e “Um kiki-koi para Arepquembe”, é identificada pela própria autora como uma releitura de sua tese.
Como já mencionado, há várias passagens riquíssimas no livro. Destaco aqui o capítulo intitulado “Um kiki-koi para Arepquembe”, em que Amoroso apresenta a forma como os Kaingang aldeados, mesmo já convertidos ao cristianismo, conseguem retomar um ritual funerário típico de seu grupo, o kiki-koi, para enterrar o cacique Manoel Arepquembe, assassinado em 1872. Uma das grandezas do capítulo está nas relações que a autora estabelece entre as doenças mortais que atingiram diversas vezes os índios dos aldeamentos e de seu entorno e as releituras das mitologias de fim de mundo entre os Guarani e Kaiowá. Outro aspecto analisado é que o modelo de missão do século XIX eliminou uma estratégia fundamental dos jesuítas no período colonial, que era a tradução das línguas indígenas. No Oitocentos, isso resultou no fato de que os freis Timotheo de Castelnuovo e Luís de Cimitille tinham muito menos elementos para descrever e compreender os rituais funerários Kaingang do que os missionários de séculos anteriores tiveram em relação às etnias com as quais conviveram.
Para o historiador Carlos Zeron, que escreve a orelha do livro, o trabalho de Amoroso prima justamente pelas “pontes” que estabelece com outros períodos históricos. De um lado, o modelo de catequese capuchinha é obrigado a dialogar com a tradição colonial jesuítica, que vigeu no Brasil durante cerca de 200 anos. De outro, a realidade dos indígenas no Brasil de hoje é tributária de ações de avanço sobre os territórios indígenas no século XIX.
A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, no prefácio do livro, destaca por sua vez as peculiaridades do Brasil do século XIX. Tratava-se de um território que, ainda sob o domínio português, se abriu aos interesses de artistas e cientistas europeus convidados pelo príncipe-regente João VI e que culminou com uma política de civilização e catequese de índios a partir de 1845, a qual também previa a vinda de estrangeiros, desta vez padres, sob controle do Estado para se efetivar.
O livro de Amoroso possui uma característica relevante, menos de conteúdo e mais de forma, que eu gostaria de apontar nesta resenha. É uma reflexão que nos ajuda a pensar a eficácia dos formatos aos quais destinamos nossas pesquisas acadêmicas. Por uma série de motivos profissionais e pessoais, podemos deixar de publicar, em formato de livro, as teses e dissertações que produzimos. O que não significa que sejamos pouco produtivos. Ao contrário, desenvolvemos uma série de pesquisas, obtemos financiamento, realizamos trabalhos de campo, vamos a arquivos fora do país, participamos de congressos em diversas partes do mundo. As pesquisas são ricas, como no caso de Marta Amoroso, as análises refinadas, os resultados promissores. No entanto, a exigência de uma produtividade acadêmica que nos remete a uma escala de produção industrial obriga-nos a realizar muito, porém muito fragmentado. Papers em congressos, conferências e comunicações, artigos com número de palavras e páginas estritamente controlado. Com isso, os textos que produzimos, pelos limites impostos pelo tempo e espaço, não conseguem aprofundar os assuntos, muitas vezes são pinceladas a respeito de uma pesquisa maior. A pergunta é: quando, em nosso meio, conseguimos dar a conhecer essa pesquisa maior tanto em tamanho quanto em grau de aprofundamento?
Assim, quando Amoroso opta por publicar um livro que é uma coletânea de artigos, acaba trazendo resultados panorâmicos inconclusos. O leitor fica com muitas indagações que foram mais bem respondidas em outros artigos e na própria tese da autora. Uma das questões, por exemplo, refere-se às articulações e arranjos políticos que estiveram por trás da vinda dos missionários capuchinhos ao Brasil, medida efetivada com a lei de 1845 (Decreto 426 de 24/07/1845). Em artigo publicado em 2006 a autora arriscou uma hipótese, bastante plausível, envolvendo o casamento do imperador Pedro II com a princesa Teresa Cristina, de Nápoles, em 1843, demonstrando que a aliança matrimonial tinha também sentido político e estratégico. Daí concluirmos, seguindo os passos da autora, não ser por acaso a vinda de trabalhadores imigrantes italianos e padres capuchinhos ao Brasil a partir da segunda metade do Oitocentos.[2]
A despeito da ressalva, é evidente que o livro releva grandes achados. No capítulo 4, por exemplo, a autora inicia uma discussão sobre os termos da legislação indigenista do Império e seus desdobramentos. Amoroso nos mostra que os aldeamentos do período significariam uma “descontinuidade” em relação às ações missionárias cristãs. Para a autora, a política dos aldeamentos do Império (1845-1889) trouxe o conceito de tutela do Estado aos índios e, ao mesmo tempo, propôs que seu direito à terra estivesse atrelado ao grau de “selvageria” (p. 76). Dentro dessa lógica, os antigos aldeados não teriam mais direito de permanecer nas missões. Os Guarani-Kaiowá rapidamente aprenderam a jogar dentro desse esquema: se necessário, antigos aldeados “vestiam-se de selvagens” para poder entrar nos novos aldeamentos que se iam fundando (p. 78-80).
No Capítulo 2, Amoroso mostra que o príncipe alemão Maximiliamo Wied-Neuwied, após uma convivência intensa entre os Botocudos, subverteu o binômio tupi-tapuia no século XIX, ao afirmar que os “botocudos” com os quais conviveu eram tão amistosos quanto os tupis do passado. A despeito dessa interpretação mais progressista, os cientistas no período se pautavam nos pressupostos da nascente antropologia física, que postulava os princípios da degeneração das espécies da América, crendo que os botocudos se assemelhariam aos animais, pois não tinham chefia, uma liderança como os andinos (p. 43-8).
Já no capítulo 6, Amoroso mostra uma das formas através das quais os franciscanos tiveram êxito no programa de catequese: com a montagem de uma destilaria de aguardente no aldeamento de São Pedro de Alcântara em 1870. O assunto não foi propagandeado, na verdade seguiu oculto no meio da documentação da Ordem Menor (no Arquivo da Custódia dos Padres Capuchinhos do Rio de Janeiro), visto que o consumo de bebidas alcoólicas entre os índios foi sempre uma prática condenada pela religião católica, o que obviamente não evitou o seu uso, especialmente de bebidas fermentadas e utilizadas nos rituais indígenas. No caso da cachaça, seu consumo esteve sempre relacionado aos danos que causava às populações indígenas, daí o ocultamento do tema (p. 160-1).
Por fim, Amoroso traz novos aportes para que os especialistas enfrentem uma antiga polêmica. Trata-se da afirmação de Manuela Carneiro da Cunha, escrita no começo dos anos de 1990, de que “questão indígena no século XIX era uma questão de terras”:
A “questão indígena”, no século XIX, deixou de ser uma questão de mão-de-obra, para se converter essencialmente numa questão de terras. Há variações regionais, é claro: na Amazônia, onde a penúria de capitais locais não permitiu a importação de escravos africanos, o trabalho indígena continuou sendo fundamental, e foi reaviventado no fim do século, com a exploração da balata, da borracha e do caucho. No Mato Grosso e no Paraná, ou mesmo em Minas Gerais e no Espírito Santo, as rotas fluviais a serem descobertas e consolidadas exigiram a submissão dos índios da região. Mas se se pode arriscar falar “em geral” de um século inteiro e do Brasil como um todo, a tônica foi, no século XIX, a conquista de espaço. Em áreas de índios ditos então “bravios”, tentava-se controlá-los, controlando-os em aldeamentos, “desinfestavam-se” assim os sertões. Nas áreas de ocupação colonial antiga, tentavam-se ao contrário extinguir os aldeamentos, liberando as terras para os moradores. Essas diferenças regionais nada mais eram, portanto, do que duas etapas de um mesmo processo de expropriação. [3]
Amoroso demonstra em seu livro que o projeto dos aldeamentos no Paraná a partir da segunda metade do XIX não tinha por objetivo engajar trabalhadores em atividades de interesse do Império, mas retirar os índios de terras e caminhos estratégicos, abrindo espaço para que chegassem outros trabalhadores, como os imigrantes europeus, considerados mais lucrativos no sistema capitalista. Nisso a afirmação de Cunha casa-se com os dados levantados aqui. De todo modo, a análise de Cunha assenta numa generalidade que o próprio trabalho de Amoroso permite contradizer ao exibir inúmeros episódios em que os índios trabalhavam para além dos aldeamentos, especialmente quando já eram considerados “civilizados” e empregavam-se como “camaradas” contratados por jornadas pelos fazendeiros paulistas (p. 173). Além disso, o problema do texto clássico de Manuela Carneiro da Cunha é afirmar isso para o século XIX como um todo, quando estudos mais recentes sobre a primeira metade daquele século vêm mostrando a importância dos índios como mão de obra em várias partes do território brasileiro.[4]
Outro dado importante, que instiga o leitor a compreender melhor, mas que a autora não fornece maiores dados no livro, ao contrário do que faz na tese, é sobre a presença de população de negros nos aldeamentos e em seu entorno. Esse dado gera perguntas no leitor sobre como se dava essa convivência, que papel ocupavam os negros nesse contexto. Na tese de 1998 é possível descobrir alguns dados mais sobre essas populações que, no entanto, não são explicados no livro. Assim, a presença de africanos e afrodescendentes nos aldeamentos esteve relacionada ao envio de trabalhadores especializados, como ferreiros, marceneiros etc. para trabalhar na Fábrica de Ferro de Ipanema em Sorocaba na década de 1850. Não eram necessariamente libertos, mas estavam na condição de “tutela”, sofrendo ainda castigos físicos conforme as vontades de seus senhores.[5]
Em síntese, os estudos de Marta Amoroso, em seu conjunto, são de uma qualidade ímpar, de grande importância tanto no campo da História quanto da Antropologia, principalmente na intersecção entre elas. A única coisa a lamentar é que o livro foi muito curto perto dos dados que a autora levantou ao longo das últimas duas décadas.
Notas
1. CUNHA, Manuela Carneiro da. (org.) História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras/Fapesp/SMC, 1992 (como organizadora e autora de um dos capítulos); _____ (org.). Legislação indigenista no século XIX. Uma compilação (1808-1889). São Paulo: Comissão Pró-Índio/Edusp, 1992; FARAGE, Nádia. As Muralhas dos Sertões. Os Povos Indígenas no Rio Branco e a Colonização. Rio de Janeiro: Paz e Terra ANPOCS, 1991.
2. AMOROSO, Marta. Crânios e cachaça: coleções ameríndias e exposição no século XIX. Revista de História 154 (1º, 2006), 119-150 p. 128-30. Disponível em http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/19024/21087 Último acesso em 07/04/2017. Outros estudos que poderiam ajudar a problematizar a questão: SAMPAIO, Patrícia Melo. Política indigenista no Brasil imperial. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil imperial. Volume I: 1808-1831. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009; SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012
3. CUNHA, Manuela Carneiro da. Prólogo. In: ____ (org). Legislação indigenista no século XIX. Op. Cit., p. 4
4. Alguns trabalhos mais recentes, no campo da história sobre os índios, abordaram a participação indígena também no trabalho no Brasil império: COSTA, João Paulo Peixoto. Na lei e na guerra: Políticas indígenas e indigenistas no Ceará (1798-1845). Tese de Doutorado. Campinas: IFCH, 2016; LEMOS, Marcelo Sant’ana. O índio virou pó de café? A resistência indígena frente à expansão cafeeira no Vale do Paraíba. Jundiaí: Paco Editorial, 2016; MACHADO, André Roberto de. A quebra da mola real das sociedades: a crise política do Antigo Regime Português na província do Grão-Pará (1821-25). 1. ed. São Paulo: Hucitec / Fapesp, 2010; MOREIRA, Vania Maria Losada. Autogoverno e economia moral dos índios: liberdade, territorialidade e trabalho (Espírito Santo, 1798-1845). Revista de História, nº 166, 2012; SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Op. cit.; XAVIER, Maico Oliveira. Extintos no discurso oficial, vivos no cenário social: os índios do Ceará no período do império do Brasil. Trabalho, terras e identidades indígenas em questão. Tese de Doutorado. Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, 2015.
5. AMOROSO, Marta. Catequese e evasão. Etnografia do aldeamento indígena de São Pedro de Alcântara, Paraná (1855-1895). Tese de Doutorado em Antropologia. São Paulo: FFLCH-USP, 1998, p. 130-2.
Fernanda Sposito – Pesquisadora de Pós-Doutorado em História na Unifesp. Bolsista FAPESP. E-mail: [email protected]
AMOROSO, Marta. Terra de índio: imagens em aldeamentos do Império. São Paulo: Terceiro Nome, 2014. Resenha de: SPOSITO, Fernanda. Além do sertão: indígenas no Brasil do século XIX. Almanack, Guarulhos, n.16, p. 343-351, maio/ago., 2017.
A cosmologia construída de fora: a relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII – FELIPPE (RBH)
FELIPPE, Guilherme Galhegos. A cosmologia construída de fora: a relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2014. 376p. Resenha de: BASQUES JÚNIOR, Messias Moreira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36,, n.71, jan./abr. 2016.
O livro A cosmologia construída de fora foi originalmente escrito como tese de doutorado e recebeu o Prêmio Capes na área de História em 2014. Trata-se de uma importante contribuição à história e à etnologia indígena das Terras Baixas da América do Sul, pois se baseia em uma aproximação bem-sucedida entre pesquisas antropológicas e um extenso corpo documental referente às práticas e concepções de povos chaquenhos e às suas relações com o outro no século XVIII: afins e inimigos, missionários e invasores europeus. O livro tem o mérito de abordar uma região pouco estudada pela antropologia brasileira: o Grande Chaco, uma das principais regiões geográficas da América do Sul e que constitui zona de transição entre a planície da bacia amazônica, a planície argentina e a zona subandina.2 A análise de registros produzidos por observadores civis e religiosos ao longo do século XVIII evidencia o contraste entre o discurso europeu, centrado na denúncia da barbárie e da inconstância que caracterizariam os nativos, e o modo propriamente indígena de responder ao avanço colonial. Felippe examina três aspectos da cosmologia chaquenha: a guerra, a reciprocidade, e o regime de produção e consumo alimentar. O fio condutor da análise é a mitologia desses povos, aqui entendida como fonte de conhecimento sobre o pensamento ameríndio.
Desde o título até suas páginas finais, o livro demonstra a fertilidade da proposição levistraussiana a respeito da importância da “abertura ao outro” no pensamento ameríndio e nos modos pelos quais esses povos costumam se situar diante da alteridade. Segundo Anne-Christine (Taylor, 2011), essa característica foi desde cedo detectada por Claude Lévi-Strauss, como mostram os dois artigos por ele publicados no ano de 1943 e que estabeleciam “o aspecto sociologicamente produtivo da guerra vista como forma de vínculo … e a primazia da afinidade no universo social dos índios, a primazia da relação com o não-idêntico sobre as ligações de consanguinidade ou, mais exatamente, de identidade” (Taylor, 2011, p.83). O tema da “abertura ao outro” inspirou profundamente os autores mobilizados por Felippe em seu diálogo com a antropologia e, sobretudo, com a etnologia amazonista. Inserindo-se nessa tradição, Felippe apresenta uma descrição histórica e etnográfica que corrobora uma tendência recente da antropologia chaquenha de acentuar as ressonâncias entre os povos da região e aqueles da Amazônia. Retomando o clássico artigo de (Seeger et al., 1979), alguns autores têm defendido a existência de um “pacote amazônico” (Londoño Sulkin, 2012, p.10) cujos componentes também estariam presentes no Grande Chaco e dentre os quais se destacam: o foco no corpo humano e seus elementos como matriz primária de significado social e a existência de um cosmos perspectivista que se encontraria mediado por relações com alteridades perigosas e potencialmente fecundas (Echeverri, 2013, p.41).
O primeiro capítulo trata dos mitos indígenas como construção da realidade, partindo de uma reflexão teórica acerca das diferenças entre o conhecimento objetivo e subjetivo, bem como das concepções de natureza e cultura que fundamentavam o cotidiano e os conhecimentos dos povos chaquenhos no século XVIII. Apesar da grande variedade de versões registradas nas fontes documentais, pode-se notar que, quando tomadas em conjunto, as narrativas míticas refletem problemas similares, como o tema da origem da humanidade e dos animais a partir de uma mesma constituição ontológica, de um fundo comum marcado pela comunicação interespecífica e pela partilha de subjetividade e da capacidade de agência. Felippe descreve como a absorção de ele- mentos exógenos era o eixo do pensamento indígena e, nesse sentido, as transformações criativas que se podem observar na mitologia desses povos revelariam a sua forma de refletir e de responder aos “brancos”, ora incorporando, ora recusando elementos do cristianismo, bem como os objetos, animais, atividades e tecnologias trazidos pelos europeus.
No segundo capítulo, a guerra aparece como meio por excelência para a internalização do outro e como produtora de relações entre diferentes sociedades e no interior de cada uma delas. Nas palavras do autor, a guerra chaquenha era diametralmente oposta à guerra praticada pelos europeus, pois “não se fundamentava na extinção do inimigo, nem na busca pela paz. Era, em realidade, o método mais eficaz de estabelecer relações e, consequentemente, movimentar o meio social” (Felippe, 2014, p.121). O modelo utilizado na análise da guerra chaquenha é “amazônico” e se apoia nas teorias da “economia simbólica da alteridade” (Viveiros de Castro, 1993) e da “predação familiarizante” (Fausto, 1997). A hipótese, em suma, é a de que em ambas as regiões encontraríamos “economias que predam e se apropriam de algo fora dos limites do grupo para produzir pessoas dentro dele” (Fausto, 1999, p.266-267).
Esse capítulo oferece um sólido contraponto às teses que defendem a ocorrência de escravidão – e o uso desse conceito na análise das práticas de apresamento – entre os ameríndios (cf. Santos-Granero, 2009), pois Felippe demonstra que “ao grupo vencedor interessava capturar pessoas e levá-las à sua aldeia como cativos de guerra, porém sem a intenção de mantê-los prisioneiros ou fazer deles escravos” (2014, p.175). Isto é, os cativos de guerra não eram con- vertidos em mercadorias e não viviam sob a lógica de uma objetificação de caráter utilitário: “se havia algum acúmulo era de relações sociais, e não de bens” (p.213). O mesmo pode ser dito acerca dos frequentes roubos e assaltos entre os povos da região e, sobretudo, contra reduções jesuíticas, cidades e vilarejos, práticas estas que lhes permitiam a obtenção de montaria, de armas e de bebidas alcoólicas, e que serviriam para intensificar uma lógica preexistente de captura do outro. Em suma, as reduções e as rotas de comércio “proporcionaram aos índios vantagens materiais e estratégicas que acrescentavam elementos à dinâmica relacional nativa – ao invés de substituí-la” (p.141).
A economia indígena é o tema da última parte do livro. No terceiro capítulo, retrata-se o avanço colonial por meio da implantação de relações comerciais e da integração dos povos nativos ao sistema mercantil. Sem menosprezar a violência e as suas consequências, o autor argumenta que os chaquenhos não foram meramente integrados ao mercantilismo, já que são abundantes os relatos acerca do protagonismo indígena no que concerne à potencialização das relações de reciprocidade com outros povos por intermédio de sua participação no comércio e na circulação de mercadorias não indígenas. Não obstante os esforços dos jesuítas para incutir entre os indígenas o sentido da falta e o desejo pela produção de excedentes, Felippe nos mostra que os missionários repetidamente testemunharam o fracasso dessa “conversão” para uma economia de acumulação. Segundo o autor, os Jesuítas não mediram esforços para “introduzir nos índios a insegurança que os modernos tinham em relação ao futuro” (Felippe, 2014, p.305-306). No entanto, se a inconstância era a resposta indígena diante da obrigatoriedade da crença, a prodigalidade parece ter sido a sua contrapartida às ideias de contrato e previdência.
O quarto capítulo apresenta as razões de outra recusa: a não incorporação de métodos e técnicas do sistema econômico moderno, em especial, da agricultura como forma de produção de excedente e da domesticação de animais para reprodução. Inspirando-se em (Sahlins, 1994, p.163), Felippe procura de- monstrar que as razões dessa recusa não se resumiam a uma divergência de percepções ou aos limites do entendimento dos povos nativos, conforme alegavam os missionários e agentes burocráticos ou coloniais, pois “o problema não era empírico, nem tampouco prático: era cosmológico”. Daí os índios que optaram por ou foram cooptados a viver nos povoados missioneiros não terem se dedicado à domesticação de animais, tampouco demonstrado interesse pela manutenção do “stock de subsistência” oferecido nas haciendas. A recusa à domesticação seria, desse modo, o “efeito de uma impossibilidade”, pois “tudo se passa como se entre o amansamento dos animais autóctones passíveis de ser caçados e sua domesticação verdadeira havia um passo que os ameríndios sempre se recusaram a dar” (Descola, 2002, p.103, 107). A resiliência indígena frustrava os missionários, que denunciavam o fato de consumirem “com desordem o rebanho destinado a sua manutenção” (Fernández, 1779 apud Felippe, 2014, p.315) e de sua economia de produção alimentar se limitar ao consumo imediato, mesmo nos casos de povos horticultores.
A invasão europeia no Chaco e o avanço da empresa colonizadora provocaram grande movimentação de povos indígenas, bem como o seu decréscimo populacional e o extermínio de tribos marginais à área chaquenha. Diante das transformações por que passaram, não podemos negligenciar a distância que se impõe entre os modos de vida indígena pré e pós-conquista. Entretanto, há um inegável “ar de familiaridade” (Fausto, 1992, p.381) entre os relatos sobre os chaquenhos dos Setecentos analisados por Guilherme Galhegos Felippe e os povos que hoje se encontram nessa região, o que torna o seu livro leitura obrigatória para antropólogos e historiadores interessados no Grande Chaco e em suas ressonâncias com a história e a cultura dos povos indígenas das Terras Baixas da América do Sul.
Referências
DESCOLA, Philippe. Genealogia dos objetos e antropologia da objetivação. Horizontes Antropológicos, v.8, n.18, p.93-112, 2002. [ Links ]
ECHEVERRI, Juan Álvaro. La etnografía del Gran Chaco es amazónica, In: TOLA, F. et al. Gran Chaco. Ontologías, poder, afectividad. Buenos Aires: Asociación Civil Rumbo Sur, 2013, p.41-43. [ Links ]
FAUSTO, Carlos. A dialética da predação e da familiarização entre os Parakanã da Amazônia oriental: por uma teoria da guerra ameríndia. Tese (Doutorado) – PPGAS-Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, 1997. [ Links ]
FAUSTO, Carlos. Fragmentos de História e Cultura Tupinambá: da etnologia como instrumento crítico de conhecimento etno-histórico. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.) História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.381-396. [ Links ]
_____. Da inimizade: forma e simbolismo da guerra indígena. In: NOVAES, Adauto (Ed.) A outra margem do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p.251-282. [ Links ]
LONDOÑO SULKIN, Carlos David. People of Substance: An Ethnography of Morality in the Colombian Amazon. Toronto: University of Toronto Press, 2012. [ Links ]
MITCHELL, Peter. Horse nations: The Worldwide Impact of the Horse on Indigenous Societies Post-1492. Oxford: Oxford University Press, 2015. [ Links ]
SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. [ Links ]
SANTOS-GRANERO, Fernando. Vital Enemies: Slavery, Predation and the Amerindian Political Economy of Life. Austin: University of Texas Press, 2009. [ Links ]
SEEGER, Anthony; DA MATTA, Roberto; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. Boletim do Museu Nacional, Rio de Janeiro, n.32, p.2-19, 1979. [ Links ]
TAYLOR, Anne-Christine. Dom Quixote na América: Claude Lévi-Strauss e a antropologia americanista. Sociologia & Antropologia, v.1, n.2, p.77-90, 2011. [ Links ]
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Alguns Aspectos da Afinidade no Dravidianato Amazônico. In: _____.; CUNHA, Manuela C. da (Org.) Amazônia: Etnologia e História Indígena. São Paulo: NHII/USP-Fapesp. p.149-210, 1993. [ Links ]
Notas
2A palavra “chaco” deriva do Quechua e significa “grande território de caça” (MITCHELL, 2015, p.15).
Messias Moreira Basques Júnior – Doutorando em Antropologia Social, PPGAS/Museu Nacional/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
[IF]Abipones en las fronteras del Chaco. Una etnografía histórica sobre el siglo XVIII – LUCAIOLI (Tempo)
LUCAIOLI, Carina P. Abipones en las fronteras del Chaco. Una etnografía histórica sobre el siglo XVIII. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología, 2011. 352 p. Resenha de KOK, Glória. Dinâmicas abipones nas fronteiras do Chaco no século XVIII. Tempo v.19 no.34 Niterói jan./jun. 2013.
Nas últimas décadas, publicações de historiadores, etno-historiadores e antropólogos lançaram novos olhares sobre as fronteiras da América do Sul.1 Superando as dicotomias resistência e aculturação e vencedores e vencidos, estudos recentes focalizaram o caráter multiétnico de territórios originalmente indígenas, os quais, imprecisos, flexíveis e porosos, configuraram-se como “zonas de contato”, “espaços socialmente construídos”. Nestes locais os povos nativos estabeleceram estratégias, relações e negociações internas e interétnicas com adventícios e diversos grupos indígenas durante o processo de conquista.
À esta linhagem de estudos, filia-se o livro da professora auxiliar do Departamento de Ciências Antropológicas da Facultad de Filosofía y Letras da Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA), Carina P. Lucaioli, intitulado Abipones en las fronteras del Chaco. Una etnografía histórica sobre el siglo XVIII. Fruto da tese de doutorado, sob a orientação da professora doutora Lídia Nacuzzi, a obra foi publicada pela editora da Sociedad Argentina de Antropología, em 2011.
Depois da leitura de documentos variados, manuscritos e impressos (atas, correspondências de religiosos e governadores, informes, entre outros) nos arquivos da Argentina, do Chile, do Rio de Janeiro, do Paraguai e da Sevilha, a autora realizou um primoroso estudo etno-histórico dos abipones. Este é um grupo nômade de caçadores e coletores da família linguística Guaycurúque, residente na região do Chaco, na Argentina. Com o intuito de desvendar as ações e as interações políticas dos nativos com os agentes coloniais, a autora dividiu o livro em quatro capítulos, iluminando as dinâmicas das fronteiras e as redes do Chaco no século XVIII.
O capítulo 1, “Los abipones en el Chaco austral: representaciones, recursos y usos del espacio”, traz uma análise rica das populações indígenas que viviam no Chaco, entre as quais os abipones, das estratégias de adaptação e dos usos do território pelos colonizadores e nativos, além da construção dos distintos imaginários e discursos elaborados em torno do espaço chaquenho.
La construcción del Chaco como espacio ajeno al dominio colonial, tierra de indígenas no dominados, se desenvolvió de manera simultánea al proceso de configuración y consolidación de sus distintos espacios fronterizos: la frontera occidental en la jurisdicción del Tucumán, la frontera del Paraguay y la frontera santafesina (p. 21).
Em virtude da riqueza de recursos, aspectos geográficos e seus habitantes, o espaço do Chaco tornou-se “una pieza clave en el mantenimiento de la autonomía indígena, desde donde los grupos podían ofrecer resistencia al avance colonial” (p. 65).
Organizados em “cacicados“, que, por sua vez, dividiam-se em “parcialidades” (riikahé, nakaigetergehé e yaaukanigá) baseadas em grupos familiares móveis formados por laços de parentesco e alianças matrimoniais, os abipones enfrentaram, em meados do século XVIII, as políticas fronteiriças de 1751 que tinham o objetivo de “sedentarizar” e “civilizar”, ou, nas palavras do documento, “conquistar infieles, descubrir sus tierras, fundarles pueblo, mantenerlos en él” (p. 75).
Em resposta, os abipones, ora confederados a outros grupos, como calchaquíes e mocovies, ora solitários, fizeram guerras, assaltos e malocas (ataques surpresa com pilhagem de bens europeus) em cidades, fazendas e povoados fronteiriços. “Las alianzas interétnicas eran tan móviles como lo era la posibilidad de renovar las alianzas políticas y sociales de carácter segmentario” (p. 81), conforme explica a autora.
No entanto, os abipones não fizeram apenas uso da violência em suas relações fronteiriças, foram também protagonistas de acordos que garantiram momentos pacíficos nos quais se intensificaram os intercâmbios comerciais de bens incorporados dos europeus — cavalos, gado, cativos, moedas de ouro e prata, vestimentas —, a prestação de serviços e a circulação de pessoas nas fronteiras.
O capítulo 2, “Las reducciones jesuítas de abipones: estratégias, interacción e intercâmbios”, enfocou os diferentes processos de negociação que deram lugar à fundação das reduções de abipones na região do Chaco, inaugurando uma nova etapa de relações interétnicas. Cada redução teve uma trajetória própria, liderada por caciques, e formou um enclave gerador de formas de interação inéditas, com distintos setores coloniais e grupos indígenas. Como afirma Carina Lucaioli:
Portales entre un mundo colonial y un espacio indígena, sítios mestizos casi por definición, propiciaron la circulación y el intercambio de bienes, personas y ideas. Así planteadas las cosas, las reducciones generaron nuevas posibilidades sociales, económicas y políticas que los abipones supieron amoldar a sus proprios intereses en complejos procesos de ‘aculturación antagônica’ (p. 96).
Na ocasião da Fundação de San Javier, em 1743, a primeira missão de mocovíes no Chaco austral, os pactos e acordos começaram antes do século XVIII entre distintos atores e setores coloniais. Como bem observa a autora, não se trata de pensar em uma política imposta aos grupos derrotados.
Las reducciones brindaron, a muchos abipones, mayores posibilidades para el acceso a determinados recursos y permitieron otras actividades económicas — sobre todo, las relacionadas con el gana do vacuno —, así como instauraron nuevas vías de interacción más estrechas y asiduas con las ciudades coloniales (p.105).
A escolha do espaço das missões ficou a cargo dos índios que optaram por locais distantes dos povoados espanhóis, resguardados por rios, protegidos de possíveis incursões militares, expedições punitivas e ataques de outros grupos indígenas. Na história dos abipones, portanto, a escolha do espaço foi crucial para a manutenção da mobilidade e da autonomia da população das missões.
O capítulo 3, “El liderazco indígena: formas de autoridade“, tratou das trajetórias particulares dos caciques, escolhidos tanto por direito hereditário como por méritos guerreiros, desvendando suas estratégicas políticas de atuação nas fronteiras, muitas vezes ambíguas, como a aprendizagem de idiomas e das formas de diplomacia espanhola, posicionando-os ora como amigos, ora como inimigos dos espanhóis. Para os povos nativos, esclarece a autora, as missões constituíram “espacios de centralización y distribución e intercambio de determinados recursos económicos que los jesuitas y funcionarios coloniales otorgaban a los indios reducidos” (p. 209).
No último capítulo, “Relaciones interétnicas al calor de las armas: amigos, enemigos, aliados y cautivos”, Carina Lucaioli traça, a partir da dinâmica da violência, a história do contato entre abipones e ibero-americanos, da qual se destacam a guerra colonial, a guerra indígena e as malocas. Segundo a autora, a violência era o principal recurso utilizado pelos abipones no período colonial, que corria por vias paralelas ou sobrepostas, já que muitos acordos desembocavam em enfrentamentos armados.
Perspicaz no entendimento da engrenagem das dinâmicas e das redes mercantis dos grupos abipones sob a perspectiva das formas de interação com a sociedade colonial nos espaços fronteiriços do Chaco no século XVIII, Carina Lucaioli nos brinda com uma obra de referência para os estudos de história indígena, etnografia e antropologia históricas e história colonial das terras baixas da América do Sul. Eficaz no desmonte de ideias cristalizadas, a autora destacou, nas entrelinhas da documentação, a mobilidade, as identidades coletivas forjadas e — entre formas de violência, pactos, negociações e acordos —, a construção dos rumos da história dos abipones na gestação do mundo colonial.
1 Nádia Farage, As Muralhas do Sertão: os povos Indígenas no Rio Branco e a Colonização, Rio de Janeiro, Paz e Terra/Anpocs, 1991; Lídia Nacuzzi, Identidades impuestas, Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropologia, 1998; Guillaume Boccara, Los vencedores: los mapuche en la época colonial, Santiago de Chile, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo, 2007; Silvia Ortelli; Glória Kok, O Sertão Itinerante: expedições da Capitania de São Paulo no século XVIII, São Paulo, Hucitec/Fapesp, 2004; Elisa F. Garcia, As diversas formas de ser índio, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional de Pesquisa, 2007; Maria Regina Celestino Almeida; Sara Ortelli, “Atravesando fronteras. Circulación de población en los márgenes iberoamericanos. Siglos XVI-XIX (primera y segunda parte)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates 2011, 2012, Disponível em: <http://nuevomundo.revues.org/62628>, Acesso em: 07 de fevereiro de 2013.
Glória Kok – Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP); estágio de pós-doutorado em Antropologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). E-mail: [email protected].
Histórias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas – FARBERMAN; RATTO (VH)
FARBERMAN, Judith y RATTO, Silvia. (coords.) Histórias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas, siglos XVII-XIX. Buenos Aires: Biblos, 2009, 222 p. Resenha de: CERCEAU NETTO, Rangel. Varia História. Belo Horizonte, v. 27, no. 45, Jan. /Jun. 2011.
Desde a obra O Pensamento Mestiço, do francês Serge Gruzinski,1 despontam para as Américas possibilidades que versam sobre as ruínas dos povos indígenas e a renascença de novos estudos sobre criações mestiças – nem européias e nem pré-hispânicas -, mas resultado de um processo de fusão de mundos díspares. Este referencial historiográfico aparece como um arquétipo inspirador dos estudos sobre as misturas e tem iluminado as novas abordagens.
Pode-se dizer que nos últimos anos, na historiografia sobre o período colonial da América Latina, as trajetórias de vida de homens e mulheres têm causado grande fascínio em pesquisadores e em leitores interessados nessas pequenas histórias. No caso das Américas, a exemplo de O pensamento mestiço, os estudos que têm a mestiçagem como eixo imprimem dinâmica especial aos trânsitos individuais, grupais e familiares. O foco dessas dinâmicas surgiu pela valorização de personagens ou de grupos anônimos que viveram e formaram as populações do complexo universo colonial americano.
É nesta perspectiva que se insere a coletânea de artigos publicados no livro Historias mestizas en el Tucumán colonial y las pampas, siglos XVII-XIX, coordenado pelas pesquisadoras portenhas Judith Farberman e Silvia Ratto. Os trabalhos reunidos neste livro retratam os processos de mestiçagens envolvendo as uniões matrimoniais e de compadrio, bem como suas vinculações religiosas e jurídicas. Também constitui um estudo das categorias taxonômicas sócio-étnicas e das identidades profissionais dos chamados indo-mestizos.
Para essas análises temáticas foi utilizado um corpus documental muito diversificado: códigos de leis coloniais, cartas e disposições do reino e das áreas administrativas, relatos e memoriais de governantes e autoridades reais, protocolo de escrivães, censos populacionais, registros paroquiais de batismos e matrimônios, processos civis e criminais, visitas eclesiásticas e dicionários de época. Todo este maço documental está disponível em bibliotecas, arquivos regionais, nacionais e internacionais da antiga metrópole.
O livro está inserido na dinâmica migratória que levou cerca de 30 milhões de indivíduos de outros continentes às Américas, durante o período colonial. Ele reflete o impacto planetário e demográfico causado pelo tráfico oceânico de escravos, pelos deslocamentos não forçados de pessoas para o Novo Mundo e pelas formas de trabalhos compulsórios marcados pela escravidão, encomienda e mita. Tudo isso demonstra que a América foi marcada por um amplo processo de adaptações entre os povos nativos e os que chegaram de fora deste continente, os quais ali passaram a viver formando um mosaico de novas realidades, um verdadeiro laboratório de experiências.
A coletânea é composta de seis artigos sobre a história de Tucumán colonial e dos pampas e pode ser comparada à história de outras regiões da América espanhola e portuguesa. Essa comparação se deve à enorme variedade étnica de índios, europeus, africanos e de mestiços já frutos de intensa mescla processada. Também, a presença de libertos, escravos e nascidos livres derivados das formas de trabalho compulsório, como a escravidão, a encomienda e a mita, promoveu realidades regionais mundializadas e bem similares.
O estudo coordenado por Farberman e Ratto corrobora com estudos recentes2 que abordam o fenômeno das mestiçagens e das formas de trabalhos forçados nas sociedades ibero-americanas. Aliás, a história de Tucumán e dos Pampas colonial está longe de ser uma realidade isolada para as regiões espanholas urbanas e rurais. Outras regiões, cidades e vilas coloniais como: Lima, Potosi, Cartagena de Índias, Santa Cruz de La Sierra, Quito, México, Puebla, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Sergipe Del Rey, Vila Rica, Sabará, Minas Nova do Arrassuai, Vila do Príncipe entre outras, também conheceram intensa mestiçagem entre povos africanos, europeus e indígenas.
Na verdade, a obra buscou analisar as regiões do litoral e do interior da antiga jurisdição de Córdoba e que hoje fazem parte do território argentino. Ela retratou, de forma regionalizada, porém conectada ao global, as experiências inovadoras envolvendo as mesclas culturais e biológicas de diversas pessoas e grupos sociais, especialmente dos grupos de espanhóis e índios que compreendiam a maioria dos casos envolvendo os processos de mestiçagem na região de Tucumán e dos pampas.
Outra questão importante contemplada na coletânea e pouco abordada pela historiografia argentina foi as mestiçagens originárias de outros grupos étnicos e sociais que não envolviam somente os europeus e os índios. A presença dos africanos e da escravidão na cultura andina compôs um quadro social mais amplo e complexo para a história das Américas espanhola e portuguesa. Mérito deste estudo que recupera essa dimensão histórica das populações africanas em relação às indígenas e as européias, apagadas propositalmente dos anais da história argentina. Nesta perspectiva, o estudo mostrou um enorme avanço historiográfico e coloca novas perguntas. Como foi possível, durante tanto tempo, a população negra daquela região sumir das interações sociais e das mesclas com europeus e índios? A quem interessou a construção da memória que suprimiu a presença desses africanos, negros e mulatos que povoaram a região de Tucumán e dos Pampas? Ou mesmo o desaparecimento da escravidão que estava presente concorrendo com outras formas de trabalho compulsório como a encomienda e a mita. Neste sentido, o livro aponta para a necessidade de novas abordagens comparativas da dinâmica populacional daquela região com outros lugares no período colonial.
Nesta obra, as mesclas entre índios nativos, africanos escravizados e colonizadores europeus constituíram o foco do problema a ser investigado. O termo mestiçagem passou a ser visto como sinônimo de um processo. Ele é problematizado nos seus múltiplos significados e temporalidades, evocando as dinâmicas contraditórias e adaptativas dos processos que levaram à conquista da América e a chegada de novos povos. Por um lado, a mestiçagem apareceu vinculada ao processo violento de dominação, de perda de identidade e de genocídio, fruto dos choques causados pelas diferenças culturais entre espanhóis e povos nativos. Por outro lado, reflete a intermediação cultural gerada pela aproximação entre espanhóis, indígenas e, posteriormente, dos africanos. Esses indivíduos forjaram um Novo Mundo, adaptando invenções e novas maneiras de viver e pensar, ainda que numa síntese conflituosa ou pacífica.
O ponto forte do livro está na forma explicativa e processual na qual as misturas biológicas e culturais ocorreram nos matrimônios inter-étnicos entre espanhóis e índios. No primeiro momento, as misturas derivadas desses relacionamentos foram apoiadas pelas estratégias dos ibéricos de lançarem “indivíduos línguas” (aqueles que tinham facilidade em aprender as línguas nativas) para fazer a mediação comercial e de troca de práticas e saberes com os povos nativos.
Todavia, a ambientação dos colonizadores europeus ocorreu no momento em que eles se envolveram com os indivíduos da nobreza indígena e, destes relacionamentos, geraram filhos mestizos. As pesquisadoras do grupo liderado por Farberman e Ratto analisaram as uniões familiares que promoveram as etno-genesis ou a criação étnica do grupo dos hispanocriollos, filhos de espanhóis e dos mestizos nascidos nas Américas. Esse grupo de mestiços envolvendo espanhóis com nativos ou seus descendentes representam 85% dos casos retratados pela obra.
Para as pesquisadoras do livro, os hispanocriollos constituíram a marca da ambiguidade e da ambivalência já que esses mestizos empregavam estratégias eficazes para reivindicar os benefícios legados a eles, pela ascendência dupla de seus pais. Para os peões comuns, mestizos filhos de espanhóis com índios, e os mulatos, filhos de espanhóis com negros ou filhos de índios com negros, o uso das estratégias de disfarce, segundo sua conveniência e necessidade, foi fator corriqueiro, pois eles faziam uso de roupas e símbolos pomposos ou evocavam a ascensão do pai conquistador para fugir de impostos e tributos e do trabalho compulsório como a encomienda e a escravidão. Nesta mesma lógica, figuravam os criollos e os mestizos de certa nobreza e que formavam a elite proprietária da mão de obra encomendeira e escravocrata e, também, os personagens mesclados dos grupos médios responsáveis pelos ofícios qualificados que promoveram a produção e o consumo de bens nas áreas urbanas e rurais.
Outra característica importante abarcada pela coletânea compreende a própria formação e mobilidade social adquiridas pelos grupos que se auto-reconheceram como hispanocriollos, mestizos e mulatos entre outros. Estes, muitas vezes, produzindo ou se apropriando de novas taxonomias identitárias, procuravam reformular e reconstruir as suas próprias identidades e, ao se afirmarem enquanto grupos sociais, buscavam a distinção entre si, criando e/ou readaptando as hierarquias sociais já existentes.
Também, a formação e a readaptação das identidades destes grupos mesclados, tomados na América espanhola por castas, estavam intimamente ligadas aos processos de ascensão social e econômica vivenciados por eles. Assim, utilizando-se dos simbolismos de poder dos conquistadores ou das próprias sociedades pré-hispânicas, esses hispanocriollos, mestizos e mulatos lançavam mão, por exemplo, do florete e do espadim para justificar a sua posição social e hierárquica.
A contribuição mais relevante deste livro é oferecer ao campo das ciências humanas uma melhor compreensão da pluralidade e da polissemia que marcou e constituiu uma parcela da população americana no período colonial.
1 GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. Trad. Freire d’ Aguiar. São Paulo: Cia das Letras, 2001.
2 Alguns desses estudos são: QUEIJA, Berta Ares y STELLA, Alessandro. (coord.) Negros, mulatos, zambaigos: derroteros africanos em los mundos ibéricos. España, 1999; AIZPURU, Pilar Gonzalbo y QUEIJA, Berta Ares. (coords.) Las mujeres em la construcción de las sociedades iberoamericanas. Sevilla-México, 2004; PAIVA, Eduardo França & ANASTASIA, Carla Maria Junho. (orgs.) O trabalho mestiço: maneiras de pensar e formas de viver – séculos XVI a XIX. São Paulo/Belo Horizonte: Annablume/PPGH-UFMG, 2002; PAIVA, Eduardo França e IVO, Isnara Pereira. (orgs.) Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas. São Paulo/Belo Horizonte/Vitória da Conquista: Annablume/PPGH/UFMG: Edunesb, 2008; PAIVA, Eduardo França; IVO, Isnara Pereira e MARTINS, Ilton César. (orgs.) Escravidão, mestiçagens, populações e identidades culturais. São Paulo/Belo Horizonte/Vitória da Conquista: Annablume/PPGH/UFMG: Edunesb, 2010.
Rangel Cerceau Netto – Mestre e Doutorando em História pela Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, Bolsista da CAPES, Membro do Conselho Editorial da Revista Temporalidades Av. Antônio Carlos, 6627, FAFICH/História, Belo Horizonte, MG, 31270-901, [email protected].
De volta ao Lago de Leite: gênero e transformação no Alto Rio Negro – LASMAR (CP)
LASMAR, Cristiane. De volta ao Lago de Leite: gênero e transformação no Alto Rio Negro. São Paulo/Rio de Janeiro, Editora UNESP-ISA/NUTI, 2005. Resenha de: FERREIRA, Carolina Branco de Castro. Virando “branca” e subvertendo a ordem? Gênero e transformação no Alto Rio Negro. Cadernos Pagu, Campinas, n. 32, Jul./Dez. 2009.
O livro De Volta ao Lago de Leite: gênero e transformação no Alto Rio Negro foi originalmente apresentado como tese de doutorado por Cristiane Lasmar no Programa de Pós Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, sob a orientação de Bruna Franchetto. Ao longo de suas 285 páginas somos levados pela autora a refletir sobre as transformações que ocorrem no modo de vida quando os/as indígenas deixam suas comunidades, situadas ao longo da faixa ribeirinha dos rios Uaupés e Negro, e passam a residir na cidade amazônica de São Gabriel da Cachoeira.
O olhar de Lasmar situa-se no pólo nativo e a partir de uma sociologia indígena, ela busca compreender as instituições e organizações sociais, a sócio-cosmologia dos grupos estudados e como a população indígena percebe e define, em seus próprios termos, a situação de contato. Em minha leitura, a pesquisa da autora está interessada em revelar, ao modo de Sahlins (1997), como os grupos ameríndios do Uapés vêm tentando incorporar o sistema tecnológico e de conhecimentos “dos brancos” a uma ordem ainda mais abrangente: seu próprio sistema de mundo.
O que motiva os índios em direção ao mundo dos brancos?1, pergunta a autora. Além disso, uma problemática de gênero permeia seus questionamentos, porque dentre as transformações que a autora investiga está a preferência das mulheres indígenas em se casar com homens brancos, o questionamento sobre o status dos filhos nascidos deste enlace e a violência de gênero.
Para organizar sua etnografia, Lasmar utiliza o recurso analítico de contrastar “comunidade” e “cidade”, pois segundo ela estas palavras remetem a modos de vida distintos no discurso indígena. Para a autora, o contraste entre “viver na cidade” e “viver na comunidade” permite compreender a diferença entre índios e brancos, bem como a experiência social dos índios que vivem em São Gabriel da Cachoeira, uma vez que a “comunidade” e seus padrões de sociabilidade ainda representam uma referência moral organizativa importante para estes sujeitos, porque na comunidade ainda se vive como índio.
Além da introdução e das considerações finais, o texto está dividido em duas partes, cada qual com um prólogo e um epílogo. O livro conta com dois cadernos de desenho de autoria de Feliciano Lana, um de seus colaboradores. Bem como, com dois mapas, um do Alto Rio Negro, onde é possível ter uma boa idéia da localização das comunidades ribeirinhas e da cidade de São Gabriel, e outro com a divisão dos bairros deste município, onde o leitor pode localizar os bairros da Praia e de Dabaru, que concentram a população indígena citadina. E ainda, se encontra uma tabela de convenções sobre segmentos fonêmicos e indicações de pronúncia em língua tukano. No anexo está na integra o mito de origem – A viagem na canoa da Fermentação, leitura imprescindível para compreender as sócio-cosmologias dos grupos referidos e também a proposta teórico-metodológica inovadora de Lasmar.
A metáfora espacial entre “comunidade” e “cidade”, ao invés de opor tradicional/moderno, nos permite perceber a translocalidade, para tomar emprestado um termo de Sahlins (1997), existente no “movimento dos índios em direção ao mundo dos brancos” (Lasmar, 2003:213). Assim, ao estabelecer esse modo de análise, a autora busca esse movimento e suas várias interfaces, privilegiando as narrativas das mulheres indígenas. Vale lembrar que os grupos do Uaupés organizam as relações de parentesco por um cálculo agnático, portanto, ao focar nas histórias de vida feminina, é possível perceber como esses deslocamentos, eu diria até subversões da “tradição” e da ideologia de gênero, são explicados, vividos e agenciados por estes sujeitos.
Antes de entrar na discussão sobre esses deslocamentos ou subversões da “tradição”, recupero alguns argumentos da autora sobre a organização social ribeirinha dos grupos do Uaupés. A bacia do rio Uaupés se localiza em território brasileiro e colombiano e abarca uma população de 9.300 indivíduos que se dividem em dezessete grupos étnicos, os quais se organizam exogâmicamente e falam línguas distintas.
A regra matrimonial é que um homem deve se casar com uma mulher que fale uma língua diferente da dele. A residência é virilocal, ou seja, é a mulher quem se muda para a comunidade do marido, e o sistema de descendência é patrilinear. As relações de parentesco são fundamentais para entender a cosmologia destes grupos, uma vez que o sistema de descendência não diz respeito apenas às regras de transmissão de bens e direitos, mas também à idéia de transmissão de uma “alma” e um nome indígena. Para ser índio é necessário estar ligado a um ancestral reconhecido pelo sib2 patrilinear. Essa forma de organizar o parentesco insere uma assimetria na posição das mulheres. São elas que personificam uma alteridade ameaçadora, e não raro são ligadas a um descompromisso com a harmonia coletiva. Com o passar do tempo e com as relações de comensalidade e co-residência essa alteridade vai se tornando menos marcada entre o casal.
Aqui, vale um comentário a respeito das relações de parentesco nas sociedades ameríndias. Lasmar é caudatária da reflexão de vários antropólogos (Carneiro da Cunha, 1978; Rivière, 1993; Viveiros de Castro, 2002; Overing, 1973, dentre muitos outros)3 a respeito da amerindianização da descendência e da afinidade. Esses autores rejeitaram o modelo africanista, que enfatizava a definição de grupos de descendência e a transmissão de bens/ofícios, e elaboraram explicações mais próximas aos princípios subjacentes à composição dos grupos de parentesco nativo das terras baixas sul-ameríndias.
Overing argumenta que para muitas sociedades os grupos locais são a base do parentesco e o casamento por aliança se torna a instituição crucial responsável pela coesão e perpetuação do grupo. Segundo ela:
Nós deveríamos distinguir entre aquelas sociedades que enfatizam a descendência, aquelas que enfatizam a descendência e a aliança, e finalmente aquelas que dão ênfase apenas na aliança como o princípio básico organizador das relações (Overing, 1973:556, tradução livre).
Nesse artigo, a autora está interessada em certos problemas de interpretação, especificamente em relação a sociedades que combinam a regra positiva de casamento, a pouca ênfase dada por elas ao princípio de descendência e o casamento endogâmico. Os dados etnográficos explorados pela autora são retirados de sua pesquisa de mais de 10 anos entre os Piaroa. Overing (1973) chama a atenção para o fato de que estamos diante de sociedades que não operam com o princípio da descendência unilinear, mas há uma regularidade que precisa ser entendida a partir de outro arcabouço teórico. Já nesse texto a autora aponta para a importância que a noção de diferença ocupa para a reprodução social neste grupo e também para outros das terras baixas da América do Sul.
Segundo Viveiros de Castro (2002a; 2002b), para os grupos ameríndios, a afinidade (ou a diferença/alteridade) é o “dado” e é na esfera da consangüinidade que a “energia social é despendida”. Na teoria nativa dos grupos ameríndios a afinidade é um valor que desempenha um papel fundamental como operador sociocosmológico. O autor distingue duas espécies de afinidade: a “afinidade atual”, na qual os afins são consanguinizados a partir da consubstanciação por meio da co-residência4, e a “afinidade potencial”, que extrapola as alianças matrimoniais e constitui-se como gramática de trocas simbólicas do interior para o exterior, da passagem do local para o global. Assim, a socialidade ameríndia não é marcada pela troca de esposas e de coisas, mas envolve trocas simbólicas, nas quais há lugar para a incorporação do desconhecido.
Nesse sentido, a noção de afinidade transcende as relações de parentesco. Iniciei essa digressão teórica ao discutir os dados etnográficos relacionados ao parentesco do livro de Lasmar. No entanto, após essa reflexão, é possível falar de parentesco indígena? Ou à maneira de Shneider (1980), o parentesco seria uma ideologia da sociedade ocidental ou euro-americana (para lembrar Strathern, 1992) que, às vezes, se aplica a outros grupos sociais? Segundo Viveiros de Castro a responda é sim. No entanto, ao falar de parentesco é possível colocar em perspectiva as matrizes sócio-cosmológicas e as ontologias ocidentais e também ameríndias (entendidas aqui fora de pressupostos identitários). Esse jogo semântico é fundamental para entender o empreendimento de Lasmar, que ao tomar como objeto de pesquisa as relações entre índios e brancos, se diferencia das perspectivas que rapidamente associam essas relações a exploração, submissão e aculturação.
A partir de um olhar feminista, privilegiando narrativas femininas, a autora complexifica o “movimento dos índios em direção ao mundo dos brancos” de modo crítico e inovador. No entanto, a reflexão sobre episódios de violência propriamente ditos até questões colocadas pelo cotidiano das mulheres, certamente marcadas por gênero, suscita algumas questões, subjacentes no texto e não retomadas.
Mesmo havendo uma inversão no sistema de descendência e na ideologia de gênero a partir do casamento de mulheres indígenas com brancos, segundo a autora, essa inversão é pautada pela socialidade ribeirinha, que tem na diferença seu operador/produtor social fundamental. Como aponta Lasmar, esta inversão não se dá sem conflitos.
A autora explora bem os conflitos entre irmãos e irmãs resultantes dessa inversão. No entanto, ela explora menos aqueles resultantes do casamento das mulheres indígenas com os brancos. É verdade que Lasmar mostra como depois de um tempo as mulheres se decepcionam com o comportamento de seus maridos, bem como os maridos muitas vezes se fartam com a presença contínua dos parentes da mulher em casa. No entanto, o texto mostra uma certa homogeneidade do conflito. Se a convivencialidade é fundamental para operacionalizar as cosmologias ameríndias, neste caso, ligada ao campo etnográfico da autora, cuja centralidade está na relação entre índios e brancos como produtora de identidade entre co-residentes, nem sempre essa convivencialidade acontece de modo homogêneo.5
Lasmar mostra como na visão dos parentes da mulher indígena, ela está se “tornando branca”, já que se casou com branco e mora na cidade. Esse processo atualiza a teoria nativa da socialidade, na qual são sempre seres que guardam diferenças que entram em relação – a mulher, antes filha, neta, ou seja, consangüínea, agora é “branca” e, por conseguinte, uma afim. Se não há uma ligação automática entre diferença e desigualdade ou entre diferença e violência, é necessário escrutinar, neste caso, onde e como essas relações acontecem.
Na segunda parte do livro, Lasmar busca compreender como nessa translocalidade entre comunidade e cidade, na qual a primeira é um ponto de referência simbólico importante para os indígenas, existem maneiras distintas de estar na cidade. Aqui, a autora é herdeira das reflexões de Seeger, DaMatta e Viveiros de Castro (1987) a respeito da noção de pessoa e corporalidade nas sociedades ameríndias. Esses autores buscaram compreender as cosmologias ameríndias a partir dos seus próprios termos e afirmam que elas apontam para a importância de pensar a pessoa e a corporalidade como elementos centrais da experiência vivida socialmente, pois a “produção física de indivíduos se insere em um contexto voltado para a produção social de pessoas” (Seeger, DaMatta e Viveiros de Castro, 1987:13).
Segundo Lasmar, há uma forma mais próxima do modo branco e outra mais próxima do modo indígena de se viver na cidade. Assim, é a partir da trajetória de três mulheres indígenas de gerações distintas em São Gabriel da Cachoeira que a autora mostra como são as práticas cotidianas, a idade e a corporalidade que informam e desenham essas posicionalidades – por exemplo, ter uma roça ou não, o tipo de alimento consumido, o jeito de andar, as roupas que se veste, dentre outros.
A partir dessas trajetórias e da etnografia podemos perceber uma preferência das mulheres indígenas em se casar com homens brancos, muitas vezes, influenciadas por suas mães. Segundo Lasmar, essa preferência pode ser explicada pelos benefícios econômicos que esse tipo de casamento permite a partir de um acesso facilitado ao “mundo de mercadorias dos brancos”, bem como pelo fato de ampliar a rede familiar, de reciprocidade e de circulação dos parentes. Por exemplo, ter uma filha casada com um branco, facilita o acesso ao mundo da cidade, do hospital, da escola, etc., ao mesmo tempo em que transforma o estilo de vida e a corporalidade dessa mulher.
A autora argumenta que há uma hierarquização entre índios e brancos na cidade de São Gabriel da Cachoeira, onde os brancos teriam acesso mais facilitado e legitimado a bens, serviços, empregos e posições sociais. Assim, a condição da esposa de um branco pode estar próxima a de algumas mulheres casadas com homens indígenas que conseguiram uma boa colocação no mercado de trabalho e possuem condições de prover os parentes e ampará-los materialmente ou em caso de necessidade e cuidados. No entanto, a autora argumenta que o casamento com brancos potencializa a capacidade de agência das mulheres no que se refere aos processos de construção de uma identidade no âmbito da família extensa a partir da subversão da ideologia de gênero. Além disso, esse tipo de casamento cria uma tensão e uma inversão da assimetria de valor nas relações entre irmãos e irmãs no Uaupés. Para entendê-la é necessário remeter à identidade das crianças nascidas das uniões com brancos.
Como mencionei acima, é a partir da descendência agnática que é transmitido a “alma indígena”, ou seja, é por onde a identidade indígena é constituída. Neste caso, se uma mulher casa-se com um branco, esta transmissão seria impossível. O que não aconteceria, por exemplo, se um homem indígena se casa com uma branca, uma vez que ele teria legitimidade dentro dos “cânones tradicionais” da descendência para dar o nome cerimonial à criança e por conseqüência o acesso a “alma indígena”.
Lasmar mostra que tem sido habitual os filhos/as das mulheres casadas com brancos receberem o nome cerimonial pela via do avô materno, que faz com que a criança seja identificada com a etnia da mãe. Embora os filhos/as nascidos do casamento entre índios e brancos sejam considerados “misturados”, a “parte indígena” desse corpo é dada pela linha materna, contrariando o princípio de descendência. Isso tem causado uma tensão com os tios maternos, pois segundo a tradição seriam eles os únicos a terem o direito da transmissão do sib. A preferência das mulheres pelos brancos também tem sido foco de tensão não só em relação ao irmão materno, mas de maneira geral, pois os homens indígenas se queixam que os brancos “roubam” suas mulheres, uma vez que o casamento entre um índio e uma mulher branca é escasso.
Para a autora, esse ponto ao redor da identidade dos filhos “misturados” reforça sua hipótese de que o enlace com um branco dá a mulher uma oportunidade de se recolocar no sistema indígena de relações sociais. Pois, além de dotá-la de recursos que a permitem ajudar os parentes, esse casamento cria uma situação favorável para que ela transmita aos filhos o nome de seus antepassados com a conivência de seu pai ou de outro homem de seu sib. Assim, o casamento com um homem branco permite a mulher indígena uma posição relevante em meio a ambigüidade social da cidade, pois ela indica a tensão entre a reprodução da identidade indígena e a apropriação das capacidades/conhecimentos e bens dos brancos.Para a autora essa pode ser uma explicação do porquê as mães fazem pressão para que as filhas se casem com brancos (Lasmar,2005:245).
Enquanto lia o livro de Lasmar, eu me lembrava do texto de Bourdieu (2006), no qual ele mostra como as transformações pelas quais passam as sociedades camponesas (neste caso, no Béarn, no sudoeste da França) levam a desvantagens dos homens no mercado matrimonial quando as categorias urbanas penetram no campo. Segundo sua análise, as mulheres assimilariam mais rapidamente as transformações culturais vindas da cidade do que os rapazes, nesse sentido, eles seriam desvalorizados diante da visão de suas potenciais esposas, pois não sabem lidar com os padrões valorizados por uma nova “economia política” do casamento, ficando solteiros.
Assim, fica a questão: a partir de uma imagética de gênero, seriam as mulheres em diferentes sistemas sociais, nos quais a reprodução social como reposição de hierarquias implica na produção da diferença sexual, os sujeitos mais propensos a redefini-los? Essa pergunta me remeteu a quão diferente seriam os resultados da pesquisa de Lasmar, se retomássemos o debate da antropologia feminista da década de 1970, no qual havia um certo consenso sobre a subordinação universal das mulheres. De maneira similar a Strathern (2006), Lasmar trabalha com gênero como metáfora de categorias socio-cosmológicas mais gerais, permitindo conhecer, dentro de um grupo específico, como se arranjam as práticas e as idéias em torno dos sexos e dos objetos sexuados.
Nesse sentido, a categoria gênero não seria de ordem analítica e sim empírica, como uma categoria de diferenciação que não se reduz à diferenciação sexual/corporal de pessoas e sim como motivação empírica para o engendramento de sistemas simbólicos. A escolha dessa noção de gênero permitiu à autora apreender como a diferença sexual dá significado ao vivido a partir de categorias coletivas e suas transformações.
Essa escolha teórico-metodológica permitiu a Lasmar investigar as transformações sociais a partir de cosmologias produzidas pelos grupos da região do Uaupés e possibilitou, ainda, descortinar as questões de gênero a partir da agência dos sujeitos. Ao desmitificar generalizações pouco explicativas sobre a subordinação feminina ou outras, como a suposta “fixidez” e “subordinação” das “sociedades tradicionais”, a pesquisa da autora abre perspectivas para entender a natureza dessas transformações. Porque embora as mulheres invertam a orientação sexual do sistema de descendência, elas o fazem a partir das bases da socialidade ribeirinha, que guarda proximidade com a discussão que fiz a respeito dos grupos ameríndios, ou seja, essa inversão está informada pela lógica da diferença como marcação social entre os grupos (entre índios e brancos), bem como a identidade entre co-residentes (as transformações no modo de vida).
Lasmar explora a experiência das mulheres indígenas na cidade e sua preferência pelos homens brancos, ressaltando as transformações no sistema de relações entre índios e brancos e a capacidade de agência das mulheres. No entanto, a questão da violência de gênero é retomada de maneira menos sistematizada. A autora aponta que uma de suas motivações para construir seu objeto de pesquisa foi o convite do Instituto Socioambiental (ISA) para realizar uma pesquisa entre as mulheres indígenas residentes em São Gabriel da Cachoeira vítimas de violência sexual praticada, em sua maioria, por militares brancos na cidade. Logo, ela percebeu que a relação entre homens brancos e mulheres indígenas não se explicava somente a partir de episódios de violência, mas também em encontros sexuais consentidos, namoro e casamento. Nesse sentido, seria preciso apreender a experiência feminina na cidade e suas relações com os brancos também como potenciais parceiros sexuais e/ou maridos dessas mulheres (Lasmar, 2004:25-26).
Se as mulheres são responsabilizadas na maioria das explicações sobre os episódios de violência, esse entendimento passa pela culpabilização ou punição dessas por relações sexuais ilícitas presentes no mito e no discurso dos índios. Bem como, pela visão das moças do bairro da Praia, sugerindo que o comportamento das jovens indígenas recém-chegadas à cidade as torna mais expostas a esse tipo de situação, pois ainda seriam ingênuas e não saberiam viver na cidade. Além disso, é recorrente a explicação de que grande parte das mulheres usa plantas afrodisíacas para deixar os homens de “cabeça fraca” fazendo-os agir como “loucos” (Id. ib.:204).
O/a leitor/a poderia ter uma visão ampliada sobre os episódios de violência, caso o texto disponibilizasse mais informações a respeito dos sujeitos envolvidos e como eles se envolvem neles. A partir da visão das moças do bairro da Praia, a autora afirma que as mulheres indígenas recém-chegadas à cidade (consideradas por aquelas “as meninas do sítio”) estão mais vulneráveis a esses acontecimentos, mas o que pensam as moças do sítio? Outras questões permearam minha leitura: caso as mulheres se casem, deixam de estar vulneráveis a situações de violência sexual/de gênero?As mulheres casadas estão vulneráveis? De que modo? Como são coletados os dados sobre violência sexual e de gênero? Há denúncias por parte das mulheres indígenas? Como entender a complexidade desses sofrimentos marcados por gênero?
O livro de Lasmar deve ser lido por antropólogos/as e estudantes de ciências sociais em geral, porque sem dúvida traz contribuições relevantes, além de ser leitura instigante e trazer ótimas sínteses teóricas sobre parentesco e grupos ameríndios. Para os/as profissionais e estudiosos/as da área de etnologia indígena brasileira e ameríndia a leitura é fundamental, pois a autora não é herdeira da antropologia feminista dos anos 1970, que ligou automaticamente o antagonismo sexual à dominação masculina, influenciando muitos americanistas. Para a área de teoria feminista e de gênero vale a pena conferir como a autora trabalhou com gênero de modo criativo e inovador.
Referências
BOURDIEU, Pierre. O camponês e seu corpo. Revista de Sociologia e Política, número 26, UFPR, 2006. [ Links ]
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Os mortos e os outros: uma análise do sistema funerário e da noção de pessoa entre os índios Krahó. São Paulo, Hucitec, 1978. [ Links ]
OVERING, Joana Kaplan. Endogamy and the marriage alliance: a note on continuity in kindred-based groups. Man, vol. 8, nº 4, dec. 1973. [ Links ]
RIVIÈRE, Peter. The amerindianization of descent and affinity. L’Homme, avril-décembre-XXXIII, 1993. [ Links ]
SCHNEIDER, David M. American kinship. A cultural account. 2ª ed. Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 1980. [ Links ]
SEEGER, Antony; DAMATTA, Roberto; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. In: OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. (org.) Sociedades indígenas e indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro, Marco Zero, 1987. [ Links ]
STRATHERN, Marilyn. After Nature. English Kinship in the late Twentieth Century. Cambridge, Cambridge University Press, 1992. [ Links ]
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O problema da afinidade na Amazônia. In: A inconstância da alma selvagem. São Paulo, Cosac Naify, 2002a. [ Links ]
__________. Atualização e contra-efetuação virtual: o processo do parentesco. In: A inconstância da alma selvagem. São Paulo, Cosac Naify, 2002b. [ Links ]
Notas
1 Na região do Alto Rio Negro podem ser encontradas mais de 17 etnias indígenas diferentes. No entanto, a autora opta por trabalhar com as categorias pan-étnicas de índio e branco, pois são estes os termos articulados no discurso nativo.
2 O sib é o termo norte-americano equivalente às linhagens dos grupos exógamos.
3 Esses antropólogos/as não têm uma produção homogênea – quero dizer que eles estabelecem diálogos críticos uns com os outros em busca de uma abordagem teórico-metodológica mais apropriada para tratar a relevância da afinidade nas terras baixas da América do Sul.
4 Overing (1973) também aponta a importância da convivencialidade como estratégia para consaguinizar os afins.
5 Agradeço ao professor Mauro Almeida por seus comentários inspiradores na disciplina de Parentesco e Redes Sociais.
Carolina Branco de Castro Ferreira – Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – área de gênero -, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp. E-mail: [email protected].
[MLPDB]
Trama de una guerra conveniente: Nueva Vizcaya y la sombra de los apaches (1748-1790) – ORTELLI (Tempo)
ORTELLI, Sara. Trama de una guerra conveniente: Nueva Vizcaya y la sombra de los apaches (1748-1790). México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2007. 259 p. Resenha de: GARCIA, Elisa Frühauf. De protagonistas a coadjuvantes: a ameaça “apache” na província de Nueva Vizcaya (Norte do México, segunda metade do século XVIII). Tempo v.13 no.26 Niterói 2009.
A partir de rigorosa pesquisa documental, acompanhada de fina interpretação histórica, Sara Ortelli desmonta, passo a passo, alguns dos pressupostos estabelecidos sobre a história da província de Nueva Vizcaya, norte do México, durante a segunda metade do século XVIIII. Até então, as análises sobre o período estavam calcadas nas ameaças dos índios hostis à sociedade colonial, personificados nos “apaches”, considerados o principal elemento para compreender a atmosfera de perigo e violência evidenciada na documentação.
Analisando uma vasta gama de fontes, localizadas em arquivos no México e na Espanha, a autora busca perceber como surgiram e a quem serviam os informes sobre a iminência de um ataque dos índios. Inserindo a pesquisa na conjuntura específica da segunda metade do século XVIII, Ortelli aponta a aplicação das medidas bourbônicas, orientadas ao maior controle do poder central sobre áreas que até então gozavam de relativa autonomia, como um dos elementos explicativos para a irrupção não da violência em si, mas dos reclames generalizados sobre o perigo representado pelos “apaches” e pela sensação de insegurança vigente na província. Em sua argumentação, a aplicação dessas medidas ameaçaria o lugar ocupado por alguns dos principais membros das elites locais, que exerciam cargos relacionados à manutenção da segurança da região, especialmente nos fortes destinados ao controle da fronteira. Muitos dos seus membros, que alardeavam o perigo “apache”, mantinham com esses índios relações bastante próximas, incluindo trocas comerciais, colaboração em atividades militares e laços pessoais. Assim, “a exaltação do perigo da guerra (tanto em seu aspecto real como potencial e imaginário) e a presença do inimigo (tanto em seu caráter de perigo efetivo, como mediante sua construção como perigo iminente) serviram para sustentar interesses, justificar situações e defender privilégios” (p. 51).
Além desses agentes, beneficiários diretos da manutenção da atmosfera de violência, surgem outros grupos e as relações sociais se complexificam, à proporção que uma leitura atenta dos documentos vai descortinando novos sujeitos, estratégias diferenciadas e incertezas no seio da própria administração. Os administradores coloniais, especialmente os designados em função da aplicação das medidas bourbônicas e, em alguns momentos, desconfiados que os alardes sobre a insegurança poderiam estar sendo usados como subterfúgios, organizaram expedições para averiguar a real dimensão do perigo “apache”. Nessas expedições, foram raros os momentos em que de fato se depararam com “o inimigo”, embora a simples possibilidade disto acontecer era suficiente para encher de temor os seus integrantes, devido aos rumores sobre a ferocidade dos “apaches” e seus hábitos supostamente antropofágicos.
Os funcionários reais, além de divisarem um território onde as ameaças não eram onipresentes, mas meramente circunstanciais, quando se deparavam com bandos que praticavam ataques orientados ao roubo de rebanhos, não encontravam exatamente os “apaches”, mas grupos heterogêneos, compostos por indivíduos de origens diversas. Dentre eles havia espanhóis, italianos, membros das “castas”, africanos e seus descendentes, além de índios fugidos, temporária ou definitivamente, dos pueblos.
Os roubos de animais também eram praticados por outros grupos, denominados especificamente como abigeatários. Para a autora, longe de ser uma prática ocasional, o abigeato era uma atividade a qual alguns grupos se dedicaram ao longo de anos e de gerações sucessivas. Seus membros muitas vezes estavam interligados por redes de parentesco e laços pessoais, tanto verticais quanto horizontais, que viabilizavam a continuidade da prática e certa imunidade diante de possíveis condenações pelos roubos. Ao constatar que, uma vez aprisionados, esses homens não eram condenados pela justiça, Ortelli demonstra as suas relações com integrantes das famílias de elite da região, que os vinculavam à sociedade local e transformavam suas práticas em algo estrutural na província. Novamente a autora discorda frontalmente com interpretações consolidadas na historiografia, que imputavam tais roubos a situações de instabilidade política e econômica ou à “desordem” social por ocasião da independência.
As expedições de reconhecimento e a maior percepção sobre a realidade local trouxeram aos funcionários reais uma conclusão surpreendente: as ameaças na região não provinham de grupos localizados fora da sociedade colonial, como no caso dos “apaches”, mas eram formadas pelos habitantes das vilas e povoados da província. Por outro lado, a complexa teia de interesses por trás dos roubos e as dificuldades encontradas para efetivamente visualizar quem eram afinal os responsáveis pelos mesmos, assim como para puni-los uma vez descobertos, demonstraram também os limites para a aplicação das medidas formuladas na corte. Ao tentarem aplicar as medidas bourbônicas, os agentes do rei encontraram uma sociedade com uma dinâmica própria, articulada de acordo com privilégios adquiridos, cujos beneficiários não seriam facilmente alijados e/ou remanejados para satisfazer os macro-interesses geopolíticos, administrativos e econômicos do Império espanhol.
Os “apaches” propriamente ditos, apesar de raramente divisados pelos funcionários reais, participavam da cadeia de roubos como receptadores dos gados e dificilmente como perpetradores dos assaltos aos rebanhos. Em troca do gado, ofereciam peles e uma mercadoria importante para o desempenho das atividades dos bandos: roupa “tipicamente apache”. Munidos dessas vestimentas e com o rosto pintando com carvão, os integrantes dos bandos praticavam os assaltos com a intenção de que fossem atribuídos aos “apaches”. O disfarce tinha ainda outra função: dificultar a sua identificação, pois muitos deles faziam parte da sociedade colonial e temiam ser reconhecidos enquanto praticavam tais atividades.
Ao abordar os índios aldeados e sua interação com os demais segmentos da sociedade colonial, a autora enfrenta questões importantes e atuais nos estudos sobre a temática. Analisando a sua mobilidade, inclusive a participação em atividades consideradas ilícitas, demonstra como a existência de duas repúblicas distintas, de espanhóis e de índios, era uma representação idealizada que pouco condizia com a realidade da província. A despeito disto, tal representação continuava a ser usada pelos espanhóis para perceber a sociedade em que viviam e orientava a formulação de medidas que buscavam intervir na mesma. Os aldeados, por sua vez, apesar das representações idealizadas que os circunscreviam ao espaço dos pueblos e controlados pelas ordens religiosas, possuíam amplas relações sociais e econômicas fora dos aldeamentos e a opção por ir e vir dos mesmos era uma possibilidade manejada por muitos deles. Além de não estarem rigidamente apartados da “república de espanhóis”, mantinham ainda relações com os índios não inseridos na sociedade neovizcaína, como os próprios “apaches”. Tais relações foram interpretadas pelos funcionários reais como uma desagregação da “república de índios”, principalmente após a expulsão dos jesuítas dos domínios americanos. Neste ponto, Ortelli novamente destaca o descompasso entre a representação do mundo colonial e seu funcionamento efetivo, pois essas relações eram anteriores ao estabelecimento dos espanhóis na região e se mantiveram ao longo do tempo, ainda que reformuladas e ressignificadas.
Como demonstrado também por estudos em várias regiões da América portuguesa, as relações dos diferentes grupos indígenas entre si e suas interações com a sociedade colonial eram dinâmicas e orientadas, na medida do possível, pelas suas próprias demandas. Assim, apesar das tentativas dos colonizadores de classificar de maneira estanque as populações indígenas a partir dos diferentes mecanismos de sua inserção na sociedade colonial, suas relações eram marcadas pela fluidez, variando de acordo com a reformulação de suas demandas diante das oportunidades e desafios enfrentados em diversas conjunturas.1
Outro aspecto importante levantado pela autora é a interpretação vigente em certa historiografia que considerava os ataques, entendidos como protagonizados pelos índios, como uma manifestação de resistência à sociedade colonial. De modo um pouco genérico, essa resistência era entendida como ataques deliberados contra o “sistema colonial”, destinados a miná-lo, expulsando os espanhóis e retomando o domínio sobre o território que teria sido dos índios antes da conquista. Longe disso, os roubos, assim como as eventuais violências deles decorrentes, eram um elemento estrutural daquela província, cujos envolvidos pertenciam a diferentes estratos sociais. Assim, não eram iniciativas contra o “sistema colonial”, mas existiam em função do mesmo. Esta questão é demonstrada a partir da convergência entre os períodos de maior incidência de roubos de rebanhos e os picos da atividade mineradora. Dependente do uso de animais, especialmente mulas utilizadas no processo necessário para a extração da prata e para o transporte, a mineração era usualmente abastecida com animais roubados. Os roubos, portanto, tinham um destino certo: compradores que necessitavam dos animais para assegurar o funcionamento da mineração e, no limite, a própria manutenção da lucratividade da região para os colonos e para o Império espanhol.
Após descortinar esta gama de agentes interessados, por motivos diversos, na manutenção da situação de guerra, real ou fictícia, na província, Ortelli conclui que muito pouco deste contexto estava diretamente vinculado aos “apaches”, pois a violência daquela sociedade “respondia às ações de grupos de atribuição étnica heterogênea e que a alusão aos ‘apaches’ era, na maior parte dos casos, um lugar comum que permitia encobrir um fenômeno que não provinha do exterior do sistema” (p. 209). Assim, a investigação não está tanto orientada em aprofundar quem de fato eles eram, mas como essa ameaça surge, e posteriormente arrefece, em contextos específicos. Neste sentido, a autora demonstra com propriedade que essa ameaça não se originou de uma alteração nas relações sociais até então vigentes na província. Pelo contrário, foi a possibilidade de uma mudança, gerada pelas tentativas de aplicação das medidas bourbônicas, que fez surgir o perigo “apache”. Nessa conjuntura, o termo foi reformulado e o seu significado extrapolava uma mera atribuição étnica, pois passou a simbolizar um determinado modo de vida, identificado como “apache”, porém não restrito aos índios. Assim, tal como vários etnônimos em diferentes partes das Américas, aquele era um atributo genérico e maleável, cujos significados transformavam-se ao longo do tempo e cujos usos variavam de acordo com os interesses em questão. Devem, portanto, ser problematizados e entendidos como uma construção colonial.
De um lugar predominante na historiografia sobre Nueva Vizcaya, os “apaches”, na realidade desvelada por Ortelli, aparecem como apenas mais um dos grupos envolvidos nos roubos de gado, muitas vezes desempenhando a função de coadjuvantes. Fruto da tese de doutorado da autora, defendida no Centro de Estudios Históricos do Colegio de México em 2003 e vencedora no mesmo ano do prêmio de Melhor Tese de Doutorado em Ciências Sociais e Humanidades outorgado pela Academia Mexicana de Ciencias, Trama de una guerra conveniente merece ser lido com atenção pelo público brasileiro, não apenas pela excelência do trabalho, mas também pela semelhança de muitas situações investigadas com as enfrentadas em nossa historiografia. Dentre elas, principalmente, a dinâmica fronteiriça e a latência de ataques dos índios hostis, característica da América portuguesa em vários momentos, não apenas em relação aos limites com as possessões de outros Estados, mas também no seu interior, especialmente nas regiões vagamente denominadas de sertão.2
Nestes casos, o livro de Ortelli sugere que qualquer análise sobre os grupos nativos deve ser acompanhada de um estudo criterioso das fontes e das dinâmicas locais. Tal como no caso de Nueva Vizcaya, também no Brasil muitos eram beneficiários dos perigos, reais e imaginários, atribuídos à “ferocidade” dos índios. Se, como apontou Beatriz Perrone-Moisés, o “inimigo” indígena foi muitas vezes construído pelos colonos que visavam legitimar expedições de apresamento,3 nessas construções também estavam subsumidos outros interesses que, através da propagação do perigo latente, apresentavam determinados grupos locais como imprescindíveis à manutenção de certa ordem. Tal ordem era, em muitas situações, a preservação de um status quo do qual os principais beneficiários eram esses mesmos grupos, na medida em que utilizavam o “perigo indígena” para manter e/ou adquirir posições e privilégios na sociedade local.
1 Sobre o tema veja-se, dentre outros: Maria Regina Celestino de Almeida, Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2003; [ Links ] Elisa Frühauf Garcia, As diversas formas de ser índio: políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América portuguesa, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional (no prelo); [ Links ] Patrícia Sampaio, Espelhos partidos: etnia, legislação e desigualdade na Colônia: sertões do Grão-Pará, c.1755-c.1823, tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da UFF, 2001; [ Links ] Almir Diniz de Carvalho Junior, Índios cristãos: a conversão dos gentios na Amazônia portuguesa (1653-1769), tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp, 2005; [ Links ] Márcia Malheiros, “Homens da Fronteira”: Índios e Capuchinhos na ocupação dos Sertões do Leste, do Paraíba ou Goytacazes, séculos XVIII e XIX, tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da UFF, 2008. [ Links ] 2 Sobre os significados do termo sertão na sociedade colonial veja-se: A.J.R. Russel-Wood, “Fronteiras do Brasil colonial”, Oceanos, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, n.40, out.-dez. 1999. [ Links ] Para diferentes abordagens sobre as populações indígenas que habitavam as regiões denominadas como sertão veja-se, dentre outros: Nadia Farage, As muralhas dos sertões: os povos indígenas e a colonização do Rio Branco, Rio de Janeiro, Paz e Terra/Anpocs, 1991; [ Links ] Glória Kok, O sertão itinerante: expedições da capitania de São Paulo no século XVIII, São Paulo, Hucitec/Fapesp, 2004; [ Links ] Maria Leônia Chaves de Resende e Hal Langfur, “Minas Gerais indígena: a resistência dos índios nos sertões e nas vilas de El-Rei”, Tempo, vol.12, n.23, jul-dez.2007. [ Links ] 3 Beatriz Perrone-Moisés, “Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII), in: Manuel Carneiro da Cunha, História dos índios no Brasil, São Paulo, Companhia das Letras/Secretaria Municipal de Cultura/Fapesp, 1992, p.125. [ Links ]
Elisa Frühauf Garcia – Doutora em História pela UFF e pós-doutoranda em antropologia na Unicamp, bolsista do CNPq. E-mail: [email protected].


