Posts com a Tag ‘Cambridge University Press (E)’
The Indentured Archipelago: Experiences of Indian Labour in Mauritius and Fiji/1871–1916 | Reshaad Durgahee
Between 1834 and 1917, some 1.37 million Indian migrants travelled the length and breadth of the British Empire under contracts of indentureship. Chiefly contracted to work on colonial plantations, in the place of formerly enslaved Africans, Indian migrants found themselves in destinations as far flung as Mauritius (off the coast of Africa), Fiji (in the Pacific Ocean), British Guiana (in South America), and Trinidad (in the Caribbean).(1) Despite just how far reaching this migration stream grew to be, few historical works have engaged with its truly global nature, nor indeed of the connections that enabled and perpetuated it. Rather, as Reshaad Durgahee aptly notes, much of the scholarship on Indian indentured labour suffers from a somewhat ironic ‘methodological nationalism’ (p. 233), evident in a persistent tendency to focus on the experiences of indentureship within a specific colony or set of colonies. It is to Durgahee’s credit, then, that The Indentured Archipelago clearly, and convincing, illustrates the importance of considering the global nature of indentureship, offering a timely reconceptualization of both the system, and of the lives of those who lived through it. Leia Mais
The Mexican Mission. Indigenous Reconstruction and Mendicant Enterprise in New Spain/1521-1600 | Ryan Dominic Crewe
Joaquín García Icazbalceta (1825-1894) siguió a su mentor Lucas Alamán (1792-1853) al reconocer al siglo XVI como el más importante de nuestra historia, el siglo fundador, cuando México se hizo lo que es, católico y mestizo, y consideró a los frailes, particularmente a los franciscanos, como los verdaderos héroes de la historia mexicana. Con el fin de estudiar este proceso, más allá de los escasos libros antiguos y modernos que Alamán pudo consultar para sus Disertaciones sobre la historia de la República Mejicana (1843-1849), era necesario documentarlo y García Icazbalceta invirtió sus ganancias empresariales para formar a lo largo de su vida una gran colección de documentos y libros antiguos, que estudió, editó y aprovechó en magníficas publicaciones. El historiador francés Robert Ricard (1900-1984) retomó la documentación publicada y roturada por García Icazbalceta, a la que se agregó la publicada por el padre jesuita Mariano Cuevas (1879-1949), para formular su completa síntesis sobre La conquista espiritual de México, de 1933, que abarca el primer medio siglo, entre la llegada de los franciscanos, en 1523-1524, y la creación del tribunal de la Inquisición y la llegada de los jesuitas, en 1571-1572. Leia Mais
A Silver River in a Silver World. Dutch Trade in the Río de la Plata, 1648-1678 | David Freeman
The Return to Amsterdam of the Second Expedition to the East Indies on 19th July 1599, Andries van Eertvelt (1590-1652) | Imagem: Wikimedia
Si las conexiones económicas desplegadas globalmente durante la temprana modernidad contribuyeron a la consolidación política de los poderes soberanos europeos, los márgenes americanos constituyeron uno de los principales escenarios en los que aquellos enlaces tomaron forma localmente. Atendiendo a la dimensión local como un campo para el abordaje de procesos intercontinentales, A Silver River in a Silver World, de David Freeman, toca entonces una arista central para comprender la estructuración de la economía moderna a través de su temprana globalización, durante un período en el cual la pequeña divergencia parecía comenzar a tomar forma en el seno de la Europa occidental.1
La presencia de mercaderes holandeses en la Buenos Aires del siglo XVII, sus prácticas comerciales en la escala local y regional, así como los tejidos relacionales que habilitaban el despliegue de esas prácticas, permiten comprender al comercio atlántico holandés en el seno del sistema imperial español, desde un enfoque multidimensional sobre las personas, sus contactos y sus contratos. Con su trabajo, David Freeman ratifica que ese eslabón marginal que Buenos Aires representaba en los circuitos mercantiles intercontinentales resultó, sin embargo, central para la consolidación del temprano capitalismo, ocupando un rol crítico en la provisión del metálico necesario para el arbitraje holandés en los flujos europeos que conducían la plata hacia China y retroalimentando, de esa manera, las bases materiales que habilitaron el posicionamiento de los Países Bajos como uno de los núcleos mercantiles y financieros del siglo XVII.2 Leia Mais
Empire of Eloquence. The Classical Rhetorical Tradition in Colonial Latin America and the Iberian World | S. M. Mcmanus
En los últimos años se ha puesto el acento en los usos que los agentes históricos hacen del lenguaje y las convenciones del contexto en el que actúan (GARCÍA CÁRCEL, 2013; BENIGNO, 2013). Esto implica el reconocimiento de un respeto obligado a la alteridad de los mismos y sus manifestaciones (FERNÁNDEZ ALBALADEJO, 1993). Los resultados de estas investigaciones alientan la necesidad de seguir profundizando en diferentes problemas del siglo XVII para desarticular una tradicional visión oscurantista y abrir campos que prevengan sobre los peligros derivados de la utilización de conceptos ex-post (SCHAUB, 2004) que operan con valor performativo (AUSTIN, 1982; SEARLE, 1989) manteniendo la precaución de no caer en simplificaciones y generalizaciones. Para aproximarnos al entramado de los procesos que tuvieron lugar en los siglos XVI y XVII es importante, apelar a explicaciones multicausales. Leia Mais
Political Thought in Portugal and Its Empire/ c. 1500-1800 | Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro
Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro | Imagens: Goodreads Goodreads
1A publicação deste livro é, sem dúvida, um acontecimento editorial que merece ser assinalado. Trata-se de uma seleção criteriosa de textos fundadores do pensamento político em Portugal na era moderna (c. 1500-1800), precedida de uma cuidada e esclarecedora introdução de enquadramento interpretativo que também serve para justificar a razão e a oportunidade da sua tradução e publicação em língua inglesa. A introdução e organização editorial do livro são de autoria de Pedro Cardim e Nuno Gonçalo Monteiro que, deste modo, acrescentam às suas importantes contribuições de análise histórica do período em apreço um relevante serviço de divulgação de fontes primárias que apenas têm estado acessíveis, na sua quase generalidade, a leitores de língua portuguesa. A tradução e edição crítica de tais textos fundadores possibilita, a um público internacional alargado, o conhecimento de alguns dos principais protagonistas do debate político em Portugal nos séculos XVI a XVIII, da sua articulação ou diálogo (implícito ou explícito) com autores de referência no quadro europeu e da especificidade dos problemas de ordem institucional, social e política que emergem no contexto da monarquia portuguesa e do seu espaço imperial.
Leia Mais
Nationalizing Nature: Iguazu Falls and National Parks at the Brazil-Argentina Border | F. Freitas
Pensar a Tríplice Fronteira para além das fronteiras nacionais da Argentina, do Brasil e do Paraguai não é uma tarefa simples. O próprio termo possui pelo menos duas representações. Uma é a representação geográfica, ou seja, o encontro entre três países distintos. Outra é uma representação social abstrata, utilizada para explicar um dos lugares mais dinâmicos da América Latina. Em um esforço para dar historicidade a esse lugar, Zephir Frank se referiu à Tríplice Fronteira no tempo presente como “povoada com colonos, em grande parte desmatada, seus rios atrás de altas barragens, parte de uma zona econômica transnacional (Mercosul)”. É também um espaço de preservação ambiental (Parques Nacionais), está “entrecruzada por rodovias e pontes e permanece também um lugar de memória histórica e alteridade contemporânea nos caminhos nômades dos Guaranis” (2018, p. ix).
Os símbolos nacionais e as ações dos agentes dos Estados da região lembram aos cidadãos fronteiriços que cada lado da fronteira pertence a um respectivo país. De acordo com uma análise sobre questões cotidianas da fronteira Brasil-Paraguai, o nacionalismo expresso nas barreiras alfandegárias e imigratória indicariam que, metodologicamente, seria mais adequado se referir à “três partes” da fronteira e não em “uma” Tríplice Fronteira (LIMA JUNIOR, 2016). Contudo, uma perspectiva transnacional para a análise da Tríplice Fronteira se torna útil à medida em que o observador se afasta das questões cotidianas. Nesse sentido que o livro de Frederico Freitas, cujo título, em tradução livre, seria Nacionalizando a Natureza Cataratas do Iguaçu e Parques Nacionais na Fronteira Brasil-Argentina, tem como ponto de partida uma referência à Tríplice Fronteira como “um lócus de contenção geopolítica” (FREITAS, 2021, p. 6). Leia Mais
Public Opinion in Early Modern Scotland/ c.1560–1707 | Karin Bowie
This is Karin Bowie’s second book about the history of public opinion in Scotland. Her first, in 2007, examined the period 1699-1707 in depth, covering the debate leading up to the Union of Parliaments.(1) The present book deals with a longer period, and has no single focus like the Union. Instead it discusses a larger range of political debates – and some religious debates, at least to the extent that these affected politics. Nevertheless, the questions driving the new book are similar. What was ‘public opinion‘, and how was it expressed? Or, what were people’s opinions, and how did they express them? The ‘public’ is never a singular thing that has a single opinion. Bowie’s book is thus about debate, and about processes of debate.
When historians discuss public opinion, what often interests us is the balance of opinion on debated topics. Was a given topic ‘popular’ or ‘unpopular’? Would a majority of the population have voted for or against (say) the Reformation at the time when it was being proposed? Historians of the early modern period cannot conduct opinion polls, but we recognise that the opinions that such polls would have measured did exist in some way. When we write of the ‘popularity’ of the Reformation, or indeed of its ‘unpopularity’, we are making statements that are to some extent psephological. Leia Mais
The Caravan: Abdallah ‘Azzam and the rise of the global jihad | Thomas Hegghammer
O livro The Caravan: Abdallah ‘Azzam and the rise of the global jihad, publicado no início de 2020, une dois nomes que pesquisadoras e pesquisadores interessados pelo movimento jihadistas irão, em algum momento, se deparar: Thomas Hegghammer e Abdallah ‘Azzam (1941-1989). Hegghammer é doutor em Ciência Política e um dos principais autores sobre jihad; seus trabalhos versam sobre a jihad na Arábia Saudita (2007; 2010), o fenômeno dos combatentes estrangeiros no islã (2006; 2009; 2010; 2013; 2020) e, mais recentemente, a cultura jihadista (2017). ‘Azzam, doutor em princípios da jurisprudência islâmica, foi um dos mais importantes teóricos jihadistas do século XX e, por sua atuação na Guerra do Afeganistão (1979-1989), ficou conhecido como o “pai dos mujahidins” – combatentes da jihad. A obra explora uma miríade de eventos e processos, tendo como fio condutor a trajetória do clérigo. O objetivo de Hegghammer é examinar a relação entre ‘Azzam, o mundo em que esteve inserido e a globalização da jihad.
Por jihad global entende-se o fenômeno de mudança na percepção de inimigo em organizações jihadistas; dos regimes locais à declaração de guerra contra os EUA e o Ocidente. É importante ressaltar que o conceito religioso de jihad precede em séculos a ideia de nação e foi utilizado como parte da expansão religiosa desde o século VII. Contudo, a partir dos anos de 1960, a jihad foi proposta como forma de resistência aos regimes seculares no mundo muçulmano, especialmente, no Egito (COOK, 2005). Leia Mais
Emotions and Temporalities | Margrit Pernau
Dos giros tuvieron lugar el último tercio del pasado siglo y marcaron un parteaguas en los supuestos epistemológicos y ontológicos de las ciencias sociales. Problematizando la concepción sociológica de la teoría de la elección racional y del funcionalismo, el giro cultural introdujo en la comprensión de la realidad la dimensión interpretativa de la acción social, atendiendo para ello los símbolos expresivos, las estructuras de significado y las experiencias rituales. La cultura dentro de este marco no se agota en las “elevadas expresiones del espíritu”, como denominabaa Jacob Burckhardt a los productos culturales destinados al consumo de las élites aristocráticas y burguesas; lo mismo es cierto para las expresiones de los subalternos como las tradiciones y las festividades, eso que Mijaíl Bajtín dio en llamar “la cultura popular”. El constructivismo reencausó las reflexiones sobre la cultura, acercándola más a “los movimientos del alma” de Simmel, para ahora aprehenderla como el mundo en general a la manera de un “texto”, conformado por símbolos y significados (Clifford Geertz); como un conjunto de “paisajes de sentido” en los que interactúan espacios, instituciones y actores sociales (Isaac Reed); o como la vida cotidiana de la gente, los objetos de los que se rodea y sus formas de percibir e imaginar el mundo (Robert Darnton). Leia Mais
Palm Oil Diaspora: Afro-Brazilian Landscapes and Economies on Bahia’s Dendê Coast | Case Watkins
Quando turistas ou moradores locais conceituam a Bahia, o azeite de dendê representa uma gama diversificada de significados sociais. Como muitos acadêmicos têm observado, o estado da Bahia e a cidade de Salvador (muitas vezes simplesmente referida como Bahia) são considerados os pináculos da autenticidade africana que continuam alimentando práticas religiosas, gastronômicas, culturais e sagradas. Dentro destes repertórios sociais, o azeite de dendê é central. O dendê é parte fundamental das obrigações religiosas dos praticantes das religiões de matriz africana (principalmente do Candomblé), e é um ingrediente essencial nos alimentos sagrados e profanos da Bahia, incluindo acarajé, moqueca e vatapá. Além dessas práticas, as práticas da linguagem cotidiana reforçam a forte associação entre o dendê e a Bahia. Como observa Watkins, “dizer que algo é ‘do dendê’ é qualificá-lo como absolutamente baiano e com conexões fundamentais com a África e sua diáspora” (p. 7). Um dos objetivos deste livro é discutir como esta associação veio a ser e persiste para habitantes locais, brasileiros e mundiais. Leia Mais
Lynching and Local Justice. Legitimacy and Accountability in Weak States | Danielle Jung e Dara Kay Cohen
The book Lynching and Local Justice, Legitimacy and Accountability in Weak States written by Danielle F. Jung and Dara Kay Cohen – respectively Political Science and Public Policy’s scholars – and published by the Cambridge University Press in 2020, is part of the Cambridge Elements in Political Economy’s series, which draws on political science, economics and economic history to investigate new facets of political economy, a rapidly growing field of study.
The book aims at understanding through a new theory why lynching still can occur in the twenty-first century, its relationship with state governance, and how this type of violence impacts the state’s legitimacy. Leia Mais
Institutions and Ideology in Republican Rome. Speech/Audience and Decision | Henriette Van Der Blom, Christa Gray
En los últimos años, la producción historiográfica relativa a la República romana se expandió notablemente. Una parte considerable del esfuerzo colectivo, realizado por investigadores de diversas latitudes geográficas, se encuentra orientado a comprender la naturaleza del régimen político y las relaciones sociales que caracterizaron su dinámica de funcionamiento. El debate, sobre la mayor o menor incidencia del elemento popular, promovió un original desarrollo conceptual que expandió los límites formales de las categorías teóricas empleadas. Al respecto, pueden citarse los múltiples aportes que realizaron las editoras del presente volumen sobre la cultura y la comunicación política. Henriette Van der Blom publicó Oratory and Political Career in the Late Roman Republic (2016), a su vez, junto con Catherine Steel editaron Community and Communication: Oratory and Politics in Republican Rome (2013), por su parte, Steel es autora de Roman Oratory (2006) y Christa Gray editó, en colaboración con Balbo, Marshal y Steel, Reading Republican Oratory: Reconstructions, Contexts, Receptions (2018). En Institutions and Ideology… analizan los contextos institucionales y los marcos ideológicos dentro de los cuales tuvieron lugar la producción de discursos públicos y la circulación de ideas en la Roma republicana. Las contribuciones compiladas en este volumen, presentadas en un ciclo de conferencias que tuvo lugar en Abril de 2014 en la ciudad de Londres, son el resultado del proyecto The Fragments of Republican Roman Oratory, financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Leia Mais
Serving Athena: the festival of the Panathenaia and the construction of Athenian identities | Julia L. Shear
L’oggetto di indagine della più recente monografia di Julia L. Shear nasce, come lei stessa informa i suoi lettori nella prefazione (p. xvii), da uno dei primi interessi di ricerca dell’Autrice. Già verso la fine degli anni Novanta, la studiosa si era dedicata alla comprensione storica del fenomeno delle Panatenee, seguendo la discussione sviluppatasi nell’ambiente accademico statunitense intorno all’interpretazione di J.B. Connelly del fregio del Partenone. Oggi, la ricca esperienza da lei maturata nei diversi campi che contribuiscono alla comprensione della storia della Grecia antica ha consentito all’Autrice di presentare i risultati di un lavoro il cui scopo non è semplicemente quello di scrivere una storia delle Panatenee (p. 34). Come si evince subito dal sottotitolo, lo studio si pone in linea con uno dei temi più attuali delle scienze dell’antichità e, più genericamente, delle scienze umane. Con questo studio, l’Autrice si rivolge, senza discostarsi dall’analisi dei realia, ad un aspetto spesso trascurato, ma fondamentale, della festa ateniese, ossia la sua capacità di innescare dinamiche relazionali in grado di fornire ai partecipanti modelli identitari. Serving Athena è dunque un’esaustiva ricostruzione storica delle Panatenee sensibile alla diacronia del fenomeno analizzato, ma anche un saggio di metodo che mostra come si possa arricchire la produzione storiografica contemporanea sulle società antiche grazie all’integrazione di categorie operative e modelli ermeneutici provenienti dalle scienze sociali. Leia Mais
The political lives of Victorian animals: liberal creatures in literature and culture | Anna Feuerstein
No cenário tecnológico e ambiental contemporâneo, sob a égide do conceito de Antropoceno, ascende a demanda pela problematização dos sentidos de “humanidade” e “humanismo”. Nessa perspectiva, a produção de conhecimento orienta-se para a exploração de objetos e abordagens que transcendem as sociedades humanas e as reposicionam em relação a outros sujeitos igualmente dotados de interioridade e agência.
Abraçando a pesquisa historiográfica e a crítica político-cultural, o trabalho de Anna Feuerstein, professora da Universidade do Havaí em Manoa, inscreve-se nesse contexto. The political lives of Victorian animals divide-se em duas vertentes principais: a incorporação dos animais na comunidade política liberal forjada ao longo do século XIX inglês e a representação da subjetividade animal pela produção intelectual da época. Leia Mais
Modernity in Black and White, art and image, race and identity in Brazil, 1890–1945 | Rafael Cardoso
Pensar modernidade nos grandes centros urbanos nas primeiras décadas do século XX é, principalmente quando se leva em consideração a perspectiva dos trabalhadores nacionais de origem afrodescendente, acompanhar o processo de reorganização do espaço urbano de forma a reproduzir os padrões europeus em detrimentos de influências culturais negras. As principais cidades do Brasil foram buscar inspiração, principalmente, nas referências francesas e mobilizaram os recursos possíveis para controlar as manifestações de origem africanas ou indígenas. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, em nome da modernidade, as populações empobrecidas foram empurradas para os locais mais distantes e sem estruturas, iniciando um processo histórico de marginalização nos principais centros urbanos.
Os pesquisadores do campo da História Social, a partir de diferentes olhares e fontes, observaram o entusiasmo de estadistas com a construção de grandes avenidas, o empenho de sanitaristas com o combate às epidemias que assolavam a população, além de práticas do cotidiano que possibilitaram a contenção de indivíduos não brancos em espaços que representariam o progresso da nação brasileira1. Entre os temas debatidos também destacaram o impacto dos imigrantes europeus nas dinâmicas sociais daquele período, que convergiam para a construção de um Brasil moderno embranquecido. A partir de ideias concebidas no pensamento raciológico europeu, parte da classe política e da intelectualidade brasileira passou a condicionar o lugar do país na modernidade à constituição de uma nação branca nos trópicos em um período de longo prazo. Leia Mais
Apocalypse and Anti-Catholicism in Seventeenth-Century English Drama | Adrian Street
As relações entre o pensamento político e religioso com o teatro moderno inglês são largamente discutidas nos trabalhos de estudos literários dos últimos trinta anos, sendo também pensadas na historiografia recente sobre o mesmo período. Desde a década de 1980, houve uma mudança nas produções sobre a Inglaterra Moderna, tanto nos estudos historiográficos quanto literários. No campo da História, a corrente pós-revisionista começava a se voltar para as continuidades, rupturas e negociações nos processos históricos da Inglaterra moderna, evitando as abordagens polarizadas das historiografias revisionista e whiggista2. Paralelamente, os estudos literários do Novo Historicismo rompiam com as análises puramente textuais do criticismo literário (ou Neo-crítica), defendendo uma análise do texto literário que se aproximasse do seu contexto político e social, entendendo a História como um fator fundamental para produção literária3. No que diz respeito à religião, os estudos recentes passaram a enfatizar as diferentes manifestações da linguagem religiosa na cultura impressa e visual4, inclusive observando a presença do catolicismo no pensamento e literatura inglesa ao longo da Época Moderna5. Leia Mais
Relativism in the Philosophy of Science | Mrtin Kusch
The Rehabilitation of the Uses of Relativism
Relativism in the Philosophy of Science, recently released in the Cambridge Elements series of the Cambridge University Press, offers a consistent and well-structured introduction to the study of the most effective forms of relativism in the last 50 years. However, the book goes beyond the usual expectations of introductions to any subject discussed: most introduction books present simplified and unreflective versions of the topic. Contrary to such reductionist approaches, condensed into the limited space of the 30,000 words allowed for the series’ books, Kusch presents an analysis that goes far beyond the set of addressed bibliography. The author transits through an infinity of titles chosen for his investigation with great competence, combining rigour and exactness when interweaving the different thinkers’ viewpoints, highlighting their due similarities and differences. Therefore, the restricted number of words in the edition and the extensive volume of sources – factors potentially prejudicial to the good progress of any intellectual production –, did not compromise the quality of the results achieved due to the author’s extensive knowledge of the subject. Based on the great intimacy with the object of study, Kusch went through the complex labyrinths of the theme with property and equipped with clear and objective language to facilitate the reader’s understanding of the density of the debate developed. Leia Mais
Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil | Yuko Miki
Yuko Miki | Foto: Fordham News |
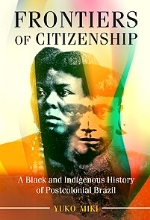
Frontiers of Citizenship, de Yuko Miki, já mereceria ser saudado por explorar essa primeira “fronteira”: a que separa a história de afro-brasileiros e de indígenas no Império do Brasil. Mais uma vez, o olhar estrangeiro nos ajuda a questionar os cânones da história nacional. Miki nascida em Tóquio, mas há muitos anos radicada nos Estados Unidos, onde é professora da Fordham University (NY), conta ao longo do livro o seu estranhamento em ver a história desses dois grupos tão apartada. Por outro lado, o livro – e especialmente seus comentários de contracapa – lhe atribuem muitas vezes uma originalidade que não é verdadeira. Muitos pontos – sobretudo em relação à história dos povos indígenas – podem ser pouco conhecidos do público estrangeiro, mas são absolutamente sabidos entre os historiadores brasileiros. A despeito disso, o esforço em buscar uma única interpretação, ou mesmo pontos de encontros, para a história de indígenas e afro-brasileiros escravizados é um ganho real.
Desde o início o livro chama a atenção por essa fusão que não está apenas na capa – uma bela arte de sobreposição de imagens de indígenas e afro-brasileiros – mas por se tratar de um volume da “Afro-Latin America” da Cambridge que tem como recorte espacial o vasto território conhecido na historiografia por ser aquele que foi alvo de D. João, em 1808, para se fazer guerra aos indígenas botocudos. Poucos territórios têm tão marcadamente um tema e uma cronologia: a guerra justa contra os botocudos e o período de 1808 a 1831, quando esta prática é extinta pelo Parlamento. Quase que exclusivamente tratado pela historiografia sobre os povos indígenas, é centro de discussão para as políticas indigenistas e as modalidades de trabalho imposta a estes povos. [4]
Miki implode esses parâmetros. Em primeiro lugar, avança a análise até o final do Império, permitindo revelar um quadro de mudanças muito mais complexo do que aquilo que se vê apenas até 1831, passando inclusive pelo Regulamento das Missões (1845) [5], o movimento abolicionista e a própria abolição. Ainda mais importante, Miki tenta enxergar essa região – que ela chama de “Fronteira Atlântica”, algo que problematizaremos adiante – como uma espécie de síntese, de um laboratório do Império. Afinal, foi ali que se abriu no começo do século XIX uma política generalizada de extermínio indígena. É verdade que isto jamais foi suprimido no Império português, mas especialmente depois de Pombal as políticas que tentavam transformar os indígenas em portugueses tornaram-se centro da estratégia do Império na disputa por territórios com Madri.
Ao mesmo tempo, o espaço colonial é o símbolo de uma mudança política com a vinda da Corte, Corte que não valorizava mais “zonas tampão” – papel que o território e os botocudos tinham ocupado até 1808 para impedir o desvio de pedras preciosas. Ao invés disso, o que se precisava era expandir-se “para dentro”, feliz expressão de Ilmar Mattos que fará ainda mais sentido já no Império do Brasil. [6] A expansão agrícola na “Fronteira Atlântica” é acompanhada de tentativas de implementação de novas alternativas de propriedade e trabalho. A mais famosa dessas iniciativas é a Colônia Leopoldina, incentivada pela própria Coroa através da vinda imigrantes e a distribuição de pequenas propriedades. A rápida transformação dessa experiência em apenas mais uma grande monocultura tocada com braços de escravizados afro-brasileiros, somada ao fato de ter se tornado um dos símbolos da resistência escravista, é extremamente destacado pela autora. Em alguma medida, o tom pessimista de toda a obra é sintetizado no “fracasso” da Colônia Leopoldina em manter-se com o trabalho livre.
Ainda que não dito explicitamente, Miki parece descrever um processo de mudança que nunca ocorre totalmente, como se o peso do passado fosse intransponível. A polissemia da palavra fronteira é habilmente explorada pela autora. A “Fronteira Atlântica” é a região que estuda. Os indígenas e afro-brasileiros estão fisicamente nesta fronteira, mas a sua cidadania também está em uma fronteira mais intangível, em uma área difícil de saber com clareza quem está dentro e quem está fora. Ainda que se valendo de análises já bastante conhecidas – sobretudo, de Sposito e Slemian [7] – Miki faz uma problematização dessa questão, lembrando que a constituição brasileira não era racializada. Ou seja, não era a cor da pele que determinava os direitos políticos. Por outro lado, condições jurídicas intrinsicamente ligadas à condição de homens e mulheres não brancos – como ser escravo ou considerado “selvagem” no caso dos indígenas – excluíam essas pessoas do “pacto político”. É apenas no final do livro – já discutindo o abolicionismo e o final do Império – que Miki deixa explícito que a negativa de direitos políticos para indígenas e negros era um projeto e não uma deficiência do sistema. Nesse ponto, há uma perfeita sintonia entre os projetos que analisa para indígenas e para os escravos após a abolição: em todos esses casos jamais se pensa em entregar terras e autonomia a esses povos. Ao contrário, a condição de subordinados, tutelados por fazendeiros ou religiosos é vendida como a única forma para impedir que ex-escravizados ou indígenas se entregassem ao ócio. Um discurso que se sustentou por décadas – e no caso dos indígenas, por séculos – e que ela registrou ecoar até mesmo entre os mais radicais abolicionistas da “Fronteira Atlântica”.
Se ao discutir a extensão da condição de cidadãos para indígenas e afro-brasileiros, Miki consegue uma análise mais integrada, o mesmo não acontece a respeito de outros aspectos. O exemplo mais evidente nesse sentido é o uso desses homens como mão de obra. Há, evidentemente, a demonstração de que em todo esse território havia o emprego significativo de indígenas e afro-brasileiros. No entanto, este são universos que estavam no mesmo território, mas que a narrativa organiza em sistemas produtivos bastante distintos. Ou seja, o enfoque para os indígenas está, de modo geral, nas missões e os escravizados afro-brasileiros nas fazendas. A pureza dessas separações tão estanques é difícil de acreditar em um território como esse. Bezerra Neto já mostrou que as fazendas monocultoras do Pará, por exemplo, sempre foram tidas como tocadas por mão de obra exclusivamente escravizada afro-brasileira, mas na verdade dividia os campos com indígenas. [8]
Antes que se diga que se trata das “excentricidades” do Cabo Norte, Marco Morel, em belíssimo e recente trabalho sobre os botocudos, justamente mostra como a sua mão de obra era frequentemente requisitada para os mais diferentes tipos de trabalho, ocupando frentes inclusive no entorno da Corte. Além do trabalho em obras públicas, Morel dá vários exemplos de como eram recorrentes as denúncias do emprego de indígenas em fazendas em toda essa região, muitas vezes desviados de instituições públicas sob a alegação de que era um método de civilização mais barato. [9] Para além disso, Miki passa ao largo da discussão mais interessante da historiografia recente: aquela que implode a visão dicotômica que separava todo o trabalho no Brasil do século XIX nas categorias de trabalho livre ou trabalho escravo. Em vez disso, há uma gigantesca zona cinzenta – não só no Brasil, mas em todo o mundo – em que homens livres são obrigados a trabalhar sob as mais diferentes formas de coerção, inclusive físicas. [10] Indígenas e afro-brasileiros eram especialmente alvo dessas ações que Miki totalmente ignora no livro.
Por fim, há ainda uma última consideração geral: a ideia de classificar esta região de ataque aos botocudos como “Fronteira Atlântica”. Miki insiste muito na ideia da fronteira, certamente influenciada pela tradição americana e critica o pouco uso desse termo na historiografia brasileira. No entanto, esta designação parece ter muitas fragilidades: no Império do Brasil, no processo de “expansão para dentro”, a fronteira é o recorrente e não a exceção. Nesse sentido, a região estudada por Miki parece estar longe de ser algo particularmente singular.
Mais especificamente sobre a distribuição dos capítulos é importante salientar que as suas divisões são temáticas, ainda que de modo geral a evolução dos capítulos também siga em alguma medida um avanço cronológico. Assim, o primeiro capítulo explora as “fronteiras da cidadania”, enquanto o segundo busca dar uma interpretação ao que ela chama de “política popular” (em tradução livre). Nos capítulos seguintes, outros temas giram em torno de tópicos como a mestiçagem, a violência, os “campos negros” e o abolicionismo. Os capítulos podem ser lidos separadamente, quase sem prejuízo do seu entendimento, o que por sua vez revela um problema de coesão da obra no seu conjunto. Também é peculiar a mistura de abordagens mais “estruturais” – como as discussões da cidadania a partir de documentos do centro político do Império – com narrativas totalmente focadas na “agência”. Especialmente nesse último ponto a obra encontra mais dificuldades. Há alguns insights maravilhosos, mas custa enxergar que alguns eventos possam ser usados para generalizações reiteradamente feitas.
Apesar das críticas, Frontiers of Citizenship é um livro que provoca muitas reflexões e incomoda ao buscar análises de ângulos inusuais. Isso por si só já basta para merecer a sua leitura.
Notas
3. Entre outras novas evidências, percebe-se o uso da mão de obra indígena mesmo em regiões irrigadas com escravizados afro-brasileiros, como São Paulo ou mesmo a região do Vale do Paraíba, pelo menos até um determinado período. Entre outros, veja LEMOS, Marcelo Sant’ana. O índio virou pó de Café? Resistência indígena frente à expansão cafeeira no Vale do Paraíba. Jundiaí: Paco Editorial, 2016; DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsório e escravidão indígena no Brasil imperial: reflexões a partir da província paulista. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 38, nº 79, 2018.
4. Para uma síntese, SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime português. Análise da política indigenista de D. João VI. Revista de História (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.
5. Trata-se da primeira lei para os povos indígenas como validade em todo o território do Império.
6. MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade política. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.
7. SPOSITO, Fernanda. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-45). São Paulo: Alameda, 2012; SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadãos? Os impasses na construção da cidadania nos primórdios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSÓ, István (org.). Independência: História e historiografia. São Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.
8. BEZERRA NETO, José Maia. Escravidão Negra no Grão Pará (séculos XVIII-XIX). Belém: Paka-tatu, 2012.
9. MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistência indígena. São Paulo: Hucitec, 2018.
10. Entre outros, MACHADO, André Roberto de A. O trabalho indígena no Brasil durante a primeira metade do século XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Ré, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). História e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.São Paulo: Publicações BBM / Alameda, 2020; Mamigonian, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017; LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma história global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013; STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991.
Referências
BEZERRA NETO, Jose Maia. Escravidao Negra no Grao Para (seculos XVIII-XIX). Belem: Paka-tatu, 2012.
DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsorio e escravidao indigena no Brasil imperial: reflexoes a partir da provincia paulista. Revista Brasileira de Historia. Sao Paulo, v. 38, nº 79, 2018.
LEMOS, Marcelo Sant’ana. O indio virou po de Cafe? Resistencia indigena frente a expansao cafeeira no Vale do Paraiba. Jundiai: Paco Editorial, 2016.
LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do Mundo: ensaios para uma historia global do trabalho. Campinas: UNICAMP, 2013.
MACHADO, Andre Roberto de A. O trabalho indigena no Brasil durante a primeira metade do seculo XIX: um labirinto para os historiadores. In: Henrique Antonio Re, Laurent Azevedo Marques de Saes e Gustavo Velloso. (Org.). Historia e Historiografia do Trabalho Escravo no Brasil: novas perspectivas. 1ed.Sao Paulo: Publicacoes BBM / Alameda, 2020.
MAMIGONIAN, Beatriz G. Africanos livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construcao da unidade politica. Almanack Braziliense, n. 01, maio de 2005.
MOREL, Marco. A Saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistencia indigena. Sao Paulo: Hucitec, 2018.
Resenha de MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018.
SLEMIAN, Andrea. “Seriam todos cidadaos? Os impasses na construcao da cidadania nos primordios do constitucionalismo no Brasil (1823 – 1824)”. In: JANCSO, Istvan (org.). Independencia: Historia e historiografia. Sao Paulo: Editora HUCITEC; FAPESP, 2005.
SPOSITO, Fernanda. As guerras justas na crise do Antigo Regime portugues. Analise da politica indigenista de D. Joao VI. Revista de Historia (USP), v. 161, p. 85-112, 2010.
SPOSITO, Fernanda. Nem cidadaos, nem brasileiros. Indigenas na formacao do Estado nacional brasileiro e conflitos na provincia de Sao Paulo (1822-45). Sao Paulo: Alameda, 2012.
STEINFELD, Robert J. The invention of free labor: the employment relation in English & American Law and Culture, 1350-1870. EUA, The University of North Carolina Press, 1991
André Roberto de A. Machado – Universidade Federal de São Paulo, Departamento de História. Guarulhos – São Paulo – Brasil. Professor do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. É graduado e doutor em História pela Universidade de São Paulo e realizou pós-doutorados no CEBRAP e nas universidades de Brown e Harvard. E-mail: andre. [email protected]
MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. New York: Cambridge University Press, 2018. Resenha de: MACHADO, André Roberto de A. Construindo fronteiras dentro das fronteiras do Império do Brasil. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021.
Becoming Free – Becoming Black: Race Freedom and Law in Cuba – Virginia and Louisiana | Alejandro de la Fuente e Ariela J. Gross
Ariela J. Gross e Alejandro de la Fuente | Foto: Medium |
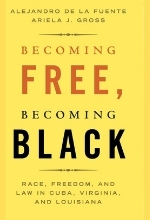
De partida, Gross e de la Fuente fazem de Frank Tannenbaum seu antagonista e, também, em menor grau, uma inspiração. Assim como em artigos publicados anteriormente, eles reforçam as críticas a Slave and Citizen, em especial às premissas teóricas, que atribuíram às normas escritas nas metrópoles um papel determinante dos rumos das sociedades coloniais. Igualmente contestada foi a projeção das diferenças raciais entre os Estados Unidos e a América Latina ao passado, como se decorressem de um devir inevitável, fundado pelos regimes jurídicos anglo-saxão e ibéricos. Por outro lado, tanto a historiografia revisionista (que preteriu o direito e a religião pela economia e a demografia) quanto os estudos recentes no campo da cultura legal, se limitaram a demolir o modelo de Tannenbaum, sem oferecer uma interpretação definitiva sobre as origens das diferenças raciais nas Américas. Assumindo o desafio, Gross e de la Fuente resumiram ainda na introdução seu postulado: não foi o direito da escravidão, mas o direito da liberdade o elemento crucial para a constituição dos regimes raciais no continente.[4]
Embora a maioria dos homens e mulheres escravizados jamais tenha rompido as correntes do cativeiro, a minoria que conquistou a alforria, constituindo comunidades negras livres, teria sido a chave para a construção da raça nas Américas. Gross e de la Fuente convidam o leitor a embarcar em uma longa jornada, que se inicia na travessia atlântica e na colonização de Cuba, Louisiana e Virgínia, perpassa as águas turbulentas da Era das revoluções, para enfim desembarcar nos regimes raciais do século XIX, cujos legados se estendem até hoje. Antecipando suas conclusões, os autores sustentam que as diferenças entre as três regiões não decorreram do reconhecimento da humanidade dos escravizados e tampouco da fluidez racial. O fator determinante teria sido o grau de sucesso das elites escravistas na imposição da relação entre branquitude e liberdade, e entre negritude e escravidão. O enunciado contém um dos principais manifestos políticos do livro, mas deixa uma questão em aberto-que será retomada adiante.
Os dois capítulos iniciais transitam pelas sociedades coloniais de Cuba, Virgínia e Louisiana, partindo do regime jurídico e da experiência espanhola das Américas. Embora as Siete Partidas reconhecessem a humanidade das pessoas escravizadas, o efeito prático do precedente social e legal dos ibéricos foi a definição prévia das distinções raciais por lei. A inversão do pressuposto de Tannenbaum é radical. A escravidão em Portugal e o princípio da limpeza de sangre na Espanha ofereceram aos ibéricos as pré-condições para o pioneirismo na criação de regimes legais racializados na América. Nesse ponto, os autores cederam em parte a Tannenbaum, identificando, na raiz romanista do direito ibérico, a alforria como instituição sólida. Mas incorporando as contribuições da historiografia recente, eles avançaram ao demonstrar como, em solo americano, foram os escravizados-no caso, os da ilha de Cuba-que fizeram da norma uma tradição e, por conseguinte, um direito.
Em paralelo, o colonialismo francês constituiu seu próprio regime no Caribe por meio das diferentes versões do Code Noir, que progressivamente restringiram tanto a alforria e os direitos das comunidades negras livres. À época da ocupação da Louisiana, a experiência e os precedentes normativos serviram à constituição do regime mais excludente do Império francês, mas que ainda assim não cerceou em absoluto a liberdade e o direito de negros livres, especialmente em Nova Orleans. A Virgínia, por sua vez não contou com precedentes legais ou experiências coloniais prévias. Sem incorporar os precedentes de Barbados e da Carolina do Sul, a colônia inglesa se converteu em uma espécie de laboratório, onde as diferenças raciais não estavam pré-determinadas jurídica ou socialmente. Invertendo mais uma vez as premissas de Tannenbaum, Gross e de la Fuente desvelam uma Virgínia relativamente aberta à prática da alforria e à formação de comunidades de negros livres no início do século XVII.
Privilegiando as fontes jurídicas, com destaque para as ações de liberdade, os autores esbanjam rigor metodológico sem comprometer a fluidez da narrativa de pessoas escravizadas que recorriam à justiça. Embora esse procedimento fosse comum nas três regiões no século XVII, ela se manteve constante em Cuba, enquanto rareou na Virgínia e na Louisiana no século XVIII, onde também aumentaram as restrições aos casamentos inter-raciais. De acordo com Gross e de la Fuente, essa progressiva distinção na trajetória das sociedades escravistas em questão não foi o resultado da pretensa benevolência ibérica, mas de razões econômicas, demográficas e de gênero. Eram principalmente as mulheres que conquistavam a alforria, predominantemente de forma onerosa, e consequentemente serviam à reprodução das comunidades negras livres. Os franceses precocemente haviam fechado o cerco às manumissões, embora incapazes de pôr fim à presença de negros livres em Nova Orleans. Enquanto isso, a Virgínia transitou gradualmente de uma sociedade desregulada para a mais restritiva das três, especialmente após a Rebelião de Bacon, em 1676.
Recuperando a interpretação de Edmund Morgan, segundo o qual as restrições visavam à solidariedade branca contra a aliança entre servos brancos, indígenas e negros, os autores acrescentam argumentos econômicos e políticos. A conversão da Virgínia em uma sociedade escravista começara antes mesmo da revolta, por conta do barateamento do preço de africanos em relação ao custo da servidão. Fortalecida, a elite virginiana conseguiu a um só tempo restringir as alforrias e solidificar a solidariedade branca na colônia, diferentemente de seus pares de Louisiana e de Cuba, que foram incapazes de abolir um precedente jurídico estabelecido. A consequência foi a formação de comunidades negras livres e miscigenadas de diferentes tamanhos nas três regiões, e não favorecidas pelas elites, mas maiores ou menores de acordo com sua capacidade de resistir aos esforços para evitá-las. No final do segundo capítulo, Gross e de la Fuente retomam sua hipótese, insistindo que as elites de Cuba, Virgínia e Louisiana tentaram igualar a raça negra à escravidão, pois enxergavam nos negros livres uma ameaça à ordem. As diferenças, contudo, não decorreram do precedente legal, mas das diferentes realidades sociais e demográficas que permitiram o maior sucesso na Virgínia e na Louisiana, e o menor em Cuba.[5]
Tema do terceiro capítulo, a Era das Revoluções consistiu no período de maior aproximação entre as três regiões, onde tanto as alforrias quanto as comunidades negras livres cresceram. Ao mesmo tempo, a escravidão avançou nos territórios, respondendo aos estímulos do mercado mundial. Em Cuba e na Louisiana, o paradoxo era apenas aparente, pois a alforria era uma tradição jurídica e socialmente vinculada ao cativeiro. Já na Virgínia a libertação de escravizados se associou ao ideário da independência. Enquanto as comunidades negras livres de Havana e de Nova Orleans eram fruto do Antigo Regime, a de Richmond respirava os ares da revolução. Consequentemente, as elites virginianas reagiram ao horizonte que se abria, seguidos por seus pares do Vale do Mississippi, recentemente integrados aos Estados Unidos e movidos pelos interesses açucareiros e algodoeiros. Entre 1806 e 1807, a promulgação do Black Code da Louisiana e de uma série de leis na Virgínia restringiram a alforria e os direitos dos negros livres, dando o tom de um regime racial que chegaria à maturidade em meados do século XIX, apartando em definitivo o modelo estadunidense do cubano.
O movimento esboçado nos Estados Unidos se agravou entre as décadas de 1830 e de 1860, das quais tratam os capítulos finais do livro. Neles, Gross e de la Fuente esboçam uma guinada metodológica, organizando-os a partir de eixos temáticos, em vez de compararem pormenorizadamente as ações de liberdade em cada um dos espaços. Nas páginas que seguem, os autores descrevem o recrudescimento das forças e discursos escravistas nos Estados Unidos, como reação ao avanço do abolicionismo e de revoltas como a de Nat Turner. A elite cubana enfrentou seus próprios inimigos, pressionada pela campanha da Inglaterra contra o tráfico de africanos e ameaçada frontalmente por um ciclo de resistência dos escravizados, que se estendeu da revolta de Aponte, em 1812, à de la Escalera, em 1844. As três elites compartilharam do temor de que se formassem alianças entre negros livres e escravizados, como ensaiado mais propriamente em Cuba. Por meio de leis restritivas à alforria, além de políticas de remoção das populações negras livres, para fora dos estados ou do país, as elites da Virgínia e da Louisiana deram passos largos no sentido da construção de um regime racial pleno, em que a negritude fosse sinônimo não apenas de degradação, mas do cativeiro. De acordo com os autores, houve esforços similares em Cuba, assim como ataques às comunidades negras livres, mas estes não foram sistêmicos ou capazes de cindir as mesmas linhas raciais dos Estados Unidos.
Na década de 1850, Cuba, Virgínia e Louisiana eram sociedades escravistas maduras, nas quais os negros eram tidos como social e legalmente inferiores. No entanto, o processo de destituição de direitos foi muito além nos Estados Unidos, dando forma a um regime racial particular, que destoava daqueles desenvolvidos na América Latina. Retomando o debate com Tannenbaum na conclusão do livro, Gross e de la Fuente, arrolaram as variáveis que incidiram sobre a diferenciação dos regimes nos três territórios. As tradições legais teriam tido o seu peso, embora não nos termos propostos em Slave and Citizen. Os ibéricos teriam sido pioneiros na criação de legislações raciais, mas o reconhecimento jurídico da alforria cindiu a brecha por onde mulheres e homens escravizados encontraram seus tortuosos caminhos para a liberdade. A agência dessas pessoas e a mobilização do direito “de baixo para cima”, portanto, teria cumprido um papel central, tão ou mais importante que o precedente normativo. Consequentemente, os negros livres de Cuba fizeram da tradição um direito e de suas comunidades uma realidade incontornável para a elite da ilha.
Nesse sentido, o fator determinante na formação dos diferentes regimes raciais, segundo os autores, foi o tamanho das comunidades negras livres, que pressionavam pelo reconhecimento de direitos e dificultavam o cerceamento das alforrias. Um segundo ponto levantado pelos autores foram os diferentes regimes políticos. A constituição de uma democracia liberal nos Estados Unidos entrelaçou os princípios da liberdade, da igualdade e da cidadania, tendo por contrapartida os esforços reacionários que negaram seu acesso à população negra. Enquanto a democracia branca se consolidava ao Norte, Cuba preservou sua condição colonial, assim como as hierarquias políticas locais. A liberdade de uma parcela minoritária de negros respondia antes a uma tradição do Antigo Regime do que à extensão da cidadania. Não havia necessidade de uma ideologia supremacista racial onde sequer vigia o pressuposto da igualdade.
Na conclusão, Gross e de la Fuente reforçam o postulado de abertura, segundo o qual as elites de Cuba, da Virgínia, da Louisiana buscaram constituir a dicotomia perfeita entre raça e escravidão. Frente à resistência das comunidades negras livres, nenhuma delas obteve o êxito pleno, mas as estadunidenses foram mais bem sucedidas. Não há dúvidas de que na Virgínia, na Louisiana e em grande parte do sul dos Estados Unidos, prevaleceram esforços nesse sentido. Mas a despeito de discursos e medidas legais apresentados pelos autores, não se depreende da narrativa e das fontes que a elite cubana tenha se dedicado à questão com o mesmo afinco. Em mais de uma passagem, Gross de la Fuente relativizam seu próprio enunciado, reconhecendo que as autoridades de Cuba preferiram não se contrapor à tradição legal e aos direitos de comunidades estabelecidas. Seguindo os passos dos próprios autores, é possível levar a questão além.
Se como dizem Gross e de la Fuente, os ibéricos foram pioneiros da constituição de regimes raciais legalizados, eles também foram os primeiros a conhecer os efeitos da alforria na escravidão negra nas Américas. A formação de comunidades negras livres não foi resultado de um projeto, mas das condições demográficas e da ação dos próprios escravizados. Por conseguinte, os ibéricos foram também os primeiros a usufruir desse arranjo social e racial que, na maior parte do tempo, contribuiu para a preservação do cativeiro. A proximidade entre negros livres e escravizados era um risco real, mas a experiência histórica revela que na maior parte das vezes, a aliança entre os livres de diferentes cores prevaleceu sobre a solidariedade racial, ainda mais em sociedades marcadas por um alto grau de miscigenação. O sucesso das elites estadunidenses em cindir as raças também conteve em si a chave de seu fracasso, reforçando a identidade e a solidariedade negra, que se voltaram contra a supremacia branca durante a Guerra Civil e tantas vezes após a abolição. Em contrapartida, o suposto fracasso da elite cubana, nos termos dos autores, conteve o segredo de seu sucesso. Afinal, o escravismo experimentado pelos ibéricos não foi apenas pioneiro nas Américas, mas o mais longevo, tendo perdurado em Cuba e no Brasil até o último quartel do século XIX. Não à toa, as elites desses países tantas vezes se valeram dos Estados Unidos como contraponto, para preservar suas próprias hierarquias sob o mito das “democracias raciais”.[6]
São os próprios autores que fornecem os dados e argumentos para esse breve contraponto. Em mais de uma passagem, eles descrevem a alforria como instituição escravista em Cuba, assim como reconhecem a hesitação das elites em cerceá-la. Ao enunciarem na introdução e na conclusão que as três elites escravistas compartilharam de um mesmo horizonte racial, Gross e de la Fuente miraram dois alvos. A crítica se voltou tanto às elites do passado, quanto aos discursos mais recentes que, na política e na historiografia, ainda se valem da escravidão e do racismo explícito nos Estados Unidos como um contraexemplo, a fim de sustentar a suposta benevolência do cativeiro e a pretensa harmonia das relações raciais na América Latina. A posição dos autores no debate público é mais do que bem-vinda, e contribui para a desmistificação do tema. De todo modo, o próprio livro revela como Cuba antecedeu e sucedeu o cativeiro na América do Norte, e como sua elite constituiu o seu próprio regime racial. Sem cindir a ilha entre o branco e o negro, ela preservou por mais tempo a escravidão valendo-se de um racismo velado, tão eficaz e talvez mais perverso que o estadunidense.
Nas derradeiras páginas do livro, Gross e de la Fuente alçam voo sobre os anos que se seguiram à abolição, contrastando os Black Codes e as Leis Jim Crow no Sul dos Estados Unidos com o relativo reconhecimento dos direitos dos negros em Cuba. Em seus termos, a transição da escravidão à cidadania resultou das lutas políticas dos negros de cada região. Nas entrelinhas, os historiadores convidam seus pares a desbravar o campo das relações raciais nas sociedades do pós-abolição, à luz de suas importantes contribuições. Trazendo mais uma vez Tannenbaum ao debate, Gross e de la Fuente concluem que o tecido de conexão entre o negro escravizado e o cidadão negro, no pós-abolição, não decorreu da relação entre “slave and citizen” mas de “black to black”. Como enunciado no título e na introdução, não teria sido o direito da escravidão, mas a mobilização do direito à liberdade pelos próprios sujeitos escravizados que selou o caminho para a construção, não só dos regimes, mas das identidades raciais. É possível questionar se o direito à liberdade existiria senão como contradição interna do direito da escravidão, em uma relação dialética. No entanto, foi por meio dessa inversão do prisma que Gross e de la Fuente miraram um velho debate sob um ângulo novo, trazendo à luz outros sujeitos e respostas.
Becoming Free, Becoming Black coroa os resultados de uma tradição historiográfica que trouxe à luz a complexidade da escravidão e das disputas sobre os sentidos da liberdade e da justiça nas Américas. Reivindicando os ganhos metodológicos e políticos da história “de baixo para cima”, e preservando no centro da narrativa os sujeitos escravizados e sua agência, Gross e de la Fuente deram um passo além. Instigados pelos debates postos no presente, ousaram revisitar os clássicos para oferecer respostas e questionamentos originais. Em tempos de crise das representações e de revisionismos históricos, Becoming Free, Becoming Black nos reabre uma janela ao passado, exibindo as raízes pérfidas de mazelas que ainda nos assolam. No entrepasso do caminhar de tantos homens e mulheres, os autores nos lembram das lutas pretéritas, e quiçá nos apontam possíveis caminhos para os embates que se anunciam no horizonte.
Notas
1. Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
2. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
3. Apenas para citar a principal referência dos autores, ver Rebecca J. Scott, Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005; e mais recentemente Scott, R., & Hébrard, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
4. Frank Tannenbaum, Slave and Citizen. Boston, 1992). Sobre as publicações anteriores de Gross e de la Fuente, ver De la Fuente, Alejandro, & Gross, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485. Gross, Ariela, & De la Fuente, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699. De la Fuente, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173. De la Fuente, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369.
5. Morgan, Edmund. American slavery, American freedom: The ordeal of colonial Virginia. New York: W.W. Norton &, 2003.
6. A título de exemplo, ver os discursos de representantes de Cuba e do Brasil sobre a questão dos negros livres, assim como suas divergências, em Berbel, Marcia., Marquese, Rafael, & Parron, Tamis. Escravidão e política: Brasil e Cuba, c. 1790-1850. São Paulo: Editora Hucitec: FAPESP, 2010. Sobre o racismo em Cuba no século XX, é o próprio Alejandro de la Fuente que sustenta a interpretação aqui esboçada. Ver Fuente, Alejandro de la. A Nation for All: Envisioning Cuba. The University of North Carolina Press, 2011.
Referências
DE LA FUENTE, A. (2010). From Slaves to Citizens? Tannenbaum and the Debates on Slavery, Emancipation, and Race Relations in Latin America. International Labor and Working Class History, 77(1), 154-173.
DE LA FUENTE, A. (2004). Slave Law and Claims-Making in Cuba: The Tannenbaum Debate Revisited. Law and History Review, 22(2), 339-369
DE LA FUENTE, Alejandro, & GROSS, Ariela. (2010). Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas. Annual Review of Law and Social Science, 6(1), 469-485.
GROSS, Ariela, & DE LA FUENTE, Alejandro. (2013). Slaves, free blacks, and race in the legal regimes of Cuba, Louisiana, and Virginia: A comparison. North Carolina Law Review, 91(5), 1699.
SCOTT, Rebecca. Degrees of Freedom: Louisiana and Cuba After Slavery. Cambridge, MA, 2005;
SCOTT, R., & HÉBRARD, J. Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age of Emancipation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012.
TANNENBAUM, Frank. Slave and Citizen. Boston, 1992).
Marcelo Rosanova Ferraro – Universidade de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil. Marcelo Ferraro é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e estuda a relação entre direito, violência e escravidão no Vale do Paraíba e no Vale do Mississippi no longo século XIX.
DE LA FUENTE, Alejandro; GROSS, Ariela J. Becoming Free, Becoming Black: Race, Freedom, and Law in Cuba, Virginia and Louisiana. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Resenha de: FERRARO, Marcelo Rosanova. O direito à liberdade e a dialética das raças nas Américas. Almanack, Guarulhos, n.27, 2021. Acessar publicação original [DR]
The Sexual Question: A History of Prostitution in Peru, 1850s-1950s | Paulo Drinot
A few years ago, while reviewing archival material on Valparaíso, Chile, I ran across reports of women engaging in sex work in temporary housing after the 1906 earthquake. The authorities quickly made it clear that sex work itself was not the main issue; much more important was where it was happening. I thought there was a much larger story to be told, but since I was researching a rather different topic, I took a picture and made a note of it. Paulo Drinot, in his new book The Sexual Question: A History of Prostitution in Peru, 1850s-1950s, takes on the subject of sex work in Peru and does so by drawing on an enormously wide range of sources, care for geography, and an attention to historical change from various angles. Leia Mais
Polis Histories/Collective Memories and the Greek World | R. Thomas
Las viejas certezas de la filología clásica sobre la decadencia de la historiografía helenística se han desdibujado no hace mucho tiempo. [1] Esta actitud negativa estaba basada en diversos prejuicios, en particular, en la convicción de que estas historias eran el producto de un estéril interés anticuario frente al pasado, de alcance estrictamente local y que, además, carecía por completo de la agudeza intelectual y el sentido político de la gran historiografía griega del siglo V a.C. Ese era el diagnóstico general. Con algunas excepciones notables, particularmente la de Polibio en el siglo II a.C., se pensaba que los escritos perdidos, bien perdidos estaban. El “Campo de ruinas” (Trümmerfeld) de la historiografía griega entre los siglos IV-II a.C. (Strasburger, 1977, pp. 14-15), del que podía rescatarse apenas un 2,5% del total de las historias escritas en aquellos siglos, en fragmentos y testimonios, fue metódicamente reconstruido por Felix Jacoby durante la primera mitad del siglo XX. Estos testimonios y fragmentos han comenzado a ser explorados en las últimas décadas con nuevos ojos. Leia Mais
Between Greece and Babylonia: Hellenistic Intellectual History in Cross-Cultural Perspective | K. Stevens
La cuestión de las relaciones entre griegos y nativos durante el período Helenístico ha llamado la atención de los estudiosos desde hace más de un siglo. En las últimas décadas se ha asistido a una renovación de este interés desde perspectivas post-constructivistas e interdisciplinarias, que han abierto nuevas vetas de investigación y han hecho progresar nuestro entendimiento de aquellas relaciones. Mesopotamia ha ocupado un lugar especial en estas consideraciones, en tanto para el momento en que los griegos establecieron una presencia permanente en la región, esta ya contaba con una larga tradición política e intelectual. Resulta sumamente interesante analizar la interacción de esta tradición local con aquella griega recién llegada, siendo una de las principales dificultades para el investigador el contar con la capacidad de acceder al registro de ambas culturas a la vez y poder establecer comparaciones. Leia Mais
Greek Religion and Cult in the Black Sea region | David Braund
Il volume è l’ultimo contributo prodotto nell’ambito del Black Sea History Project. Si tratta di una linea di ricerche sulla colonizzazione greca nella regione del Bosforo, che l’Autore porta avanti, con interessi di respiro storico-archeologico ed epigrafico-letterario, ponendosi come interlocutore di una consolidata tradizione di studi di matrice europea orientale. Il contributo intende analizzare il ruolo di due divinità centrali del Bosforo, Parthenos e Afrodite Urania, e l’impatto che i loro culti ebbero in termini di mediazione tra gruppi sociali di matrice greca e gruppi autoctoni, coesistenti nella regione pontica, in un arco di tempo che va dal V sec. a.C. all’epoca romana.
Il libro si compone di sei capitoli, preceduti da un’utile premessa introduttiva alla ricerca, che si sofferma in modo dettagliato sulla peculiare conformazione geomorfologica dell’aera protesa sullo stretto del Bosforo. Definendo l’aspetto della regione an extraordinary phenomenon (p. 2), l’Autore pone in risalto la presenza di aree acquitrinose e di rilievi che fungono da confini naturali per i gruppi che la abitano, e la particolare posizione dello stretto di mare, che divide il regno in due blocchi antistanti – le attuali Crimea e penisola di Taman’ – e legati rispettivamente ai culti delle due divinità trattate. Questi, i due poli religiosi e geografici attorno ai quali si snoda il contenuto dei capitoli di un volume che, complessivamente, non perde mai di vista la fondamentale interazione fra territorio, componenti sociali e dimensione religiosa. Leia Mais
The World Health Organization: a history | Marcos Cueto e Theodore M. Brown
La obra es el resultado de la colaboración estrecha, a través de casi dos décadas, de tres historiadores importantes, de dilatada y fecunda trayectoria, que han confluido felizmente para realizar un trabajo de alta calidad y envergadura, hasta tal punto que constituye una referencia obligada no solo para el estudio del organismo sanitario stricto sensu sino, a lo largo de todo el periodo histórico que abarca de la salud internacional todas sus facetas y, aún más, de la historia, los cambios en las políticas de carácter global, como señala Randall Packard en la contraportada. Y una ausencia dolorosa: la de Elizabeth Fee, fallecida cuando la obra ya estaba completa, pero que ha dejado su impronta en la misma.
Políticos, gestores, diplomáticos, sanitarios, son actores privilegiados de esta historia. Una historia que los autores se encargan bien pronto de decir que no se trata de una historia oficial o semioficial, como las que abarcando los diferentes decenios de la Organización Mundial de la Salud se han ido publicando. El estudio se apoya en muy abundantes y muy bien escogidas fuentes primarias – muchas archivísticas e inéditas (una relación de las cuales se encuentra en p.341-351), incluyendo testimonios orales de personalidades tan emblemáticas cono Halfdan Mahler o Ilona Kickbusch. Leia Mais
Kant on the Rationality of Morality – GUYER (M)
GUYER, Paul. Kant on the Rationality of Morality. Cambridge University Press, 2019. 73pp. Resenha de: CARVALHO, Vinicius. Manuscrito, Campinas, v.43 n.2 Apr./June 2020.
In his contribution to the Cambridge Elements: The Philosophy of Immanuel Kant series, Paul Guyer contends that Kant derives the fundamental principle of morality (in this case, the formulas of the categorical imperative) and the object of morality (the highest good) from the application of the most fundamental principles of reason: the principle of noncontradiction, of sufficient reason, and, to a lesser extent, the principle of excluded middle. The fundamental fact that ought not to be denied by any rational agent – on pain of self-contradiction – is that oneself and others have a free will, in other words, that they have the capacity to freely set and pursue their own ends. Guyer argues that Kant grounds his whole moral theory upon this fact, and that the application of the fundamental principles of reason to it gives us the principle and the object of morality. In what follows, I will summarize each of the book’s chapters, discussing some of its claims when I see fit.
In the second chapter – Reasons, Reasoning and Reason as Such, the first chapter being the introduction – Guyer discusses past approaches about the relation between the fundamental principles of morality and reason for Kant. For instance, philosophers such as Christine Korsgaard and Allen Wood emphasize that rational actions are actions based on reasons, and that genuine reasons are universally valid norms, valid for everyone, everywhere. Kant would have gotten the requirement to act on universally valid reasons from the observation that this is what characterizes rational action. Onora O’Neill also emphasizes the same requirement for universalizability, though she supports her reading not by appealing to the notion of a reason in particular, but to the notion of reasoning in general, in her well-known account of Kant’s conception of reason in the Canon of Pure Reason from the first Critique2. In my view, Guyer correctly criticizes an aspect of O’Neill’s reading on this point: it is not the case that we “invent and construct standards for reasoned thinking and acting”3all the way down. Pace O’Neill, Guyer argues that it is certainly the case that Kant did not believe that the application of the principles of rationality were sufficient to arrive at substantive metaphysical conclusions: this is one of the features of dogmatism he so fiercely denounced. But he certainly regarded some formal principles of reason as “necessary conditions of reasoning because they are the fundamental principles of reason” (p. 9). So, even though Guyer agrees with these interpreters about the importance of the requirement of universality when it comes to morality, his argument will be that this requirement is the result of the application of some even more fundamental principles, beginning with that of noncontradiction.
The third chapter – From Noncontradiction to Universalizability – shows exactly how that is so. First, Guyer shows that Kant followed the philosophical tradition of his time in accepting the principle of noncontradiction as the first principle of reason (and the principle of sufficient reason as the second). Indeed, Kant is quite clear on this matter in his lectures on Logic (especially in the Jäsche Logik) and at some points in the first Critique4. But to which concepts and pairs of judgment need we apply this principle to derive the principle of morality? In the preface to the Groundwork, Kant says that for any moral law, its “ground of obligation” must be sought “a priori simply in concepts of pure reason” (GMS, AA 04: 389), and in the second section of the work he clarifies that this a priori concept is the concept of a rational being (GMS, AA 04: 412). More precisely even, it is the concept of a rational agent, which is a rational being with the capacity to act according to the representation of certain laws, for the sake of certain ends (GMS, AA 04: 426-7). According to Guyer:
Kant’s argument will then be that the fundamental principle of morality can be derived from the application of the principle of noncontradiction to the concept of a rational agent as one capable of setting its own ends. This capacity must be affirmed of any rational agent and cannot be denied without contradiction. (p. 17)
Guyer’s point is that a maxim is immoral whenever its proposed action entails some belief that contradicts the fact that agents have free will. Take the lying promise situation – in which an agent makes a promise with no intention of keeping it – as an example. Kant says that in such a world, in which everyone makes lying promises whenever it suits their interests, no one would accept promises at all. The practice of making promises in general would cease to exist because one of its necessary conditions (i.e., that the promisee trusts the promisor) is gone. Thus, in making a false promise an agent virtually robs the possibility of everyone else making any promises. It undermines their freedom by making it impossible for them to take part in a social practice in which they have chosen to participate5. It treats other people as if they were not fully free agents. According to Guyer, this shows that “the necessity of avoiding contradiction between a proposed maxim and its universalization is a consequence of the necessity of avoiding contradicting the nature of rational beings as persons with free will” (p. 24). Although Kant does not explicitly say this in the Groundwork, Guyer takes as textual evidence (a) the fact that Kant says of immoral maxims that when universalized they either contradict themselves, or that they entail practices that are inconsistent with some fundamental characteristic of rational agents (see GMS, AA 04: 423-4), and (b) Kant’s treatment of the duties not to commit suicide, to help others in need, and to develop one’s talents in the Metaphysics of Morals (see MS, AA 06: 451; 453).
Since Kant’s treatment of duties in that latter work relies more heavily on the Formula of Humanity (FH) rather than the Formula of Universal Law (FUL), because the nature of rational agents as free agents (ends-in-themselves) is explicit in the former formula, Guyer says: “Thus Kant’s requirement of universalizability follows from the formula of humanity and is ultimately grounded in the law of noncontradiction because the latter is.” (p. 23). I believe this deserved a bit more clarification by the author, though, for the question “how could the requirement of universalizability expressed by FUL follow from FH if the latter is presented after and as a ‘development’ of the first formula?” comes straight to the reader’s mind. A possible answer would be that the derivation of FUL already relies upon the premise that rational agents are free agents, who express their freedom in their adoption of maxims. The evidence for this is Kant’s distinction, already at the beginning of the derivation, between imperfect and perfect wills (GMS, AA 04: 412). It is precisely because rational agents with imperfect wills are free to adopt whatever maxims they propose to themselves that the principle of morality – to choose only maxims apt for universal legislation – is presented as an imperative. In any case, I believe this point should have been more fully developed by the author. The chapter ends with a brief treatment of Kant’s deduction of the freedom of the will at the third section of the Groundwork, where Kant argues that we cannot but regard ourselves as beings with free will when we apply the distinction (argued for in the first Critique) between world of sense and intellectual world. The fact that we know that we are free agents (from the practical point of view) is what produces a self-contradiction whenever we adopt a maxim that entails some belief or other that is inconsistent with this knowledge.
The fourth chapter – The Principle of Sufficient Reason and the Idea of the Highest Good – shows how Kant got his conception of the highest good through the application of the second fundamental principle of reason, that is, the principle of sufficient reason, according to which there is an adequate explanation for every fact. Guyer first discusses how Kant refuses the traditional use of this principle as it was employed by the rationalists, for the application of this principle is warranted only within the limits of possible experience. But, according to Guyer, he accepted the use of this principle when it came to matters of morality. More precisely, Kant claimed that the application of this principle lets us theorize about the “unconditional”, which, in this case, means that we can apply this principle to think about the complete and systematic consequences of morality. For Kant, this means that we are drawn to the idea of the highest good, a condition in which “universal happiness [is] combined with and in conformity with the purest morality throughout the world.” (TP, AA 08: 279).
Throughout the chapter, Guyer defends his interpretation on how to read Kant’s conception of the highest good and his argument for it. He shows that Kant applies this principle in two ways: first, to show that morality is a condition on the pursuit of happiness. Kant does not ground moral worth in possible or actual good consequences of actions. Some action might bring a great deal of happiness (whatever we understand ‘happiness’ to mean), but its accomplishment is constrained by moral considerations, such as if it respects the nature of those involved as ends-in-themselves. In the second case, happiness is conceived as the complete object of morality: since happiness is the satisfaction of all possible ends (GMS, AA 04: 418; KpV, AA 05: 25) and the nature of rational agents is that they set themselves their ends, then “the moral command to preserve and promote the capacity to set ends is in fact equivalent to a moral command to promote happiness … [happiness is] what morality commands in the first instance, but not, as it turns out, all that it commands” (p. 37). This is why, in Kant’s words, “pure practical reason … seeks the unconditioned totality of the object of pure practical reason, under the name of the highest good” (KpV, AA 05: 108). It is important to keep in mind here that happiness commanded by morality under the concept of the highest good is not happiness simpliciter, that is, the mere satisfaction of contingent ends, but that it is limited by moral considerations. This conception of the highest good as the object of morality also leads Kant to develop what he thinks to be the necessary conditions for the attainment of this object. The three ideas of pure reason that were discussed in the Dialectic of the first Critique now receive the status of postulates of practical reason: the immortality of the soul, freedom of the will and the existence of God are propositions that, for Kant, cannot be theoretically proven, but which we must accept because they are necessary conditions to the realization of morality’s object, the highest good. The end of the chapter is devoted to show how Kant eventually shifted position regarding the role of the postulates, especially in his latter writings from the 1790’s.
In the fifth chapter – Rationality and the System of Duties -, Guyer argues that Kant’s treatment of duties show that he also took the ideal of systematicity to be part of his conception of reason and rationality. That this ideal is essential to Kant’s philosophy is clear from the Appendix to the Transcendental Dialectic (see KrV A 642/B 670), and in his practical philosophy we can see this ideal at work in many occasions. First, there is the requirement that an agent adopts not only one maxim apt for universal legislation, but that all his maxims satisfy this requirement (GMS, AA 04: 432). Second, there is the requirement that all ends of all agents be compatible, as well as that each agent be treated as an end-in-itself, as expressed in the Formula of the Realm of Ends (GMS, AA 04: 433). And third, there is the suggestion that the supreme principle of morality must be able to offer a complete division and characterization of the generally recognized classes of duties6, that is, into (a) perfect and imperfect duties (GMS, AA 04: 423-4), and (b) both duties of virtue (noncoercively enforceable) as well as duties of right (coercively enforceable). Granted, Kant seems to use in general two different principles to derive these duties, focusing on FUL in the Groundwork and on FH in the Metaphysics of Morals. But, as Guyer argues, these principles are supposed to be interchangeable and at least coextensive when it comes to the duties they entail. The most important point of the chapter, however, is the explanation of why we might need a system of duties. Showing that Kant followed in important aspects George F. Meier’s treatment of duties, Guyer argues that the systematic classification of duties, combined with the application of the principles of noncontradiction and excluded middle – the principle that ought implies can as well, but this one is not usually explicitly stated by Kant – are what allows Kant to deny the possibility of conflict of duties, in other words, genuine moral dilemmas. Thus, Guyer says:
Here is where Kant might have brought in the principle of the excluded middle as well as that of noncontradiction: whereas the latter principle tells us that two contrary duties, that is, duties to perform two incompatible acts at the same time, cannot both be duties (on the ground that we cannot have an obligation to perform the impossible), the former would tell us that we have to perform one of these duties. (p. 47)
This chapter ends with a discussion of Kant’s ideal of systematicity both in the theoretical and in the practical uses of reason as presented mainly in the third Critique.
The sixth chapter – Reason as Motivation – explains how, for Kant, pure reason can motivate action. Guyer shows that Kant’s disagreement with Hume about the role of reason in action, though substantial, is not complete. Whereas Hume thought that reason was motivationally inert and could not lead us to action – only sentiments and “passions” could -, Kant thought that pure reason could be practical. Indeed, this is necessary for any action to have moral worth: “What is essential to any moral worth of actions is that the moral law determine the will immediately” (KpV, AA 05: 71). But this does not mean that reason motivates us to action without any feelings being involved, for Kant also says that “every determination of choice proceeds from the representation of a possible action to the deed through the feeling of pleasure and displeasure, taking an interest in the action or its effect” (MS, AA 06: 399). Guyer explains this apparent inconsistency by arguing that we must place Kant’s theory of motivation within his transcendental idealism, specifically the distinction between noumenal and phenomenal selves. The moral law does determine the will immediately because this happens when we choose to adopt the moral law as our “fundamental maxim” (RGV, AA 06: 36) and when we are conscious of it “whenever we draw up maxims of the will for ourselves” (KpV, AA 05: 29). But when it comes to choosing particular maxims, this happens through the intermediation of the feeling of respect, which is a self-wrought feeling, caused by reason, that acts as a counterweight in favor of the moral law against the motivational pull of inclinations (GMS, AA 04: 401). Thus, Guyer says that “reason produces action – this is Kant’s disagreement with Hume – but it does so through the production or modification of feeling – here is Kant’s agreement with Hume” (p. 53). In the rest of the chapter, Guyer discusses Kant’s fuller theory of motivation as presented in the Metaphysics of Morals, which involves the exercise and cultivation of a class of feelings that are sensible to the determination for action through the concept of duty, namely: moral feeling, conscience, love of others or sympathy, and self-respect or self-esteem. Thus, Guyer joins others who have consistently pointed out that any interpretation that represents Kant’s ethics as devoid of any place for feelings and emotions is seriously flawed.
In the seventh chapter – Kantian Constructivism -, Guyer discusses the metaethical implications of his interpretation, especially in the realism versus antirealism debate concerning Kant’s moral theory. Appropriately, the author first makes sure to distinguish semantic realism from ontological realism. This fundamental distinction is unfortunately not always drawn in discussions of Kant’s metaethics, causing many unnecessary disagreements. Guyer claims that Kant is clearly a semantic realist: for him, judgments about right and wrong, good or bad, are not indeterminate in their truth-value, and they can be correctly inferred from previous moral judgments and principles. In other words, there are correct and incorrect answers to moral questions, i.e., questions of permissibility, worthiness, etc. The real hornet’s nest is when it comes to the following problem: in virtue of what are some moral judgments true? Is it due to some metaphysical fact independent of us, or is it the result of the application of some constructive procedure?
The latter position was famously defended by John Rawls, who labeled the method employed in his political philosophy Kantian Constructivism. Defenders of a constructivist reading of Kant’s metaethics claim that he derived the principles of morality from a mere conception of practical reason or reason in general. On the other hand, those who prefer the (ontological) realist view say that what ultimately grounds morality and from which Kant derives its principles is the fact that rational agents are ends in themselves, “or that human freedom is intrinsically valuable” (p. 64). As Guyer points out, and I am in very much agreement with him on this point, the method by which Kant derives particular moral duties constitutes a form of constructivism: we infer particular duties by applying the different formulas of the moral law to our specific circumstances7. Therefore, we can say that Kant is a normative constructivist.8 But it is not so clear whether he is a metaethical constructivist. Some argue that what grounds the moral law is the fact that rational agents are free, which gives them an irreducible value, outside the purview of construction, upon which morality is grounded9. For Guyer, Kant’s position regarding the nature of the fundamental principle of morality should be seen as a realist position: this fundamental principle is ultimately derived from the application of the principle of noncontradiction to the fact that rational agents have free wills, a fact that obtains independently of any procedure of construction. But he claims that this does not fit well with what we contemporarily regard as moral realism, for this fact is not a specific moral one, nor is it Kant’s position that there is something of value in the world independent of evaluative attitudes. About this, Guyer says:
This is a fact, in Kant’s own words a “fact of reason”, but it is not a mysterious moral fact, or a value that somehow exists in the universe independently of our act of valuing it. It is simply a fact that cannot be denied on pain of self-contradiction, since, Kant assumes, in some way we always recognize it even when by our actions we would deny it. Whether Kant succeeded in demonstrating this fact is a question; but there is no question that he regards our possessions of wills as a fact from which moral theory must begin. Thus we can say that as regards its fundamental principle, Kant’s moral philosophy is a form of realism, though not specifically moral realism. (p. 64)
As the author points out both in this last chapter and in the second, it is one thing for Kant to show how the principles and the final object of morality are derived from the fact that we are free agents combined with the requirement to respect the fundamental principles of reason; it is quite another thing for him to demonstrate that we are, indeed, free agents. That would be the subject of a much longer and detailed study, which falls out of the scope of the book, let alone of this review. Kant on the Rationality of Morality is a short but insightful book. Its discussions bridge Kant’s theoretical and practical philosophies, and they offer an original argument for one of the most important interpretative problems of the Groundwork, the derivation of the principles of morality. I recommend it especially to those who prefer to read Kant’s ethics as not so dependent on the significant metaphysical and epistemological theses of his transcendental idealism; as well, of course, to those interested in moral theory in general.
References
Kant, I. Gesammelte Schriften. Hrsg.: Bd. 1-22 Preussische Akademie der Wissenschaften, Bd. 23 Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, ab Bd. 24 Akademie der Wissenschaften zu Göttingen: Berlin, 1900ff. [ Links ]
_____ “The Jäsche Logik”. (Log). In: Lectures on Logic. Translated by J. Michael Jung. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. [ Links ]
_____ Groundwork for the Metaphysics of Morals. (GMS) Translated by Mary Gregor and Jens Timmermann. Cambrigde: Cambridge University Press, 2011. [ Links ]
_____ Critique of Pure Reason. (KrV). Translated by Paul Guyer and Allen Wood. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. [ Links ]
_____ “Metaphysics of Morals”. (MS) In: Practical Philosophy. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. [ Links ]
_____ “Critique of Practical Reason”. (KrV) In: Practical Philosophy. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. [ Links ]
_____ “On the common saying: That may be correct in theory, but is of no use in practice”. (TP) In: Practical Philosophy. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. [ Links ]
_____ Religion within the Boundaries of Mere Reason. (RGV) Translated by Allen Wood and George di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. [ Links ]
Herman, B. “Leaving Deontology Behind”. In: The Practice of Moral Judgement. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1993, pp. 208-240. [ Links ]
Korsgaard, C. The Sources of Normativity. Edited by Onora O’Neill. Cambridge: Cambridge University Press , 1996. [ Links ]
Timmons, M. “The Categorical Imperative and Universalizability”. In: HORN, C; SCHÖNECKER, D. (eds.) Groundwork for the Metaphysics of Morals. Berlin: Walter de Gruyter, 2006, pp. 158-199. [ Links ]
O’Neill, O. Constructions of Reason. Cambridge: Cambridge University Press , 1989. [ Links ]
_____ “Autonomy, Plurality and Public Reason”. In: BRENDER, N; KRASNOFF, L. (eds.) New Essays on the History of Autonomy: A Collection Honoring J. B. Schneewind. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 181-194. [ Links ]
Schönecker, D; Schmidt, E. “Kant’s Moral Realism regarding Dignity and Value: Some Comments on the Tugendlehre.” In: SANTOS, R; SCHMIDT, E. (eds.) Realism and Antirealism in Kant’s Moral Philosophy. Berlin: Walter de Gruyter , 2018, pp. 119-152. [ Links ]
Street. S. “Constructivism about Reasons” In: SHAFER-LANDAU, R. (ed.) Oxford Studies in Metaethics, vol. 3, 2008, pp. 207-245. [ Links ]
Wood, A. Kantian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press , 2008. [ Links ]
Notas
1This work was supported by grant 2019/21992-8, São Paulo Research Foundation (FAPESP).
3 O’Neill, 2004, p. 187.
4Log, AA 9: 51 and KrV, A 150/B 189; A 151-2/B 191. References to Kant’s texts follow the standard: abbreviation of the work, followed by their number in the Akademie volumes and their corresponding pagination. Except for the Critique of Pure Reason, quoted with reference to the pagination of its first (A) and second (B) editions. All quotations of Kant are taken from the Cambridge editions.
5 Barbara Herman (1993, p. 215) gives a similar explanation: “A condition of choice that could not be accepted by all rational agents would be: doing x where the possibility of x-ing depends on other rational agents similarly situated not doing x. This is the condition standardly found to be the ground of choice of the deceitful-promise maxim”.
6Right after stating FUL, Kant says: “Now, if from this one imperative all imperatives of duty can be derived as from their principle, then, even though we leave it unsettled whether what is called duty is not such an empty concept, we shall at least be able to indicate what we think by it and what the concept means” (GMS, AA 04: 421). For an argument that FUL cannot adequately provide a general classification of duties, see Timmons (2004).
7“ … moral philosophy … gives him [the human being], as a rational being, laws a priori; which of course still require a power of judgment sharpened by experience <durch Erfahrung geschärfte Urtheilskraft>, partly to distinguish in what cases they are applicable, partly to obtain for them access to the will of a human being and momentum for performance …” (GMS, AA 04: 389). See also MS, AA 06: 217.
8I am borrowing this notion from Street (2008).
9For such a realist reading of Kant, see Schönecker and Schmidt (2018).
Vinicius Carvalho – University of Campinas Department of Philosophy Campinas – S.P. Brazil [email protected]
Frontiers of Citizenship. A black and Indigenous history of Postcolonial Brazil – MIKI (FH)
MIKI, Yuko. Frontiers of Citizenship. A black and Indigenous history of Postcolonial Brazil. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 314p. Resenha de: SANTOS, Murilo Souza dos. “Fugir para a escravidão”: Geografia insurgente e cidadania na fronteira do Brasil pós-colonial. Faces da História, Assis, v.7, n.1, p.493-497, jan./jun., 2020.
Há um esforço recente, e cada vez mais imperioso entre os pesquisadores, de questionar a maneira pela qual história e antropologia estudaram as populações indígenas e afrodescendentes na América Latina. Fruto de uma política colonial que tratava índios e negros separadamente, outrossim perpetuada nos regimes de governos subsequentes, a tradicional análise dessas populações restou seccionada e, frequentemente, dicotômica (WADE, 2018). Por objetivar explorar as temáticas de raça, nação e, sobretudo, cidadania por meio das interconexões entre as histórias de negros e indígenas, Frontiers of Citizenship: a black and Indigenous history of Postcolonial Brazil, de Yuko Miki, é um livro que se insere nesse esforço novo e promissor. Entre os diversos prêmios e honrarias que recebeu até o momento, estão o Wesley-Logan Prize em História da Diáspora Africana, concedida pela American Historical Association, e o Warren Dean Memorial Prize como o melhor livro sobre História do Brasil publicado em inglês, dado pela Conference on Latin American History (CLAH), que lhe concedeu, ainda, menção honrosa no Howard F. Cline Prize, dedicado à Etno-História da América Latina.
A pesquisa que resultou nesse livro é também motivada por um segundo incômodo da autora: a compreensão de que a historiografia brasileira não teria dado a devida atenção às fronteiras, espaço no qual, segundo ela, a relação entre raça, nação e cidadania havia sido de fato testada e definida diariamente (MIKI, 2018, p. 8). Com isso em mente, Yuko Miki elege como espaço de observação o que ela escolheu chamar de fronteira atlântica: uma região que, embora jamais tenha aparecido nas fontes sob tal denominação, corresponderia ao contorno da Mata Atlântica original do sul da Bahia e Espírito Santo. Outrora proibida pela Coroa portuguesa, essa região se tornou objeto de uma colonização agressiva com o avançar do século XIX.
Os seis capítulos que compõem Frontiers of Citizenship estão estruturados em torno de um embate de visões. De um lado, as elites brancas, que pretendiam homogeneizar o povo brasileiro a fim de que fosse encaixado em uma definição pré-definida de cidadania; do outro, negros e índios, que disputavam a definição de cidadania, para que o povo, na sua heterogeneidade, nela pudesse ser incluída. Dessa maneira, enquanto o primeiro capítulo analisa os debates parlamentares acerca da definição notavelmente inclusiva de cidadania inscrita na Constituição de 1824 para contrastar com a exclusão implícita que ela pressupunha, o segundo foca nos índios e negros da fronteira atlântica para examinar como eles reagiam diante das exclusões geradas na prática. Essa intercalação está presente em todo o livro.
O segundo capítulo faz, ainda, uma análise estimulante acerca da percepção que muitos negros e indígenas tinham da monarquia como fonte de justiça e proteção, ao ponto de inúmeras revoltas terem sido desencadeadas pela forte ressonância dos boatos de emancipação. Todavia, a menos que se considere o crescendo de violência que caracteriza a expansão do Estado no período como consequência das formas de resistência adotadas por negros e índios, Yuko Miki fica longe de cumprir com o principal objetivo assumido para esse capítulo, qual seja o de “demonstrar como a expansão do Estado foi moldada pelas mesmas pessoas que procurou excluir” (MIKI, 2018, p. 25, tradução nossa).
Os capítulos terceiro e quarto se complementam no objetivo de mostrar que a adoção da mestiçagem como meio de criar um povo brasileiro homogêneo implicava tanto na crescente inclusão desigual dos negros escravizados quanto na efetiva extinção dos índios. Assim, o terceiro capítulo argumenta que as elites urbanas combinaram o indigenismo romântico e a nova ciência antropológica com a expressão das leis para criar uma situação legal, na qual “para se tornar cidadãos, os índios precisavam ser civilizados e, uma vez civilizados, não eram mais índios” (MIKI, 2018, p. 133, tradução nossa). O quarto, por sua vez, demonstra as consequências práticas desse projeto de mestiçagem por meio da comparação de dois casos de violência oriundos da fronteira atlântica: de um lado, a erosão do poder dos proprietários de escravos sobre eles; do outro, a transformação dos índios no Brasil pós-colonial em corpos matáveis.
O ponto principal do livro está nos capítulos quinto e sexto, cujo sentido é mostrar que a perspectiva de liberdade negra e autonomia indígena se tornaram inseparáveis da luta pela terra. No quinto capítulo, Yuko Miki observa que, nos anos finais da escravidão, muitos quilombolas criaram assentamentos tão próximos da região na qual estavam legalmente escravizados que se podia ouvir seus batuques à noite. A partir dessa constatação, e inspirando-se na ideia de geografia rival, elaborada por Edward Said e usada pelos geógrafos para descrever a resistência à ocupação colonial, Miki formula o conceito de geografia insurgente para designar a prática política que ela entende como “fugir para a escravidão” (fleeing into slavery, no original). Seria por meio da geografia insurgente, do fugir para a escravidão e não para longe dela, que as pessoas escravizadas deixaram de resistir à sociedade escravista para, finalmente, desafiá-la por dentro; vivendo como pessoas livres em seu meio e, desse modo, expressando “os termos pelos quais queriam viver na sociedade brasileira” (MIKI, 2018, p. 214, tradução nossa).
Por seu turno, no sexto capítulo, a autora observa que, apesar das divergências de opiniões quanto ao futuro dos indígenas e libertos, tanto missionários quanto abolicionistas e escravocratas compartilhavam a visão de que eles deveriam ser disciplinados para uma cidadania limitada e fundamentalmente servil. A iminência da abolição revigorou o interesse das elites pela possibilidade de transformação dos indígenas em “cidadãos úteis” por meio da disciplina do trabalho conjuntamente à negação do acesso à terra (os mesmos termos que posteriormente seriam reproduzidos nas discussões sobre os libertos). Tal confluência de pontos de vista teria ajudado a conjugar, do outro lado, as perspectivas de negros e indígenas. Para a autora, a forma como eles interpretaram liberdade e cidadania não apenas repreendeu radicalmente essas ideias racializadas, naquele contexto, como teve repercussões duradouras no período republicano.
Como se pode ver, o conceito de geografia insurgente é central para a tese defendida em Frontiers of Citizenship. Sua pressuposição é a de que a convivência na comunidade do quilombo teria transformado a consciência de liberdade numa prática política coletiva pela qual as pessoas escravizadas reimaginaram suas vidas como pessoas livres dentro da própria geografia em que estavam destinados a permanecer escravizado (MIKI, 2018, p. 174). Interessa mostrar, finalmente, que os escravizados não apenas lutavam para proteger o que lhes eram pessoalmente importantes, mas, muito além, eles afirmavam uma visão específica da política de cidadania e anti-escravidão (MIKI, 2018, p. 26). De que maneira? Yuko Miki sabe que a multiplicidade de motivos que levavam os escravizados a fugir em pouco se confunde com semelhante ideologia. A engenhosidade do conceito de geografia insurgente está justamente na capacidade de transformar uma motivação factível, “a luta pela geografia”, em um significante para a cidadania (MIKI, 2018, p. 251), ainda que para tal inferência não haja indícios capazes de sustentá-la. Já no epílogo, a autora nos lembra que, com a Constituição de 1988, o direito à terra se tornou, legalmente, um meio para reivindicar uma cidadania plena. O problema que se coloca, em suma, é que se, por um lado, tal conquista é verdadeira, por outro, soa forçoso dizer que tal associação foi forjada conscientemente pelos afro-brasileiros no período de escravidão e pré-emancipação (MIKI, 2018, p. 257). Dessa maneira, o que seria a mais importante contribuição do livro fica reduzida a uma ilação ou, mais apropriadamente, à amostra de um equívoco metodológico denominado por Frederick Cooper como ultrapassar legados, isto é, “afirmar que algo no tempo A causou algo no tempo C sem considerar o tempo B, que fica no meio” (COOPER, 2005, p. 17).
Frontiers of Citizenship é um trabalho vigoroso, que consegue demonstrar com sucesso a impossibilidade de compreender temas como raça, nação e cidadania sem envolver tanto as histórias da diáspora africana quanto a das Américas indígenas. Por outro lado, e essa é a principal crítica, não analisa alguns conceitos que são cruciais para a sua própria fundamentação mas, pelo contrário, aplica-os nas fontes sem historicizá-los. Cooper, já mencionado, mostrou, em Citizenship, Inequality and Difference (2018), que apenas recentemente o conceito de cidadania foi constituído como inerentemente igualitário, mas por Yuko Miki aplicar esse conceito sem a devida contextualização, a existência de uma cidadania desigual, tal como defendida pelas elites na conjuntura analisada, soa como mera injustiça. Similarmente, raça e nação lhe parecem ser concepções tão unívocas que sequer precisam ser definidas e, dessa forma, a impressão resultante é de que os sujeitos analisados agem em relação às mesmas identidades coletivas que pressupomos hoje.
Em The Problem of Slavery as History: a Global Approach, Joseph C. Miller impôs o desafio intelectual de pensar a escravidão para além da politização contemporânea. Para ele, estamos tão preocupados em condenar a escravidão, que inibimos o entendimento acadêmico dessa prática como sujeito de investigação intelectual (MILLER, 2012, p. 2). Pelo demonstrado, a abordagem dos conceitos em Frontiers of Citizenship o situa como exemplar dessa conduta que precisa ser evitada. Ainda assim, esse é um trabalho que merece atenção, não apenas pela importância do tema, mas sobretudo pela forma original com a qual Yuko Miki, frequentemente, associa os discursos sobre cidadania, escravidão e extinção com a política deles resultante.
Referências
COOPER, Frederick. Citizenship, Inequality and Difference. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2018.
COOPER, Frederick. Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of California Press, 2005.
MILLER, Joseph C. The Problem of Slavery as History: a global approach. New Haven and London: Yale University Press, 2012.
WADE, Peter. Interações, relações e comparações afro-indígenas. In: ANDREWS, George Reid; FUENTE, Alejandro de la (orgs.). Estudos afro-latino-americanos: uma introdução. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2018.
Murilo Souza Santos – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (PPGH-UNICAMP), na linha de História Social da Cultura. Bolsista de mestrado CAPES. E-mail: [email protected].
[IF]Caribbean Revolutions. Cold war armed movements.
MAY, Rachel; SCHNEIDER, Alejandro; GONZALEZ, Roberto. Caribbean Revolutions. Cold war armed movements. Cambridge University Press, 2018. 165P. Resenha de: GIRALDO, Fernando. Memorias – Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, n.39, set./dez., 2019.
Este libro se propone brindar elementos de análisis para una mejor comprensión del origen y la evolución de los movimientos armados en El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua y Puerto Rico durante los años de la llamada Guerra Fría, desde una perspectiva comparada. A fin de cumplir este propósito se analiza el carácter jerárquico de sus estructuras, sus alianzas, patrones de movilización y bases ideológicas, continuando el análisis de trabajos clásicos como el de Timothy Wickham: Crowley Guerrillas and Revolutions, publicado en 1991.
Según los autores, la ocupación norteamericana tanto en México, Cuba y Nicaragua, contribuyó a que sus procesos revolucionarios fueran a su vez de liberación nacional, en los cuales hasta las élites tuvieron interés y participación en su lucha contra Gobiernos militares que les habían cerrado espacios de gobernabilidad. También la capacidad de convocatoria de los movimientos guerrilleros, por ejemplo en Cuba y Nicaragua, hizo posible la vinculación de fuerzas obreras, campesinas, estudiantiles e incluso religiosas. A ello habrá que agregar que la comunidad internacional fue solidaria con las luchas contra estas dictaduras y en casi todo el continente se celebró luego el advenimiento de la democracia a estos países.
May, Schneider y González sostienen que tanto en México como en Cuba y Nicaragua se registraron intervenciones militares y despojos territoriales de los Estados Unidos. Recordemos, en el caso de México, la pérdida de Texas, Nuevo México y California (en 1847); la intervención en Nicaragua del filibustero William Walker y el precio que tuvo que pagar Cuba por la injerencia de los Estados Unidos en su independencia de España.
Se aborda la excepcionalidad del respaldo ciudadano en Colombia al M-19 -en contraste a otros grupos armados como las FARC o el ELN- porque fue una guerrilla muy pluralista e incluyente que no aparecía como un movimiento dogmático y, por lo tanto, las clases medias, la juventud, la intelectualidad simpatizaban con sus luchas y sus operaciones muy mediáticas. Ello explica el hecho de que luego de su desmovilización (ocurrida el 9 de marzo de 1990) recibió un amplio apoyo ciudadano representado en varias votaciones para cargos de elección popular.
Hubiera sido interesante en el libro que se incluyeran las perspectivas actuales de esas guerrillas, sobre todo en aquellos países donde hoy son partido de gobierno como en El Salvador o Nicaragua, pero quizá esto rebasa el periodo de estudio.
Resulta de mucha vigencia la lectura de esta obra dado que existe un gran desconocimiento de la naturaleza, características y particularidades de la historia política más reciente de América Latina y el Caribe, máxime por parte del púbico angloparlante. También cabe destacar que el caso de la guerrilla puertorriqueña ha sido poco estudiado por parte de la literatura más clásica sobre estos temas, lo cual sin duda es un aporte de este libro.
Resulta interesante el trabajo colaborativo de académicos de la Universidad del Sur de la Florida (USF), la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad del Norte, autores de esta publicación.
Fernando Giraldo – Ph. D., profesor titular, Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad del Norte.
[IF]
Thinking about Free Will – VAN INWAGEN (M)
VAN INWAGEN, Peter. Thinking about Free Will. Cambridge University Press, 2017. 232p. Resenha de: MERLUSSI, Pedro. Manuscrito, Campinas, v.42 n.1 Jan./Mar. 2019.
The book is chronologically divided into 14 chapters, covering the main issues that have been at the centre of recent concern on free will. For instance, Harry Frankfurt’s influential objection to the principle of alternative possibilities (namely, that being able to do otherwise is a necessary condition for moral responsibility) is discussed in chapters 1 and 6. The author also deals with the Mind and ethics arguments for the claim that indeterminism and free will are incompatible (chapter 2). With respect to the compatibility problem of free will and determinism, there is van Inwagen’s reply to McKay and Johnson’s counterexample (1996) to the no-choice transfer rule (chapter 7). Given the supposed plausibility of the arguments for the incompatibility of free will and determinism and the incompatibility of indeterminism and free will, van Inwagen thinks that free will is a mystery (chapters 7 and 10). Other important topics of interest include a discussion about Daniel Dennett’s book Elbow Room (chapter 4), van Inwagen’s own view that we seldom are able to do otherwise (chapter 5), the notion of ability (chapters 7, 11 and 14) and, perhaps more importantly, a reply to Lewis’ objection to the Consequence Argument, namely, the question of whether we are able to break the laws of nature (chapter 9), among many others.
There are many interesting problems discussed in the book, and most of them are well-known among readers familiar with the discussion. (Naturally, there is also a good deal of overlap between the chapters). It is not my aim to focus on every interesting thesis in the book. What I shall do instead is to focus on van Inwagen’s insights about what is the problem of free will, especially his claim that free will is a mystery given the joint plausibility of the Consequence Argument (which argues for the incompatibility of free will and determinism) and the Mind Argument (which argues for the incompatibility of free will and indeterminism).
As one might expect, there are many philosophical problems about free will, such as the problem of logical determinism (how is free will possible if there are true propositions about our future actions?), the problem of theological omniscience (how is free will possible if God knows beforehand what we are going to do?), etc. But is there a thing which may be properly called the problem of free will? I think van Inwagen provides us with a nice proposal. The idea is that the problem of free will may be presented as a set of propositions for all of which we seem to have good reasons, but which are jointly inconsistent. “Free will” and “determinism” have been used in the literature, to be sure, in different senses. According to van Inwagen, “free will” involves the ability to do otherwise, and “determinism” is nomic determinism, that is, the thesis that the past and the laws of nature determine a unique future. The problem goes as follows (or close enough):
- If nomic determinism is true, then there is no free will.
- If nomic determinism is not true, then there is no free will.
- There is free will
The problem leaps out because we seem to have unanswerable arguments for propositions 1 (namely, the Consequence Argument) and 2 (namely, the Mind argument), and it is no easy task finding out a proper answer to these arguments. And if it turns out that propositions 1 and 2 are true, 3 will be false, and in that case there would not be such a thing as free will. However, van Inwagen also notices that “there are […] seemingly unanswerable arguments that, if they are correct, demonstrate that the existence of moral responsibility entails the existence of free will, and, therefore, if free will does not exist, moral responsibility does not exist either” (149).
It would then be bad news if these arguments were cogent (because it would be difficult to see how moral responsibility is possible). Though the Consequence Argument and the Mind argument have initially seemed unanswerable, there are – I think – promising replies to the main formulations of these arguments in the literature, especially if we make some assumptions about counterfactuals and the laws of nature. The first answer to the Consequence Argument along these lines is Lewis’ `Are we free to break the laws?”, which possibly is – according to van Inwagen – “the finest essay that has ever been written about any aspect of the free will problem”. (I will not, however, present the Consequence Argument here, since it can be found everywhere in the literature).
If we make some assumptions about counterfactuals, then one premise of the Consequence Argument is implausible. Let L be the conjunction of all the correct laws of nature. One premise in the argument tells us that L is true and no one has, or ever had, the ability to do something such that, if one were to do it, L might be false. Consider Lewis’ theory of counterfactuals, where “if p were the case, then q would be the case” is (non-vacuously) true in our world iff q is true in the most similar worlds to ours where p is true. Imagine, for example, a possible world where I am doing otherwise, say, typing different words on this page. If determinism is true, this world cannot have the same past and laws of nature as ours. Now ask yourself: What are the closest worlds to ours where I type different words? Are they worlds where the actual laws of nature are broken or where the past history is different all the way back to the Big Bang? We just have one option, and Lewis tells us that the most similar worlds to ours are those where the laws of nature are slightly different from ours (or broken by what he called a “divergence miracle”), but where the past isn’t different all the way back to the Big Bang. (For objections to Lewis’ theory, see Bennett (1984), Goodman (2015), Dorr (2016)). Lewis points out that the laws need not be broken by our acts, so that the compatibilist need not be committed to the claim that we are able to break the laws of nature. So, if Lewis is right about how we should evaluate counterfactuals on the assumption of determinism, then the premise of the Consequence Argument that no one has any choice about whether L is unjustified.
Another, more interesting problem with the argument is that it presupposes an anti-Humean conception of the laws (see, in particular, Beebee 2000, 2003). According to the Humean conception, the laws of nature are – roughly speaking – the best way to summarise all past, present and future facts. Laws do not govern anything, but merely systematise. If this conception of laws is correct, it is hard to see how the claim that laws are deterministic is a threat to free will. After all, if Humean laws do not govern, they do not place a constraint on our actions. As a result Humeans will not have trouble in saying that the claim that laws are deterministic is consistent with our ability to do otherwise. Humeans like Beebee see no problem in saying that agents are able to break the laws in the sense that the laws are violated or broken by our acts. Lewis, on the other hand, claimed that agents are able to do otherwise than they in fact did even if determinism is true, but denied that agents are able to break the laws of nature in that sense, and his view is known as Local Miracle Compatibilism.
It seems to me that some similar worries apply to the Mind Argument. A toy version of the argument goes more or less as follows: (M) “If what one does does not follow deterministically from one’s previous states, then it is the result of an indeterministic process, and (necessarily) one is unable to determine the outcome of an indeterministic process” (162). The problem here, I think, is that van Inwagen presupposes that (i) the laws of nature cover our actions and (ii) are indeterministic with respect to them. There are two questions about the nature of laws that we should keep separate from one another:
Extent: Is everything that happens covered by the laws of nature? For instance, there may be happenings, or kinds of happenings, or whole domains about which L – the complete set of correct laws – is silent.
Permissiveness: When L speaks about the outcomes that are to occur, what kind of latitude does it admit? For instance, does it always select a single happening? Does it always lay down at least a probability, or can L admit a set of different outcomes, remaining silent about their probabilities?
Clearly there are further implicit conditions if (M) is to follow from the assumption that the laws of nature are indeterministic. I take it that it is presupposed that my action, for instance, is the kind of happening that is governed by laws and that those laws that govern it are indeterministic with respect to it. But the assumption that the laws of nature are universal in extent in the sense that they cover everything that happens in the world, however, is unjustified. There is nothing in the mainstream accounts of the laws of nature that require them to be universal in extent, let alone to cover actional-events.
My suspicion is that the problem with respect to indeterminism and free will arises because it is presupposed that the laws govern or cover our actions, and are indeterministic with respect to it. This is why “indeterminism” seems to rule out control over our actions. But what are the reasons for accepting that the laws govern everything? Perhaps they do not. If so, I find it difficult to accept the core idea behind the Mind (or the luck) Argument.
The problem of free will has indeed momentous philosophical consequences. While many solutions have been offered in the literature, they will involve the acceptance of surprising and not altogether unquestionable philosophical assumptions. As such, even though philosophers have questioned the plausibility of propositions 1 and 2, van Inwagen’s formulation and treatment of the free will problem remains fruitful, and his work continues to shed light in one of the most interesting and intractable problems of philosophy.Thinking about Free Will nicely supplements the existing objections and responses to the theses advocated in An Essay on Free Will and it also covers the main new topics that have been at the centre of recent concern on free will.
References
BEEBEE, H. “The Nongoverning Conception of Laws of Nature”, Philosophy and Phenomenological Research 61: 571-594, 2000. [ Links ]
_____ “Local Miracle Compatibilism”, Noûs 37 (2): 258-277, 2003. [ Links ]
BENNETT, J. “Counterfactuals and Temporal Direction”, The Philosophical Review 93 (1): 57-91, 1984. [ Links ]
CARTWRIGHT, N. & MERLUSSI, P. “Are laws of nature consistent with contingency?”, in Laws of nature, eds. W. Ott and, 2018. L. PATTO, Oxford: Oxford University Press. [ Links ]
DORR, C. “Against Counterfactual Miracles”, The Philosophical Review, 125 (2): 241-286, 2016. [ Links ]
GOODMAN, J. “Knowledge, Counterfactuals and Determinism”, Philosophical Studies 172 (9): 2275-2278, 2015. [ Links ]
MCKAY, T. J. and Johnson, D. “A Reconsideration of an Argument against Compatibilism”, Philosophical Topics 24 (2): 113-122, 1996. [ Links ]
LEWIS, D. “Are We Free to Break the Laws?”, Theoria 47: 113 – 21, 1981. [ Links ]
Pedro Merlussi – University of Campinas, Center for Logic and Epistemology, Campinas, SP, Brazil. E-mail: [email protected]
An African Slaving Port and the Atlantic World: Benguela and its Hinterland | Mariana P. Candido || The Atlantic Slave Trade from West Central Africa/1780-1867 | Daniel B. Domingues da Silva
O comércio transatlântico de escravos é um campo de estudos já bastante desenvolvido, e de crescente interesse, pelo menos nas últimas três décadas. Um número significativo de pesquisadores tem enfatizado o papel dos comerciantes de escravos do Atlântico Norte no tráfico de seres humanos, do século XVII ao XIX, bem como o impacto da escravização e exportação de cativos sobre as sociedades africanas. No entanto, o tráfico no Atlântico Sul, principalmente entre o Brasil e a África Central – nomeadamente Congo e Angola – atraiu menos atenção do que merece, dado que quase a metade dos escravos deportados através do Atlântico para as Américas veio daquela região, nos cerca de cem anos entre meados do século XVIII até a abolição do tráfico escravista, em meados do século seguinte. Leia Mais
Quantitative Methods in Archaeology Using R – David Carlson
David Carlson. www.researchgate.net/project/Quantitative-Methods-in-Archaeology-Using-R

Res un lenguaje especializado en análisis estadístico y la generación de gráficas (plots), mantenido, distribuido y documentado por CRAN Project (Comprehensive R Archive Network). Además de la gratuidad, las ventajas de R incluyen flexibilidad y potencia analíticas, la posibilidad de almacenar todos los pasos de un análisis y una biblioteca de paquetes desarrollada por la comunidad de usuarios, que contempla una gama exhaustiva de disciplinas y técnicas. Finalmente, con un dominio mínimo de R es posible crear funciones y paquetes nuevos, existiendo ya algunos específicos para arqueología (e. g. Price et al., 2016).
La principal desventaja de Res que la casi totalidad de las operaciones se realizan por medio de una consola de comandos o de un archivo de código fuente y, por lo tanto, es necesario conocer su sintaxis y la forma en que una función opera sobre distintas estructuras de datos (vectores, listas, data frames). Si bien Rcuenta con una amplia documentación y bibliografía, más tutoriales y foros de discusión de programadores como stackoverflow, hay muy pocos textos introductorios dedicados a su aplicación en arqueología. Quantitative Methods in Archaeology Using R (QMARen adelante) realiza una contribución muy importante a la cobertura de esta vacancia. El autor, David L. Carlson, fue profesor de antropología de la Universidad de Texas A&M hasta 2019 y el manual reseñado es la síntesis de su labor docente al frente de cursos de grado en métodos investigación arqueológica, además de su experiencia investigativa. Previamente, Carlson ya había escrito guías auxiliares de R para manuales introductorios de estadística arqueológica (e. g. Drennan, 2010; Shennan, 1997).
La meta de QMARes brindar una guía práctica a la aplicación en Rde distintas técnicas estadísticas. El manual cubre al menos dos áreas. En primer lugar, introduce el lenguaje R al público inexperto, familiarizando al lector con la instalación, interfaz de usuario, paquetes y librerías, importación de datos, sintaxis, operaciones y conceptos centrales de la programación orientada a objetos (funciones, clases e instancias de objetos, tipos de datos, etc.). A lo largo de los capítulos, a la par que se introducen distintos tipos de análisis, Carlson brinda ejemplos paso a paso de codificación, nuevas librerías y funciones, preparación de datos para análisis o de cómo agregar detalles a las figuras. Cada capítulo cierra con una lista completa de las funciones utilizadas. Segundo, QMAR brinda un arsenal amplio de aproximaciones cuantitativas a los datos arqueológicos. La introducción repasa algunos de los grandes problemas y preguntas de la arqueología. En ella se describen los distintos tipos de medidas utilizadas (dicotómicas, nominales, ordinales, numéricas, etc.), se clasifican los datos cuantitativos de la arqueología en cuatro tipos -de forma, composición, edad y localización- y se reseñan cuatro grandes áreas de los métodos cuantitativos -estadísticas descriptiva, inferencial y bayesiana y aprendizaje estadístico. A partir del capítulo 3 el libro hace un recorrido progresivo que inicia con la estadística descriptiva, la generación de tablas y gráficos, siguiendo con la transformación de datos (distribución, ponderación, escalado, etc.), la contrastación de hipótesis, análisis de correlación, técnicas exploratorias multivariadas, culminando con algunos problemas y técnicas específicas de arqueología, tales como la distribución espacial de hallazgos, seriación y diversidad de conjuntos artefactuales. Al explicar un método, Carlson detalla su base teórica y metodológica, su alcance y cómo interpretar su resultados. Las demostraciones del manual se basan en datasets arqueológicos reunidos en la librería archdata de R, de manera que el lector pueda reproducirlos. Como cabe esperar, QMARno agota el extenso arsenal de métodos cuantitativos disponibles hoy (e.g. estadística bayesiana o ciencia de datos), pero da una base adecuada para abordarlos subsecuentemente. Hay que destacar que QMARes también un recetario; el código de un ejemplo puede ser tomado como base y adaptado a nuestros propios datos y problemas. El código completo de los ejercicios está disponible para bajar desde la página web del autor (https://sites.google.com/a/tamu.edu/dlcarlson/home). Carlson pone también a disposición del público guías auxiliares de R para diversos manuales de estadística. Hay que señalar que de una versión a otra de Ro de sus librerías puede variar la sintaxis de una determinada función, por lo que a veces podemos vernos en la necesidad de modificar un comando.
Es muy probable que en los próximos años seamos testigos de un uso más extendido de R y, probablemente, Python entre los arqueólogos de América Latina. Es por ello que QMAR es un excelente punto de partida.
Carlson, D. L. (2017). Quantitative Methods in Archaeology Using R. Cambridge: Cambridge University Press Drennan, R. D. (2010). Statistics for archaeologists. Springer.
Shennan, S. (1997). Quantifying archaeology. University of Iowa Press.
Carlos Belotti López de Medina – Es doctor en arqueología por la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como investigador en el Instituto de las Culturas (IDECU, UBA, CONICET). Su especialidad es la zooarqueología de las sociedades agroalfareras del Noroeste argentino.
Para citar este texto:
CARLSON, David L. Quantitative Methods in Archaeology Using R. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. Resenha de: BELOTTI, Carlos. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana, Buenos Aires, v.2, n.13, p.101-104, 2019.
Guide to Byzantine Historical Writing | L. Neville
Leonora Neville2 (2004; 2012; 2016) é uma bizantinista norte-americana já conhecida por trabalhos anteriores dedicados à sociedade provincial bizantina e a dois historiadores do período intermediário: a princesa Ana Comnena (1083-1153) e seu esposo, o kaisar Nicéforo Briênio (1062-1137). Sendo um nome cada vez mais presente no campo, Neville vem realizando empreendimentos notáveis. O recente Guide to Byzantine Historical Writing é um deles e oferece uma importante contribuição por servir como um guia prático de referência à historiografia bizantina e a tudo de essencial relacionado a ela. O ponto forte da obra, preparada por Neville com o auxílio dos estudantes de pós-graduação David Harrisville, Irina Tamarkina e Charlotte Whatley, é seu grande apanhado bibliográfico multilíngue.
Segundo Neville, seu guia “[…] visa tornar as riquezas das histórias medievais escritas em grego facilmente acessíveis a todos que possam estar interessados” (NEVILLE, 2018, p. 1, tradução nossa). Embora a autora seja modesta ao dizer que seu livro “[…] não contém nenhuma informação que um bizantinista diligente não pudesse rastrear com o tempo […]” (NEVILLE, 2018, p. 1, tradução nossa), o mérito desse seu trabalho reside justamente em seu potencial de servir como um guia prático e acessível a essas fontes, especialmente quando consideramos que o Império Bizantino não costuma ser a primeira escolha daqueles que adentram as pesquisas sobre o período medieval, seja pelas especificidades necessárias para seu estudo, que são distintas daquelas para o Ocidente latino, seja por questões de outra natureza. A obra de Neville pode assim fomentar o interesse de públicos acadêmicos não tradicionais, como o brasileiro, onde esses estudos ainda são bastante escassos e periféricos, facilitando a busca por fontes primárias e proporcionando uma base bibliográfica como ponto de partida.
Embora não há de se negar que seu público seja os bizantinistas, aqueles que se faz questão de dizer, um gesto de boas-vindas aos classicistas, aos medievalistas e aos estudantes de modo geral. Com certeza, além de facilitar a pesquisa daqueles que já atuam no campo e dos que estão começando, esse livro tem o potencial de sanar a curiosidade de classicistas interessados pela produção historiográfica em língua grega após a Antiguidade e de ajudar os demais medievalistas, especialmente aqueles com pesquisas voltadas para os contatos interculturais no mediterrâneo medieval, onde é impossível ignorar a presença bizantina. debruçam sobre as fontes primárias dessa civilização, o livro também é, como Neville
O guia de fontes de Neville abarca exclusivamente textos historiográficos escritos entre 600 e 1490 d.C. Esse recorte singular pula o período inicial da periodização tradicional, uma vez que a autora prefere não disputar o chamado de Early Byzantium com o consagrado Late Antiquity, e estende a produção historiográfica bizantina para além da queda formal do império em 1453. Neville justifica que outras obras de natureza similar já abarcaram o período inicial ao lidarem com fontes tardo-antigas e que a queda de Constantinopla é somente um dos eventos que gradualmente alteraram o horizonte intelectual e cultural daquele mundo. O ponto realmente positivo desse recorte foi ter considerado autores que escreveram naquele mundo pós-bizantino, uma vez que eles testemunharam o crepúsculo final do Império Romano e a ascensão do poder otomano, um processo que a longo prazo causou profundas transformações na região. Por ironia do destino, considera-se que a historiografia medieval em língua grega acaba com o ateniense Laônico Calcondilas (c. 1430-1470), que escreveu dentro dos moldes daquele considerado o primeiro historiador grego, Heródoto de Halicarnasso (c. 484-c. 425 a.C.).
O capítulo introdutório apresenta algumas questões essenciais, como o debate em torno das terminologias história e crônica, a natureza do ofício do historiador em Bizâncio, a questão da imitação dos clássicos e da inovação, o sistema de datação presente nas fontes, a terminologia classicizante empregada pelos autores, a língua grega medieval e seus registros e as problemáticas transliterações empregadas pelos bizantinistas. Além disso, a autora trata sobre as principais publicações e séries de fontes e explica o que ela quer dizer por manuscrito, texto e edição ao longo do livro. Por fim, é oferecida uma pequena, mas importante bibliografia para aprofundamento, seguida por uma geral e mais abrangente.
Além da parte dedicada aos agradecimentos, da introdução e dos apêndices finais, o guia conta ao todo com cinquenta e dois capítulos que levam os nomes dos historiadores ou das obras cujos autores desconhecemos, de Teofilato Simocata (séc. VII) ao já mencionado Laônico Calcondilas (séc. XV). Os capítulos recebem geralmente as seguintes entradas: uma breve biografia do autor com alguma descrição de seus trabalhos historiográficos, uma menção aos manuscritos que chegaram até nós (ou a indicação de uma publicação que adentre isso), uma lista de edições modernas disponíveis, uma breve história de sua publicação, uma lista de estudos fundamentais para se ter como ponto de partida, uma lista das traduções realizadas até o momento e, por fim, uma lista bibliográfica mais vasta com temas relacionados ao autor e sua obra. Após esses capítulos, seguem-se dois apêndices: um gráfico indicando o período de tempo coberto pelas produções e outro indicando o período de vida dos autores.
Neville afirma tomar uma abordagem mais cética (embora isso não pareça diferente de dizer neutra) em relação às reconstruções das fontes e da vida dos autores. Ela demarca, assim, a primeira diferença de seu trabalho em relação ao de Warren Treadgold (2007; 2013), autor de duas obras sobre os historiadores bizantinos do período inicial e intermediário (a terceira, sobre o período tardio, está por vir) e mais recheada de suposições e hipóteses. Em nossa opinião, embora seja compreensível os motivos que podem ter levado a autora a seguir por esse caminho, uma vez que tomar parte em debates é adentrar em possíveis flutuações acadêmicas que podem prejudicar a obra como um guia de referência, datando-a a médio prazo, esse acaba sendo um ponto um tanto obscuro do livro, primeiro pela autora não mencionar essas diferentes interpretações (ela poderia tê-lo feito sem que as endossasse), privando seu leitor de algo fundamental; segundo por não ser um critério muito compreensível (ao menos da forma como colocada) para as posições que ela toma ao longo dos capítulos do livro.
Neville também demarca a diferença essencial de seu livro para os de Treadgold a partir do que está sendo enfocado: enquanto seu trabalho está preocupado com o texto, o de seu colega norte-americano está preocupado com os autores. Para a autora, como na maioria dos casos as informações que sabemos sobre os autores vem de seus próprios textos, deveríamos focar nossa análise no texto, dando pouca ênfase à biografia como determinante para entender a obra. Para Neville, abordar o texto ao invés dos indivíduos está na ordem do dia, como propuseram nas últimas décadas os teóricos pós-modernos da linguistic turn. Embora ela possa ter razão, os exemplos dados para justificar isso são no mínimo problemáticos.
A discussão se devemos confiar em Jorge, o monge e pecador (séc. IX) é pouco relevante; Neville acha que por ter se chamado pecador, uma notória prática monástica de humildade, coisa não enfatizada pela autora, esse autor estava provavelmente mentindo com o propósito de justificar o conteúdo moralizante de sua obra, pois, nesse contexto, chamar-se humilde seria um ato de orgulho. Assim, para Neville, esse não poderia ser um dado biográfico para se ter como ponto de partida, fazendo mais sentido adentrar diretamente no estudo do texto pelo texto. Ela continua com outro exemplo: ao dizer que escreveu em reclusão, João Zonaras (séc. XII) poderia estar se utilizando de um truque retórico para aparentar que escreveu sua obra longe de forças que poderiam influenciá-lo em sua escrita. Neville considera que os historiadores perderam tempo tentando encaixar esse dado em sua biografia e questiona se Zonaras estava recluso da mesma forma que Jorge era pecador. Nesse exemplo, ela aparenta estar sendo puramente especulativa e nada justifica o porquê não considerar realmente a hipótese da reclusão. Além disso, o exemplo de Jorge não é exatamente comparável ao de Zonaras se considerarmos o costume monástico. O problema aqui talvez não seja sua perspectiva teórica, mas uma má seleção de exemplos para sustentá-la.
Embora esse não seja o foco de seu guia, podemos contextualizar a produção intelectual de Neville entre autores que estão resgatando a ideia de uma romanidade bizantina, acabando assim com a separação imposta por historiadores no passado entre Roma e Bizâncio.3 Isso fica evidente quando a autora afirma que “A história bizantina é a história do Império Romano na Idade Média” (NEVILLE, 2018, p. 5, tradução nossa). Como tem sido apontado, a imposição dessa separação tem raízes muito antigas no universo intelectual e cultural ocidental, regressando a finais do século VIII e às disputas políticas e identitárias entre bizantinos e ocidentais, posteriormente reforçada pela especialização acadêmica e a invenção de termos técnicos e delimitações artificiais como Império Bizantino e Bizâncio.4 Neville se coloca nessa discussão ao apontar a necessidade de levarmos a sério a autoidentificação dos bizantinos enquanto romanos, coisa que os estudiosos a todo momento ignoraram, preferindo desenvolver explicações sobre quem eles de fato eram por trás do que diziam. “Em nenhum outro campo os historiadores rotineiramente tratam os sujeitos de sua investigação como tendo uma compreensão incorreta de quem eles eram” (NEVILLE, 2018, p. 5, tradução nossa).
Os comentários oferecidos por Neville sobre essa questão não são um aspecto superficial de seu trabalho, mas funcionam estrategicamente, pela natureza de seu livro, como um manifesto aos pesquisadores e àqueles adentrando o campo dos Estudos Bizantinos para que não ignorem esse duradouro problema. Neville alavanca algumas questões que ela acredita que precisam ser superadas para que enxerguemos definitivamente isso, como a importância exagerada dada à ascensão do cristianismo como o divisor de águas central na história da humanidade, o que teria feito com que os estudiosos entendessem que o Império Romano havia deixado de ser o verdadeiro existia na mente de seus habitantes, e os resíduos das narrativas da Renascença e do Iluminismo, que propunham uma total ruptura entre a Antiguidade e uma Idade das Trevas. Como afirma a autora, “Resistir aos efeitos posteriores desses paradigmas permite que os estudiosos levem a sério a compreensão e a autoapresentação dos cidadãos do Império Romano medieval (NEVILLE, 2018, p. 6, tradução nossa). Império Romano quando se tornou cristão, criando uma ruptura ilusória que não
Acreditamos que o bizantinista e o estudante diligentes pecarão gravemente se não tiverem esse guia ao lado de outras obras de referência já consagradas. Ademais, tendo em mente a escassez de pesquisas sobre essa civilização romana oriental, helefóna e cristã ortodoxa no Brasil, algo que se reflete também na inexistência de traduções, desde as mais básicas a trabalhos importantes publicadas nos últimos anos, consideramos que esse trabalho pode oferecer uma aproximação às fontes historiográficas bizantinas e a um grande apanhado de referências que trarão aos pesquisadores mais confiança para darem o primeiro passo na preparação de seus projetos, ajudando, portanto, a superar parte do que poderia ser uma dificuldade inicial.
Notas
2. Leonora Neville é atualmente John W. and Jeanne M. Rowe Professor of Byzantine History e Vilas Distin-guished Achievement Professor na University of Wincosin-Madison, nos Estados Unidos.
3. Cf., por exemplo, KALDELLIS, 2007, 2019 (o principal revisionista quanto a essa questão); PAGE, 2008; STOURAITIS, 2014; 2017. Diversos autores tem partido dessa perspectiva, incluindo NEVILLE, 2012. As implicâncias de se assumir uma identidade romana para os “bizantinos” e as dimensões da mesma ainda é uma questão em debate, envolven-do não somente perspectivas teóricas, mas interpretações distintas.
4. Para uma boa exposição quanto a esse problema, cf. KALDELLIS, 2019, p. 3-37.
Referências
Obra completa
KALDELLIS, A. Hellenism in Byzantium: The Transformations of Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
______. Romanland: Ethnicity and Empire in Byzantium. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019.
TREADGOLD, W. The Early Byzantine Historians. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
______. The Middle Byzantine Historians. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
NEVILLE, L. Authority in Byzantine Provincial Society, 950–1100. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
______. Anna Komnene: The Life and Work of a Medieval Historian. Oxford: Oxford University Press, 2016.
______. Guide to Byzantine Historical Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
______. Heroes and Romans in Twelfth-Century Byzantium: The Material for History of Nikephoros Bryennios. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
PAGE, G. Being Byzantine: Greek Identity Before the Ottomans. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Artigos
STOURAITIS, I. Roman identity in Byzantium: a critical approach. Byzantinische Zeitschrift, [s.l.], v. 107, n. 1, p. 175-220, 2014.
______. Reinventing Roman Ethnicity in High and Late Medieval Byzantium. Medieval Worlds, Vienna, v. 5, p. 70-94, 2017.
Guilherme Welte Bernardo –
Mestrando em História no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de São Paulo (PPGH/Unifesp), onde realiza pesquisa intitulada “Entre a integração e a barbarização: romanos e ocidentais na historiogra-fia bizantina dos séculos XI e XII” sob orientação do Prof. Dr. Fabiano Fernandes. Pesquisador vinculado ao Núcleo de Estudos Bizantinos e Conexões Mediterrânicas (NEB) e ao Laboratório de Estudos Medievais (Leme/Unifesp). E-mail para contato: [email protected].
NEVILLE, L. Guide to Byzantine Historical Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. Resenha de: BERNARDO, Guilherme Welte. A escrita da História numa outra Idade Média: Descobrindo a Historiografia Bizantina (600-1490). Revista Ágora. Vitória, n.30, p.210-215, 2019. Acessar publicação original [IF].
Generations of feeling: a history of emotions, 600-1700 | Barbara Rosenwein
O plano das emoções e da subjetividade há muito não constitui um terreno estrangeiro para os historiadores. Basta evocar, por exemplo, a célebre obra de Johan Huizinga e sua imagem impactante de uma Idade Média tardia marcada pelo externar violento das emoções, de “uma devoção popular” ou coletiva inclinada às lágrimas e aos excessos piedosos, que exprimiam um “sentimento religioso” comum. Também Lucien Febvre e as gerações da Escola dos Annales – com nomes como Jean Delumeau e sua história do medo ou Philippe Ariès e a das atitudes perante a morte – haviam chamado a atenção para as chamadas “sensibilidades”, diluídas na noção mais ampla de “mentalidades”. No entanto, desde os anos 1980, tem sido possível demarcar a emergência de novos e promissores estudos sobre os “afetos” e “emoções”, que vieram dar forma à recente “história das emoções”, com propostas e abordagens que, decididamente, se distanciam daquelas traçadas pelos historiadores de outrora. Longe de tentar vislumbrar uma provável unidade que pudesse caracterizar um período ou sociedade no que se refere à experiência afetiva, ou de perscrutar um núcleo essencial e genuíno do sujeito – que se presume existir por detrás das normas sociais, ou como algo inefável e impossível de se historicizar –, esses estudos propõem desfazer a ideia de que as emoções e afetos são universais, de que pertencem estritamente à ordem da irracionalidade ou da intimidade, ou que foram alvo de um processo progressivo de domesticação, racional e civilizador, em relação ao qual o período medieval apareceria como tempo das paixões destemperadas – numa clara recusa da tese de Norbert Elias.
É em tal projeto de reorientação investigativa e teórica que se situa a obra de Barbara H. Rosenwein, uma das maiores responsáveis por abrir esse novo caminho, que desbrava desde finais da década de 1990 ao lado de outros estudiosos, como Piroska Nagy, Damien Boquet, Carla Casagrande, Silvana Vecchio, Simo Knuuttila, Thomas Dixon, dentre outros.1 Formada pela Universidade de Chicago, a professora Rosenwein leciona hoje na católica Loyola University of Chicago, tendo já passado, como convidada, pelas francesas École des Hautes Etudes en Sciences Sociales e École Normale Supérieure, bem como pelas universidades de Utrecht e Gotemburgo. É também membro do Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University, em Londres, e da Medieval Academy of America. Em sua trajetória notável, constam obras de ampla divulgação como A Short History of the Middle Ages (University of Toronto Press, 2014), Reading the Middle Ages: Sources from Europe, Byzantium, and the Islamic World (University of Toronto Press, 2006), Debating the Middle Ages: Issues and Readings (Blackwell, 1998), The Making of the West: Peoples and Cultures (Martin’s Press, 2013). No âmbito da história das emoções, especificamente, cabe elencar o celebrado Emotional Communities in the Early Middle Ages, de 2006 (Cornell University).
Em Generations of Feeling: A History of Emotions 600-1700, um extenso volume publicado em 2016 pela Cambridge University Press, Barbara Rosenwein apresenta os resultados de uma pesquisa iniciada há cerca de dez anos, como ela própria destaca. A obra alinha-se à proposta de seu trabalho anterior ao fundamentar-se na ideia de emotional communities, que consagrou a historiadora. Com frequência referenciado e adotado por outros estudiosos, a designação “comunidades emocionais” tem-se mostrado uma ferramenta útil à autora em sua tentativa manifesta de se desviar de uma abordagem totalizante. Segundo Rosenwein, conquanto o potencial biológico “para sentir e expressar” o que hoje entendemos por “emoções” seja um atributo humano “universal”, um limite positivo, material, “o que essas emoções são, como são chamadas, como são avaliadas e sentidas e como são expressas (ou não), tudo isso é moldado pelas “comunidades emocionais’”. Tais comunidades são grupos com valores e modos particulares de sentir e exprimir suas emoções, segundo normas aceitas e partilhadas; podem ser variadas em um mesmo período, explica. Todavia, em que medida a autora se distanciará efetivamente da ideia de uma coerência subjacente à todas as expressões e experiências humanas em um dado momento e lugar – como implícito nas velhas noções de “mentalidades” ou “imaginário” –, é um questionamento que logo vem à mente do leitor mais cauteloso, diante daquilo que a autora promete já na introdução e que revela sua vívida preocupação teórica.
Mais precisamente, Barbara Rosenwein assinala, logo de partida, o intuito de mapear o conjunto de sentimentos, relações e valores que estão implícitos na expressão de uma determinada emoção. Um dos pontos fundamentais dessa abordagem que pretende se despir dos essencialismos, a autora ressalta não querer distinguir entre as supostas emoções “reais”, sentidas, e as emoções expressas, ou seja, entre o sincero e o dissimulado, já que o historiador das emoções apenas lida com os “sinais socias” destas, captáveis pelos gestos e palavras, não sendo possível avançar para além disso, em busca de um conteúdo oculto e supostamente mais verdadeiro – como sugerem alguns estudos, por exemplo, sobre o indivíduo.2 Uma vez que se trata, para ela, de compreender os valores que regem a vivência afetiva de uma dada comunidade, considerando a contingência da própria ideia de verdade contida na emoção, o fingimento também nos diz sobre as normas emocionais de um grupo. Da mesma maneira, os lugares-comuns, as expressões impensadas e formulaicas não são menos importantes e vazios de significado para o historiador, pois constituem as “heranças emocionais” disponíveis em um tempo.
Aprofundando seu raciocínio, Rosenwein reitera a recusa da ideia de oposição entre emoção e razão, ou afeto e cognição, como uma dicotomia invariante ou essencial da constituição humana,3 assim como a lógica teleológica que identifica o triunfo progressivo da racionalidade. Voltando-se para as diversas teorias sobre os “afetos” ou “paixões da alma”, da filosofia estoica aos teólogos e letrados cristãos, Agostinho, Gregório Magno, Alcuíno, Tomás de Aquino ou, mais tarde, Jean Gerson, o presente livro desmonta como as emoções foram codificadas, ordenadas, racionalizadas, de modos circunstanciais e contingentes, tendo em vista a efetivação de um determinado parâmetro de vida virtuosa num dado momento. O livro identifica as quebras nas configurações teóricas a partir de uma perspectiva diacrônica. Com uma orientação oposta à do ideial estóico da apatheia, da não perturbação emotiva, a autora avalia, por exemplo, como Cícero admitia a existência de bons e maus afetos e o papel fundamental dos primeiros na busca da virtude, já que, para tal, seria preciso, antes de tudo, “amar” a virtude e odiar o vício. As noções de amizade verdadeira, que para o filósofo amparavase na benevolência, na concordânica e no amor, são redefinidas mais tarde por Agostinho como sendo obra de Deus, sustentada na fé comum, cristã. A reorientação trazida pelo bispo de Hipona colocou, assim, o critério de distinção dos bons ou maus afetos ou paixões na aproximação ou afastamento em relação às coisas divinas e às virtudes. Nesse sentido, sendo as emoções um ato da vontade, seu valor, desde então, passou a depender do seu uso, e não delas em si mesmas, como pensavam os estóicos e o próprio Cícero.
No entanto, para além das sucessões temporais e de uma história das ideias, Rosenwein apresenta nesta obra o contributo de uma análise sincrônica que adentra o espaço das vivências sociais, completando seu esforço de captar as variâncias. É então que fica mais nítida a noção de “comunidades emocionais”. O livro mostra como as concepções de amor e amizade foram muito centrais para determinados grupos sociais. No primeiro momento de consolidação do poder merovíngio sob Clóvis, por exemplo, afirmava-se entre os nobres a superioridade dos laços familiares e maternais; o amor era o afeto entre irmãos, pais e filhos. Já em comunidades como a dos monges letrados vindos das famílias merovíngias, desvalorizaram-se os laços de sangue em defesa do ideal de desapego e o abandono da vida familiar; ali, o amor referia-se estritamente a Deus. Mais tarde, no século VII, novas normas emocionais conduziram a vida cortesã: quando os nobres alcançam maior independência perante os reis francos, o amor associou-se mais à amizade e à fidelidade do que aos vínculos sanguíneos. Voltando-se em seguida para os séculos XII e XIII, vemos como duas comunidades contemporâneas preocuparam-se com esses sentimentos. Entre os cistercienses ingleses de Rievaulx, o monge Aelred colocou sua ênfase no amor e na compaixão como vias para Deus, bem como na diferenciação entre amor e caritas, um mundano, e o outro mais nobre, espiritual. No mesmo período, para a comunidade guerreira dos condes de Toulouse, a afirmação das fidelidades não sanguíneas foi ainda mais decisiva e aparente nas manifestações de afeto. Enquanto para os condes o amor estava na fidelidade entre os pares, para os trovadores dessa mesma corte – transpondo as ansiedades sobre a traição do campo político para o das relações amorosas e sexuais –, referia-se à relação homem e mulher e se apresentava como fonte de desapontamento.
O atrativo de Generations of Feelings não está apenas em seu conteúdo, ou melhor, em sua elucidação de configurações históricas particulares, mas também em suas escolhas teóricas e metodológicas. Barbara Rosenwein escapa à fixidez da noção de “mentalidade” com sua proposta das “comunidades” ou “regimes emocionais”, que em seu livro não se assemelham a conceitos fixos e apriorismos, mas apresentam-se mais como formas de descrever uma dinâmica histórica que envolva a diversidade, a convivência e as sobreposições de padrões ou regimes diferentes. As comunidades emocionais não são isoladas nem homogêneas, nos termos da própria historiadora, “nenhuma sociedade fala a partir de uma única voz”; por isso, opta por explorar os grupos que considera mais representativos, a partir de um método de amostragem. Além disso, essas comunidades também são explicadas e criadas por teorias que as antecedem. Assim, sem pensar a partir de um fio trans-histórico, Rosenwein concilia sincronia e diacronia ao chamar a atenção para a disponibilidade e a potencialidade tanto das tradições mais antigas como das mais atuais, como a estoica e a cristã, que vão sendo sedimentadas em “gerações de sentimento”. Por outro lado, a autora esclarece que as persistências não excluem o fato de certas comunidades emocionais de mesmo um período não adotarem essas heranças da mesma maneira. O livro tem, portanto, o mérito de explanar as teorias sobre os afetos a partir dos parâmetros e critérios elaborados em seus tempos próprios, e não dos critérios prévios e externos do historiador, como feito por correntes historiográficas anteriores. Em outras palavras, quando fala em amor, medo ou compaixão, Rosenwein não pressupõe uma ideia sobre estes afetos, mas desdobra o que significou para um grupo específico, dentro de um enunciado específico, que relações estabelece com outros sentimentos, que carga de sentido carregam naquele contexto, relações estas que são casuais e não necessárias.
Todavia, ao explorar a subjetividade nas relações públicas e de poder, em documentos formais, como escrituras e contratos, a autora, apesar de cumprir o seu intento de abdicar da ideia de que as emoções se circunscrevem ao âmbito privado, envereda, com isso, por uma questão que já muito foi muito explorada – por exemplo, por Paul Veyne.4 A quebra do livro em capítulos que ora tratam de uma sociedade, ora descrevem longamente a teoria de um pensador, também podem constituir um ponto negativo, porque torna a obra um tanto desigual. Outro aspecto da análise que pode ser problemático, é que, embora a autora se preocupe em minimizar o peso anacrônico do termo “emoções”, inexistente até a modernidade – quando elenca, por exemplo, os termos usados na antiguidade e na Idade Média como “perturbações”, “afetos”, “afeições”, “paixões”, “movimentos da alma”, salientando que se “aproximam” do que nós hoje chamamos de “emoções” –, a insistência em falar “emoções” pode por vezes supor um conceito trans-temporal. Por outro lado, com o cuidado de evitar o anacronismo e de se desviar da impressão de que os valores e demais componentes das emoções são invariantes, o exame cuidadoso do vocabulário apresenta-se como um aspecto louvável do trabalho de Rosenwein. A historiadora oferece uma minuciosa listagem das palavras em língua latina e vernácula (inglês e francês) empregadas com mais frequência em enunciados de um grupo social, para referir a certas emoções, e elenca seus sentidos aproximados em cada situação. Assim, mesmo que as palavras sejam as mesmas, vemos como são preenchidas com significados muito diversos em cada caso.
Sendo assim, estamos diante de uma publicação importante onde se podem perscrutar os rumos da historiografia mais recente, os problemas que enfrenta e as soluções que encontra. Como definiu a autora, trata-se de uma “uma narrativa de continuidade e mudança”, sobre as maneiras nunca perenes com que se pensou a composição humana e suas disposições interiores, a psicologia e a antropologia. Qualquer que seja o seu campo de interesse, todo historiador pode se ver diante de descrições e expressões de afetos ou sentimentos, que de modo algum são irrelevantes para a compreensão de outros aspectos da sociedade que investiga; não apenas o historiador das emoções deve estar disposto a considerar os sentidos contingentes delas.
Notas
1 Destaco as publicações: BOQUET, Damien; NAGY, Piroska. Les sujets des émotions au Moyen Âge. Paris: Beauchesne, 2008; BOQUET, Damien; NAGY, Piroska. Sensible Moyen Âge: une histoire des émotions dans l´occident médieval. Paris: Seuil, 2015; KNUUTTILA, Simo. Emotions in ancient and medieval philosophy. Oxford/New York: Oxford University, 2004; DIXON, Thomas. From passions to emotions: the creation of a secular psychological category. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
2 Como é possível notar em alguns textos de Aron Gurevitch, como La naissance de l´individu dans l´Europe médiévale.
3 Como já apontado por outros estudiosos como Thomas Dixon, essa oposição é uma especificidade ocidental moderna. A ideia das emoções como algo não cognitivo, voluntário e corporal, oposto à racionalidade, é muito recente e resulta de um processo em que a tipologia dos afetos, apetites ou paixões foi condensada na categoria mais ampla das “emoções”, a partir do século XIX, com a secularização da psicologia.
4 Ver VEYNE, P.; VERNANT, J.-P; DUMONT, L.; RICOEUR, P.; DOLTO, F. VARELA, F.; PERCHERON, G. Indivíduo e Poder. Lisboa: edições 70, 1988.
Letícia Gonçalves Alfeu de Almeida – Universidade Estadual Paulista (UNESP). E-mail: [email protected]
ROSENWEIN, Barbara H. Generations of feeling: a history of emotions, 600-1700. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Resenha de: ALMEIDA, Letícia Gonçalves Alfeu de. Brathair – Revista de Estudos Celtas e Germânicos. São Luís, v.18, n.1, p. 253- 259, 2018. Acessar publicação original [DR]
Human Trafficking and Slavery Reconsidered: Conceptual Limits and States’ Positive Obligations in European Law | Vladislava Stoyanova
É tanto um assunto da atualidade quanto um corpus jurídico em vias de desenvolvimento que Vladislava Stoyanova, professora adjunta de Direito Internacional Público na Universidade de Lund (Suécia), pretende abordar nesta obra dedicada à questão — ou melhor, às questões, para ser fiel ao posicionamento da autora — do tráfico e das formas severas de exploração de seres humanos. Versão condensada, e algo remanejada, da tese de doutorado defendida na mesma universidade em abril de 2015, este livro apresenta, portanto, o conjunto das reflexões desenvolvidas sobre o assunto pela professora Stoyanova. Autora prolífica, ela desenvolveu alguns elementos de sua problemática em diversas publicações anteriores. Leia Mais
The Look of the Past. Visual and Material Evidence in Historical Practice | Ludmilla Jordanova
Historiar, desde el siglo pasado, ya no sólo es una tarea de quienes aman el archivo y la biblioteca, también lo es de aquellos que se interesan por los objetos y las imágenes; sin embargo, nuestras herramientas para su estudio aún no son parte fundamental del bagaje formativo de los estudiantes de historia. The Look of the Past viene a llenar un vacío, pues es una obra pensada especialmente para los estudiantes que deben comprender cómo acercarse a las evidencias visuales y materiales. Leia Mais
Multimedia Learning – MAYER (EPEC)
MAYER, Richard E. Multimedia Learning. New York: Cambridge University Press, 2ª ed., 2009. Resenha de: SILVA, André Coelho da. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v.19, 2017.
Richard Mayer é professor de Psicologia na Universidade da Califórnia desde 1975. Seus interesses de pesquisa estão relacionados à aplicação da ciência da aprendizagem à educação e envolvem, especialmente, estudos sobre cognição, tecnologia e ensino. Atualmente desenvolve projetos sobre aprendizagem multimídia, aprendizagem apoiada por computador e uso de jogos computacionais para a aprendizagem. Nesse sentido, tem como objetivo central encontrar formas de auxiliar as pessoas a desenvolverem aprendizagens que permitam a utilização desses conhecimentos em novas e diferentes situações.Mayer é autor de mais de 500 trabalhos, entre eles, livros como: Jogos computacionais para a aprendizagem (Computer Games for Learning, 2014), Aplicando a ciência da aprendizagem (Applying the Science of Learning, 2011) e Manual da Aprendizagem Multimídia de Cambridge (The Cambridge Handbook of Multimedia Learning: Second Edition, 2014).
No livro Aprendizagem Multimídia (Multimedia Learning, 2009) Mayer visa apresentar princípios para a produção de recursos didáticos multimídia que possam favorecer uma melhor aprendizagem.
Para o autor, um recurso multimídia não é um meio utilizado para trabalhar determinados conteúdos (livros, computadores etc.), mas sim um material que engloba palavras (texto falado ou escrito) e informações gráficas/figuras (gráficos, fotos, animações, mapas etc.). Assume-se que os meios não possuem relação direta com a aprendizagem e, portanto, ao invés de buscar meios que potencialmente maximizariam a aprendizagem, a questão passa a ser como desenvolver recursos multimídia que possam aperfeiçoar os conteúdos/mensagens abordados.
Mayer distingue dois tipos de abordagem quanto à produção de recursos multimídia: a centrada na tecnologia e a centrada nos aprendizes. Enquanto a primeira objetiva possibilitar o acesso às novas tecnologias implicando na necessidade de que os aprendizes se adaptem a elas; a segunda visa adaptar as novas tecnologias às necessidades dos aprendizes visando favorecer a aprendizagem. A abordagem centrada nos aprendizes – assumida por Mayer no livro – partiria da tentativa de entender o funcionamento da cognição humana. Além disso, recursos coerentes com tal funcionamento seriam mais efetivos na promoção da aprendizagem.
A cognição humana poderia ser resumida em dois pressupostos: I) o do canal duplo, que indica a existência de dois sistemas não-equivalentes de processamento de informação: verbal/auditivo e visual/pictórico; e II) o da capacidade cognitiva, que indica que a quantidade de informação processada simultaneamente em cada canal é limitada. O resultado de um processamento cognitivo ativo seria a produção de um modelo mental. Nesse contexto, aprender implicaria em lembrar, isto é, em ser capaz de reproduzir e reconhecer o conteúdo, e em entender, isto é, em construir um modelo mental coerente para o conteúdo. Consequentemente, aprendizagem multimídia seria a construção de conhecimento (enquanto algo pessoal, intransferível) a partir da interação com um recurso multimídia.
Para que resulte em aprendizagem multimídia, a interação com o recurso precisaria desencadear uma série de processos: seleção de palavras relevantes para processamento na memória de trabalho verbal; seleção de imagens relevantes para processamento na memória de trabalho visual; organização das palavras de forma coerente em um modelo mental verbal; organização das imagens de forma coerente em um modelo mental visual; integração das representações verbais e visuais entre si e com o conhecimento prévio.
Mayer apresenta alguns princípios que poderiam auxiliar no desenvolvimento de recursos didáticos multimídia – de forma a torná-los potencialmente mais efetivos em termos da aprendizagem: I) Concentração (destacar ideias chave nas figuras e textos); II) Concisão (minimizar detalhes desnecessários/alheios nos textos e figuras); III) Correspondência (colocar figuras e textos correspondentes próximos); IV) Concretude (apresentar textos e figuras de maneira a facilitar a visualização); V) Coerência (construir uma linha de raciocínio e uma estrutura clara); VI) Compreensibilidade (utilizar textos e figuras familiares); e VII) Codificabilidade (utilizar textos e figuras cujas características chave facilitem a memorização). De fato, tais princípios são encampados pelos doze princípios da aprendizagem multimídia definidos pelo autor (entendidos como princípios para a produção de materiais multimídia).
Os princípios da aprendizagem multimídia são consistentes com o funcionamento da cognição e da aprendizagem humana e estão amparados em resultados de diversos estudos empíricos focados em testes de transferência, isto é, testes que implicam em utilizar o conhecimento para resolver problemas novos/diferentes.
Cinco princípios visam reduzir o processamento desnecessário/alheio, evitando sobrecarga cognitiva. O princípio da coerência indica que as pessoas aprendem melhor quando informações (palavras, figuras, símbolos, sons, músicas etc.) desnecessárias/alheias são excluídas. O princípio da sinalização sugere que as pessoas aprendem melhor quando a organização do material é explicitada, pois o aprendiz poderia ser guiado ao que é essencial, favorecendo a organização mental. O princípio da redundância afirma que as pessoas aprendem melhor com desenhos e narração do que com desenhos, narração e texto escrito (legenda do que está sendo narrado) – caso que implicaria em sobrecarga do canal visual.
O princípio da contiguidade espacial indica que as pessoas aprendem melhor quando as palavras e as figuras correspondentes estão espacialmente próximas.
Já o princípio da contiguidade temporal sugere que as pessoas aprendem melhor quando palavras e imagens correspondentes aparecem ao mesmo tempo. Esses dois últimos princípios estão embasados na ideia de que a contiguidade espacial/ temporal favorece o estabelecimento de conexões entre as informações verbais e visuais (será gasto menos recurso cognitivo no estabelecimento dessas conexões).
Três princípios visam favorecer a administração do processamento essencial, isto é, o responsável por representar o material na memória de trabalho. Em caso de sobrecarga no processamento essencial, restariam poucos recursos cognitivos para realizar o processamento gerador, responsável por organizar e integrar as representações mentais produzidas. Segundo o princípio da segmentação as pessoas aprendem melhor quando o recurso é apresentado em unidades sequenciais nas quais o usuário pode definir o ritmo (ideia de que cada sujeito tem um tempo diferente de processamento). Segundo o princípio do pré-treinamento as pessoas aprendem melhor quando já sabem os nomes e as características dos principais conceitos antes de entrar em mais detalhes. O princípio da modalidade sugere que as pessoas aprendem melhor com figuras e textos falados do que com figuras e textos escritos.
A razão é que textos escritos podem competir com as figuras no canal visual.
Quatro princípios visam promover o processamento gerador. O princípio multimídia afirma que as pessoas aprendem melhor com palavras e figuras do que só com palavras. Trata-se de um princípio que justifica o livro como um todo.
O princípio da personalização sugere que as pessoas aprendem melhor quando as palavras estão em estilo conversacional do que em estilo formal. Por fim, os princípios da voz e da imagem são extensões do princípio da personalização e, segundo Mayer, quando da publicação do livro, ainda estavam em fase de estudos preliminares. Segundo o princípio da voz, as pessoas aprendem melhor quando a voz da narração é humana do que quando a voz é de máquina. Já segundo o princípio da imagem, as pessoas não necessariamente aprendem melhor quando a imagem de quem está falando/narrando está na tela.
Apontamos como os principais pontos positivos do livro: i) a forma didática e sistemática como o autor discute suas considerações, sempre fazendo recapitulações, explicitando seus objetivos de maneira clara e organizando as informações em tabelas quando possível; ii) a consideração de que os princípios da aprendizagem multimídia não são regras universais; iii) a fundamentação teórica e o amplo número de estudos empíricos que embasam os princípios. Nesse sentido, trata-se de um livro que oferece implicações relevantes para a área de pesquisa em ensino de ciências como um todo e, especificamente, para pesquisadores que atuam na produção de recursos didáticos multimídia (pesquisadores associados ao estudo das tecnologias de informação e comunicação, por exemplo) ou que buscam compreender o funcionamento, os limites e as possibilidades da utilização de recursos desse tipo no ensino e na aprendizagem de ciências.
De fato, é possível associar a temática do livro a, ao menos, duas das linhas temáticas do último Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (XI ENPEC), realizado em julho de 2017: “Processos e materiais educativos em Educação em Ciências” e “Tecnologias da informação e comunicação em Educação em Ciências”. Entendemos que a presença dessas linhas temáticas no mais importante evento brasileiro da área de ensino de ciências evidencia que a produção, a validação e a utilização de recursos didáticos em situações de ensino e aprendizagem, seja em contextos de pesquisa ou não, costumam se constituir como atividades recorrentes na atuação dos professores e pesquisadores dessa área. Logo, sugerimos que os princípios caracterizados por Mayer podem funcionar como aporte teórico-metodológico para o desenvolvimento dessas atividades, especialmente no que se refere ao projeto e à construção de recursos didáticos multimídia.
Em contraposição aos muitos pontos positivos do livro, pensamos ser necessário apontar também que, embora comente sobre os testes empíricos realizados, Mayer não indica quantos alunos participaram de cada teste, tampouco detalha as condições de aplicação de cada um deles. Vale frisar ainda que os testes foram realizados utilizando a metodologia de grupos controle e grupos experimentais, a qual pode ser alvo de críticas tendo em vista a complexidade envolvida nos atos educacionais – desconsiderada por tal metodologia. Outro aspecto que talvez pudesse ser mais explorado no livro é a discussão de possíveis exceções individuais no que diz respeito aos testes empíricos realizados. Tal possibilidade, no entanto, parece não condizer com a abordagem quantitativaestatística adotada pelo autor na obra.
Em síntese, apesar de ter sido publicado em língua inglesa, a leitura do livro é agradável e simples. Recomendamo-la especialmente aos interessados em elementos associados à aprendizagem e ao uso/estudo de recursos multimídia no ensino.
Referências
MAYER, R. E. Applying the science of learning. Upper Saddle River: Pearson, 2011.
MAYER, R. E. Computer games for learning: An evidence-based approach. Cambridge: MIT Press, 2014.
MAYER, R. E. The Cambridge handbook of multimedia learning. New York: Cambridge University Press, 2014.
UCSB – UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA. Richard Mayer. Department of Psychological & Brain Sciences, s/d. Disponível em: <https://www.psych. ucsb.edu/people/faculty/mayer>. Acesso em: 09 ago. 2016.
André Coelho da Silva – Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Professor do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus Itapetininga. Grupo de Pesquisas sobre Formação de Professores para o Ensino Básico, Técnico, Tecnológico e Superior (FoPeTec). Itapetininga, SP – Brasil. E-mail:<[email protected]>
[MLPDB]
Experience and Teleology in Ancient Historiography. ‘Futures Past’ from Herodotus to Augustine – GRETHLEIN (RA)
GRETHLEIN, J. Experience and Teleology in Ancient Historiography. ‘Futures Past’ from Herodotus to Augustine. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Resenha de: SIERRA, César. Revista Archai, Brasília, n.18, p. 407- 416, set., 2016.
Lo primero que me ha venido a la mente tras leer la propuesta de Jonas Grethlein es que se trata de un libro que trabaja las técnicas de los historiadores para generar sensaciones en los lectores. Concretamente aborda cómo la historiografía desarrolló una narrativa empática, destacando los siguientes rasgos: teleología, enárgeia (viveza en la narración) y mímesis. Por descontado que el análisis es mucho más rico y elaborado pero destaco las que, a mi juicio, son los recursos más analizados en el libro. El autor parte de una larga investigación sobre este tema lo cual se nota en la calidad del resultado.
La estructura del libro se divide en una introducción metodológica y tres apartados centrales: I) experien ce: making the past present; II) Teleology: the power of retrospect; y III) Beyond experience and teleology. en la primera parte se aborda el estudio de Tucídides, Jenofonte, Plutarco y Tácito; en la segunda tenemos a Heródoto, Polibio y Salustio; y, finamente, se analizan las Confesiones de agustín de Hipona. Una trayectoria que abarca prácticamente toda la antigüedad clásica y orienta la obra hacia una perspectiva global de la historiografía. Todo ello viene acompañado de una edición esmerada, que cuenta con los siempre útiles índices onomásticos y de pasajes citados además de una recopilación bibliográfica final. Magnífica edición como es habitual en las publicaciones de Cambridge University Press.
No muchos historiadores están en condiciones de abarcar con solvencia un período tan amplio como propone Grethlein y ello es muy loable, como también lo es su atención a las diferentes sensibilidades y escuelas historiográficas modernas. La selecta bibliografía en varios idiomas da buena cuenta de mi aserto. Por mi parte, centraré la discusión en aquellos autores que más he trabajado: Heródoto, Tucídides, Jenofon- te, Polibio y Plutarco.
Respecto a Heródoto, el autor destaca el uso de la retrospección en su conocidas digresiones (p.185). Desde mi punto de vista, el autor selecciona muy bien los pasajes en los que Heródoto introduce al público en el relato. Por ejemplo, las lágrimas de Jerjes en el Helesponto cuando contempla su ejército en todo su esplendor cruzando el paso y se lamenta de que toda esa muchedumbre desaparecerá con el tiempo, reflexión sobre lo efímero de la grandeza y la vida huma- na (Hdt.7.56.2). al respecto Grethlein capta muy bien que esta alusión a lo que ve y dice el monarca persa es una técnica narrativa para poner al público en una situación en la que el pasado se hace presente. También es muy destacable su análisis del lenguaje críptico de los oráculos, que precisan de una elevada hermenéutica para ser descifrados. en concreto, el autor centra su atención en los signos (sêmeîon) que introducen los oráculos en la narración de Heródoto, un presagio a menudo interpretado erróneamente por los humanos. Valgan como ejemplos el oráculo que vaticinó la ruina de Creso (Hdt.1.54.1), interpretado erróneamente por el monarca lidio, y el famoso oráculo sobre la muralla de madera que debía proteger a los atenienses frente a Jerjes, bien descifrado por Temístocles (Hdt. 8.51.1). Creo que el autor acierta al señalar que la obra de He- ródoto con frecuencia traslada al lector adelante en el tiempo y prueba de ello es que la Historia termina con la toma de Sesto por la Liga de Delos, los infortunios amorosos de Jerjes con su hermana y las enigmáticas palabras de Ciro I sobre la degeneración moral de los persas. Todo ello introduce la idea de que un imperio decae mientras otro nace (p. 206 -207).
En cambio, la descripción moral o psicológica de los protagonistas persas no está suficientemente bien trabajada. Bajo mi punto de vista, las cualidades y defectos de personajes como Jerjes o Leónidas respon- den a modelos que tienen sus raíces en la épica griega. Por ejemplo, Jerjes representa un monarca arrogante y despótico, comparable en algunos rasgos al agamenón homérico; que contrasta con el sacrificio de Leó- nidas cuyo trágico destino es similar al de aquiles 1. Por tanto, Heródoto simplifica los rasgos de la perso- nalidad de los protagonistas persas con la voluntad de acercarlos al público griego. Todo ello influye también en su relato historiográfico.
El análisis de Grethlein sobre Tucídides se centra en el ‘presentismo’ y la elaborada técnica del ateniense a la hora de introducir pequeños detalles en la narración. Me ha gustado especialmente el análisis del célebre discurso fúnebre de Pericles (p. 50), presentado como un argumento fuertemente teleológico. También la costumbre del ateniense al avanzar los planes estratégicos y después narrar los eventos, de esta manera el lector puede aventurar el resultado. el autor está muy acertado destacando que se introducen pequeños de- talles en la descripción de batallas o se define el estado de ánimo de los ejércitos con la intención de generar empatía en el lector. Son datos intrascendentes para la comprensión del fenómeno objeto de estudio pero que sirven para captar la atención del lector y generar un escenario. Por ejemplo, en el debate sobre la suerte de los mitilenos (Th.3.36) el autor llama la atención sobre el suspense creado por Tucídides (p.44). Como sabemos, se decidía en asamblea la suerte de los sublevados de Mitilene y, en una primera votación, los atenienses decidieron ejecutarlos a todos, enviando una nave con dicha orden; no obstante, tras deliberar mejor la situación decidieron no suprimirlos a todos y enviaron otra nave que tuvo que adelantarse a la anterior para transmitir las órdenes correctas. esto se puede explicar de muchas maneras pero, como indica Grethlein, es notable la intención de Tucídides de generar un suspense trágico.
Acerca del análisis que se realiza en el libro so- bre la obra de Tucídides, sólo reseñar que sería recomendable incluir una valoración sobre la ‘Pentecontecia’. en mi opinión, hay una división básica a nivel metodológico entre el libro I y el resto de la obra de Tucídides. El primer libro cumple la función de prefacio donde se aborda el pasado griego anterior a la guerra del Peloponeso desde una óptica fuertemente teleológica, por ejemplo: los episodios de Pausanias y Temístocles, la ‘ arqueología’, la citada ‘Pentecontecia’. La cuestión está muy estudiada y pienso que ayudaría a completar el buen enfoque que el autor ha realizado sobre Tucídides 2.
Personalmente considero que el mejor capítulo del libro es el dedicado al estudio de la Anábasis de Je- nofonte. en esta ocasión el foco de la narración pasa del exterior al interior de la acción. el autor percibe muy bien el giro narrativo que toma la Anábasis tras la muerte de los generales griegos (An.3.1.4) y el cambio total de contexto tras Cunaxa. Ciertamente a partir de la emboscada que termina con el mando de la tropa mercenaria, la narración se aproxima gradualmente hacia Jenofonte, quien adquiere protagonismo en la improvisada dirección de los Diez Mil. Se destaca el valor narrativo de los diálogos y discursos a sabiendas de que el lector interpreta que son de primera mano. Lo anterior genera una sensación casi novelesca de la narración que tiene su punto álgido en la llegada de los griegos al mar (p.60). Para mantener el ‘presentismo’ y la tensión narrativa, Jenofonte utiliza un gran abanico de recursos: descripción, focalización interna, discursos, presagios y finales abiertos. estos rasgos otorgan a la Anábasis un carácter ‘empírico’ muy particular.
Lo único objetable a este apartado es que el autor no haya realizado alguna anotación al hecho de que Tucídides también fue protagonista de la acción histó- rica. Como sabemos, el historiador era estratego cuando anfípolis cayó en manos del espartano Brasidas (Th.5.10). Su participación y responsabilidad en este conflicto condicionaron su interpretación del suceso, valorando positivamente a Brasidas y negativamente a Cleón 3. Hubiera sido interesante valorar los recursos expositivos de Tucídides en relación a este suceso y al conjunto de la obra.
La buena dinámica que el autor sostiene a lo largo del libro se mantiene en su análisis de Polibio. en este caso abunda en la enárgeia, con especial atención al ambiente que se vivió durante la proclamación de la libertad griega patrocinada por Flaminino en los Jue- gos Ístmicos (Plb.18.46.12), o la vívida descripción del paso de escipión entre los cadáveres del campo de ba- talla en Zama (Plb.38.20.1). Sin embargo, lo que más me ha llamado la atención son las interesantes aportaciones sobre teoría de la historia que se plantean tras valorar el uso del término historíe en Polibio (1.3.4). No cabe duda de que este análisis rompe con la monotonía del libro y enriquece su aportación. No obstante, merecería la pena realizar un análisis más completo para apreciar la evolución del término desde el siglo V a.C. hasta ese preciso pasaje donde se utiliza en su acepción moderna. De esta forma apreciaríamos mejor le peculiaridad que propone Polibio 4 (p.230). Por lo demás, el capítulo nos parece de lo más edificante.
Finalmente, llegamos al apartado que más desentona con el buen nivel del libro. Para un libro de esta temática considero que no es acertada la inclusión de Plutarco y su Vida de Alejandro. el autor es consciente del problema que supone añadir una biografía, máxime cuando el propio Plutarco sostiene que no escribía historia (Plu. Alex. 1.1). Personalmente no me convence la justificación de Grethlein en las prime- ras páginas del capítulo. No digo que sea imposible el análisis, sólo pienso que los objetivos, la finalidad y el público potencial de la biografía y la historiografía no coinciden. aparte podemos considerar la diferencia metodológica entre ambos géneros. No obstante, comprendo la posición del autor al señalar que Plutarco no era refractario a la historiografía, de hecho, para elaborar sus biografías utiliza en gran medida fuentes históricas. en este sentido, Historia y biografía mantienen un delicado equilibrio pero considero el víncu- lo insuficiente. Por ejemplo, en Sobre la malevolencia de Heródoto, el biógrafo sostiene que un historiador debe decantarse por la narración de los actos buenos y nobles (Plu.Mor. 855C) 5. Esta elección del evento historiable es legítima por parte de Plutarco pero tiene evidentes implicaciones sobre la técnica narrativa. Así pues, la Vida de Alejandro será una narración con una potente enárgeia como corresponde a los objetivos del género literario al que pertenece. al margen de todo esto, considero que el autor conoce bien la obra de Plutarco y maneja con criterio la bibliografía.
Como conclusión general, al libro quizás le falte analizar cómo afectaron todas estas técnicas narrativas a la ecuanimidad del relato historiográfico. De la misma manera que el autor describe la sensación que se traslada al lector también se puede valorar las intenciones del historiador al construir el relato. así, la cuidada descripción de un suceso y la minuciosa incorporación de detalles no sólo generan empatía en el lector sino que trasladan una opinión. Dicho de otra manera, el historiador impone su punto de vista con la intención de manipular la memoria colectiva. Por ejemplo, situémonos en el contexto de la guerra del Peloponeso y, concretamente, en los prolegómenos de la campaña en Sicilia. Desde mi punto de vista el objetivo de Tucídides es mostrar lo desacertado de la inva- sión y lo ignorante que era el dêmos ateniense acerca de la extensión, riqueza y poder de la isla. Para fundamentar esta tesis, Tucídides introduce previamente una digresión etnográfica y geográfica sobre Sicilia, detalla las diferentes posturas de Nicias y alcibíades en la asamblea e incluso reflexiona sobre el interés de los jóvenes ateniense en emular las gestas de sus an- cestros; utilizando muchas de las técnicas que el autor desarrolla en el libro. Dicho de otro modo, hay una voluntad de generar una opinión y no sólo que el lector experimente una sensación. Por descontado, cuando al historiador no le interesa, todos los detalles y los esfuerzos por recrear la acción histórica desaparecen.
Con todo, considero que Experience and Teleology es un libro muy interesante y que aporta importantes elementos de debate a la historiografía y sus técnicas literarias. Si bien he mostrado algunos puntos de des- acuerdo, ello se debe a que el libro genera una profunda reflexión y deja una buena sensación en el lector. Por tanto, un libro totalmente recomendable.
Notas
1 En un trabajo anterior sugerí que Heródoto realiza un con- traste entre el ‘mal gobernante’ Jerjes/a gameón y el ‘buen gobernante’ Leónidas/a quiles y Temístocles/Odiseo; Sierra (2011).
2 Por ejemplo, cito los artículos clásicos de Konishi (1970) y Westlake (1955).
3 Una buena síntesis se encuentra en Mazzarino (1974, p. 253 -257).
4 De nuevo un tema muy trabajado, remito a otro clásico; Meier (1987).
5 Un análisis interesante de este escrito desde la historiografía se encuentra en Marincola (1994).
Referências
KONISHI, H. (1970). Thucydides’ Method in the episodes of Pausanias and Themistocles. AJPh 91 n.º1, p.52 -69.
MARINCOLA, J. (1994). Plutarch’s refutation of Herodotus. Classical World 25, p.191 -203.
MAZZARINO, S. (1974). Il pensiero storico classico. v.1, Roma -Bari, Laterza.
MEIER, CH. (1987). Historical answers to histori- cal questions: the origins of history in ancient Greece. Arethusa 20 n.º1 -2, p.41 -57.
SIERRA, C. (2011). Jerjes, Leónidas y Temístocles: modelos griegos en el relato de Heródoto. Historiae 8, p.65 -91.
WESTLAKE, H. D. (1955). Thucydides and the Pentekontaetia. CQ 5 n.º1, p.53 -67.
César Sierra – Università della Calabria (Italia). E-mail: [email protected]
Spinoza and Medieval Jewish Philosophy – NADLER (CE)
NADLER, Steven (Ed.). Spinoza and Medieval Jewish Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Resenha de: DAVID, Antônio. Cadernos Espinosanos, São Paulo, n.35, Jul./Dez., 2016.
Vem em boa hora a coletânea de artigos editada pelo renomado historiador da filosofia Steven Nadler e publicada pela Cambridge University Press . Não porque se trate de empreendimento novo – e aqui convém reconhecer o mérito da historiografia da filosofia de língua inglesa, que tem se dedicado ao assunto com grande afinco. O próprio organizador, especialista em filósofos da chamada primeira época moderna, é autor de outros títulos dedicados à relação entre a filosofia judaica e Espinosa.
É exatamente o estatuto dessa relação que precisa ser examinado, razão pela qual Spinoza and Medieval Jewish Philosophy merece ser lido. Ainda que as respostas oferecidas no livro sejam questionáveis, é meritório o esforço em pensar sobre uma relação que, sob todos os ângulos, é tensa.
Espinosa pode ser considerado um “filósofo judeu”? Nadler é taxativo:
Não se pode negar que textos, história e pensamento judaicos continuam a cumprir um papel importante no pensamento de Espinosa – de tal forma que Espinosa pode com justiça ser considerado um filósofo judeu, seja porque suas ideias revelam um forte compromisso com a filosofia judaica que o precedeu, seja porque em suas principais obras ele filosofou sobre judaísmo (Nadler, 2014, p. 3-4).
Não obstante as duas razões oferecidas por Nadler procedam, elas não parecem ser suficientes para encerrar a questão. Aliás, a questão pouco nos interessa. Mais interessante e profícuo do que perguntar sobre a identidade judaica da filosofia de Espinosa – questão que nunca cessará de gerar polêmica, uma vez que envolve a identidade judaica do próprio Espinosa –, é perguntar sobre a maneira específica pela qual a filosofia deste autor lida com conceitos e ideias próprios da ou assimilados pela filosofia judaica e, consequentemente, do judaísmo, para forjar sua própria filosofia.
Nesse sentido, a coletânea traz uma grande contribuição. Ela ajuda a ampliar o escopo de interpretação da obra de um dos mais importantes nomes da filosofia, interpretação essa que tem sido bastante exitosa em estabelecer os laços que unem Espinosa à modernidade (são inúmeros os trabalhos que comparam Espinosa com Maquiavel, Hobbes, Descartes e Leibniz) e que já deu passos importantes no estabelecimento da crítica de Espinosa às tradições antigas e cristãs, tanto medievais como modernas1
Que Espinosa tenha debruçado-se sobre o judaísmo, não é novidade. Estabelecida no Tratado teológico-político, essa leitura contém teses e argumentos que lhe renderam severas acusações, em particular talvez a tese de que a natureza dos hebreus amparava-se pela piedade para com a própria pátria e no ódio para com outras nações (Spinosa, 1997, p. 371) . Poliakov, por exemplo, dirá que a obra de Espinosa expressaria um “anti- semitismo virulento” (Poliakov, 1996, p. 23) .
Em contrapartida, o forte compromisso para com a filosofia judaica é menos evidente à primeira vista, inclusive por estar como que disseminado na obra, presente não só naquelas passagens em que Espinosa examina práticas e história judaicas. É notório e belo o exemplo de uma das últimas proposições que fecham sua mais importante obra, e também a mais conhecida: “Disso inteligimos claramente em que coisa consiste nossa salvação ou felicidade ou Liberdade: no Amor constante e eterno a Deus, ou seja, no Amor de Deus aos homens. E não é sem razão que este Amor ou felicidade é chamado Glória nos códices Sagrados” (Espinosa, 2015, e v, p 37 . Esc.) 2 .
A obra de Espinosa está impregnada de filosofia judaica – o que não necessariamente significa estar ela impregnada de filosofia exclusivamente judaica, uma vez que, como dissemos anteriormente, os conceitos, teses e argumentos transitaram na rica interlocução entre diferentes tradições. Os autores foram felizes em expressar esse diálogo, sobretudo em se tratando de filósofos judeus e árabes, com especial destaque para os excelentes artigos de Charles Manekin e Julie R. Klein.
O livro possui muitos méritos, dos quais o maior mérito reside no exame dos conceitos e sua “passagem” entre Espinosa e seus interlocutores judeus. Só pela enorme quantidade de citações da Ética demonstra-se que a presença do judaísmo em Espinosa transborda e muito o escopo do Tratado teológico-político, chegando ao núcleo de sua filosofia.
Vemos dois pontos francos no resultado final da proposta, sendo um na coletânea e outro nos artigos. A coletânea concentrou-se demasiadamente, quase exclusivamente, na recepção de determinados filósofos na obra de Espinosa, como Gersonides, Crescas e, com especial ênfase, Maimônides – o que é reconhecido pelo organizador, na Introdução. Com isso, ela deixou de lado dois campos de interlocução extremamente importantes para a compreensão da obra de Espinosa: de um lado, seus contemporâneos na comunidade de Amsterdam; de outro, as tradições místicas judaicas.
Em relação aos artigos, a despeito de seu mérito, percebemos certa inclinação nos autores em procurar estabelecer débitos demasiado diretos e mecânicos de Espinosa para com este ou aquele filósofo. Jacob Adler, por exemplo, após constatar a similaridade entre certa tese de Espinosa e Alexandre de Afrodísias, conclui: “tal pormenor fornece a mais forte evidência de que Espinosa estava seguindo Alexandre” (ibidem, p. 25) . T. M. Rudavsky, por sua vez, argumenta que Espinosa “segue a sugestão de Ibn Ezra’s de que Moisés não teria escrito toda a Torá” (ibidem, p. 86). Já Warren Zev Harvey, numa controversa interpretação de Espinosa, conclui: “ao atribuir alegria e amor intelectual a Deus, Espinosa faz companhia a Maimônides, e segue Avicena e Gersonides”. Na sequência, este mesmo autor afirma: “ao sustentar que o autoconhecimento de Deus implica em Seu conhecimento de todas as coisas, Espinosa segue a interpretação de Aristóteles do Timeu, presente em Metafísica, XII 7 e 9” (ibidem, p. 114 – 115). Fiquemos nestes três exemplos.
Em certo sentido, todo filósofo segue outros que o precederam. Mas este é um sentido fraco, que designa apenas e tão somente o fato de haver interlocução entre os filósofos. Os autores, no entanto, procuraram muitas vezes estabelecer laços fortes entre Espinosa e seus interlocutores, como se certo conceito, certa tese ou certo argumento presente na obra de Espinosa já figurasse nesse ou naquele autor. Ao proceder dessa forma, o intérprete corre o risco de perder de vista o sentido da presença do conceito, da tese ou do argumento no interior da obra daquele que a recebeu. Ao se estabelecer recepções e linhagens, há que se tomar cuidado.
Quanto a isso, estamos de acordo com Nadler, quando este afirma que a filosofia de Espinosa “assimila, transforma e subverte um projeto antigo e religioso” (ibidem, p.2). A este projeto, acrescentaríamos outras tradições e correntes, como a filosofia de Aristóteles, o estoicismo e as filosofias de Hobbes e Descartes. Espinosa segue Gersonides, Maimônides, Crescas e outros, tanto quanto Hobbes, Descartes e Maquiavel, mas sob o preço de subvertê-los.
A despeito destes dois pontos, ressaltamos que o conjunto da coletânea compreende artigos escritos com rigor e erudição. Esperamos que sua publicação encoraje os espinosistas fora do mundo anglófono a engajar-se mais no estudo da presença da filosofia judaica em Espinosa.
Notas
1 A coletânea contém dez artigos. Para um resumo de cada um dos artigos, cf. Nadler, 2014, p.8-12.
2 Essa passagem foi abordada na coletânea por Warren Zev Harvey (Nadler, 2014, p.115), Kenneth Seeskin (Ibidem, p.122) e Julie R. Klein (Ibidem, p.210).
Referências
NADLER, s. (Ed.) (2014), Spinoza and Medieval Jewish Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
POLIAKOV, l . (1996) De Maomé aos Marranos. História do Anti-semitismo II, São Paulo: Perspectiva.
SPINOSA, b . (1997) Tratado teológico-político, Barcelona: Altaya.
ESPINOSA, b . (2015) Ética, São Paulo: Edusp, 2015.
Antônio David – Doutorando Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected]
The Platonic Art of Philosophy – BOYS-STONES et al (RA)
BOYS -STONES, G.; EL MURR, D; AND GILL, C. (Eds.). The Platonic Art of Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. PITTELOUD, Luca. Revista Archai, Brasília, n.17, p. 351-360, maio, 2016.
Cet ouvrage est composé d’une collection d’articles rédigés en hommage à Christopher Rowe et inspirés par les travaux et exégèses de ce dernier à propos de la philosophie de Platon. Les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage sont de traditions et d’approches très va- riées et la mise en relation des articles permet un dia- logue inédit entre les différents points de vue. Chacune des contributions se destine à dialoguer avec une des problématiques abordées dans l’œuvre de Christopher Rowe: l’unité philosophique et littéraire de l’œuvre de Platon, la fonction du mythe, l’héritage socratique de Platon, la position platonicienne concernant la vérité et l’être.
Une question centrale discutée dans cet ouvrage est celle du socratisme de Platon. Christopher Rowe dé- fend l’idée que l’objectif de Platon n’est pas de dépeindre le Socrate historique mais de proposer une philosophie socratique: Platon, d’après Rowe, n’a jamais cherché à s’éloigner du personnage de Socrate afin de développer sa propre philosophie (à ce titre une lecture dévelop- pementaliste des dialogues doit être rejetée) mais, au contraire, propose une philosophie réellement socra- tique. Christopher Rowe considère dans ses écrits la question de l’intégration des thèses socratiques (éthi- ques, psychologiques et épistémologiques) dans les dialogues de Platon. Les contributeurs à cet ouvrage sont amenés à réagir et à situer leurs propres interprétations par rapport aux idées défendues par Rowe.
A ce titre, M. Dixsaut défend une vision multidi- mensionnelle et nuancée de la lecture des œuvres de Platon qui, puisque ce dernier a choisi d’écrire des dia- logues, refuse de donner une exposition linéaire de sa philosophie en tant que système. M. A. Fierro exami- ne, afin de justifier l’idée selon laquelle le contexte est primordial dans la lecture d’un dialogue, comment, dans le Phèdre, cohabitent deux visions opposées du corps: la méfiance que de ce dernier peut inspirer comme source de distraction cohabite, dans le même dialogue, avec une vision plus positive où le corps peut être considéré comme un auxiliaire à l’activité philosophique. N. Notomi cherche à montrer com- ment le Phédon ne propose pas une rupture avec la philosophie de Socrate mais, au contraire, développe le message original de l’éthique socratique. D. Sedley argumente que les tensions souvent relevées dans la théorie psychologique de la République (la vision tri- partite des livres 4, 8 et 9 comme s’opposant à celle des livres 5 -7 où serait mis en avant l’intellectualisme socratique) possède en réalité un unité réelle dans le contexte de la vie vertueuse du philosophe, vie défi- nie en tant qu’activité contemplative. T. Johansen se propose d’associer la notion de progression éthique de l’allégorie de la caverne à une vision cosmologi- que plus large telle que présentée dans le Timée afin de résoudre la tension qui existe entre la question de la dimension politique et éthique de cette allégorie et son fondement cosmologique et philosophique basé sur les conclusions des analogies de la ligne et du so- leil. M. M. Mc Cabe interroge l’unité de l’Euthydème dans le cadre de la discussion épistémologique qui émerge dans la rencontre entre Socrate et les sophis- tes. M. Narcy envisage comment le Théétète dépeint un Socrate maitrisant la technique éristique dans son opposition avec Protagoras. toujours à propos du Théétète, U. Ziliolo s’intéresse à la relation entre le Cy- rénaïsme et la position qui identifie la connaissance à la perception. T. Penner met en perceptive la théorie de l’incorrigibilité des perceptions telle que défen- due par Protagoras dans le Théétète avec la notion de « proposition » telle qu’elle est définie dans la séman- tique moderne. Pour Penner, Platon se montre plus intéressé aux « real -world entities » que cela est le cas dans ces théories sémantiques modernes. D. O’Brien rejette l’idée commune, en logique moderne, que l’être ne serait pas un prédicat en montrant que, dans le Sophiste, pour Platon, le non -être, non pas défini en tant que ce qui n’est d’aucune façon, mais décrit comme ce qui est différent possède une réalité propre: l’être peut lui être prédiqué au sens où le non -être (ce qui est autre) est. Finalement, l’ouvrage se termine par trois contributions concernant les dimensions politique et historique de l’œuvre de Platon: S. Broadie étudie la notion de véracité de récit de l’Atlantide, M. Tulli pose la question de l’intérêt et du respect de Platon pour l’histoire à propos de la transmission du récit de Critias et enfin, M. Schofield invoque l’importance de l’amitié dans le cadre de la théorie politique des Lois.
L’ouvrage, au travers des contributions de D. Sedley, C. Gill et D. El Murr, propose également un traitement intéressant d’une discussion centrale dans l’œuvre de Christopher Rowe: l’intellectualisme socratique et les tensions qu’une telle théorie semble entraîner, notam- ment quant à la question de l’unité de l’âme. Ce dernier a défendu l’idée que Platon n’a jamais abandonné l’intellectualisme socratique au profit d’une vision tripartite de l’âme. en ce sens, Sedley affirme que la théorie de la tripartition représente un mode de discours, peutêtre trompeur, mais sans doute inévitable, à propos de la vie incarnée humaine lors de laquelle la plupart des mortels fonctionnent comme s’ils étaient sous l’influence de forces irrationnelles, alors qu’en réalité ces forces ne font pas partie de leur vraie na- ture. Ainsi, ce qui définit réellement le philosophe ne sera pas, comme le note Sedley, le contrôle raisonné des passions irrationnelles, mais l’accès à un niveau de cognition dans lequel les motivations corporelles disparaissent petit à petit et, dans cet état cognitif, le corps et ses passions ne recéleront plus qu’une in- fluence motivationnelle minimale. Autrement dit, la vraie nature de l’âme est unitaire (intellectuelle), elle n’est décrite comme ayant des parties que du point de vue de la condition humaine qui se considère comme divisée par les passions corporelles, mais, de fait, cette division n’ est pas réelle. C. Gill conclue sa contribu- tion sur cette problématique en affirmant que, sans doute, Platon cherche à défendre une vision unifiée de sa psychologie dans laquelle les théories socratique et platonicienne de l’âme se trouveraient, dans la République, intégrées au sein d’un argument cohérent sans que cela impliquerait une quelconque contradiction.
La question de l’intellectualisme socratique est évi- demment liée au statut du Bien tel qu’il est décrit dans la République. D. El Murr cherche à montrer que les critiques qui ont fait de ce Bien métaphysique, une entité tant abstraite qu’elle ne serait pas pratiquement réalisable (prakton) reposent sur une mauvaise com- préhension du statut de ce Bien: en effet ce dernier, en tant que principe ontologique suprême, confère l’être (ousia) aux entités qui possèdent la réalité et la stabi- lité suffisante pour être accessibles à l’intellect. Autre- ment dit, le Bien qui est responsable de la distinction entre le sensible et l’intelligible. or cette objectivité suprême du Bien implique également une valeur éthi- que et politique. La République cherche à distinguer entre ce qui est réellement juste et ce qui n’ est juste qu’en apparence. Cette distinction ne peut être garan- tie que par l’existence du Bien qui est toujours l’ultime objet du désir. Je peux désirer l’apparence de la justice car je pense que cette dernière est bonne pour moi, mais je ne peux pas désirer l’apparence du bien. Au contraire je désire toujours ce qui est mon propre bien. Autrement dit, je peux désirer quelque chose de façon superficielle, car je pense que cette chose m’ est profitable, mais je ne peux nullement désirer ce profit en apparence. Cette thèse qui fonde l’intellectualisme socratique ne peut être justifiée que s’il existe une réalité d’une valeur ontologique éminente qui puisse être l’objet du désir humain. or cette réalité est le Bien. C’est au final cette prééminence du Bien qui garantit la distinction entre a) le sensible et l’intelligible et b) ce qui est réellement X et ce qui n’ est X qu’en appa- rence, de sorte que le Bien de la République possède une forte valeur pratique. Platon ainsi ne semble pas faire de la Forme du Bien une entité déconnectée de la vie morale.
Luca Pitteloud – Universidade Federal do ABC (Brasil). E-mail: [email protected]
The Structure of Enquiry in Plato’s Early Dialogues – POLITIS (RA)
POLITIS, Vasilis. The Structure of Enquiry in Plato’s Early Dialogues. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Resenha de: SABRIER, Pauline. Revista Archai, Brasília, n.16, p.361-365, jan., 2016.
Vasilis Politis’ book provides a new insight into Plato’s early dialogues. The purpose of the book is to defend an ‘aporia-based account’ of Plato’s early dialogues against the common ‘de”nition-based account’. Traditionally, the early dialogues are read as ‘de”nitio nal’ in the sense that the ti esti question is seen as the central question motivating the inquiry, and as ‘aporetic’ in the sense that they generally end in the failure of Socrates and his interlocutors to answer the ti esti question. Usually, the failure is attributed to the incapacity o f Socrates’ interlocutor to provide an answer to the ti esti question which meets Socrates’ requirements, which are that the question should be answered by giving a unitary, general and explanatory de”nition of Φ and not by pointing at an example. One problem with this vi ew is that the reason for these requirements is either le unexplained, or it is explained dogmatically, by pu tting forward Plato’s own theory of knowledge, or it leav es room for suspicions of scepticism, the failure of t he dialogue pointing to the impossibility of knowledge. Staring from the diculties raised by the traditional vi ew, Politis develops a radically di$erent approach in w hich the ti esti question is not any more the central ques- tion of the dialogue. Instead, he shows that the inquiry is motivated and structured by questions of the form ‘whether or not Φ is Ψ ’ which turn into aporiai when one or more of the interlocutors, a er having argued on both sides of the question, face a con%ict of re asons and it appears to them that there are equally good rea- sons on both sides. Based on textual evidence, Poli tis’ central claim is that it is in order to “nd a way o ut of the aporia that the ti esti question, understood as the demand for a standard for a thing’s being Φ, is raised in these dialogues, and furthermore, that it is in o rder to unlock the particular case of ‘radical aporiai’, that is aporiai which render every example-and-exemplar questionable, that Socrates requires a unitary, gen eral and explanatory de”nition. It is thus the understan ding of the early dialogues as being primarily aporia-ba sed dialogues which provides the key to the ti esti question.
The book is divided into two parts. Part I is dedicated to the criticism of the ‘de”nition based-account’. Politis’ point is to show, against this view, that the ti esti question stands in need for justi”cation, and consequen tly, that the ti esti question cannot alone be the crux of the dialogue. !ree elements are put forward: “rst, the place of the ti esti question in the inquiry, which, Politis shows, is raised at di$erent places depending o n the dialogue, including at the very end; secondly, Socrates’ requirement to answer the ti esti question by giving a unitary, general and explanatory de”nition, and not by pointing at an example; and, thirdly, the suppos ed bene”ts of answering the ti esti question, which ex- plains why it is seen as an indispensable step by Socrates and is pursued relentlessly. The second point has, in particular, crystallised the attention of critics. On the whole, those who have recognised the need for justication of the requirements for de”nitions have eit her argued against Plato that such a justi”cation is mi ssing (Peter Geach, famously) or that the justi”cation is to be found in Plato’s theory of knowledge. Politis argues for a third way namely, that Plato’s justi”cation is in deed to be found in the dialogues — this is the whole point of Part II — but that it is not to be found in his theory of knowledge. Large sections of Part I are dedicated to the latter issue, which certainly constitutes one of the main strengths of the book.
Part II is the constructive part of the book, where Politis argues that the raising and the pursuing of the ti esti question is in fact motivated by the emergence of an aporia within the dialogue. The “rststep consist s in establishing that the ti esti question is always preceded, or raised together with, one or many questions of t he form ‘whether or not Φ is Ψ ’. This claim is based on the study of a large range of dialogues — Charmenides, Euthyphro, Republic I, Gorgias, Hippias Major, Lach es, Protagoras, Meno, Lysis — which are brought under close examination. In a second step, Politis shows how some of these whether-or-not questions articulate an aporia, that is a conflict of reasons such that ther e appears to one and the same person to be genuinely go od reasons on both sides of the whether-or-not question, and how then it is in order to “nd a way out of the aporia that a ti esti question, that is the question for a standard of a thing’s being Φ, is raised. Again, the argument is carried through the careful study of four dialog ues — Euthyphro, Charmides, Protagoras, Meno. Finally, Politis develops the notion of ‘radical aporia’ to explain that some aporiai are such that they render question- able every example-and-exemplars of a thing’s being Φ, and that this is the reason why Socrates, in this p recise situation, requires that the ti esti question must be an- swered not by pointing at an example but by giving a unitary, general and explanatory de”nition of Φ.
Politis’ book is undeniably of great value for the study of Plato’s early dialogues. Not only does it challenge the traditional view on the ti esti question, but it completely renews the role of aporiai in these dialogues. If a poriai still refer to a state of puzzlement, they are more fundamentally a decisive moment in an inquiry and they show that a further step is required in order to pur sue the original issue. Given that whether-or-not quest ions naturally provide the ground for the emergence of aporiai, and given that, as Politis has shown, Plato in these dialogues takes the raising of whether-or-not quest ions as his starting-point, one could say in that sense t hat Plato is an aporetic thinker. However, this should not be interpreted in any way as implying that Plato is a sceptic. Politis devotes a chapter in Part II to ref ute this claim, which has being considered by Julia Annas an d more recently defended by Michael Forster. Politis argues against this view that if there is indeed a sc eptical dimension in the method of aporia-based inquiries, the raising of the ti esti question shows on the contrary that the moment of the aporia is meant to be overcome. ! e ability of Politis to tackle all these di$erent asp ects of the topic is another major asset of this book. For inst ance, the apparent paradox of Socrates’ ignorance, who on the one side denies that he possesses any knowledge but on the other side defends some strong positions, a paradox which becomes acute in the Gorgias for instance, is also addressed. Finally, the signi”cance of the book goes beyond the early dialogues. As the author himself puts it, the careful study of the raising o f the ti esti question brings us to ‘the roots of Plato’s essent ialism’, and as a result, it is likely that such an im portant change in the understanding of the role of the ti esti question in these dialogues will have consequences for our understanding of the theory of forms. In particu lar, the fact that only radical aporiai require answerin g the ti esti question with a unitary, general and explanatory de”nition could have implications for the question of whether there is a form for each and every thing. But this point goes well beyond the scope of the book, and accordingly, Politis does not deal with it. Nonethe less, this is another element which makes this book so va luable for any student of Plato and, I think, many st udents of philosophical method and enquiry.
Pauline Sabrier – Trinity College Dublin (Ireland), E-mail: [email protected]
Interpreting Schelling: Critical Essays – OSTARIC (RFMC)
OSTARIC, Lara (Editor). Interpreting Schelling: Critical Essays. Cambridge University Press,2014. Resenha de: PACHECO, Marília Cota. Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, Brasília, v.6, p. 197-202, n.2, dez. 2018.
Interpretando Schelling: Ensaios Críticos é uma coletânea de onze ensaios, organizados por Lara Ostaric2 . Esses ensaios traçam sistematicamente o desenvolvimento histórico do pensamento de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling desde a Filosofia Transcendental e Filosofia da Natureza (1794-1800), passando pela sua Filosofia da Identidade (1801-1809), Escritos sobre a Liberdade, Idades do Mundo (1809-1827), chegando até sua Filosofia Positiva / Negativa e à crítica de Hegel (1827-1854). Como bem ressalta a organizadora, o volume oferece uma compreensão mais sutil do idealismo alemão do que a oferecida por uma narrativa super simplificada “de Kant a Hegel,”3 que retrata esse movimento filosófico como uma progressão teleológica que começa com Kant, é avançada por Fichte e Schelling e culmina no sistema de Hegel que sintetiza todas as visões anteriores.
É claro que o assim chamado idealismo objetivo de Schelling, com um princípio incondicionado que transcende tanto o sujeito quanto o objeto, marca um afastamento do idealismo subjetivo de Fichte e abre caminho para o sistema de Hegel. No entanto, prestando mais atenção à constelação das ideias que motivaram o pensamento de Schelling, é possível apreciálo mais como um pensador original, um pensador cujo impacto ultrapassou o estágio inicial do idealismo alemão e cujas ideias são importantes para nós hoje.4
A coletânea nos mostra muito mais continuidade no pensamento de Schelling do que é geralmente reconhecido; ressalta os diferentes estágios no desenvolvimento de seu sistema filosófico não como um sinal de imaturidade intelectual, nem como o resultado inevitável da influência de muitas e diferentes posturas filosóficas. O conjunto desses ensaios críticos indica que talvez as reformulações de Schelling em seu próprio sistema filosófico sejam “uma indicação de sua modéstia e seu reconhecimento de que, embora rigorosa e sistemática, a reflexão filosófica não seja onipotente diante da complexidade da condição humana,” como bem ressalta Ostaric.
Em “The Early Schelling on the Unconditioned,” Eric Watkins5 faz uma análise das passagens centrais de dois ensaios do jovem Schelling: Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt – 1794 (Sobre a possibilidade de uma forma absoluta de filosofia) e Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen – 1795 (Do eu como o princípio da filosofia, ou Sobre o Incondicionado no Conhecimento Humano). Watkins esclarece como o primeiro Schelling chega a empregar a noção de “incondicionado” no centro de seu projeto filosófico; sem negar a influência de outras figuras no pensamento inicial de Schelling, como Fichte ou Reinhold, Watkins argumenta que são as visões específicas de Kant sobre o incondicionado que desempenham um papel crucial no desenvolvimento de uma série de características fundamentais do pensamento inicial de Schelling.
Michael N. Forster6, em seu ensaio “Schelling and Skepticism”, contesta as acusações de Hegel em sua Introdução à Fenomenologia do Espírito sobre a filosofia de Schelling entendida como dogmática e vulnerável ao ceticismo. Segundo Forster, tais acusações não são totalmente justificadas; não se aplicam à carreira de Schelling como um todo, pois as reflexões de Schelling sobre o ceticismo e sua relação com a filosofia passaram por três fases diferentes. A primeira é uma posição inspirada, durante o período de 1794-1800; a segunda, uma posição inspirada em Hegel, que ele adotou brevemente em 1802-1803 e a terceira, uma posição inspirada no romantismo que ele adotou por volta de 1821. No final de seu ensaio, Forster considera uma quarta fase da tentativa de Schelling de lidar com o ceticismo: a sua filosofia positiva como uma modificação da sua posição inspirada no Romantismo.
Em “The Concept of Life in Early Schelling,” Lara Ostaric mostra como nos estágios iniciais de sua Naturphilosophie Schelling é motivado pela questão da correspondência necessária entre o eu e a natureza e, portanto, tenta demonstrar que a natureza não é um objeto inanimado desprovido de autoconsciência, mas algo que é ao mesmo tempo um sujeito e seu próprio objeto. A natureza não deve ser concebida como um mecanismo morto, mas como uma organização viva e como um “análogo da razão” e liberdade, porque ser o próprio sujeito e objeto é ser autodeterminado. É isso que Schelling considera a característica essencial da vida. Nisso, Ostaric mostra que os primeiros escritos de Schelling fazem parte de um desenvolvimento progressivo e contínuo de seu sistema filosófico. Paul Guyer7, em seu ensaio “Knowledge and Pleasure in the Aesthetics of Schelling” (Conhecimento e Prazer na Estética de Schelling), analisa passagens centrais do Sistema de Idealismo Transcendental de 1800, e das palestras sobre A Filosofia da Arte 1802-1803 (Philosophie der Kunst), para mostrar como Schelling adotou e transformou a concepção estética de Kant. Guyer alega que Kant criou uma síntese da nova estética desenvolvida em meados do século XVIII na Escócia e na Alemanha, com a teoria clássica de que a experiência estética é uma forma distinta de apreensão da verdade. A estética de Schelling favorece uma abordagem puramente cognitiva e a compreensão de que a experiência estética é prazerosa apenas porque nos libera da dor de uma contradição inescapável da condição humana. Em “Exhibiting the Particular in the Universal’: Philosophical Construction and Intuition in Schelling’s Philosophy of Identity (1801-1804)”(Exibindo o Particular no Universal: Construção Filosófica e Intuição na Filosofia da Identidade de Schelling), Daniel Breazeale8 discute o método de construção filosófica de Schelling em sua Filosofia da Identidade. Inuenciado pelo texto de Kant Princípios Metafísicos… (onde “construir” um conceito é “exibir [darstellen] a priori a intuição correspondente a ele”) e pelo desenvolvimento posterior que Fichte dá a esse método filosófico, Schelling desenvolve sua própria concepção de construção filosófica. Breazeale concentra-se em oito das características mais importantes do método de construção de Schelling: (1) seu ponto de vista “absoluto”, (2) seu princípio (a lei da identidade racional), (3) seu órgão (intuição intelectual), (4) seu método atual (exposição do particular no universal), (5) seus elementos (ideias da razão), (6) seu produto (o Sistema de Identidade), (7) sua verdade e realidade, e (8) a capacidade inata e intocável de intuição intelectual (gênio filosófico). Em sua conclusão, ele oferece um exame e uma crítica à concepção de construção filosófica de Schelling.
Em seu ensaio”IdentityofIdentity and Non-Identity: Schelling’s Path to the Absolute System of Identity,” (Identidade de identidade e não-identidade: o caminho de Schelling para o Sistema Absoluto de Identidade), Manfred Frank9 foca no pensamento central do Sistema Absoluto de Identidade de Schelling, que diz respeito a uma forma de identidade que não é simples, mas concebida de tal modo que duas coisas diferentes pertencem inteiramente a um e mesmo todo. Frank descreve os problemas do início da filosofia moderna, para os quais a noção de identidade de Schelling tenta fornecer uma solução. Discute as figuras da história da filosofia que influenciaram a Filosofia da Identidade madura de Schelling e mostra a relevância da noção de identidade de Schelling para as teorias contemporâneas sobre mente-corpo. NapartefinalFrank aborda a diferença entre a noção de identidade de Schelling e Hegel.
Em “Idealism and Freedom in Schelling’s Freiheitsschrift” (Idealismo e Liberdade no Freiheitsschrift de Schelling), Michelle Kosch10 faz uma distinção entre uma concepção “formal”de liberdade, isto é, uma caracterização do livre-arbítrio que permite uma distinção entre comportamento imputável / não-imputável e uma concepção do livre-arbítrio como fonte de imperativos morais.
No seu ensaio “Beauty Reconsidered: Freedom and Virtue in Schelling’s Aesthetics” (Beleza reconsiderada: liberdade e virtude na estética de Schelling), Jennifer Dobe considera que Freiheitsschrift (1809) de Schelling, contrariando a visão predominante, oferece recursos para identificar a nova e inovadora abordagem de Schelling à estética. Concentra-se nas principais passagens do discurso de Schelling de 1807 para a Akademie der Wissenschaften em Munique (Über das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur) e nos fragmentos de Weltalter de 1811-1515. Dobe mostra como Schelling começa a ampliar sua estética com base na nova concepção de liberdade alcançada em Freiheitsschrift.
Em “Nature and Freedom in Schelling and Adorno” (Natureza e Liberdade em Schelling e Adorno), Andrew Bowie11 mostra como a tensão dialética entre existência e seu fundamento, razão autodeterminada e seu outro, no Freiheitsschrift de Schelling, abre espaço para uma compreensão não-dogmática da Natureza, isto é, uma compreensão da Natureza como algo que precisa ser legitimado e não algo usado como legitimação, mostrando sua relação com o sujeito e, portanto, com a liberdade.
O ensaio de Günter Zöller, “Church and State: Schelling’s Political Philosophy of Religion” (Igreja e Estado: Filosofia Política da Religião de Schelling), enfoca a relação entre Igreja e Estado no Curso de Palestras Privadas de Stuttgart de 1810 e em suas Investigações Filosóficas sobre a Essência da Liberdade Humana de 1809. Num primeiro momento Zöller apresenta o pano de fundo histórico da filosofia política da religião de Schelling; em seguida, o desenvolvimento de uma concepção liberal e legal do Estado para uma concepção absolutista e ética na filosofia política de Schelling. Por fim Zöller discute a teoria filosófico-teológica de Schelling sobre o estado.
A coletânea finaliza com o ensaio de Fred Rush12 “Schelling’s Critique of Hegel” (A Crítica de Schelling a Hegel), cujo foco central são as preleções de Berlim, apresentadas nas décadas de 1840 e início de 1850, quando Schelling faz uma ampla distinção entre duas abordagens da filosofia: “negativa”e “positiva.”O ensaio de Rush levanta a questão de até que ponto a crítica de Schelling a Hegel é válida. Sua principal alegação é que as críticas de Schelling retêm em grande parte sua força, embora algumas delas mostrem que o Schelling tardio está mais próximo de Hegel em alguns pontos do que a polêmica filosófica inicialmente sugeriria.
Notas
2 Lara Ostaric é Professora Assistente de Filosofia na Temple University. Publicou artigos sobre Kant e Schelling e está trabalhando num livro sobre a terceira Crítica de Kant e sua influência na filosofia alemã pós Kant.
3 Von Kant bis Hegel é o título do importante estudo sobre o idealismo alemão de Richard Kroner.
4 Ostaric, Lara. Interpreting Schelling: Critical Essays. Edited By Lara Ostaric, Cambridge University Press, 2014, Introduction, p. 03. A tradução é minha.
5 Eric Watkins é professor de Filosofia na Universidade da Califórnia em San Diego. Ele é o autor de Kant and the Metaphysics of Causality (Cambridge, 2005), o editor de Kant and the Sciences (2001), o editor e tradutor de Kant’s Critique of Pure Reason: Background Source Materials (Cambridge, 2009).
6 Michael n. Forster é Professor na Alexander von Humboldt, titular da cadeira de Filosofia Teórica e co-diretor do Centro Internacional de Filosofia da Universidade de Bonn. Ele é o autor de German Philosophy of Language: From Schlegel to Hegel and Beyond (2011), After Herder: Philosophy of Language in the German Tradition (2010), Kant and Skepticism (2008), Wittgenstein on the Arbitrariness of Grammar (2004), Hegel’s Idea of a Phenomenology of Spirit (1998), and Hegel and Skepticism(1989).
7 Paul Guyer é Professor na Brown University. Ele é o autor de nove livros sobre Kant, incluindo Kant and the Claims of Taste (Cambridge, 1997, 2nd edn.), Kant and the Claims of Knowledge (Cambridge, 1987), Kant and the Experience of Freedom (Cambridge, 1993), e Kant on Freedom, Law, and Happiness (Cambridge, 2000). O professor Guyer é um dos coeditores gerais da Cambridge Editionde Kant. Seu trabalho de três volumes, A History of Modern Aesthetics, foi publicado pela Cambridge em 2014
8 Daniel Breazeale é professor de Filosofia na Universidade de Kentucky. Ele é o autor de Fichte and the Project of Transcendental Philosophy e numerosos artigos de revistas, capítulos de livros, traduções e edições de / sobre filosofia alemã de Kant a Nietzsche, com um foco de pesquisa sobre a filosofia de J.G. Fichte.
9 Manfred Frank é Professor Emérito de Filosofia na Eberhard Karls University, Tübingen. Ele é autor de inúmeros artigos, edições e monografias, que foram traduzidos para mais de vinte idiomas. Seus livros incluem Der unendliche Mangel an Sein. Schellings Hegelkritik und die Anfänge der Marxschen Dialektik (1975/1992), Selbstbewutsein und Selbsterkenntnis. Essays zur analytischen Philosophie der Subjektivität (1991) e ‘Unendliche Annäherung.’ Die Anfänge der philosophischen Frühromantik (1997).
10 Michelle Kosch é Professora Associada de Filosofiana Cornell University. Ela é autora de Freedom and Reasonin Kant, Schelling, and Kierkegaard (2006) e vários artigos sobre Kierkegaard, Fichte e a filosofia continental do século XIX.
11 Andrew Bowie é professor de Filosofia e Alemão na Royal Holloway, Universidade de Londres. Ele é o autor de Adorno and the Ends of Philosophy (2013), German Philosophy: A Very Short Introduction (2010), Music, Philosophy, and Modernity (Cambridge, 2007), Introduction to German Philosophy from Kant to Habermas (2003), From Romanticism to Critical Theory: The Philosophy of German Literary Theory (1997), Schelling and Modern European Philosophy: An Introduction (1993), e Aesthetics and Subjectivity from Kant to Nietzsche (1990).
12 Fred Rush é Professor Associado de Filosofia na Universidade de Notre Dame. Ele é o autor de Irony and Idealism (2014), On Architecture (2009) e o editor do Cambridge Companion to Critical Theory (Cambridge, 2004).
Marília Cota Pacheco – Professora substituta do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília.
Plato’s Erotic World: From Cosmic Origins to Human Death – GORDON (RA)
GORDON, J. Plato’s Erotic World: From Cosmic Origins to Human Death. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Resenha de: Riegel, Nicholas. Revista Archai, Brasília, n.14, p. 159-162, jan., 2015.
In this work, Jill Gordon presents a contribution to the scholarship that must be read by anyone interested in the subject of erotic love, eros, and related issues in Plato. The book is written in a clear style which will be accessible to undergraduates, and it contains insights and new interpretations which will challenge and be useful to more advanced scholars as well. Though the lack of a conclusion would seem to indicate that her book is not primarily written in the form of an argument, Gordon wants to defend several theses. The main goal of the book is to highlight the significance of those passages in the Platonic corpus having to do with eros, which are outside of what are traditionally considered Plato’s erotic dialogues, namely, Symposium, Phaedrus, Charmides, Lysis, Alcibiades I, and perhaps Republic (1). While she will have certain things to say about these dialogues, especially Phaedrus and Alcibiades I, she will focus on the role of eros in Timaeus, Cratylus, Protagoras, Parmenides, Theaetetus, and Phaedo. Within these dialogues her main aim is to show how eros is part of our divine origin, and how through proper cultivation of eros we may return to that original state. The proper cultivation will involve, first, becoming aware of one’s ignorance and adopting an interrogative outlook. Second, it will require the courage to undertake a long and difficult task whose outcome is uncertain. It will also require guides who know the soul, and who are adept both at matchmaking and leading their charges to self-knowledge. And finally she addresses the connection between eros and the memory of our original state to which we strive to return. Thus Gordon takes us on a circular journey beginning with our divine origins in the Timaeus, then descending to the difficulties of our embodied state in the Cratylus, Protagoras, Parmenides and Theaetetus, and then finally returning to our nostos, our journey home, and re-attainment of that original state, in the Phaedo.
In the first chapter, Gordon is primarily concerned to establish two points. The first is that, contrary to the traditional reading of the Timaeus, eros is part of our original noetic condition and thus eros, or at least the capacity for it, is part of the Demiurge’s contribution to the human soul, as opposed to being the work of the lesser gods. The second and for Gordon related point is that eros is not an emotion and it is not part of the epithumetic desires, which at least in Republic Book IV constitute the third part of the soul. Gordon wants to establish the latter point because, among other reasons, if eros were an emotion or among the epithumetic desires then it would be part of the work of the lesser gods in the Timaeus. And, according to Gordon, this would imply that eros is not due to the creative activity of the Demiurge himself and therefore that it is not part of our original noetic condition.
Her main argument for the view that the Demiurge is responsible for eros in the human soul revolves around the interpretation of two passages, Timaeus 42a-b and 69c-e, which seem to say much the same thing. Both seem to describe how the affections, such as fear, anger, and eros, come to be in the human soul in connection with its embodiment. At 69c-e the introduction of these affections (if I may use that word) is clearly the work of the lesser gods. The crucial question is whether the earlier passage, 42a-b, likewise describes the work of the lesser gods. According to Gordon, the traditional interpretation accepts that it does, but Gordon argues that 42a-b describes the Demiurge’s own work, and thus that eros, or the capacity for eros, is part of our original noetic and divine condition. Gordon presents three reasons for believing this. First, 42a-b “occurs before the demiurge has handed off responsibility for the mortal soul to the lesser gods. It presents itself as part of the demiurge’s long set of instructions and descriptions of his work, which precedes what he assigns to the lesser gods”(16). Second, the affections at 69c-e are presented in a negative light, while they are not so presented at 42a-b. And third, 69c-e occurs after the “new beginning”at 48a-b, where Timaeus switches from speaking about the causal role of intellect to that of necessity.
In chapters 2 through 5 Gordon explores the four main aspects of eros, which emerge in the context of the self-cultivation required to achieve the return our original noetic state. Chapter 2 mainly concerns the importance of questioning and the interrogative state for eros. She begins with the Cratylus where a homophonic connection is made between the Greek words for ‘hero,’ ‘eros,’ and ‘questioning’ (ἥρως, ἔρως, ἐρωτάω). Heroes occupy a position between the gods and mortals, much as Diotima describes eros in the Symposium. And Gordon ties Socrates’ claim to knowledge of erotics in Symposium to his expertise in questioning. By asking questions, Socrates shows his interlocutors that they do not know what they thought they knew, and thus he instills in them the erotic desire to know the truth. Chapter 3 discusses the courage required to engage in erotic questioning and in the philosophic pursuit generally. Here Gordon takes Parmenides as her starting point, claiming that “eros is a significant philosophical theme”in that dialogue (86). Her grounds for saying so revolve mainly around the fear Parmenides and Socrates share both about the range of the Forms, and about the problems of discontinuity between the realm of the Forms and the concrete realm. This fear is to be overcome by the philosophical exercise exemplified by Parmenides in the second half of the dialogue. Gordon highlights the erotic dimension of gymnastic training in Ancient Greece, and thus connects the second half of the Parmenides with an erotic desire which in some way overcomes the discontinuity between the concrete and abstract realms.
In the fourth and fifth chapters Gordon tackles the related issues of matchmaking, self-knowledge, and the necessity of having a good leader or teacher. In the Theaetetus Socrates reveals that matchmaking is part of his maieutic art, and he uses his knowledge of these matters to demonstrate that Theodorus is not a good match for Theaetetus, because, among other reasons, Theodorus does not have a good understanding of Theaetetus’ soul. The significance of good matchmaking becomes apparent when we turn to the Alcibiades, where Socrates reveals to Alcibiades that he needs a good teacher in order to achieve self-knowledge, and that in fact Socrates himself would be his best teacher because Socrates understands Alcibiades’ soul. In chapter 5 Gordon takes on several of Schleiermacher’s arguments against the authenticity of the Alcibiades. She argues that self-knowledge can only be achieved in the company of another, and that it is best achieved in the company of a lover who knows one’s soul. Self-knowledge is crucial in order to discover what one truly desires and loves. Thus in helping the beloved achieve self-knowledge the lover also redirects the beloved’s eros towards its true objects.
Finally, in the last chapter Gordon addresses the connection between eros and memory in helping us return to our original noetic state in the Phaedo. Here she highlights the example of seeing the lyre or cloak of the beloved as an explanation of the connection between eros and memory. And she challenges the tradition according to which recollection is a purely mental, rational endeavor. Instead Gordon highlights the importance of the senses, of actually seeing the cloak or lyre or equal sticks, in the act of remembering our original condition.
Clearly it is only possible to give the broadest outline Gordon’s work here, and many of her most rewarding and challenging insights and interpretations have been left for the reader to discover. At this point, however, I turn to making three evaluations before concluding.
First, while I agree that there is evidence in the Platonic corpus for the view that eros is part of our original noetic condition, I find myself un-persuaded by Gordon’s interpretation of the Timaeus. While not claiming any expertise on that dialogue it seems that on a straightforward reading of Timaeus 42a-b, the Demiurge is merely explaining to the human souls what will happen to them once they are embodied and receive affections such as anger, fear, and love. The passage is preceded by the following: “And putting each in a sort of chariot he showed them the nature of the universe and told them the ordained laws… (καὶ ἐμβιβάσας ὡς ἐς ὄχημα τὴν τοῦ παντὸς φύσιν ἔδειξεν, νόμους τε τοὺς εἱμαρμένους εἶπεν αὐταῖς, 41e).”As I read the text, everything that follows until 42d is part of this explanation by the Demiurge to the human souls about what will happen to them, namely that they will receive affections when embodied and that they must control these if they wish to regain their original divine state. This interpretation is supported at the end of the passage where Timaeus states, “Prescribing all these things to them, in order that he might be blameless for the evil of each… (διαθεσμοθετήσας δὲ πάντα αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα τῆς ἔπειτα εἴη κακίας ἑκάστων ἀναίτιος, 42d).”So, I see no reason to take 42a-b as referring to the Demiurge’s own creative activity. It seems, rather, that he is only explaining to them how to live once they received the affections by necessity upon being embodied. And 69c-e further specifies that the embodiment and consequent reception of the affections is the work of the lesser gods. This is not, however, to say that Gordon is wrong to believe that eros is part of our original noetic condition. It is only to say that I think one could find better support for such a thesis elsewhere in the Platonic corpus, e.g. from Symposium where Socrates/ Diotima specifically speaks about the possibility of continuing to feel eros even when one possesses the good (Symposium 200c-d, cf. 206a-7a).
Second, at times I found myself remaining skeptical about Gordon’s claims regarding the meanings of certain Greek words and concepts, in particular the claim that they have erotic connotations. She claims, for example that “the horse was used in old comedy as a phallic stand-in”(101), and thus that a possible interpretation of Parmenides’ reference to feeling like an old horse at Parmenides 136e-7a is that it is “a playful and raunchy way of expressing that he is being asked to “get it up” again in old age…”(102). Even if it is true that the horse is used as a phallic stand-in in old comedy, I do not see that it follows from this that the horse always has erotic connotations, and so I see no reason to impute such connotations to this part of the Parmenides. I feel much the same way about her claims regarding ‘persuasion’ (Πειθώ, 34-7, 118- 19), ‘yielding’ (ἡσσάομαι, 36), ‘gymnastic training’ (γυμνάζω, 98), ‘leading’ (προάγω, 168), among others. Even if these concepts sometimes have erotic connotations, it does not follow that they always have them – or at least more work is needed to establish that they do – and so the reader remains skeptical about the inference that they have such connotations in the passages in question.
Finally, I would like to present a criticism which will reveal my biases most of all. And this is that for me the question of eros in Plato is essentially bound up with the questions of goodness and beauty. In this sense, I think, the strength of Gordon’s work is also its weakness. For in focusing on what are traditionally not considered erotic dialogues, it seems to me that certain central issues concerning eros are omitted, which are addressed in the traditional erotic dialogues, especially Symposium and Phaedrus. In the Symposium it is a major revelation that the object of eros is goodness, not beauty (204d-e). And eros is defined as the desire to possess the good forever (206a). And yet Gordon says very little about beauty and even less about goodness. We may infer that, for Gordon, the good which is the proper object of eros is the return to the original noetic condition, and no doubt this is true. But the question remains, why is that original noetic condition good? The Symposium explicitly addresses and rejects the idea that return to original conditions is good merely because it is a return to original conditions. This was Aristophanes’ thesis. Aristophanes argued that the goal of eros was to return us to our original condition of wholeness with our other halves. But Diotima explicitly rejects this thesis at 205e. We would not want original conditions unless those original conditions were good, and thus we cannot assume that original conditions are always good. This is something which has to be determined. So the question remains, why is our original noetic condition good?
I have no doubt that Gordon can answer all these questions soundly. And good work in this field should generate controversy and disagreement. In this book Gordon has contributed greatly to the understanding of eros in Plato, and in particular to the appreciation of the significance of the topic outside what are traditionally held to be the erotic dialogues. And it is expected that more research will arise out of the important issues she raises in this work.
Nicholas Riegel – Universidade de Brasília, Brasília, Brasil. E-mail: [email protected]
Toleration in Conflict: Past and Present | Rainer Forst
Tolerance and toleration, especially at times of conflict are, indeed, hard to come by. But what are exactly these words? What do they mean? Forst addresses these questions in a thorough manner. He argues in favor of recognizing that there is but one concept of toleration, and four conceptions of it. But first let me set the stage of what are the four meanings of “toleration in conflict”: 1) it can be “an attitude or practice that is only called for within social conflicts of a certain kind” (Forst 2013:1), not solving conflicts, merely containing them; 2) that the demand for toleration arises with conflicts — not existing prior to nor beyond them, toleration is an integral part of conflicts being, itself, an “interested party”; 3) that toleration not only is an interested party in conflicts but also the object of conflicts itself; 4) that there is a conflict within the concept of toleration itself, derived from the fact that there is only one concept of toleration, even though differing conceptions have been formulated over time.
Having said that, Forst addresses the pressing issue of concept and conceptions of toleration. A concept can be defined as basic semantic components, whereas conceptions are interpretations of these elements/components. There are six such components that, taken together, form the concept of toleration: the context of toleration; the objection component; the acceptance component; the limits of toleration; that tolerance is exercised by one’s own free will; and that the concept of toleration can subsume either the need to contemplate minorities with certain rights and personal tolerance towards practices one is not personally fond of. To better grasp the concept one needs three elements: to understand the history of the conceptualization of toleration; to examine the concept in its normative and epistemological dimensions; and to situate the concept in today’s conflicts, evaluating its content objectively. Leia Mais
From Africa to Brazil: Culture, Identity, and an Atlantic Slave Trade, 1600-1830 – HAWTHORNE (RBH)
HAWTHORNE, Walter. From Africa to Brazil: Culture, Identity, and an Atlantic Slave Trade, 1600-1830. Cambridge (U.K.): Cambridge University Press, 2010. 254p. Resenha de: MACHADO, Maria Helena P. T. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.34 n.67, jan./jun. 2014.
Entre os povos do litoral da Alta Guiné, quando alguém cai doente ou morre, considera-se necessária a presença de um jambacous – palavra em crioulo para designar adivinhadores, curadores, médiuns e outras figuras sociais participantes do mundo do sagrado – capaz de curar o doente ou pelo menos restaurar o equilíbrio social perdido como consequência da ação maléfica de feiticeiros, causadores do mal. Utilizando-se de poções, amuletos ou grisgris, assoprando, declinando palavras sagradas e realizando outras performances, o jambacous, muitos deles mandinkas, assumia um importante papel na restauração do equilíbrio social das famílias, linhagens e comunidades. Nos séculos XVIII e inícios do XIX, para essas comunidades costeiras, era medida de grande importância detectar os feiticeiros maléficos para retirá-los da sociedade por meio da pena de morte ou da venda do indivíduo no circuito do tráfico transatlântico de escravos.
No Pará da década de 1760, o escravo mandinka José foi chamado para curar a escrava bijagó, Maria, que estava gravemente doente. Para tal, José preparou uma mistura de plantas e a administrou pronunciando palavras incompreensíveis, como parte de um ritual complexo que incluía tanto o conhecimento herbalista quanto o contato com o invisível. Nada sabemos da história pessoal de José. O fato, porém, de o tráfico entre a Alta Guiné e a Amazônia – como bem mostra o livro From Africa to Brazil – ter colocado em circulação um grande número de feiticeiros, pode lançar luz sobre aspectos ainda desconhecidos e insuspeitados da rica história atlântica que entrelaçou as sociedades costeiras e das terras altas da Alta Guiné com as da Amazônia colonial, mais particularmente o Maranhão da segunda metade do século XVIII e primeiras décadas do XIX.
Sintetizado em enxutas 254 páginas, o livro escrito por um dos maiores especialistas na história da Guiné, Walter Hawthorne, lança luz agora sobre diferentes aspectos que condicionaram a história da montagem de uma economia escravista atlântica no Estado do Grão-Pará e Maranhão.
Como mostra o autor, foi a dinâmica do tráfico transatlântico que promoveu a recuperação da economia da Amazônia, ocorrida a partir da fundação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, em 1755, e até as primeiras décadas do século XIX. Analisando temas amplos e variados, o livro aborda a montagem e declínio de uma economia escravista amazônica baseada na mão de obra indígena, a estruturação do tráfico transatlântico – que permitiu a concretização das políticas reformistas pombalinas relativa ao desenvolvimento da cultura do arroz, principalmente no Maranhão da segunda metade do XVIII – e, finalmente, a estruturação de uma economia e uma sociedade escravistas na Amazônia.
A economia da Amazônia baseava-se, sobretudo, no labor que os trabalhadores escravizados da Alta Guiné desenvolviam no cultivo do arroz, trabalhando de sol a sol no inclemente clima tropical da região, em uma agricultura que sugava gigantesco volume de trabalho escravo, da etapa de derrubada da floresta à incessante capinação, colheita e beneficiamento do arroz carolina, o qual, muito apreciado pelos portugueses, encontrava um mercado consumidor voraz no ultramar. Assim, insisto, os escravos oriundos da Alta Guiné tornaram-se a base da economia e sociedade amazônicas do período. Os dados e análises dispostos nesse livro são ricos e variados, salvo engano o mais completo estudo a respeito da constituição da sociedade escravista transatlântica na Amazônia.
Entre a miríade de assuntos abordados por Hawthorne, dois aspectos sobressaem. Em primeiro lugar, ressalto a análise a respeito do tráfico de escravos, por meio da qual o autor corrige os dados disponíveis no The Transatlantic Slave Trade Database (www.slavevoyages.org). Utilizando-se de variados documentos – relatórios sobre tráfico de escravos, cartas, inventários de proprietários de fazendas e documentos eclesiásticos, entre outros, provenientes de ambas as regiões ligadas pelo tráfico transatlântico – Hawthorne mostra que o tráfico de escravos entre a Alta Guiné e a Amazônia, da segunda metade do século XVIII até meados do XIX, se desenvolveu principalmente à custa das sociedades costeiras e não das localizadas nas terras altas. Se, de fato, o tráfico engolia tanto populações de terras altas como costeiras – mandinkas, bijagós, papeis, balantas etc. – circunstâncias ligadas ao sistema social que produzia cativos acabaram por sugar majoritariamente grupos litorâneos. De fato, o livro discute como as sociedades costeiras da Alta Guiné se achavam particularmente sensíveis ao tráfico devido tanto à necessidade de consumo de instrumentos de ferro para a manutenção dos sistemas de irrigação e drenagem de águas nas áreas produtoras de arroz, quanto à dinâmica do sistema social de sequestro de indivíduos de etnias vizinhas e de perseguição de feiticeiros. As vítimas, vendidas aos agentes do tráfico local, a maioria destes “lançados”. Assim, From Africa to Brazil comprova que eram as sociedades costeiras que, subjugadas por suas próprias dinâmicas e demandas, se tornaram as mais fragilizadas frente ao tráfico.
Seguindo a interpretação proposta por Sidney Mintz e Richard Price, o autor argumenta que, mais do que o pertencimento a grupos étnicos específicos, a travessia do Atlântico produzia uma identidade pan-regional, estabelecendo profundos laços entre pessoas que usufruíam do mesmo universo cultural mais amplo, mas que, em suas sociedades originais, haviam permanecido separadas por pertencimentos étnicos específicos.
O segundo aspecto especialmente rico desse trabalho se materializa na discussão do sistema de produção de arroz e, neste, o papel desempenhado pelo trabalhador escravizado da Alta Guiné. Opondo-se à tese do “arroz negro”, desenvolvida por Judith Carney no livro Black Rice, cujo argumento central gira em torno da continuidade dos métodos e técnicas da produção desse cereal entre a África e as colônias das Américas, este livro documenta a descontinuidade entre o tipo de cultivo de arroz praticado nas terras alagadas da região costeira da Alta Guiné, que exigia um importante conjunto de saberes detidos pelos homens, e a agricultura de queimada e derrubada – a coivara –, dominante no espaço colonial amazônico dedicado à rizicultura. O que sugere este livro é que o sistema de plantio de arroz desenvolvido na Amazônia seria fruto da conjugação de saberes variados, provenientes dos indígenas, portugueses e, certamente, também dos trabalhadores provenientes da Alta Guiné– sendo, por seu caráter multicultural, mais bem conceituado como “brown rice”, algo como “arroz pardo”, que em inglês produz um trocadilho com o termo usado para definir arroz integral.
Se os homens teriam seus saberes tradicionais quase excluídos do sistema de produção colonial, teria cabido às mulheres a tarefa de manter e transmitir conjuntos de práticas e saberes ligados aos hábitos de vida e costumes alimentares originários das terras costeiras da Alta Guiné, permitindo a manutenção de fortes laços entre as populações escravizadas na Amazônia e o pan-regionalismo das sociedades étnicas de Cacheu e Bissau.
Finalmente, em seus últimos capítulos, Hawthorne se volta para a discussão do cotidiano do escravo na sociedade maranhense, marcado por crenças e práticas espirituais originárias da Alta Guiné. Aqui o autor se dedica a traçar as continuidades e permanências de práticas, ritos e crenças que permitem o rastreamento das íntimas conexões existentes entre a Alta Guiné e a Amazônia, de ontem e de hoje. Embora, sem dúvida, ele aí apresente instigantes dados e análises, essa é a parte menos aprofundada do livro. Resumida em capítulos curtos e carecendo de um maior diálogo com a história social da escravidão na Amazônia e em outras regiões do Brasil, essa parte do livro contrasta com a riqueza encontrada nas outras, embora ofereça dados raramente encontrados em estudos nacionais sobre a região.
Em suma, o livro como um todo apresenta ampla e aprofundada análise de aspectos cruciais da montagem, desenvolvimento e declínio do sistema de escravidão africana na Amazônia e de suas conexões com povos, práticas e ritos de povos variados, mas sobretudo costeiros, da Alta Guiné. Por isso, From Africa to Brazil é um livro que merece ser lido por todos os interessados na história da África, do tráfico transatlântico, do sistema escravista e dos povos da Amazônia. Um livro que devia também ser traduzido para divulgar a história da escravidão numa região em que ela é ainda pouco desenvolvida.
Maria Helena P. T. Machado – Departamento de História, Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected].
[IF]
War/ Religion, and Empire: The Transformation of International Orders | Andrews Phillips
The issue of international orders is a specially pressing one in the field of International Relations. Orders change with times, either being transformed by circumstances and/or being outrightly abandoned and substituted with another such form. Notwithstanding, these shifts bring in their wake very important consequences and can even change completely the way peoples, nations, polities and states view themselves in relation to each other and in raletion with the world.
No matter how one sees international orders, which are understood by Phillips as an ensemble of constitutional norms and institutions through which co-operation is fostered and conflict undermined and contained between different polities, it is difficult to play down their importance to International Relations, as a discipline, and as a practice. That is precisely the theme adressed by Phillips in his book. The author adresses three bascic questions in this work: 1) what are international orders?; 2) what elements contribute to and can be held accountable for their transformation?; 3) and how can they be maintained even when faced by violent shocks challenges? Drawing on two basic empirical cases, Christendom and Sino-centric East Asian order, he contends that, despite their idiosyncrasies, both cases share some common characteristics. Based on theses common elements the builds his conception of order which is, to some extent, a synthesis exercise between the constructivist and realist traditions of IR. Leia Mais
Argumentation Schemes – WALTON et al (EPEC)
WALTON, D. N., REED, C.; MACAGNO, F. Argumentation Schemes. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 443p. Resenha de: IBRAIM, Stefannie de Sá; MENDONÇA, Paula Cristina Cardoso. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v.15, n. 03, p. 255-262, set./dez./ 2013.
O livro “Argumentation Schemes”, escrito por Douglas Walton, Chris Reed e Fabrizio Macagno, publicado em 2008, apresenta uma análise sistemática de esquemas argumentativos e um compêndio com 65 esquemas (por exemplo, argumento de opinião de especialistas, argumento de causa-efeito, argumento de sinal, argumento de analogias, etc.). Segundo os autores, os esquemas argumentativos representam estruturas de argumentos que são tipicamente utilizados no discurso cotidiano, assim como em contextos de argumentação legal e argumentação científica.
Em 1996, Walton havia escrito um livro reunindo 25 esquemas argumentativos. Na obra de 2008, ele e seus colaboradores reuniram os principais tipos de argumentos originários de seus próprios trabalhos e de outros encontrados na literatura. Esses esquemas podem ter natureza descritiva, o que significa dizer que podem ser baseados em dados empíricos ou normativos, isto é, aquilo que se supõe ser um bom argumento para determinado objetivo. Walton não deixa claro se determinado tipo de esquema foi derivado de observações empíricas ou se é idealizado, ou seja, ele não descreve a genesis de seus esquemas, apenas cita exemplos de argumentos reais para alguns e cria exemplos para outros (Blair, 2001).
Apesar de a obra não ter sido dirigida especificamente ao público da educação, em especial, da educação em ciências, é possível perceber a variedade de contextos em que ela pode ser utilizada – o que também pode ser justificado pela formação e atuação diversificada dos autores. Walton, PhD. em filosofia, é pesquisador do Centro de Pesquisas sobre Raciocínio, Argumentação e Retórica (CRRAR) na Universidade de Windsor, no Reino Unido; Reed é palestrante sênior e diretor de pesquisa da Escola de Computação da Universidade de Dundee, na Escócia; e Macagno é doutor em linguística pela Universidade Católica de Milão, na Itália.
Para melhor compreensão do livro analisado, é necessário que o leitor tenha uma noção da visão de argumentação adotada nos trabalhos de Walton (Walton, 1996, 2006). Por isso, optamos, antes de tudo, por pontuar algumas características da visão do autor, apresentadas, principalmente, em uma outra obra sua, que foi publicada em 2006.
Segundo uma visão mais tradicional de lógica formal, ao se avaliar a qualidade de um argumento, devem ser efetivadas as relações semânticas entre as proposições, ou seja, o argumento é entendido com um conjunto de proposições cuja relevância está presente na verdade ou falsidade delas, sendo que o contexto mais amplo do diálogo não é levado em consideração no julgamento da qualidade daquele argumento. A lógica informal, pelo contrário, enfatiza o uso que o argumentador faz das proposições para alcançar um objetivo. O argumento, nessa perspectiva, é uma alegação que, de acordo com os procedimentos adequados do diálogo racional, deve ser pertinente à conclusão do argumentador, contribuindo para prová-la ou esclarecê-la. Sua avaliação se dá no contexto de uso das proposições: o diálogo.
Em consonância com as bases da lógica informal, a nova dialética, sob o ponto de vista de Walton (1999), ocupa-se principalmente dos tipos mais comuns de argumentos do dia a dia, que são fundamentados no raciocínio presuntivo, em vez de ocupar-se dos raciocínios indutivos (a partir de casos específicos se chega a uma generalização) ou dedutivos (a partir de premissas gerais se chega a um caso particular). Além disso, a nova dialética leva em consideração as características contextuais do discurso.
Segundo Walton et al. (2008), a avaliação do argumento no domínio da lógica informal está centrada em argumentos que se configuram como tentativas, na plausibilidade da conclusão e no balanço das evidências em relação às possíveis resoluções. O raciocínio presuntivo se encontra presente em argumentos dessa natureza. Esse raciocínio apoia a inferência sob condições de incompletude e permite que dados desconhecidos sejam presumidos. A conclusão é um tipo pressuposição, aceita em uma base tentativa e sujeita à retratação, caso novas informações estejam disponíveis no processo. Argumentos baseados em raciocínio presuntivo foram, durante muitos anos, caracterizados pelos livros clássicos de lógica como falácias, pela alegação de este ser um tipo de raciocínio muito subjetivo. Entretanto, recentemente, as falácias informais têm sido reconhecidas como formas válidas de raciocínio, dependendo da situação contextual.
Segundo Walton (1999), a nova dialética pode ser utilizada como forma de analisar argumentos falaciosos por se basear em estruturas proposicionais não válidas (pois não se derivam de raciocínio dedutivo e indutivo), mas que representam uma forma coerente de pensar. Na nova dialética, cada caso é único, e um dado argumento necessita ser julgado com relação ao discurso disponível, ou seja, é importante observar qual o objetivo do argumento, pois um mesmo argumento pode não ser relevante em um contexto, mas o ser em outro. De acordo com o autor, o objetivo do argumento se relaciona à sua relevância dialética.
É no contexto da nova dialética que devemos compreender os esquemas argumentativos apresentados na publicação de 2008. Segundo o livro, eles podem envolver quatro tipos de raciocínio principais: indutivo, dedutivo, presuntivo ou abdutivo e falsificável ou anulável. Os três primeiros tipos já foram caracterizados anteriormente. O último tipo é aquele que implica em a conclusão ser retirada de um conjunto de dados válidos, mas que pode ser modificada ou abandonada caso esses dados se tornem falhos.
Um exemplo de esquema argumentativo apresentado no livro é o de analogia, cuja estrutura é apresentada no quadro 1.
Quadro 1: Argumento de analogia. ( p. 256)
Outro tipo de esquema argumentativo é o de sinal, cujo exemplo apresentado na obra é “Isso parece pegada de urso, portanto, um urso deve ter passado por aqui.” (Walton, Reed, & Macagno, 2008, p. 329).
“Argumentation Schemes” é dividido em 12 capítulos. O capítulo 1 consiste em um estudo da arte no qual os autores apresentam o que são os esquemas argumentativos. Por exemplo, o esquema de analogia sustenta que para dois casos similares, as ações ou conclusões afirmadas a partir de um caso também são verdadeiras para o caso similar. Ainda é discutido o papel das questões críticas, que são formuladas para avaliar a força de um argumento em determinado contexto. No caso de esquemas para argumentos presuntivos, apesar de a inferência não ser válida dedutivamente ou indutivamente, ela tem suporte respaldado pela estrutura lógica do esquema argumentativo e pelas questões críticas. Portanto, o esquema argumentativo e as questões críticas são utilizados para avaliar um dado argumento em um caso particular em relação ao contexto do diálogo no qual o argumento ocorre. Um argumento proposto em um caso particular é avaliado pelo julgamento das evidências com relação às possíveis perspectivas de resolução. Se todas as premissas são sustentadas por evidências, a aceitabilidade se move para conclusão, que está sujeita a refutações a partir de questões críticas apropriadas (Walton, 1999). As questões críticas referentes ao esquema de analogia estão apresentadas no quadro 2.
Quadro 2: Questões críticas relativas ao argumento de analogia. (p.256)
Os aspectos presentes no capítulo 1 são fundamentais para a compreensão dos próximos, pois neles os autores aprofundam as discussões de todos osesquemas e das teorias presentes no campo da argumentação. No capítulo 2, é discutido detalhadamente como seria o tratamento do esquema de analogia pensando-se nas diversas linhas de raciocínio; por exemplo, como seria a análise desse esquema pelos livros de lógica e como seria sua ocorrência em situações do cotidiano.
Nos capítulos 3, 4 e 5, são descritos os esquemas tidos como os mais falaciosos, que seriam aqueles nos quais a conclusão está mais relacionada ao apelo emocional ou nos quais a conclusão não é, necessariamente, justificada pelas evidências. São fornecidos exemplos de situações do cotidiano nas quais esses tipos de esquemas estão presentes. Um exemplo é o argumento do tipo posição de conhecimento (A tem razão de presumir que B tem conhecimento de, ou acesso à informação, que A não tem. Então, quando B opinar, A tratará a informação como verdadeira ou falsa).
O capítulo 6 discute a inadequação do tratamento baseado na lógica para os argumentos do tipo enthymemes1 e aborda o uso dos esquemas para análise de argumentos e as suas limitações. No capítulo 7, são apresentados os esquemas argumentativos que possuem caráter de refutação. Um exemplo é o esquema de opinião de especialista (referência a uma fonte externa de opinião especialista que fornece informações), no qual a conclusão advém de uma fonte confiável de conhecimento.
No capítulo 8, é apresentada uma visão longitudinal dos estudos no campo da argumentação, desde a teoria de Aristóteles até as teorias modernas para os esquemas argumentativos, que são aquelas que aceitam os argumentos baseados na lógica informal. Isso permite ao leitor observar como, a partir desses tipos de estudos, os argumentos considerados falaciosos passam a ser aceitos (o que é considerado pelos autores como mudança de paradigma). O capítulo 9 é constituído pelos 65 esquemas argumentativos reunidos a partir da literatura. Eles são apresentados nas formas de suas premissas e conclusões que as seguem.
Os autores trazem, no capítulo 10, um refinamento da classificação dos esquemas, ao buscarem propor um sistema provisório como um dispositivo inicial de triagem para organizar a classificação dos esquemas. O objetivo do capítulo 11 é mostrar uma maneira de formalizar os esquemas por meio de uma comparação entre eles, em forma de estruturas de inferências, e as estruturas da lógica dedutiva e do raciocínio indutivo. No capítulo 12, é discutido como os esquemas podem ser explorados ou trabalhados em quatro diferentes áreas (linguagem, comunicação, raciocínio automatizado e aplicações na computação). Além disso, o software chamado “Araucária” é apresentado. Seu objetivo é mapear as premissas e conclusões para tornar clara a classificação do argumento em um tipo de esquema.
O leitor pode estar se questionando sobre a relação da obra com a educação em ciências. Nesta parte da resenha, buscamos trazer algumas contribuições do trabalho de Walton e colaboradores para o campo de educação em ciências a partir de leituras e de pesquisas que já realizamos. Acreditamos que isso possa contribuir para o uso da obra e para favorecer a reflexão sobre ela.
Verificamos que a aplicação das ideias de Walton na área de educação em ciências é recente. Isso pode ser evidenciado pela ausência de análise dessa
ferramenta por Sampson e Clark (2008) no trabalho de revisão das principais ferramentas metodológicas sobre argumentação empregadas nessa área. Assim, parece-nos que Duschl e colaboradores (Duschl, 2008; Duschl, Ellenbogen, & Erduran, 1999) e Jimenéz-Aleixandre e Pereiro-Munõz (2002) são os precursores do uso dos esquemas argumentativos propostos por Walton. Para Duschl (2008), apenas os esquemas argumentativos de Walton são capazes de atender aos cinco critérios propostos por Sampson e Clark (2008) para examinar a qualidade de argumentos científicos:
- Examinar a natureza e qualidade das conclusões. Instrumentos analíticos devem se focar nos tipos de conclusões propostas pelos estudantes e na habilidade de coordenar as conclusões com as evidências disponíveis.
- Examinar como (ou se) as conclusões são justificadas. Estudantes necessitam aprender a prover evidências empíricas, bem como perceber qual tipo de evidência é necessária para justificar um argumento.
- Examinar se uma conclusão apresenta evidências necessárias. Estudantes tendem a focar em padrões de dados, sendo que costumam dar prioridade a partes de evidências que sustentam suas crenças pessoais.
- Examinar como (ou se) o argumento tenta levar alternativas em consideração. Como mais de uma conclusão pode explicar um fenômeno, estudantes necessitam aprender a como desafiar a fraqueza de explicações alternativas.
- Examinar como referências epistemológicas são usadas para coordenar conclusões e evidências. Estudantes necessitam aprender a como justificar/avaliar os caminhos pelos quais as evidências são coletadas e interpretadas.
De acordo com Duschl (2008), um exame mais minucioso do discurso argumentativo revela que afirmações frequentemente fazem “apelos” para proposições específicas, como apelos para autoridade ou para analogia. Segundo o pesquisador, a análise do conteúdo ou foco dos “apelos” levaria a uma aproximação dos critérios epistêmicos utilizados para estabelecer e justificar a qualidade e força do argumento (‘o que conta’) – o que justifica a afirmativa do autor apresentada no parágrafo anterior.
Duschl (2008) utilizou nove dos 25 esquemas propostos por Walton (1996) para analisar a instrução de estudantes imersos no projeto SEPIA2 e um grupo controle. Os esquemas selecionados por ele foram aqueles que, em sua opinião, apresentavam relação com características do raciocínio científico (sinal, compromisso, posição de conhecimento, opinião de especialista, evidência-hipótese, causa-efeito, correlação-causa, analogia). A partir dos gráficos apresentados por Duschl (2008), é possível perceber que o projeto SEPIA estimulou o desenvolvimento de raciocínio presuntivo dos estudantes. Isso foi evidenciado a partir de maior número de argumentos desenvolvidos pelos estudantes participantes do projeto SEPIA e de maior número de apelos a todos os esquemas. Esses resultados são bastante favoráveis, pois evidenciam que o projeto SEPIA atingiu um de seus objetivos: favorecer o desenvolvimento de um tipo de raciocínio inerente à ciência.
Jiménez-Aleixandre e Pereiro-Munõz (2002) trabalharam com o uso conjugado das ferramentas de Toulmin e Walton. Elas apresentam um estudo de caso envolvendo a tomada de decisão e argumentação no contexto de gerenciamento ambiental de um pântano em um curso de Geologia e Biologia ministrado a alunos de 17 a 21 anos pela segunda autora do trabalho. O objetivo geral era analisar se estudantes podiam atuar como produtores de conhecimento em processos de tomada de decisão. Para isso, seus argumentos foram comparados aos produzidos por um especialista (engenheiro responsável pelo projeto) no sentido de perceber se os estudantes utilizavam (i) conhecimento conceitual relevante (em termos de justificativas); (ii) diferentes fontes de informação e autoridade; e (iii) critérios para julgamento de opiniões.
Ao utilizar a ferramenta de Walton, as autoras procuraram explorar o processamento crítico de diferentes fontes de informação e autoridade. Para tal, elas usaram as questões críticas introduzidas por Walton (Qual é o status do especialista? Há consistência da proposição do especialista com proposições de outros especialistas e evidências?) que seriam mais relevantes para avaliação de esquemas de argumentos de especialistas.
Observou-se, nesse trabalho que, nas primeiras aulas, os alunos não acreditavam que podiam ser capazes de contestar a posição de especialistas devido ao status de autoridade dessas figuras, ou devido ao não domínio de conhecimentos relevantes ao tema. Porém, à medida que as aulas foram transcorrendo e que dados, tanto sobre a área quanto sobre o projeto, foram apresentados, os estudantes passaram a se sentir capazes de contestar a opinião das autoridades à luz de evidências e opiniões de outros especialistas. Nesse caso, a ferramenta se mostrou adequada para avaliar ‘o que conta’ para esses alunos como uma boa fonte de informação e uma autoridade digna de confiança. Ao mesmo tempo, a ferramenta parece ter auxiliado os alunos a perceber que as ideias de especialistas não são “verdades absolutas”, podendo ser contestadas, desde que essa contestação seja adequadamente fundamentada.
No Brasil, Correa, Mozzer e Justi (2010), fundamentados no esquema e em questões críticas de argumento de analogia de Walton (1996), tinham como objetivo perceber a validade dos argumentos elaborados por um grupo de alunos solicitados a explicar os aspectos submicroscópicos do processo de dissolução de permanganato de potássio em água, sob agitação. A análise realizada nesse trabalho exemplifica como uma questão crítica associada a um esquema argumentativo de analogia (por exemplo, “existe alguma diferença entre as situações que minaria a situação pensada?”) pode ser utilizada para perceber se há necessidade de reformular o argumento ou o raciocínio analógico. Segundo esses autores:
“Ao estimular estudantes a utilizar as questões críticas de Walton quando envolvidos num processo de argumentação, podemos possibilitar-lhes um ensino sobre o “pensar bem” em oposição ao ensino sobre “o que pensar”.” (Correa, Mozzer, & Justi, 2010, p.12)
Recentemente, desenvolvemos um trabalho (Ibraim, Mendonça, & Justi, 2013) em que utilizamos os 65 esquemas argumentativos propostos por Walton et al. (2008) para analisar argumentos de estudantes de Ensino Médio que foram entrevistados quanto a um problema de caráter científico. Nesse trabalho, categorizamos os 65 esquemas e apresentamos exemplos de cada um dos 27 esquemas encontrados nos argumentos dos estudantes. A partir da análise de dados, constatamos que os argumentos se relacionavam diretamente ao contexto no qual eles eram formulados. Percebemos a viabilidade do uso dos esquemas argumentativos de Walton para analisar argumentos em relação à distinção dos componentes do argumento segundo o padrão de Toulmin (2006). Atualmente, estamos utilizando os esquemas argumentativos para analisar argumentos de professores de Química em formação inicial.
Considerando que nesta resenha conseguimos destacar os principais aspectos da obra analisada e evidenciar como as ideias apresentadas por ela podem ser utilizadas na área de educação em ciências, convidamos o leitor a explorar a obra em questão visando aumentar os subsídios teórico-metodológicos para análise de situações argumentativas ocorridas no contexto de ensino de ciências.
Referências
Blair, A. (2001). Walton’s Argumentation Schemes for Presumptive Reasoning: a Critique and Development. Argumentation, 15, 365-379.
Correa, H. L., Mozzer, N. B., & Justi, R. (2010, 20 a 23 de abril). A nova dialética e os esquemas de argumento de Walton: um estudo sobre sua aplicabilidade no estudo de argumentação em sala de aula de ciências. Artigo apresentado no XV Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, Belo Horizonte.
Duschl, R.A. (2008). Quality Argumentation and Epistemic Criteria. In: S. Erduran & M. P. Jiménez- Aleixandre (Eds.), Argumentation in Science Education: Perpectives from Classroom-Based Research (pp. 159-170). Dordretch: Springer.
Duschl, R.A., Ellenbogen, K., & Erduran, S. (1999, 11 a 15 de Abril). Understanding dialogic argumentation among middle school sience students. Artigo apresentado no The Annual Conference of American Educational Research Association, Montreal.
Ibraim, S. S., Mendonça, P.C.C., & Justi, R. (2013). Contribuições dos esquemas argumentativos de Walton para análise de argumentos no contexto de ensino de ciências. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 13(1), 187-216.
Jiménez-Aleixandre, M. P., & Pereiro Muñoz, C. (2002). Knowledge producers or knowledge consumers? Argumentation and decision making about environmental mangement. International Journal of Science Education, 24(11), 1171-1190.
Toulmin, S. (2006). Os usos do argumento (2. ed.). São Paulo: Martins Fontes.
Walton, D. N. (1996). Argumentation Schemes for Presumptive Reasoning. Mahwah: Erlbaum.
Walton, D. N. (1999). The new dialetic: a method of evaluating an argument used for some purpose in a given case. Protosociology, 13, 70-91.
Walton, D. N. (2006). Lógica Informal: manual de informação crítica. São Paulo: Martins Fontes.
Walton, D. N., Reed, C., & Macagno, F. (2008). Argumentation Schemes. Cambridge: Cambridge University Press.
Notas
1 São esquemas argumentativos nos quais a conclusão é inferida tanto pelas premissas explícitas quanto pelas implícitas. Por exemplo, dizer que Bob não tem telefone fixo porque seu nome não está na lista telefônica, pressupõe que é sabido que o nome de todas as pessoas que possuem telefone fixo constam da lista telefônica (premissa implícita).
2 Avaliação da educação em ciências através de portfólios. O objetivo geral do projeto é o desenvolvimento de raciocínio científico.
Stefannie de Sá Ibraim – Licenciada em Química pela Universidade Federal de Ouro Preto, Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais E-mail: [email protected]
Paula Cristina Cardoso Mendonça – Licenciada em Química, Mestre e Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, Professora do Departamento de Química da Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Max Horkheimer and the foundations of the Frankfurt School – ABROMEIT (NE-C)
ABROMEIT, John. Max Horkheimer and the foundations of the Frankfurt School. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Resenha de: NOBRE, Marcos; JANUÁRIO, Adriano; CONCLI, Raphael; YAMAWAKE, Paulo. Os modelos críticos de Max Horkheimer. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n.96, Jul, 2013.
Max Horkheimer and the foundations of the Frankfurt School, de John Abromeit, vem somar-se a uma dupla já estabelecida de estudos de referência sobre o nascimento e o desenvolvimento da Teoria Crítica (que, em alguns lugares, como nos Estados Unidos e na França, ainda é conhecida pelo equívoco rótulo “Escola de Frankfurt”): A imaginação dialética, de Martin Jay1, e A Escola de Frankfurt, de Rolf Wiggershaus2. O livro de Abromeit não tem a abrangência desses dois. Dedica-se apenas ao exame aprofundado de parte da trajetória intelectual de Horkheimer, de seu nascimento, em 1895, até o ano de 1941, que marca uma redução ao mínimo das atividades do Instituto de Pesquisa Social em Nova York e uma virada no pensamento do teórico social. Mas é de Horkheimer que se trata: as fases de sua produção examinadas no livro são não apenas altamente profícuas como também inaugurais, o que é sugerido pela ambição teórica bem mais ampla estampada no subtítulo: apresentar nada menos do que “as fundações da Escola de Frankfurt”.
Nessa comparação com os dois outros estudos de referência sobre a Teoria Crítica, importa também não apenas a distância temporal que os separa, mas a diferença de fontes. John Abromeit pesquisou em um momento em que já se encontrava em pleno funcionamento o Arquivo Max Horkheimer e em que já tinha sido completada a publicação dos Escritos reunidos pela editora Fischer. Além disso, o livro pretende não apenas reconsiderar as “fundações” da Teoria Crítica, mas recuperar o modelo crítico formulado por Horkheimer para levar adiante essa tradição intelectual. Para isso, parte de um diagnóstico do campo crítico marcado por duas balizas fundamentais. De um lado, quer abrir caminhos que não se fechem na conhecida “aporia” da Dialética do Esclarecimento3. De outro lado, aceita implicitamente o desafio colocado pela teoria crítica de Habermas, ao indicar que é possível construir uma alternativa a essa aporia a partir do movimento teórico fundamental realizado por Horkheimer nos anos 1925-1931, que teria significado nada menos do que uma “ruptura com a filosofia da consciência”. Com isso, torna-se possível reconstruir de outro modo o próprio desenvolvimento da Teoria Crítica, de maneira a fugir à interpretação de conjunto consolidada por Habermas4:
Uma biografia intelectual que aspire a se manter fiel ao espírito crítico de Horkheimer — como esta pretende — deve não apenas tentar apresentar suas ideias em toda sua complexidade e radicalidade para assim salvá-las da onda de amnésia e conformismo que ameaçam devastar o presente. Tal obra deve também procurar identificar os fatores sociais e históricos que condicionaram sua teoria crítica nos vários estágios de seu desenvolvimento. Só assim será possível o direcionamento para a importante tarefa final de determinar quais aspectos da teoria crítica de Horkheimer ainda são relevantes no presente e quais devem ser revisados ou abandonados5.
Se a explicitação desse engajamento e dessa tomada de posição já distingue de saída o livro de John Abromeit dos livros de referência de Martin Jay e de Rolf Wiggershaus, a sua escolha de objeto aprofunda as diferenças. A grande sacada do livro pioneiro de Martin Jay –orientador de John Abromeit, cuja tese de doutorado foi a base para a redação do livro — esteve em realizar a “biografia” intelectual de uma instituição (o Instituto de Pesquisa Social) entre as décadas de 1920 e 1940, o que lhe permitiu escapar à ideia confusa (e redutora, como mostrou o próprio Jay em seu livro) de uma “Escola”. Essa abordagem lhe permitiu ainda mostrar em ato a ideia-força do “materialismo interdisciplinar”, que guiou o trabalho coletivo a partir dos anos 1930.
A escolha de Abromeit não é menos engenhosa: reconstruir o momento inaugural dessa vertente intelectual permite abrir o campo das possibilidades de desenvolvimento teórico, trilhadas ou não, tanto em relação ao passado como em relação ao presente, concretizadas em uma direção determinada, abandonadas ou retomadas. Não é outra a razão pela qual o livro se encerra em 1941, com a Dialética do Esclarecimento já a caminho, momento em que Horkheimer decide por tomar um dos muitos possíveis caminhos que ele mesmo havia aberto. A consolidação dessa virada está no artigo “The end of reason”, de 19426, cuja versão em alemão tem por título “Razão e autopreservação”. A partir daí, segundo John Abromeit, o “abandono por Horkheimer do modelo de uma dialética da sociedade burguesa levou ao desaparecimento de distinções-chave que tinham estruturado seu trabalho anterior tanto em nível sincrônico como diacrônico”7.
A reconstrução do projeto de uma “antropologia da época burguesa”, conjugado a uma determinada apropriação do “materialismo” e à ideia de um livro sobre “lógica dialética”, surge como configuração por excelência do trabalho de Horkheimer nos anos 1930. O livro de John Abromeit está armado de maneira a mostrar como esse projeto tinha várias possibilidades de desenvolvimento, sendo o resultado dos anos 1940 (que gira em torno da Dialética do Esclarecimento) apenas uma das suas possíveis realizações. Com isso, Abromeit aponta também, implicitamente, que seria possível continuar esse projeto em sentido diverso da Dialética do Esclarecimento no momento presente.
Esse sentido diverso pode ser relacionado a uma tendência atual no campo crítico de tematizar o afastamento da Teoria Crítica de certa concepção de pesquisa empírica. Pois retomar e pôr em relevo os trabalhos de Horkheimer anteriores a 1941 possui também essa intenção, embora não explicitamente declarada, de mostrar os vínculos desse período de sua produção com um determinado modo de realizar pesquisa empírica desenvolvida então no Instituto de Pesquisa Social. O livro de Abromeit pode ser lido também como uma defesa de uma maneira possível de articular teoria social e pesquisa empírica, da qual os trabalhos de Horkheimer da década de 1930 seriam exemplares.
Se, após a leitura do livro, a estatura intelectual atribuída a Horkheimer parece mais do que justificada, por outro, a reconstrução do seu modelo crítico dos anos 1930 nesses termos é, por exigir ênfase na originalidade das formulações, pouco convincente. Pode ser que John Abromeit tenha razão em seu diagnóstico de que houve “uma forte tendência na literatura secundária a subsumir a obra de Horkheimer e de Adorno a um conceito mais geral de ‘marxismo ocidental’, que tem como ponto de partida a ênfase metodológica de Lukács no conceito de totalidade, no de forma-mercadoria e no de reificação”. Mas combater essa tendência — vale dizer, em boa medida, combater a versão de Habermas do desenvolvimento da Teoria Crítica — não exige necessariamente se colocar a tarefa nos termos em que pôs o livro: “Um dos principais objetivos deste estudo como um todo foi o de demonstrar que o caminho de Horkheimer para a Teoria Crítica foi independente daquele de Lukács e de Adorno”8.
Afirmar, por exemplo, que as formulações de Horkheimer dos anos 1930 têm por pano de fundo conceitual as formulações de História e consciência de classe9, de Lukács, em nada diminui a originalidade do então diretor do Instituto de Pesquisa Social. Pelo contrário, apenas torna mais precisa essa originalidade, dando-lhe maior substância. Isso se exprime até mesmo em oscilações argumentativas sintomáticas: “Como mostraram Michiel Korthals e Ferio Cerruti, Horkheimer não se apropriou do conceito de totalidade de Lukács seja nesse período, seja posteriormente”, o que contrasta com uma afirmação poucas linhas adiante: “Depois de sua ruptura com Hans Cornelius, Horkheimer usaria o conceito de totalidade tanto em termos metodológicos como substantivos em sua teoria social, mas permaneceram importantes diferenças em relação a Lukács”10.
De um lado, John Abromeit propõe uma mudança de foco extremamente fecunda: retirar os escritos de Horkheimer da rubrica abstrata da “metodologia” de maneira a mostrar o vínculo indissolúvel, no campo da Teoria Crítica, entre a sistematização teórica e a investigação empírica. Com isso, consegue não apenas dar ao projeto de uma “Antropologia da época burguesa” (e, em especial, ao artigo “Egoísmo e movimento de libertação”11) o destaque e a centralidade que merece, mas consegue despertar o interesse com respeito às possíveis linhas de continuidade desse projeto no momento atual. De outro lado, entretanto, esse movimento muitas vezes acaba por reduzir a importância de outros textos do período que merecem pelo menos igual destaque, como é o caso de “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”12. Assim como teria sido necessário atribuir pesos diferentes a diferentes influências teóricas, seria necessário também distinguir as diferentes estaturas de textos que possuem temas tão variados; uma análise mais de perto desses textos apontam que não são todos de mesma densidade e fecundidade.
Seja como for, é já muito impressionante a segurança e o interesse no manejo simultâneo de tantas fontes de alta densidade. A estratégia adotada por John Abromeit suplanta largamente essas possíveis objeções pelas possibilidades de leitura e de caminhos para a renovação da Teoria Crítica que seu livro oferece. Não por último porque o livro, no seu conjunto, é um plaidoyer pelo pluralismo e pelo diálogo no interior do campo crítico, sem em nenhum momento abdicar dos necessários embates teóricos que marcam a vitalidade dessa tradição.
De maneira consequente, o objetivo de abrir um leque muito mais amplo de possíveis caminhos para a Teoria Crítica determina também a estrutura do livro. A ênfase na fase decisiva de formação de Horkheimer (1925-1931) prepara a apresentação das muitas linhas de desenvolvimento que marcaram o período seguinte (1932-1941). E, no entanto, a periodização foi estabelecida a partir da articulação conceitual da trajetória de Horkheimer, e não a partir de eventos histórico-mundiais como a crise de 1929, a ascensão do nazismo ao poder, em 1933, ou a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. A falta dessa referência a eventos histórico-mundiais é de grande importância, tanto pela centralidade da noção de “diagnóstico de tempo” no campo da Teoria Crítica quanto pelo próprio gênero do livro, uma “biografia intelectual”: não são os sucessivos diagnósticos de tempo de Horkheimer nesse período especialmente conturbado que estruturam o livro.
Desde a introdução, Abromeit levanta, mediante a leitura e a organização dos textos de Horkheimer do período, pelo menos cinco temas que contribuem para jogar uma nova luz na Teoria Crítica hoje: “história intelectual materialista”, “história sociopsicológica”, “antropologia da época burguesa”, uma “abordagem verdadeiramente interdisciplinar para a Teoria Crítica” e “pensamento pós-metafísico”. Mais do que uma enumeração de temas, é uma tese de leitura que procura mostrar que a obra de Horkheimer extrapola os ensaios metodológicos — nos quais se concentram a maioria dos comentadores. Ao dar ênfase a esses novos temas, Abromeit introduz uma nova organização na obra de Horkheimer.
Max Horkheimer and the foundations of the Frankfurt School possui nove capítulos e dois excursos, além de uma introdução e um epílogo. A primeira seção (capítulos 1 e 2) pretende reconstruir o período que vai desde a infância de Horkheimer até 1925, ano em que escreve sua tese de livre-docência [Habilitationsschrift], intitulada Zur Antinomie der teleologischen Urteilskraft [Sobre a antinomia do juízo teleológico]13, apresentada na Universidade de Frankfurt. O primeiro capítulo se concentra na infância e adolescência, destacando suas primeiras experiências emocionais, políticas e intelectuais, período em que Horkheimer escreve uma série de textos literários. Já o segundo capítulo — centro dessa primeira seção — trata dos anos como estudante em Frankfurt, nos quais Horkheimer entra em contato com as principais correntes teóricas que estavam em seu estágio “mais avançado”, mais especificamente, com os avanços na filosofia, na psicologia e na sociologia. A exposição em maior detalhe desse período de estudos iniciais de Horkheimer tem, para Abromeit, o objetivo de primeiramente se contrapor aos comentadores que não atribuem qualquer importância teórica a essa fase. Embora Horkheimer não tenha produzido nesse período seu modelo crítico mais acabado, Abromeit sustenta que é nesse momento — entre 1920 e 1925 — que surgem alguns elementos importantes do modelo da década de 1930.
Segundo Abromeit, esse período da formação acadêmica fornece a Horkheimer três elementos centrais que acabaram por reverberar na fase madura do desenvolvimento de sua “Teoria Crítica primeira” (early Critical Theory) na década de 1930. O primeiro desses elementos é a aproximação e o interesse de Horkheimer pela pesquisa empírica, utilizando-se dessas últimas — desenvolvidas pela Gestalt — para se contrapor aos neokantianos do início do século. Essa contraposição crítica, segundo Abromeit, é justamente o escopo de sua tese de livre-docência. O segundo elemento que Horkheimer desenvolve é o conceito de “totalidade”, esboçado a partir de seu contato mais direto com a psicologia de modo geral. O último elemento destacado nesse período é a ideia de unidade entre “razão prática e teórica”, que será crucial para seu modelo crítico dos anos 1930. Nesse quadro geral surge pela primeira vez a ideia de “interdisciplinaridade”, que será um dos elementos principais da Teoria Crítica de Horkheimer na década de 1930.
A segunda seção do livro (capítulos 3, 4 e 5) cobre o período 1925 a 1931, culminando com o momento em que Horkheimer assume a direção do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. A principal tese desse bloco de capítulos é a de que a Teoria Crítica primeira de Horkheimer teria se constituído, ainda que em linhas gerais, em meados dos anos 1920, e não apenas quando assume a direção do instituto, como defende a grande maioria dos comentadores.
No capítulo 3, Abromeit apresenta a intenção de Horkheimer de construir uma “interpretação materialista da filosofia moderna”. O início desse projeto marca seu afastamento de Hans Cornelius e da “filosofia da consciência” no momento em que Horkheimer se torna Privatdozent em Frankfurt. Para Horkheimer, um dos principais problemas da “filosofia da consciência” é seu afastamento das condições históricas nas quais seus conceitos surgem. Com o intuito de evitar esse problema, ele desenvolve suas teses sobre a “interpretação materialista da história da filosofia moderna”, tomando o seu surgimento como vinculado ao surgimento da “época burguesa”. Abromeit ressalta que Horkheimer tentava superar a “filosofia da consciência” através do “materialismo”, isto é, vincular a “filosofia da consciência” ao surgimento da “época burguesa”. Nesse momento, Horkheimer dá os primeiros passos para constituir uma teoria social própria, o que o faz iniciar seus estudos do pensamento de Marx com o objetivo de construir uma “teoria sociológica adequada”14.
Nesse sentido, para Abromeit, a obra Dämmerung: Notizen in Deutschland [Crepúsculo: notas na Alemanha]15 serve como importante fio condutor de seu argumento mais geral para essa fase da produção de Horkheimer. Publicada somente em 1934, mas cujos excertos são datados do período de 1926 a 1931, e sob o pseudônimo de Heinrich Regius, Dämmerung representaria uma tentativa de atualizar a teoria de Marx a partir da ideia de “subjetividade”, sendo esta vinculada ao modo como a sociedade capitalista produz e reproduz seus próprios meios. Para Abromeit, Dämmerung se utiliza de aforismos, anedotas, metáforas e exemplos concretos para expressar as tendências sociais mais gerais da sociedade capitalista, assim como expressa também os mecanismos próprios desse modo de produção, os quais estão incrustados na sociedade. Em Dämmerung surge a ideia de que a “epistemologia” daquele momento não seria “consciente de suas determinações sociais” e, nesse sentido, ela acaba por reforçar e justificar as condições injustas da sociedade capitalista. Horkheimer pretende com esse escrito defender uma “individualidade concreta” contraposta ao “capitalismo monopolista”. É nessa obra que ele teria começado a esboçar uma vinculação entre a pesquisa empírica e uma possível renovação do marxismo.
Essa necessidade de renovação do marxismo vinculado à pesquisa empírica fez com que Horkheimer levasse adiante a integração da psicanálise à teoria contemporânea da sociedade, objeto de discussão no capítulo 5. Para Abromeit, as investigações empíricas de Erich Fromm realizadas no final da década de 1920 foram cruciais para o desenvolvimento da Teoria Crítica. Após relatar como Horkheimer e Fromm se conheceram, assim como as aproximações teóricas de ambos, Abromeit passa a apresentar o “lugar teórico da psicanálise no pensamento de Horkheimer”, “uma teoria materialista da subjetividade que pode ajudar a explicar melhor a consciência das ações individuais e dos grupos sob determinadas condições”16. Evitando a categoria de “inconsciente coletivo”, Fromm direciona suas análises para as “experiências individuais” e de “grupos que sofrem a mesma pressão”17, isto é, seu intuito é observar o indivíduo concreto num contexto histórico determinado. Essa perspectiva foi incorporada pelo primeiro modelo crítico de Horkheimer. No contexto dessa colaboração surgiu o trabalho A classe trabalhadora na Alemanha de Weimar. Abromeit considera esse o “primeiro trabalho da Teoria Crítica”, tomando esse período como aquele em que Horkheimer começa a traçar as linhas de seu primeiro modelo crítico.
Não obstante, Abromeit registra uma mudança no pensamento de Horkheimer a partir do momento em que assume a direção do instituto. Essa mudança teria se dado justamente porque Horkheimer disporia então de um aparato institucional para implementar seu projeto de Teoria Crítica. Cada capítulo do “coração” do livro, a sua terceira seção (capítulos 6, 7 e 8), pretende expor um dos três conceitos mais importantes para a Teoria Crítica “durante este momento particular”18, uma espécie de convergência e concentração de temáticas ainda mais amplas do período anterior: “materialismo” (cap. 6), “antropologia da época burguesa” (cap. 7) e, por fim, “lógica dialética” (cap. 8).
No curto capítulo 6, Abromeit apresenta o conceito de materialismo em Horkheimer a partir de dois temas — que se referem a dois textos da primeira metade da década de 1930 — nos quais seus escritos incidem: “Materialismo e metafísica”19 e “Materialismo e moral”20. O materialismo, segundo Abromeit, surge primeiramente como uma espécie de “negação determinada” do “idealismo”. Ele aponta que, para Horkheimer, os princípios universais de certas teorias expressam, na verdade, interesses particulares de “grupos” em momentos históricos determinados. Nessa expressão de interesses particulares em princípios universais, Horkheimer entende que “os conceitos”, de modo geral, vinculam-se às classes sociais bem como à posição que estas ocupam na estrutura histórica e social. É nesse sentido que o “materialismo” surge nesse período também como tentativa de compreender a “moralidade”, na medida em que tenta compreender como “a moralidade moderna se tornou a moralidade burguesa”. Registre-se aqui, de passagem, uma dificuldade de leitura específica: não se sabe ao certo o que distinguiria fundamentalmente esse tema e esse capítulo daquele dedicado à “lógica dialética” (cap. 8).
Os conceitos de “antropologia da época burguesa” e “época burguesa” são o tema do capítulo 7. Aqui, Abromeit aponta que Horkheimer se contrapõe a um conceito tradicional de “antropologia” que acaba por hipostasiar uma essência humana a-histórica, assim como hipostasia também um “indivíduo abstrato”. A noção de antropologia de Horkheimer incorpora uma “teoria dialética da história” que leva em conta um período histórico específico — tal como a “época burguesa” — e admite a existência de grupos particulares que compartilham a mesma experiência social. A influência de Fromm no pensamento de Horkheimer é marcante nesse período, fazendo com que este último levasse em conta em seus escritos a relação não somente entre indivíduo, história, sociedade e grupo, como também a constituição psicológica dos indivíduos em determinada sociedade e em determinada época — destaca-se aqui a distância dos trabalhos de Peter Stirk e Helmut Dubiel sobre Horkheimer. A noção de época histórica em Horkheimer se aproximaria da noção de Marx, mas iria além, na medida em que pressuporia uma independência da “cultura” frente ao “mundo físico”.
É nesse sentido que “Egoísmo e movimento de libertação”21 de Horkheimer é apontado como principal escrito do período. Segundo Abromeit, esse ensaio foi o mais influente entre os teóricos críticos do período. Tanto é assim que ele surge citado nos textos de Marcuse, Adorno e Benjamin. Horkheimer teria levado adiante seu conceito de “antropologia da época burguesa” nesse ensaio justamente porque vinculou a análise histórica dos movimentos de libertação com o surgimento do “egoísmo”, apresentando ambos como tendências presentes no nascimento da sociedade burguesa. Nessas análises históricas estão presentes também, de forma marcante, os conceitos advindos da psicanálise. É principalmente com o conceito psicanalítico de “introversão” que Horkheimer compreende o discurso para as massas, em momentos revolucionários, como um “movimento de manipulação”. Disso surge a noção de “nova barbárie”, que possui sua historicidade no decorrer da “época burguesa” e que se encontra na tendência histórica tanto da “integração das massas”, quanto da institucionalização da “crueldade racionalizada”. Essas condições permitem a Horkheimer compreender que na “época burguesa primeira” se desenvolve o “fascismo no século XX”.
Outro trabalho importante que também se insere nessa perspectiva da “antropologia da época burguesa” é Estudos sobre autoridade e família22. Ao examinar mais de perto essa obra, levando a sério a reivindicação de Horkheimer de que ela visa a uma articulação efetiva entre o arcabouço teórico que apresenta e a pesquisa empírica — assim como as relações destas com a noção mesma de “interdisciplinaridade” —, Abromeit novamente destaca-se de leituras tradicionais, como a de Rolf Wiggershaus. Contudo, a importância decisiva de Estudos reside no fato de a obra servir como fonte de um conjunto relevante de categorias da psicologia social para a elaboração da ideia de antropologia da época burguesa: as contribuições de Erich Fromm, especialmente suas teses psicanalíticas sobre o caráter masoquista ou autoritário como tipo dominante na Europa contemporânea, permitirão a Horkheimer uma melhor compreensão do desenvolvimento histórico de seus conceitos centrais desta primeira Teoria Crítica23.
A conexão com a série de “reflexões sobre a lógica dialética”, tema do capítulo 8, é explicitada desde o início: Horkheimer considerava o conceito de antropologia burguesa também como parte do projeto mais amplo sobre a lógica dialética24. Mas, devido aos percalços ocorridos no período — as várias mudanças do instituto, em fuga do nazismo e da guerra —, esse projeto acabou se transformando substancialmente. É nesse sentido que, para Abromeit, os escritos reunidos sobre a lógica dialética possuem um duplo caráter: por um lado, eles fazem parte dos desenvolvimentos da Teoria Crítica primeira de Horkheimer nos anos 1930; por outro, constituem também as bases para a composição da Dialética do Esclarecimento, obra publicada em 1947. As reflexões sobre lógica dialética, segundo Abromeit, partem da crítica à filosofia cartesiana e ao empirismo, retomando assim o tema da “crítica à filosofia da consciência” presente na segunda metade da década de 1920. E é com o estudo de Hegel que Horkheimer aprofunda sua concepção de lógica dialética, movimento que termina com a “reformulação da Teoria Crítica de Marx” numa tentativa de juntar tanto a lógica categórica quanto a própria história. Essa reformulação é sintetizada no notório ensaio “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”. Para Abromeit, esse ensaio faz parte das reflexões sobre lógica dialética, o que acaba por diminuir o peso da psicanálise e da pesquisa empírica presentes em outros ensaios da década de 1930.
Finalmente, a última seção do livro trata do gradual afastamento do modelo primeiro de Teoria Crítica de Horkheimer. A tese de Abromeit é a de que uma separação de Fromm (Excurso I) e uma aproximação de Adorno (Excurso II), somadas à tese do capitalismo de Estado desenvolvida por Friedrich Pollock, passaram a influenciar decisivamente a teoria de Horkheimer, distanciando-o da Teoria Crítica primeira dos anos 1930. A tese defendida por Abromeit é que o conceito de “capitalismo de Estado” acabou ocupando um espaço cada vez maior nos escritos de Horkheimer, culminando esse movimento de distanciamento em O fim da razão25, ensaio que seria o limite entre a Teoria Crítica primeira e as primeiras reflexões que levariam à Dialética do Esclarecimento.
A centralidade que o conceito de capitalismo de Estado acabou ocupando teve consequências: Horkheimer acaba por abandonar o modelo da “dialética da sociedade burguesa” e desaparecem as distinções-chave que estruturavam seu pensamento inicial26. Mais que isso, Horkheimer abandona as análises dos “potenciais revolucionários” que pautaram o início da era burguesa de tal modo que o conceito de capitalismo de Estado e “sua lógica imanente” permite a ele igualar as diferenças entre “pensadores opostos do mesmo período”, assim como as diferenças de “pensadores e conceitos de diferentes períodos”. Perde-se assim a característica fundamental de sua primeira Teoria Crítica: a dialética da sociedade burguesa e sua historicidade. Abromeit destaca também que essa mudança está diretamente relacionada à grande influência das “Teses sobre História”27 de Walter Benjamin tanto em Horkheimer quanto em Adorno. A influência desse texto levou os autores a interpretarem o passado a partir do presente, acabando por levá-los a um processo de “des-historicização” de seu pensamento.
Por isso, com o modelo da Dialética do Esclarecimento, segundo Abromeit, perde-se o que há de mais rico para contribuir com a teoria social contemporânea. É nesse sentido que a Teoria Crítica primeira de Horkheimer da década de 1930 pode “contribuir para uma renovação da Teoria Crítica”. Com isso, o posicionamento de Abromeit a respeito da interpretação da obra de Horkheimer surge de modo marcante: a crítica à Dialética do Esclarecimento é acertada quando se refere somente a essa obra. Essa crítica, como mostra Abromeit, não se estende aos escritos anteriores a O fim da razão. Daí que ele afirme que o mais interessante da obra da primeira geração da Teoria Crítica está no projeto da década de 1930.
O gênero “biografia intelectual” permite a John Abromeit resolver, pela primeira vez e de maneira convincente, intrincados problemas teóricos dos estudos sobre Horkheimer, como é o caso do famoso “juízo existencial” que ocupa posição de destaque no ensaio “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”28. Mostra-se igualmente capaz de dar explicação convincente e coerente em aspectos para os quais as fontes são escassas, como é o caso do capítulo 5 do livro, que trata da integração da psicanálise na teoria social de Horkheimer (mesmo se aqui fica a impressão de que a importância de Reich foi subestimada, por exemplo). Não por acaso, portanto, John Abromeit encerra o livro apontando para um modelo de renovação da Teoria Crítica que é aguardado com expectativa: “Um novo modelo de Teoria Crítica necessitaria preservar as tradições do materialismo histórico e da psicanálise junto com os melhores aspectos da tradição política democrática liberal”29. Mas, antes de exigir do autor que continue a trilha que ele próprio abriu, cabe antes recomendar à leitora e ao leitor que aproveite a leitura deste livro excepcional.
Notas
1 The dialectical imagination: a history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-50. Boston: Little, Brown and Co., 1973. [ Links ] [Ed. bras.: A imaginação dialética: história da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisas Sociais 1923-1950. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008].
2 Die Frankfurt Schule. Geschichte, Theoretische Entwicklung, Politische Bedeutung. Munique: Hanser, [ Links ] 1986. [Ed. bras.: A Escola de Frankfurt: história, desenvolvimento teórico, significação política. Trad. Vera de Azambuja Harvey. São Paulo: Difel, 2002].
3 ADORNO, T. e HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Trad. Guido de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, [ Links ] 1985.
4 HABERMAS, J. Theorie des kommunikativen Handelns, Band 1. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, [ Links ] 1995.
5 ABROMEIT, J. Max Horkheimer and the foundations of the Frankfurt School. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p. 170. [ Links ]
6 HORKHEIMER, M. “The end of reason”. Studies in Philosophy and Social Sciences, vol. IX, Nova York, [ Links ] 1942.
7 ABROMEIT, op. cit., p. 395.
8 ABROMEIT, op. cit., p. 392.
9 LUKÁCS, G. História e consciência de classe. Estudos sobre a dialética marxista. Trad. de Rodnei Nascimento. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
10 ABROMEIT, op. cit., p. 82.
11 HORKHEIMER, M. “Egoismus und Freiheitsbewegung”. In: Gesammelte Schriften. Band 4: Schriften 1936-1941. Org. A. Schmidt. Frankfurt: Fischer, 1988, pp. 9-88. [ Links ]
12 Idem, “Traditionelle und kritische Theorie”. In Gesammelte Schriften. Band 4: Schriften 1936-1941, op. cit., pp. 162-216. [ Links ]
13 HORKHEIMER, M. “Zur Antinomie der teleologischen Urteilskraft”. In: Gesammelte Schriften. Band 2: Schriften 1922-1932. Org. A. Schmidt. Frankfurt: Fischer, 19885, pp. 15- [ Links ]72.
14 ABROMEIT, op. cit., p. 141.
15 HORKHEIMER, M. “Dämmerung. Notizen in Deutschland”. In: Gesammelte Schriften. Band 2: Schriften 1922-1932, op. cit., pp. 312- [ Links ]452.
16 ABROMEIT, op. cit., p. 200.
17 Ibidem, p. 207.
18 Ibidem, p. 227.
19 HORKHEIMER, M. “Materialismus und Metaphysik”. In: Gesammelte Schriften. Band 3: Schriften 1931-1936. Org. A. Schmidt. Frankfurt: Fischer, 1988, pp. 70- [ Links ]105. [Trad. bras. “Materialismo e metafísica”. In: Horkheimer, M. Teoria crítica I: uma documentação. Trad. de Hilde Cohn. São Paulo: Perspectiva/ edusp, 1990.]
20 Idem, “Materialismus und Moral”. In: Gesammelte Schriften. Band 3: Schriften 1931-1936, op. cit., pp. 111- [ Links ]149. [Trad. bras. “Materialismo e moral”. In: Horkheimer, Teoria crítica I, op. cit.]
21 HORKHEIMER, “Egoismus und Freiheitsbewegung”, op. cit.
22 HORKHEIMER, M; Marcuse, H.; Fromm, E.; et al. Studien über Autorität und Familie. Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung. Mit einem Vorwort von Ludwig von Friedeburg. Reprint der Ausgabe Paris 1936. Klampen, Lüneburg 2005. [ Links ]
23 Sobre este ponto, registre-se o aparecimento, em 2013, do interessante livro de Katia Genel, Autorité et emancipation. Horkheimer et la Théorie critique (Paris: Payot & Rivages). Como no caso de John Abromeit, a visada mais ampla da autora é a de uma reconstrução não apenas da trajetória intelectual de Horkheimer, mas do conjunto da Teoria Crítica. Katia Genel, no entanto, o faz a partir da noção de “autoridade”. O que a leva a sustentar a tese de que, nessa vertente intelectual, a noção fundamental é antes a de “autoridade” do que a de “dominação”, por exemplo. O livro de John Abromeit se posiciona claramente contra tal possibilidade de reconstrução (ver, por exemplo, a nota 13, p. 303).
24 ABROMEIT, op. cit., p. 302.
25 HORKHEIMER, M. “The end of reason”. Studies in Philosophy and Social Sciences, vol. IX, Nova York, [ Links ] 1942
26 ABROMEIT, op. cit., p. 395.
27 BENJAMIN, W. Obras Escolhidas; vol.1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, [ Links ] 1994.
28 ABROMEIT, op. cit., p. 330.
[29] Ibidem, p. 430.
Marcos Nobre – Professor no Departamento de Filosofia do IFCH da Unicamp e pesquisador do Cebrap.
Adriano Januário – Doutorando no programa de pós-graduação em Filosofia da Unicamp.
Raphael Concli – Mestrando no programa de pós-graduação em Filosofia da Unicamp.
Paulo Yamawake – Mestrando no programa de pós-graduação em Filosofia da Unicamp.
Greece and the Augustan Cultural Revolution | Anthony Spawforth
Após algumas décadas de crítica ao conceito de “romanização”, o leitor poderia estranhar as teses expostas no recém-publicado Greece and the Augustan Cultural Revolution, de Anthony J. Spawforth. Apesar do termo romanisation aparecer poucas vezes no corpo do texto, a tônica do livro é, justamente, demonstrar a romanização da Grécia. Mais do que isso: demonstrar que a romanização da Grécia se alinhava à política cultural dos imperadores, especialmente Augusto e Adriano. Seria indício de um retorno do paradigma da romanização nos estudos sobre o Império Romano?
Não exatamente. O livro de Spawforth se situa em um lugar específico do debate da romanização: o “oriente romano”. Até a segunda metade do século XX, o conceito de romanização se aplicava sem constrangimentos às provinciais ocidentais, bárbaras, que adotaram a vida urbana e a civilização somente com a conquista romana; as províncias orientais, por outro lado, densamente urbanizadas e com uma enraizada cultura grega (ao menos entre as elites), resistiram à romanização plena, limitada aos aspectos políticos e militares. Com as críticas ao caráter imperialista do conceito de romanização, realizadas na segunda metade do século XX, a cultura das províncias ocidentais do Império deixou de ser vista como simples resultado da “aculturação”, enquanto que, no oriente, a “resistência grega” se tornava o símbolo de um “imperialismo cultural reverso”, no qual os dominados submetiam culturalmente os dominadores. Leia Mais
Nature’s Economy: A History of Ecological Ideas | Donald Worster
Antes de se constituir um campo do conhecimento, na segunda metade do século XIX, a ecologia já era praticada como uma “economia da natureza”. É o que nos revela o livro Nature’s Economy: A History of Ecological Ideas, um dos mais importantes clássicos da história ambiental, publicado pela primeira vez em 1977, reeditado, revisado e ampliado em 1994, mas, infelizmente, ainda não traduzido para a língua portuguesa. Seu autor, Donald Worster, Professor emérito do Departamento de História da Universidade do Kansas, é o mais ilustre historiador da área, tendo publicado vários livros e artigos relevantes.
Nature’s Economy está dividido em seis partes, organizadas em ordem cronológica. Publicada em plena “Idade da Ecologia”, expressão utilizada por Worster para designar o contexto de popularização das preocupações ecológicas, nos anos 1960-70, o objetivo da obra é entender como o mundo natural tem sido percebido pela ciência da ecologia, desde o século XVIII, bem como a dinâmica dessas percepções, ao longo do tempo. No entanto, o livro não se restringe à construção de uma “história da ecologia”; ele penetra, mais profundamente, na penumbra do pensamento ecológico, incluindo as conexões literárias, econômicas e filosóficas que os ecólogos realizaram. A principal contribuição do livro, segundo o autor, é oferecer uma consciência mais profunda das raízes da nossa compreensão contemporânea da natureza (Worster, 2011, p. xiii). Leia Mais
The Atlantic Slave Trade from West Central Africa, 1780-1867 – SILVA (RBH)
SILVA, Daniel Domingues da. The Atlantic Slave Trade from West Central Africa, 1780-1867. New York: Cambridge University Press, 2017. 232p. Resenha de: ALFAGALI, Crislayne Marão Gloss. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.38, n.79, set./dez. 2018.
The Atlantic Slave Trade from West Central Africa conta em minúcia a história do comércio das gentes no auge de seu funcionamento, na principal região de procedência dos escravizados que foram deportados para as Américas, em especial para o Brasil. Esse fato, por si só, torna o livro imprescindível tanto para a compreensão das dinâmicas do tráfico e da escravização na África, quanto para a história dos africanos e seus descendentes na diáspora.
Os primeiros parágrafos escritos por Daniel Domingues dizem muito sobre suas escolhas teóricas e seu objetivo de unir métodos quantitativo e qualitativo. Na introdução narra-se a trajetória de Nanga, que foi penhorado por sua mãe para libertar um de seus tios, o qual, por sua vez, foi escravizado e vendido por adultério, uma ofensa que poderia ser punida com escravização, banimento e morte. Uma história repleta de reviravoltas que nos conta as experiências de escravidão e liberdade vivenciadas por Nanga e suas conexões com a era da abolição e a supressão do tráfico no Atlântico Norte. Acontecimentos concomitantes ao aumento da demanda por mercadorias primárias na Europa em franca industrialização e, consequentemente, à intensificação do comércio das almas da África Centro-Ocidental para as plantações nas Américas.
Nesse breve introito, delineiam-se alguns dos mais importantes diálogos historiográficos atuais sobre: os processos e critérios de captura e escravização; as origens dos escravizados que foram forçados a deixar a África Centro-Ocidental; o impacto do tráfico nas sociedades africanas e suas relações com a política interna dos Estados africanos; quais foram as motivações dos centro-africanos que participavam do tráfico; e as dificuldades e agruras enfrentadas por aqueles que foram atingidos pela maior migração forçada à longa distância da história.
Dessa forma, a fim de unir análises de cunho qualitativo com fontes seriais, o autor lança mão do cruzamento de informações fruto de seu trabalho como colaborador da maior base de dados sobre viagens escravistas “Voyages: The Trans-Atlantic Slave Database” (Eltis et al., s.d.) com as obtidas em variado conjunto documental. O livro traz listas e registros de escravizados e libertos produzidos pelas comissões mistas para a supressão do tráfico e pelas autoridades coloniais em Angola, arrolamentos de mercadorias que circulavam no comércio atlântico, relatos de viajantes, testemunhos de escravizados e libertos e toda sorte de documentos oficiais presentes em arquivos brasileiros, norte-americanos, portugueses, angolanos e britânicos.
Os dois primeiros capítulos esboçam o panorama geral das flutuações do comércio das almas de 1780 a 1867, bem como sua organização e agentes envolvidos desde a captura, escravização e transporte até a venda. Uma das conclusões apresentadas é a de que o número de escravizados dependeu mais de eventos relacionados à demanda da economia atlântica e a eventos como a rebelião de São Domingos e a abolição do tráfico inglês, que promoveram a expansão do comércio ibérico e brasileiro, que à oferta de cativos desencadeada por guerras provocadas pela expansão Lunda. A ênfase passa para o papel central desempenhado pelos comerciantes, intermediários e traficantes. Pessoas de variada procedência e condição social com ambições econômicas, políticas e de ascensão social, que não deixaram de influenciar diretamente a oferta e a demanda de cativos.
Domingues questiona a historiografia que associa as dinâmicas do trato dos viventes com processos de formação estatal no interior do continente africano. Especificamente para a historiografia sobre a África Centro-Ocidental, o volume e a origem dos escravizados que abasteciam o tráfico foram associados à expansão do Império Lunda e à formação do Reino Imbangala Kasanje.1 Tal como outros estudos (Ferreira, 2012; Ferreira, 2012a; Candido, 2013) permitem entrever, The Atlantic Slave Trade from West Central Africa relativiza a tese de Miller (1988) segundo a qual a fronteira da escravidão se moveria cronológica e progressivamente para o interior do continente africano. Isso porque o processo de escravização abrangeu também as populações costeiras, mesmo em áreas de ocupação portuguesa, que não estavam imunes ao sequestro, razias e outras formas de escravização (p.7).
Por isso, o Capítulo 3 traz uma das contribuições mais relevantes do livro, um estudo minucioso das origens dos escravizados que partiam da África Centro-Ocidental no século XIX. Há registros detalhados para 11.264 indivíduos, de 21 grupos linguísticos e 116 etnias, em sua maioria de regiões costeiras, de algumas áreas específicas próximas a portos de embarque, aspecto que ressalta as novas interpretações historiográficas acima citadas.
Ao estudar os etnômios predominantes, Domingues constata que escravizadores e escravizados frequentemente falavam a mesma língua e compartilhavam valores culturais similares. Contudo, salienta que esse processo respondia a pressões impostas pelo mundo atlântico. Por conseguinte, não é possível dissociar esse processo da crescente e complexa rede mercantil relacionada à demanda atlântica de produção de cativos para abastecer os portos das Américas.
Tampouco pode-se presumir que comerciantes e escravizados compartilhavam uma identidade única como o vocabulário africano erroneamente pode induzir; pelo contrário, não viam a si próprios com base em uma consciência comum de irmandade. “Eles [os escravizados] podiam falar a mesma língua que seus captores, viver próximo a eles, adorar as mesmas divindades, mas eles ainda assim poderiam ser considerados ‘de fora’ (outsiders)” (p.99, trad. nossa). Para o autor, esse “senso localizado e restrito de identidade” teve consequências desastrosas sobre algumas sociedades, como no caso do impacto demográfico do tráfico no Ndongo. Algo diferente do que foi visto para as populações Umbundu. Isso mostra que as consequências do tráfico foram desiguais nas diferentes sociedades africanas.
As tabelas, mapas e anexos que trazem a descrição dos etnômios dos escravizados são recursos fundamentais para composição mais abrangente da presença e das contribuições dos falantes de línguas bantu na constituição das sociedades americanas.
Os Capítulos 4, 5 e 6 buscam o ponto de vista africano do tráfico de escravizados. Em outras palavras, analisam como as concepções das sociedades africanas de gênero e idade, por exemplo, tiveram peso relevante na determinação do perfil demográfico dos escravizados que eram vendidos na costa. Havia relutância em vender mulheres adultas para a travessia atlântica em razão de sua importância para as sociedades locais.
Ademais, o autor analisa as mudanças nos padrões de consumo das sociedades africanas relacionadas à adição de uma variedade de itens, como os tecidos asiáticos e europeus, a suas produções locais. Africanos de diversa condição social e econômica, e não apenas líderes políticos, engajaram-se no tráfico, motivados principalmente pelas recompensas materiais. Contudo, em termos gerais, os escravizados pertenciam às camadas sociais inferiores, incluindo prisioneiros de guerra, vítimas de rapto ou trapaça e aqueles escravizados por ofensas como roubo e adultério. Enfim, eram várias as formas legais e ilegais de escravização.
Neste ponto, uma maior aproximação dos estudos sobre as mudanças nas políticas internas dos sobados e de seus padrões culturais possibilitaria outras interpretações. Jan Vansina, por exemplo, associa a intensificação da prática do penhor em meados do século XVIII à concentração de poder em “matrilinhagens corporativas”, governadas pelos “mais velhos” da linhagem que passaram a dispor de seus dependentes como forma de eles próprios escaparem da escravidão (entregando o penhorado em seu lugar) ou para pagar dívidas e obter bens e riquezas (Vansina, 2005, p.18).
Por fim, as análises de Domingues se sustentam em amplo lastreamento empírico e profícuo diálogo historiográfico. Ao enfatizar a agência africana e seus meandros não deixa de lembrar como o legado do trato das gentes é um obstáculo na formação de nações como Angola e outros países que hoje se localizam na África Centro-Ocidental (p.15).
Referências
BIRMINGHAM, David. The Date and Significance of the Imbangala Invasion of Angola. Journal of African History, Cambridge/New York: Cambridge University Press, v.6, n.2, p.143-152, 1965. [ Links ]
CANDIDO, Mariana P. An African Slaving Port and the Atlantic World. Benguela and its Hinterland. New York: Cambridge University Press, 2013. [ Links ]
ELTIS, David et al. Voyages: The Trans-Atlantic Slave Database. [ base de dados on-line]. s.d. Disponível em: Disponível em: www.slavevoyages.org/ ; acesso em: 12 set. 2018. [ Links ]
FERREIRA, Roquinaldo A. Cross-Cultural Exchange in the Atlantic World: Angola and Brazil During the Era of the Slave Trade. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. [ Links ]
_______. Dos sertões ao Atlântico: tráfico ilegal de escravos e comércio lícito em Angola, 1830-1860. Luanda: Kilombelombe, 2012a. [ Links ]
MILLER, Joseph. The Imbangala and the Chronology of Early Central African History. Journal of African History, Cambridge/New York: Cambridge University Press, v.13, n.4, p.549-574, 1972. [ Links ]
_______. Way of death: Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade, 1730-1830. Madison: University of Wisconsin Press, 1988. [ Links ]
VANSINA, Jan. The Foundation of the Kingdom of Kasanje. Journal of African History, Cambridge/New York: Cambridge University Press, v.4, n.3, p.355-374, 1963. [ Links ]
_______. Ambaca Society and the Slave Trade c. 1760-1845. Journal of African History, Cambridge/New York: Cambridge University Press, v.46, n.1, p.1-27, 2005. [ Links ]
1Esse assunto foi mote de amplo debate representado sobretudo por VANSINA (1963), BIRMINGHAM (1965) e MILLER (1972).
Crislayne Marão Gloss Alfagali – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Departamento de História. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
[IF]
NAFTA and the Politics of Labor Transnationalism | TAmara Kay
A “Governança”1 ainda é um tema controverso e relativamente desconhecido nos círculos acadêmicos, apesar de sua jornada2 no campo das Relações Internacionais (RI): a (não) eficácia e os frágeis mecanismos de enforcement são apenas duas das principais críticas direcionadas à governança.
O livro NAFTA and the Politics of Labor Transnationalism (não traduzido para o português), de Tamara Kay, segue direção frontalmente contrária às perspectivas pessimistas relacionadas ao tema. Kay é professora associada do departamento de sociologia na Universidade de Harvard e codiretora da Transnational Studies Initiative, na mesma instituição. Sua trajetória de pesquisa enfoca, principalmente, a resposta e adaptação de movimentos laborais, ambientalistas e sem fins lucrativos à integração econômica (HARVARD, 2011). Leia Mais
The New Transnational Activism | Siney Tarrow
A internacionalização dos movimentos sociais é um fenômeno que vem sendo crescentemente observado por analistas de Política Internacional. Muitos dos temas relacionados a esses processos ainda não têm, na Academia, um longo histórico de pesquisas, como: a formação de coalizões transnacionais, a relação entre os atores internos e externos ao Estado, a formação de redes, etc.
The New Transnational Activism (não publicado no Brasil), de Sidney Tarrow (professor de Sociologia na Universidade de Cornell), é uma obra que busca, através de uma análise lúcida e abrangente, preencher essas lacunas analíticas, aprofundar temas já abordados e desmistificar outras problemáticas relacionadas à internacionalização dos movimentos sociais. Para tanto, o autor versa sobre questões tão plurais quanto os movimentos trabalhista, ecológico, indígena, feminista e negro, dentre outros. O livro faz parte da coleção de estudos de Cambrigde em Contentious Politics 2, e está organizado em onze capítulos e cinco partes: o primeiro capítulo é a introdução, e cada uma das cinco partes a seguir se compõe de dois capítulos. Leia Mais
Writing and Empire in Tacitus | Dylan Sailor
Públio Cornélio Tácito é reconhecido hoje como um dos maiores historiadores do Principado. Considerando Ronald Haithwaite Martin [157] e Fábio Joly podemos afirmar que, ao pensarmos sobre vida e obra de Tácito, percebemos que sua obra histórica abarca o relato sobre as duas primeiras dinastias – dos Júlio-Claudianos e dos Flavianos – e a guerra civil de 69. Além de obras do gênero histórico, Tácito escreveu outras obras – Germânia, Agrícola e, possivelmente, Diálogo dos Oradores – e exerceu uma gama de cargos políticos dentro do Principado, entre eles estãoo de questor em Roma, no ano 81, e de procurador na Germânia, ainda no mesmo ano. Suas obras teriam sido compostas nos principados de Domiciano, Nerva e Trajano. Martin destaca ainda que os escritos de Tácito foram de grande importância e influência para os autores de século III e para os epitomadores dos séculos IV e V.
É na busca pela delimitação do estilo tacitista de escrita que Dylan Sailor compõe a obra Writing and Empire in Tacitus. Nesse livro o autor tenta mostrar como as obras e o estilo de Tácito são frutos de seu tempo e de sua carreira. Para isso , ao analisar as obras de Tácito, Sailor mostra como se desenvolvia a produção literária no Principado, não somente no tempo de Tácito, mas comparando com outros momentos da história do Principado, como quando remete a Sêneca e a outros autores citados nas próprias obras deTácito. É perceptível que, seguramente, a obra de Sailor segue a mesma linha de Sir Ronald Syme (Tacitus, 1958), em que credita o estilo de escrita de Tácito à carreira política e ao tempo em que escreveu. E que se contrapõe a O’ Gorman (Irony and Misreading in the Annals of Tacitus. Cambridge University Press, 2000) e Haynes (The history of make-believe: Tacitus on Imperial Rome. University of California Press, 2003) que creditariam o estilo taciteano a uma tradição em Roma, abalando o vínculo entre Tácito, sua obra e a realidade mais imediata. Evidentemente, para esses dois autores, Tácito estaria mais próximo de Tito Lívio, enquanto, para Syme e Sailor, um bom marco comparativo seria Salústio. Notoriamente, podemos ver que a opção tomada por Sailor parece mais adequada ao analisar a obra taciteana. Porém, ao contrário de Salústio, Tácito é envolto pelo regime imperial. Um regime que oprime por vezes a liberdade de se escrever o que pensa. A obra de Sailor aborda, de maneira muito enfática e convincente, que não é possível analisar as obras de Tácito sem conseguir enxergar o contexto de sua carreira, de sua obra literária e de sua vida social nas entre linhas de suas obras historiográficas.
O livro é dividido em seis capítulos: “Introdução”, “Autonomia, autoridade e representação do passado sob o Principado”, “Agrícola e a crise de representação”, “Os encargos de Histórias”, “Em outros lugares de Roma”, “Tácito e Cremutio” e “Conclusão: conhecendo Tácito”. O autor constrói a sua obra mostrando como podemos distinguir o autor, do político e do homem aristocrata nas obras de Tácito.
A opção de Sailor por iniciar o livro com um capítulo focando os conceitos sobre os quais ele debate ao longo de sua obra parece ser a estratégia mais adequada. Isso porque nesse capítulo o autor discute justamente o caminho pelo qual seguirão seus argumentosao longo de sua obra. O autor começa o capítulo introdutório “Autonomia, autoridade e representação do passado sob o Principado” se indagando sobre a possibilidade de Tácito ter criticado tão claramente a hipocrisia do Principado – do qual fez parte como deixa claro sua extensa carreira política. Nesse capítulo percebe-se que é indispensável, para Sailor, termos em mente que, para os romanos, era essencial a separação entre o autor e a voz narrativa da obra.
Esse primeiro capítulo nos permite entender que, para Sailor (assim como para Ronald Syme) somente foi possível a Tácito exercitar esse distanciamento entre a pessoa e a obra porque ele eraa membro de uma elite de origem provincial. Segundo Sailor, as obras no mundo romano tinham várias funções, mas a principal seria se tornar um monumentum tanto para o presente quanto para a posteridade, sendo algo perdurável, simbólico com intenção de se tornar permanente. É a obra que dava peso ao nome do autor e lhe propiciava a noção de “grande dever” cumprido. Sailor apresenta nesse capítulo a ideia, que defende em toda em sua obra, de que Tácito, por estar presente no principado, não age apenas como um simples escritor, mas também como um agente social nesse meio. Essa ideia apresentada por Sailor, de que o historiador também é um agente social é bem interessante, e também se adéqua a outras personalidades do mundo romano que também registraram seus posicionamentos sobre o poder enquanto estavam dentro das estruturas de poder.
Os demais capítulos seguem a mesma linha de raciocínio, porém, é notório que o autor não aborda as questões conceituais como abordara no primeiro, tornando assim o capítulo inicial de mais relevância à obra. No segundo capítulo, intitulado “Agrícola e a crise de representação”, o autor comenta sobre o monopólio por parte da casa imperial dos triunfos militares e sobre como era perigoso se destacar à frente do Imperador. Essa crise das representações gera um processos de exageração das vitórias ou até mesmo a fabricação dessas. A partir das narrativas de Tácito, Sailor interpreta que Agrícola teria achado uma alternativa para esse processo, reconciliando realidade e representação. De acordo com Sailor, em certa medida a obra Agrícola, de Tácito, [158] se preocupa tanto com a representação quanto com o restabelecimento da verdade, ligada à negação do triunfo à Agrícola. Desse ponto, surgem duas questões. Se é negado à elite e à não-elite as honras pelo triunfo, o que as diferenciam? Se não existe mais o mérito pela honra, o que poderia motivar os membros da sociedade romana a se esforçarem pelo Império? Um dos pontos tocados pelo autor é a questão da virtude. Nesse momento do Império, qual seria o caminho para os homens ilustres mostrarem suas virtudes? Em uma seção do capítulo, Sailor apresenta como era fácil em outros tempos apresentar as virtudes para sociedade, e como era possível produzir esta noção de representação de modo claro.
No terceiro capítulo “Os encargos de Histórias”, Sailor diferencia os objetivos e o estilo de Agrícola e das Histórias. Sailor demonstra como ambas obras trazem a tona problemas políticos, mas em Agrícola, Tácito visa a enaltecer a memória de seu sogro em contraposição ao antagonista, Domiciano. Segundo a análise de Sailor, em Histórias pode se notar um amadurecimento de Tácito ao comentar sobre a tirania que foi se formando, até culminar no desfecho de Domiciano/Agrícola. Sailor aponta como a história da escrita de Tácito se confunde com a história política de Roma por mostrar as mudanças institucionais do Império e as reviravoltas que mudaram os poderes dentro da sociedade. Ao mesmo tempo, Tácito descreve a relação entre o historiador e o príncipe. Para Sailor, Tácito realizaria uma história da historiografia para explicar os motivos da escrita de seu livro.
Primeiramente, Tácito aponta a mudança de poder quanto à escrita da história que, a partir da batalha de Actium, esteve condicionada a uma pessoa: o príncipe. E que, após isso, as histórias estiveram condicionadas a analisarem as res gestae deste homem. A partir da instauração do principado há uma troca da eloquentia e libertas, comuns na escrita da história antes da batalha de Actium, pelo servilismo que passa existir em relação ao imperador. Outro ponto que o autor levanta é que as biografias realizadas até então foram presas à adulatio. Parece sensato destacar um ponto bem abordado por Sailor: nas Histórias, Tácito se livra da relação de poder entre súditos e imperador (caracterizada por uma relação de servilismo) removendo a figura de Trajano do prefácio. Assim, pode a Tácito ser configurada uma liberdade, que a meu ver é o grande diferencial de Tácito para os demais autores da era imperial.
No quarto capítulo “Em outros lugares de Roma”, o autor discute a relação que existe entre a história escrita por Tácito, o regime do Principado, a cidade de Roma, e os demais componentes do Império. Para isso, Sailor analisa o uso da semiótica presente na obra de Tácito contrapondo, princeps a súditos, escravos a senhores, romanos a estrangeiros. O texto mostra como era a relação do princeps com a monumentalidade da cidade de Roma através de passagem que mostra obras erguidas por imperadores. Sailor mostra como Tácito trabalha com a crise da semiótica durante o período de Guerra Civil e que possibilita que os romanos matem uns aos outros. Esse, a meu ver, é o capítulo que Sailor tenta tirar Tácito de seu contexto político e o leva para o contexto social do Império. Sailor mostra nesse capítulo como o historiador latino se relacionava com os costumes dos antepassados e como os comparava com os do seu presente. É certo, pela obra de Sailor, identificar a inquietação de Tácito ao exercer uma reflexão sobre seu tempo.
No quinto capítulo “Tácito e Cremutio”, Sailor aponta para a dificuldade de recepção das obras de Tácito em seu tempo. Valendo-se de uma análise da obra Anais, de Tácito, demonstra os perigos existentes em se escrever tal tipo de obra, e os recursos utilizados para demonstrar tal fato. Para Sailor, diante de tal contexto, a obra Anais serve para nos convencer de todas as dificuldades que rondavam a escrita do historiador, e o risco destas obras despertarem desconfiança ou indiferença no contexto imperial. O que Sailor aponta é que Tácito, através do exemplo de Cremutio, expõe que escrever sobre o Principado era perigoso para o historiador, e que mesmo falando de imperadores mortos (mesmo de uma linhagem já morta!) continuava sendo perigoso tanto para a obra quanto para o autor. Esse capítulo faz um contraponto com o primeiro, quando discute a questão do mártir. Sailor chega à conclusão de que a obra Anais é perigosa porque ajuda os leitores da época a entenderem a natureza dos príncipes e os meios de tirar vantagem deles.
Em “Conclusão: conhecendo Tácito”, o autor fecha com duas ideias em torno do programático e da representação, que se cruzam constantemente na historiografia taciteana. A primeira, sobre a representação do papel do historiador e da história dentro da História, e, a segunda, das relações históricas de atores para obras do passado ou o futuro da história. Tácito, de acordo com Sailor, buscaria mostrar a finalidade de sua obra apresentando a representação do Império, da cidade ou até mesmo do julgamento de Cremutio. Por outro lado, não se abstém de uma discussão programática de seu ofício inserindo o leitor no contexto político que cerca a escrita de sua obra. O que Sailor aponta com esses dois elementos é que a obra de Tácito apresenta como escrever história poderia ser um modo de vida. A obra de Tácito teria permitido a ele se mostrar em um meio público e ao mesmo tempo indicar como o historiador latino se postava contra a ordem de poder existente.
Faço ainda duas ponderações sobre a obra de Sailor. A primeira é que, mesmo abordando grandes obras como Agrícola, Histórias e Anais o autor se abstém de uma análise de outras duas obras taciteanas: Germânia e Diálogo dos Oradores. Essas duas obras poderiam fundamentar ainda mais a tese dele, já que a primeira trata justamente do período em que Tácito esteve inserido como parte operante da política romana e que a segunda trata de uma reflexão sobre a oratória em seu tempo (ainda que sua autoria siga em debate). Nesse mesmo ponto, é visível que o autor se concentra por demais na análise de Vida de Agrícola e História, o que empobreceu a análise sobre Anais, obra com a mesma importância que as duas anteriores. A segunda ponderação, é que, em muitos momentos de sua obra, Sailor não torna possível reconhecer que um conceito usado na análise de uma obra se estende às demais. Por exemplo, se a mesma noção de virtude em Agrícola está presente em Anais. Ele consegue deixari bem clara a ideia de que todas as obras de Tácito são marcadas pela ambiguidade (porque o Principado é ambíguo), masdeixa obscuro se as demais ideias seriam percepctíveis em todas obras. Apesar disso, não vejodúvidas sobre o grande valor que a obra de Sailor traz aos pesquisadores de história antiga e de historiografia porcontribuir gerando uma bem fundada interpretação da escrita de Tácito
Notas
157. CF. MARTIN, R.H. Tacitus. In: Hornblower, Simon and Spawforth, Antony (Ed.). The Oxford classical dictionary. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 1469-1471.
158. Agrícola – obra de cunho biográfico que Tácito teria composto em louvor ao sogro ao qual o Imperador Domiciano teria o negado o triunfo pelas campanhas na Bretanha.
Willian Mancini – Mestrando pela Universidade Federal de Ouro Preto. E-mail: [email protected]
SAILOR, Dylan. Writing and Empire in Tacitus. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Resenha de: MANCINI, Willian. Alétheia – Revista de Estudos sobre Antiguidade e Medievo. Jaguarão, v.2, n.2, p.129-132, jul./dez., 2011.
Consciousness – HILL (M)
HILL, C. S. Consciousness. Nova York: Cambridge University Press, 2009. Resenha de: JUCÁ, Gabriel. Manuscrito, Campinas, v.32, n.2, July/Dec. 2011.
The view that conscious experiences are baffling phenomena of a metaphysically peculiar nature dies hard. Although scientific models of conscious awareness have in recent years been receiving more and more attention, such theories have yet to find room in the imagination of intellectuals. So the fact that scientists have already developed rigorous explanations of phenomena ranging from intentional action to visual perception has, unfortunately for those of physicalist inclinations, failed to capture public imagination. Can philosophers help the physicalist cause?
It is ironic that, in contemporary philosophy of mind, much important work on consciousness shows no distinct philosophical character, at least in the following sense: the positive theoretical contributions could just as well have been made by scientists. The refutations of dualist arguments involving qualia naturally require a firm grasp of contemporary philosophy, but they are evidently not what I mean by “positive theoretical contributions”, that is, actually explaining the data. Think, for example, of Daniel C. Dennett’s (1991, pp. 101-170) ingenious reinterpretations of the color phi experiment and Libet’s “timing of consciousness” puzzle, or of Paul Churchland’s ( 2002) work in praise of recurrent networks. Fascinating as they are, such ideas are hardly convincing to those skeptical about a major role for philosophy in the development of a naturalistic/physicalist perspective on the mind that is both comprehensive and rigorous.
What would such a philosophical view look like? One might try to develop a theory that, in addition to the mandatory tapping into recent empirical research, incorporates careful introspective and philosophical argument in figuring out just what the objects of experience are. Christopher S. Hill, a professor of philosophy at Brown University and a logician of distinction (he is the author of Thought and world: an austere portrayal of truth, reference and semantic correspondence) has set out to do just that. Initially a proponent of type materialism and conceptual dualism, a combo defended on his 1991 book Sensations, he evolved into a representationalist about conscious phenomena. The latter is the view defended on his latest book, Consciousness.
A key idea on Hill’s theory is approaching qualitative states as states of the external objects of perception or properties of bodily states. Following Gilbert Harman’s lead, Hill argues that awareness of qualia is not awareness of characteristics belonging to mental objects per se; instead, awareness of qualia is awareness of properties of intentional objects. Perceptual experience typically involves representing these properties in a transparent way, that is, the properties of the representations themselves are not readily available, unlike the properties of objects that we perceive. This can be justified by an appeal to introspection. As Hill says “It is introspection that shows that our awareness of external objects is not mediated by awareness of internal phenomena, and it is introspection which shows that introspection reveals only the representational properties of experiences” (pp.58-59). When we focus our attention on our visual experience of a given object, for example, we get better detailing of a feature belonging to the object – the brightness of its colors, its mereological relations, and so on. Thus, the most promising approach is a focus on the conscious mind as a representational engine. Moreover, the success of contemporary cognitive science demands just such an approach (p. 70). Indeed, scientific work in both “high level cognitive phenomena” and “lower level perceptual phenomena” presuppose this; Hill is thus led to affirm that scientific developments are the primary argument for the representationalist thesis (ibid.).
Unfortunately for proponents of such a view, there seem to be features of subjective experiences that just can’t be intrinsic to the discriminated objects. When a huge object such as The Moon is seen, for example, we have something that (from the viewpoint of average earthlings) looks rather small, even though it is perception of something enormous. So it appears that in conscious perception we are aware of at least some properties that are tied to a subjective situation, and this subjectivity might very well imply an “internal” character. This is what Hill calls “the problem of appearances” (pp.59-62).
How could those sympathetic to Harman’s view cope with the problem of appearances? Hill believes that such appearances, which he calls “A-properties” (p. 144) are indeed possessed exclusively by the objects of experience, but have a viewpoint-dependent nature. Thus, A-properties are relative to “such contextual factors as distance, angle of view, and lighting” (think of objects with the same light-reflecting properties all over but partially covered in shade: again, we have a grasp of something of a certain color all over but looking different here and there). These considerations set the stage for a Hill’s theory of visual qualia, which are to be identified with A-properties. The qualia involved in bodily sensations differ from the visual ones in not being viewpoint-dependent in this sense, but nevertheless share the crucial feature of not being mental in character. They are properties represented in awareness, not properties of awareness. This representational view extends to all qualia; indeed, even awareness of emotions is such a perceptual phenomenon.
An interesting consequence is the possibility of us being wrong even about our own experiences. In other words, incorrigibility about one’s own sensations gets discarded. Since in perception there is always an appearance/reality distinction, one could be thinking they’re outraged when actually experiencing a different emotion, such as jealousy. Likewise, you might think you are in pain when you are in fact hallucinating pain (p. 181). But Consciousness‘ main strength is not the demolition of old intuitions of incorrigibility. It is rather the extension of Harman’s introspective insights into a theory of consciousness that is both comprehensive and detailed. The representational perspective allows Hill to tackle the seemingly ineffable realms of pain and emotion as deeply as it has ever been done in philosophy.
Indeed, as surprising as it may sound to those who see awareness of pain as awareness of an intrinsically subjective mental property, pains fit rather smoothly in the representational picture defended by Hill. Here are his arguments: awareness of pain closely resembles straightforward examples of perception. We are able to attend to pains and thus to intensify the contrast between pains and what is in “the background”. We can assign spatial characteristics to pains, such as location. We can assign “parts” to pains, and we also have particularized access to them (as Hill puts it, “if I am aware of the existence of a trio of pains in my arm, I must be aware of each individual member of the trio”). These facts, coupled with the assumptions that experiencing pain also involves subconceptual representations, a priori norms of grouping into wholes and a proprietary phenomenology, strongly suggest that awareness of pain is a form of perception. The objects perceived turn out to be bodily disturbances that involve actual or potential tissue damage (p.177). This means that being aware of pain qualia means representing bodily disturbances. In Hill’s theory, pains are to be identified with such disturbances. A-properties are not mental after all, and neither are pains. And since representation involves the possibility of misrepresenting, we can hallucinate pains. That is the case in cases of phantom limb pain. Patients who present this condition don’t really have pain (p.182).
In the case of emotions, Hill explores the somatic view first proposed by William James in 1884. In a nutshell, the somatic approach says that emotions consist entirely of awareness of bodily changes triggered by biologically significant events. When one’s relative is hurt, for example, their body is guided by instinct to react in a certain way, often with crying, the usual modifications in body language, gesturing and a peculiar pace in the flow of thoughts. The agent’s emotional sensations are nothing more than awareness of these changes. Indeed, as James argued, it is difficult to conceive of emotions in the absence of such awareness. A point in favor of the somatic theory is its predictive power: researchers have verified that involuntary grimacing modifies mood. Another point in favor of the somatic approach is its refutable character. Should one find out that spinal patients (whose awareness of bodily changes is impaired) have the exact same emotional profile (given the same background conditions) of those without spinal injuries, the theory would be in serious trouble. Fortunately for Hill and other proponents of the somatic approach (Portuguese neuroscientist Antonio Damasio is an example), it seems spinal patients do have somewhat different emotional profiles (p. 199). For these reasons, it seems reasonable to conceive of emotional sensations as representations of bodily reactions.
But how can such a theory account for the fact that emotions don’t seem to be about bodily events, but about whatever triggers the events in the first place? If I grieve, it appears to me that the grief is “directed” at the loss I have had, and not about my somatic reactions to the event. Hill’s contribution here is to complement the previous somatic theories with loops of perceptual imagery “that provides an emotion with its intentional object” (p. 207). Thus, a major obstacle to the somatic approach can be negotiated smoothly.
Sympathetic though this review is, it must be said that the way Hill uses the term “qualia” can be misleading. Hill is faithful to the idea that perceptual qualia are, as Jaegwon Kim says, “the ways that things look, seem, and appear to conscious observers” (p.145). This is perfectly compatible with the account described above, but there is more to it than just that. The term “qualia” carries a deeper significance in philosophical discourse; “the way things look, seem and appear to conscious observers” is usually seen as characterizing mental states. Moreover, this characterization is said to be irreducible. “Qualia” is then used as a crucial theoretical term that states one’s position concerning reduction/elimination. The very deflated qualia mentioned by Hill, on the other hand, could just as well be accepted by qualia eliminativists. After all, who would deny that there are ways things look and appear to those who are conscious? Eliminativists have basically been saying that there is nothing irreducibly mental in consciousness. In other words, there is no felt quality that is immune to physicalist theorizing/reduction. For this reason, I feel Hill ought to stick to a more neutral term such as “appearances”, and assume a qualia-eliminativist position. His very bland definition of qualia has no theoretical bite.
Another minor flaw on Consciousness is Hill’s confusing treatment of the folk concept of pain. He alleges that the bodily disturbance theory of pain cannot do justice to the incorrigible and intrinsically experiential character of the folk concept. Unfortunately, the latter simply cannot be abandoned, for the folk concept is used to keep track of painful experiences, and this matters a great deal. As a result, we ought to say pain is either the sort of experience we have when certain somatosensory representations are activated (the folk concept) or a bodily disturbance we can be aware of (the representational theory). But is this warranted? Everything in folk psychology is used to keep track of important things, but it would be naïve to expect all of its concepts to be preserved by advanced theorizing. The concept of images seen in one’s mind’s eye, for example, appears to be bankrupt even if it is used to keep track of something quite relevant, namely, visual imagination. Likewise, we shouldn’t expect a philosophical theory of pain to fully honor the folk conception of pain.
Minor complaints aside, Consciousness helps to clarify the issues like few other books in the field. It stands out for comprehensiveness – key concepts are employed in unifying aspects of consciousness that appear very dissimilar. More importantly, though, it incorporates scientific insight without letting scientists do all the relevant work. Philosophy still has important things to say about the human mind.
References
BROOK, A., ROSS, D. Daniel Dennett. Nova York: Cambridge University Press, 2002. [ Links ]
CHURCHLAND, P. “Catching consciousness in a recurrent net”. In: A. Brooke and D. Ross (eds.) (2002), pp. 64-80. [ Links ]
DENNETT, D. C. Consciousness explained. Boston: Little, Brown, 1991. [ Links ]
HILL, C. S. Consciousness. Nova York: Cambridge University Press, 2009. [ Links ]
Gabriel Jucá – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Filosofia, Rua Marquês de São Vicente, 225, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22453-900, BRASIL, [email protected]
Max Horkheimer and the Foudations of the Frankfurt School – ABROMEIT (C-FA)
ABROMEIT, John. Max Horkheimer and the Foudations of the Frankfurt School. New York: Cambridge University Press, 2011. Resenha de: KLEIN, Stefan. Sobre as origens da teoria crítica. Cadernos de Filosofia Alemã, São Paulo, n.18, Jun./Dez., 2011.
Mantendo-se relativamente à margem de parte significativa do atual debate nas ciências sociais, a teoria crítica da sociedade encontra ainda pontos de retomada, marcados, de modo geral, pela aproximação sóbria e crítica das formulações teóricas originais, tais como a de Max Horkheimer, sobretudo na década de 1930. De certa forma, pode-se dizer que a tendência maior é a de preconizar um distanciamento 1 face ao arcabouço teórico mobilizado por ele naquele contexto. Essa tendência, porém, coexiste com abordagens que, em direção contrária, buscam extrair dessa(s) teoria(s) alguma contribuição para sustentar um determinado conceito de crítica 2.
A obra de John Abromeit, Max Horkheimer and the Foundations of the Frankfurt School, procura lançar luz sobre o que ele denomina “teoria crítica primeva” ( early critical theory ), tal como fora esboçada por Horkhei mer na época em que dirigia o Institut für Sozialforschung ( IfS ). Ainda que também se dedique especificamente à década de 1930 3, em que foram publicados diversos artigos e ensaios de Horkheimer na revista do instituto, Abromeit destaca o período anterior como trajetória formativa importante para encaminhar sua interpretação da obra horkheimereana.
O livro, que além da introdução compreende nove capítulos, dois ex cursos e um epílogo, pode – de modo bastante livre – ser dividido em três grandes partes. Num primeiro momento, Abromeit retoma em traços gerais a biografia de Horkheimer e seus estudos nos anos 1920, em que Horkheimer realiza o doutorado e passa pelas etapas necessárias para galgar o posto de docente universitário (cap. 1-5). Em seguida, trata particularmente da direção teórica tomada por Horkheimer durante a década de 1930 (cap. 6-8). Por fim, o autor aborda a transição para os anos 40, onde também retoma aspectos considerados centrais para compreender determinadas mudanças na interpretação de Horkheimer (cap. 9, excursos 1 e 2 e epílogo).
Um dos fios condutores para a argumentação apresentada no livro é posto desde o início: a tentativa de se contrapor aos intérpretes 4 que veem a teoria crítica de Horkheimer como presa a uma filosofia da consciência. Seguindo este fio condutor, Abromeit alternará a discussão minuciosa dos textos que identifica como centrais – e que são alvo da maioria dos estudos publicados – com o sobrevoo de outros que, malgrado sua importância, formam um pano-de-fundo do desenvolvimento teórico e ficam ao largo de grande parte das investigações 5.
.Ainda na introdução, aparece uma passagem que procura realçar o caráter sui generis do título da obra e, igualmente, da teoria estudada:
De um lado, os fundamentos da teoria crítica primeva de Horkheimer eram anti-fundacionistas na medida em que eram sobretudo históricos, e não ontológicos ou metafísicos. De outro lado, para Horkheimer era essencial reconhecer que todos os conceitos teóricos desenvolvidos por ele estavam relacionados por meios mais ou menos mediados com a época histórica em que vivia – o que ele chamou de ‘época burguesa’. Talvez o caminho mais importante em que a teoria crítica diferia de suas contrapartes ‘tradicionais’ fosse sua recusa de naturalizar a moderna sociedade capitalista burguesa e sua tentativa de identificar as contradições e tendências que poderiam – ainda que de modo algum necessariamente – levar a uma época histórica pós-capitalista e pós-burguesa qualitativamente nova (p. 3) 6.
Assim, por mais que procure destacar fatores que poderiam ter levado à fundação do Instituto (que também ficou conhecido por “Escola de Frankfurt”), Abromeit reconhece o percalço de se tentar subsumi-lo a um ideário comum, que sequer existiu entre os diferentes autores que o compuseram inicialmente – como Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Friedrich Pollock 7 – e tampouco pode ser encontrado no transcurso da teoria de um mesmo autor, como analisado por Abromeit.
Ao retomar o que classifica como período de formação intelectual de Horkheimer, nos anos 1920, quando este realiza seu doutoramento e obtém o direito de lecionar (a venia legendi ), Abromeit enfatiza os elementos materialistas que percorreriam sua teoria desde então, distanciando-se da posição de que Horkheimer teria dado uma guinada rumo à influência de Marx apenas no decorrer de seu trabalho no IfS. Ao mesmo tempo, Abromeit enfatiza um aspecto marcante da produção intelectual escrita deste autor, apontando para a separação existente entre o dia-a-dia e o trabalho de cunho estritamente acadêmico.
Quando se examina seus escritos não publicados deste período – o que faremos no próximo capítulo – a importância teórica de Marx para Horkheimer torna-se bem mais clara. No entanto, como foi o caso tanto ao início quanto ao final de sua vida, Horkheimer abordou seus pronunciamentos esotéricos, publicados, de modo diferente de suas reflexões privadas, não publicadas. […] Em todo caso, Horkheimer claramente tomava suas tarefas como professor universitário por extremamente sérias, e não poderia ser acusado de apresentar ideias aos seus estudantes de maneira tendenciosa (p.127).
Os elementos materialistas logo começaram a ser conjugados com as teorizações marcadas pelo ponto de vista de Marx, o que vale em especial para o ensaio “Um novo conceito de ideologia?”, em que Horkheimer discute o modo como Karl Mannheim, renomado sociólogo e professor em Frankfurt, entende a importância da posição ou da origem de classe para o trabalho intelectual, em sua obra Ideologia e utopia. Este texto também aparece como central em virtude de constituir uma das bases que permitiram que Horkheimer acedesse a uma cátedra na Universidade de Frankfurt, marcando sua posição no contexto teórico daquele debate. Ao mesmo tempo, Horkheimer se de dicou extensamente à redação de diversos aforismas, sendo uma parte destes publicados – no livro em que adotou o pseudônimo de Heinrich Regius – sob o título de Dämmerung (Crepúsculo), e outra parte postumamente editados nas Gesammelte Schriften, publicadas em língua alemã a partir de 1985 e que chegaram ao total de 19 volumes. Nestes escritos, a forma de redação e a crítica contundente ao capitalismo marcam um distanciamento face ao estilo acadêmico dos artigos.
Encerrando o que compreendo como primeiro movimento do livro, Abromeit aprofunda, no quinto capítulo, as contribuições específicas da psicanálise para a teoria crítica de Horkheimer. Ele destaca que os estudos empíricos embasados por esses pressupostos teóricos da psicologia social freudiana também constituem uma possível contraprova ao entendimento de que haveria um déficit sociológico em seus escritos, pois apresentam e analisam vasto material com vistas a estabelecer possíveis explicações da realidade política alemã da época.
Considero que este enfoque detém importância particular, na medida em que expressa uma tendência crescente 8 de atentar às pesquisas empíricas realizadas pelo IfS, um viés que, em virtude dos debates de cunho epistemológico e teórico orientados pela filosofia, permaneceu em segundo plano entre os comentadores.
Em seguida, Abromeit procura, então, embasar a tese central de seu livro, a de que as raízes das interpretações dos anos 1930 e da passagem aos anos 1940 estão presentes nos textos anteriores de Horkheimer, algo que foi negligenciado pela grande maioria dos intérpretes, que procuram enfatizar a ruptura. Afirma assim:
Através do exame desses conceitos chave – materialismo (capítulo 6), antropologia da época burguesa (capítulo 7), lógica dialética (capítulo 8) e capitalismo de estado (capítulo 9) – o desenvolvimento geral e a transformação da teoria crítica no período entre 1931 e 1941 deveria se tornar clara. Apesar desta mudança de abordagem, as continuidades na obra de Horkheimer nos períodos antes e após 1931 são muito maiores do que aquelas entre seu trabalho antes e depois de, aproximadamente, 1940 (p. 227).
Neste ponto, vem à tona uma preocupação muito específica no contexto filosófico: quando se fala em “antropologia”, perceptível sobretudo como, por exemplo, na troca de cartas de Horkheimer com seus colegas do IfS, a referência costumeira é sua vertente filosófica representada, para citar um autor central, na antropologia de Immanuel Kant. No entanto, nos escritos horkheimereanos procura-se, antes, falar de uma antropologia de caráter histórico, fugindo a essa tradição de desenhar uma ontologia do ser humano, motivo pelo qual ele também a associa a uma determinada época, o que se torna igualmente patente no texto introdutório que escreve em 1936 “Autoridade e família”, onde apresenta os Estudos sobre autoridade e família, uma das obras de maior fôlego do IfS e fruto de longo e aprofundado trabalho empírico e interdisciplinar.
Num passo seguinte, Abromeit aponta para as preocupações de Horkheimer em produzir uma obra de grande relevância em que estivesse posta o que ele denominava de “lógica dialética”. Novamente, a correspondência fornece diversas pistas a esse respeito. Primeiramente, aquela trocada com Marcuse e, posteriormente, com Adorno, em que a referência explícita era ao “livro sobre dialética” e que, como se podia notar, foi um projeto repetidamente adiado por conta das intempéries da imigração e das dificuldades institucionais encontradas, ganhando corpo e forma apenas após sua mudança para a Califórnia, já nos anos 1940. Os preparativos para sua redação vieram com o tratamento de temas recorrentes nas críticas de Marx – como o idealismo, a metafísica e a filosofia da consciência – que foram, pouco a pouco, aliados aos estudos acerca do positivismo lógico ou das obras de Friedrich Nietzsche. Esses autores e questões teóricas reparecem, de variados modos, nos Fragmentos filosóficos, preliminarmente mimeografados em 1944 e, posteriormente, publicados como Dialética do esclarecimento, em 1947. De acordo com Abromeit, este percurso também reflete a relação peculiar que Horkheimer detinha com a prática intelectual:
Assim como o conceito de práxis de Marx é frequentemente falsa mente interpretado como uma justificação para posições voluntaristas, assim a separação enfática que Horkheimer realiza, nos anos 1930, entre a teoria crítica e as preocupações políticas imediatas, é frequentemente lida como um retorno a uma posição do jovem hegelianismo.
No entanto, como vimos, a separação da teoria face à prática política imediata feita por Horkheimer ocorre em um contexto mais amplo da prática da sociedade como um todo (p. 334).
Os dois excursos que antecedem o capítulo final tratam de questões localizadas que afetam o desenvolvimento teórico dessa teoria crítica da sociedade como um todo. De um lado, Abromeit analisa minuciosamente a relação de Horkheimer com Erich Fromm, representante vital da psicanálise vinculado ao IfS e que foi, durante longo tempo, seu principal interlocutor teórico, até o momento em que, já após a emigração para os EUA, divergências de ordem pessoal e profissional provocaram o rompimento entre eles. De outro lado, complementando essa primeira análise, Abromeit examina a relação de Horkheimer com Adorno, procurando mostrar, principalmente, como após um distanciamento – mantido até algum tempo depois da mudança para os EUA – houve uma aproximação em termos teóricos e pessoais que levou ambos a declarar repetidas vezes que a obra de cada um deles representava o pensamento do outro, e que compartilhavam inteiramente das mesmas posições teóricas.
No capítulo final do livro, Abromeit retrata o modo como Horkheimer compreende as contribuições teóricas de Marx, contra pondo-se explicitamente à compreensão de Moishe Postone, um dos principais intérpretes da teoria crítica nos EUA. Abromeit afirma:
Para Horkheimer, a diferença crucial entre Marx e os economistas políticos clássicos era a natureza dialética de seus conceitos, que tomavam seu objeto como especificamente histórico e sujeito à transformação, não como leis eternas da natureza. Os conceitos de Marx conscientemente visam uma sociedade na qual eles não mais seriam válidos. Já examinamos a interpretação e apropriação nuançadas que Horkheimer tem da crítica de Marx a Hegel […] mas talvez seja válido reiterar a interpretação da teoria crítica de Marx como uma ‘dialética aberta’, que ele contrastava à história da filosofia metafísica de Hegel (p. 422).
Como também sinaliza no epílogo do livro, dessa maneira Abromeit opõe-se à tradição da leitura habermasiana da teoria crítica, que os vê enredados numa aporia, pois, apesar de admitir uma guinada pessimista nas reflexões tanto de Horkheimer quanto de Adorno, Abromeit afirma que justamente em virtude de ser possível identificar essa alteração, pode ser frutífero retomar aquele projeto original que, malgrado a necessidade de rever algumas categorias e conceitos utilizados, pode contribuir decisivamente para desenhos teóricos atuais.
Notas
1 Entre estes deve-se citar os estudos de Jürgen Habermas (cf. HABERMAS, J. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981) e Axel Honneth (cf. Honneth, A. Kritik der Macht. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985), ambos – aquele com tradução prevista para 2012 e, este, até hoje sem tradução para a língua portuguesa – mostram o que consideram como um rompimento necessário face aos pressupostos teóricos e epistemológicos daquele modelo de teoria crítica, sobretudo em virtude da centralidade da noção de trabalho, trazida de Karl Marx, no primeiro caso, e da submissão ao paradigma da filosofia da consciência, no segundo.
2 Neste caso, remeto, decerto sem esgotar as possíveis referências, às obras de Heinz Steinert (cf. Steinert, H.Das Verhängnis der Gesellschaft. Münster: Wes tfälisches Dampfboot, 2007) e Alex Demirovi ! (cf. Demirovi !, A. Dernonkonformistische Intellektuelle. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999) que, cada um à sua maneira, enfocam aspectos da teoria de Horkheimer (e também de Adorno) que mereceriam ser iluminados na intenção de fornecer subsídios para o debate contemporâneo ”
3 Como já consagrado entre os comentadores – dos quais menciono, aqui, apenas Habermas, Honneth e, para evitar que a lista se torne demasiado extensa, Martin Jay e Rolf Wiggershaus –, este período foi, com referência a Horkheimer, certamente o mais frequentemente estudado.
4 Mencionados na primeira nota.
5 Até mesmo em decorrência de contarem com raríssimas traduções. Diversos destes textos, tais como a sua tese de doutorado e o trabalho de habilitação, modo geral ainda permanecem à margem dos comentários estrangeiros à obra de Horkheimer. O mesmo vale, por exemplo, para suas anotações de aula.
6 De certo modo, a tentativa de distanciar Horkheimer da ontologia e da metafísica converge com uma dentre as interpretações mais completas no campo da filosofia, a saber, aquela de Alfred Schmidt, que inclusive foi aluno e organizador das obras completas de Horkheimer, e que procurava tratar especificamente, como por exemplo em Zur Idee der kritischen Theorie (cf. Sch midt, A.Zur Idee der kritischen Theorie. München: Carl Hanser, 1974), de que modo ocorria a apropriação da filosofia nessa proposta teórica, bem como que tipo de filosofia da história, caso existisse, encontrar-se-ia subjacente ao projeto.
7 Menciono, aqui, apenas aqueles que talvez tenham se tornado os mais conhecidos.
8 Remeto, aqui, a dois estudos de fôlego recentemente publicados, e que recorreram a extenso material de arquivo, o de Thomas Wheatland (cf. Wheatland, T. The Frankfurt school in exile. Minneapolis/Londres: University of Minnesota, 2009) e o de Eva-Maria Ziege (cf. Ziege, E.Antisemitismus und Gesellschaftstheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009); este último não aparece citado no livro de Abromeit.
Referências
ABROMEIT, J. Max Horkheimer and the Foundations of the Frankfurt School. New York, Cambridge University, 2011.
DEMIROVIC, A. Der nonkonformistische Intellektuelle. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999.
HABERMAS, J.Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.
HONNETH, A. Kritik der Macht. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.
SCHMIDT, A. Zur Idee der kritischen Theorie. München: Carl Hanser, 1974.
STEINERT, H. Das Verhängnis der Gesellschaft. Münster: Westfälisches Dampfboot, 2007.
WHEATLAND, T. The Frankfurt school in exile. Minneapolis/Londres: University of Minnesota, 2009.
ZIEGE, E. Antisemitismus und Gesellschaftstheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009.
Stefan Klein – Professor do Departamento de Sociologia na UNB.
Monuments, Empires, and Resistance: The Araucanian Polity and Ritual Narratives – DILLEHAY (C-RAC)
DILLEHAY, Tom D. Monuments, Empires, and Resistance: The Araucanian Polity and Ritual Narratives. Nueva York: Cambridge University Press, 2007. 484P. Resenha de: Chungara – Revista de Antropología Chilena, Arica, v.42 n.2, p.539-540, dic. 2010.
Este libro ofrece una nueva mirada sobre la organización sociopolítica y religiosa de los Araucanos en la región central sur de Chile entre 1550 y 1850, a través del análisis arqueológico de paisajes sagrados, fuentes etnohistóricas y las narrativas rituales de chamanes (machi) contemporáneos. Dillehay aborda los amplios contextos regionales, intelectuales y materiales del monumentalismo araucano desde diferentes ángulos, incluyendo la economía política, la historia cultural, el materialismo cultural, la ideología, la teoría de la práctica, el simbolismo y el significado. Los montículos de tierra ceremoniales (kuel) son monumentos estéticos, líneas temporales, monumentos conmemorativos, identidades e ideologías arquitectónicas. Ilustran cómo se desarrollaron los paisajes sociales como parte de una nueva organización política, muestran cómo los líderes políticos tradicionales y los chamanes sacerdotales habitaban espacios sagrados y cómo les conferían valor a estos espacios para articular sistemas ideológicos dentro de la sociedad en general. El mapa araucano de rutas y lugares sagrados conecta los kuel con el mundo espiritual, cosmológico y natural así como con la historia de estos lugares en un recorrido topográfico sagrado. La articulación del poder ritual, social y del conocimiento era, por lo tanto, esencial para la construcción y expansión de la organización política regional araucana. Esta organización resistió eficazmente el avance extranjero durante tres siglos -primero de los españoles y luego de los chilenos-, hasta su derrota definitiva en 1884. Dillehay demuestra cómo los Araucanos manipulaban los conceptos de espacio, tiempo, memoria y pertenencia para oponerse a los intrusos y expandir su poder geopo-lítico en una organización política unificada, a medida que cambiaban las relaciones interétnicas a lo largo de la frontera española.
Dillehay cuestiona las percepciones anteriores de los Araucanos como grupos patrilineales descentralizados de cazadores y recolectores enfrentados unos con otros. Muestra que los valles de Purén y Lumaco utilizaron modelos andinos de autoridad estatal y su propio esquema cosmológico para desarrollar una organización política agrícola regional compuesta por patrilinajes dinásticos confederados con un alto grado de complejidad social y poder político. Esta confederación de organizaciones geopolíticas cada vez más amplias se constituyó en primera instancia en el nivel local de multipatrilinaje (ayllarehue) y, finalmente, en el nivel interregional (butanmapu). Dillehay sostiene que la organización política era jerárquica, aunque al servicio de un sistema religioso y sociopolítico heterárquico horizontal en el que los líderes compartían posiciones de poder y autoridad. Dillehay cuestiona la idea de que el control político esté ligado a la acumulación de riqueza material y poder ritual. Los Araucanos apreciaban y rivalizaban en gran medida por el prestigio y el respeto y el control del pueblo, pero existían muy pocas diferencias materiales entre los distintos líderes araucanos hasta fines del siglo XVIII. El período de uso del kuel dependía de la capacidad de liderazgo y de la sucesión de linajes dinásticos. Hoy en día las alianzas entre los kuel establecidas a través del matrimonio y su distribución en los valles de Purén y Lumaco emulan la organización espacial y de parentesco de los linajes que habitan el valle.
Los montículos interactivos de aspecto humano construidos por los Araucanos entre 1500 y 1850 requerían rituales para apaciguar, ofrendas de chicha y sangre de oveja, y obediencia a la ideología panaraucana a cambio de bienestar, protección, fertilidad agrícola y predicciones futuras. Los montículos, volcanes y montañas son equivalentes conceptuales y están asociados con las necesidades araucanas de defensa, territorio, refugio, contención e identidad relacional con volcanes y espíritus ancestrales. Los kuel son parientes vivos que unen a los Araucanos de diferentes regiones y promueven la soberanía étnica. Los kuel eran enterratorios de chamanes y jefes, monumentos conmemorativos de ancestros y genealogía, señales de estatus para líderes de linaje y lugares de ceremonias, festividades y poder político. Los sacerdotes chamanes (machi) realizaban rituales colectivos en los kuel para obtener consuelo, curación y bienestar. Los líderes políticos y militares (Ulmén, longko y toqui) utilizaban los kuel para sus discursos políticos. Estas performancias públicas reorganizaban los conceptos araucanos de culto a los ancestros, religión e ideología comunitarios en un marco más amplio y complejo para brindar apoyo a la organización política, y servían para reclutar mano de obra y soldados.
Si bien con Dillehay hemos documentado anteriormente y en forma independiente la práctica de los chamanes sacerdotales araucanos en los valles centrales del sur de Chile en el siglo XVII y en contextos contemporáneos, este libro es el primero en vincular las prácticas rituales sacerdotales de las machi con los montículos sagrados. El libro detalla cómo las machi contemporáneas se comunican con los montículos a través de ñauchi (alfabetización de montículos) y ofician de mediadores entre el montículo, la comunidad y otras deidades y espíritus. Los montículos son espíritus parientes que interactúan con machi contemporáneos, lugares de conocimiento donde las comunidades recuerdan su historia y expresiones materiales de la cosmología araucana. Los Araucanos contemporáneos de los valles de Purén y Lumaco continúan utilizando montículos para mantener relaciones entre pratilinajes y entre los vivos y muertos, el pasado, el presente y el futuro. Queda por ver el rol que los montículos y sus marcos sociopolíticos desempeñan en los movimientos contemporáneos de resistencia panaraucana.
Monuments, Empires and Resistance es un texto importante para arqueólogos y antropólogos interesados en los procesos demográficos, ideológicos y sociopolíticos asociados con el monumentalismo.
Ana Mariella Bacigalupo – State University of New York En Buffalo, USA. E-mail: [email protected]
[IF]
The sins of the nation and the ritual of apologies – CELERMAJER (FU)
CELERMAJER, D. The sins of the nation and the ritual of apologies. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Resenha de: SANTOS, César Schirmer dos. Filosofia Unisinos, São Leopoldo, v.11, n.3, p.340-342, set./dez., 2010.
Qual o lugar e o papel da desculpa coletiva nas práticas das democracias liberais modernas? Uma primeira resposta, mais clássica, diria que tal prática não tem lugar ou papel algum. Não teria lugar algum, dado que pedidos de desculpas precisariam ser feitos por indivíduos, e não teria papel algum, dado que os erros do passado seriam assunto do judiciário.
No entanto, têm se visto democracias liberais pedindo desculpas coletivas por crimes e atrocidades cometidos no passado contra indivíduos com identidades sociais bem marcadas. Por exemplo, nações europeias pediram desculpas aos judeus pelo Holocausto, e às nações dos novos mundos pelas violações contra populações locais nos passados colonial e pós-colonial. Essas demonstrações de arrependimento não são bem explicadas pela concepção clássica de democracia liberal. Mas, para Celermajer, isso não é motivo para rejeitá-las, e sim para se repensar a democracia liberal moderna e descrever de maneira acurada suas atuais bases normativas.
A tese fundamental de Celermajer é que a normatividade das democracias liberais é constituída por duas camadas, por assim dizer. Há uma camada mais superficial e manifesta, a qual é composta por indivíduos que são responsabilizáveis pelos seus atos individuais, de acordo com leis positivas ou normas socialmente aceitas. E há uma camada mais profunda, composta pelo regramento de base da coletividade. Para Celermajer, a desculpa coletiva passou a ter lugar nas democracias liberais, a partir dos anos 1970s e 1980s, porque passou a haver reconhecimento de que indivíduos de minorias sofreram genocídio ou segregação por causa do regramento de base, o qual possibilitou as práticas legitimadas de genocídio ou segregação por indivíduos da maioria.
Apesar de serem um fato, as desculpas não são suficientes, para Celermajer, para redimir as coletividades pelos seus erros passados. Seria ofensivo às vítimas e aos seus descendentes tomar uma mera performance verbal como o suficiente para se fazer justiça. No entanto, o pedido de desculpas coletivas, na medida em que é um reconhecimento da falha das bases normativas anteriores, abre espaço para a justiça e se mostra como um importante indicador de modificação normativa positiva da sociedade.
Os pedidos coletivos de desculpas fazem parte de um kit de modos de lidar com os abusos cometidos no passado, nas democracias liberais modernas. Outras modalidades são as comissões da verdade e as reparações. Enquanto as comissões da verdade buscam trazer à luz os abusos cometidos no passado, e as reparações buscam trazer equidade aos descendentes de injustiçados, as desculpas coletivas são performances que manifestam o arrependimento daquele que fala. No caso, o que temos é um representante reconhecido de uma coletividade, como um presidente ou ministro, falando pela instituição que representa, e o arrependimento em questão é o da instituição, através da manifestação de arrependimento do representante. Para Celermajer, no caso usando as ferramentas conceituais de John Austin contra ele mesmo, um pedido de desculpas não é a mera expressão de um sentimento, mas sim o comprometimento daquele que se desculpa com um certo modo de ser, com certa identidade. Ou seja, usando o jargão técnico, no caso o ato de fala “Por favor, nos desculpe” é comissivo, não comportamental. Aquele que pede desculpas está manifestando que se comprometeu com uma maneira de ser diferente daquela que tinha antes, o que quer dizer que quem se desculpa está manifestando remissão, mudança na identidade, autoaperfeiçoamento e a esperança de um futuro distinto do passado.
Uma boa parte do livro de Celermajer responde à crítica de que a desculpa não tem lugar nas democracias seculares por ser uma figura da pré-modernidade teológica e teocêntrica. Essa crítica tem dois elementos. Primeiro, diz que toda responsabilidade é individual, nenhuma responsabilidade é coletiva. Segundo, diz que em democracias seculares tudo o que há é justiça enquanto prática judiciária apoiada em leis estabelecidas pelo legislativo, não havendo lugar para o arrependimento. Celermajer apresenta uma resposta única para essas duas críticas: as democracias seculares modernas são capazes de reconhecer que seus arcabouços seculares passados levaram a injustiças praticadas por indivíduos contra membros de minorias, e tal reconhecimento é a base para que a própria instituição lamente ter sido como foi e busque ser e agir de outra forma no futuro, através da modificação do seu arcabouço normativo. Tal lamento e arrependimento têm lugar na democracia secular liberal moderna, porque faz parte da identidade da mesma a busca das melhores bases normativas, de modo que o reconhecimento da falha nas bases normativas do passado, e das suas graves consequências, é um modo por excelência de satisfazer tal busca. A desculpa coletiva, enquanto modo de lidar com o passado, é um comprometimento com uma base normativa mais sólida e justa, no presente e no futuro.
Assim, o papel da desculpa coletiva é a demonstração do comprometimento, da parte de uma coletividade ou instituição, com um futuro mais sólido, do ponto de vista normativo, do que o passado. De modo que a desculpa coletiva não está aí para condenar e punir a sociedade passada como um todo, o que seria absurdo. Tudo o que segue da desculpa coletiva é um compromisso com a mudança normativa.
A entrada da desculpa coletiva como modalidade de ato de fala típico das democracias liberais modernas é o retorno de uma prática linguística religiosa e pré-moderna, visto que tal tipo de performance não era um elemento da concepção clássica de democracia e era, nas modalidades do perdão e do arrependimento, típica do judaico-cristianismo. Mas, para Celermajer, o mero fato do tipo de performance ser pré-moderno não é suficiente para rejeitá-lo como elemento da democracia moderna. Assim como houve mudança entre o mundo heterônomo e feudal e o mundo autônomo e moderno, há mudança entre o mundo moderno da responsabilidade meramente individual e o mundo moderno da responsabilidade individual e coletiva, sendo que elementos religiosos e pré-modernos explicam, em larga medida, a moderna responsabilidade coletiva, ao menos no que diz respeito aos pedidos de desculpa coletivos.
Poderíamos perguntar de que vale uma desculpa, isto é, uma mera voz, ante atrocidades e discriminações. De maneira incisiva, Celermajer mostra que vale muito, visto que um pedido de desculpas é uma nova ação, no presente. A desculpa insere algo novo na coletividade e, no caso, insere algo que não era típico do passado coletivo, visto que se trata, justamente, de um arrependimento ante as injustiças cometidas e mesmo estimuladas pelas bases normativas do passado. Assim sendo, a desculpa amplia o leque de ações típicas das democracias liberais, as quais passam a ter o ato de fala performativo como uma das suas possibilidades, além das intervenções legais e institucionais.
O questionamento do papel da desculpa nas democracias liberais modernas poderia ir adiante, questionando as bases e apoios do pedido de desculpas. É fácil estabelecer as bases normativas do pedido de desculpas do fiel, na tradição judaico-cristã, pois esse se apoia em Deus, o absoluto. No entanto, dado que as democracias modernas se apoiam apenas nas regras que os homens de fato deram para si mesmos, esse caminho está fechado. A solução de Celermajer a tal problema é pôr em evidência que as democracias modernas se apoiam em diversos substitutos do absoluto teológico, como, por exemplo, os direitos universais e cláusulas pétreas constitucionais. Aqui divirjo de Celermajer, pois me parece que a democracia liberal não precisa desses procuradores seculares do absoluto, dado que está nas suas bases, ao menos desde o Contrato social de Rousseau, a distinção entre fato e direito. A solução clássica para tal tipo de problema é apoiar o arrependimento nas bases normativas com as quais a sociedade se compromete, as quais são reconhecidas como as normas de direito legítimas, ao mesmo tempo em que se reconhecem e se denunciam as normas de fato do passado como ilegítimas. Assim, não me parece que seja preciso usar o recurso de preservar a forma da desculpa no mundo teocrático, abandonando sua substância, visto que há mudança na forma da desculpa: sua base já não é o absoluto, mas sim o direito, em oposição ao fato. Imagino que alguns diriam que o direito é outra modalidade secular do absoluto, mas eu espero pelo argumento.
César Schirmer dos Santos – Instituto de Desenvolvimento Cultural. Porto Alegre, RS, Brasil E-mail: [email protected]
[DR]
The Feminine Matrix of Sex and Gender in Classical Athens | Kate Gilhuly
The Feminine Matrix of Sex and Gender in Classical Athens é o primeiro livro solo de Kate Gilhuly e resultado de uma pesquisa intitulada Landscapes of Desire: The Erotics of Place in Classical Athens, desenvolvida no Radcliffe Institute for the Advancement of the Humanities entre 2007 e 2008. A autora é professora assistente do Departamento de Estudos Clássicos do Wellesley College e especialista em gênero e história da sexualidade na Grécia Antiga, tendo como publicações como publicações prévias mais importantes os artigos The Phallic Lesbian: Philosophy, Comedy, and Social Inversion in Lucian’s “Dialogues of the Courtesans” (2006) e Bronze for Gold: Subjectivity in Lucian’s “Dialogues of the Courtesans” (2008).
O capítulo introdutório, que podemos considerar como o ápice da obra, apresenta as bases teóricas – da matriz feminina do título – que nortearão as análises de textos antigos ao longo do livro – e que fornecem um novo leque de possibilidades a futuros estudos acerca das temáticas de gênero e sexualidade na Atenas Clássica. Leia Mais
Russia since 1980 (the world since 1980) | Steen Rosefield e Stefan Hedlund
A Rússia hoje se apresenta como uma nação fortalecida no condomínio geopolítico mundial. Com aspirações hegemônicas regionais (o “Exterior Próximo”), estabelecimento de relações com Grandes Potências como os Estados Unidos da América (cujo relacionamento é baseado numa alternância de fases – aproximação/distanciamento ou cooperação/ conflito) e com potências emergentes como o Brasil, China e Índia, a nação eurasiana redesenha, a despeito de sua assertividade renovada, um novo caminho no cenário global, ainda que com impasses e dissonâncias em sua retórica interna/externa. Remontar ao passado da Federação e projetar seus passos futuros é testemunhar um percurso interessante de uma nação que se desperta, pós uma série de momentos intempestivos, a um cenário em transformação. Entender essa dinâmica dentro de um espaço brasileiro torna-se um desafio para alguns analistas, principalmente pela carência de bibliografia e autores engajados com a temática no país.
Conforme sugestão do próprio título – Russia since 1980 – os autores Stefan Hedlund e Steven Rosefield – estendem aos leitores o convite a uma viagem por quase 30 anos de história russa, perpassando por acontecimentos impares como as reformas de Leonild Brezhnev e posteriormente de Gorbachev, mudanças que repercutiram na eclosão da União Soviética (URSS) e a política de mercado de Yeltsin (primeiro presidente da Rússia pós Império). Adicionalmente, o livro traz ao leitor debates e discussões acerca de uma possível democratização ou a permanência de um autoritarismo latente na Rússia, adentrando a era Vladimir Putin. Tal era promove a reinserção e fortalecimento do Estado depois da crise do fim da Guerra Fria e a adesão a um modelo dito ocidental de economia e política, bem como a projeção de uma nova postura no contexto global. As complexidades e contradições de Putin são examinadas, assim como a eleição de seu aliado Dmitri Medvedev que surge às sombras do seu antecessor. Leia Mais
Mesolithic Europe – BAILEY; SPIKINS (DP)
BAILEY, Geoff; SPIKINS, Penny (Eds.). Mesolithic Europe. New York: Cambridge University Press, 2008. 27p. Resenha de: BUDJA, Mihael; PETRU, Simona. Documenta Praehistorica, n.36, 2009.
The book is a collection of interpretative essays, local and regional, on the Mesolithic in Europe. The chapters are organised in broadly geographical order and focus on the definition of the Mesolithic, chronology, technology and subsistence, arts and rituals, settlements and social organisations.
The opening chapter is an introduction to a different perception of the Mesolithic, and suggests we shift from narratives of passive Mesolithic societies to a new generation of interpretations. The final chapter, follows a discussion of Mesolithic-Neolithic transition, dominates many contributions. This chapter actualises the ‘Neolithic’ interpretative model of ‘demic diffusion’, suggesting that there is no evidence of interaction between the Mesolithic and Neolithic populations of the Balkans and the Mediterranean.
However, the book suggests that elsewhere different elements of the ‘Neolithic package’ were introduced and adopted selectively and separately. Unfortunately, the book overlooks relevant information such the recent discussions of the origins and diffusions of ‘Mesolithic’ and ‘Neolithic’ Y-chromosomes and mitochondrial DNA haplogroups, and human population trajectories in the context of processes in the Mesolithic-Neolithic transformation. It does not reflect the discussion on the 8600–8000 and 6000– 5200 calBP climate anomalies, which undoubted correlate chronologically with the Mesolithic and the Neolithic and drastically affected global environmental conditions.
‘Mesolithic Europe’ offers an interesting regional synthesis of the Mesolithic in different parts of Europe and is a perfect complement to Barker’s volume ‘The Agricultural Revolution in Prehistory. Why did Foragers become Farmers?’
Mihael Budja and Simona Petru
[IF]
Arquaeology and Colonialism. Cultural contact from 5000 BC to the present – GOSDEN (V-RLAH)
GOSDEN, Chris. Arquaeology and Colonialism. Cultural contact from 5000 BC to the present. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Resenha de> FUNARI, Pedro Paulo A. Vestígios- Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica, v.2, n.2, jul./dez. 2008.
Pedro Paulo A Funari
A New Economic History of Argentina | G. Paolera e A. Taylor
O livro se apresenta como uma “homenagem” ao trabalho de Carlos Díaz Alejandro, autor de obras clássicas na historiografia econômica argentina, como… O livro o homenageia na medida em que busca “atualizar” e “expandir” a análise originalmente feita por Alejandro. Foi reunido, no livro de Paolera e Taylor, um grupo de pesquisadores de universidades argentinas, estadunidenses e européias, para a tarefa.
O resultado, como é de praxe numa obra coletiva, revela-se heterogêneo, tanto em sua forma, quanto em seus resultados. A questão da “regressão secular” da economia argentina é revisitada, a nosso ver, de uma maneira ligeiramente inferior à apresentada por Alejandro. Por outro lado, o capítulo sobre os ciclos econômicos argentinos é instigante e quase tão provocativo quanto o trabalho original de Guido di Tella sobre os ciclos decenais argentinos, publicado no final da década de 1960. Leia Mais
The Global Cold War | Odd Arne Westad
Ao nos aproximarmos do vigésimo aniversário da queda do Muro de Berlin, a prolixidade acadêmica acerca da Guerra Fria continua firme e forte. Assim como The Cold War: A New History, de John Gaddis (resenhado na edição 1/2006 desta revista), o livro de Arne Westad traz novas interpretações, baseadas em arquivos recém-abertos dos Estados Unidos, da União Soviética e de diversos países do Terceiro Mundo, que desafiam antigas visões da Guerra Fria.
Um dos principais problemas para estudiosos da Guerra Fria é a sua definição: ela pode ser vista como um período, um conflito ideológico, uma disputa político-militar ou de uma série de outras formas. Westad propõe estudá-la como um conflito verdadeiramente global entre duas superpotências, cada uma portadora de um projeto ideológico universalista da modernidade. O grande palco da disputa entre esses dois arautos da modernidade que o autor caracteriza, não sem ironia, como o “império da liberdade” (EUA) e o “império da justiça” (URSS) teria sido o Terceiro Mundo, que ao emergir do processo de descolonização, buscava alcançar a independência política e o desenvolvimento econômico. O livro é concebido, portanto, como uma história do intervencionismo das superpotências no Terceiro Mundo ao longo da Guerra Fria. Leia Mais
The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions – REDDY (CSS)
REDDY, William M. The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 380p. Resenha de: LEE-SINDEN, Jane. Canadian Social Studies, v.39, n.2, p., 2005.
The Navigation of Feeling is a valuable contribution to emotion literature. There are few books that provide a significant examination of relevant and recent research on emotion. The first two chapters are devoted to a critical review of the research including a conceptual analysis from the lenses of cognitive psychology and anthropology. A comparison of emotion theories is presented to gauge both the extent of convergence that is going on in these two fields, as well as the extent of conceptual blockage that has developed as new research findings have come up (p. xiii). Further, there is an extensive list of sources at the end of the book that will prove useful to students studying emotion research.
The book is divided into Parts I and II with a total of eight chapters. In chapter one, the author addresses ongoing debates regarding emotions, such as whether or not emotional experiences are solely biologically based and thus universal. For instance, Reddy explains that efforts to uncover the hidden order among emotion words in various languages have yielded very different results because it is difficult to know how to distinguish one emotion term from another in a given language; there is no yardstick for emotion terms (p. 5). Moreover, Western specialists who study emotion cannot agree on what the term emotion means. Reddy pulls from the work of Isen and Diamond to explain their views on how emotions operate like overlearned cognitive habits that may be learned, altered, or unlearned by conscious decision. It is suggested that emotions are involuntary in the short run in the same sense that such cognitive habits are, but may similarly be learned and unlearned over a longer time frame.
In chapter two the debate continues with a view from anthropology. Among anthropologists, there is a prevalent tendency to regard emotions as culturally constructed. This idea has led to recent persuasive ethnographic accounts of worldwide emotional variation, providing grounds for a political critique of the Western thought that identifies emotions as biological and feminine. Further, Reddy pulls from psychological research that supports the constructionist approach to emotions as deeply influenced by social interaction (p. 34), which supports that idea that emotions may be learned and no different from other cognitive contents.
In chapter three the author attempts to bridge the gap between anthropology and psychology by examining emotional expression as a type of speech act. Reddy considers emotional expressions as utterances aimed at briefly characterizing the current state of activated thought material that exceeds the current capacity of attention. Such expression, by analogy with speech acts, can be said to have descriptive appearance (p. 100), rational intent (p. 100), and self exploring and self-altering effects (p. 101). He also describes forms of expressions, such as: first person past tense emotions, first person long term emotion claims, emotional expressive gestures, facial expressions, word choices, and intonations, other claims about states of the speaker, and second and third person emotion claims, all of which he characterizes as emotives (p. 103).
In chapter four Reddy explains how the theory presented in chapter three offers a new way of understanding what he calls emotional regimes and their relation to emotional experience and liberty (p. 113). Chapters five through eight are devoted to historical examination, concluding with an attempt at pulling together historical significance for our understanding of present emotion research.
I found significant value in the chapters discussing present views of thought on emotions. Reddy’s comparison of emotional expression to a speech act and the idea of emotives are insightful additions to the understanding of emotion. I found the later chapters less useful. As a doctoral student new to the field of emotion, chapters five through eight are mundane and heavy historically. In addition, although I finished the book with a better understanding regarding the present and past theories of emotion, the conclusion left me in a similar place where I started, namely that western specialists who study emotion cannot even agree on what the term emotion means (p. 3). Nevertheless, the book provides a thorough and well-packaged examination of emotion.
The Navigation of Feeling would be useful to those who have previous understanding or background for the purpose of studying emotion or who wish to ponder on new ideas. In relation to students, this book is a good compliment to Jenkins and Oakley’s (1996) Understanding Emotion and Boler’s (1999) Feeling Power. Jenkins and Oakley’s conceptual analysis of emotion touches on many of the ideas that Reddy addresses, however Understanding Emotion, which looks at emotion from a sociological perspective, is presented with consideration to students who have no previous experience with emotion literature.
References
Boler, M. (1999). Feeling power: Emotions and education. New York: Routledge.
Oatley, K. Jenkin, J.M. (1996). Understanding emotion. Cambridge, MA: Blackwell Science.
Jane Lee-Sinden – Faculty of Education. University of Western Ontario. London, Ontario.
[IF]
Born to Die: Diease and New World Conquest / Noble D. Cook
COOK, Noble David. Born to Die: Diease and New World Conquest, 1492-1650. Cambridge: Cambridge University Presss, 1998. 248p. Resenha de: NOELLI, Francisco Silva. Revista de História da Arte e Arqueologia, Campinas, n.3, p.140-141, fev., 2000.
Francisco Silva Noelli – Universidade Estadual de Marigá.
Acesso somente pelo link original
[IF]
The Romanization of Britain, an Essai in Archaeological Interpretation – MILLETT; Vindolanda – BIRLEY; The Roman Documents form Vindolanda – BIRLEY (RHAA)
MILLETT, Martin. The Romanization of Britain, an Essai in Archaeological Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 255p. BIRLEY, Eric. Vindolanda, Reports on the auxiliaries, the wriing tablets, inscriptions, brands and graffiti. Volume II. The Early Wooden Forts. [Sn.]: Roman Ary Museum Publications, 1993. 126p. BIRLEY, Robin. The Roman Documents form Vindolanda. Newcastle upon Tyne: Roman Army Museum Publications, 1990. 34p. Resenha de: FUNARI, Pedro Paulo A. Estudos recentes sobre a Arqueologia da Bretanha Romana. Revista de História da Arte e Arqueologia, Campinas, n.1, p.249-252, 1994.
Acesso somente pelo link original
[IF]






