Posts com a Tag ‘Prática docente’
Reinventar la clase en la universidad – MAGGIO (RHYG)
MAGGIO, Mariana. Reinventar la clase en la universidad. Buenos Aires: Paidós, 2018. 183p. Resenha de: MERCADO, Jorge Caldera. Revista de Historia y Geografía, Santiago, n.42, p.207-212, 2020.
Para nadie puede ser un misterio que la situación mundial y nacional que vivimos ha colocado en cuestionamiento los modos culturales de vivir y de relacionarnos. Nos ha obligado a repensar nuestros modos de interacción y, en especial, en lo que nos convoca en este espacio académico, en aquellos aspectos que permiten avanzar en una educación social y democrática, propia de las exigencias del siglo XXI. Así entendido, es en este contexto descrito que el libro Reinventar la clase en la universidad , de la doctora Mariana Maggio, resulta un aporte necesario para el debate acerca de qué esperamos de la educación y, particularmente, de la educación universitaria. En este sentido, esta publicación aborda el cuestionamiento descrito como una propuesta y desafío para lo que significa la formación educativa universitaria, aportando una perspectiva de análisis crítico respecto de las prácticas docentes presentes en la realidad educativa, realidad en la que el acceso a la información para nuestros estudiantes no solo es fácil, sino que también cada vez más relevante en los requerimientos de comprensión profunda, aspecto que, según la autora, la educación universitaria aún no asimila ni profundiza de manera institucional como parte de sus prácticas docentes, postura que es producto de las didácticas tradicionales que, hoy por hoy, están presentes en las aula universitarias, como modos aún no debatidos abiertamente por la academia. En esencia, esta publicación plantea la pregunta respecto de las prácticas educativas que actualmente son implementadas en las universidades y que representan, en sí mismas, un problema para la educación superior, que dificulta a los estudiantes poder acceder y, sobre todo, desarrollar nuevos conocimientos. Leia Mais
Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa – FREIRE (REH)
Paulo Freire. Foto: Brasil de Fato /
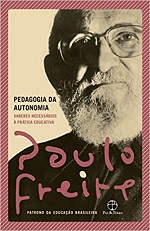
O livro Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa de Paulo Freire faz uma abordagem a respeito de algumas das competências necessárias para a atuação do profissional da educação, saberes esses que ele julga essenciais. Freire escreve o texto com toda aquela sensibilidade que lhe é característica, brindando o leitor de um sentimento de esperança e convidando-o a lembrar a todo o momento da importância do professor e de sua contribuição social. Sua abordagem pedagógica nos apresenta reflexões importantíssimas a respeito da postura e da coerência que se exige de quem pretende educar.
O livro é dividido em três detalhados capítulos. No primeiro capítulo, Prática docente: primeira reflexão, Paulo Freire faz uma apresentação das características fundamentais da formação docente. Enfatiza a importância de alinhar a prática à teoria, da nossa capacidade de aprender e ensinar, e da necessária recusa ao ensino bancário, ensino esse que delega ao educando um mero papel receptivo de informação e não o reconhece como agente produtor de conhecimento. Deste modo, devem-se levar em conta as experiências prévias do educando, para que esse se reconheça como sujeito do processo, podendo assim estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais e a experiência social que temos como indivíduos.
O segundo capítulo, Ensinar não é transferir conhecimento, retoma e aprofunda a discussão sobre o erro de se pensar a educação como depósito de um conhecimento pré-adquirido ao educando. O professor, por vezes, costuma se blindar de críticas e sugestões quando está ministrando sua aula e age como se estivesse em um pedestal. Isso, de modo algum, é saudável na prática educativa. Para Freire, um dos principais fatores da relação professor-aluno é a humildade, é mostrar-se também sujeito no processo educacional, não como um depositador de saberes, mas sim como quem também aprende no exercício de ensinar.
É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 1996, p. 24)
Ainda nesse capítulo, o autor trata da necessidade de estarmos sempre abertos às indagações, às curiosidades dos alunos e da nossa característica de sermos seres condicionados, mas não determinados Como seres culturais, históricos, inacabados e conscientes do inacabamento, devemos unir esforços contra o discurso fatalista, pragmático e reacionário do pensamento neoliberal. É nesse capítulo também que, mais do que tratar a esperança como uma característica recomendável ao professor, Freire é enfático ao nos mostrar que mais do que isso, essa se faz imprescindível e inerente à prática educativa.
Para Freire, a aprendizagem é resultado da relação dialética entre os sujeitos envolvidos nela. A aprendizagem só ocorre efetivamente quando é significativa para quem aprende e para quem ensina, quando envolve sentimentos e quando a curiosidade ingênua transforma-se em epistemológica através da mediação do professor.
É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual o sujeito criador dá forma, estilo ou alma ao um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 1996, p. 25)
No terceiro e último capitulo, Ensinar é uma especificidade humana, Freire expõe da importância da solidez na formação do professor, já que não se pode ensinar o que não se sabe. “A incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor” (FREIRE, 1996). Apenas um profissional qualificado poderá pensar certo e exercer a sua autoridade de maneira plena. Uma autoridade em exercício que seja democrática e que respeite a liberdade do educando na construção de sua autonomia. Ressalta ainda o seu compromisso com as pautas democráticas dirigidas aos menos favorecidos, um dos objetivos da educação progressista, já que o ato de ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, em prol dos condenados da terra, como o próprio dizia.
Essa obra de Paulo Freire, de modo geral, é um exercício de provação ética. Nos mostra que é possível e necessário acreditar num mundo melhor transformado pela educação. A pedagogia deve ser ética em si mesma e respeitosa às experiências e saberes prévios do educando, desenvolvendo assim um ambiente propício à autonomia, à produção de conhecimento e à formação individual. Não se trata de uma formação no sentido de treinamento de atividades puramente tecnicista ao educando, mas o contrário disso. Freire adverte que o tom otimista e esperançoso com que redige o texto não deve ser entendido como ingenuidade ou inocência, mas sim como traços do seu comprometimento com a causa. É no geral um exercício pedagógico de alimentar a esperança e concretamente um guia para a coerência entre discurso e prática. Paulo Freire nos mostra a grandeza de nossa profissão, lê-lo é tomar um gole de autoestima.
No meu caso, foi a leitura certa no momento certo. Um prato cheio para lembrar-nos do nosso poder de ação no mundo e do nosso compromisso por um futuro menos desigual. Já dizia Freire que está errada a educação que não reconhece a raiva justa, que não se indigna com as desigualdades e que não promove transformação. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever. Não podemos, porém, pensar que a execução desse exercício é fácil. Exige disciplina, coerência, pesquisa e, sobretudo, autoestima e vontade de mudança. Quem escolhe agir por essa profissão, escolhe agir por todos, mesmo que alguns não a reconheçam como capaz.
João Victor da Silva Pedrozo – UNILA. E-mail: [email protected]
[IF]Insegnare storia: Il laboratorio storico e altre pratiche ative – MONDUCCI (Nv)
MONDUCCI, Francesco (a cura di). Insegnare storia: Il laboratorio storico e altre pratiche ative. Guida alla didattica del laboratorio storico. Resenha de: PAGANO, Enrico. Dalla parte dela Didattica ativa. Uno sguardo dentro al volume “Insegnare Storia”. MASTRETTA, Elena. Hanna non chiude mai gli occhi. Un libro per appassionare i ragazzi. Novecento.org – Didattica dela storia in rete, 29, lug.. 2019.
DALLA PARTE DELLA DIDATTICA ATTIVA
A dodici anni dalla prima e sei dalla seconda, nel 2018 è stata pubblicata la terza edizione di Insegnare storia curata da Francesco Monducci, che già aveva collaborato alla precedente con Paolo Bernardi. La novità del lavoro è annunciata dal sottotitolo, “Il laboratorio storico e altre pratiche attive” al posto di “Guida alla didattica del laboratorio storico”. L’architettura dell’opera propone una parte teorica, in continuità con le precedenti pubblicazioni, e due parti ampiamente rinnovate dedicate l’una agli strumenti e l’altra ai metodi e alle applicazioni. Il testo, come afferma il curatore nella nota introduttiva, «entra senza ritrosie nella questione del come – e dunque inevitabilmente del cosa – insegnare e partecipa attivamente al dibattito in corso, stando dalla parte di chi esprime la necessità di una didattica attiva che guardi ai contenuti come oggetti da maneggiare».
LA PARTE TEORICA
Introduzione all’insegnamento della storia e funzione del laboratorio
Fra i contributi della parte teorica troviamo il saggio di Scipione Guarracino su “Le questioni dell’insegnare storia”, che affronta temi generali (perché e come insegnare storia, le finalità politiche ed etiche, le regole del mestiere di storico, i manuali messi in discussione, la storia che vale la pena di insegnare), e quello di Aurora Delmonaco focalizzato sul “laboratorio di storia”. Le ragioni della scelta di questa pratica rimandano a istanze didattiche, pedagogiche e storiografiche di indubbia efficacia; tuttavia oggi la sua fortuna – o la sua disgrazia – dipende dall’essere posto o meno in stretta connessione con la nozione di competenza e, più nello specifico, con le competenze-chiave per la cittadinanza.
Rientra in questa sezione teorica, benché collocato all’inizio della parte dedicata a metodi e applicazioni, il saggio “La mente laboratoriale” di Ivo Mattozzi. L’autore distingue la didattica genericamente operativa, vale a dire la “suggestione del laboratorio”, dall’adozione di un progetto consapevole di didattica laboratoriale; infatti questa strategia operativa, oltre a rinnovare la formazione storica degli studenti e degli insegnanti, consente di attualizzare il principio della trasmissività del sapere, nella convinzione che si possa giungere al pensiero astratto e alla sua formalizzazione anche attraverso la pratica e il saper fare.
La didattica per competenze
Un’importante novità della parte teorica è il saggio di Mario Pinotti su “La didattica per competenze nell’insegnamento della storia”, che ricostruisce in forma essenziale la plurima stratificazione semantica del concetto di “competenze”. Pinotti propone un percorso storico che va dall’attivismo pedagogico delle origini all’influenza esercitata sulla scuola novecentesca, fino all’esame delle potenzialità che i principi educativi derivati da questa tradizione mantengono nella didattica del nuovo millennio. Secondo Pinotti, la didattica delle competenze può diventare una prassi condivisa nella scuola italiana a condizione che dimostri di garantire l’apprendimento dei saperi meglio della didattica tradizionale, non essendo sufficienti alla sua affermazione le ragioni della psicologia e della pedagogia, né i riconoscimenti istituzionali o le condizioni normative. Inoltre l’autore, riferendosi alle competenze metodologiche delle Indicazioni nazionali del 2010, presenta un’articolata scheda di valutazione delle competenze di storia, adattabile ai vari livelli di istruzione. Infine analizza le parti relative alle competenze chiave di cittadinanza, accolte nelle Indicazioni nazionali del 2012, che hanno un più stretto contatto con il sapere storiografico. Il saggio è apprezzabile anche perché fornisce, con stile e linguaggio improntati alla massima comunicatività, un quadro sintetico ma completo dei percorsi legislativi fino alla Legge 107 del 2015 e un valido contributo orientativo per la progettazione didattica.
GLI STRUMENTI
Il manuale
La sezione si apre con il saggio di Francesco Monducci intitolato “Il manuale, per una didattica attiva”, in cui si esamina l’evoluzione ipertestuale e la compatibilità del manuale di storia con le esigenze di un insegnamento innovativo e partecipato e si forniscono indicazioni generali sui criteri della scelta. Un altro paragrafo è dedicato al lavoro con il libro di testo e quello conclusivo approfondisce il tema delle estensioni digitali dei manuali e della loro effettiva utilità didattica.
Insegnare e apprendere con il web
Segue un saggio scritto a quattro mani da Chiara Massari e Igor Pizzirusso, “Insegnare storia con il web”, che si rivela particolarmente utile per la proposta di un quadro di sintesi dei più recenti sviluppi tecnologici e per un’analisi delle modalità attraverso cui il web può diventare strumento ed ambiente di apprendimento. Corroborato da una seria analisi in chiave pedagogica e didattica e da importanti indicazioni per la ricerca, la selezione critica delle informazioni e l’uso delle fonti disponibili in rete, il contributo offre inoltre al lettore un repertorio aggiornato di metodologie e strumenti disponibili per la didattica laboratoriale. Tra questi, particolare attenzione è rivolta ai webware, accessibili per realizzare linee del tempo, carte tematiche o grafici, video, giochi, mappe e presentazioni.
Le fonti, dalla storiografia alla didattica
Chiude la sezione il saggio di Ermanno Rosso, prematuramente scomparso, su “Le fonti, dalla storiografia al laboratorio di didattica”. Il contributo è riproposto integralmente dalla prima edizione, fatti salvi gli aggiornamenti bibliografici e sitografici. Al centro c’è l’idea di un insegnamento della storia che sappia tenere unite e coerenti l’informazione storica, la conoscenza e il rispetto per l’epistemologia disciplinare, senza mai prescindere dall’utilizzo delle fonti che trovano la massima valorizzazione nella pratica laboratoriale. Particolare attenzione è dedicata alla fonte storica, esaminata dal punto di vista della sua origine, del concetto e della polivalenza che la caratterizza. L’autore si concentrata sul delicato passaggio dalla storiografia alla didattica, segnalando però l’opportunità – nelle sue pratiche – di guardarsi da eccessi e ritrosie. Si sofferma quindi sulle motivazioni, la tempistica e le modalità di utilizzo delle fonti: procede illustrando modelli di uso e di analisi e proponendo schemi di classificazione, sequenze analitiche e operazioni inerenti alla ricostruzione documentata del passato. Rosso sostiene che a scuola è possibile fare anche ricerche originali e indica negli archivi scolastici una risorsa importante che può essere utile allo scopo.
I METODI E LE APPLICAZIONI
La terza e ultima parte, preceduta dal saggio di Mattozzi di cui si è già parlato, si articola in otto contributi, nell’ordine: Tre modi di fare storia nella scuola primaria (Gianluca Gabrielli); Geostoria. Studiare lo spazio e il tempo (Emanuela Garimberti); Le fonti letterarie (Eugenia Corbino); Luoghi della memoria (Maria Laura Marescalchi); Fare storia con il CLIL (Paolo Ceccoli); Fare storia con l’EsaBac e Lo studio di caso con documenti di varia tipologia (Francesco Monducci); L’Alternanza scuola-lavoro e il laboratorio storico: temi problemi, proposte (Agnese Portincasa e Filippo M. Ferrara). Nelle precedenti edizioni questa sezione era organizzata secondo criteri molto più didascalici, nel senso che venivano proposte le varie modalità laboratoriali distinte per tipologia di fonti: materiali documentari, iconografici, letterari, cinematografici, testimonianze orali e luoghi della memoria, web e nuove tecnologie, giochi didattici, ecc. L’attuale impostazione, come spiega Monducci nella nota introduttiva, è stata pensata
«per dare ragione delle nuove opportunità offerte da settori in continua evoluzione […], per fare spazio ad attività riguardanti ambiti precedentemente non coperti […], per conferire agli esempi proposti un taglio più immediatamente spendibile nella pratica scolastica quotidiana».
Diamo sinteticamente conto dei contributi di questa sezione, prendendoci la licenza di non seguire precisamente l’ordine di pubblicazione.
Fare storia nella scuola primaria
Il saggio di Gianluca Gabrielli è l’unico appositamente dedicato alle modalità di didattica della storia nella scuola elementare. L’autore propone di mettere in atto tre distinte pratiche: l’uso delle fonti per trarne indicazioni sul passato; la conoscenza storica di una tra le prime e più importanti civiltà umane (l’antico Egitto), con attenzione alle connessioni sociali dell’epoca e i loro mutamenti nel tempo; infine, un percorso di conoscenza contestualizzata storicamente su una ricorrenza del calendario civile.
Fare storia con il CLIL[1]
Nel suo articolo, dopo una disamina degli aspetti normativi, Paolo Ceccoli illustra le caratteristiche della metodologia CLIL, che prevede l’insegnamento di una materia non linguistica in lingua straniera e promuove la convergenza didattica delle due discipline, senza prevalenza dell’una sull’altra. Successivamente, dopo avere affermato che una didattica della storia CLIL non può che avere un’impostazione laboratoriale molto vicina alla didattica degli EAS, propone alcune riflessioni indispensabili per la progettazione di un modulo specifico, ossia: la scelta dei materiali, lo sviluppo di una lezione, la misurazione e la valutazione. Infine, offre due esempi dettagliati di programmazione: l’uso di fonti letterarie inglesi per lo studio della prima guerra mondiale e i processi di decolonizzazione.
Fare storia nei programmi EsaBac[2]
Il contributo di Francesco Monducci ha per oggetto il percorso triennale EsaBac che dal suo avvio, nel 2009, ad oggi ha evidenziato una crescita costante di adesioni e consensi. Tra le sue caratteristiche didattiche si distinguono il costante lavoro con le fonti, modulato dai programmi francesi, e la naturale predisposizione all’interdisciplinarità. A titolo esemplificativo, l’autore propone un dossier documentario di approfondimento dedicato al tema della religiosità e delle credenze popolari fra XI e XIV secolo, che prevede un lavoro molto simile alle attività didattiche connesse con gli studi di caso.
Lo studio di caso
In un altro articolo, lo stesso Monducci, riprendendo la codificazione proposta da Antonio Brusa, si sofferma sullo studio di caso, strumento didattico sperimentato in varie edizioni della Summer School organizzata dall’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” e ampiamente diffuso grazie alla rivista novecento.org e al lavoro dei responsabili della didattica della rete nazionale degli istituti. Monducci propone un esempio di lavoro pensato per una classe terza di scuola secondaria di primo grado e incentrato sul tema dell’alimentazione in Italia durante la seconda guerra mondiale. L’esemplificazione didattica è arricchita dall’assegnazione agli studenti di un compito di realtà attraverso la metodologia del webquest. Una volta terminata l’attività dello studio di caso, agli studenti si dà la consegna di sviluppare una ricerca autonoma e di realizzare un prodotto, ad esempio una presentazione in power point, da illustrare in una determinata occasione. Riprendendo la formalizzazione di Dodge e March (Università di San Diego, California, 1995), l’autore esamina le varie fasi dell’attività: la motivazione, la descrizione del risultato atteso, le indicazioni di lavoro, le risorse da utilizzare, la valutazione e il bilancio conclusivo dell’esperienza.
La geostoria
Il più ponderoso capitolo della terza parte è scritto da Emanuela Garimberti ed è dedicato alla geostoria, termine che, prima della declinazione didattica, fu proprio di una nobile tradizione storiografica che ebbe inizio con gli studi di Fernand Braudel. Purtroppo, nella scuola italiana, la geostoria continua ad essere percepita come la mera conseguenza della contrazione delle ore dedicate alla storia e alla geografia. Anche per questo motivo non pare aver prodotto grandi risultati sul piano della complementarietà tra le due discipline e dell’unitarietà dell’insegnamento. Eppure, come afferma l’autrice,
«un percorso di geostoria ben costruito può riuscire a tenere insieme la contemporaneità dell’approccio geografico e la diacronia di quello storico [restituendo] la percezione dell’alterità del passato, così spesso perduta nell’appiattimento sul presente contemporaneo o, viceversa, proiettata all’indietro in un passato a-storico».
L’ambiziosa proposta didattica che correda il saggio è dedicata alla storia sociale del paesaggio storico e consiste in una serie di attività laboratoriali sui paesaggi rurali tra tarda Antichità e pieno Medioevo.
Le fonti letterarie
Eugenia Corbino pubblica un saggio dedicato all’utilizzo della narrativa come fonte storica. L’autrice ravvisa in essa “uno strumento per avvicinare gli studenti alla storia in quanto conoscenza razionale del passato, indagata secondo metodi e tecniche storiografiche”, ma a condizione di tenere separati eventi ed elementi passionali della narrazione. Gli aspetti relativi alla progettualità illustrati nel saggio sono desunti dall’offerta didattica dell’Istituto storico di Firenze e attengono a percorsi realizzati da Paolo Mencarelli e dalla stessa Corbino. Essi hanno per oggetto l’analisi del rapporto tra la Resistenza e una narrativa che scaturisce da ricostruzioni di autori che non ne sono stati protagonisti o testimoni e che, a loro volta, hanno dovuto misurarsi con la ricerca e l’interpretazione dei documenti. Tali percorsi prevedono anche un laboratorio di scrittura collettiva che parte proprio dalla lettura delle fonti.
I luoghi della memoria
Maria Laura Marescalchi, già autrice nelle due precedenti edizioni di un saggio sui luoghi della memoria e i testimoni scritto con Marzia Gigli, ritorna a riflettere con taglio innovativo su questo tema. Il saggio, sul piano del metodo, ribadisce la funzione essenziale della mediazione dell’insegnante che, sola, è in grado di evitare la sovrapposizione tra il piano storico e quello della memoria. Sul piano didattico la proposta – pensata per la scuola superiore ma, secondo l’autrice, adattabile anche alla scuola primaria – verte sulla progettazione di una visita a un luogo della memoria. Viene quindi esemplificata una visita guidata a Monte Sole, supportata dall’esplicitazione dei prerequisiti, delle finalità, degli obiettivi e delle competenze di carattere generale connessi con il noto e prolungato eccidio avvenuto tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944.
L’Alternanza scuola-lavoro e il laboratorio storico
L’ultimo saggio della terza parte, scritto da Agnese Portincasa e Filippo M. Ferrara, riguarda l’Alternanza scuola-lavoro. Il tema è controverso. Sin dalla sua introduzione ha generato difformi valutazioni sulla sua opportunità formativa, originate in buona parte dalla tradizionale difficoltà di comunicazione fra scuola e mondo del lavoro. Aldilà delle questioni divisive di fondo, gli autori si pongono la domanda se e in che modo il modello del laboratorio storico risponda efficacemente alle esigenze dell’Alternanza scuola-lavoro. Quindi, a partire da esperienze realizzate presso l’Istituto per la storia e le Memorie del Novecento Parri E-R di Bologna, propongono un dettagliato piano di lavoro, che può essere assunto come traccia applicabile anche a progetti provenienti da altri contesti ed arricchito da una pregevole scheda individuale di valutazione delle competenze.
CONCLUSIONI E VALUTAZIONI
Siamo di fronte a un prodotto molto interessante per l’equilibrata balance fra aspetti teorici, adeguatamente aggiornati, ed esemplificazioni utili e, in buona parte, riproducibili in ambiente didattico a diversi livelli di istruzione. Certo, un bilancio complessivo delle indicazioni operative contenute nel manuale con particolare riguardo ai potenziali destinatari e fruitori non può ignorare il ruolo preponderante assunto in fase esemplificativa dall’istruzione superiore. Del resto, è proprio a questo livello che la pratica laboratoriale incontra le principali resistenze. Tuttavia, lo sforzo di tenere insieme i vari livelli di istruzione è davvero apprezzabile. Inoltre, i docenti della scuola primaria e secondaria inferiore vi potranno trovare elementi utili e spendibili in svariati contesti didattici. Ma, sempre sul piano della formazione, potranno trovare altrettanti elementi significativi anche tutti coloro che sono motivati all’insegnamento della storia e desiderano affrontarla con consapevolezza, convinti che, in una moderna azione didattica, i metodi e le pratiche non possano prescindere dalle finalità. Tra i vari pregi del manuale occorre infine ricordare anche le generose bibliografie e sitografie che corredano ciascun saggio.
Insomma, si tratta di un libro che stimola riflessioni e interrogazioni sul senso dell’azione didattica e sulla coerenza tra il mestiere di insegnante di storia e le sue finalità formative implicite ed esplicite; nel contempo invita a sperimentare, o quantomeno a misurarsi con gli esempi e le proposte presentate. Il volume dunque se – per un verso – costituisce un punto di partenza per successive ricerche, nello stesso tempo, offre un repertorio completo, sia teorico sia sperimentale, per chi vuole dedicarsi alle pratiche didattiche attive.
Note
[1] L’acronimo CLIL, introdotto da D. March e A. Maljers nel 1994, sta per Content and Language Integrated Learning (apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare) ed è stato introdotto nell’ordinamento scolastico italiano dalla Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010.
[2] EsaBac è il duplice diploma di istruzione secondaria superiore istituito il 24 febbraio 2009 grazie all’Accordo tra il Miur e il Ministero francese per l’istruzione. L’accordo prevede che l’Italia e la Francia nei loro sistemi scolastici promuovano un percorso bilingue triennale, attivo nel secondo ciclo di istruzione. Tale percorso permette di conseguire contemporaneamente il diploma di Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.
Enrico Pagano
[IF]Paulo Freire: uma prática docente a favor da educação crítico-libertadora – SAUL (C)
SAUL, Ana Maria. Paulo Freire: uma prática docente a favor da educação crítico-libertadora. São Paulo: Educ, 2016. Resenha de: DALZOTTO, Mariana Parise Brandalise. Conjectura, Caxias do Sul, v. 22, n. 3, p. 623-626, set/dez, 2017.
Quando pensamos nos autores que estudaram e reinventaram o conceito de educação no Brasil,1 é impossível não lembrar Paulo Freire. Seu pensamento é referência e tema de estudo, independentemente do passar dos anos, pois está fundamentado na prática educativa realizada, principalmente, neste país. De forma concisa, Ana Maria Saul busca tratar da atualidade do pensamento de Paulo Freire ao refletir sobre sua notória presença em pesquisas de pós-graduação e em práticas educativas no Brasil.
Ela também comenta, brevemente, a história do educador, escrevendo a respeito de algumas vivências com o mesmo. Por isso, em alguma medida, é possível observar que parte da biografia da autora se mistura com seus escritos no livro. Leia Mais
Prácticas docentes de la enseñanza de la historia: Narrativas de experiencias – SALTO (REH)
SALTO, Victor A. (Comp.), Prácticas docentes de la enseñanza de la historia: Narrativas de experiencias. UNCo, 2017. 227p. Resenha de: ALVARELLOS, Pablo. Reseñas de Enseñanza de la Historia, n.15, p.231-236, ago. 2017.
Pablo Alvarellos – UNCo – FaHu – CRUB Acesso apenas pelo link original
[IF]La Inmortalidad de nuestras Culturas Milenarias – BERGAGNA (ER)
Membros da Comunidad Estudiantil Universitaria de Pueblos Originarios (CEUPO) em [2016]. www.facebook.com/ceupo.unsa/
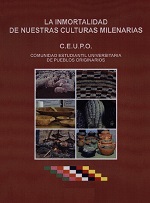
El estudio de los procesos culturales implicados en las prácticas educativas desarrolladas en situaciones de interacción interétnica se ha multiplicado en los últimos años. El encuentro interétnico en el ámbito escolar bien puede ser interpretado como la interacción de dos sistemas de comunicación, el indígena y el occidental, cuya mutua inteligibilidad demanda un esfuerzo meta-comunicativo. Aunque sea fundamental para que algún aprendizaje tenga lugar, buena parte del trabajo meta-comunicativo corre por las vías del lenguaje implícito. Por ello, pocas veces las instituciones educativas se comprometen en su explicitación reflexiva, máxime cuando la dominación étnica, precisamente, obtiene su eficacia de este y otros silenciamientos. La tematización del conjunto de reglas que ordenan la interacción y la interpretación, al interior de un proceso escolar, también llamada reflexividad, ofrece grandes oportunidades para conocer, desde el punto de vista de los actores sociales, la naturaleza y significado del orden social y las posibilidades para su transformación.
El texto La inmortalidad de nuestras culturas milenarias retrata de manera sensible y certera una experiencia educativa de carácter reflexivo, orientada a explicitar, desde el punto de vista de los docentes no indígenas y de un grupo de estudiantes indígenas, los pactos simbólicos que organizaban el proceso de aprendizaje en el ámbito universitario, que llevaban a los estudiantes al fracaso académico y a la deserción. Se trata de un pequeño pero sugestivo libro digital aparecido el año 2013 en la provincia de Salta, noroeste argentino, editado por la Comunidad Estudiantil Universitaria de Pueblos Originarios (CEUPO) de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y compilado por la trabajadora social, profesora de la UNSa y coordinadora del Servicio de Orientación y Tutoría de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Alejandra Bergagna.
Dos grandes bloques organizan el texto. Mientras que Bergagna, Verónica Vila, psicóloga perteneciente al Servicio de Orientación, y Juan M. Díaz Pas, un estudiante avanzado de la carrera de Letras de la UNSa, escriben una amplia introducción, “Escritores originarios: la apropiación de la voz”, catorce estudiantes indígenas son los autores de la segunda parte del libro. Ellos son: Osvaldo ‘Chiqui’ Villagra, Ervis Díaz, A.C. Cielo, Sol, Emanuel Tapia, Marcos, Lidia, Magy, Vilma, Graciela, Rix, Robustiano Ramos, Amílcar y Anahí. Sus lugares de origen se hallan entre el Chaco Salteño-Jujeño (adonde residen grupos guaraníes y wikyi) y la Puna Jujeña (habitada, entre otros, por grupos kolla).
En la primera parte los autores describen el servicio de tutoría por el cual un grupo de estudiantes universitarios avanzados no indígenas acompañó, durante los años 2012 y 2013, a un grupo de estudiantes indígenas en su aclimatamiento institucional. A través de la organización de un Taller de Comprensión y Producción de Textos – del que participaron cinco tutores/as, estudiantes universitarios avanzados, no indígenas – se propusieron aproximar el lenguaje científico y académico a los estudiantes originarios, con objeto de facilitar su comprensión. En el transcurso del taller tutores/as y coordinadores/as hicieron varios descubrimientos. Primero, que los lazos entre la escritura y el poder se expresaban en las dificultades que tenían los estudiantes para comprender el discurso académico. Segundo, que esa incomprensión era el fruto de una “[…] estrategia de exclusión social más o menos evidente, más o menos formulada como proyecto” (Bergagna, 2013, p. 27). Tercero, y quizá el hallazgo más significativo, que
[…] no basta con enseñar a ‘comprender’ (es decir a leer, a consumir) los sentidos elaborados por otros, es necesario colaborar para que todos o muchos más accedan a ‘producir’ esos sentidos, a formularlos con su propia voz, en sus propios términos, según su propio ritmo, con el estilo de una lengua que los identifique con aquello que dicen (Bergagna, 2013, p. 28-29).
Los coordinadores, impulsados por los estudiantes indígenas, abandonaron el lenguaje científico como objeto. Se concentraron en la “escritura creativa”; eludieron las nociones de “aprobado/ desaprobado” para calificar la escritura de los estudiantes y en su lugar trabajaron con los conceptos de “edición” reflexiva: “[…] elaboración de estrategias de adecuación discursiva al contexto de participación, a los objetivos perseguidos por los participantes, a las representaciones mentales de los eventos de escritura y a las intenciones puestas en juego” (Bergagna, 2013, p. 33-34). De ello derivaron algunos de los tópicos sobre los que versó la escritura de los estudiantes: “[…] qué es ser kolla, qué es ser wicky [sic] o guaraní en la universidad nacional de Salta a principios del siglo XXI” (Bergagna, 2013, p. 36). Veamos entonces cómo respondieron a esta pregunta en la segunda parte del libro los autores wikyi, guaraní y kolla.
Además de una entrevista realizada por estudiantes secundarios de la ciudad de Salta a Osvaldo ‘Chiqui’ Villagra, predominan en la segunda parte del libro textos autobiográficos que se intercalan junto a relatos tradicionales (que describen el coquena, el origen del maíz, el origen del río Pilcomayo, las luciérnagas, entre otros). La lengua que usan los estudiantes para escribir es el español, aunque algunos textos (relatos tradicionales) son traducidos de manera simultánea a sus lenguas maternas, wikyi y guaraní. La mayoría de los autores firman sus textos recurriendo a sus nombres de pila (Celeste, Amílcar) o, aun, a sus sobrenombres (Magy, Rix), como si la comunidad de sus lectores pudiera reconocerlos, como lo hacen sus parientes y vecinos, a través de estas señales que emergen en el seno de la interacción cara a cara.
Consideradas en conjunto las autobiografías muestran lo inconmensurables que resultan los sistemas de aprendizaje propios de las culturas de los pueblos de los que provienen los estudiantes universitarios con respecto a la enseñanza escolar y universitaria. Veamos cómo producen estos autores esa ininteligibilidad en la que se halla comprometida su propia sobrevivencia en el ámbito universitario. Osvaldo Villagra, estudiante avanzado del Profesorado en Ciencias de la Educación de la UNSa, perteneciente al pueblo wikyi de la comunidad La Puntana, ubicada en el departamento de Rivadavia, Provincia de Salta, explica cómo aprendió a nadar y a pescar:
Uno de mis grandes desafíos cuando tenía apenas 6 años de edad era aprender a nadar, junto con otros chicos de la comunidad lo hacíamos en ‘pelhat´ilis’ que en español sería lagunas – aguas estancadas dejadas por las lluvias o el río -, y siempre con la presencia de una persona mayor, como primera regla; aprender a nadar a la perfección y luego sumergirse dentro del agua sin abrir los ojos ya que el agua es turbia, solo hay que guiarse con las manos y brazos. Antes de ir al río tenía que recibir una aprobación para poder hacer la otra parte más difícil, la de nadar en el río, y conocer los secretos del agua, es decir, reconocer su movimiento para detectar las partes profundas y menos profundas, así poder atravesarla hasta el otro lado, cruzar y nadar por la noche. Todo esto es para luego no tener tanta dificultad a la hora de aprender a pescar (Bergagna, 2013, p. 48).
De esta explicación entendemos varias cosas sobre el sistema de enseñanza-aprendizaje local. Primero, los aprendices de la cultura wikyi son entrenados en los mismos contextos donde desempeñarán sus funciones una vez que hayan adquirido la pericia necesaria para ejecutarlas. Se trata de un conocimiento total que incluye una compleja teoría sobre el entorno y una delicada práctica, indisociables. Segundo, la división del trabajo del grupo (que separa a hombres de mujeres y niño/as de adultos/as) garantiza que todo miembro pleno de la comunidad acceda a los conocimientos mínimos que garanticen su sobrevivencia. El acceso a ese conocimiento no es objeto de monopolio de una elite que se lo reserve para sí como medio de dominación. Tercero, la función instrumental del aprendizaje (aprender a nadar para aprender a pesar y saciar una necesidad vital) no se haya disociada del valor lúdico y recreativo del entrenamiento, que se presenta ante el niño como un “gran desafío”.
Los autores originarios no oponen de manera tajante el sistema nativo de aprendizaje – holista y comprensivo – con respecto al sistema escolar occidental – abstracto, violento y compartimentalizado. La jerarquía, más o menos elaborada, está presente en todas las experiencias, nativas y escolares. Se trata más bien de la significatividad asociada a los nuevos saberes, a eso que Jean Lave denomina “aprendizaje como participación en comunidades de práctica” que se hacen inteligibles al sujeto, le dan un lugar en el mundo, transformando al mundo y él/ella en un solo movimiento.
Lidia, por ejemplo, cuenta cómo la emocionaba leer poesías en los actos escolares, a los que su madre asistía orgullosa, y que antes de los diez años comenzó, incluso, a escribir un libro sobre su vida (Bergagna, 2013, p. 121); Graciela, con ayuda de su familia, desde muy pequeña “leía todo lo que tenía a […] [su] alcance” (Bergagna, 2013, p. 127); y, Amílcar antes de ir a jardín de infantes aprendió junto a su abuela a leer el cartel que estaba frente a su casa, que decía en letras grandes “Municipalidad de Santa Victoria Oeste” y en letras chicas: “Por un futuro mejor”. Según estos autores, leer o escribir surgía del esfuerzo que hacían para ganarse un lugar digno al interior de un mundo en el que su presencia era requerida, deseada y reclamada.
Esta no es la experiencia de la mayoría de los escritores que aquí reseñamos. Muchos de ellos asocian el aprendizaje de la lecto-escritura con el “aprendizaje de la letra” y a este con el dolor de cabeza, el aburrimiento, la limitación de las horas de juego junto a los pares para hacer la “bendita tarea”, a situaciones de humillación colectiva, a través de los ejercicios de lectura en voz alta en el aula o en la casa frente a los compañeros, parientes y amigos, y a ejercicios que demandan como condición la soledad, el aislamiento del grupo de amigos o de la dinámica familiar. La posibilidad legítima de ser objeto de castigos y de desaprobación pública, a través de órdenes impartidas con gritos, por parte de maestros/as y familiares adultos, para muchos de los estudiantes está en íntima relación con los libros y las bibliotecas. Por ejemplo, Vilma señala en su texto: “De a poco empecé a leer pero nunca me sentía contenta con lo que leía porque me sentía incapaz de leer como mi maestra. Pero igual no me ponía a practicar, porque decía: ¿de qué me sirve leer?, es como que estaba confundida todo el tiempo” (Bergagna, 2013, p. 125).
Relatos auto-biográficos de estas características son los que predominan en la segunda parte del libro. Los textos son el resultado parcial de lo que sucedió con el Taller que organizó el Servicio de Orientación y Tutorías de la UNSa. En la primera parte Bergagna cuenta que durante los primeros encuentros los estudiantes manifestaban desinterés por el discurso científico que les era presentado como objeto de trabajo. La letra críptica aparecía como la representante de un mundo que denegaba persistentemente su presencia efectiva, como miembros de pueblos originarios, en la Universidad. Los desconocía como agentes capaces de producir significado en los términos de una voz, ritmo y estilo propios. Ante este desinterés por parte de los estudiantes originarios los coordinadores modificaron los términos en que era pensado el taller y abandonaron la “enseñanza magistral”, dicen haberse concentrado en la “escucha” (Bergagna, 2013, p. 37).
De ello emergieron varias iniciativas por parte de los estudiantes. Organizaron una feria universitaria donde mostrar sus ropas, bailes, canciones y productos que fabricaban con sus manos. Comenzaron a dictar cursos de idioma y cultura wikyi en la escuela secundaria que dependía de la UNSa. Finalmente, organizaron el CEUPO que le dio una representación política en el ámbito universitario. Escribir sobre los derroteros, muchos veces violentos, a través de los cuales estos estudiantes habían llegado a la universidad, transformó al taller y el propio concepto de escritura. Usada como performance junto a otras actividades expresivas, apareció como un instrumento a través del cual modificar los términos en los cuales la exclusión y la denegación eran incluidas como principios implícitos de interacción y base de la enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario.
La enseñanza universitaria simplemente ignoraba a quiénes tenía frente a sí, los saberes que portaban y sus culturas de origen, considerándolos simples receptores pasivos de un conocimiento magistral. Se trata de un principio que pocos estudiantes (indígenas o no indígenas) logran problematizar. Este grupo lo hizo sosteniendo que sus culturas de origen eran “milenarias” e “inmortales”. El título del libro, una afirmación existencial y política, presenta la intención de este grupo de estudiantes: que la institución reconociera su origen étnico como propiedad y principio ineludible para su existencia efectiva en el medio universitario.
Si la transmisión de la cultura supone una teoría acerca de cómo es producido y reproducido el conocimiento por parte de los miembros de un grupo social, es decir, si entendemos a la cultura como un lugar adonde se elaboran epistemologías, entonces hay en los escritos de los autores indígenas de este libro un esfuerzo por mostrar sus propias maneras de aprender y enseñar diversas dimensiones de su cultura y de su entorno. Comprendemos, de la mano de los estudiantes, que en nuestras Universidades conviven diversas epistemologías. Reconocerlas, como condición de nuevos aprendizajes, es un primer paso, y en esta línea se halla el libro que reseñamos. El segundo paso es el diálogo, en igualdad de condiciones, de diversas epistemologías que conviven, de hecho, en el ámbito universitario. Esto es una materia pendiente para la enseñanza universitaria y para la investigación. Como sostiene Alcida Rita Ramos, para el caso de la Antropología Social, las teorías nativas acerca del saber y las teorías académicas podrían no sólo dialogar sino, incluso, fertilizarse mutuamente, colaborando en la institución de una verdadera “ecumene teórica”, una congregación de teorías sociales. Ello transformaría, enriqueciendo, nuestra manera (homogénea y autoritaria) de producir conocimientos.
“La inmortalidad de nuestras culturas milenarias” es fruto del proyecto “Interculturalidad e inclusión en contextos regionales. Un análisis de las dimensiones vinculadas al ingreso a la universidad en estudiantes indígenas”, que fue desarrollado en la UNSa con el apoyo de la Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Educación del estado nacional argentino. Escrito a partir del método “Sistematización de Experiencias”, se trata de un esfuerzo intelectual por mostrar los desafíos culturales y políticos comprometidos en las prácticas educativas cuando son desarrolladas en situaciones de interacción interétnicas. De ello surge el valor por comentar su aparición y promover su lectura.
Referencias
BERGAGNA, María Alejandra. La Inmortalidad de nuestras Culturas Milenarias. Salta: Comunidad Estudiantil Universitaria de Pueblos Originarios (CEUPO), 2013. 153 p. E-Book. [ Links ]
Laura Marcela Zapata – Es antropóloga social. Investigadora adscripta al Centro de Antropología Social, Instituto de Desarrollo Económico y Social. Profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de José C. Paz. E-mail: [email protected]
O professor e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares – MIRANDA; GALVÃO FILHO (REi)
MIRANDA, Theresinha Guimarães; GALVÃO FILHO, Teófilo Alves (Orgs.). O professor e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares. Salvador: EDUFBA, Salvador, 2012. Resenha de: BORDAS, Miguel Asngel Garcia: Revista Entreideias, Salvador, v. 4, n. 1, p. 221-223, jan./jun. 2015.
A presente coletânea tem como questão central problematizar os sentidos, significados e intencionalidades que vêm se materializando na relação entre o professor e a relação inclusiva, enfocando três aspectos dessa complexa realidade: a formação do professor, que hoje supõe transcender antigas e superadas seguranças e paradigmas; a sua prática, que deve possibilitar a interação crítica e criativa entre pessoas singulares, cada vez mais presentes nas salas de aula, e os lugares que, com frequência nos dias de hoje, rompem os muros e paredes da escola tradicional, para abarcarem novos e mais profícuos espaços e tecnologias para aprendizagem, visando a construção de uma sociedade e escola inclusivas.
O conjunto dos artigos desta obra contempla múltiplas questões que entrecruzam o campo da educação inclusiva, tendo como referência o professor, em diálogo polifônico de saberes. O trabalhos apresentados reúnem ideias, resultados de pesquisas e relatos de experiências, que suscitam questionamentos e posicionamentos distintos em relação aos temas abordados, possibilitando o aprofundamento do debate sobre ações educacionais, voltadas para uma educação escolar de qualidade, que possa promover formas de inclusão.
A questão proposta é analisada sob a ótica de diversas experiências construídas durante o desempenho da trajetória profissional de seus autores. Contudo, o leitor poderá observar que os autores mantiveram uma importante relação pedagógica e política entre o social e o educacional, na busca de aprofundar as reflexões referentes a educação inclusiva, principalmente em relação a formação docente, suas práticas e lugares de atuação, para uma educação especial na perspectiva do novo paradigma inclusivo.
Os artigos apresentados nesta coletânea estão agrupados em três blocos, de acordo com os tópicos discutidos no evento. No primeiro bloco estão os que tratam da Formação Docente e dele constam, os trabalhos relativos a : resultados de pesquisas sobre formação docente ( Jesus e Effgen, Martins e Pimentel); princípios teóricos e fundamentos para a formação docente (Crochík, Díaz e Costa) e caminhos percorridos por grupos de pesquisa na formação profissional e produção do conhecimento ( Silva e Miranda ).
O segundo bloco aborda questões relativas às práticas pedagógicas para a educação inclusiva, suas possibilidades e tensões.
Ele é composto de nove artigos, dentre eles cinco analisam o uso da Tecnologia Assistiva (TA) como recurso para favorecer a o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Oliveira e colaboradores, Passerino discutem o uso da comunicação alternativa. Silva descreve a áudio descrição (AD), criada com objetivo de tradução intersemiótica criada com objetivo de tornar materiais como filmes, peças de teatro, espetáculos de dança, programas de TV em diferentes realidades é analisada por Galvão Filho, Miranda e por Castro e colaboradores. Os demais textos deste bloco referem-se a pesquisas sobre a prática de inclusão: o uso de jogos com crianças hospitalizadas (Barros e colaboradores); o ensino da ortografia para crianças cegas ( Martinez); a comunicação e o aluno com surdo cegueira ( Galvão ) e práticas municipais de inclusão ( Oliveira).
O Terceiro bloco denominado Lugares, refere-se aos espaços em que ocorrem as práticas pedagógicas, destinadas às crianças e aos jovens com deficiência. Tradicionalmente, essas pessoas eram segregadas em instituições especializadas e escolas especiais ou ficavam isoladas no seio familiar e sua escolaridade limitava-se as séries iniciais do ensino fundamental, pois a sociedade não lhes garantia condições para progressão escolar e inclusão social. Com o avanço das ciências e a promulgação de dispositivos legais, é assegurada a educação da pessoa com deficiência, que vem alcançando níveis elevados de escolaridade, atingindo a universidade, alcançando o mercado de trabalho. Nessa importante perspectiva estão os artigos de Anjos, Barbosa Santos, Carneiro Santos; e Souza e Santos que pesquisam a inclusão no ensino superior, a partir da realidade das Universidades que foram estudadas. Pereira, Passerino e Del Masso discutem a relação da pessoa com deficiência e o trabalho.
Ainda nessa reflexão sobre os lugares da educação inclusiva, Mendes e Malheiro questionam o atendimento educacional especializado, proposto na atual política educacional para ser realizada em salas de recursos multifuncionais, como modelo único de apoio a inclusão escolar do aluno com deficiência, em contraponto destaca- -se o texto intitulado O letramento de surdos em escolas especiais em Salvador, de autoria de Teixeira e Marinho. Esse ponto escola regular X escola especial é polêmico e não há consenso e, desta forma temos o entendimento de que estes textos, assim como o conjunto de todos os trabalhos aqui apresentados poderão servir, sem sombra de dúvida, para ampliar as reflexões de forma crítica com fecundidade e profícua fertilidade.
Miguel Asngel Garcia Bordas – Universidade Federal da Bahia – Faculdade de Educação. E-mail: [email protected]
Conversas com um jovem professor – KARNAL (LH)
KARNAL, Leandro. Conversas com um jovem professor. São Paulo: Editora Contexto, 2012. Resenha de: VOGT, Débora Regina. Revista do LHISTE, Porto Alegre, v.1, n.1, p.187-191, jul./dez., 2014.
Poucas experiências na graduação para não dizer quase nenhuma antecipam o primeiro dia de um professor em sala de aula. As aulas de psicologia da educação, da sociologia do ensino, os grandes debates sobre métodos de aprendizagem ou as discussões infindáveis sobre as linhas historiográficas tornam-se tímidas, quase inúteis, quando “enfrentamos” nossa primeira aula. E esse é o verbo que o professor Leandro Karnal utiliza: enfrentar. Em nosso mundo ideal todos esperam ansiosamente pela nossa presença e pelo conhecimento iluminista que inicialmente acreditamos ter. A realidade, sabemos, não é bem assim. No entanto, entre o mundo irreal e idealizado e o pessimismo abismal há um meio termo e nele podemos encaixar o livro de Karnal.
Segundo o autor, a obra não tem como objetivo discutir teorias ou novas concepções de ensino. Ele dialoga com elas, mas seu alvo é outro: é ensinar a fazer o cimento da construção, não seu desenho arquitetônico, em outras palavras: como é, na prática, ser professor. São 30 anos de experiência em que, em suas palavras, passaram centenas de colegas, dezenas de lugares e milhares de alunos. Entretanto, Karnal relata com simplicidade das alegrias e tristezas de ser professor, dos desafios da profissão, do cotidiano escolar e tem a humildade de relatar também seus fracassos, demonstrando que ser professor é, antes de tudo, um eterno aprendizado.
Como o próprio nome diz, seu alvo é o jovem professor, que talvez ainda não tenha concluído os estágios obrigatórios e que precisa encontrar seu lugar na sala de aula, no cotidiano escolar e na vida dos alunos. No entanto, ouso dizer que ele atinge também outro público, que já está no magistério, mas sabe que tem muito a aprender e está disposto a ouvir. Karnal procura fazer um livro simples e prático, sem ser simplificado e banal. Dessa forma, ele aborda praticamente todos os pontos da aula: o professor, o ambiente, o aluno, o conteúdo entre outros. Escreve sobre a coordenação, os colegas, os pais e o próprio governo ou da mantenedora para atingir tanto aquele que se dedica ao setor público, como aquele que trabalha em instituição privada.
Quando aborda a sala de aula o historiador discute as várias circunstâncias que estão dentro de uma aula. Uma noite mal dormida, uma conta não paga ou uma simples dor de cabeça podem, sim, ter como resultado uma péssima aula. Somos humanos e temos limitações e elas são também físicas. Ter noção de como está se sentindo, antes de entrar numa aula, ajuda a encarar seus limites e a lidar melhor com a situação. Além do professor há o conteúdo que deve ser trabalhado, estudado e planejado antes da entrada em sala. Ele dá um conselho sadio: planos gigantescos são muitas vezes inúteis e podem nos fazer crer que são desnecessários. Não são, mas devem ser os mais práticos possíveis, tendo claro sempre aonde se quer chegar.
O aluno é o ponto central e ele chama atenção: ele não pode ser nosso problema. Tal como o médico não pode ver o paciente como problema, mas sua doença, nós não podemos acreditar que nosso aluno é um problema, seu comportamento até pode ser, ele não. O olhar de educandos, de acordo com ele, é um ótimo parâmetro, mas não deve ser o ponto de chegada, sim um diagnóstico e um ponto de partida. Karnal compara a aula com um trabalho artesanal, é meticuloso, sensível e não há nada que garanta sua segurança absoluta.
O livro deixa claro que boa parte da seriedade de nosso trabalho vem de nossa concepção sobre o nosso fazer. Se nós agirmos de forma que demonstre que os alunos podem ouvir ou não e nada muda, desvalorizamos nosso trabalho diante daquele que é a nossa plateia. A visão que temos de nós mesmos e da importância do que fazemos demonstra a seriedade com nossa profissão. Segundo Karnal, uma aula mal dada pode não destruir vidas como um erro médico ou uma ponte mal construída por um engenheiro, no entanto, é bem possível que esses erros tenham como resultado aulas ruins.
Karnal dedica um capítulo inteiro para falar da criatividade e outro sobre as tecnologias. Como uma caixa de milagres, as duas são apontadas como soluções para a falta de interesse dos alunos e o desânimo que os alunos têm pela escola. O autor desmitifica a criatividade vista, muitas vezes, como quase uma revelação divina. Mostra que ela é fruto de muito esforço, mostra também o quanto uma aula criativa dá trabalho em relação a uma aula tradicional e que, por isso, não pode ser feita todos os dias. Uma aula expositiva pode cumprir bem seu papel e na maioria das vezes o faz. Uma aula criativa, no entanto, mexe com emoções e nossa memória trabalha através dela e por isso somos capazes de lembrar o que nos marcou emocionalmente.
Quando aborda as tecnologias Karnal chama a atenção para um erro crasso: acreditar que uma aula torna-se melhor pelo simples uso de tecnologias. Elas são ferramentas didáticas, mas não produzem por si mesmas uma boa aula. Ao usar um ‘power point’, por exemplo, se o professor somente ilustra o que fala, sem analisar imagens, sua subjetividade como são montadas e feitas perde-se muito da capacidade exploratória. Há turmas diversas e diferentes tipos de alunos, alguns são atingidos por uma técnica, outros por outra. Variar no uso das tecnologias e da criatividade nos possibilita caminhar com uma turma de forma mais orgânica possível na construção do aprendizado.
Sendo o aluno o alvo de nosso trabalho é de imaginar que o cotidiano do profissional é a convivência com pessoas. Entretanto, além dos alunos há no mínimo mais quatro grupos de pessoas que perpassam o trabalho docente: os pais, os diretores, a coordenação e os colegas. Há muito a aprender com eles, mas há os que simplesmente podem estar ali para atrapalhar nosso caminho. Encarar os pais pela primeira vez após o aluno ter tirado uma nota ruim, ou a coordenação que pensa ter a solução mágica para suas aulas, mas que não fica 15 minutos controlando uma turma, é um desafio tratado com um ar quase fraternal por Karnal, como um pai que aconselha seu filho antes de seu primeiro dia de trabalho. Ele fala de hierarquias, aconselha a falar menos na sala dos professores antes de conhecer os colegas, a perceber que há diferentes tipos de pais etc. O mérito de seus conselhos é a saída das soluções mágicas, ele não demonstra que tudo é fácil ou que não há soluções, mas que há sempre um meio termo sem abrir mão do bom senso e da ética profissional.
A avaliação, desafio para iniciantes, mas também para professores com maior trajetória é refletida e analisada por Karnal. Há um perigo que ronda boa parte dos professores: a vingança na hora da avaliação. Muitas vezes vista como um jogo narcisista em que chega a hora de mostrar quem realmente manda, de demonstrar que o trabalho é sério e que, sim, ele pode ser cruel. Quem já transitou como profissional numa escola já viu nos colegas e em si mesmo o sorriso vingativo na hora de aplicar uma avaliação. É dia de nossa tranquilidade e passividade diante do nervosismo de nossos alunos. O autor é franco: muitas vezes inventamos desculpas – como os desafios da vida ou a necessidade de avaliar seriamente – para o que pode ser uma demonstração de nosso ego. Por outro lado, é um trabalho que deve ser levado a sério e feito com dedicação. A prova como sabemos não avalia somente o aprendizado dos alunos, mas a atuação do profissional. Segundo ele, a prova deve ser operatória. Recorrer à memorização pode ser exaustivo e inútil na maioria dos casos. É necessário ter claro aonde se quer chegar e quem são seus alunos, na hora de produzir uma boa avaliação.
Há um capítulo escrito por sua irmã, Rose Karnal, que diferente dele deu aula para diversos níveis e hoje se volta mais para a graduação, pós-graduação e formação de professores, dedicou-se à vida toda ao ensino básico. É formada em letras pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e é educadora há 32 anos. Acredito que por ela estar no ensino básico onde os problemas sobre disciplina são mais recorrentes é que Leandro a convida para escrever esse capítulo específico.
Disciplina é em si um tema espinhoso. Diante de casos de violência dentro das escolas com registros que se espalham no país, falar dela é um desafio e pode intimidar. De acordo com ela, a disciplina é um conquista diária e também uma repetição de ações que proporcionem um clima de aprendizagem. Há uma diferença entre autoridade e autoritarismo e não há aprendizado sem ordem e respeito. No entanto, não há segredos ou “toque mágico” para resolver os problemas disciplinares, a prática funciona muito mais que a teoria e há coisas que funcionam com um aluno e são desastrosas com outro. Rose salienta pontos fundamentais que também são apontados por Leandro em seu texto: organização do ambiente, atenção na aula, não conivência com a violência e mais importante que tudo, lembrar que é o professor o adulto na sala de aula.
Um dos capítulos mais instigantes e talvez um dos mais estimulantes em ‘conversas com um jovem professor’ é a narrativa dos erros cometidos, que Karnal intitula “Pedras da nossa estrada”. Ele narra as situações em que foi irônico e quando se sentiu vitorioso ao soltar um comentário ácido para um aluno que o incomodava em uma manhã, por estar com conjuntivite, ou que fez caretas e comentários ao ler o nome de um aluno. Todos nós já fizemos ou sentimos vontade de fazer isso: soltar um comentário demolidor para um aluno que consegue nos incomodar. Sabemos que como professores, temos esse poder e por vezes é grande a tentação de fazer isso e se sentir vitorioso diante da turma.
No entanto, ao ler o relato franco e honesto desse professor com mais de 30 anos de experiência podemos ter certeza que não seremos os primeiros, nem os últimos a ter vontade de nos vingar naqueles que deveriam ser o alvo de nosso trabalho: os alunos. Karnal lembra-nos, contudo, que é preciso lembrar sempre quem é o adulto e quem é a criança ou o adolescente. O docente não é um aluno mais adiantado, ele é o professor, que se não necessariamente amar com todo coração determinada turma, deve antes de tudo, agir como profissional da melhor forma possível. Afinal, não seria ideal para um médico fazer uma cirurgia ruim porque um paciente incomodou muito nas consultas.
Ao final de cada capítulo, o professor Karnal cita filmes que são um conjunto de inspirações a parte. Ele foge dos modelos de professor salvacionista, mas apresenta filmes cujos professores têm um trabalho difícil e que por vezes podem fracassar. No entanto, a pequena transformação que se tem é a mudança na vida de uma pessoa, a percepção de que realmente conseguiu ensinar, fazer o trabalho valer a pena.
O livro do professor Leandro Karnal é leve, bem humorado e serve ao que se propõe que é dialogar com o docente iniciante. No entanto, ele também ultrapassa isso, já que compara nosso trabalho com outras profissões, sai do muro das lamentações, mas também demonstra que nem tudo são sorrisos e alegrias. É um texto de um professor sério e comprometido com o que faz. Creio que só essa característica deveria nos levar a ouvi-lo atentamente. Prestar atenção em quem permanece como docente apreciando e valorizando o que faz é um bom começo para quem dá seus primeiros passos no magistério.
Débora Regina Vogt – Licenciada, Mestra e Doutoranda em História pela UFRGS. E-mail: [email protected]
[IF]


