Posts com a Tag ‘Paz e Terra (E)’
Bandidos | Eric Hobsbawm
Eric Hobsbawm | Foto: La Vanguardia
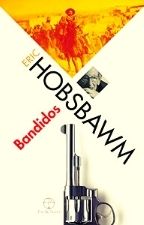
É neste contexto político-cultural que Eric John Ernest Hobsbawm desenvolveu seus trabalhos. Nascido em 1917 em Alexandria, Egito, mudou-se para Berlim em 1931 e, com a ascensão de Hitler ao poder, imigrou para Londres em 1933 onde recebeu uma bolsa de estudos na Universidade de Cambridge. Durante a Segunda Guerra (1938-1945) lutou ao lado dos aliados como cavador de trincheiras, preparador de bunkers e em trabalhos de inteligência devido à sua proficiência em quatro línguas. Nos anos 1960, ingressou no grupo de marxistas britânicos que buscavam entender a história da organização das classes populares, suas lutas e ideologias, através da chamada História Social. Leia Mais
A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano | Edward E. Baptist
A metade que nunca foi contada é o segundo livro do historiador norte-americano Edward E. Baptist. Professor na Universidade de Cornell (Ithaca, NY), Baptist apresenta em seu novo trabalho, originalmente publicado como The Half Has Never Been Told, em 2014, os resultados de um longo percurso de pesquisa sobre a construção da fronteira escravista no sudoeste norte-americano no século XIX, expandindo um tema que já era o centro do seu primeiro livro monográfico, Creating a New South (2002). Leia Mais
Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa – FREIRE (REH)
Paulo Freire. Foto: Brasil de Fato /
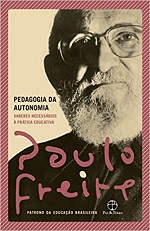
O livro Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa de Paulo Freire faz uma abordagem a respeito de algumas das competências necessárias para a atuação do profissional da educação, saberes esses que ele julga essenciais. Freire escreve o texto com toda aquela sensibilidade que lhe é característica, brindando o leitor de um sentimento de esperança e convidando-o a lembrar a todo o momento da importância do professor e de sua contribuição social. Sua abordagem pedagógica nos apresenta reflexões importantíssimas a respeito da postura e da coerência que se exige de quem pretende educar.
O livro é dividido em três detalhados capítulos. No primeiro capítulo, Prática docente: primeira reflexão, Paulo Freire faz uma apresentação das características fundamentais da formação docente. Enfatiza a importância de alinhar a prática à teoria, da nossa capacidade de aprender e ensinar, e da necessária recusa ao ensino bancário, ensino esse que delega ao educando um mero papel receptivo de informação e não o reconhece como agente produtor de conhecimento. Deste modo, devem-se levar em conta as experiências prévias do educando, para que esse se reconheça como sujeito do processo, podendo assim estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais e a experiência social que temos como indivíduos.
O segundo capítulo, Ensinar não é transferir conhecimento, retoma e aprofunda a discussão sobre o erro de se pensar a educação como depósito de um conhecimento pré-adquirido ao educando. O professor, por vezes, costuma se blindar de críticas e sugestões quando está ministrando sua aula e age como se estivesse em um pedestal. Isso, de modo algum, é saudável na prática educativa. Para Freire, um dos principais fatores da relação professor-aluno é a humildade, é mostrar-se também sujeito no processo educacional, não como um depositador de saberes, mas sim como quem também aprende no exercício de ensinar.
É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 1996, p. 24)
Ainda nesse capítulo, o autor trata da necessidade de estarmos sempre abertos às indagações, às curiosidades dos alunos e da nossa característica de sermos seres condicionados, mas não determinados Como seres culturais, históricos, inacabados e conscientes do inacabamento, devemos unir esforços contra o discurso fatalista, pragmático e reacionário do pensamento neoliberal. É nesse capítulo também que, mais do que tratar a esperança como uma característica recomendável ao professor, Freire é enfático ao nos mostrar que mais do que isso, essa se faz imprescindível e inerente à prática educativa.
Para Freire, a aprendizagem é resultado da relação dialética entre os sujeitos envolvidos nela. A aprendizagem só ocorre efetivamente quando é significativa para quem aprende e para quem ensina, quando envolve sentimentos e quando a curiosidade ingênua transforma-se em epistemológica através da mediação do professor.
É neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela qual o sujeito criador dá forma, estilo ou alma ao um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 1996, p. 25)
No terceiro e último capitulo, Ensinar é uma especificidade humana, Freire expõe da importância da solidez na formação do professor, já que não se pode ensinar o que não se sabe. “A incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor” (FREIRE, 1996). Apenas um profissional qualificado poderá pensar certo e exercer a sua autoridade de maneira plena. Uma autoridade em exercício que seja democrática e que respeite a liberdade do educando na construção de sua autonomia. Ressalta ainda o seu compromisso com as pautas democráticas dirigidas aos menos favorecidos, um dos objetivos da educação progressista, já que o ato de ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, em prol dos condenados da terra, como o próprio dizia.
Essa obra de Paulo Freire, de modo geral, é um exercício de provação ética. Nos mostra que é possível e necessário acreditar num mundo melhor transformado pela educação. A pedagogia deve ser ética em si mesma e respeitosa às experiências e saberes prévios do educando, desenvolvendo assim um ambiente propício à autonomia, à produção de conhecimento e à formação individual. Não se trata de uma formação no sentido de treinamento de atividades puramente tecnicista ao educando, mas o contrário disso. Freire adverte que o tom otimista e esperançoso com que redige o texto não deve ser entendido como ingenuidade ou inocência, mas sim como traços do seu comprometimento com a causa. É no geral um exercício pedagógico de alimentar a esperança e concretamente um guia para a coerência entre discurso e prática. Paulo Freire nos mostra a grandeza de nossa profissão, lê-lo é tomar um gole de autoestima.
No meu caso, foi a leitura certa no momento certo. Um prato cheio para lembrar-nos do nosso poder de ação no mundo e do nosso compromisso por um futuro menos desigual. Já dizia Freire que está errada a educação que não reconhece a raiva justa, que não se indigna com as desigualdades e que não promove transformação. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever. Não podemos, porém, pensar que a execução desse exercício é fácil. Exige disciplina, coerência, pesquisa e, sobretudo, autoestima e vontade de mudança. Quem escolhe agir por essa profissão, escolhe agir por todos, mesmo que alguns não a reconheçam como capaz.
João Victor da Silva Pedrozo – UNILA. E-mail: [email protected]
[IF]A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano | Edward E. Baptist
Não há dúvidas de que a escravidão moderna tornou-se um tema clássico dos debates historiográficos, sobre o qual foram produzidos um sem-número de obras, e que atualmente segue como tema de dissenso de livros, teses e pesquisas. O que é incomum em A metade que nunca foi contada, do norte-americano Edward Baptist, são os debates que este livro gerou para além da esfera acadêmica. Lançado em 2014 nos Estados Unidos, um ano depois da estreia do filme 12 Anos de Escravidão, a obra recebeu uma resenha negativa no jornal The Economist, por não ser uma “história objetiva”, ou científica o suficiente, pois caracterizava senhores de escravos sulistas do século XIX – e outros brancos que lucraram com a escravidão nesse período – como “vilões”, e os negros como “vítimas”. A resenha gerou tamanha polêmica que fez o jornal publicar uma nota de desculpas em uma tentativa de retratação. No entanto, esse foi apenas o epicentro de uma série de debates subsequentes que levaram Baptist e sua obra ao centro das atenções nas discussões sobre o escravismo estadunidense. Não por acaso: o formato escolhido por Baptist para a construção de seu argumento gerou debates historiográficos, os quais comentarei mais adiante, e também atingiu noções consolidadas da memória nacional dos Estados Unidos, assim como da memória sobre a expansão do capitalismo industrial.
Utilizando como fio condutor relatos biográficos de pessoas escravizadas, e cruzando estes relatos com uma variedade de fontes e dados (como cadernos de contabilidade, jornais, debates parlamentares e dados quantitativos mais amplos), Baptist constrói uma narrativa sobre o fenômeno do acirramento da escravidão produtora de algodão no sul nos Estados Unidos após sua independência. Esse acirramento caracteriza um novo tipo de escravidão, uma segunda escravidão [2], moldada para a extração exitosa de excedentes cada vez maiores desse trabalho, que por sua vez, argumenta Baptist, tiveram um papel central na expansão territorial do país, em seu desenvolvimento e no fortalecimento de investimentos e lucros. Em um escopo mais amplo, a nova forma de escravidão algodoeira foi também um pilar fundamental para o surgimento do complexo industrial têxtil da Inglaterra.
A escolha por enfatizar relatos biográficos expõe uma face dura da produção exponencial de algodão oitocentista: as técnicas de tortura, o desmembramento de relações familiares em migrações forçadas e a transfiguração de pessoas negras em mercadorias foram métodos integrantes do desenvolvimento econômico e do progresso da nação das liberdades individuais. Tais relatos se assemelham à narrativa do filme 12 Anos de Escravidão, baseado nas memórias de Solomon Northup, homem livre que foi sequestrado para trabalhar como escravo na Luisiana, cuja história também é citada na obra de Baptist. O livro adentra linhas teóricas e temas clássicos da história econômica, como trabalho e capitalismo, com recursos da história oral e debates sobre temas socialmente vivos [3], como relações raciais e de gênero. Torna-se evidente também a habilidade do autor em trabalhar com a esfera das relações políticas intrincadas, as disputas e pactos entre grupos políticos do norte e do sul dos Estados Unidos. É provável que a opção do autor por esse formato científico-narrativo, junto ao conteúdo chocante dos relatos de escravizados, tenham suscitado a acusação de falta de objetividade por parte da resenha do The Economist. Ou talvez, a crítica tenha partido da ideia de que eventos tão significativos na trajetória do capitalismo, como o desenvolvimento dos Estados Unidos e a Revolução Industrial, só se concretizaram por meio da acumulação gerada pela crueldade do trabalho escravo. Essa ideia, no entanto, não pode ser vista como alheia ao âmbito científico, constituindo um tema de extensos debates acadêmicos.
Existe um argumento central em A metade que nunca foi contada: a relação simbiótica entre a exploração dos corpos negros – e as formas de tortura desenvolvidas para tal – e a ascensão do capitalismo estadunidense de fins do século XVIII até a Guerra Civil, na segunda metade dos oitocentos. Tal argumento implica em dois pontos a serem analisados à luz da produção científica sobre o tema. O primeiro, no nível nacional, diz respeito ao papel do escravismo sulista na expansão do território e no desenvolvimento econômico do país como um todo. O segundo ponto é a relevância deste escravismo para a expansão industrial inglesa, seguido da pergunta: esta escravidão é capitalista? Tais questões colocam o livro de Baptist no âmbito da chamada Nova História do Capitalismo (NHC), que propõe a revisão dos padrões da história do capitalismo a partir das relações políticas e das experiências dos grupos subalternizados. Outros trabalhos semelhantes da NHC, lançados na mesma época, são Empire of cotton de Sven Beckert (2014) e River of dark dreams de Walter Johnson (2013). [4] Estes três livros foram, por vezes, criticados conjuntamente, por partirem de premissas semelhantes e por terem construído o campo em torno da tríade algodão-escravidão-capitalismo. A maior parte das críticas ao campo atinge um ponto em comum: influenciados pelo trabalho de Eric Williams, bem como pelas reinterpretações de Kenneth Pomeranz e Joseph Inikori, os trabalhos da NHC, especialmente A metade que nunca foi contada, teriam ignorado os argumentos da Nova História Econômica baseados em estudos cliométricos e dados empíricos. [5]
As críticas de Alan Olmstead e Paul Rhode aos aspectos empíricos do livro são das mais extensas. [6] Baptist cita a afirmação de Olmstead e Rhode sobre a quadruplicação da produtividade das fazendas de algodão entre 1800 e 1860, porém invalida a importância da inovação biológica das novas sementes nesse aumento, argumento central dos autores. A calibragem da violência por meio de um sistema de cotas crescentes, que punia escravos por não manterem seu ritmo de colheita, seria o principal motivo da produtividade crescente. O papel da violência foi questionado não apenas por Olmstead e Rhode, mas também por James Oakes, que afirma que Baptist generaliza um cotidiano de torturas que não corresponde à realidade, mas nem por isso as relações do escravismo foram menos cruéis.[7]
Baptist teria também negligenciado que a tese da centralidade do algodão já estava presente no trabalho de Douglass North, e que a Nova História Econômica (NHE) já teria apresentado argumentos contrários: a baixa relevância das exportações de algodão para o PIB, a menor lucratividade em relação ao milho, entre outros.[8] No geral, os números de que Baptist lança mão para sedimentar suas afirmações sobre a centralidade do algodão no desenvolvimento dos Estados Unidos são superdimensionados ou de origem incerta. Ainda que as críticas da cliometria não levem em consideração a complexidade política ou as relações sistêmicas do capitalismo, um engajamento maior com a produção historiográfica deste campo fortaleceria os argumentos do livro.
Um outro ponto de análise em A metade que nunca foi contada é o caráter capitalista da escravidão, especificamente da segunda escravidão do sul estadunidense. Em uma leitura mais tradicional de modos de produção, Eric Hilt questiona a existência de uma relação de dependência do norte em relação ao sul, e Oakes aponta para uma ambiguidade entre a escravidão e o trabalho livre, entre o atraso e a modernidade.[9] Tal ambiguidade dentro das mesmas fronteiras, afirma Oakes, teria sido o próprio estopim da Guerra Civil. Já para John Clegg, a escravidão da qual Baptist fala é capitalista, mas em razão das motivações e mentalidade dos senhores (razões endógenas), e não pela vitalidade de sua produção para a industrialização.[10]
Na realidade, Baptist não se preocupa em definir o capitalismo, mas em mostrar o quanto a escravidão foi necessária para o seu desenvolvimento. Ainda que primordialmente sua leitura seja delimitada por um Estado-nação, é importante levar em consideração a relação subjacente do escravismo algodoeiro com a Revolução Industrial. Gavin Wright aponta que, no período pré-Guerra Civil, as exportações do algodão sulista foram de grande importância para alimentar a indústria têxtil britânica, mas após a abolição tal demanda foi atendida por exportações da Índia, Egito e Brasil e, posteriormente, pela produção do trabalho livre estadunidense. Wright afirma que a relevância da escravidão foi caindo no quadro do capitalismo global, aproximando-se da segunda tese de Williams.[11] Isto significa que a perspectiva de causalidade entre escravidão e Revolução Industrial é frágil. Nas palavras de Dale Tomich: “Essa ‘segunda escravidão’ se desenvolveu não como uma premissa histórica do capital produtivo, mas pressupondo sua existência como condição para sua reprodução”[12]. Aqui surge outra questão: se a escravidão foi relevante, mas findou não por ambiguidades internas, e sim porque perdeu espaço no quadro mais amplo do capital, como ocorreu essa virada?
Algo que tanto Baptist quanto seus críticos podem considerar para responder esta e outras questões é a literatura da segunda escravidão brasileira, além dos trabalhos que se centram na presença imperial britânica na Índia e no comércio oriental. Oakes questiona se as plantations de algodão seriam o melhor lugar para analisar o capitalismo; mas se apenas analisarmos o capitalismo oitocentista em condições “ideais”, nitidamente lucrativas, explicitamente modernizantes e criadoras de tecnologia, não há espaço para entendermos as desigualdades produzidas pelo sistema em nível global. Para Baptist, a segunda escravidão nos Estados Unidos é um fenômeno observado no âmbito nacional e referente à demanda inglesa. Mas se considerarmos os estudos da Segunda Escravidão de Rafael Marquese e Tâmis Parron, o fenômeno da escravidão oitocentista não pode ser compreendido apenas nos Estados Unidos: sua integração com os escravismos cubano e brasileiro formam uma unidade, uma nova divisão do trabalho. Consequentemente, a íntima relação entre o escravismo norte-americano e o escravismo cafeeiro brasileiro moldou preços, gerou impactos recíprocos e formou alianças e conflitos que auxiliam a compreensão da abolição nos Estados Unidos.[13] Tanto a questão do caráter capitalista da escravidão quanto a conjuntura do escravismo sulista ganham novas nuances a partir destes debates.
Em relação à empreitada britânica no Oriente, John Darwin afirma que o desenvolvimento do Império Britânico origina-se na diversidade de relações estabelecidas em diferentes regiões de influência e domínio. Em um quadro de pressões geopolíticas em que a Inglaterra não era hegemônica, a busca pela inserção no comércio com a Índia, China, a antiga Anatólia e o Cáucaso permitiram que o Império Britânico se consolidasse como o entreposto “do comércio do Novo Mundo com o Velho – assim como para o comércio transoceânico entre Europa e Ásia até a abertura do Canal de Suez em 1869” [14]. Assim, a expressividade do fornecimento de matéria-prima estadunidense para as indústrias inglesas deve ser colocada em perspectiva para pensarmos o êxito da Revolução Industrial, já que a presença do Império no Oriente reconfigura o papel dos Estados Unidos para os ingleses.
A importância da escravidão algodoeira do século XIX para a formação dos Estados Unidos e sua integração aos interesses do capitalismo industrial em expansão são pontos importantes trazidos por Baptist e, ainda que sejam necessários ajustes e considerações mais consistentes, sua tese não pode ser descartada tão facilmente. A força de seus argumentos não está apenas nas narrativas e no alcance de sua obra para além dos limites do público acadêmico. Sua exposição traz à tona as contradições de estudiosos liberais, que acreditavam que o fim da escravidão norte-americana era inevitável frente ao progresso, e expõe a falta de diálogo entre as esferas econômica e política em estudos historiográficos prévios. A ampliação dos horizontes de sua obra para além do nacionalismo metodológico será um passo importante para revelar outras partes da história que ainda não foram contadas.
Notas
2. O autor faz menção ao conceito de Segunda Escravidão, de Dale Tomich, sem se aprofundar no mérito de suas premissas teóricas. No entanto, a influência do trabalho de Tomich se faz presente no livro. TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.
3. O termo faz alusão ao conceito de “questões socialmente vivas”, relativo a temas relevantes socialmente, assim como no campo de estudo historiográfico. LEGARDEZ, Alain; SIMONNEAUX, Laurence. L’école à l’épreuve de l’actualité: enseigner les questions vives. Paris: ESF, 2006.
4. BECKERT, Sven. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014; JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
5. Referência a tese sobre a centralidade do escravismo para a industrialização britânica em WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012; e suas atualizações em POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the Modern world economy. Princeton: Princeton University Press, 2000; e INIKORI, Joseph. Africans and the Industrial Revolution in England: a study in international trade and economic development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
6. OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul. “Cotton, slavery, and the New History of Capitalism”. Explorations in Economic History, v. 67, jan. 2018, pp. 1-17.
7. OAKES, James. “Capitalism and slavery and the Civil War”. International Labor and Working-Class History, n. 89, mar.-jun. 2016, pp. 195-220.
8. OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul, op. cit.
9. OAKES, James, op. cit.; HILT, Eric. “Economic history, historical analysis, and the ‘New History of Capitalism’”. The Journal of Economic History, v. 77, n. 2, jun. 2017, pp. 511-536.
10. CLEGG, John. “Capitalism and slavery”. Critical Historical Studies, set.-dez. 2015, pp. 281-304.
11. WRIGHT, Gavin. “Slavery and Anglo-American capitalism revisited”. In: EHS Annual Conference. Belfast, 2019. Disponível em <http://www.ehs.org.uk/multimedia/tawney-lecture-2019-slavery-and-anglo-american-capitalism-revisited>.
12. TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004, p. 87.
13. MARQUESE, Rafael Bivar de; PARRON, Tâmis. “Internacional escravista: a política da Segunda Escravidão”. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, 2011, pp. 97-117; e MARQUESE, Rafael Bivar de. “Estados Unidos, Segunda Escravidão e a economia cafeeira do Império do Brasil”. Almanack, Guarulhos, n. 5, 2013, pp. 51-60; PARRON, Tâmis. A escravidão na era da liberdade: Estados unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. FFLCH-USP, 2015.
14. DARWIN, John. The Empire Project: the rise and fall of the British world-system, 1830-1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 37.
Referências
BAPTIST, Edward E. A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano. São Paulo: Paz e Terra, 2019.
BECKERT, Sven. Empire of cotton: a global history. New York: Alfred A. Knopf, 2014.
CLEGG, John. “Capitalism and slavery”. Critical Historical Studies, set.-dez. 2015, pp. 281-304.
DARWIN, John. The Empire Project: the rise and fall of the British world-system, 1830-1970. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
HILT, Eric. “Economic history, historical analysis, and the ‘New History of Capitalism’”. The Journal of Economic History, v. 77, n. 2, jun. 2017, pp. 511-536.
INIKORI, Joseph. Africans and the Industrial Revolution in England: a study in international trade and economic development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
JOHNSON, Walter. River of dark dreams: slavery and empire in the cotton kingdom. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
LEGARDEZ, Alain; SIMONNEAUX, Laurence. L’école à l’épreuve de l’actualité: enseigner les questions vives. Paris: ESF, 2006.
MARQUESE, Rafael Bivar de. “Estados Unidos, Segunda Escravidão e a economia cafeeira do Império do Brasil”. Almanack, Guarulhos, n. 5, 2013, pp. 51-60.
MARQUESE, Rafael Bivar de; PARRON, Tâmis. “Internacional escravista: a política da Segunda Escravidão”. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, 2011, pp. 97-117.
OAKES, James. “Capitalism and slavery and the Civil War”. International Labor and Working-Class History, n. 89, mar.-jun. 2016, pp. 195-220.
OLMSTEAD, Alan; RHODE, Paul. “Cotton, slavery, and the New History of Capitalism”. Explorations in Economic History, v. 67, jan. 2018, pp. 1-17.
PARRON, Tâmis Peixoto. A escravidão na era da liberdade: Estados unidos, Brasil e Cuba, 1787-1846. Tese. FFLCH-USP, 2015.
POMERANZ, Kenneth. The great divergence: China, Europe, and the making of the Modern world economy. Princeton: Princeton University Press, 2000.
TOMICH, Dale. Through the prism of slavery: labor, capital, and world economy. New York: Lanham, Rowman & Littlefield, 2004.
WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
WRIGHT, Gavin. “Slavery and Anglo-American capitalism revisited”. In: EHS Annual Conference. Belfast, 2019. Disponível em <http://www.ehs.org.uk/multimedia/tawney-lecture-2019-slavery-and-anglo-american-capitalism-revisited>.
Fernanda Novaes – Universidade Federal Fluminense. Niterói – Rio de Janeiro – Brasil.
BAPTIST, Edward E. A metade que nunca foi contada: a escravidão e a construção do capitalismo norte-americano. São Paulo: Paz e Terra, 2019. Resenha de: NOVAES, Fernanda. O capitalismo no quadro escravista dos EUA e a modernidade industrial. Almanack, Guarulhos, n.23, p. 500-508, set./dez., 2019. Acessar publicação original [DR]
A história do embaixador Morgenthau: o depoimento pessoal sobre um dos maiores genocídios do século XX – MORGENTHAU (A)
MORGENTHAU, Henry. A história do embaixador Morgenthau: o depoimento pessoal sobre um dos maiores genocídios do século XX. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 314 p. Resenha de: SILVA, Rogério Fernandes. Antítese, v. 4, n. 8, jul./dez. 2011.
Demorou 92 anos para que a obra do embaixador dos Estados Unidos Henry Morgenthau fosse traduzida e editada em língua portuguesa. O livro cujo título em nossa língua é extremamente longo: “A história do embaixador Morgenthau: o depoimento pessoal sobre um dos maiores genocídios do século XX (Tradução de Marcello Lino)” diferente do título original em inglês “Ambassador Morgenthaus Story” bem mais simples. A obra é um dos documentos mais importantes do século passado, pois relata o início do extermínio étnico e cultural contra os cristãos armênios (1915-1923), inaugurando uma prática que, com o passar dos anos, seria conhecida através da palavra genocídio. A expressão surgida em 1944 gerou um termo que visava dar um estatuto jurídico específico aos crimes de guerra contra minorias étnicas, religiosas ou culturais na Segunda Guerra Mundial. O livro é dedicado ao presidente americano Woodrow Wilson (1912-1921), idealizador da Liga das Nações. A obra é dividida em 29 capítulos curtos, sendo os últimos um pouco mais longos, todos eles ricos historicamente. As 324 páginas passam rapidamente, pois o texto é elegante e de fácil compreensão. Pode-se dividir em apresentação em língua portuguesa dos tradutores, um pequeno prefácio do autor e o corpo do livro em duas partes principais. A primeira seria sobre a convivência de Henry Morgenthau com os políticos turcos. A segunda parte começa a partir do capítulo vinte e dois que está relacionada com o genocídio do povo armênio. Na segunda parte, estão muitos dos relatos dos massacres que foram feitos por missionários norte-americanos, pois ao chegarem à capital do império procuravam o embaixador para comunicar as atrocidades.
Diante das informações dessas fontes e de outras um quadro terrível de atrocidades começa a ficar nítido. Demorou um pouco até que a história das atrocidades armênias chegar à embaixada americana com todos os detalhes horríveis. Em janeiro e fevereiro, relatórios fragmentados começaram a surgir aos poucos, mas a tendência, no início, era considerá-los meras manifestações das desordens que haviam prevalecido nas províncias armênias por muitos anos. Quando chegaram de Urumia, tanto Enver quanto Talaat os descartaram como exageros descabidos […]. Naquele momento não estava claro, agora vejo que o governo turco estava determinado a esconderas notíciais do mundo exterior enquanto fosse possível (MORGENTHAU, 2010, p. 255).
Os dois principais grupos envolvidos nos massacres têm origens distintas. Primeiramente é preciso uma breve introdução eles. A nação Armênia fazia parte do Império Otomano. Uma nação de tradição milenar, com língua própria e cultura. São descendentes das tribos hurritas que vieram da Índia a partir do século XVIII a.C. Os armênios são, portanto, do ramo linguístico indo-europeu. Eles chegaram à Ásia Menor e lá se estabeleceram. No primeiro século de nossa era, segundo a tradição, a região foi evangelizada por Bartolomeu e Judas Tadeu, apóstolos de Cristo. Os dois foram martirizados na região, mas implantaram o cristianismo nas áreas montanhosas da Armênia. A nação teve uma história de numerosos martírios um forte indício da implantação a fé cristã na região. No ano de 301, a Armênia tornou-se o primeiro país do mundo a proclamar essa doutrina religiosa como religião de Estado.
Na formação do antigo Império Otomano e, consequentmente, da atual Turquia, o grupo étnico dos turcos seljúcida, ramo dos turcos oguzes, vieram da região onde hoje é o Turquestão, eram um povo guerreiro que aderiu a fé islâmica. A partir do século XI eles invadiram a Ásia Menor e converteram-se ao Islã, através da força, a maior de todos os habitantes desta região. Dominaram os povos de outras etnias, entre estes, os armênios. Em 1071, invadiram a região da Armênia e em 1300 chegaram à Anatólia, tomou todo o leste do Império Bizantino, Constantinopla no oeste caiu, no meado século XV, junto do que restava de tal Império.
Voltando à narrativa de Henry Morgenthau, norte-americano de origem judia, foi embaixador na Turquia no período da Primeira Guerra Mundial e presenciou uma das primeiras atrocidades promovida por um Estado-nação. A Alemanha, no início do século XX, levou a Bulgária, a Romênia e a Turquia a Primeira Guerra como aliadas, Morgenthau era na época embaixador norte-americano em Constantinopla. A obra em questão é um depoimento pessoal de quem conviveu com os políticos turcos, estes diretamente responsáveis pelo mais longo massacre do século XX. Cerca de um milhão e meio de cristãos armênios foram mortos a mando dos fundadores da Turquia moderna, um grupo que ficou conhecido como os Jovens Turcos.
O grupo dos Jovens Turcos pretendia modernizar a sua região de maneira autoritária: Essa afirmação representava o ideal dos Jovens Turcos para o novo Estado, mas era ideal que evidentemente estava além da capacidade de realização do grupo. As raças que foram maltratadas e massacradas durante séculos pelos trucos não podiam se transformar da noite para o dia em irmãs, e os ódios, ciúmes e preconceitos religiosos do passado ainda subdividiam a Turquia em uma miscelânea de clãs em guerra.
Acima de tudo, as devastadoras guerras e a perda de grandes partes do Império Turco haviam destruído o prestígio da nova democracia. Houve muitos outros motivos para o fracasso, mas não é necessário discuti-los neste momento (MORGENTHAU, 2010, p. 22). Os Jovens Turcos formaram um grupo político heterogêneo que pretendia reverter às perdas territoriais e esfacelamento do Império Otomano. Além de promover reformas constitucionais, muitas de caráter secular e pró-ocidente, e assim acabaram impondo suas idéias através de muito derramamento de sangue. Os principais articuladores, para Henry Morgenthau, foram Talaat Paxá, ministro do interior, o germanófilo Enver Paxá, ministro da guerra. Como Morgenthau os descreve? Apesar do ideal inicial dos Jovens Turcos, este acabar sendo deixado de lado por causa das prerrogativas do poder político. Eles não eram mais uma força política regeneradora, pois haviam abandonado qualquer expectativa de reforma. Talaat, Enver e Djermal (outro Paxá) tinham por detrás deles uma comissão de quarenta homens. Morgenthau chega a comparar os Jovens Turcos com gangues americanas, isto por causa do recurso do assassinato e “homicídio oficial” o governo turco não era bem visto pelas autoridades americanas da época.
O embaixador americano conviveu com os administradores do Império Otomano que usurparam o poder com um golpe. Esses homens pretendiam modernizar a nação que acreditavam estar em frangalhos depois de sucessivas derrotas militares.
Para tanto, o embaixador notou que a aproximação da Turquia com a Alemanha levaria o país, contando com capital alemão, a uma reestruturação. Os Jovens Turcos acreditavam na possibilidade de tornar-se uma potência regional graças à aliança com as nações da Europa central. Alguns vislumbravam o Império retornar a sua glória antiga e estender seu poder pelo mundo. Os dirigentes turcos estavam interessados na ajuda modernizadora dos germânicos e esses últimos na posição estratégica da Turquia, que poderia ser utilizada para ameaçar o Império Russo, em caso de guerra.
Como bom americano, o embaixador fala sobre a Doutrina Monroe de forma positiva, para ele foi ela que salvou o México da interferência francesa e faltou igual à Turquia, pois esta acabou nas mãos alemãs sem que nenhuma potência ocidental interviesse (Idem, p.33).
No caso do México, a ingerência desastrada do Imperados francês Napoleão III, na tentativa de estender a influência na América, implantou uma monarquia fantoche no México (1864–67). Com ajuda dos americanos esse governo foi derrubado e o imperador estrangeiro Maximiliano, arquiduque austríaco executado. A Doutrina Monroe podia ser resumida como “América para os americanos” que visava à interferência dos norte-americanos em caso de haver novas ações dos países europeus sobre as Américas. Essa ideologia possibilitou a reserva de mercado para os americanos e intervenções militares em vários países da América Latina.
Vale ressaltar que o primeiro capítulo do livro é dedicado a influência alemã sobre o Império Otomano e ao representante máximo desse poder: o embaixador barão Von Wangenheim, escolhido pessoalmente pelo Kaiser, representante perfeito dos preconceitos teutônicos, raciais e militaristas, em moda no império alemão. Von Wangenheim foi um dos maiores incentivadores da aliança turca com a Alemanha e ficou indiferente diante dos massacres. Para o embaixador americano, a atitude alemã e de seu embaixador no Império Otomano foram responsáveis pelo genocídio durante os anos da Primeira guerra Mundial. Ao descrevê-lo, Henry Morgenthau ressalta: “Ao escrever sobre Wangenheim, ainda me sinto afetado pela força de sua personalidade; […], ele era fundamentalmente impiedoso, despudorado e cruel.” (MORGENTHAU, 2010, p. 19). Consequentemente, Morgenthau via o embaixador alemão como seu antagonista perante a defesa de sentimentos humanitários, segundo ele, em uma terra governada por bárbaros.
A luta para assegurar a integridade dos estrangeiros pelo embaixador, junto às autoridades turcas foi titânica, pois os alemães as instigavam e manipulavam. No princípio dos combates o governo do Império Otomano já estava nas mãos da Alemanha. Os argumentos da oposição civilização versus barbárie foram usados diversas vezes por Morgenthau. A polidez do embaixador não permitia expressar sua opinião publicamente seus preconceitos sobre a cultura turca, que apesar de compreendê-la um pouco, via-os como “selvagens com sede de sangue” (MORGENTHAU, 2010, p. 200).
A época está relacionada à consolidação do Imperialismo, a disputa por mercados lucrativos levam as nações mais industrializadas a ocuparem regiões diversas pelo mundo. Os países europeus acabaram criando Uma das justificativas era que as colônias seriam tuteladas pelas nações mais adiantadas, por isso mais civilizadas.
Seriam como crianças bárbaras aprendendo a crescer como civilizações e o modelo seria a própria Europa Ocidental. No período que exerceu como embaixador em Constantinopla eclodiu a Primeira Guerra Mundial. As nações europeias já estavam há muito tempo em disputa pelas colônias mais lucrativas começam a combater umas as outras, o embate era ansiosamente esperado. O Antagonismo Inglaterra e Alemanha cresceu tanto que leva diversos países ao combate levando outros países com eles.
Porém, existia um medo de que elementos cristãos dentro do Império Otomano se aliar aos russos. A intenção de eliminar os armênios foi premeditadamente planejada com afinco pelos governantes turcos. Quando ocorre a Primeira Guerra Mundial os turcos aproveitam a chance: Para que aquele plano de assassinar uma raça fosse bem-sucedido, dois passos preliminares teriam de ser dados: seria necessário neutralizar o poder de todos os soldados armênios e privar de armas os armênios em todas as cidades e vilarejos. Antes que a Armênia pudesse ser massacrada, era necessário torná-la indefesa (MORGENTHAU, 2010, p. 237).
O governo turco resolveu deportar os armênios sobreviventes dos massacres iniciais, em sua maioria idosos mulheres e crianças e os forçaram a sair de suas casas e marcharem para o deserto, muitos só com as roupas do corpo. Forçados a voltar para sua terra ancestral foram expulsos das cidades e vilarejos, pois estavam espalhados por todo Império. Numerosos morreram no caminho de fome e exaustão; nessas marchas da morte as pessoas eram atacadas e mortas ou feitas prisioneiras para servirem de escravas.
Em vez de simplesmente massacrar a raça armênia, eles decidiram deportá-la. Nas seções sul e sudeste do Império Otomano fica o deserto sírio e o vale da Mesopotâmia […], e hoje uma terra estéril triste e desolada sem cidades, aldeias nem vida de qualquer espécie, povoada apenas por algumas tribos beduínas selvagens e fanáticas (MORGENTHAU, 2010, p. 242).
O autor conta detalhes quase íntimos da diplomacia envolvida e os planos dos embaixadores europeus em Constantinopla. Tramas políticas, movimentos militares, características culturais, físicas e psicológicas dos personagens, nada fica de fora da percepção de Morgenthau. Sua estadia propiciou um relacionamento muito próximo como os protagonistas políticos da região. E essa intimidade fora determinante para seu afastamento voluntario de Constantinopla e retorno aos EUA, não aguentava mais a companhia dos homens responsáveis por tantas mortes. Muitos desses políticos locais queriam que ele permanecesse como embaixador, mas: Meu fracasso em deter a destruição dos armênios transformou a Turquia em um lugar terrível para mim e considerava intolerável a minha associação diária com homens que, por mais gentis, […], ainda exalavam o cheiro do sangue de quase um milhão de seres humanos (MORGENTHAU, 2010, p. 296).
A impressão que fica é a de um Henry Morgenthau que se tornou em Constantinopla uma figura quase quixotesca lutando pelos seus ideais humanitários, porém, amargurado pela sua impotência. Os políticos turcos demonstravam afabilidade para com sua pessoa, mas dissimulavam que iriam resolver em favor dos armênios e continuaram com as mortes. O que o desanimou foi uma estrutura de poder antiga alicerçada na subjugação violenta, no ódio e na intolerância. Portanto, a leitura desse livro é de suma importância, pois nos ajuda a compreender o surgimento do genocídio no século XX, e a sua relação com o Estado-nação moderno. Esse tipo de eliminação em massa persistiu durante todo o século passado, mas ainda ameaça persistir e continuar a desenvolver-se nos tempos atuais.
Rogério Fernandes da Silva – Professor de rede pública da cidade de Maricá e Estadual do Rio de Janeiro, especialista em História do Brasil. E-mail: [email protected].
A História do Embaixador Morgenthau: O Depoimento Pessoal sobre um dos Maiores Genocídios do Século XX | Henry Morgenthau
Dizer que de forma unitária ou coletiva o homem é capaz de crueldades não revela nenhuma novidade, praticamente toda a história humana é salpicada de lutas cruentas, guerras e genocídio desde o momento em que a pedra foi lascada e o ferro se transformou em seta. O livro de Kenneth Waltz, O Homem, o Estado e a Guerra, havia procurado investigar as reais motivações da natureza humana que conduzem o homem à violência, mas sem concluir, com fórmulas apressadas e mecânicas, como a de que o homem é necessariamente mal (Waltz, 2004). Isto porque se a humanidade produziu seres como Hitler, do outro lado, ela é também foi capaz de criar Martin Luther King e Tereza de Calcutá. No fundo, tudo depende da correlação de forças políticas e morais que conformam o mundo para a guerra e para paz.
A violência humana, expressada em guerras, genocídios e lutas gerais, nos acompanha até a atualidade, citemos Ruanda e ex-Iugoslávia nos anos 1990. Se a Primeira Guerra Mundial revelou o empenho “profissional” para aprimorar a morte por meio de invenções, já a Segunda o aprofundou e o sistematizou por intermédio de estudos e enquadramentos burocráticos que fez com que Hannah Arendt escrevesse livro para compreender como ocorreu a racionalidade da morte em mentes burocratizadas que cumpriram seu dever na eliminação de judeus em campos de concentração, como Adolf Eichmann (Arendt, 1999). Leia Mais
A história nos filmes, os filmes na história – ROSENSTONE (RBH)
ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes, os filmes na história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. 262p. Resenha de: SANTIAGO JÚNIOR, Francisco das Chagas Fernandes. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.30, no.60, 2010.
Há pouco mais de dez anos, quando comecei a pesquisar sobre a relação história e cinema, havia pouca coisa publicada no Brasil: pouquíssimas obras traduzidas, alguns textos introdutórios teórico-metodológicos e uns poucos artigos. Lembro que, mesmo para um pesquisador iniciante, as considerações dos historiadores sobre o cinema e os filmes pareciam travadas, até “medrosas”, quando não hostis à reflexão histórica contida na imagem fílmica. Considerei, na época, que devia ser um “mal brasileiro”, que nos Estados Unidos e na França os historiadores já haviam resolvido algumas das questões referentes à existência da visão cinematográfica da história. A falta de traduções e a qualidade das reflexões seriam reflexos de nosso provincianismo.1 Estava enganado.
O novo livro do historiador canadense Robert Rosenstone, A história nos filmes, os filmes na história, lançado no Brasil em 2010, trouxe velhas questões sobre a visão cinematográfica da história para o primeiro plano. O texto oferece um painel das dificuldades que os historiadores criam quando lidam com cinema. Esta resenha pretende expor a importância do livro e, ao mesmo tempo, apontar a “hesitação” que ainda acompanha a reflexão sobre as relações entre história e cinema.
Rosenstone era um historiador das revoluções sociais quando, desenvolvendo um trabalho sobre o jornalista John Reed,2 tornou-se “consultor histórico” (numa época em que essa expressão não tinha significado firmado) na realização da cinebiografia Reds (1981), sobre a vida do autor de Os dez dias que abalaram o mundo. Foi quando o canadense começou a se inteirar das discussões sobre cinema e história. Seus trabalhos posteriores tornaram-se conhecidos no Brasil por meio de algumas poucas traduções em periódicos como Olho da História,3 e pelos comentários de estudiosos como Mônica Almeida Kornis, Cristiane Nova e Jorge Nóvoa.4 A história nos filmes, os filmes na história é a primeira tradução brasileira de uma obra completa desse importante e polêmico autor.5
Embora o livro chegue com atraso, como quase sempre ocorre com publicações sobre o tema no Brasil, o que surpreende é perceber que em 2006, quando History on Film/Film on History foi publicado nos Estados Unidos, Rosenstone ainda se via obrigado a defender a legitimidade das interpretações cinematográficas da história. Hoje, em dissertações, teses, artigos e capítulos de livros, o filme é tido como importante temática do campo historiográfico, mas a leitura cinematográfica da história parece ter sido tragada, segundo o autor, pela associação do filme com o que os historiadores escreviam em seus escritos. A tese subjacente do canadense é que a “correspondência” à fidelidade histórica viciou a reflexão historiográfica sobre cinema.
Incorporando contribuições de Hayden White, Rosenstone se apresenta como historiador pós-moderno interessado na renovação da narrativa e das perspectivas teóricas da historiografia por meio da incorporação de novos estilos de argumentação e escrita. Porém, em vez de qualquer defesa do relativismo sua ideia é demonstrar como a existência de diferentes discursos sobre o passado (como os presentes nas películas), mais do que dinamitar verdades, criam versões alternativas da história.
O livro visa compreender se é possível um filme oferecer uma reflexão histórica comparável à da historiografia, se um cineasta pode ser considerado um historiador e se o cinema é uma forma alternativa de articular o passado. Na sua perspectiva, assim como o conhecimento histórico possui regras, estilos e investigação específicos, a mídia visual também tem seus próprios critérios e circunstâncias de produção da história – ao historiador cabe reconhecer a existência, legitimidade, diferença e influência das representações da história produzidas pelas fitas.
O volume é composto de nove ensaios dedicados a vários tópicos. Após um capítulo breve de introdução, o segundo texto realiza preciosa revisão bibliográfica sobre como, na comunidade histórica norte-americana (e um pouco na francesa), a representação cinematográfica da histórica começou a ser pensada pelos historiadores. O início do livro é dedicado a evidenciar a formação de um campo de investigação que teria surgido comprometido com a preocupação dos historiadores em relação à fidelidade histórica nos filmes. A maioria dos textos resenhados tende a recusar às fitas a possibilidade de articular reflexões históricas (exceção principalmente de Marc Ferro e Natalie Zemon Davis). Rosenstone aponta que é preciso reconhecer que o filme, diferente da historiografia, não possui a fidelidade entre suas regras de produção, mas isso não prejudica a capacidade fílmica de condensar, nas suas formas plásticas, a história. O autor defende o entendimento das “regras de interação do longa-metragem dramático com os vestígios do passado – e começar a vislumbrar o que isso acrescenta ao nosso entendimento histórico”.6
O canadense lembra que a película trabalha por invenções, condensações, compressões, alterações e deslocamentos de elementos do passado para montar a própria interpretação do passado. Esse raciocínio conduz todas as reflexões do livro nos capítulos seguintes, explorando a construção de interpretações cinematográficas do passado nos dramas comerciais, dramas inovadores, cinebiografias, documentários etc. Talvez o capítulo mais instigante seja o sétimo, com o tema do cineasta como historiador. Refletindo sobre realizadores como Oliver Stone, o historiador ressalta que alguns cineastas obcecados e oprimidos pela pressão do passado “continuam voltando a tratar do assunto fazendo filmes históricos, não como fonte simples de escapismo ou entretenimento, mas como uma maneira de entender como as questões e os problemas levantados continuam vivos para nós no presente” (p.172-174). Não seria difícil encontrar tal qualidade de realizador no Brasil, de Silvio Tendler a Carlos Diegues, demonstrando que a memória e a história envolvem questionamentos sociais atuantes no cinema também.
Para defender sua tese, Rosenstone opera dois deslocamentos: primeiro distingue o filme histórico do filme cuja trama se ambienta em um período histórico qualquer (os dramas de época), afirmando que aquele constrói interpretações sobre a história que rivalizam com a da historiografia. Segundo, evidencia que as películas, de fato, lidam com os vestígios do passado de maneira singular. A representação cinematográfica da história não é uma questão de fidelidade ao passado, mas de uma forma midiática que cria com aquele sua própria relação.
A história nos filmes, os filmes na história, porém, não conclui a reflexão iniciada. Preocupado com a construção da legitimidade do objeto, deixa seu discurso num nível superficial, executando um livro importante, mas que rejeita o passo seguinte a ser tomado. Para defender que a questão da “história nos filmes” diz respeito à forma como a linguagem visual lida com o passado, Rosenstone acaba reduzindo a relação com o passado e seus vestígios à construção de interpretações articuláveis num enredo – aqui se vê seu débito com
o conceito de “historiofotia” de Hayden White, grosso modo a representação da história no discurso imagético e fílmico (p.44). Entretanto, o que fica evidente em seu texto é que compreender como o cinema se relaciona com o passado e o constrói é passível de se tornar um tópico da própria teoria da história, envolvendo além das interpretações enredadas, a configuração de orientações na experiência do tempo.
Se o objetivo da teoria da história é refletir sobre o que os historiadores fazem quando fazem história,7 o livro de Rosenstone hesita ao não explorar a relação do campo historiográfico com o campo cinematográfico no que se refere à construção de relações com os vestígios do passado e com a concepção de passado e de tempo. Esse tema tem sido explorado por teóricos do cinema, mas ignorado pela maioria dos historiadores.8 O canadense até menciona a questão rapidamente, mas logo abandona o assunto (p.233).
Obviamente, não era o objetivo do autor aprofundar os quesitos aqui levantados. Ao final da leitura de A história nos filmes, os filmes na história fica o desejo pela constituição de um tópico de investigação que contemple as relações do campo historiográfico com as formas visuais de experimentações, orientações e interpretações socialmente atuantes do passado, principalmente quando alimentadas pela energia investigativa de espíritos como Oliver Stone, Sergei Eisenstein ou Silvio Tendler. Elas apontam relações diretas com a indagação do tempo histórico numa perspectiva visual, a maneira pela qual ocorre a distinção entre passado e futuro em sua relação com o presente, dos quais nos falam teóricos como Reinhart Koselleck.9
Hoje há uma considerável reflexão sobre os filmes como fonte e meio de pesquisa, no entanto, a proeza maior de Rosenstone é apontar a inclusão, entre os tópicos da teoria da história (e não apenas da metodologia) de uma sistematização da relação história-cinema-passado. Essa importante reflexão, que já gerou excelentes frutos na problematização literatura-história, ainda aguarda desenvolvimento para o cinema. Estaria essa lacuna relacionada com a dificuldade dos historiadores em enfrentar o que significa ter concorrentes nas construções da memória e da história sociais, quando estes são poderosos como as mídias visuais das quais o cinema é apenas um exemplo? A questão fica em aberto.
Notas
1 FERRO, Marc. Cinema e história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993, [ Links ] era praticamente a única tradução significativa, embora houvesse textos nacionais. Outras obras importantes permanecem longe do mercado editorial, desde textos de Rosenstone e Ferro até Michel Lagny, Pierre Sorlin, Natalie Zemon Davis, Tom Gunning, Andre Gaudreault, Richard Allen, Thomas Elsaesser etc.
2 ROSENSTONE, Robert. Romantic revolutionary: a biography of John Reed. New York: Alfred A. Knopf, 1975. [ Links ]
3 ROSENSTONE, Robert. História em imagens, história em palavras: reflexões sobre as possibilidades de plasmar a história em imagens. O olho da história, Salvador, v.1, n.5, p.105-116, 1997. [ Links ]
4 Ver KORNIS, Mônica Almeida. História e cinema: um debate metodológico. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v.5, n.10, p.237-250, 1992; [ Links ] NOVA, Cristiane. O cinema e o conhecimento da história. O olho da história, Salvador, v.2, n.3, p.217-234, 1996; [ Links ] NOVA, Cristiane. A história diante dos desafios imagéticos. Projeto história, São Paulo: PUC/SP, v.21, p.141-162, 2000. [ Links ]
5 Em 2009 foi traduzido mais um artigo: ROSENSTONE, Robert. Oliver Stone: historiador da América recente. In: FEIGELSON, Kristian; FRESSATO, Soleni Biscouto; NOVOA, Jorge (Org.). Cinematógrafo: um olhar sobre a história. São Paulo: Ed. Unesp; Salvador: Ed. UFBA, 2009, p.393-408. [ Links ]
6 ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes, os filmes na história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010, p.54. [ Links ]
7 Alusão ao título da dissertação: ASSIS, Arthur O. A. O que fazem os historiadores quando fazem história? A teoria da história de Jörn Rüsen e Do Império à República, de Sérgio Buarque de Holanda. Dissertação (Mestrado) – UnB. Brasília, 2004. [ Links ] Ver, ainda, RÜSEN, Jörn. A razão histórica: teoria da história, os fundamentos da ciência histórica. Brasília: Ed. UnB, 2001. [ Links ]
8 Exemplar nesse sentido é a reflexão algo pessimista de JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 1997. O autor cita Jameson rapidamente na página 23. [ Links ]
9 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-RIO, 2006. [ Links ]
Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Departamento de História. BR 101, Km 01, Lagoa Nova. 59078-970 Natal – RN. [email protected].
O interesse e a regra: ensaios sobre o multilateralismo | Gelson Fonseca Junior
O conjunto de ensaios sobre o multilateralismo reunido pelo embaixador Gelson Fonseca Jr em “O interesse e a regra” revelam as preocupações do autor sobre o papel a ser cumprido pela Organização das Nações Unidas na ordem internacional do século XXI. O livro é dividido em um artigo central, inédito, escrito depois de o autor ter deixado suas funções na ONU, e outro cinco artigos escritos há mais tempo, já publicados, que dialogam com o texto principal na medida em que tratam de temas que muitas vezes se cruzam e se complementam.
O artigo central discute a importância da referência de legitimidade emanada das Nações Unidas na dinâmica de contraposição constante que existe entre os interesses particulares dos Estados nacionais e o conjunto de regras e normas construído na arena multilateral. A busca pela legitimidade das ações internacionais dos estados nacionais no palco global é que faria a mediação entre o particular e o universal, entre a vontade individual e a norma multilateral. No texto, rico em exemplos históricos, fruto da vasta experiência do autor enquanto diplomata e estudioso das relações internacionais, o autor esquiva-se de se referenciar exclusivamente a uma linha teórica para entender o fenômeno do multilateralismo onusiano. Embora parte do artigo seja dedicada a desenvolver as idéias de John Ruggie, perspectivas funcionalistas, construtivistas e realistas alternam-se ao longo do texto. Frente à complexidade e à diversidade dos temas analisados, essa escolha se converte em um trunfo do artigo. Leia Mais
A Nova Configuração Mundial do Poder | Gilberto Dupas, Celso Lafer e Carlos Eduardo Lins da Silva
Qualquer analista que pretenda interpretar a política internacional contemporânea não deve ignorar dois eventos que marcaram a história recente e o debate intelectual entre o final do século XX e o início do XXI: o pós Guerra Fria e os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001. Compreender a dinâmica internacional alheio a estes fatos parece inimaginável, tamanha a relevância e o impacto tanto para a (re)configuração da ordem, quanto para os esforços de sistematização de seu significado e consequências para a atualidade.
Conscientes deste imperativo é que os organizadores de A Nova Configuração Mundial do Poder – Gilberto Dupas, Celso Lafer e Carlos Eduardo Lins da Silva -, reuniram em uma obra vinte artigos que problematizam o cenário internacional à luz desses acontecimentos de nossa história recente. Leia Mais
Nem Todo o Petróleo é Nosso | Sérgio Xavier Ferolla
Sérgio Xavier Ferolla é engenheiro pelo ITA e brigadeiro-do-ar. Paulo Metri também é engenheiro e presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. Os dois autores procuram fazer aquilo que há muito se faz na produção acadêmica internacional, sublinhar com fortes traços para deixar claro que os assuntos energéticos não são, e nunca foram, separados dos interesses políticos dos Estados, sobretudo àqueles qualificados como grandes potências. Claro, não que o pesquisador brasileiro desconheça essa assertiva. Mas digamos que o tema não alcançara tanta evidência como passou a ter a partir de 2003 e 2006. Há quatro anos por causa da entrada norte-americana no Iraque. E há um ano em virtude dos acontecimentos que envolvem a produção de gás natural na Bolívia de Evo Morales. Tanto uma questão, quanto a outra está ligada, em grande parte, à segurança energética.
No livro Nem Todo o Petróleo é Nosso, com prefácio de Carlos Lessa, Ferolla e Metri fazem um balanço histórica da política energética brasileira no que corresponde ao petróleo. O tema do petróleo passou a ser observado a partir da Constituição de 1934, no primeiro governo de Getulio Vargas, como amostra das preocupações que aquele estadista apresentava para o equilíbrio político e econômico do Brasil. Os dois engenheiros são da opinião de que aquele governo saído da Revolução de 1930 fora sensível com a sorte do Estado brasileiro ao perceber que assuntos energéticos, o que valia para todos os outros minerais também, não poderiam ser vislumbrados sem o acompanhamento do poder público nacional. Leia Mais
Transformação e Crise na Economia Mundial | Celso Furtado
Em fins de 2006, a Editora Paz e Terra lançou, em forma de livro, dez artigos de Celso Furtado, escritos ao longo dos anos sessenta, setenta e oitenta do século passado, sobre economia mundial. Especificamente, os artigos concentram-se nas modificações do cenário externo após o fim da segunda grande guerra mundial. Sobre o fio condutor destes textos, que contém, de modo geral, as mesmas idéias-força desenvolvidas de modo distinto ao longo dos anos em que escrevia, Furtado escreve:
“A idéia central, desenvolvida ao fio de dois decênios, é simples: as modificações políticas causados pelo segundo conflito mundial conduziram à integração dos mercados das economias capitalistas industrializadas, reduzindo a capacidade reguladora dos estados-nacionais, e aumentando a autonomia de ação das grandes empresas. (p.9-10)” Leia Mais
Mais malandros. Ensaios tropicais e outros | Kenneth Maxwell
Talvez por sua consolidada reputação no país como especialista na história do império português e dada a ambigüidade do título desse seu último livro publicado no Brasil, essa coletânea de ensaios do historiador inglês Kenneth Maxwell não desperte entre os estudiosos das relações internacionais e da política externa brasileira a atenção que a obra merece. O título Mais malandros. Ensaios tropicais e outros parece fazer sentido apenas se a obra for entendida como sucedânea de outra coletânea de trabalhos do autor, publicada no país em 1999, intitulada Chocolate, Piratas e outros malandros. Ensaios tropicais (Paz e Terra). Os vinte e seis ensaios reunidos em Mais malandros foram, em sua maioria, publicados no extinto site NO (Notícia e Opinião) e no Caderno Mais da Folha de São Paulo, sendo os demais publicados em periódicos estrangeiros.
Se Maxwell é conhecido como autor, entre outros, de uma interpretação clássica da Inconfidência Mineira (A devassa da devassa, Paz e Terra, 1977), de uma biografia definitiva do Marquês de Pombal (Pombal: paradoxo do Iluminismo, Paz e Terra, 1996) e de uma provocativa interpretação da Revolução dos Cravos, ainda inédita no Brasil (The making of Portuguese Democracy, Cambridge University Press, 1995), a prazerosa leitura do trabalho aqui resenhado confirma a erudição e a vastidão dos interesses do autor, o que, por si só, já valeria a empreitada. Contudo, em Mais malandros destacam-se também a sagacidade e o pendor heterodoxo do autor na articulação de seu amplo conhecimento histórico a eventos sociais e políticos contemporâneos, tecedura essa usualmente evitada pelos historiadores. Leia Mais
Política externa da Primeira República: os anos de apogeu (1902 a 1918) | Clodoaldo Bueno
Nas últimas décadas, o grande historiador Clodoaldo Bueno vem se destacando como um dos mais abalizados sobre a política externa brasileira, fenômeno que agora se repete com o lançamento de sua mais nova obra. Esta já surge como leitura essencial para os que militam no campo da história das relações internacionais, uma vez que o autor, demonstrando amplo conhecimento do tema em questão, narra, de forma celebrável, o desenrolar da formulação da política externa nos anos seguintes à década do nascedouro da República brasileira. O prefácio do professor Amado Luiz Cervo fala por si: a obra “compõe, ademais, a tríade de obras hoje indispensáveis ao conhecimento da evolução da política exterior durante a denominada República Velha”, juntamente com outro livro de Bueno, A República e sua política exterior, 1889-1902 (São Paulo: Ed. Unesp, 1995) e a Tese de Doutorado defendida por Eugênio Vargas Garcia, Entre América e Europa: a política externa brasileira na década de 1920 (Universidade deBrasília, 2001).
Apresentando recorte temporal de 1902 a 1918, Bueno seduz o leitor com a forma que o argumento principal de seu livro é exposto. Tendo como desafio principal “reconstruir o sistema de idéias de Rio Branco” (p. 23), o autor a ele dedica a parte mais longeva da obra, sem que haja, no entanto, a ausência de uma correta exploração da formulação da política externa brasileira nos anos que antecederam e precederam a chancelaria do Barão (1902-1912). Leia Mais
A Utopia Arpada – rebeliões de pobres nas matas do Tombo Real (1832-1850) | Dirceu Lindoso
LINDOSO, Dirceu. A Utopia Arpada – rebeliões de pobres nas matas do Tombo Real (1832-1850). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. Resenha de: FERRAZ, Maria do Socorro. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.21, n.1, p. 333-336, jan./dez. 2003.
Os primeiros anos do século XXI: o Brasil e as relações internacionais contemporâneas | Paulo Roberto de Almeida
A área acadêmica das relações internacionais no Brasil não carece de manuais de estudo, recentemente publicados Há manuais apresentando a disciplina do ponto de vista do Brasil, além de outros manuais traduzidos de línguas estrangeiras. O livro em questão do diplomata Paulo Roberto de Almeida não conforma um manual no sentido clássico do termo para atender às necessidades dos muitos cursos de relações internacionais que apareceram nos últimos anos em nosso país. Mas ele corresponde a uma aproximação do que se espera seja a discussão dessa problemática a partir das preocupações e dos problemas brasileiros.
Paulo Roberto de Almeida tem se distinguido, desde o começo dos anos 1990, por uma produção constante e de reconhecida qualidade no campo da história diplomática e das relações internacionais do Brasil. Em novembro de 2001, coroando uma já longa lista de livros anteriores sobre o Mercosul ou a política exterior do Brasil (que ele divulga em seu website pessoal: www.pralmeida.org), Paulo Almeida lançou um grosso volume de pesquisa histórica sobre os fundamentos da diplomacia brasileira na área econômica: Formação da diplomacia econômica no Brasil: as relações econômicas internacionais no Império (São Paulo: Senac-Funag, 2001), que faz o balanço da inserção econômica internacional do Brasil ao longo do século XIX. Leia Mais
Um estudo crítico da história – JAGUARIBE (RIHGB)
JAGUARIBE, Helio. Um estudo crítico da história. São Paulo: Paz e Terra, 2001. Resenha de: RODRIGUES, Lêda Boechat. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v.163, n.414, p.227-239, jan./mar., 2002.
Lêda Boechat Rodrigues – Sócia emérita do IHGB.
[IF]O longo amanhecer – Ensaios sobre a formação do Brasil – FURTADO (AN)
FURTADO, Celso. O longo amanhecer – Ensaios sobre a formação do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. Resenha de: SANTOS, João Henrique dos. Anos 90, Porto Alegre, v.9, n.15, p.153-155, 2001.
João Henrique dos Santos – Pós-Graduando em História na UNESP/ASSIS.
Acesso apenas pelo link original
[IF]
A construção do Terceiro Mundo. Teorias do subdesenvolvimento na Romênia e no Brasil | Joseph L. Love
Como os economistas e outros autores de persuasão estruturalista do desenvolvimento têm teorizado os complexos e comuns problemas do atraso ou subdesenvolvimento na Europa centro-oriental e na América Latina e Caribe (durante o século XX), em comparação com as economias centrais, industrializadas e capitalistas do Ocidente, parece ser a questão central que orienta o recente trabalho do destacado historiador norte-americano Joseph L. Love.
Joseph Love é professor da Universidade de Illinois (EUA), especialista em história contemporânea e regional do Brasil. Seus primeiros trabalhos sobre a história de Brasil datam da década de 1970. Love oferece-nos no momento um sólido trabalho de pesquisa que podemos localizar especificamente no âmbito da história das idéias. De maneira mais específica, estamos diante de um estudo sobre a evolução das idéias do desenvolvimento em duas regiões consideradas atrasadas. Também as características e os fatores que definem a condição periférica e, ainda, a recuperação das contribuições dos autores romenos, brasileiros e de outras nacionalidades são postas em evidência. O conjunto é utilizado para compreender, interpretar, atuar e, eventualmente, sugerir vias de superação da situação de subdesenvolvimento econômico, sócio-político e tecnológico, no contexto de expansão do sistema capitalista mundial. Leia Mais
Uma História do Brasil – SKIDMORE (HE)
SKIDMORE, Thomas. Uma História do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. Resenha de: JOANILHO, André Luiz. Para inglês (e brasileiro) ver. História & Ensino, Londrina, v. 5, p. 165-168, out., 1999.
Inicialmente escrito para um público norte-americano, Uma História do Brasil, Paz e Terra, 1998, deve ser lido pelos brasileiros. Sem a necessidade de filiação com determinadas linhas de interpretação da nossa História, Skidmore pôde apresentar uma narrativa geral sobre a nossa formação e, mais ainda, traçar uma rota para compreendê-la.
A questão fundamental para o autor é perceber como foi possível constituir uma identidade nacional num país que apresenta características de formação tão disparatadas e aí está o seu grande mérito.
Se uma das nossas maiores preocupações em relação ao estrangeiro é passar uma imagem de civilidade, este livro, justamente, nos mostra como podemos ser percebidos e compreendidos por alguém de fora, que busca ir além dos estereótipos, explicando-os. Assim, podemos perceber a extensão do que somos, ou melhor, de como somos explicados a um público de cultura média e, no caso, norte-americano.
É evidente que, se procuramos análises complexas por parte do autor, não as teremos, e aí está outro dos grandes valores do livros. Sem a necessidade de linguagem rebuscada, Skidmore apresenta um quadro claro e bastante elucidativo da nossa formação. Isto é possível justamente por estar livre de filiações acadêmicas ou linhas interpretativas da nossa História. Percebese que o texto não rende homenagens a este ou àquele pensador nacional, pois a preocupação de Skidmore é a possibilidade de síntese para um público que desconhece querelas acadêmicas, o que dá fluidez ao texto, sem cair em simplificações.
Skidmore identifica bem a nossa situação racial ao centrála na figura do mulato. Este, expoente de uma sociedade multirracial que se constituiu durante o período colonial, teve ascensão social limitada, mas significativa, praticamente inviabilizando a separação legal entre as raças. O racismo da elite branca se revela mais “sutil” do que o da elite norteamericana. A idéia de “branquear” a população através da imigração européia é parte constitutiva da ideologia da sociedade multirracial.
O autor percebe em parte esta trajetória, mas acredito que faltou compreender um pouco melhor o espírito da “Casa Grande” na qual a aparência é fundamental-um grande fazendeiro nunca aceitou rótulos negativos sobre a sua conduta ou condição social, logo faz de tudo para se promover e aparentar.
Desse modo, o mito multirracial não é só fruto de cruzamentos, é também formas da elite aparentar cordialidade, bondade, preocupação com os pobres e também poder, pois os mulatos, muitos filhos bastardos de grandes proprietários, não podiam ser deixados à míngua, logo lhes eram arranjadas colocações junto à administração pública, uma maneira de estender o poder da Casa Grande em direção à esfera do espaço público.
Essa expressão da nossa elite e, porque não, da nossa sociedade, é difícil de ser notada por alguém que não vivencia tal experiência. A explicação de Skidmore é bem americana: “ocorreu que uma constante carência de mão-de-obra européia nos escalões mais altos da força de trabalho brasileira deixou abertas algumas oportunidades de trabalho para negros livres, que eram bem mais numerosos no Brasil colonial do que na América do Norte colonial” e corretamente acrescenta: “não se deve concluir daí que o Brasil estava livre de preconceito” (pág. 42).
Ora, essa certa ascensão do mestiço, para Skidmore, aliviou as tensões raciais até os nossos dias, o que não é de modo algum satisfatório. É necessário um sistema ideológico e de constituição do social que assegure, além das condições econômicas, a situação racial e, no nosso caso, a situação das classes. Não que exista engano na observação do autor, mas ela não é suficiente. Um sistema que apresenta como representação social a possibilidade das diferentes culturas se manifestarem, a ideologia da democracia racial, são elementos constitutivos das relações interaciais.
A parte esta questão, a narrativa de Skidmore, longe de ser inédita, privilegia junto com as questões de formação, a trajetória política do nosso país e é justamente aqui que o livro se mostra muito interessante. A necessidade de síntese leva o autor a nos fornecer quadros amplos e bastante compreensivos acerca dos acontecimentos de nossa História. A análise do período militar é particularmente profícua nesse sentido. Os mais críticos verão um quadro simplificado, mas tendo em vista os objetivos da obra, o que o autor nos apresenta é uma descrição sintética sem perder o gosto explicativo.
Enfim, é uma obra que deve ser lida, pois ao evitar filiações, pode nos apresentar um painel instrutivo e de fácil leitura da nossa História.
André Luiz Joanilho – Professor Adjunto da UEL e do Programa Associado de Pós-Graduação em História UEM/UEL.
[IF]
Comércio/ Desarmamento/ Direitos Humanos: reflexões sobre uma experiência diplomática | Celso Lafer
Desde o final dos anos 60, quando publicou um artigo pioneiro nesta mesma Revista (“Uma interpretação do sistema das relações internacionais do Brasil”, RBPI, Rio de Janeiro: ano 10, nºs 39/40, 1967, p. 81-100), o professor e empresário Celso Lafer tem sido uma das presenças mais constantes, se não a mais freqüente, na bibliografia brasileira de relações internacionais. Gerações de estudantes das universidades e da academia diplomática (o Instituto Rio Branco do MRE) debruçaram-se sobre seus artigos e livros, dali retirando reflexões inovadoras sobre o papel do realismo e do idealismo na política internacional, lições enriquecedoras sobre as desigualdades intrínsecas entre as nações na ordem política e na economia internacional, sobre a situação do Brasil no comércio internacional, bem como contribuições de alto sentido filosófico e moral sobre a defesa dos direitos humanos e das causas humanitárias em um mundo em mudança. Mas Celso Lafer não apenas desempenhou-se como intelectual de grande brilho nas lides acadêmicas; ele também exerceu seu talento na gestão prática das relações internacionais e na política exterior do Brasil, retomando com isso uma herança familiar, pois que é sobrinho do falecido político Horácio Lafer, que foi ministro da Fazenda do segundo Governo Vargas e Chanceler de Juscelino Kubitschek. Leia Mais
A Legitimidade e outras Questões Internacionais: Poder e Ética entre as Nações | Gelson Fonseca Júnior
Em seu livro A legitimidade e outras questões internacionais: poder e ética entre as nações, Gelson Fonseca Jr apresenta artigos resultantes de sua experiência ao longo dos últimos quinze anos como professor de Teoria de Relações Internacionais no Instituto Rio Branco. Sendo assim, o que se pode esperar do livro, e o que o livro realmente trás, é um conjunto de ensaios bastante intrigantes a respeito dos mais variados temas, tendo, contudo, na questão da legitimidade internacional seu ponto central (a ela, Fonseca Jr dedica dois artigos específicos).
Sendo fruto de sua experiência como professor, nada mais natural do que o fato de os textos contidos em A legitimidade assumirem um tom fortemente didático, mantendo Fonseca Jr um estilo que beira a conversação informal da sala de aula, sem, no entanto, perder o ar sério e professoral que marca os seus escritos. Leia Mais
Argentina y Brasil: enfrentando el Siglo XXI | Felipe A. M. de la Balze || Processos de integração regional e sociedade: o sindicalismo na Argentina/ Brasil/ México e Venezuela Hélio Zylberstain, Iram J. Rodrigues e Maria S. P. de Castro || MERCOSUL: direito da integração | Ana C. P. Pereira || Sistema de Solução de Controvérsia no MERCOSUL: perspectivas para a construção de um modelo institucional permanente | Luizella G. B. branco || A ordem jurídica do MERCOSUL | Deisy F. L. Ventura || MERCOSUL: acordos e protocolos na área jurídica |
A produção acadêmica e a literatura especializada sobre os processos de integração regional na América Latina e, em especial, sobre o Mercosul e o processo Brasil-Argentina, parecem finalmente estar encontrando, no Brasil, uma “velocidade de cruzeiro”. As obras que são discutidas a seguir tratam todas dos desafios jurídicos, político-institucionais e econômicos da construção da integração regional, demonstrando que, se a sua marcha econômico-comercial adota o estilo andante-veloce, o ritmo jurídico-institucional conhece, por motivos diversos, um certo compasso de espera. Se os teóricos e “juristas” da integração impacientam-se com a “resistência anticomunitária” dos burocratas governamentais, os empresários, agricultores e sindicatos operários manifestam visível preocupação com uma certa “pressa livre-cambista” que vigoraria sobretudo no vizinho do Prata.
É precisamente da Argentina que nos vem o primeiro dos livros compulsados neste artigo-resenha, aliás o único da meia dúzia de obras aqui discutidas, confirmando plenamente a fama de boa qualidade analítica dos estudos publicados na outra margem do Prata. Ele foi organizado por Felipe de la Balze para o CARI, o Conselho Argentino de Relações Internacionais. Leia Mais



