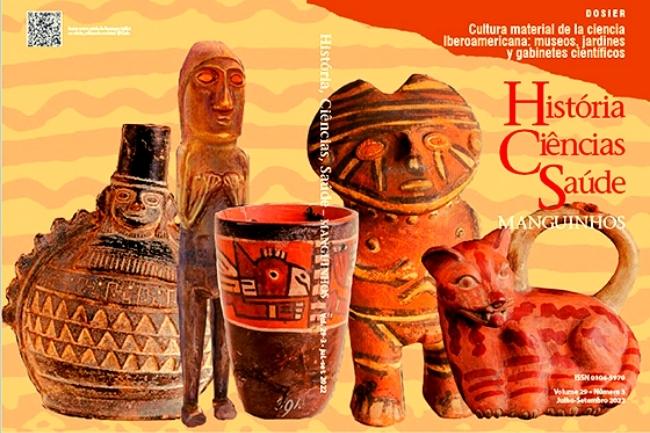Posts com a Tag ‘Ciências’
Cultura material de la ciencia Iberoamericana: museos, jardines y gabinetes científicos | História, Ciências, Saúde – Manguinhos | 2022
Capa de História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro, v.9, n.3, jul./set. 2022.
Recientemente, historiadores de la ciencia en Iberoamérica han empezado a reflexionar sobre el papel y la participación de la región en la ciencia global. Han destacado su rol en la construcción progresiva de una cultura científica materializada a través de diversos agentes e instituciones públicas. Hemos querido tomar parte en estas reflexiones mediante la presentación de un dossier sobre la cultura material de la ciencia en este espacio geográfico concreto.
El simposio “Visual, Material and Sensory Cultures of Science”, organizado dentro del 9th Conference of the European Society for the History of Science, llevado a cabo entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre de 2020 en Bolonia, Italia, fue la instancia de colaboración e intercambio de ideas que dieron vida a cada uno de los artículos que aquí se presentan. Con la producción de este dossier, esperamos fortalecer una red de investigadores regionales sobre los estudios de historia de la ciencia y su proyección a diferentes temas como la producción, circulación e intercambio de colecciones, artefactos y conocimientos en torno a gabinetes, museos, instituciones educativas y científicas en América Latina y la Península Ibérica. Leia Mais
Lecturas del historiador. Ciencias y humanidades | José Alfredo Uribe Salas
Una reseña es un texto conciso en el que se examina una obra reciente para que cobre conocimiento público. En el caso de los historiadores, reseñar libros es un ejercicio necesario que implica un acercamiento a los saberes y experiencias del autor de una obra, pero también una actividad que permite cuestionar y reflexionar sobre los propios desarrollos disciplinares. Leia Mais
As ciências na história das relações Brasil-EUA | Mgali Romero Sá, Dominichi Miranda de Sá e André Felipe Silva
Organizado pelos pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz Magali Sá, Domichi Sá e André Silva, As ciências na história das relações Brasil-EUA reúne textos que analisam as conexões estabelecidas entre esses dois países tendo como ponto de partida projetos e redes de pesquisa que sinalizam como a diplomacia cultural foi, muitas vezes, também científica. Interesses econômicos e políticos não estão apartados nessas narrativas, sinalizadoras das múltiplas convergências que marcaram essas relações ao longo do século XX. Os 17 capítulos que integram o livro compõem esse recorte temporal amplo, assim como os campos de investigação que são eleitos para análise: agronomia, medicina, física, genética, antropologia, ciências sociais, biologia, entre outros.
Desse modo, o primeiro capítulo trabalha com uma perspectiva de aproximação dos EUA a partir da retórica do pan-americanismo, tomando como objeto as narrativas do Boletim da União Pan-americana do começo do século XX, enquanto o segundo analisa a expedição Roosevelt-Rondon (1913-1914). Já o último capítulo examina a constituição e a institucionalização do campo da biologia da conservação e os projetos a ele relacionados durante a segunda metade do século XX. As diferenças temporal e disciplinar se refletem no modo como os vocabulários pelos quais essas relações se estabeleceram também foram mudando de significado. Assim a “natureza” dos boletins da União Pan-Americana ou da viagem de um Roosevelt “aventureiro” e “caçador” (Sá, Sá, Silva, 2020, p.59) não é a mesma dos projetos de conservação desenvolvidos em parceria pelos ambientalistas, brasileiros e estrangeiros. Entre uma natureza e outra, cabe ao leitor estabelecer uma linha por vezes impossível de ser definida, porque heterogênea em suas associações. O mesmo pode ser dito se tomarmos a Amazônia como elemento aglutinador de alguns dos capítulos. Leia Mais
As ciências na história das relações Brasil-EUA | Magali Romero Sá, Dominichi Miranda de Sá, André Felipe Cândido da Silva
Os 17 artigos desta coletânea têm como tema o relacionamento entre Estados Unidos e Brasil na área técnico- -científica sobretudo a partir da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em 1942. Desde 1933 os Estados Unidos vinham implementando a “política de boa vizinhança” com os países da América Latina, estabelecendo diferentes formas de colaboração diplomática, econômica e militar, para limitar a influência dos países do Eixo na região. A partir de 1940-1941, o governo americano estabeleceu o Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, dirigido pelo milionário Nelson Rockefeller, para conduzir essa política, sobretudo na área cultural. O Brasil vinha se mantendo neutro até então, mas, finalmente, não resistiu à pressão e entrou na guerra do lado americano. A partir daí o relacionamento entre os dois países se estreitou, com a instalação de duas bases militares norte-americanas em Natal; um esforço sistemático de produção de matérias-primas, sobretudo a borracha, mas também outros minerais e alimentos, para apoiar o esforço de guerra americano; o acordo para a construção da Usina de Volta Redonda e de reequipamento das forças armadas brasileiras; e a preparação da Força Expedicionária Brasileira para participar do teatro de guerra europeu. Leia Mais
Philosophy of experimental Biology – WEBER (SS)
WEBER, Marcel. Philosophy of experimental Biology. Cambridge: University Press Cambridge, 2005. Resenha de: ESPOSITO, Maurizio. Marcel Weber y la filosofía de la biología experimental: la cultura material de las ciencias entre pasado y futuro. Scientiæ Studia, São Paulo, v.15, n. 2, p. 489-498, 2017.
En principio no era la palabra, sino la acción, sostenía el Fausto en la famosa obra de Goethe. No hay mejor referencia para introducir este nuevo enfoque que, a partir de los años 1980, caracteriza la historia y filosofía de las ciencias (cf. Knorr-Cetina, 1981; Pickering, 1992). Es decir, la idea que la actividad experimental no se sigue simplemente de la necesidad de poner a prueba hipótesis bien formuladas, sino tiene una vida autónoma e independiente de la especulación teórica. Hacer experimentos no significa solo acertar teorías, sino también aprender a contener errores en la intervención sobre artefactos y entidades naturales y, al mismo tiempo, generar protocolos aptos a producir y controlar nuevos fenómenos. Además, la introducción de nuevas tecnologías, nuevas técnicas experimentales y nuevas herramientas, hacen posible el desarrollo de nuevos conceptos, teorías e hipótesis. En este sentido, la actividad experimental toma una importancia primordial en la generación y modificación del conocimiento científico. Si la acción puede ser anterior a la palabra, a la teoría o al razonamiento formal, la reflexión filosófica sobre la actividad experimental debe desprenderse de muchos de los análisis clásicos en filosofía de la ciencia, los cuales se han concentrado en los aspectos lógicos o conceptuales de la empresa científica.
El libro de Weber se debe situar en esta tradición que, durante más de tres décadas, produce trabajos que analizan las relaciones entre manos y mentes, técnicas e ideas, materias y formas. El autor decide juntar dos temas raramente relacionados por los filósofos de la ciencia: el experimentalismo y la filosofía de la biología. Si la última, como sub-disciplina de la filosofía de la ciencia, ha sido ampliamente dominada por temas conceptuales (principalmente ligados a la teoría evolutiva), el autor extiende considerablemente su alcance. En lugar de enfocarse en discusiones sobre niveles de selección, leyes evolutivas, genes egoístas o cooperativos, el autor se mueve entre el análisis del descubrimiento del ciclo de Krebs a la teoría de la fosforilación oxidativa y otros casos relativos a la genética molecular, neurobiología y biología del desarrollo. El análisis detallado de casos específicos, sostiene Weber, consiste en explorar diferentes dimensiones pragmáticas de la formulación de conceptos y teorías y, al mismo tiempo, permite mostrar cómo enfocarse en la cultura experimental puede tener un impacto relevante sobre algunos temas tradicionales de la filosofía de la ciencia (desde el reduccionismo a la naturaleza de la explicación).
Ahora, más que una reseña crítica del libro, el presente texto tiene también otra ambición; al reflexionar sobre algunos temas que Weber introduce en el libro, se pretende presentar algunas tareas pendientes, que, en mi opinión, son importante para el desarrollo de una nueva filosofía de la cultura experimental. De hecho, para entender una ciencia como la biología, cada vez más dependiente de las tecnologías, y estrechamente relacionada con artefactos de laboratorio, es necesario revisar detenidamente muchos de los asuntos inherentes a la filosofía de la ciencia tradicional. Más allá de la crítica convencional, ahora rutinaria y en mi opinión largamente descarriada, del empirismo lógico y racionalismo crítico, se requiere una reflexión seria sobre qué significa generar y justificar conocimiento derivado directamente de la actividad experimental y el trabajo de Weber nos lleva en esta dirección. En general, podemos dividir el libro en dos partes. Una parte más tradicional y una parte que enfrenta temas que solo recientemente han generado un cierto interés en la comunidad de los filósofos de la ciencia. Por un tema de espacio e interés me concentraré principalmente en la segunda parte, aunque mencionaré brevemente, por razones de claridad, el contenido de la primera.
Weber empieza su discusión analizando algunos temas clásicos en filosofía de la ciencia: reduccionismo, la naturaleza de la explicación, y la relación entre teoría y evidencia. La discusión toma sus primeros cinco capítulos, los cuales mezclan descripciones de casos históricos en las ciencias biológicas con sofisticados análisis filosóficos. Me parece que hay por lo menos tres conclusiones muy relevantes que mencionar: primero que en las ciencias experimentales en biología, el enfoque reduccionista es preponderante. Sin embargo, el reduccionismo de los experimentalistas no tiene mucho que ver con la teoría nageliana de la reducción inter-teórica, sino con la aplicación de teorías y leyes físico-químicas a sistemas muy específicos y bien delimitados. La tarea del científico experimental no es, por lo tanto, reducir una teoría de nivel superior a una teoría de un nivel más básico, sino entender las relaciones causales en un sistema a través de un análisis manipulativo de sus elementos básicos (p. 49). Otra conclusión que me parece notable es la idea que la justificación de una hipótesis en el contexto de la biología experimental no toma la forma inductiva clásica de añadir evidencia relevante a través de modelos bayesianos (o no bayesianos), sino de controlar posibles errores adentro de un mismo sistema experimental, a saber, eliminar ambigüedades y posibles artefactos, así como reducir las explicaciones posibles respecto a un fenómeno dado (p. 122-3). Finalmente, la tercera conclusión que quiero señalar es la idea que no existe una lógica única para la generación de nuevas teorías en biología experimental. No hay un algoritmo racional que pueda guiar al investigador en la formulación de hipótesis fundamentadas, sino que cada disciplina provee sus propias reglas y sus propios procedimientos experimentales y conceptuales de validación. Esto, por supuesto, reduce las ambiciones racionalistas de ciertas filosofías, sin embargo, no excluye la posibilidad que haya racionalidades intrínsecas a cada disciplina que busquen obtener resultados rigurosamente probados. No hay racionalidad universal pero tampoco arbitrariedad general. La primera y segunda conclusiones me parecen originales y heurísticamente abiertas a nuevas discusiones. La tercera conclusión concuerda perfectamente con lo que han mostrado los historiadores de la ciencia en las últimas décadas.
A partir del capítulo 5 del libro, Weber introduce algunos de los temas principales del llamado “nuevo experimentalismo”. Aquí entramos en el terreno de los estudios más recientes en historia y filosofía de las ciencias. Aunque algunos lectores pueden encontrar ciertas dificultades para conectar la primera parte con la segunda, la idea general del autor, me parece, es que la nueva filosofía de la ciencia, más historicista y menos interesada a los procesos lógicos de justificación teórica, se pueda complementar con la visión anterior, más tradicional. En otras palabras, no hay una contradicción necesaria entre un enfoque analítico e historicista, sino una relación virtuosa. Los mayores interlocutores que Weber elige en su discusión son Ian Hacking, Robert Kohler y Hans-Jorg Rheinberger. La crítica que Weber instaura en contra de estos autores me parece muy instructiva y útil para entender algunos de las implicancias de una nueva filosofía experimental de las ciencias naturales. Es decir, el estatus de las entidades teóricas involucradas en la actividad experimental (Hacking), las metáforas empleadas para describir la misma actividad experimental y sus objetos de investigación (Kohler) y la contingencia, presumida o real, de los sistemas experimentales y, por lo tanto, de los conocimientos teóricos ligados a esos últimos (Rheinberger). Por un motivo de orden argumentativo, empezaré con Kohler y terminaré con Hacking, aun cuando este no sea el orden de Weber.
En su libro clásico, Lord of the fly, Drosophila genetics and the experimental life (1994), Kohler propone una interpretación sociológica de la actividad experimental en biología. Si hay un paradigma ideal de la biología experimental moderna, ese es el laboratorio de Thomas Hunt Morgan y su organismo modelo: la Drosophila. Kohler usa conceptos económicos y tecnológicos no solo para describir las acciones experimentales, sino para definir la misma Drosophila, la cual se ve como una herramienta ideal capaz de producir miles de secuencias genéticas. El “organismo-herramienta”, para cumplir su función de manera eficiente, es meticulosamente moldeado y producido a través de múltiples cruces. Ahora, precisamente porque la Drosophila de Morgan no se encuentra en su estado natural, sino que es un producto artificial de laboratorio (un artefacto), el organismo puede ser definido como una tecnología productiva de conocimiento. Sin embargo, Weber encuentra que las metáforas económicas y tecnológicas kohlerianas tienen límites importantes. Los organismos no se pueden ver o definir como herramientas porque, (a) no son construcciones propiamente humanas, sino el resultado de su intervención y, (b) a diferencia de un instrumento de medición, son ellos mismo los objetos de investigación (p. 170). Por lo tanto, las metáforas de Kohler no nos pueden iluminar realmente sobre el papel epistémico de los organismos experimentales. Mejor hablar, Weber sugiere, de “experimentación preparativa”; es decir, la preparación del material de investigación (lo cual puede incluir células, organismos, proteínas) y los conocimientos para manipular estos objetos (p. 174). En otras palabras, el conjunto de técnicas, entidades y herramientas, las cuales prevén un tiempo de aprendizaje y elaboración, se puede definir como “experimentación preparativa”. Estos recursos o acciones son la condición para que la investigación propiamente tal (producción de teorías y justificación de nuevas hipótesis) pueda desplegarse. En este sentido, la generación de Drosophilas aptas a exigencias experimentales específicas no se debe ver en términos de producción de herramientas de investigación, sino como un momento dentro de un proceso de “experimentación preparativa”.
Lo que encuentro problemático en la propuesta de Weber es, primero, su a-historicidad y, segundo, su definición muy estricta de “herramienta”, vista simplemente como un objeto inorgánico creado por los seres humanos con funciones muy específicas (sextantes, detectores de ondas gravitacionales, microscopios o computadores). Sin embargo, ¿Por qué no considerar que la Drosophila es, al mismo tiempo, un objeto y una herramienta de investigación? Es un objeto que, como organismo, conserva un cierto grado de autonomía. Pero también una herramienta, visto el alto grado de intervención humana que esta entidad contiene y su lugar estratégico y pragmático adentro de un sistema productivo de conocimiento. Esta no es simplemente una discusión escolástica sobre el estatus ontológico de un objeto de laboratorio. La discusión cruza un tema tremendamente relevante para la cultura experimental moderna; a saber, la relación co-productiva entre artefacto y objeto natural y, más en general, entre naturaleza y artificio. Si Abraham Trembley o Lazzaro Spallanzani hacían experimentos sobre organismos que no eran seleccionados previamente, los organismos modelos del siglo xx son entidades altamente intervenidas. Debido a lo anterior, pienso que las metáforas de Kohler son heurísticamente interesantes, dado que evidencian una novedad histórica sustancial. Es decir, el objeto de experimentación en el siglo xx es, él mismo, un artificio (o casi). De aquí se origina una tarea de investigación novedosa y relevante: ¿Cuál es y cómo cambia la frontera entre artefacto y hecho natural en el contexto del experimentalismo? ¿Cómo y en qué medida los científicos establecen y negocian estos límites? ¿En qué sentido un lugar extremadamente artificial como un laboratorio, puede producir hechos naturales? En relación a esto, creo que hay una pregunta filosófica más difícil y profunda: ¿Cómo podemos creer en la independencia de los hechos naturales cuando estos últimos solo emergen a partir del uso interactivo y continuado de herramientas artificiales? En suma, me parece que mientras la solución de Weber es una descripción a-histórica de la actividad experimental que no permite apreciar las novedades de las prácticas experimentales del siglo xx, la propuesta de Kohler abre una serie de preguntas relevantes sobre la unicidad del experimentalismo contemporáneo.
Muchas de estas preguntas atraviesan directamente el trabajo de Rheinberger sobre los sistemas experimentales del siglo xx. Sin embargo, el foco de interés de Rheinberger no es el famoso laboratorio de Morgan, sino el laboratorio de Paul Zamecnik al Massachusetts General Hospital en Boston (ver Toward a history of epistemic things de 1997). El análisis detenido de la investigación sobre la síntesis in vitro de las proteínas lleva a Rheinberger a considerar la distinción entre teoría y práctica como una abstracción innecesaria. En realidad, cuando observamos el trabajo de uno o más científicos en un laboratorio, la práctica y teoría se compenetran y confunden constantemente en un movimiento dialéctico constante. La actividad experimental no está necesariamente guiada por hipótesis formuladas de antemano, sino de un conjunto de ideas y acciones que, en interacción con las tecnologías disponibles, producen resultados inesperados. La investigación científica, en este sentido, no se ve simplemente como un conjunto de preguntas bien formuladas que un sistema experimental permitiría contestar. Investigar científicamente significa explorar un espacio abierto de manipulaciones posibles dentro de un sistema experimental dado. En otras palabras, resultados, ideas, y teorías están directamente relacionadas con las posibilidades abiertas por los sistemas experimentales. Estos últimos, por lo tanto, permiten el surgir de determinados conocimientos. Nuevas prácticas, nuevas tecnologías, herramientas e incluso nuevos organismos modelos, producen las condiciones históricas y cognitivas para que se puedan formular nuevas preguntas, representaciones y modelos. Una de las consecuencias poco digerible para muchos epistemólogos en búsqueda de fundamentaciones más sólidas, es la relación directa entre la contingencia de los sistemas experimentales y los conocimientos que derivan de aquellos. Si miramos o interactuamos con el mundo solo a través de un sistema experimental, lo cual es el producto de un conjunto de contingencias históricas ¿Cómo podemos saber que estamos interactuando con las mismas entidades al cambiar sistemas experimentales? Después de todo, se podría sostener que por cada sistema experimental haya diferentes entidades detectadas o producidas. Entonces ¿Cómo podemos salvaguardar la objetividad científica? Antes de explorar esta última pregunta, revisaré algunos otros problemas que Weber encuentra en la propuesta de Rheinberger.
Weber identifica 4 defectos generales: (1) el análisis de Rheinberger no nos permite entender cómo las controversias se cierran; (2) no nos indica en qué sentido podemos decir que un sistema experimental es un buen sistema (eficiente y fiable); (3) no especifica cómo se establece la existencia de las entidades teóricas y (4) y no aclara cómo se originan realmente los conceptos y teorías (p. 148). Para obviar estas dificultades, Weber propone integrar la propuesta de Rheinberger apelando a una discusión metodológica que revise las normas epistémicas que están detrás de muchas decisiones prácticas y conceptuales de los científicos. Sin embargo, el origen de las normas epistémicas – las cuales deberían guiar y establecer cuándo y cómo un sistema experimental sea fiable, cuándo y cómo un resultado sea válido y definitivo, y bajo cuáles criterios se puede atribuir existencia a una entidad teórica – no es algo que los filósofos puedan decidir de antemano (a priori), sino que requiere de un trabajo empírico parecido a la misma metodología científica. Es decir, en línea con una tradición filosófica consolidada que va desde Neurath y Quine hasta nuestros días, Weber propone naturalizar las normas epistémicas. La pregunta que surge a partir de la propuesta de Weber es si un trabajo de “naturalización” de las diversas normas epistémicas permitiría realmente solucionar los 4 problemas mencionados anteriormente. De hecho, creo que aquí surge una tensión relevante entre un enfoque (o ambición) historicista-descriptivo y un enfoque normativo-analítico (aunque con tendencias naturalistas). Una tensión que a mi parecer no encuentra una solución en el texto de Weber.
Ahora, para Rheinberger no existe ciencia sin lugar y el conjunto de elementos (históricos, materiales, sociales etc.) que constituyen este lugar están directamente conectados con el tipo de conocimiento que se produce. Esta perspectiva historicista tiene sus consecuencias: no hay leyes sobre el origen de las teorías científicas, así como no hay leyes sobre el origen de los estados-nación o sobre la producción de novelas biográficas. No hay manera de saber, de antemano, cómo una controversia se cierra, así como no hay reglas a priori que nos hubieran permitido saber, de antemano, si Federico el grande iba a ganar la batalla de Leuthen en contra del más poderoso ejército austriaco. No hay meta-reglas que nos puedan indicar, de manera inequívoca, cuando un sistema experimental es fiable o eficiente porque esto depende de las expectativas contextuales de lo que se debe entender con fiabilidad, eficiencia y precisión (el reloj marítimo H4 de John Harrison, alguna vez considerado muy eficiente y preciso, sería considerado poco fiable en los tiempos del GPS). No hay reglas generales para establecer, de manera incontrovertible, cuándo tenemos buenas razones para creer que una entidad teórica realmente existe, porque esto depende de las técnicas y tecnologías disponibles para detectar esas entidades. Empero, si los científicos no poseen meta-reglas incontrovertibles, sí poseen un conjunto de heurísticas falibles y revisables que los guíen en la producción de conocimiento fundamentado. Sin embargo, estas heurísticas, son históricamente determinadas y formuladas (explícita o implícitamente) para solucionar los desafíos experimentales contingentes, y considerados relevantes en un dado momento. Ahora, aunque no podamos formular meta-reglas generales, esto tampoco implica la convicción que todo vale, según una abusada máxima relativista. Los sistemas experimentales, así como los instrumentos tecnológicos, son “máquinas” tremendamente sofisticadas que nos permiten interactuar de manera muy exitosa con el mundo. Y estas “máquinas” funcionan solo en circunstancias dadas y según los objetivos (logrados en mayor o menor medida) de una determinada comunidad científica. No todo vale para construir un interferómetro, así como no todo vale para desarrollar las herramientas y capacidades para sintetizar proteínas en vitro. La contingencia histórica, entonces, no es ni sinónimo de irracionalidad ni de relativismo. La contingencia se debe relacionar al conjunto de circunstancias no necesarias (pero suficientes) que hacen posible la emergencia de determinados tipos de conocimientos. El trabajo filosófico e histórico consiste entonces en señalar cómo y cuándo estas circunstancias se generan y sus conexiones con las creencias y prácticas científicas de una época. Esta no es una novedad ni un límite de las propuestas historicistas. Es el punto central de la tradición francesa de la epistemología histórica así como varias de las versiones de sociologías del conocimiento, las cuales, en cierto sentido, tienen mucha afinidad con una perspectiva naturalista: es decir, observar cómo los seres humanos producen y justifican conocimiento (aunque, por supuesto, con un enfoque más cercano a las ciencias humanas que a las ciencias naturales).
Si los problemas o límites que Weber examina en la propuesta de Rheinberger son, en realidad, consecuencias de la misma epistemología histórica, el problema filosófico del realismo científico es de un orden diferente. Quiero abordar el problema a través de la pregunta anteriormente mencionada: ¿cómo salvaguardar la objetividad en la investigación científica? Después de todo, detrás de los sistemas experimentales, de las actividades prácticas y teóricas, detrás de las herramientas y de las creencias, detrás de las normas epistémicas hay algo que se resiste a nuestras solicitudes. Algo que emerge a través de nuestras pruebas y manipulaciones. En otras palabras, hay cosas. Objetos con características específicas (genes, moléculas, electrones etc.) que dejan huellas, señales, datos. Este es el tema que se relaciona directamente con la propuesta de Hacking. En los años 80, en un texto ahora clásico titulado Representar e intervenir (1983), Hacking observó que la cultura experimental tiene vida autónoma de la actividad teórica. Sin embargo, las entidades teóricas que los experimentalistas emplean adquieren realidad en virtud de su uso exitoso dentro de un sistema experimental: “si puedes rociar electrones, entonces ellos son reales” es el refrán condensado que expresa bien la idea de Hacking, quien defiende una postura anti-realista hacia las teorías, aunque se profese realista en relación a las entidades teóricas (como un electrón). La propuesta de Hacking ha sido ampliamente criticada y Weber se sitúa exitosamente en esta corriente escéptica. Como justamente él hace notar, si analizamos bien el argumento de Hacking, es difícil no llegar a la conclusión que el argumento experimentalista es una nueva versión del bien conocido argumento realista del “no-milagro”. Es decir, sería un milagro si teorías exitosas que proveen predicciones extremadamente precisas no tuvieron alguna correspondencia efectiva con la realidad. Entonces, reformulando el argumento de Hacking, se puede sostener que sería un milagro que, si podemos usar los electrones exitosamente en diferentes contextos experimentales, estos no existieran. Sin embargo, el argumento del no-milagro ha sido ampliamente rechazado, puesto que la historia de la ciencia está llena de ejemplos de teorías predictivas que han sido sucesivamente refutadas.
Hay, por supuesto, otros matices problemáticos del argumento de Hacking que no voy a mencionar detenidamente por razones de espacio. Weber, por ejemplo, nota que usar exitosamente los electrones en contextos experimentales requiere más manejo teórico de lo que Hacking estaría dispuesto a conceder. Pero, más allá de la lista de las fallas argumentativas del argumento hackiano, quiero llamar la atención sobre un punto que me parece muy importante para el experimentalismo en general, es decir, una filosofía de las ciencias experimentales es intrínsecamente realista y materialista, pero en un sentido muy específico. De hecho, la falla principal del argumento hackiano es pretender fundamentar el realismo científico respecto a las entidades manipuladas cuando, en realidad, el ejercicio experimental ya presupone la convicción que las entidades involucradas en nuestras intervenciones existan. Me parece que deducir una postura realista del experimentalismo es equivalente a la pretensión de inferir el principio de uniformidad de la naturaleza de la práctica inductiva. Así como la inducción presupone la creencia que la naturaleza es, en cierto sentido, uniforme, el experimentalismo supone la existencia de las entidades que se manejan, aunque se ignore los detalles de lo que se está manejando. Ni la inducción ni el experimentalismo pueden probar que hay un mundo externo uniforme y equivalente a nuestras descripciones. El ejercicio de la inducción y el experimento solo pueden justificar el asentimiento epistémico para creer que fumar produce cáncer al pulmón o que los electrones existen. En suma, para que haya manipulación en un sentido literal (manipulus del latín se puede entender como “lo que uno puede abarcar con la mano”) se debe presuponer la existencia de un objeto intervenido, aun cuando este objeto no esté exhaustivamente definido. Un experimentalista anti-realista, respecto a las entidades que manipula, se aproxima peligrosamente a un oxímoron. ¿Qué significa dudar de la existencia de las ondas electromagnéticas mientras estamos construyendo un interferómetro?
Volviendo al tema de la objetividad en relación a los sistemas experimentales, ¿Cómo podemos saber que estas entidades teóricas que manejamos tan exitosamente no son, en realidad, artefactos producidos por los mismos instrumentos de detección? La respuesta es que nunca podemos estar seguros. Sin embargo, una de las características principales de los sistemas experimentales es de poseer protocolos o estrategias aptas a contener errores y detectar, en la medida de lo posible, artefactos. No hay nada de mejor y, probablemente, nuestra inquietud a buscar una mejor fundamentación se debe a una excesiva expectativa filosófica. Pienso que si nos deshacemos de la idea inconsistente de epistemología sin sujeto y, al mismo tiempo, si eliminamos de nuestro vocabulario filosófico nociones teológicas como la de “Verdad”, podemos aceptar la idea que los resultados experimentales son consecuencia de acciones y decisiones que responden, antes de todo, a criterios de funcionalidad y eficiencia. De hecho, la ventaja que nos ofrece una filosofía de la ciencia experimental es la posibilidad de pensar en un realismo de tipo pragmático que evita fácilmente lo que Sellars llamaba el mito de lo dado y, al mismo tiempo, prescinde de la obsesión filosófica tradicional según la cual la actitud científica principal es representar, de manera real o aproximada, un mundo independiente. Una filosofía atenta a las actividades experimentales puede mostrar que conocer “científicamente” no significa simplemente representar un mundo autónomo de nuestras actividades cognitivas, sino transformar o producir el objeto bajo investigación y, por lo tanto, dominarlo y sujetarlo. Conocer experimentalmente significa teorizar a través de la práctica y actuar a través de la especulación. Entonces, una filosofía que observe detenidamente los movimientos de un técnico en su laboratorio puede mostrar que la epistemología no es simplemente una disciplina que justifica determinadas creencias o actos cognitivos, sino un conjunto de reflexiones filosóficas que pertenecen a la historia de la labor humana; al ensamble de interacciones, esfuerzos y trabajos que han llevado a la domesticación progresiva de largas porciones del mundo natural. Como observaba Bacon, la ciencia no pertenece ni a las hormigas ni a las arañas (empiristas y racionalistas), sino a las abejas, las cuales transforman y destilan los materiales que recogen de las flores. Conocer, para Bacon, así como para los experimentalistas, implica un momento esencial de transformación material del mundo. En consecuencia, el anti-realismo no es algo que pueda inquietar mucho a los experimentalistas. Esto es un tema que solo puede agitar a los filósofos que piensan que el papel único de la ciencia es entregar representaciones “verdaderas” de la realidad. Los experimentalistas son realistas por defecto.
Entonces, a través de un análisis detenido de lo que significa conocer manipulando, podemos desarrollar una epistemología que al mismo tiempo sea realista, materialista, instrumental, falibilista y sensible a los contextos de producción de conocimiento. Conocemos el mundo a través de nuestras manipulaciones e intervenciones, potenciadas con herramientas tecnológicas relacionadas con nuestros intereses y objetivos contingentes. Por supuesto, no podemos excluir del todo que nuestras actividades experimentales produzcan artefactos. Sin embargo, podemos reducir el grado de escepticismo a través de múltiples ciclos experimentales que involucran sistemas experimentales distintos, como Weber mismo reconoce. En suma, el libro de Weber, como uno de los pocos trabajos que recientemente han tomado en serio la actividad experimental, abre la reflexión a una serie de preguntas filosóficas y epistemológicas muy relevantes que se enfocan sobre la conexión entre hacer y conocer, y no entre conjeturar y refutar.
Referências
HACKING, I. Representing and intervening. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
KNORR-CETINA, K. The manufacture of knowledge. New York: Pergamon, 1981.
KOHLER, R. The lord of the fly, Drosophila genetics and the experimental life. Chicago: Chicago University Press, 1994.
PICKERING A. (Ed.). Science as practice and culture. Chicago: Chicago University Press, 1992.
RHEINBERGER H. Toward a history of epistemic things. Stanford: Stanford University Press, 1977.
WEBER, M. Philosophy of experimental Biology. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Maurizio Esposito – Departamento de Filosofía, Universidad de Santiago de Chile. E-mail: [email protected]
[DR]Kant et les sciences – GRAPOTTE et al (SS)
GRAPOTTE, S.; LEQUAN, M.; RUFFING, M. Kant et les sciences. Paris: Vrin, 2011. Resenha de: BARRA, Eduardo Salles de Oliveira. A ciência e o projeto crítico kantiano. Scientiæ Studia, São Paulo, v.11, n. 4, p. 947-57, 2013.
Permitam-me iniciar esta resenha com um relato autobiográfico. Em 2001, concluí a minha tese de doutorado em filosofia, cujo tema foi o envolvimento de alguns filósofos dos séculos XVII e XVIII com as questões científicas de seu tempo. Entre os filósofos focalizados, estava Immanuel Kant (1724-1804). Uma das grandes dificuldades que enfrentei para levar adiante essa investigação era a quase inexistência de comentários contemporâneos sobre os nexos entre a filosofia kantiana e a ciência do seu tempo. No início da década de 1990, quando iniciei meus estudos, podia-se contar apenas com os dois comentários clássicos sobre o assunto: os livros de Gerd Buchdahl (1988 [1969]) e de Jules Vuillemin (1955). Já naqueles anos, surgiram três novas publicações importantes, o novo livro de Buchdahl (1992), a coletânea de artigos organizada por Robert Butts (1986) e o magnífico trabalho de Michel Friedman (1992), que reputo ser o mais esclarecedor e estimulante estudo sobre o assunto até hoje publicado. Nos anos seguintes à finalização da minha tese, seguiu-se um movimento crescente de interesse pelo tema. Os livros mais recentes de Eric Watkins (2001, 2005) e de Michel Friedman (2013) são efeitos desse movimento.
Creio que o mesmo se possa dizer de Kant e as ciências (Kant et les sciences), publicação de 2011, organizada por Sophie Grapotte, Mai Lequan e Margit Ruffing. O livro reúne os trabalhos apresentados na nona edição do Congresso Internacional da Sociedade de Estudos Kantianos de Língua Francesa (SEKLF), ocorrido em setembro de 2009 na Universidade de Lyon III – Jean Moulin, cujo tema central foi o “estatuto da ciência e das ciências na filosofia de Kant” (p. 11). O primeiro aspecto que chama a atenção no projeto editorial de Kant e as ciências é aquele que não deve ter passado despercebido ao leitor atento no próprio enunciado do tema central do congresso, qual seja, a singularidade versus a pluralidade com respeito à ciência (ou seria “às ciências”?). Nisso consistirá grande parte do meu comentário a seguir. Mas, antes dele, devo prosseguir com mais alguns detalhes desse projeto editoral, entre cujas motivações certamente também encontraremos as incursões pioneiras de Buchdahl e Vuillemin e, ainda antes deles, Adickes (1924) nesse campo de estudo.
Para fins da publicação dos seus anais, o tema geral do congresso foi dividido em três eixos: (1) a teoria crítica e transcendental kantiana do conhecimento geral, (2) a articulação entre a primeira Crítica e os Prolegômenos com a pluralidade de ciências particulares e (3) “os saberes científicos que Kant mobiliza e para cujo progresso, eventualmente, contribui, ao realizar seja uma fundamentação seja uma crítica…” (p. 12) Os trabalhos relativos aos dois primeiros eixos foram, então, publicados no primeiro volume dos anais, volume esse intitulado Kant e a ciência (Kant et la science). O segundo volume, justamente este aqui resenhado, intitulado Kant e as ciências (Kant et les sciences), reúne os artigos incluídos no terceiro e último eixo temático.
Sobre os trabalhos reunidos nesse volume, os editores esclarecem que se trata de estudos consagrados às diversas ciências que Kant pretende considerar, [percorrendo esse conjunto] não à exaustão, mas na sua maior completude possível, incluindo metafísica, lógica, matemática, teologia, ciências da natureza (física, química, biologia, geografia física, história natural, cosmologia, astronomia) e ciências do homem e do espírito (antropologia, psicologia, moral, direito) (p. 12).
Um projeto que, em linhas gerais, verifica-se integralmente realizado à simples inspeção do índice dos capítulos e seções em que se dividem as 388 páginas da publicação. Há, ao menos, um capítulo destinado à análise do envolvimento de Kant com cada uma das ciências acima nomeadas. O espaço destinado a cada uma delas é, entretanto, desigual. Questões sobre a lógica e a matemática ocupam quase um terço do livro. As ciências da natureza ocupam outro um terço. O terço seguinte fica dividido entre dois blocos mais ou menos coesos, as ciências da vida (sciences du vivant) e a estética (enquanto se relaciona à teleologia da natureza), de um lado, as ciências do homem, de outro lado. As eventuais desigualdades de espaço destinadas a cada uma dessas grandes áreas são plenamente compreensíveis, na medida em que refletem os interesses desiguais do próprio Kant acerca de cada uma delas. Tomadas conjuntamente com as ciências da vida e teleologia natural, as ciências da natureza ocupam mais da metade da publicação, cerca de 190 páginas. Isso, naturalmente, reflete o estado de amadurecimento que essas disciplinas científicas encontravam-se à época de Kant e, assim, o quanto elas lhe chamaram a atenção em vista dos seus interesses específicos.
Mesmo admitindo que as desigualdades de tratamento reflitam as desigualdades de interesse do próprio filósofo, algo parece ainda desconcertante nessa desproporcionalidade, se a encaramos de um ponto de vista mais conceitual. O aspecto conceitual a que me refiro é relativo ao fato de o tratamento que Kant dispensou às várias ciências não se destinar apenas a reconhecê-las e explorá-las como um dedicado homem das Luzes o faria. Como os próprios autores lembram (p. 12), Kant reprova certas consequências que D’Alembert retira do “mapa mundi das ciências” construído na Encyclopédie em 1751. Longe de Kant, portanto, reduzir o seu interesse pelas ciências a um motivo meramente “enciclopédico”. Suas pretensões vão bem além disso. Ele parece querer mesmo regular o que pode haver de propriamente científico em seja lá qual for o tipo de crença pretensamente justificada e verdadeira. Aqui, as desigualdades deixam de ser de grau ou intensidade e passam a ser de gênero ou de natureza. Certas crenças ou saberes serão científicos não apenas de fato, mas também de direito. Outros talvez o sejam de fato, mas jamais o serão de direito. Essas desigualdades entre as ciências oferecerão à crítica uma oportunidade única para mostrar toda a sua força normativa e terapêutica, fazendo-nos ver, a uma só vez, por que certas crenças não são ciência e por que inevitavelmente nos iludimos a respeito do seu estatuto cognitivo. O caso mais exemplar dessa dupla aplicação da crítica é o da metafísica tradicional. Mas haverá outros. A psicologia e a química são outros dois exemplos que, de um certo modo, deveriam ser tão notórios quanto o da metafísica.
Mas, antes de explicar por que, a exemplo da metafísica, a psicologia e a química deveriam ser (parcialmente) excluídas do âmbito da ciência, vale a pena explorar mais o fato de a força terapêutica e normativa da crítica kantiana ser relegada a um segundo plano diante da expectativa de abertura para “as ciências” e o tratamento isonômico a elas dispensado. A “república das ciências” parece erguer-se à imagem e semelhança da “república das letras”, “que não teme a pluralidade de crenças” (Almeida, 2011, p. 120). O enciclopedismo incidental de Kant pode ter sido a fonte da generalização desse ponto de vista. Ocorre que, embora presente, não é o único ponto de vista sobre a ciência eleito por Kant. Ele pretende também apontar as distâncias que determinadas crenças estão de uma ciência digna desse nome. E seus argumentos não são baseados em contingências factuais. Há razões conceituais para que ele recuse o estatuto de ciência a determinados saberes, tais como a metafisica (da tradição), a psicologia e a química, para ficar apenas com os casos mais notórios. Para que as consequências desse fato possam adiante tornarem-se mais evidentes, façamos aqui uma breve divagação sobre esse último ponto.
Num artigo intitulado “A invenção da crise”, Ribeiro de Moura considera que “se Kant apresentava a razão como origem de ilusões, o que estava em questão ali era apenas o ‘uso especulativo’ da razão, e não a razão ela mesma, que se comportava muito bem no domínio da física e da matemática, ciências que por si sós nunca teriam suscitado o projeto crítico” (Moura, 2001, p. 185). Não é raro encontrar quem pense como Ribeiro de Moura. Não tenciono de modo algum contestar esse juízo sobre a maneira como a razão se comportara, segundo a ótica kantiana, na física e na matemática. Tomo-o pelo seu valor de face com o intuito de explorar a consequência tirada desse fato por Ribeiro de Moura e muitos outros comentadores. A consequência a que me refiro é a que a física e a matemática, por si sós, jamais teriam dado ensejo ao projeto crítico. Suspeito que essa seja a fonte mais imediata de uma visão distorcida sobre o significado do envolvimento de Kant com os temas e as questões colocadas pela ciência de seu tempo.
Tomemos o opúsculo Princípios metafísicos da ciência da natureza, que Kant preparou e publicou no intervalo entre as duas edições da primeira Crítica, mais precisamente em 1786. A título de um argumento inicial, vale dizer que o esquecimento a que essa obra foi submetida nos estudos kantianos – até ao menos meados das últimas décadas do século xx – é certamente um dos efeitos da visão de que as palavras de Ribeiro de Moura servem como uma expressão bem acabada. O esquecimento dos Princípios metafísicos decorre em grande parte da ampla aceitação da imagem de que Kant concebera a ciência e a metafísica como empreendimentos teóricos radicalmente distintos, a ponto de que a ciência por si só jamais teria suscitado o projeto crítico, cujo alvo exclusivo é apenas o “uso especulativo” da razão perpetrado pela malfadada metafísica dos modernos.
Creio que há, no mínimo, dois tipos de objeções que se podem levantar sobre tal enfoque interpretativo do projeto crítico kantiano. O primeiro é histórico-genético e consiste em investigar se, de fato, as questões colocadas pelas práticas científicas em curso à época de Kant não foram responsáveis pelo desencadeamento do projeto crítico. Não me servirei desse tipo de objeção. Minhas preocupações e meus motivos ficarão óbvios a seguir. Um segundo tipo de dúvidas, que eu chamaria aqui precariamente de analítico-conceitual, consiste em analisar os conceitos e os argumentos mobilizados por Kant para a consecução do seu projeto crítico e avaliar se, enfim, eles se destinam apenas a disciplinar o “uso especulativo” da razão ou se eles são, além disso, de alguma serventia para a ciência, sobretudo a física e a matemática.
Em princípio, ambos os tipos de objeções são complementares e mutuamente dependentes, nem que o sejam por razões heurísticas. A situação é semelhante àquela descrita pela famosa fórmula de Hanson – “a história da ciência sem a filosofia da ciência é cega… A filosofia da ciência sem a história da ciência é vazia” (Hanson, 1962, p. 580), que, conforme se sabe, é uma paráfrase de outra fórmula ainda mais famosa proferida pelo próprio Kant na primeira Crítica ao defender o uso solidário de conceitos e intuições. Talvez todas as minhas restrições ao projeto de Kant e as ciências possa ser resumido à sua “cegueira” no sentido de Hanson, justamente por privilegiar a abordagem genético-histórica em detrimento de um tratamento conceitual-analítico. Mas a cegueira em questão não decorre da ausência de uma filosofia da ciência qualquer. Decorre, sobretudo, da atitude de fechar os olhos para uma filosofia da ciência elaborada pelo próprio Kant, particularmente nos Princípios metafísicos de 1786. Afinal, não se pode dizer que a ausência dessa filosofia da ciência específica não seja ela própria o efeito de uma outra filosofia da ciência de uma matriz específica – de modo geral, daquela matriz que pulveriza a semântica do termo “ciência” em fragmentos tão atomizados que o único sentido possível do termo se refugia no seu uso plural, isto é, em “ciências”.
Para saber o que há de tão particularmente determinante em considerar a filosofia da ciência contida nos Princípios metafísicos, basta considerar que ali estão os critérios que Kant elegera para qualquer doutrina que se pretenda como “ciência”. Os critérios kantianos podem ser reduzidos a três: (i) seus conceitos devem ser suscetíveis de uma construção na intuição pura; (ii) seus princípios devem possuir o caráter de autênticas leis da natureza conhecidas a priori; (iii) seus diversos juízos, inclusive aqueles conhecidos apenas mediante a experiência, devem constituir um sistema e não uma mera rapsódia ou agregado doutrinário. O conjunto completo desses critérios está exemplarmente realizado em uma única doutrina, que é justamente aquela cujos conceitos, princípios e sistema teórico realizam mais precisamente a “metafísica especial da natureza material” a cuja exposição os Princípios metafísicos são destinados. Essa doutrina é a física newtoniana, com os seus conceitos de matéria, movimento e força, seus princípios de inércia e de ação e reação e, finalmente, seu “sistema de mundo” sustentado na ideia de uma gravitação universal.
Um dos pontos cegos no projeto de Kant e as ciências já salta aos olhos nessa altura. A obra praticamente ignora os Princípios metafísicos como um dos mais importantes e decisivos momentos do diálogo filosófico de Kant com “a pluralidade dos saberes”. Apenas um único e exíguo capítulo de Henry Blomme sobre a pretensão à cientificidade da química tem essa obra como seu assunto central, muito embora eles sejam mobilizados mais em virtude dos problemas da química do que propriamente daqueles da física. No prefácio aos Princípios metafísicos, Kant contesta a cientificidade da química por essa não cumprir as condições contidas nos critérios (i) e (ii) acima, ou seja, não possuir uma “parte pura”, requisito indispensável para que uma doutrina possa conter leis da natureza genuínas, isto é, “o conceito da necessidade de todas as determinações de uma coisa, inerentes à sua existência” (Kant, 1990 [1786], p. 6). Em uma palavra, a química não pode ser ciência, pois nela não se pode aplicar a matemática, tomada aqui como uma extensão das condições transcendentais da objetividade, “uma pura teoria da natureza acerca de coisas naturais determinadas (doutrina dos corpos e doutrina da alma) só é possível por meio da matemática; e visto que em toda a teoria da natureza se encontra apenas tanta ciência genuína quanto conhecimento a priori com que aí se depare, assim, a teoria da natureza conterá unicamente tanta ciência genuína quanta matemática que nela se pode aplicar” (Kant, 1990 [1786], p. 10). Sendo assim, nada mais coerente que a física newtoniana seja a única a cumprir regiamente esse desideratum. A química pré-lavoisieriana – isto é, a química do flogístico de Becher, Stahl e, finalmente, Priestley –, segundo Kant, estava fadada a permanecer como uma “arte sistemática ou uma teoria experimental”, em virtude de a inteligibilidade das ações químicas não se mostrar por meio de conceitos “que se possa construir”, limitando-se a conceitos que “não tornam minimamente inteligíveis os princípios dos fenômenos químicos segundo sua possibilidade, porque são incapazes da aplicação da matemática” (Kant, 1990 [1786], p. 10).
Tudo isso está muito bem discutido no capítulo de Kant e as ciências assinado por Henry Blomme. Ele não se limita a analisar as palavras acima de Kant retiradas do prefácio dos Princípios metafísicos, tal como se tornou lugar comum, estendendo suas análises às partes internas do livro e, assim, enfrentando o desafio de esclarecer o diagnóstico negativo com respeito à cientificidade da química em contraponto ao diagnóstico positivo para o caso da física. Blomme elege o princípio da “foronomia” como o mais decisivo para esse efeito. O princípio da foronomia estabelece o movimento como sendo o único conceito pelo qual se pode construir a determinação pura da matéria como algo que ocupa um espaço.
O artigo de Blomme ainda se estende ao capítulo seguinte, dos Princípios metafísicos, sobre a dinâmica, mas sua análise declina em vigor e profundidade, deixando inconcluso o modo como deve ser compreendido o veredicto negativo de Kant na transição de um tratamento meramente mecanicista – fundado no conceito de movimento – para um tratamento decididamente dinamista – fundado no conceito de “forças essenciais da matéria” ou as condições sob as quais a matéria não apenas ocupa um espaço, mas também o preenche. Para Blomme,
a química não poderá se tornar uma verdadeira ciência da natureza enquanto as reações químicas não puderem ser representadas a priori como movimentos: o modo exclusivo pelo qual as matemáticas podem ser a ela aplicadas e os seus princípios empíricos podem ser substituídos por uma parte pura na qual seria fundamentada a necessidade das verdadeiras leis químicas” (p. 167),
e termina de modo lacônico com a seguinte hipótese: “talvez se possa chegar assim a uma determinação da matéria apta a apreender a priori a necessidade das reações químicas” (p. 168).
As pequenas – mas marcantes – deficiências da análise de Blomme refletem a pouca atenção dispensada à realização exemplar do modelo de ciência sustentado pelos Princípios metafísicos. Uma cuidadosa consideração da física mostraria, entre outra coisas, que as condições transcendentais para os objetos da natureza material estabelecidas pela dinâmica tampouco se realizam plenamente nessa ciência. O problema, de maneira muito resumida, seria o fato de as “forças essenciais da matéria” serem refratárias a uma construção na intuição pura, comprometendo assim a incorporação do conceito dessas forças em uma autêntica metafísica da natureza e, consequentemente, em uma ciência genuína da natureza material. A simples consideração desse fato, no mínimo, conferiria um caráter contrafatual à hipótese final de Blomme.
Nem por isso, entretanto, Kant recua em sua escolha da física como sendo a ciência da natureza por excelência. É por essa decisão que se sabe, entre outras coisas, que a psicologia não pode ser uma ciência propriamente dita, tal como ocorre com a química. No caso da psicologia, o problema é a impossibilidade de uma “metafísica especial” que fizesse dos objetos do sentido interno, isto é, da psicologia, a contraparte dos objetos do sentido externo, isto é, da física, cuja possibilidade repousa justamente na certeza da necessidade de uma metafísica especial da natureza material ou dos objetos dos sentidos externos. Dito isso, Kant retira esta conclusão acerca da psicologia ou da “doutrina empírica da alma” cujos desdobramentos terão consequências ainda mais amplas:
[a psicologia] nunca pode ser outra coisa exceto uma teoria natural histórica do sentido interno, e, como tal, tão sistemática quanto possível, isto é, uma descrição natural da alma, mas não uma ciência da alma, nem sequer uma doutrina experimental psicológica; eis também a razão por que é que a esta obra (…) demos o título geral de ciência da natureza, porque tal designação convém-lhe em sentido próprio e, por conseguinte, nenhuma ambiguidade assim se origina (Kant, 1990 [1786], p. 17).
Em Kant et les sciencies, que reserva toda uma seção para o tema da antropologia e da psicologia, apenas uma única vez a restrição à cientificidade da psicologia é mencionada . No seu artigo, “L’antropologie du point de vue pragmatique est-elle une psychologie?”, Gilles Blanc-Brude refere-se às palavras de Kant no Prefácio dos Princípios metafísicos acerca da psicologia e delas conclui que “uma teoria natural histórica do sentido interno” aplicada à psicologia deve ser compreendida como uma afirmação do seu caráter sistemático. Vejam que a sistematicidade consta como o terceiro dos três critérios elencados acima para uma ciência genuína da natureza. Por isso, talvez BlancBrude seja tão enfático ao afirmar que
essa questão do lugar sistemático compromete o destino da psicologia como ciência. Situá-la no interior do sistema crítico significa mantê-la sob a dependência de uma metafísica e de um saber. Situá-la no exterior significa justificar de antemão o desenvolvimento de uma disciplina positiva, mas indiferente aos fins (p. 323).
As palavras de Blanc-Brude, nessa altura, assumem um caráter muito enigmático. Mas é possível que o comentador queira nos fazer crer que a sistematicidade – à qual o destino da cientificidade da psicologia parece estar tão estreitamente ligado – significa tão somente a sua inserção no interior do sistema da filosofia crítica kantiano. Nesse caso, a psicologia aproximar-se-ia da metafísica e afastar-se-ia das demais “disciplinas positivas”. Ora, se for isso, nada mais contrário às intenções de Kant. Para ele, o movimento de aproximação e afastamento seria justamente o inverso, quanto mais sistemático, tanto mais científico.
Se essa inversão da equação de Blanc-Brude estiver correta, mesmo contrariando a passagem acima dos Princípios metafísicos, é inegável que destacar o seu caráter sistemático representa um ganho expressivo para o enquadramento da psicologia no conjunto das ciências. Sendo assim, não seria de todo equívoco reunir tanto a psicologia quanto a química sob o título de “ciências”, mesmo reconhecendo que esse título tem aplicação inequívoca apenas a um único caso, a física, por ser a única a cumprir (quase) integralmente as três condições para uma ciência da natureza. Isso também significa admitir um cumprimento parcial das três condições ou, dito de outro modo, que a sistematicidade possa ser suficiente para, ao menos, colocar um tipo de doutrina no “caminho das ciências”. Mas, conforme é amplamente conhecido, os pensamentos de Kant sofreram grandes alterações ao término da segunda edição da primeira Crítica em 1787, sobretudo quando ele passou a cogitar que as determinações do entendimento não deveriam esgotar os componentes constitutivos apriorísticos do nosso conhecimento empírico. Os resultados dessa mudança aparecem na terceira Crítica em 1790, na qual Kant introduz a faculdade do juízo teleológico como responsável pelo fechamento das determinações do entendimento e, assim, pela promoção da máxima unidade sistemática da experiência. A sistematicidade ganha, então, um lugar de destaque no pensamento kantiano, com reflexos na sua concepção da ciência da natureza.
O mais bem estruturado e orientado capítulo de Kant e as ciências trata justamente de uma ciência que ganha lugar de destaque com os novos interesses de Kant nas condições da promoção da máxima unidade sistemática da experiência. Esse capítulo, cujo título é “La place de l’analytique de la biologie dans la philosophie transcendentale”, é de autoria de Philippe Huneman. O autor havia publicado em 2008 um estudo rigoroso sobre as fontes biológicas mobilizadas pela terceira Crítica, com ênfase no conceito de organismo (cf. Huneman, 2008). No seu artigo, Huneman situa o conceito de organismo no centro do esclarecimento do nosso padrão de cientificidade que emerge em torno da exigência de sistematicidade. Mas não é apenas a originalidade da análise de Huneman que merece destaque. Também o merece o cuidado com o qual ele articula suas análises a parcelas mais amplas do corpus kantiano. Para introduzir o novo significado que a sistematicidade adquire para Kant, ele observa que esse conceito tem sua origem na diferença entre
a natureza – isto é, o conjunto de coisas subsumidas a leis, segundo os Princípios metafísicos da ciência da natureza, os quais remetem precisamente aos princípios transcendentais da experiência possível – e a ordem da natureza, segundo a qual as diferentes leis empíricas se combinam em um todo coerente, isto é, a sistematicidade. A própria natureza ergue-se do entendimento (via os princípios do juízo sintético a priori); ela não implica qualquer finalidade e pode-se ter uma natureza sem ordem da natureza. Entretanto, o interesse da razão é precisamente a sistematicidade, sem a qual nenhuma metodologia seria possível (…). Em outros termos, as diferentes exigências de sistematicidade não definem os métodos, mas são o transcendental de toda metodologia. O outro nome da sistematicidade é a finalidade, pois ela significa que a natureza aparece como se estivesse à mercê da nossa faculdade de conhecer. Nesse sentido, essa finalidade é estritamente sinônimo da exigência de sistematicidade da ciência (p. 255-6).
A distinção entre natureza e ordem da natureza vem justamente nos lembrar o quanto as determinações da primeira – basicamente, aquelas decorrentes da aplicações dos critérios (i) e (ii) acima – são insuficientes para uma analítica completa da natureza – sobretudo, daquela que inclui os seres vivos entre os seus objetos potenciais. Isso assegura que pode – e deve – haver uma sistematicidade irredutível à natureza, ela mesma. Para essa sistematicidade de segunda ordem – aquela que conferirá uma unidade orgânica às leis retiradas da experiência –, será preciso mobilizar outras fontes que não apenas a razão pura e os seus princípios a priori. Requer-se para isso a finalidade ou o interesse da razão. O conceito de organismo é, por exemplo, irredutível apenas às determinações do entendimento e não poderia ser, então, construído em uma intuição pura. Para a sua experiência completa, os organismos requerem outras fontes para a sistematicidade, uma vez que não se podem compreendê-los manipulando apenas categorias do entendimento, entre as quais se destaca a causalidade mecânica. Em outras palavras, requer-se uma causalidade teleológica, de tal modo que “mecanismo e teleologia são, então, articulados no juízo biológico completo” (p. 262).
O artigo de Huneman é um exemplo bem acabado do quanto se ganha na compreensão do envolvimento de Kant com a “pluralidade de saberes” encarando-o também do ponto de vista da filosofia da ciência kantiana. Todavia, dado o escopo do seu artigo, ele não pôde prolongar a explicação do que seria a ciência assentada sobre um conceito robusto de natureza – a física. A lamentar, então, que o livro não ofereça em nenhum de seus outros artigos considerações mais detalhadas sobre a física. Sem essas considerações, o leitor menos informado sobre o assunto permanecerá ignorante do único modelo de ciência que oferece um esquema completo para o princípio do mecanicismo. Conforme tentei mostrar acima, não se trata de uma simples omissão de um entre tantos outros possíveis candidatos à “pluralidade dos saberes” aos quais Kant dedicou sua atenção. A omissão da física significa a omissão dos próprios critérios de cientificidade, sem os quais toda “pluralidade de saberes” degenera-se em pura rapsódia sem nenhuma unidade possível – sobretudo sem a unidade sistemática que é uma exigência para toda e qualquer ciência em particular, mas também para todas elas tomadas como uma totalidade. Sem a ideia dessa unidade, a ciência torna-se uma atividade irremediavelmente cega, senão gratuita e destituída de qualquer interesse para o projeto crítico kantiano.
Mas resta saber por que os organizadores de Kant e as ciências não teriam se dado conta dessa desastrosa omissão. Arrisco dizer que, retomando a divisão que sugeri acima, eles produziram um projeto editorial baseado num enfoque histórico-genético e descuidaram acintosamente da sua contraparte analítico-conceitual. Essa escolha, apesar de seus objetivos declarados, é fortemente inspirada pela concepção de que a física e a matemática são “ciências que por si sós nunca teriam suscitado o projeto crítico” (Moura, 2001, p. 185). Paradoxalmente, isso explica por que nenhuma atenção se dá à física (e, em parte, à própria matemática) em Kant e as ciências. Um livro inteiramente dedicado ao diálogo de Kant com as ciências, mas que omite justamente aquela parte do diálogo que poderia nos conduzir ao âmago do projeto crítico e, assim, interferir decisivamente no modo de compreender esse projeto e suas relações de dependência mútua com a “pluralidade de saberes”. Submeter o diálogo a uma reconstrução meramente histórico-genética pode ser ilustrativo, mas não será nada esclarecedor, se não for também reconstruído de modo analítico-conceitual. Valem aqui as palavras do próprio Kant após considerar o projeto enciclopedista de D’Alembert, na seção 4 da Introdução da Lógica: “há de se tornar merecedor da História como um gênio quem a compreender sob ideias capazes de permanecerem para sempre” (Kant, 1992 [1800], p. 61).
Nesse aspecto particular, Kant e as ciências diverge acentuadamente de outras publicações sobre o mesmo tema surgidas nos últimos anos. No prefácio da sua obra mais recente, Friedman, por exemplo, defende que seja atribuído um papel central aos Princípios metafísicos dentro do período crítico da filosofia kantiana. “Estou convencido, em particular, de que não é possível compreender adequadamente esse período crítico sem dedicar uma atenção detalhada e intensiva ao comprometimento de Kant com a ciência newtoniana” (Friedman, 2013, p. xi). Enunciando de modo afirmativo a relação defendida por Friedman, podemos dizer que uma análise do comprometimento de Kant com a ciência newtoniana permite uma melhor compreensão da filosofia crítica kantiana. E isso, pelo que defendi até aqui, justifica-se não apenas pelo que a ciência newtoniana tem em comum com as demais ciências inclusas na pluralidade dos saberes que despertaram o interesse de Kant. Mas, ao contrário, pelo que ela tem de particular, que são, em última análise, os nexos que prendem o interesse de Kant pelas ciências ao restante do edifício crítico.
Referências
ADICKES, E. Kant als Naturforscher Berlin: De Gruyter, 1924. 2 v.
ALMEIDA, M. C. O elogio da tolerância em Pierre Bayle. Cadernos Espinosanos, 24, p. 115-39, 2011.
BUCHDAHL, G. Metaphysics and philosophy of science. The classical origins, Descartes to Kant. Laham: University Press of America, 1988 [1969].
_____. Kant and the dynamics of reason. Oxford: Blackwell, 1992.
BUTTS, R. E. (Ed.). Kant’s philosophy of physical science. Dordrecht: D. Reidel, 1986.
FRIEDMAN, M. Kant and the exact sciences. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
_____. Kant’s construction of nature: a reading of the metaphysical foundations of natural science. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
HANSON, N. R. The irrelevance of history of science to philosophy of science. The Journal of Philosophy, 59, p. 574-86, 1962.
HUNEMAN, P. Métaphysique et biologie: Kant et la constitution du concept d’organisme. Paris: Kimé, 2008.
KANT, I. Princípios metafísicos da ciência da natureza. Tradução A. Morão. Lisboa: Edições 70, 1990 [1786].
_____. Lógica. Tradução G. A. de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1992 [1800].
MOURA, C. A. R. de. A invenção da crise. In:_____. Racionalidade e crise. São Paulo/Curitiba: Discurso Editorial/Editora UFPR, 2001. p. 185-205.
VUILLEMIN, J. Physique et métaphysique kantiennes. Paris: PUF, 1955.
WATKINS, E. Kant and the sciences. Oxford: Oxford University Press, 2001.
_____. Kant and the metaphysics of causality. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Eduardo Salles de Oliveira Barra – Departamento de Filosofia. Universidade Federal do Paraná, Brasil. E-mail: [email protected]
[DR]
A estrutura das revoluções científica – KUHN (EPEC)
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: Editora Perspectiva S.A, 1997. Resenha de: BARTELMES, Roberta Chiesa. Resenhando as estruturas das revoluções científicas de Thomas Kuhn. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v.14, n. 03, p. 351-358, set./dez., 2012.
PORQUE AINDA THOMAS KUHN
Apesar de já se passarem mais de 30 anos da publicação da obra A estrutura das revoluções científicas, ela permanece atual em termos de discussões epistemológicas e estruturais da constituição das ciências. A importância de qualquer cientista conhecer tal obra se deve ao fato de que ela descaracteriza o mito que se criou em torno das ciências e dos cientistas com o advento da era científica e tecnológica. Kuhn demonstra que, além de serem construções humanas, as ciências são também, e consequentemente, construções sociais e históricas. Disso resulta uma nova compreensão acerca dos processos científicos, e por que não dizer, de alfabetização científica. A atualidade da obra é justificada também por seu caráter inovador. Sem pretensões de ser uma obra de referência mundial, Kuhn apenas fez de seu relatório de pesquisas e das suas inquietações um objeto de estudo que cada vez mais cresceu diante de suas pesquisas. Eis um modelo de compreensão da prática da filosofia das ciências: a pesquisa em busca de saberes que desvelem as verdades que se estabelecem sem questionamento. Isso vale para qualquer campo de estudos, seja nas ciências sociais, humanas, naturais ou exatas.
SOBRE THOMAS KUHN
Kuhn é um físico que, durante seu engajamento no processo de pós-graduação, intrigou-se com algumas afirmações à respeito da ciência e da história da ciência. Como ele mesmo refere-se no prefácio de sua obra, foi durante o envolvimento com o ensino de Física experimental para não cientistas que ele teve contato com a história da ciência. Foi nessa oportunidade que Kuhn percebeu diferenças entre o que dizia a história da ciência e o que ocorria durante as atividades experimentais para o público leigo.
Foi desse interesse incomum que surgiram os estudos “arqueológicos” na história da ciência de Kuhn. Na maioria das vezes, quando realizamos atividades experimentais para públicos de não cientistas, não nos questionamos sobre a validade de nossos argumentos ou sobre a forma como a ciência é apresentada. Para Kuhn, o contato com diferentes áreas do conhecimento, como a epistemologia, a psicologia e as ciências naturais e sociais, permitiu um olhar mais atento e mais complexo sobre a história da ciência. E não apenas isto, mas esse contato lhe permitiu compreender como se dá a construção e a validação de uma ciência, bem como sua manutenção e superação. Assim, como o próprio autor defende, sua inserção na história da ciência está mais interessada em processos epistemológicos do que contextuais ou sociais, o que não significa que estes nãos estejam presentes em seus estudos, pois, como veremos adiante, em cada época há um conjunto de saberes que permitem fazer esta ou aquela leitura da realidade à qual estamos submetidos.
A HISTÓRIA DA CIÊNCIA
Um dos objetos de estudos dessa obra de Kuhn é a história da ciência. Para ele, é nessa disciplina que se encontram os detalhes da produção científica de uma determinada comunidade:
(…) a História da Ciência torna-se a disciplina que registra tanto esses aumentos sucessivos como os obstáculos que inibiram sua acumulação. Preocupados com o desenvolvimento cientifico, o historiador parece então ter duas tarefas principais. De um lado deve determinar quando e por quem cada fato, teoria ou lei cientifica contemporânea foi descoberta ou inventada. De outro lado, deve descrever e explicar os amontoados de erros, mitos e superstições que inibiram a acumulação mais rápida dos elementos constituintes do moderno texto científico. (p.20)
Essas tarefas do historiador, no entanto, são complexas e remetem a diferentes entendimentos do que seja ciência. Kuhn argumenta que: “Talvez a ciência não se desenvolva pela acumulação de descobertas e invenções individuais …” (p.21). Assim, quando os historiadores dedicam-se ao estudo de uma concepção ou teoria científica percebem que para a época eram tão científicas quanto as teorias e concepções que temos hoje:
Quanto mais cuidadosamente estudam, digamos, a dinâmica aristotélica, a química flogística ou a termodinâmica calórica, tanto mais certos tornam-se de que, como um todo, as concepções de natureza outrora correntes não eram nem menos cientificas, nem menos o produto de idiossincrasias do que as atualmente em voga. (p.21)
É nesse sentido que podemos perceber o entendimento de ciência para Kuhn. Ao contrário do que sempre vimos nos manuais científicos, a ciência não é o acúmulo gradual de conhecimentos, mas é a complexa relação entre teorias, dados e paradigmas. Tampouco a Ciência é neutra. Mesmo em seus métodos, como a observação e a experimentação, ela define de antemão o que é ou não possível de ser realizado: “A observação e a experiência podem e devem restringir drasticamente a extensão das crenças admissíveis, porque de outro modo não haveria ciência. Mas não podem, por si só, determinar um conjunto específico de semelhantes crenças.” (p. 23) Ou seja, a observação é feita sobre aquilo que é possível “ver” dentro de um paradigma. Se tomarmos como exemplo a astronomia, veremos que, para Ptolomeu, em seu Almagesto2, a Terra tinha de ser o centro do universo. Isso porque toda a conformação teórica tinha de derivar da perfeição geométrica, produto dos sólidos de Platão. Além disso, a representação do universo estava baseada na teoria de Aristóteles de que o mundo supra lunar era perfeito e imutável e o mundo sub lunar era imperfeito e mutável. Se nos remetermos a essas concepções teóricas, veremos que de fato o mundo supra lunar aparentemente é perfeito e imutável, uma vez que as estrelas “fixas” não mudam suas posições no céu. Elas surgem e ressurgem periodicamente “no mesmo lugar”. Quando surge alguma anomalia, como o movimento de Marte, que parece retrógrado em determinado momento de sua translação, o que vai contra os pressupostos do movimento circular perfeito, adequações são feitas, e o uso de epiciclos retoma a ideia da perfeição e da harmonia do mundo supra lunar. É nesse sentido também que a ciência normal e o paradigma delimitam aquilo que pode ou não ser “visto” na natureza ou nos fenômenos que submetemos à pesquisa dentro de uma comunidade cientifica.
O CONCEITO DE PARADIGMA
O conceito de paradigma vai atravessar toda essa obra de Kuhn com um sentido muito específico. Já na introdução, Kuhn apresenta a seguinte definição: “Considero “paradigmas” as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”. (p. 13). Ou seja, o paradigma é um conjunto de saberes e fazeres que garantam a realização de uma pesquisa científica por uma comunidade. O paradigma determina até onde se pode pensar, uma vez que dados e teorias, sempre que aplicados a uma pesquisa, irão confirmar a existência desse paradigma. Extrapolando a leitura para o campo da educação, podemos pensar que estamos submetidos também a um paradigma, isto é, a uma forma de entender e fazer ciência na educação que leva em consideração um aspecto dos fenômenos de ensino e de aprendizagem. Nosso paradigma atual na educação é o ensino. Todas as pesquisas, todas as dissertações e teses têm alguma relação com esse paradigma. Todos querem melhorar o ensino. Toda a preocupação de nossas últimas produções tem sido a tarefa de ensinar mais e melhor. Mesmo quando estudamos o outro pólo da relação, a aprendizagem, é para garantirmos um melhor ensino. A formação dos profissionais em educação está muito mais interessada na qualidade do ensino do que na aprendizagem. Muito embora também possamos defender que esses processos não sejam separáveis, há uma nítida diferença entre formar para ensinar e formar para possibilitar aprendizagens. No entanto, no campo da educação, percebemos que existem rupturas e alianças com outras áreas que movem novos entendimentos dessa ciência. Perguntas e dados que não podem mais ser respondidos ou compreendidos pelo paradigma do ensino passam agora a desafiar os cientistas da educação. A isto, Kuhn chama de crise de paradigmas. Essa crise de paradigmas é a responsável pelas mudanças conceituais e procedimentais dentro de um campo do saber. Ela surge dentro da chamada ciência normal, por meio de anomalias que não se conformam as formas tradicionais de conceber o processo e o produto científico. Conforme Kuhn:
E quando isto ocorre – isto é, quando os membros da profissão não podem mais esquivar-se das anomalias que subvertem a tradição existente da prática científica – então começam as investigações extraordinárias que finalmente conduzem a profissão a um novo conjunto de compromissos, a uma nova base para a prática da ciência. (p. 25)
Ou seja, quando as formas tradicionais de pesquisa já não respondem às necessidades que novos dados ou novos fatos impõem, as investigações extraordinárias permitem o surgimento de novidades na pesquisa e na ciência. Isso conduz a comunidade científica a novas formas de praticar sua ciência.
A CIÊNCIA NORMAL
Outro conceito específico da obra de Kuhn é o de ciência normal. Para ele, ela se desenvolve junto com a ideia de paradigma, ou seja, podemos compreender que a ciência normal é produto e produtor de um paradigma. Isso fica evidenciado no seguinte trecho: Invenções de novas teorias não são os únicos acontecimentos científicos que tem um impacto revolucionário sobre os especialistas do setor em que ocorrem. Os compromissos que governam a ciência normal especificam não apenas as espécies de entidades que o universo contém, mas também, implicitamente, aquelas que não contém. (p. 26) A ciência normal é o estado de uma ciência na qual suas pesquisas e seus resultados são previsíveis, isto é, ela acontece adequando a realidade às teorias e esquemas conceituais que os cientistas aprendem na sua formação profissional. Diante disso, podemos dizer que a comunidade científica sabe como é o mundo, e as pesquisas servem para comprovar ou aperfeiçoar esses saberes. Para Kuhn:
Neste ensaio, “ciência normal” significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica específica como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior. (p.29)
Uma metáfora que Kuhn utiliza para a ciência normal é a montagem de quebra-cabeças. Ou seja, a realidade seria uma porção de peças que, ao serem corretamente unidas, nos daria uma visão real de como a natureza ou os fenômenos estudados funcionam. Além disso, quando montamos um quebra-cabeça, em geral já sabemos aonde vamos chegar, isto é, já sabemos qual o produto final que o encaixe das peças vai nos proporcionar ver. Nisto não há espaço para a novidade. Na ciência normal, não há espaço para o inusitado ou para o inesperado. Assim como na montagem do quebra-cabeça, já se sabe aonde se quer chegar. Se houver um encaixe de peças errado, o que se deverá fazer não é questionar o motivo pelo qual isso ocorreu, mas sim retirá-la e colocá-la no seu devido lugar. À ciência, e ao cientista, caberia a função de encaixar a peça certa no local correto com base nas evidências que as demais peças lhe dão, ou seja, aquilo que já foi feito por outros cientistas anteriormente e que funcionou. A ciência normal não está preocupada em criar novidades, mas em se especializar naquilo que já está posto pelo paradigma vigente. As experiências não criam novidades (intencionalmente), mas desejam especificar melhor o que já se sabe: “O resultado já é sabido de antemão, o fascínio está em como se vai chegar até ele”. (p. 60).
DAS REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS: POR QUE COPÉRNICO REVOLUCIONOU?
Com o avanço da ciência normal, vemos surgir novos problemas e novas questões. Conforme Kuhn: “Mas os problemas extraordinários não surgem gratuitamente. Emergem apenas em ocasiões especiais, geradas pelo avanço da ciência normal”. (p 55). Quando uma anomalia perturba o andamento da pesquisa na ciência normal, surgem novos e reforçados movimentos de adequação dos dados às teorias existentes. Como no já citado caso da astronomia grega, as anomalias eram condicionadas àquilo que se dispunha de conceitos e teorias da época. Quando uma novidade surgiu no céu, logo se tratou de adequá-la à teoria existente. No entanto, essas anomalias nem sempre são percebidas, uma vez que a ciência normal (como vimos anteriormente) não está preocupada em criar novidades, mas em se especializar naquilo que já está posto pelo paradigma vigente. As experiências não criam novidades (intencionalmente), mas desejam especificar melhor o que já se sabe. No entanto, as anomalias persistem. Elas podem gerar o que Kuhn chama de crise de paradigma:
De forma muito semelhante (ao que ocorre nas revoluções políticas), as revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da comunidade científica, de que o paradigma existente deixou de funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma. […] o sentimento de funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é um pré-requisito para a revolução. (p. 126).
Portanto, as anomalias provocam desajustes nas teorias vigentes, o que leva a um sentimento de “funcionamento defeituoso” da teoria que promove uma crise no paradigma vigente e serve de pré-requisito à revolução. Retomando o caso da astronomia, quando Galileu aponta a luneta para a Lua, percebe que esta não se parece nem um pouco com uma esfera perfeita, conforme julgaram os aristotélicos. Das suas observações criteriosamente anotadas em Sidereus Nuncius3, Galileu descreve que:
Do seu exame (da Lua) muitas vezes repetidos, deduzimos que podemos discernir com certeza que a superfície da Lua não é perfeitamente polida, uniforme e exatamente esférica, como um exército de filósofos acreditou, acerca dela e de outros corpos celestes […] (2010, p.156)
Nesse momento, Galileu anuncia uma anomalia a qual não pode se encaixar nas teorias vigentes e no paradigma da época. O fato de haver montanhas, crateras e irregularidades na superfície da Lua contrariava e muito as ideias aristotélicas acerca da natureza dos corpos celestes. No entanto, conforme assegura Kuhn, “A transição de um paradigma em crise para um novo, do qual pode surgir uma nova tradição e ciência normal, está longe de ser um processo cumulativo obtido através de uma articulação do velho paradigma” (p. 116) Aqui é preciso fazer um esclarecimento. Antes de Galileu utilizar a luneta para observar a Lua e os objetos celestes com maior precisão, houve outro astrônomo que possibilitou essa “abertura” ao inusitado e à novidade. Podemos dizer mesmo que através da resistência de um grupo de astrônomos foi possível causar crise no paradigma vigente e permitir que se instalasse uma revolução. Esse astrônomo é Nicolau Copérnico. Ele é tido como o responsável por colocar a Terra em movimento. Para a época, e para o paradigma vigente, era impossível conceber que a Terra se movia, uma vez que isso não era “observável” no cotidiano. Caso a Terra se movesse, pássaros, pessoas, objetos deveriam “sair” da Terra, ou seja, seriam deixados para trás. Esses eram os entendimentos permitidos pelo paradigma vigente. E como os dados empíricos, da natureza das observações e experimentos feitos até então, não contradiziam essa teoria, ela era tida como verdadeira e científica. No entanto, Copérnico, em sua obra De revolutionibus orbium coelestium4, coloca a Terra em movimento e a retira do centro do universo. No entanto, esse feito não é apenas um simples deslocamento de posições em mapas ilustrativos do universo. Muito além disso, trata-se de conceber novas concepções para as ideias até então desenvolvidas sobre todo o universo, conforme afirma Kuhn:
[…] a inovação de Copérnico não consistiu simplesmente em movimentar a Terra. Era antes uma maneira completamente nova de encarar os problemas da Física e da Astronomia, que necessariamente modificava o sentido das expressões “Terra” e “movimento”. Sem tais modificações, o conceito de Terra em movimento era uma loucura. (p. 190)Portanto, Copérnico é, de fato, responsável por uma revolução tanto na Física quanto na Astronomia. No entanto, é ilusão pensar que essa revolução instalou-se e foi bem sucedida em pouco tempo. Copérnico não foi aceito durante quase um século, haja vista que alguns adeptos de suas teorias foram colocados à duras provas pelos “cientistas” da época da Inquisição. Giordano Bruno e Galileu são exemplos claros da morosidade e da complexidade que compõem mudanças de paradigmas.
PARA ENTENDER A NATUREZA DA CIÊNCIA, ENTÃO!
Chama atenção, logo no prefácio desse texto de Kuhn, a seguinte colocação:
A pesquisa eficaz raramente começa antes que uma comunidade cientifica pense ter adquirido respostas seguras para perguntas como: quais são as entidades fundamentais que compõem o universo? Como interagem essas entidades umas com as outras e com os sentidos? Que questões podem ser legitimamente feitas a respeito de tais entidades e que técnicas podem ser empregadas na busca de soluções? (p.23)
Percebemos que teorias sempre sustentam as buscas científicas de uma comunidade de pesquisadores. Nunca os dados serão analisados de forma neutra e isenta de teorias. Na tentativa de explicar este ou aquele fenômeno, estamos sempre propensos a fazer uso das teorias que nos constituem. Nosso olhar nunca é isento de julgamentos. Somos constituídos do paradigma vigente. Embora isso limite nossa visão para o novo (conforme vimos na ciência normal), é possível que anomalias surjam em nossas pesquisas. Nosso primeiro movimento certamente será o de adequá-las o mais rápido possível àquilo que temos como verdade científica. Caso isso não se dê, ou seja, caso as anomalias persistam, o caminho certamente será o da mudança. Só que esse caminho não se dá de forma isolada, nem se dará de maneira imediata. Isso pode ser visto claramente no campo da educação. Diversos pequenos grupos à margem do paradigma vigente buscam soluções para problemas nas teorias atuais. Como falamos anteriormente, irregularidades estão ocorrendo. Por melhor que sejam os métodos de ensino aplicados pelas melhores didáticas, as aprendizagens não ocorrem sempre, tampouco da maneira esperada. É possível que dessas anomalias os pequenos grupos de cientistas da educação consigam mobilizar novas possibilidades, que o inusitado e o criativo surjam e demonstrem novas possibilidades de compreensão para fazer pesquisas e desenvolver estudos na área da educação.
Notas
1 O Almagesto (que significa O grande livro) é a publicação magna de Cláudio Ptolomeu. Nela, o autor pretendeu reunir todo o conhecimento da humanidade sobre a astronomia.
2 Sidereus Nuncius, ou O mensageiro das estrelas, é a publicação na qual Galileu inicialmente apresenta as observações feitas com o auxílio do telescópio, instrumento por ele aperfeiçoado. Nessa obra, Galileu dedica-se a relatar suas observações acerca da Lua, de Júpiter e de suas luas.
3 De revolutionibus orbium coelestium, ou Da revolução das esferas celestes, foi publicado no ano da morte de Copérnico. Nessa obra, o autor faz uma série de apontamentos sobre a Terra, retirando-a do centro do universo e colocando-a em movimento com os demais planetas. Além disso, ele faz referências às estações do ano e aos equinócios, desenvolvendo explicações para tais fenômenos baseado nas evidências empíricas e matemáticas de que dispunha.
Referências
GALILEI, Galileu. Sidereus Nuncius: O mensageiro das estrelas. 2ª Ed. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 2010. KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: Editora Perspectiva S.A, 1997.
Roberta Chiesa Bartelmebs – Mestre em Educação em Ciências pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Professora do Núcleo de Estudos em Epistemologia e Educação em Ciências (NUEPEC/FURG). Colaboradora do Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre o Bebê e a Infância (NUPEBI).
[MLPDB]Gênese e desenvolvimento de um fato científico – FLECK (HU)
FLECK, L. Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Belo Horizonte: Fabrefactum, 2010. 201 p. Resenha de: CURI, Luciano Marcos; SANTOS, Roberto Carlos dos. Fleck e a(s) ciência(s): um olhar sociocultural. História Unisinos 15(3):472-475, Setembro/Dezembro 2011.
Os leitores de língua portuguesa agora já podem usufruir da obra do médico e teórico judaico-polônes Ludwik Fleck intitulada Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Lançada no Brasil no dia 13 de setembro de 2010, durante o Colóquio de História e Filosofia da Ciência [Ludwik Fleck] realizado em Belo Horizonte na UFMG3, em homenagem ao próprio Fleck, a edição vem preencher uma lacuna há muito já verificada.
Embora a obra de Fleck ainda seja pouco conhecida, sua importância não é pequena nem ultrapassada. Seu trabalho já estava traduzido para o inglês (1979), italiano (1983), espanhol (1986) e francês (2005) antes da presente tradução brasileira (2010). A republicação em alemão data de 1978. O restante de sua obra epistemológica encontra-se disponível em alemão e inglês (Cohen e Schnelle, 1986)4.
O livro Gênese e desenvolvimento de um fato científico foi originalmente publicado em alemão, na Suíça em 1935. A trajetória biográfica de Fleck foi decididamente bastante acidentada, o que em parte explica a pouca divulgação de seu livro. Ele, seu único filho (Ryszard Arie Fleck) e esposa (Ernestina Waldman) foram vítimas da ocupação nazista na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial e foram enviados para os campos de concentração de Auschwitz e Buchenwald (cf. Lothar e Schnelle, 2010 [1986], p. 3). Embora Fleck, esposa e filho tenham sobrevivido à guerra, o mesmo não aconteceu com amigos, colegas e o restante da família.
Durante a guerra, Fleck prosseguiu suas pesquisas e desenvolveu uma nova técnica de obtenção da vacina antitifo a partir da urina dos doentes. Tal realização despertou a cobiça dos nazistas, que preservaram sua vida, interessados na sua formação e habilidade científica.
Após a guerra, Fleck retornou à Polônia, onde atuou como professor universitário e membro de importantes associações científicas de seu país. No período entre 1946 e 1957, Fleck desenvolveu intensa atividade científico-acadêmica: orientou quase 50 teses de doutorado, publicou 87 artigos científicos e participou de vários congressos científicos, um deles, inclusive, no Brasil em 1955: o II Congresso Internacional de Alergistas, realizado no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 13 de novembro daquele ano (Condé, 2010, p. XV). Em 1956, Fleck sofreu um infarto e descobriu que estava com câncer. A partir deste momento, sua saúde piorou consideravelmente. Essa nova conjuntura o levou a emigrar com sua esposa para Israel, país onde seu filho vivia desde o fim da guerra. Lá faleceu em 1961, vítima de um segundo infarto.
Outro motivo que dificultou a divulgação da obra de Fleck foi sua decisão após a guerra de seguir uma carreira na área da microbiologia, à qual dedicou maior empenho e na qual publicou maior número de trabalhos.
Embora hoje sua notoriedade se deva ao presente trabalho ora traduzido, este foi ignorado durante décadas. Sua redescoberta, em parte, deve-se a Thomas Samuel Kuhn e ao comentário que inseriu em seu livro sobre a “monografia de Fleck”.
Após ter sido praticamente ignorado por várias décadas, Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico, (re) aparece em 1979, em sua tradução para o inglês, na qual o primeiro desses ilustres apresentadores não foi nada menos do que Thomas Kuhn. Cerca de duas décadas antes, em grande medida, Kuhn havia sido o responsável por essa (re)descoberta do livro de Fleck ao afirmar também no prefácio de A Estrutura das Revoluções Cientificas: “encontrei a monografia quase desconhecida de Ludwik Fleck, […], um ensaio que antecipa muitas de minhas próprias idéias” (Condé, 2010, p. IX).5
O livro de Fleck divide-se em quatro capítulos, mais um prefácio do próprio autor datado de 1934. O autor parte de um fato cotidiano de sua lida médica para desenvolver sua reflexão epistemológica: a sífilis.
Assim, o primeiro capítulo faz uma recapitulação histórica para mostrar “como surgiu o conceito atual de sífilis” e já enseja sua explicação utilizando, mesmo que implicitamente em algumas passagens, os conceitos que se desenvolvem nos três últimos capítulos. O segundo capítulo, intitulado “Consequências para a teoria do conhecimento da história apresentada de um conceito”, demonstra o condicionamento histórico-social do pensamento e introduz as noções de protoideias (préideias), estilo de pensamento e coletivo de pensamento.
Na página 62, Fleck cita a importância da biologia na formação de sua epistemologia e esclarece a presença das mutações na formação do pensamento. Relembrar a citação da biologia por parte de Fleck é importante para marcar a distinção que o separa de toda a tradição anterior de reflexão sobre a ciência, o chamado Círculo de Viena, bem como de Karl Popper, cujo livro havia sido publicado em 1934 (Popper, 1993).
No terceiro capítulo, “Sobre a reação de Wassermann e sua descoberta”, Fleck demonstra a construção do fato hoje plenamente conhecido como “reação de Wassermann” (teste diagnóstico da sífilis) e introduz uma reflexão crítica sobre a tão propalada objetividade como critério seguro para discernimento do conhecimento científico.
Essa reflexão é muito importante para a historiografia de modo geral, pois propõe uma percepção problematizadora, não ingênua, sobre a visão retrospectiva habitual dos historiadores e desmistifica a existência concreta da chamada objetividade. Nesse momento, aborda-se a questão do erro na construção da ciência de maneira inovadora para a época.
No quarto capítulo, “Aspectos epistemológicos da história da reação de Wassermann”, Fleck introduz a noção de saber num sentido já bem próximo ao que Michel Foucault definirá mais tarde. Nesse capítulo, aparecem as noções de círculo esotérico (dos cientistas) e círculo exotérico (saber popular), e discute-se a circulação de saberes e conteúdos entre os dois. Também se explicitam as noções de conexões ativas e passivas, e ressalta-se a importância dos manuais de ciência na formação de novos profissionais. Para Fleck, o estilo de pensamento de determinada área do saber em determinada época consiste numa predisposição a uma percepção direcionada (Fleck, 2010, p. 198). No final do capítulo, alude ao estilo de pensamento indiano e chinês, num dos muitos exemplos que evoca, e evidencia que sua reflexão possui um escopo muito maior e pode ser extrapolada para inúmeras outras searas.
Desde modo, o livro de Fleck possui outras possibilidades que, no geral, só recentemente começam a ser exploradas. Habitualmente, suas noções de estilo de pensamento e coletivo de pensamento são consideradas precursoras e semelhantes às de épistémè de Foucault6 e de paradigma em Thomas Kuhn (Cf. Kuhn, 2006). Contudo, essa posição já foi criticada por Bruno Latour.
No posfácio à edição francesa da obra de Ludwik Fleck, Bruno Latour (2005) sugere que uma das injustiças dirigidas a esse pensador (refere-se a Fleck) é o fato de seu conceito de “coletivo de pensamento” ter sido considerado um mero “precursor” da noção de “paradigma” de Kuhn. Segundo Latour, para Fleck não se tratava apenas de estudar o contexto social das ciências, mas de perseguir todas as relações, os embates e as alianças envolvidas na produção do conhecimento e na história do pensamento. Latour o considera, assim, um pioneiro ainda atual e instigante (cf. Machado, 2008, p. 122).
Assim, a obra de Fleck aponta que as ideias científicas circulam inexistindo rupturas totais, ou abruptas, como mais tarde sugeriu Thomas Kuhn. Fleck demonstra a existência de inúmeros reposicionamentos sociais, as chamadas mutações, que possibilitam a gênese e o desenvolvimento de um fato científico. Esses adventos ocasionam a desestabilização de conceitos antigos, do estilo de pensamento de outrora, permitindo o surgimento de novos objetos científicos.
A história da sífilis de Fleck, portanto, não equivale às congêneres de sua época. Diferentemente das abordagens então recorrentes, ele evidencia a construção social da sífilis e demonstra como a reação de Wassermann introduziu um novo estilo de pensamento que reconfigurou o entendimento da própria doença. Para Fleck, o conhecimento científico é um fenômeno social e cultural. A cultura é que torna possível e legitima a ciência e não se constitui num embaraço na lida dos cientistas ou um percalço no caminho da objetividade.
O primeiro estudo epistemológico de Fleck afirmava que as “doenças” são construções coletivas dos médicos7. No seu segundo trabalho epistemológico, ele radicalizou esta idéia e explicou que os agentes causadores das doenças (infecciosas), as bactérias, são também construções dos cientistas8. […] Posteriormente, em seu livro de 1935, Gênese e desenvolvimento de um fato científico […] Fleck desenvolve a ideia sobre o papel das práticas profissionais na construção e validação dos “fatos científicos”. O conhecimento, explica ele, não pode ser concebido fora do grupo de pessoas que o criam e o possuem. Um fato científico é como uma regra desenvolvida por um pensamento coletivo, isto é, um grupo de pessoas ligadas por um estilo de pensamento comum (Löwy, 1994, p. 236-237).
Aqui é preciso reconhecer que a leitura da obra de Fleck demanda uma contextualização que o prefácio e o prólogo realizam satisfatoriamente. Isso ocorre por vários motivos. O texto de Fleck se repete. O primeiro capítulo, por exemplo, para aqueles que não estão familiarizados com o estudo histórico das doenças, pode parecer um pouco enfadonho. Contudo, é a partir da história da sífilis que ele desenvolve sua epistemologia, e o primeiro capítulo é a apresentação do caso a ser estudado, ou seja, da sífilis. Neste caso específico sobre a história da sífilis, alguns leitores mais informados poderão objetar que o texto de Fleck se encontra desatualizado. Quanto à sífilis certamente, quanto ao projeto epistemológico não. Fleck não aborda, por exemplo, a famosa contenda sobre a origem da sífilis, se é americana ou europeia. Isso, no entanto, é secundário. Aplicando a teoria fleckiana ao próprio Fleck, a compreensão destas mudanças na percepção da sífilis tem motivações sociais.
Ele próprio ressalta que a história de uma doença (ou de um fato científico, para usar seus termos) nunca está completa; é sempre tarefa inacabada. Assim, desde a publicação do seu livro, outros temas tornaram-se relevantes no que tange à sífilis e que, em 1935, não estavam tão presentes no estilo de pensamento e no coletivo de pensamento da época.
Para Mauro Condé, professor do Departamento de História da UFMG e um dos articuladores da tradução brasileira, a epistemologia fleckiana possui maior flexibilidade e resolutividade que as demais abordagens teóricas interpretativas da(s) ciência(s) hoje disponíveis. Para ele, a obra de Fleck permanece rica, instigante e atual.
Um dos maiores desafios que o pensamento de Fleck nos oferece talvez seja o de tentar compreender um fato científico a partir de um “sistema de referência”, no qual múltiplas “conexões passivas” e “conexões ativas” se equilibram e os fatos surgem e se desenvolvem. Enfim, devemos abandonar as dicotomias das posições radicais de uma descrição empírica, por um lado, ou de uma postulação lógica, por outro, para abraçar o conhecimento que emerge da atividade humana em suas interações com o social e a natureza (Condé, 2010, p. XIV-XV).
Assim, a leitura da obra de Fleck, situada na fronteira entre sociologia, história e filosofia da ciência, pode ser edificante em várias áreas do conhecimento, pode ser mesmo desconcertante em alguns momentos. Contudo, certamente, trata-se de uma empreitada profícua para historiadores e todos aqueles que têm na sua lida a refl exão sobre o social e o cultural.
A tradução brasileira, é importante registrar, foi feita com rigor e cuidado e incluiu o prólogo de Lothar Schäfer e Thomas Schnelle intitulado “Fundamentação da perspectiva sociológica de Ludwik Fleck na teoria da ciência” escrito originalmente para a edição espanhola de 1986. Deslize editorial foi a omissão no final do livro das referências bibliográficas do próprio Fleck, presentes no original em alemão e na tradução em inglês e espanhol. Elas contêm informações importantes.
Uma delas é a citação que Fleck faz da obra de Karl Popper e que aparece apenas no final. Tais referências são indicativas da atualidade das leituras de Fleck e da diferenciação que queria demarcar e estabelecer. Outra queixa é a ausência de fotografias e mais dados biográficos sobre Fleck, que a presente tradução brasileira deveria conter pela oportunidade ímpar que constituiu de divulgação do próprio autor no Brasil e nos demais países de língua portuguesa.
A expectativa agora é para que a editora Fabrefactum disponibilize o restante da obra epistemológica de Fleck em língua portuguesa, ou seja, os sete artigos por ora apenas disponíveis em inglês e alemão. Isso contribuirá de maneira decisiva para a consolidação no cenário brasileiro deste importante autor e de suas refl exões sobre a História, a Sociologia e a Filosofia das Ciências.
Referências
COHEN, R.S.; SCHNELLE, T. (eds.). 1986. Cognition and fact: materials on Ludwik Fleck. Dordrecht, Reidel Publish Company, 468 p.
CONDÉ, M.L.L. 2010. Prefácio. In: L. FLECK Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Belo Horizonte, Fabrefactum, p. VII-XVI.
FLECK, L. 2010 [1935]. Gênese e desenvolvimento de um fato científico.
Belo Horizonte, Fabrefactum, 201 p.
FOUCAULT, M. 2000a [1970]. A ordem do discurso. São Paulo, Loyola, 79 p.
FOUCAULT, M. 2000b [1969]. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 244 p.
FOUCAULT, M. 2000c [1966]. As palavras e a coisas. São Paulo, Martins Fontes, 541 p.
KUHN, T.S. 2006 [1962]. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo, Perspectiva, 260 p.
LOTHAR, S.; SCHNELLE, T. 2010 [1986]. Fundamentação da perspectiva sociológica de Ludwik Fleck na teoria da ciência. In: L. FLECK, Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Belo Horizonte, Fabrefactum, p. 1-36.
LÖWY, I. 1994. Fleck e a historiografia recente da pesquisa biomédica.
In: V. PORTOCARRERO (org.), Filosofia, História e Sociologia das Ciências 1: abordagens contemporâneas. Rio de Janeiro, Fiocruz, p. 233-249.
MACHADO, P.S. 2008. Intersexualidade e o “Consenso de Chicago”: as vicissitudes da nomenclatura e suas implicações regulatórias.
Revista Brasileira de Ciências Sociais, 23(68):109-124.
POPPER, K. 1993 [1934]. A lógica da pesquisa científica. São Paulo, Cultrix, 567 p.
Notas
3 Na FAFICH (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas), no Auditório Baesse.
4 Trata-se de sete artigos publicados entre 1927 e 1960. São eles: “Algumas características específicas do modo médico de pensar” (1927); “Sobre a crise da realidade” (1929); “Observação científica e percepção em geral” (1935); “O problema de uma teoria do conhecimento” (1936); “Problemas da ciência da ciência” (1946); “Olhar, ver e saber” (1947) e “Crise na ciência” (1960) Cf. Condé (2010, p. VIII). Esses textos em inglês encontram-se em: Cohen e Schnelle (1986).
5 No original de Thomas Kuhn a afirmação citada encontra-se na página 11 (Kuhn, 2006).
6 A noção de épistémè aparece em inúmeras ocasiões na obra foucaultiana. Apenas para citar alguns exemplos: As palavras e as coisas (2000c [1966]); Arqueologia do saber (2000b [1969]) e A ordem do discurso (2000a [1970]).
7 Trata-se do artigo de 1927: “Algumas características específicas do modo médico de pensar”.
8 Trata-se do artigo de 1929: “Sobre a crise da realidade”
Luciano Marcos Curi Centro – Doutor em História pela UFMG. Universitário do Planalto de Araxá Av. Ministro Olavo Drummond, 5 38180-084, Araxá, MG, Brasil.
Roberto Carlos dos Santos – Mestre em História Social pela UFU. Centro Universitário de Patos de Minas Rua Major Gote, 808 38702-054, Patos de Minas, MG, Brasil.
As ciências da Aids e a Aids das ciências: o discurso médico e a construção da Aids | Kenneth Rochel de Camargo Júnior
“Ceci n’est pas un écrit epistemologique”, alerta o autor (p. 17): como o cachimbo de Magritte, não pode deixar de sê-lo. Desde que Latour popularizou a aventura de abrir as “caixas-pretas” da ciência, a epistemologia tornou-se uma das fronteiras do trabalho de pesquisa social; viramos epistemólogos enquanto antropólogos e sociólogos da ciência. Emprestando imagens da medicina, esquartejamos e estripamos, como na anatomia, e chegamos a um perturbador avesso dos artefatos da produção científica, colocando em dúvida a confiança que depositamos no produto final (como tudo pode ser feito com tanta arbitrariedade?); desenvolvemos técnicas de acompanhar o funcionamento do sistema, como na fisiologia, e chegamos a outro perturbador cenário, onde por trás do nobre trabalho da pesquisa científica pululam os vis interesses dos grandes financiamentos ou dos mesquinhos orgulhos pessoais. Ultrapassado o limite tradicional da sociologia da ciência que separa “externalistas” e “internalistas”, viramos voyeurs da abertura das “caixas-pretas” que antes se mantinham invisivelmente na paisagem.
Nestas condições, entender as dimensões sociais da produção científica não é enumerar e estratificar as categorias sociais envolvidas no processo, ou a acessibilidade dos seus resultados, mas olhar para o processo mesmo que gera os enunciados científicos e os consagra. Nem o trabalho se restringe a averiguar a consistência lógica, veracidade, verificabilidade dos enunciados, mas também a entender como são socialmente produzidos, que significados se lhes associam, que funções desempenham, que marcas sociais e culturais trazem implícitas. Por isso a análise social da ciência é e não é um trabalho de epistemologia. Leia Mais
Missionaries of sciences: the Rockfeller Foundation and Latin America | Marcos Cueto
O livro organizado por Marcos Cueto é fruto de um seminário no Rockefeller Archive Center, em Nova York, em novembro de 1991, tendo como tema a ciência e a filantropia na América Latina. Os autores analisam os diferentes, e sucessivos, planos de intervenção da Fundação Rockefeller nesta parte do continente: saúde pública, ensino médico, capacitação técnica, financiamento de laboratórios de pesquisa e modernização da agricultura. Todos têm uma preocupação em comum: mostrar como o “lado receptor” percebeu as ações da fundação, e que motivações o fizeram acatar ou combater estas ações.
A principal virtude dos ensaios — que combinam história social e história das ciências — reside na preocupação de captar a interação dos dirigentes e funcionários da instituição com os atores e as realidades locais. Conseguem, assim, revelar a passagem das idéias à prática, das intenções aos resultados, a transfiguração de programas de ação por efeito de negociações e conflitos opondo, de um lado, os agentes incumbidos de implementá-los, e, de outro, as forças de inércia e reação exercidas pelas realidades que pretendiam transformar. Leia Mais