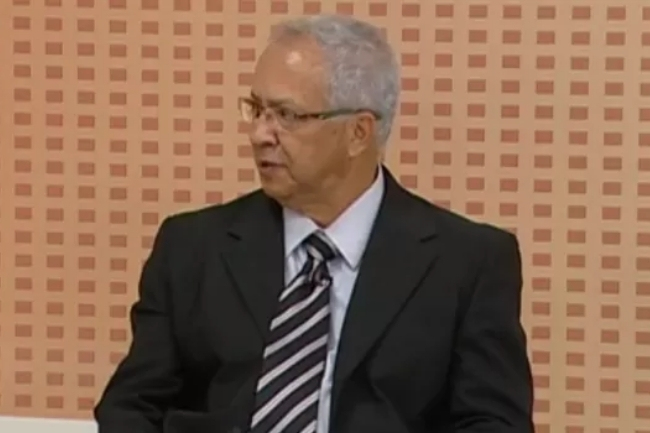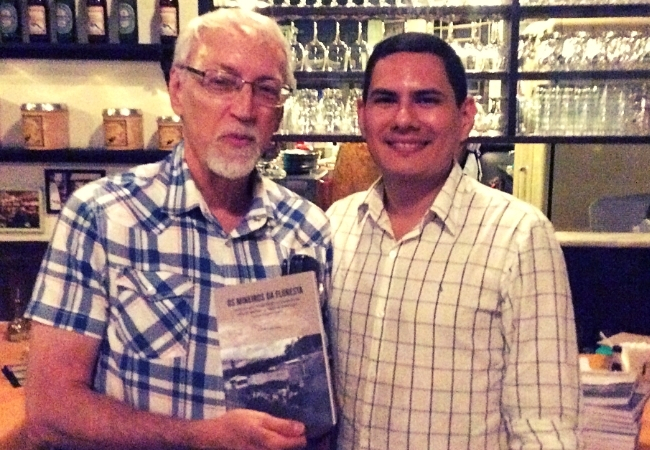Posts com a Tag ‘Modernização’
Intelectuais e a modernização no Brasil: os caminhos da revolução de 1930 | Antônio Dimas Cardoso
Antônio Dimas Cardoso | Imagem: Inter TV
Lançada em 2020, pela Editora Unimontes, a coletânea Intelectuais e a modernização no Brasil: os caminhos da revolução de 1930, foi resultado do trabalho de organização de Antônio Dimas Cardoso e Laurindo Mekie Pereira. O primeiro, sociólogo, o segundo, historiador, ambos compartilham a experiência de, em pesquisas anteriores, avaliar a presença e a agência intelectual nas dinâmicas de modernização, sejam nacionais ou continentais. Tratase de matéria cara aos/às investigadores/as das primeiras décadas do século XX brasileiro, uma vez que recorta justamente a fase de profissionalização intelectual em uma paisagem de mudanças políticas, econômicas e culturais, especialmente, após o fim da Grande Guerra e a ascensão de Getúlio Vargas à presidência (MICELI, 2001; JOHNSON, 1995; PÉCAULT, 1990).
A complexidade da temática macro é enfrentada por autores e autoras das áreas de Direito, Ciência Política, Sociologia e, notadamente, da História. Embora não apresente uma divisão explicita, pode-se avaliar a obra em duas partes: na primeira, que reúne os cinco capítulos iniciais, as diferentes abordagens têm em comum o objeto a partir do qual constroem a argumentação, qual seja: as trajetórias de sujeitos históricos que, nascidos no final do século XIX, se posicionaram em diferentes territórios dos espectros políticos então constituídos e atuaram nas dinâmicas históricas que levaram ao poder um novo modelo institucional. Entre defensores e opositores, o leitor e a leitora terão oportunidade compreender como os eventos de 1930 resultam de disputas, alianças instáveis e diferentes graus de afinidade. Uma segunda parte, que engloba os últimos três capítulos, dá conta de evidenciar questões mais amplas relacionadas ao ensino e às reformas educacionais, às rupturas e permanências das dinâmicas eleitorais e à forma como os eventos da política brasileira foram interpretados em Portugal, no calor dos acontecimentos. Leia Mais
Let’s Misbehave. La naciente cultura de clase media. Modernización y cultura de masas en Chile 1919-1931 | Alejandro Osorio Estay
Las masivas jornadas de protestas iniciadas en octubre de 2019 y la crisis económica de 2020, producto de los efectos de la pandemia del COVID-19, son acontecimientos recientes que al unísono han puesto en la palestra a la clase media chilena. La prensa escrita y televisada difundió notables reportajes sobre los grupos medios y las dificultades que atravesaban por la falta de trabajo, el endeudamiento y la desprotección social. Lo interesante fue que nuevamente, como cada vez que aludimos a la clase media, aparecía la pregunta: ¿Qué es ser de clase media? Variados estudios y estadísticas han identificado a la clase media como un grupo social con cierto ingreso económico, nivel educativo y acceso al consumo, pero la clase media comprende un importante componente cultural que la distingue de los demás sectores sociales según su capital simbólico. En esta línea, el trabajo de Alejandro Osorio es una contribución valiosa para la historiografía chilena, porque ofrece novedosas respuestas a esta pregunta a través de una investigación bien documentada, amena y elástica que se hace cargo de los aspectos culturales que han conformado la clase media chilena desde inicios del siglo XX. Let’s Misbehave ve la luz en un escenario nacional idóneo y propone un relato que revela la mayor riqueza de la disciplina histórica, invitando al lector a desplazarse desde la actualidad a los albores del siglo pasado, identificando características propias de los grupos medios y cómo ellos fueron construyendo su identidad en una trayectoria histórica que también integra elementos políticos y económicos, pero por sobre todo culturales. Leia Mais
Las movilizaciones estudiantiles de 1970-1973 en la Universidad de Sonora. Ensayo sobre las influencias de los sesenta globales en un contexto local | Cuitlahuac Alfonso Galaviz || La universidad en el naufragio. El Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora y el conflicto por la modernización 1991-1992 | Denisse de Jesús Cejudo Ramos
La historia reciente de América Latina ha experimentado un crecimiento importante en las últimas décadas. En especial, son significativos los aportes que están realizando jóvenes investigadoras e investigadores en los estudios sobre las universidades y los movimientos estudiantiles. Sintomático de estas contribuciones son los dos libros que acaba de publicar la colección “La Mirada del Búho” de la Universidad de Sonora1 . El primero fue escrito por Cuitlahuac Alfonso Galaviz Miranda (2021) y se titula Las movilizaciones estudiantiles de 1970-1973 en la Universidad de Sonora. Ensayo sobre las influencias de los sesenta globales en un contexto local. El segundo, La universidad en el naufragio. El Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora y el conflicto por la modernización 1991-1992, pertenece a Denisse de Jesús Cejudo Ramos (2020). Leia Mais
I sepolti vivi / Gianni Rodari e Silvia Rocchi
Giane Rodari nell’ URSS, 1979. La Repubblica /

Ma a un certo punto del racconto abbandona il filo della cronaca e segue la storia di Ernesto e Maria, due giovani sposi, separati dallo sciopero. Lui chiuso nelle viscere della terra, lei tenuta lontana dalle cure per il loro bambino e per il vecchio padre, ma anche dalla pressione delle forze dell’ordine che impedivano contatti diretti, rendendo pesante perfino la consegna del cibo. Rodari concentra l’attenzione su come quei giovani stessero vivendo non un’avventura, né una disgrazia, ma l’impegno per fare del proprio lavoro il mezzo con cui costruire Il loro futuro. Ma anche il loro disperato bisogno di vedersi, solo per uno sguardo, per una parola e immagina Ernesto rischiare la lunga, faticosa e pericolosa risalita per una ’uscita di sicurezza’ dalla miniera, non controllata dalla polizia perché ritenuta impraticabile. Un cunicolo da percorrere a tratti strisciando, fatto di gradini appena accennati e addirittura di arrampicate con funi, lungo un percorso che sembrava non finire mai e sempre con un rischio incombente. Scrive Rodari : “Cinque ore di strada per nulla fece Ernesto Donini, un giovane minatore di Pergola, domenica, ventidue giugno. Voleva rivedere la moglie, dopo ventiquattro giorni, almeno per un istante. Maria non c’era. Ernesto gridò a qualcuno che l’andasse a chiamare, forse stava attorno alla miniera. Ma alla fine dovette rassegnarsi e ridiscendere”. Per trovarsi all’appuntamento convenuto, la giovane moglie aveva lasciato il bambino di un anno al vecchio padre dalla salute malferma e aveva percorro 12 km a piedi. Ma, al momento opportuno, la polizia impedì loro di incontrarsi e anche solo di parlarsi.
Così Rodari racconta ciò che non era visibile della lotta operaia: l’umiliazione, con cui chi ha il potere cerca di sfibrare la resistenza di chi potere non ne ha.Hanno fatto bene Ciro Saltarelli e Silvia Rocchi a riprendere e valorizzare questo vecchio reportage, costruendo un libro ( Gianni Rodari, Sepolti vivi, da un’idea di Ciro Saltarelli e illustrazioni di Silvia Rocchi, con un pensiero di Gad Lerner, Torino, Einaudi, 2020) che grazie ai disegni di Silvia Rocchi permette di tornare a riflettere con più calma sul senso del lavoro di Rodari. Perché questo libro non parla del passato. L’umiliazione come strumento di oppressione, oggi più che mai, è all’ordine del giorno in tutte le latitudini della terra. Ma attuale è anche l’impegno per combatterla. E su questo versante l’opera di Rodari è preziosa. Per comprendere l’importanza di quello che era pur sempre uno dei tantissimi episodi di conflittualità economico-sociale dei cruciali anni 50, occorre ricordare che erano passati solo pochi anni dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana con al primo articolo il suo fondamento nel lavoro.Se per difendere il salario era necessario ricorrere a forme di lotta che mettevano a rischio la salute e la vita; se la polizia interveniva rendendo più difficile la resistenza, parteggiando così per una delle parti in conflitto, allora cos’era cambiato rispetto al fascismo? Quale discontinuità aveva introdotto l’assetto repubblicano? Qual era il senso vero della Repubblica fondata sul lavoro?Era chiaro che le recenti conquiste politiche non erano la fine, ma solo l’inizio di un nuovo cammino. Di un lungo cammino, per il quale necessitavano forze nuove e nuovi strumenti. Era questo il fronte su cui Rodari impegnò tutta la sua forza creativa. Lo disse espressamente presentando La grammatica della fantasia (1972): insegnare “tutte le parole a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”.
Il senso politico del lavoro narrativo dedicato ai bambini di Rodari non sta nel denunciare ingiustizie dolore e umiliazione di chi lavora, né di dare voce a chi non l’ha mai avuta. Molto più radicalmente egli elabora strumenti di lotta, mezzi che servano a chi li usa per difendersi e contrastare chi fa della parola e della cultura uno strumento di dominio. E come campo di battaglia scelse, lui maestro elementare, la scuola e i bambini che la vivevano. A loro ha dedicato la vita, scrivendo cose la cui bellezza da sola testimonia amore e dedizione. Così come, in questo testo, le tavole di Silvia Rocchi.
Franco Martina
Link per acquisto del libro: https://www.edizioniel.com/prodotto/i-sepolti-vivi-9788866566243/
RODARI, Gianni. I sepolti vivi. Da un’idea di Ciro Saltarelli. Illustrazioni di Silvia Rocchi. Resenha de: MARTINA, Franco. L’attualità di Gianni Rodari: “Insegnare le parole a tutti, perché nessuno sia schiavo”. Clio’92, 13 dic. 2020. Acessar publicação original
Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX) – MAGALHÃES (RHHE)
MAGALHÃES, Justino. Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX). Lisboa: Educa; Unidade de I&D de Ciências da Educação, 2010. 644p. Resenha de: CARVALHO, Bruno Bernardes. Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX). Revista de História e Historiografia da Educação, Curitiba, Brasil, v. 3, n. 9, p. 198-204, setembro/dezembro de 2019.
A obra “Da Cadeira ao Banco: Escola e Modernização (Séculos XVIII – XX)”, de autoria de Justino Magalhães, professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, é leitura essencial aos pesquisadores da História da Educação. Partindo da metáfora que dá título ao livro, o autor faz uma incursão pelos séculos XVIII ao XX, munido pela erudição que lhe é peculiar. Além do profundo trabalho de pesquisa, o autor nos oferece uma visão sobre a “história da longa duração”, isto é, o processo histórico de constituição da escola e da educação escolar enquanto instituintes e institutos da Modernidade na Europa. Adotando a perspectiva da síntese historiográfica, pela visão ampliada do processo de escolarização, o conjunto de análises e reflexões apresentadas na obra são importantes contribuições à historiografia educacional, pois faz emergir categorias de análise, que servem de aporte para outras investigações, como por exemplo: estatalização; nacionalização; governamentação; regimentação; cultura escrita; e munícipio pedagógico, discutidas em artigos e livros anteriores por Justino Magalhães.
O livro divide-se em três partes: Questões Introdutórias; Parte I – História do Educacional Escolar Português; e Parte II – Da Cadeira ao Banco. A primeira é composta por ensaios que versam sobre a História da Educação, enquanto área de pesquisa, e a escola como objeto historiográfico. Magalhães (2010) ressalta o vínculo existente entre história e educação, e entre educação e sociedade. Coloca em relevo a educação e o educacional escolar como elementos basilares da Modernidade, aqui entendida como o longo ciclo histórico que abrange os séculos XVIII a XX. Também destaca que a escola e a cultura escolar, no desenvolvimento histórico, tornaram-se constitutivas e instituintes da Modernidade, desempenhando papel de relevo na modernização da sociedade e no processo de constituição dos estados nacionais. Nesse âmbito, a educação, e mais especificamente a educação escolar, mediante a generalização da cultura escrita, forneceu as bases de legitimação para constituição e afirmação do Estado em relação à sociedade. Pensada e institucionalizada como forma de regenerar a sociedade via consecução da cidadania, a escola evoluiu assentada no paradoxo modernização-tradição, de preparar o futuro pela reafirmação do passado. Questões que ele procura demonstrar tomando por mote a análise do caso português, objeto do capítulo seguinte. Além deste argumento central, o tópico introdutório contém reflexões sobre a História, a prática historiográfica e a pesquisa em História da Educação, sendo que o autor defende uma perspectiva epistemológica que perpasse diferentes dimensões espaço-temporais: curta, média e longa duração; local, regional e nacional; em escalas micro, meso e macro.
Já na Parte I, História do Educacional Escolar Português, Magalhães procura “reconstituir” a gênese e desenvolvimento da escola em Portugal, buscando estabelecer a cronologia desenvolvimento do sistema educativo português, tomando sempre em consideração o educacional escolar, como resultante da relação escola-sociedade. O período analisado (séculos XVIII – XX) é caracterizado por ciclos: es-tatalização, nacionalização, governamentação e regimentação. Progressivos e integrativos, cumulativa e lentamente resultaram na institucionalização da escola em Portugal, numa perspectiva da História enquanto processo.
A estatalização compreende o período que vai de 1752 quando Marquês de Pombal assume o poder, até 1820, com a Revolução Liberal do Porto. Compreende, assim, o seguinte feixe de características e processos: a ênfase da escrita como elemento de estruturação e organização do social; a escolarização do ensino e da cultura escrita; a escrita e a escola enquanto condição e instância de civilidade, ou seja, a emergência de “um proto-sistema escolar”, conforme nominado pelo autor, pois com esta estrutura “embrionária” se estabelece o “Subsídio Literário”. Neste cenário a instrução adquiriu centralidade, tornando-se matéria de interesse público, desígnio a ser assumido pelo Estado. Iniciava-se a transfiguração da educação em tecnologia do social, como meio de racionalização da sociedade e do estado nacional.
A partir da implantação do liberalismo em Portugal (1820), o desenvolvimento histórico educacional português promove um processo de nacionalização, já que a ênfase passa a recair na consolidação da nacionalidade portuguesa. A instrução pública acena com centralidade na construção de uma identidade pátria, a escola e a cultura escolar são nacionalizadas, mediante alguns processos a se destacar: a nacionalização curricular; a burocratização da estrutura escolar; a normalização pedagógica; protagonismos das instâncias locais, em especial as paróquias e municípios; adoção e reforço da língua vernácula como base da cultura escrita e da cultura escolar. Escola e nacionalidade caminharam associadas no período em questão, valorizando-se o nacional, as tradições e os valores pátrios, visando a construção de uma portugalidade.
O terceiro período histórico do desenvolvimento educacional português, trabalhado por Magalhães, século XIX, é caracterizado como ciclo em que a educação escolar se estrutura num sentido de maior organização e burocratização. Para Magalhães a escola nacional, além de reconfigurar o sentido do escolar, instala a governamentação, ou a burocratização do educacional escolar, com vistas a modernizar a escola e, por conseguinte, transformar a sociedade. O Estado português assume maior protagonismo na organização da escola, instituindo normas de escrituração escolar, uniformizando o currículo, criando órgãos de governo para inspeção do ensino, ampliando o aparelho pedagógico-administrativo, profissionalizando o magistério, enfim, variadas ações no sentido de conferir uma racionalidade burocrática à educação. Organizando a escola, pretendia-se o ordenamento e a regeneração da sociedade.
Há que se destacar também neste ciclo de governamentação, o papel desempenhado pelos municípios na organização da instrução em Portugal. Muito embora as ações empreendidas pelo governo português indiquem uma centralidade, com o estado nacional promovendo a normatização do escolar, os municípios portugueses contavam com certa porção de autonomia, resultado da descentralização administrativa, constituindo-se como “municípios pedagógicos”, espaços não somente de ação e decisão política, mas territórios essencialmente pedagógicos, educacionais, envolvendo-se diretamente na organização da instrução em seus domínios. É possível afirmar que exista uma autonomia regulada, ou seja, uma descentralização normatizada, em que as instâncias locais contavam com certo grau de autonomia, ao passo que o estado nacional, sobretudo, por meio da inspeção de ensino, normatizava e conferia uma racionalidade burocrática a educação escolar.
Por fim, o quarto ciclo histórico caracterizado pelo autor, a regimentação, define um período de vínculo e condicionamento entre escola e regime político. Trata-se de uma aproximação, ou mesmo de uma fusão entre os ideais do regime político instituído e a educação, entre a escola e o Estado. A escola é literalmente regimentalizada, ou nas palavras de Magalhães (2010), tem-se a “prevalência do Estado, arrastando e arrestando a escola para si” (p.349), uma aliança entre escola e regime com vista ao progresso do país. O período de regimen-tação abrange tanto a República quanto o Estado Novo em Portugal1. Durante o período republicano a tônica recai em republicanizar a escola, a fim de se republicanizar o país. Fundem-se neste sentido os ideais de cidadania, republicanismo, nacionalismo, patriotismo. A escola republicana objetivava formar o cidadão republicano, o homem novo. A escola emerge neste período consolidada enquanto tecnologia do social, como meio de ordenação e progresso da sociedade. pela via da escolarização pretendia-se a regeneração do social. E no que se refere ao chamado Estado Novo em Portugal, tais concepções são ainda mais acentuadas durante a administração salazarista: reforça-se a ideologização do ensino, com forte apelo cívico-nacionalista. Conforme metáfora do autor, “do velho se fez novo”, o Estado Novo se apropria da regimentação do educacional republicana, reincidindo sobre o teor nacionalista.
Na Parte II da obra, “Da Cadeira ao Banco”, o autor retoma os quatro ciclos históricos apresentados na seção anterior, agora tomando por argumento central a cultura escolar e seu processo histórico de constituição. Somente aí temos claramente apresentado o conceito presente na metáfora da “Da cadeira ao Banco”: assim como a criança, que ao entrar na escola levava consigo sua própria cadeira, e ao passo de seu desenvolvimento intelectual ascendia à bancada e à mesa central, a escola enquanto instituição social, também pode ser entendida metaforizada num processo de crescimento, que perpassa segundo o autor, dois séculos de história. Nesta parte da obra a cronologia não é mais o ponto principal da análise, mas sim os aspectos gerais e mais profundos que caracterizam o desenvolvimento da escola em sua relação intrínseca com a sociedade. Magalhães destaca que: “O processo de passagem da cadeira ao banco/ bancada espelha a evolução da instituição escolar, no plano interno e na sua relação com a sociedade (…)” (p. 414).
Da cultura escolar em Portugal, instituída historicamente e instituinte do social, são indicados os vetores centrais do processo de constituição do escolar em Portugal: a universalização da escola e da cultura escrita ao longo destes dois séculos; a escola concebida como como tecnologia do social, via de legitimação e consolidação do Estado-Nação; o paradoxo escolar de construção do futuro pela preservação da tradição, ou em outras palavras, a contradição escolar de pretensamente fornecer os meios de regeneração e progresso da sociedade, mediante a reafirmação de valores pátrios e da tradição; o crescente processo de regulamentação e burocratização do educacional escolar, aliado as ideologias dos regimes políticos; o caráter essencialmente educacional da Modernidade, na estreita e complexa relação existente entre modernidade, cultura escrita, escola, cidadania e estado-nação. Em linhas gerais, esta segunda parte da obra cristaliza a concepção de que a cultura escrita como meio, e a escola como centro, caracterizam a Modernidade enquanto processo civilizacional, destacando a relevância e o significado histórico do processo de escolarização como instância de modernização da sociedade portuguesa.
Importante mencionar que o autor dedica um capítulo especial para análise da realidade educacional brasileira, demonstrando inclusive diálogo fértil com pesquisadores brasileiros. Empreendendo uma análise comparada, analisa os ciclos históricos do educacional no Brasil, tomando por base as mesmas categorias do caso português: estatalização, nacionalização, governamentação e regimentação. Dentre outras questões, Magalhães (2010) destaca o papel desempenhado pelos municípios na organização da instrução primária brasileira, apontando para uma municipalização da instrução.
Numa inapropriada síntese, dada a complexidade e profundidade da obra em tela, aos que se interessarem pela leitura e pelo vai-vém “Da Cadeira ao Banco”, será possível ter uma melhor compreensão da relação existente entre escola, sociedade e Modernidade. Enquanto tecnologia do social a escola é instituto e instituinte, fator de modernização. À imagem da criança que adentra à escola com sua cadeira, somos conduzidos pelo autor, que espelhando a ação do mestre nos insta a aprofundar nosso entendimento sobre o processo de escolarização, tomando nosso lugar na bancada ao centro da sala.
Notas
1 A implantação da República em Portugal data de 1910, enquanto o Estado Novo tem sua origem em 1926, perdurando até 1974, sendo também este último período denominado de salazarismo.
Bruno Bernardes Carvalho – Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia (Brasil). Contato: [email protected].
O Século XX em Goiás: O advento da modernização | Cristiano A. Arrais, Eliéser Oliveira, Tadeu A. Arrais
A história explica o passado, ajuda a entender quem somos hoje e, para os leitores mais atentos, pode dar pistas importantes sobre caminhos a seguir. O livro O Século XX em Goiás: O advento da modernização apresenta, de forma sóbria e objetiva, o processo histórico de formação do estado goiano e sua modernização recente. Fatos cruciais nessa trajetória são apresentados com base em documentos, mapas e imagens escrutinados pelos autores Cristiano Arrais, Eliéser Oliveira e Tadeu Arrais. A modernização de Goiás é contextualizada a partir do estudo da infraestrutura construída, das transformações em setores dinamizadores da economia e das mudanças sociais e populacionais ocorridas no último século.
O primeiro capítulo, Circulação, detalha o desenvolvimento do sistema de transporte em Goiás e sua influência na configuração atual do espaço. O capítulo seguinte, Economia, retrata o desenvolvimento econômico do estado, ressaltando o desenvolvimento da agropecuária moderna e o recente progresso industrial. O capítulo Sociedade descreve o desenvolvimento dos sistemas de saúde e educação e o capítulo Urbanização analisa a expansão urbana recente. Essa evolução histórica resultou em avanços importantes para a modernização inicial do estado. Leia Mais
Alegoria moderna: crítica literária e história da literatura na obra de Sérgio Buarque de Holanda – NICODEMO (Topoi)
NICODEMO, Thiago Lima. Alegoria moderna: crítica literária e história da literatura na obra de Sérgio Buarque de Holanda. São Paulo: FAP-Unifesp, 2014. Resenha de: GAIO, Henrique Pinheiro Costa. A crítica como missão: formação e modernização na obra de Sérgio Buarque de Holanda; Topoi v.18 n.35 Rio de Janeiro July/Dec. 2017.
Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) tem uma obra volumosa e que transitou entre a crítica literária, o ensaísmo e a escrita histórica monográfica. Talvez não seja equivocado dizer que sua trajetória intelectual, sobretudo entre os anos 1920 e 1950, pode funcionar como uma espécie de metonímia do processo de profissionalização do historiador ou de autonomização do campo, tendo como referência importante a consolidação de instituições universitárias no Brasil. Sua obra mostra-se encorajadora de imensa fortuna crítica: variadas abordagens demonstram não somente a juventude perene de um pensador clássico como também ilumina certas nuances da reflexão buarquiana. É justamente neste contexto de ampliação e sedimentação da fortuna crítica do autor – que tanto serve como estorvo para leituras ingênuas como também instiga novos caminhos de pesquisa – que Alegoria moderna: crítica literária e história da literatura na obra de Sérgio Buarque de Holanda (2014), de Thiago Lima Nicodemo, deve ser inserido.
A trajetória da pesquisa de Thiago Nicodemo parece traçar um movimento contrário ao do processo de profissionalização do historiador, uma espécie de leitura a contrapelo ou teleologia às avessas. Nicodemo, em seu livro anterior, fruto de sua dissertação de mestrado, Urdidura do vivido: Visão do paraíso e a obra de Sérgio Buarque de Holanda nos anos de 1950 (2008), lidou com um momento basilar no trabalho de Sérgio Buarque: o processo de especialização que culmina com a feitura de Visão do paraíso (1958) e sua inserção universitária. Em sua nova publicação, Nicodemo recua cronologicamente com o intuito de perscrutar o processo de formação do historiador acadêmico, abarcando desde a década de 1920 até a de 1950, ou seja, a passagem do jovem crítico modernista, atento ao debate dos dilemas da modernização nacional, para o historiador maduro que opta por cortes mais circunscritos em detrimento de generalizações e que, sobretudo, mescla com peculiar maestria erudição e imaginação. O arco cronológico abarcado pela pesquisa permite uma compreensão abrangente da formação do intelectual; por meio do cruzamento entre crítico literário, ensaísta e historiador, é possível mapear interesses recorrentes e constantemente burilados. Tal esforço de cruzamento já demonstra a relevância da pesquisa que temos em mãos.
Ao retornar para a década de 1920, Thiago Nicodemo aponta para os interesses compartilhados com aquela geração e a influência duradoura de temas tipicamente modernistas ao longo da vida intelectual de Sérgio Buarque de Holanda. Para além da definição estanque do jovem modernista ou do historiador maduro, almeja demonstrar certa continuidade, ou seja, a importância do resgate de sua produção de crítica literária como forma de compreender sua formação intelectual e o desenvolvimento intermitente de temas fulcrais na sua reflexão. Nicodemo realiza um bem-sucedido esforço de lastrear o caráter de missão que orienta a trajetória de Sérgio Buarque de Holanda, pois ao definir precursores e ao reconhecer a manutenção de assuntos do jovem modernista na pena do historiador maduro demonstra a unidade do pensamento e certo sentido da escrita.
Sérgio Buarque molda sua crítica por meio de uma metodologia fugidia e diversificada, todavia, esforça-se para estabelecer um diálogo entre obra e tradição, autor e ambiente de escrita. Segundo Antonio Candido, para se ter dimensão da fortuna da contribuição do jovem crítico, às vezes é preciso compreender que ela se articula “com todo um ciclo da civilização a que pertence, como no caso da extraordinária análise de Cláudio Manuel da Costa”, quando o crítico, de acordo com Candido, “circula no tempo, vai até Petrarca, vem até Lope de Vega, vai até Dante Alighieri, vem a Metastasio, volta para Cláudio Manuel da Costa, a constelação vai se formando e você sente que para explicar aquele texto curto de catorze versos ele mobiliza a civilização do Ocidente.”1 Tal comentário mostra-se importante para indicar não só a conhecida erudição do crítico, mas também a dimensão histórica que se revela no diálogo da obra literária com uma tradição ocidental.
Nicodemo, evitando o risco e o reducionismo da influência, explora o impacto da viagem de Sérgio Buarque aos Estados Unidos, em 1941, momento em que entrou em contato com os pressupostos teóricos do new criticism, que reivindicava a autonomia do texto literário em relação à biografia do autor e o ambiente de sua produção. A técnica do close reading, no entanto, não provocou no crítico o descarte da historicização da estrutura linguística e estética. A experiência norte-americana, mesmo com seu valor na institucionalização disciplinar, trazia como corolário um formalismo radical que soava como conservadorismo. Além disso, o “senso das coalescências”, indicado por Candido na crítica literária de Sérgio Buarque, apontava para o jogo de semelhanças e diferenças, rupturas e permanências. Portanto, o crítico, ao temporalizar a experiência estética, recusava deliberadamente fazer da historiografia literária um mero catálogo de escolas. Desse modo, a historicidade literária, segundo a crítica buarquiana, implica não ignorar que a obra de ficção seria fruto de certa inserção no tempo, condicionada por determinado horizonte histórico, donde o autor não pode mais ser visto como um gênio romântico que prescinde do mundo para criar. Assim, o que parece estar em jogo são as condições de possibilidade de criação literária ou a “pesquisa da constituição do texto”. Dito em outras palavras, sem denegar a autonomia da linguagem da ficção, o crítico busca combinar sua análise aos estratos históricos que possibilitam a feitura do artefato literário.
A chave de leitura de Candido, também seguida por Antonio Arnoni Prado, parece funcionar como um fio condutor de Alegoria moderna. Não somente porque existe um deliberado esforço de continuação de certa tradição interpretativa, algo demarcado claramente ao longo do trabalho, mas também porque a missão modernista parece conferir sentido ao processo de profissionalização das letras nacionais. Seguindo os passos de Mário de Andrade, inclusive o substituindo no Diário de Notícias em 1941, Sérgio Buarque, desde sua militância modernista, assume o compromisso da especialização e da superação de uma cultura de superfície, pautada por bacharéis e medalhões, críticos impressionistas e historiadores diletantes. Tais personagens funcionariam como arautos de uma palavra vazia, palavra feito ornamento, ou ainda, como um passado que ainda se faz presente, algo que depõe contra o esforço de modernização das letras nacionais. Thiago Nicodemo, ao alargar a crítica literária de Sérgio Buarque num horizonte mais amplo de exortação de mudanças na intelectualidade brasileira, identifica sua dimensão cultural e sua inserção no processo de autonomização do campo intelectual, tal como pensado por Pierre Bourdieu.
Se a costura do trabalho de Thiago Nicodemo é o reconhecimento de certa missão crítica de superação de traços coloniais, conferindo unidade à reflexão, faz-se necessário dizer que isso não implica carência de contradições ou o descarte de rasuras significativas na obra de Sérgio Buarque. Os planos de historicidade que se manifestam em modificações nas três primeiras edições de Raízes do Brasil, as intersecções entre Visão do paraíso (1958) e Capítulos de literatura colonial (1991), assim como a recorrência dos temas, revelam a presença de diversas temporalidades na orientação e reorientação da escrita buarquiana.2 Como em um palimpsesto, onde horizontes históricos se cruzam na constante atividade de reescrita que não apaga de todo o passado, a escrita ficcional e o próprio ato crítico são marcados pela passagem do tempo e por uma consciência histórica que desempenha um papel estruturante. A abordagem hermenêutica mobilizada por Nicodemo, valendo-se de autores como Hans-Georg Gadamer e Jörn Rüsen, numa espécie de duplicação da abordagem buarquiana, permite compreender a dimensão estética no interior de estruturas históricas, sem, contudo, subsumir uma na outra. Desse modo, segundo alerta Thiago Nicodemo, “não é possível afirmar que Sérgio Buarque de Holanda possuía uma ‘concepção’ de crítica literária, já que sua ideia era justamente buscar um ‘ajuste’ entre o horizonte criativo e o horizonte crítico”.3 Além do reconhecimento do caráter movediço da reflexão, o sentido de missão de Sérgio Buarque parece ter sido captado em seu momento de engendra mento, evitando-se certa teleologia que descrevesse sem tensões a transição do crítico diletante para o historiador profissional.
Thiago Nicodemo movimenta-se entre texto e contexto esquivando-se das dicotomias e do equívoco das influências reguladoras. Tal cuidado teórico fica patente ao demonstrar o impacto da experiência italiana na feitura do estudo inacabado que dá origem a Capítulos de literatura colonial – título concebido por Antonio Candido aos rascunhos encontrados postumamente e publicados em 1991. Detalhando a vivência italiana por meio de ampla documentação (cartas, documentos do Itamaraty, ementas de disciplina etc.), Nicodemo, seguindo a sugestão de Candido sobre uma “fase italiana” (1952-1954), descreve as condições que possibilitam a redação de Capítulos de literatura colonial e Visão do paraíso, ou seja, articula um momento fundamental da trajetória tanto do crítico quanto do historiador.4 A influência de pensadores como Mario Praz e Benedetto Croce, assim como a familiaridade com autores italianos do Renascimento, Barroco e Arcadismo, permitiu a ampliação do aparato erudito do crítico e o distanciamento de um nacionalismo literário típico do século XIX – mas que se estendeu, não sem alterações, até a década de 1950 como “nacionalismo estratégico”, na definição de Antonio Candido.
Admitindo-se a concomitância da pesquisa e escrita de Capítulos de literatura colonial e Visão do paraíso na década de 1950, mostra-se relevante o distanciamento de uma historiografia literária que se amparava na reconstituição de origens e no esforço de identificação de nativismos pretéritos, buscando retrospectivamente eventos que permitissem elaborar uma narrativa redentora da formação, numa espécie de anunciação da presença. Evitando a orientação interessada do nacionalismo que pautava a historiografia literária tradicional, Sérgio Buarque procurou a articulação do passado literário nacional por meio dos topoi. Nesse sentido, o trabalho de Ernest Robert Curtius, Literatura europeia e Idade Média latina (1948), torna-se central para compreender o papel que as permanências literárias que atravessam fronteiras e remetem a uma herança retórica antiga adquirem na reflexão buarquiana da década de 1950.
A tópica enquanto “celeiro de provisões” literárias, tal como anunciada por Curtius, foi fundamental na feitura de Visão do pa raíso.5 Os motivos edênicos que impulsionam o ideal aventureiro dos descobrimentos e organizam os primeiros contatos com o Novo Mundo não somente criavam uma tensão entre experiência e fantasia, mas também imputavam ao estilo condicionamentos históricos, podendo inclusive expor novas disposições subjetivas. Nicodemo, que, seguindo a sugestão de Luiz Costa Lima, estudou com densidade o uso da tópica na costura de Visão do paraíso, estendeu sua análise para Capítulos de literatura colonial. Esse movimento mostra-se extremamente profícuo para a compreensão do esboço de historiografia literária de Sérgio Buarque.
Segundo Nicodemo, o autor aponta para uma “longa permanência da épica como padrão figurativo da literatura na América portuguesa”, o que significou o afastamento da influência romântica na avaliação do passado literário colonial. Desse modo, o gênero tornou-se, para o crítico e historiador, “ponto de partida para compreender os textos como parte de um tecido social e, por isso, em constante interação com um público dotado de horizonte específico”.6 Dito de outra forma, como consequência desse ponto de partida, a demonstração da extensão do gênero épico, que perpassa o século XVII e estende-se até o XIX, indica a força da convenção em detrimento de uma originalidade de traço romântico, donde a emulação e a engenhosidade possuem uma ocorrência técnica. Assim, segundo a leitura proposta por Nicodemo, “a literatura na América portuguesa busca conferir dignidade épica a temas figurados no território ultramarino”,7 ou seja, a história da literatura colonial parece ser o relato da gradativa adaptação de códigos literários europeus ao ambiente americano. O intuito de inserir a América no quadro imagético europeu faz com que Capítulos de literatura colonial tenha como estrutura narrativa a formação da tópica do “mito americano” ou “tópica do sentimento nacional”. Portanto, figura como uma espécie de continuação de Visão do paraíso.
No âmbito de uma história cultural, o que emerge do uso da tópica é uma consciência histórica que se molda por meio da tensão entre um modelo figurativo associado ao corpo místico, fundamentação do Estado Absoluto, e o gosto arcádico que se vincula ao modelo figurativo da modernidade. Nesse jogo entre o antigo e o novo, compreender a permanência de barroquismos, de uma hiperbólica e retorcida linguagem, significa ater-se à dificuldade de sedimentação da clareza e sobriedade árcade, significa problematizar os estorvos impostos à modernização da cultura, investir no descompasso entre os influxos do iluminismo e o desenvolvimento do “gosto árcade”. Segundo Nicodemo, investir em tal tensão pressupõe que “a cultura cumpre, enfim, um papel fundamental e oferece para Sérgio Buarque de Holanda a chave da compreensão do processo histórico de formação (…)”. 8
O descompasso ou o impasse da modernização remete à questão do Barroco. Em Capítulos de literatura colonial, o Barroco aparece não somente como parte das demandas crítico-literárias da década de 1950, condicionada pelo resgate de procedimentos poéticos herméticos, mas como possibilidade de se pensar a formação nacional – tema caro aos modernistas. Nicodemo demonstra como a preocupação com o papel do “longo barroco” na colônia não aparece de maneira fortuita na obra de Sérgio Buarque. Este, além de anunciar na terceira edição de Raízes do Brasil, de 1956, A Era do Barroco no Brasil (Cultura e vida espiritual nos séculos XVII e XVIII) como obra em preparo e indicando a realização de três volumes – trabalho nunca realizado -, parecia querer articular uma mentalidade barroca com seu diagnóstico dos problemas da formação nacional.
Assim, o que está em jogo para Nicodemo, em sua proposta de relacionar a história literária buarquiana com a formação nacional, não é somente o caráter convencional da literatura colonial que se pautava em preceptivas retórico-poéticas rígidas, mas a dimensão histórica do processo de acomodação dessas preceptivas, justamente a possibilidade de amolecimento ou de misturas de gêneros. A tradição ibérica, desse modo, pressupõe a força da figuração barroca que se prolonga até o início do século XIX, marcando a manutenção de uma linguagem alambicada e de uma mentalidade formatada pela aversão às hierarquias e à hegemonia dos laços familiares e patriarcais. Nesse ponto, o tema central de Raízes do Brasil, a preocupação com a superação do passado ibérico que teima em impor-se diante da vontade de modernização, parece prolongar-se na reflexão buarquiana.
Fruto de tese de doutoramento, Alegoria moderna tem como mérito investir, com resultados profícuos, em veredas sugeridas pela fortuna crítica do autor analisado, mas ainda não percorridas. Thiago Nicodemo acrescenta mais um traço firme no quadro interpretativo-analítico da obra buarquiana, como também de sua própria trajetória acadêmica, que vem se caracterizando por pesquisa consistente e esforço contínuo de compreensão da escrita de Sérgio Buarque de Holanda.
1CANDIDO, Antonio. Apud PRADO, Antonio Arnoni. Introdução. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. O espírito e a letra: estudos e crítica literária. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 32. Ver também: CANDIDO, Antonio. Inéditos sobre literatura colonial. In: Sérgio Buarque de Holanda: 3. Colóquio Uerj — Rio de Janeiro: Imago, 1992.
2NICODEMO, Thiago Lima. Planos de historicidade. História da Historiografia, Ouro Preto, n. 14, p. 44-61, abr. 2014. Disponível em: <www.historiadahistoriografia.com.br>. Acesso em: 4 ago. 2016.
3NICODEMO, Thiago Lima. Alegoria moderna: crítica literária e história da literatura na obra de Sérgio Buarque de Holanda. São Paulo: FAP-Unifesp, 2014, p. 125.
4CANDIDO, Antonio. Introdução. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de literatura colonial. São Paulo: Brasiliense, 2000.
5CURTIUS, Ernest Robert. Literatura europeia e Idade Média latina. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1957. Ver também: LIMA, Luiz Costa. Sérgio Buarque de Holanda: Visão do paraíso. Revista USP, São Paulo, n. 53, p. 42-53, mar./maio 2002. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br>. Acesso em: 4 ag. 2016; NICODEMO, Thiago Lima. Urdidura do vivido. Visão do paraíso e a obra de Sérgio Buarque de Holanda nos anos de 1950. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.
6NICODEMO, Thiago Lima, Alegoria moderna: crítica literária e história da literatura na obra de Sérgio Buarque de Holanda, op. cit., p. 216.
7Ibidem, p. 221.
8Ibidem, p. 236.
Recebido: 16 de Agosto de 2016; Aceito: 24 de Setembro de 2016
Henrique Pinheiro Costa Gaio – Doutor em História pela PUC-Rio e pós-doutorando no Departamento de História da Univesidade Federal de Ouro Preto-UFOP. Ouro Preto – MG, Brasil. E-mail: [email protected].
Armar el Bandido. Prensa, folletines y delincuentes en el Uruguay de la modernización: el caso de El Clinudo (1882 – 1886) | Nicolás Duffau
La investigación en la historia del delito y el castigo ha tenido notorios avances en las últimas décadas en buena parte de América Latina. Ello resulta particularmente notorio en países como Argentina, Chile y México. Especialmente desde los años noventa se registró un incremento de los trabajos que pusieron un fuerte hincapié en los estudios sobre las transformaciones de la prisión, el delito y la figura del delincuente. Sin embargo, en Uruguay estos estudios parecen seguir fuertemente vinculados a la historia más tradicional del derecho alejada de la historia social. Una “historiografía de corsarios”, por usar palabras de Pavarini, que llevó a que los estudios del delito y el castigo proviniesen esencialmente del “mundo jurídico” concentrándose fundamentalmente en el desarrollo de la administración de justicia o en las transformaciones legales. En consonancia son escasos los trabajos en Uruguay en la matriz que se ha venido desarrollando en el continente. El libro de Nicolás Duffau “Armar el bandido”, que toma la figura de Alejandro Rodríguez “El Clinudo”, rompe con las ataduras del enfoque jurídico convencional para concentrar sus preocupaciones en la historia social pudiendo ser incluido en lo que Carlos Aguirre ha llamado “Nueva historia legal”. Leia Mais
Os mineiros da floresta: modernização, sociabilidade e a formação do caboclo-operário no início da mineração industrial amazônica | Alberto Paz
Da esquerda para direita: Robert Slenes e Adalberto Paz | Foto: Acervo de Adalberto Paz |

Atento a uma sociedade onde predominavam formas tradicionais de trabalho, Adalberto analisa o impacto que o sistema de produção icomiano gerou no cotidiano das pessoas que viviam no Amapá. O autor também buscou entender de quais formas o caboclo da região, acostumado a produzir para sua subsistência, no ritmo do ciclo da natureza, reagiu ao trabalho formal e hierarquizado, bem como às regras impostas pela empresa. Para tanto, o historiador utilizou-se de variadas fontes, como: relatos orais de ex-trabalhadores da Icomi, livros de memórias, artigos de jornais vinculados ao governo territorial, documentos oficiais como relatórios de estado e da empresa, até processos judiciais, encontrados no arquivo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.
O trabalho com processos judiciais é algo recente na historiografia amapaense, mas que vem atraindo mais e mais pesquisadores interessados nos conflitos sociais, como Sidney Lobato, que, em tese defendida na Universidade de São Paulo (USP), buscou analisar as táticas de sobrevivência usadas pelos trabalhadores urbanos em Macapá, entre 1944 e 1964, diante das inseguranças cotidianas por eles vivenciadas.[1] Todavia, no âmbito nacional, há já algumas décadas que os autos da justiça vêm sendo explorados por pesquisadores. Como exemplo, podemos destacar Maria Sylvia, que defendeu, no ano de 1964, a tese Homens livres na ordem escravocrata também na Universidade de São Paulo[2], período de grande desconfiança quanto ao uso desses documentos pelo historiador.
Na década de 1980, Sidney Chalhoub, a partir de Trabalho, lar e botequim[3], travou calorosos debates sobre as potencialidades e limitações dos processos-crimes, pois, ainda existia um forte ceticismo no que tange ao potencial dessas fontes. Contudo, nos últimos 30 anos, seu uso tornou-se bastante recorrente. Os autos criminais e cíveis possibilitam ao pesquisador preocupado com os conflitos sociais conhecer o cotidiano dos trabalhadores e as diferentes atividades destes fora do ambiente de trabalho, tendo como base as narrativas das contendas judiciais. Tais documentos passaram a ser um importante caminho para historiadores que adotam a perspectiva de baixo, um meio de dar maior visibilidade às experiências das classes subalternas.
A obra está dividida em três capítulos. No primeiro, o autor analisa as características da sociedade amapaense na década de 1940, bem como, as transformações ocorridas a partir do momento em que o Amapá se tornou Território Federal, desmembrando-se do estado do Pará, o que acarretou muitas mudanças sociais, econômicas e políticas. Nesta década, no centro deste território, foi encontrada uma grande jazida manganês de alto valor. O segundo capítulo focaliza o cotidiano do trabalhador na década de 1950, momento em que estava sendo instalada a infraestrutura do projeto Icomi. No seu último capítulo, Adalberto Paz, aborda a experiência dos operários dentro de uma cidade construída pela mineradora (company town), no interior da selva amazônica, e as relações desse operariado com o governo territorial – capítulo que também versou sobre as primeiras organizações sindicais na região.
Após a criação do Território Federal do Amapá e a nomeação de Janary Gentil Nunes para governar a região houve uma forte tentativa de modernizar a sociedade territorial. Para tanto, um dos caminhos, na visão dos governantes, seria o investimento em pesquisa que ensejasse o aproveitamento em larga escala das riquezas minerais do referido espaço amazônico. Assim, tendo como fonte artigos do jornal Amapá, Adalberto Paz afirma que Janany ofereceu um prêmio para quem levasse a ele provas concretas da existência de minérios no Amapá. Um regatão da região, Mario Cruz, sabendo da premiação, levou uma pedra de manganês ao governador. Paz afirma que a expedição de Mário ocorrera antes da divulgação da premiação que ficaria conhecida como o marco inicial da exploração mineral no Amapá.
O manganês encontrado era de alto teor e excepcional valor comercial, superior a muitas jazidas conhecidas naquela época. A partir disso, criou-se o mito em torno da viagem do aventureiro, o que passou a ser largamente divulgado e propagandeado por Janary Nunes, que se apresentava como o grande incentivador do aproveitamento das riquezas locais. A expedição de Cruz foi divulgada pelo jornal Amapá e pela Rádio Difusora, veículos ligados ao governo territorial.
Janary de várias maneiras buscava uma aproximação com o trabalhador da região. Este que estava acostumado com a extração da castanha, com os seringais e com os veios de ouro, mundos do trabalho muito diferentes do novo sistema produtivo que a Icomi implantou. Os discursos do governador eram elaborados cuidadosamente. Neles, Nunes buscava a valorização do elemento humano local, o caboclo, imagem-síntese do trabalhador amapaense. Com isso o governador clara e intencionalmente se aproximava do discurso trabalhista do presidente Getúlio Vargas, no mesmo período.
Quais seriam, então, as características desse trabalhador que habitava a região nos anos 1940? Adalberto Paz responde tal pergunta no primeiro capítulo. O autor buscou então compreender e identificar quem era esse trabalhador antes de tornar-se mineiro/operário. Para isso, consultou pesquisadores que tinham passado pela região. Assim, Paz percebeu que dois grandes segmentos extrativistas existiam na Guiana Brasileira, na década de 1940, “o vegetal, com a coleta da castanha-do-Pará e o da borracha; e o mineral, com a garimpagem do ouro” (PAZ, 2014, p.37). Cada atividade exigia um conhecimento específico, porém, muitos trabalhadores desenvolviam mais de uma durante o ano.
Por meio dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge), o historiador trouxe para seu trabalho detalhes dessas atividades. Segundo Antônio Teixeira Guerra, um dos pesquisadores citados por Paz, muitos seringueiros também eram castanheiros, o que era comum, pois, no período das chuvas “entre os meses de janeiro e abril – os trabalhadores apanhavam as castanhas nos médios e altos cursos dos rios e na estiagem – entre os meses de setembro e dezembro – dedicavam-se a extração do látex das seringueiras nos baixos cursos” (PAZ, 2014, p. 39). Importa salientar que os produtos eram negociados por meio do sistema de aviamento.
O sistema de coletas era uma atividade tradicional nesse espaço, e a possibilidade de dinamizar o mercado interno era vista com desconfiança pelo caboclo. Segundo o autor, alguns pesquisadores acreditavam que a falta de experiência, o emprego de métodos inadequados levaram os caboclos a tentativas mal sucedidas na agricultura, pois tais trabalhadores estavam acostumados a obter o seu sustento através do extrativismo.
Outro ponto que merece destaque no estudo de Adalberto Paz é a crescente presença de migrantes egressos do Norte e Nordeste, a maioria dos trabalhadores não especializados que rumaram para a região para compor a mão de obra proletarizada. Estes que eram formados por categorias de trabalhadores que já existiam em diversas regiões do país. Porém, afirma o autor, nas primeiras atividades da empresa Icomi na região (pesquisas e prospecções), os trabalhadores braçais eram originários de diferentes grupos de extrativistas, antes dispersos no interior do Amapá, nas ilhas do estado do Pará e nas cidades amapaenses interioranas. Importa ressaltar que muitos trabalhadores viram na instalação do empreendimento industrial a possibilidade de se desvencilharem das antigas práticas extrativistas, que demandavam muito trabalho e que amiúde geravam ganhos irrisórios.
No segundo capítulo, Adalberto Paz, traz os processos judiciais como principais fontes de análise, documentos que hoje são encontrados no arquivo do Fórum do Tribunal de Justiça de Macapá. Por meio de autos trabalhistas e criminais, o autor chega ao cotidiano dos trabalhadores amapaenses durante a década de 1950. Momentos de lazer, sociabilidades, e conflitos fora do ambiente fabril foram identificados. Certamente um dos principais méritos do autor nesta obra.
Muitas vezes, tendo como espaço de sociabilidade os bares da antiga Doca da Fortaleza, que se localizava no espaço que hoje é o centro comercial de Macapá, bem próximo das modernas construções que estavam sendo erguidas pelo projeto “civilizador” do governo territorial, após a expulsão das pessoas que ocupavam tradicionalmente aquele espaço. A Doca era bastante visitada pelos trabalhadores amapaenses. Muitos operários, quando recebiam os salários da mineradora Icomi, tinham esta área de lazer como destino imediato.
Contudo, o grande fluxo migratório, gerado, principalmente pela oferta de emprego na região, deu destaque a outros ambientes de lazer como: o Porto de Santana, Porto Platon e Terezinha. O usufruto da prostituição era um dos lazeres mais procurados. Paz consegue identificar as minúcias dos conflitos nessas localidades e peculiaridades das pessoas que ocupavam esses lugares por meio dos inquéritos judiciais. Casos amorosos envolvendo mineiros e meretrizes, brigas entre trabalhadores de diferentes regiões, acertos de contas travados nas festas e boemias noturnas.
Não obstante, ao analisar artigos do jornal Amapá, o autor afirma que na nova sociedade que o governo territorial pretendia fundar não havia espaço para criminosos, pessoas vingativas. Criou-se a ideia de reformulação social e moral. Mostrava-se para os trabalhadores que eles não mais estavam vivendo em um período de desamparo e exploração desordenada, mas que era necessário mudar os hábitos. Para isso, buscava-se educar as novas gerações. Tais mudanças estavam em consonância com os objetivos da mineradora Icomi. O estilo de vida boêmio de vários trabalhadores chamava a atenção da companhia, fazendo com que esta buscasse meios para cultivar comportamentos moralmente regulados, principalmente na segunda fase do empreendimento.
Ainda analisando os documentos judiciais, o autor identificou alguns conflitos trabalhistas que envolviam trabalhadores e seus patrões. Eram desentendimentos envolvendo questões hierárquicas. Empregados que, ao reclamar melhores condições de trabalho aos seus superiores, acabavam sendo demitidos por justa causa. Assim, os processos trabalhistas possibilitaram ao pesquisador apreender detalhes desses conflitos e problemas de relacionamento nos espaços da empresa, além das origens da mão de obra, condições de trabalho e o relacionamento dos operários com a mineradora. O pesquisador, também, destaca em seu livro a presença de vários processos sem conclusão, o que deixa entrever certa fragilidade do poder judiciário local. Afirma o historiador que era recorrente a demora no encaminhamento dos processos, a perda de prazos, o que inviabilizava o estabelecimento de sentenças.
Interessante observar na narrativa de Adalberto, que ele faz uma desconstrução dos discursos oficiais propalados, incansavelmente, pela Icomi, onde estes tratavam dos êxitos na execução dos projetos e os progressos proporcionados pela empresa a uma “região selvagem”. Porém, através de inquéritos policiais, chegou-se aos acidentes de trabalho, mortes e sofrimentos que a narrativa oficial intencionalmente não mencionara. E acrescenta o autor, “se nos detivéssemos apenas naquilo que a companhia produziu sobre si mesma e naquilo que o governo territorial dizia que ela representava, não iriamos muito além do otimismo ingênuo” (PAZ, p. 149). De fato, as análises dos documentos judiciais romperam esse silencio.
Na última parte de seu trabalho, o autor trouxe como fontes os livros de memórias, biografias, documentos que foram produzidos pela mineradora Icomi e depoimentos de ex- trabalhadores para poder chegar às experiências e ao cotidiano do operariado dentro de uma das cidades construídas pela empresa, no interior da Amazônia, a company town de Serra do Navio, hoje sede de um dos municípios do estado do Amapá. Neste espaço, ainda permanece a estrutura urbanística construída pela Icomi no início da década de 1960, tornando-se um lugar que abriga lembranças desse passado recente, um lugar de memória.
Importa salientar que a empresa construiu dois núcleos habitacionais para os trabalhadores no Território Federal do Amapá e que, apesar de os documentos e estudos denomina-las de vilas operarias, Adalberto afirma que foram autênticas companies towns, uma chamada de Serra do Navio e outra, edificada nas proximidades do Porto de Santana, denominada Vila Amazonas. Ambas começaram a ser construídas após a empresa ter assegurado a infraestrutura necessária para escoar o minério. Para o autor essas construções tinham como função “‘ajustar’ e normatizar a imensa maioria dos trabalhadores locais não especializados dentro dos padrões de produtividade e ritmos de trabalho da moderna economia capitalista industrial” (PAZ, 2014, p. 167). Buscando forjar comportamentos baseados em um modelo de família estável.
Ambas foram um recurso de controle do proletariado pela Icomi. Todavia, ao contrário do pensamento de muitos pesquisadores, Paz percebe que o trabalhador de Serra do Navio, enxergava o controle a que estava sendo submetido, pois, apesar de todas as estratégias de normatização da empresa, os operários eram capazes de criar estratégias de subversão através dos próprios instrumentos de controle de sua vida social.
No entanto, a tentativa de controle dos trabalhadores acontecia de variadas formas. O que é observado pelo autor através das entrevistas de pessoas que viveram nos núcleos operários, onde cartilhas com as orientações eram distribuídas. Adalberto destaca que a Icomi realizava inspeções sem avisar previamente os moradores das vilas primárias e intermediárias de Serra do Navio. Caso a avaliação fosse negativa, os operários eram particularmente repreendidos. Vários limites e regras de condutas eram impostos. Todavia, o autor verifica nas entrevistas que ainda era possível driblar a fiscalização.
Muito já foi escrito sobre a presença da mineradora Icomi no estado do Amapá. O que ratifica a importância e influência econômica, política e social que teve tal empreendimento na região, fazendo parte da história de muitos amapaenses e sendo o primeiro dessa magnitude a buscar a extração de minérios na Amazônia. Há muitos documentos a serem carreados para a pesquisa da história social do trabalho no Amapá. No atinente aos trabalhadores da Icomi ainda há muito a ser estudado, como, por exemplo, as questões relativas à saúde do trabalhador, que podem ser analisadas por meio de prontuários médicos dos operários que se encontram presentes no arquivo da empresa no município de Santana, e do jornal a Voz Católica. Certamente a leitura atenta de tais documentos pode trazer grandes contribuições para estudos das experiências do trabalhador amazônico.
Notas
1. Ver: LOBATO, Sidney. A cidade dos trabalhadores: insegurança estrutural e táticas de sobrevivência em Macapá (1944-1964). Tese de Doutorado em História Social defendida na USP, 2013.
2. Ver: FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. 4ª ed. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997.
3. Ver: CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001.
Danilo Mateus da Silva Pacheco – Pesquisador do Laboratório de Estudos da História Social do Trabalho na Amazônia (Cnpq/Unifap). Professor da rede estadual de ensino no Amapá (Sead-AP). Especialista em História e Historiografia da Amazônia (Unifap). É mestrando no Mestrado Profissional em Ensino de História (Profhistória/Unifap), e bolsista da Capes.
PAZ, Adalberto. Os mineiros da floresta: modernização, sociabilidade e a formação do caboclo-operário no início da mineração industrial amazônica. Belém: Paka-Tatu, 2014. Resenha de: PACHECO, Danilo Mateus da Silva. O trabalhador amazônico e o novo sistema de produção industrial. Revista Tempo Amazônico, Macapá, v.3, n.1, p.200-206, jul./dez., 2015. [IF]
Martinha versus Lucrécia. Ensaios e entrevistas, de Schwarz, Roberto-Schwarz-(NE-C)
SCHWARZ, Roberto. Martinha versus Lucrécia. Ensaios e entrevistas. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. Resenha de: QUERIDO, Fabio Mascaro. Colapso da modernização. Roberto Schwarz e a atualização da dialética à brasileira. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n.97, Nov, 2013.
A figura intelectual de Roberto Schwarz (1938) dispensa grandes apresentações. Filho de imigrantes vienenses, crítico e ensaísta bastante (re)conhecido, sua trajetória permite observar de um ângulo privilegiado – do ponto de vista dos vencidos de hoje e de ontem – as experiências da esquerda intelectual brasileira, desde a aposta algo otimista nos desdobramentos da radicalização política do início da década de 1960 até o atual estágio destrutivo do desenvolvimento capitalista, já num contexto de “colapso da modernização”. A abrangência temática, passando por diferentes esferas da vida cultural, assim como a originalidade de sua filiação dialética, fizeram da obra de Roberto Schwarz um testemunho ativo das transformações e reviravoltas do pensamento crítico brasileiro, em suas diversas tentativas de se reinventar à luz das condições de possibilidade de um presente determinado.
Por isso mesmo, seu mais recente livro, Martinha versus Lucrécia – que reúne quase duas dezenas de ensaios e entrevistas do autor no último decênio -, constitui uma bela amostra de uma crítica dialética afinada com seu “tempo-de-agora”, capaz de articular num só processo de reflexão as novas aparições de sua matéria básica (no caso, a matéria brasileira) e a meditação sobre as formas de abordagem teórica dessa matéria. Com efeito, se os ensaios retomam temas que há muito constavam no repertório do autor – sobretudo a interpretação de Machado de Assis e a presença teórica constante de Antonio Candido -, o fazem sob nova chave histórica, acompanhando, por assim dizer, os desdobramentos da ordem capitalista contemporânea. O método dialético afiado permanece, mas adquire novas tonalidades, à altura da ruptura de época, que altera significativamente os termos da oposição entre local e universal – o que já se pode notar no primeiro texto, “Leituras em competição”, no qual as divergências entre leituras nacionais e estrangeiras da obra de Machado de Assis são postas à prova das novas características do desajuste entre a particularidade brasileira e a pretensa universalidade da experiência europeia transformada em modelo histórico.
A compreensão deste verdadeiro “sentimento da dialética” que a experiência brasileira colocava em cena, e da qual Machado foi um “mestre” em sua capacidade de formalização literária, apresentava-se para Roberto Schwarz – desde os tempos de estudante de Ciências Sociais, quando participara ativamente das reuniões do Seminário d’O Capital – como oportunidade histórica para o desenvolvimento de um ensaísmo dialético estreitamente vinculado às transformações de sua matéria particular (o próprio Brasil), cujas características de atraso em relação à norma-padrão não significavam um simples desvio ou exceção, pronto a ser superado por uma “viravolta iluminada”, mas, sim, parte constituinte e indispensável à reprodução da ordem capitalista global. O “progresso” já estava em marcha, e a condição de subdesenvolvimento era já o próprio futuro no presente, reincorporando em novas formas aspectos aparentemente insuperáveis do passado. “Os meninos vendendo alho e flanela nos cruzamentos com semáforo não são a prova do atraso do país, mas de sua forma atroz de modernização.”1
Como já havia demonstrado em seus trabalhos anteriores, a função do narrador nos romances de Machado de Assis posteriores à “reviravolta machadiana” (título do penúltimo ensaio2), mais concretamente após a publicação do célebre Memórias póstumas de Brás Cubas, em 1880, era justamente articular um novo dispositivo formal (não realista) capaz de forjar uma percepção realista das dissonâncias e ambivalências das classes dominantes no Brasil do século XIX, as quais “lideravam” a desagregação do progresso burguês na periferia do sistema, e “afastavam do padrão moderno – mas não da modernidade sem padrão – a nossa gente de bem”3. A acuidade dialética era inequívoca, pois, com esse arranjo formal, “o narrador machadiano realizava em grau superlativo as aspirações de elegância e cultura da classe alta brasileira, mas para comprometê-la e dá-la em espetáculo”, ridicularizando-a aos olhos do superego europeu4. No plano histórico-concreto, demonstrava-se então que “os proprietários [brasileiros] participa[va]m intensamente do progresso contemporâneo, mas isto graças às relações antiquadas em que se apoia[va]m, e não a despeito delas, e menos ainda por oposição a elas, como imaginaria o senso comum”5.
É por este motivo que, no fim das contas, as ideias liberais-burguesas estavam e não estavam no lugar na sociedade brasileira periférica do século XIX, conforme reafirma Roberto na conferência “Por que ‘ideias fora do lugar’?”6, proferida em Buenos Aires, em 2009, na qual o crítico sustenta – na contramão das críticas de Maria Sylvia de Carvalho Franco e de Alfredo Bosi – que o título aludia, à época, mais a uma sensação comum de desajuste e dissonância do que a uma opinião ou prognóstico do autor, uma vez que, no limite, as “ideias têm sempre alguma função, e nesse sentido sempre estão no seu lugar”7.
Para entender a realidade brasileira, em sua conexão com a ordem mundial, mas também em suas singularidades mais ou menos irredutíveis, era preciso, portanto, na ótica de Schwarz, restabelecer o primado do objeto (no dizer de Adorno, tema exclusivo de uma das entrevistas do livro8), configurando uma dialética aberta – avessa às formalizações sistemáticas – e que opera por meio de totalizações provisórias. Entre processos sociais globais e objetos estético-culturais não há, no pensamento de Roberto, qualquer forma de sociologismo, tampouco de determinismo causal. Há, isto sim, complexos de relações expressivas (como diria Walter Benjamin) entre domínios diversos, e às vezes opostos, da vida social e das mudanças culturais, que se “internalizam” reciprocamente e, assim, “ficam articulados por dentro”9. A sua própria forma de exposição sugere um olhar duplo: de “dentro” e de “fora”, como se cultura e relações capitalistas, ou, em outras palavras, civilização e barbárie, fossem uma só totalidade dialética em movimento.
Trata-se, no limite, de encontrar nos pequenos fragmentos da cultura – através dos artifícios da crítica imanente – indícios analíticos do processo social, num constante vaivém dialético entre mediações de diversos níveis. Daí o seu ensaísmo inconfundível, no qual os temas vão reaparecendo e sendo retomados com novas configurações no interior dos textos. A impressão de redundância representa, antes, uma escrita certeira, não linear, que, se não escapa às vezes a certo hermetismo, quase sempre flui como uma espécie de composição dialética em ato. Basta ver, por exemplo, suas análises da prosa ensaística de Gilda de Mello e Souza, em que – ao sustentar teoricamente a análise formal, imanente da autora – compõe ele próprio uma prosa que é também uma amostra de tal método crítico, cujo papel ativo na determinação do objeto não anula – muito pelo contrário – o seu primado materialista.
A preocupação com as tensões entre a escrita e o objeto abordado, entre forma de exposição e conteúdo, preocupação que atravessa o ensaísmo de Schwarz, revela não apenas a precariedade do objeto, senão também a precariedade da própria escrita, motivo pelo qual o autor é impelido a realizar um significativo esforço de autorreflexão, num esplêndido exemplo daquilo que Fredric Jameson denominou “autoconsciência dialética”, dispositivo necessário para a manutenção do caráter crítico e atualizador do marxismo.
Mas “autoconsciência”, no caso, era nada mais nada menos do que a consciência permanente de que o ponto de vista do crítico, além de “universalmente” anticapitalista, está situado na periferia do sistema, impondo desafios extras, além dos materialmente já conhecidos, ao mesmo tempo que abre um novo leque de possibilidades no âmbito da reflexão crítica sobre a ordem burguesa moderna. Dos elos mais débeis da reprodução global do sistema capitalista, com todas as mazelas que lhes correspondem, aparecem com maior nitidez e agudeza as perversões e os limites do “progresso”. Não por acaso, e a obra de Roberto Schwarz (bem como a de seu mestre Machado) é uma prova concreta disso, a perspectiva da periferia estimulou respostas intelectuais e artísticas ousadas, difíceis de visualizar situando-se sob o ângulo da linha evolutiva do progresso dos países centrais. Uma pequena “vantagem do atraso”, meramente intelectual ou simbólica, mas que em certa medida serviu para antecipar alguns dos rumos assumidos pelo capitalismo contemporâneo, quando a fratura social não é mais privilégio da periferia.
Desde algumas décadas, com a terceira revolução industrial e o consequente esgotamento dos paradigmas da modernização e do desenvolvimentismo, novas dificuldades surgiram no espectro do pensamento crítico e da esquerda intelectual. (A propósito, ver o ensaio do próprio Roberto sobre a – não – atualidade de Brecht, baseado no argumento de que, no contexto contemporâneo, a “verdade” não aparece na vida social com a mesma nitidez dos tempos do poeta e dramaturgo alemão). Neste contexto, salta aos olhos a necessidade de um novo diagnóstico de época, cuja realização depende de uma “atualização” da reflexão teórica em função do presente, uma “atualização” que, cancelando todo compromisso com a modernização capitalista, encontra nas experiências da periferia um prelúdio trágico da nova ordem: a flexibilidade (leia-se: precariedade) e a informalidade não são uma novidade para nós.
Por isso, é como se o “presente [fizesse] ver no passado sobretudo o prenúncio do impasse atual, impugnando as evidências externas do progresso”10. Pois agora, de uma vez por todas, “o jogo entre informalidade e norma perdeu o vetor temporal, ligado às promessas da modernização. A informalidade não está vencida, a norma não está no futuro, ou, ainda, a norma é que pode ser coisa do passado, enquanto a informalidade se instalou a perder de vista”11 – como diz Schwarz ao comentar os poemas de Francisco Alvim (“Um minimalismo enorme”12). Bem entendido, desde a emergência dos tempos da assim chamada globalização, “para desconcerto geral da esquerda, a modernização agora se tornava e reiterava a marginalização e a desagregação social em grande escala”13, afirma o crítico numa das três entrevistas inseridas no livro (“Agregados antigos e modernos”14). Da dialética da malandragem com seus contornos de uma via alternativa de modernização chega-se, enfim, à marginalidade entranhada num “estado de exceção permanente”.
Como observa muito bem Roberto Schwarz no ensaio “Prefácio a Francisco de Oliveira, com perguntas”, a própria trajetória intelectual de Chico de Oliveira, da Crítica à razão dualista (1972) ao Ornitorrinco (2003), reflete os andamentos do congestionamento histórico do desenvolvimentismo como solução para os problemas estruturais do país, no espectro das brechas propiciadas pela modernização e pela segunda revolução industrial. Se, no primeiro trabalho, embora desmontasse criticamente o dualismo cepalino e, por conseguinte, os esquemas etapistas do marxismo oficial (pcb), ainda restava alguma esperança nas possibilidades da luta nacional contra o subdesenvolvimento, o segundo ensaio, em espírito de anticlímax, “reconhece o monstrengo social que, até segunda ordem, nos transformamos”15: o “ornitorrinco”, este “bicho que não é isto nem aquilo” que veio a se tornar o “país do futuro”. Neste contexto, “o subdesenvolvimento deixa de existir, mas não as suas calamidades”16.
O longo ensaio sobre o livro de Caetano Veloso (“Verdade Tropical: um percurso de nosso tempo”17), previsivelmente o mais comentado nos âmbitos midiáticos, é peça-chave da composição desta argumentação, à medida que desvela um processo concreto de aceitação deliberada dos termos da “nova ordem mundial” em sua versão periférica, refletindo os ressentimentos subsequentes ao fracasso do “percurso democrático de modernização”18. Para Schwarz, o valor literário da obra de Caetano, publicada em 1997, encontra-se na capacidade de descrever, mais de três décadas depois, a atmosfera de esperança e de ebulição (e, claro, também de ilusões) da radicalização política e estética em Salvador (e no Brasil) nos anos que precederam 1964. Mas tal valor reside também, desde que o texto seja lido como uma “dramatização histórica” – o que inclui uma “boa dose de leitura a contrapelo” -, na análise da maneira como Caetano vai acertando os pontos com a normalização e o “horizonte rebaixado e inglório do capital vitorioso”19.
É no espectro deste “inconsciente político” – que vai da esquerda à direita – que sobressai a versão carnavalizada (tropicalista) de uma modernização que, sobretudo após o golpe de 64, seguiu o rumo dos imperativos do mercado (acrescida de boa dose de violência política), abandonando de vez as promessas que pareciam acompanhá-la. Se a nossa modernidade é isso que está aí, o caminho em direção ao mercado, assim como o abandono das esperanças políticas anticapitalistas, era quase inevitável, intensificando-se até chegar ao auge (neo)liberal a partir da década de 1990.
No caso de Caetano, o fracasso da esquerda ganhava ares de alívio, sendo antevisto como estímulo à libertação dos mitos dos revolucionários, com sua fé disciplinada na “energia libertadora do povo”. A sensação era de ruptura com uma prisão mental, algo um tanto análogo ao culto pós-modernista da falência dos grandes projetos intelectuais e artísticos mais ou menos engajados. E para facilitar o trabalho de “desconstrução”, Caetano generalizava “para a esquerda o nacionalismo superficial dos estudantes que o vaiavam, bem como a idealização atrasada da vida popular que o Partido Comunista propagava”20.
Com uma leitura bem particular (para dizer o mínimo) de Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha, Caetano levou adiante um processo de reavaliação radical do passado recente, visualizando nas decepções do personagem intelectual Paulo Martins o clímax da desintegração definitiva da aliança entre intelectual e povo – argumento que lhe bastava para comprovar a necessidade de se abandonar o engajamento e as “ilusões” de outrora, inserindo-se nas questões de real importância, sediadas no mercado. Noutras palavras: “A desilusão de Paulo Martins transformara-se em desobrigação. Esta a ruptura, salvo engano, que está na origem da nova liberdade trazida pelo tropicalismo. Se o povo, como antípoda do privilégio, não é portador virtual de uma nova ordem, esta desaparece do horizonte, o qual se encurta notavelmente”21. O antagonismo cede lugar ao desejo de conciliação, que não recuou nem mesmo diante do desafio de legitimar a ditadura civil-militar implantada em 1964, “contra a ameaça do bloco comunista”, como diz o próprio Caetano22. Daí em diante, a adesão ao discurso dos vencedores transformava-se em fato consumado, adesão, aliás, que permanece dando o tom cada vez mais conservador das posições políticas do compositor.
Pois bem: destas análises contemporâneas de Roberto Schwarz, que mantêm e, de certa forma, ampliam o nível de acuidade crítica que sempre lhe foi característico, sobressalta a ideia-básica – que também pode ser encontrada nas reflexões mais recentes de Chico de Oliveira ou de Paulo Arantes – de que um novo diagnóstico de época pressupõe, acima de tudo, a atualização da tradição dialética à brasileira, dotando-a de condições teóricas, intelectuais e políticas para confrontar os novos dilemas que emergiram no atual estágio de reprodução social e cultural do sistema. Melhor dizendo: tratar-se-ia de se repassar os lugares-comuns da tradição crítica brasileira, como a ideia da construção nacional interrompida, por um prisma teórico e político à altura das inflexões do presente (mais uma vez, seria preciso questionar: “Que horas são?”).
Pois o “colapso da modernização” (Robert Kurz) e de suas brechas históricas significa, ao mesmo tempo, um esmaecimento de um padrão (e/ou norma) histórico que, de fato, nunca passou de uma “inspiração”, ou melhor, “aspiração” política, intelectual e cultural de nações de desenvolvimento capitalista tardio, da periferia da ordem global. Hoje em dia, quando o estado de exceção parece permanente até mesmo em alguns países ditos centrais, a periferia continua periferia (“Martinha [continua estando] para Lucrécia como o Brasil para os países adiantados”23, donde a filiação machadiana do título24). Porém, agora, também a periferia está completamente sitiada pelos preceitos da forma-mercadoria e dos seus paradoxais “sujeitos monetários sem dinheiro” (outra ideia de Robert Kurz retomada criticamente por Schwarz). Com efeito, o cenário se complica ainda devido ao caráter difuso e à aparente ausência de classes sociais potencialmente antagônicas, as quais se revelam como que emboladas na vala comum das “águas geladas do cálculo mercantil” (Marx).
O pensamento de Roberto Schwarz, que jamais se furtou a tomar como matéria decisiva os imbróglios do presente (“O crítico precisa ter a atualidade bem agarrada pelos chifres”, como disse Walter Benjamin, citado pelo autor25), constitui uma preciosa – se não indispensável – contribuição para a revitalização da teoria crítica e o alargamento do horizonte político das classes subalternas no Brasil e no mundo, que ainda aguardam, a partir dos múltiplos focos de lutas de resistência (como os mutirões e as lutas por moradia popular, abordadas nos dois textos sobre temas da arquitetura26), um novo despertar histórico. Este protagonismo do presente, que Roberto Schwarz visualiza na obra de seu amigo Michael Löwy (“Aos olhos de um velho amigo”27), caracteriza um pensamento em consonância com a realidade realmente existente, mas voltado também para a “imaginação” dialética das potencialidades emancipatórias imanentes dirigidas ao futuro.
Notas
1 SCHWARZ, Roberto. Martinha versus Lucrécia: ensaios e entrevistas. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 164. [ Links ]
2 Ibidem, pp. 247-79.
3 Ibidem, p. 272.
4 Ibidem, pp. 271-3.
5 Ibidem, p. 275.
6 Ibidem, pp.165-72.
7 Ibidem, p. 170.
8 Ibidem, pp. 44-51.
9 Ibidem, p. 72.
10 Ibidem, p. 136.
11 Ibidem, p. 136.
12 Ibidem, pp. 111-42.
13 Ibidem, p. 178.
14 Ibidem, pp. 173-83.
15 Ibidem, p. 152.
16 Ibidem, p. 157.
17 Ibidem, pp. 52-110.
18 Ibidem, p. 75.
19 Ibidem, p. 110.
20 Ibidem, p. 90.
21 Ibidem, p. 79.
22 Cf. ibidem, p. 108.
23 Ibidem, p. 44.
24 A crônica “O punhal de Martinha”, publicada por Machado de Assis em 1894, e que serve de inspiração ao título dado por Schwarz, está reproduzida como apêndice no livro (pp. 307-10).
25 SCHWARZ, op. cit., p. 157.
26 “Saudação a Sergio Ferro” (pp. 215-22) e “Um jovem arquiteto se explica” (pp. 223-31).
27 Ibidem, pp. 207-14.
Fabio Mascaro Querido- Doutorando em Sociologia no IFCH-Unicamp e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
Rio Branco, a América do Sul e a modernização do Brasil | Carlos Henrique Cardin e João Almino
Para comemorar o primeiro centenário da posse do barão do Rio Branco como Ministro das Relações Exteriores, a Funag, o Instituto Rio Branco e o Ipri organizaram um seminário no IRBr nos dias 28 e 29 de agosto de 2002. O encontro analisou a atuação de Rio Branco por meio de cinco enfoques: sua visão do Brasil e do mundo, seus contemporâneos, o trabalho pela modernização do Brasil, a política para as Américas e a política brasileira para o Prata. Os textos apresentados foram reunidos por Carlos Henrique Cardim e João Almino, dando origem ao livro lançado, em 2002, pela EMC Edições, prefaciado por Fernando Henrique Cardoso.
Na abertura dos trabalhos, Celso Lafer realçou a relação entre a tradição de uma diplomacia brasileira ancorada à história e à herança paradigmática do fazer diplomático do Barão como diretriz e orientação para as decisões do país. Leia Mais