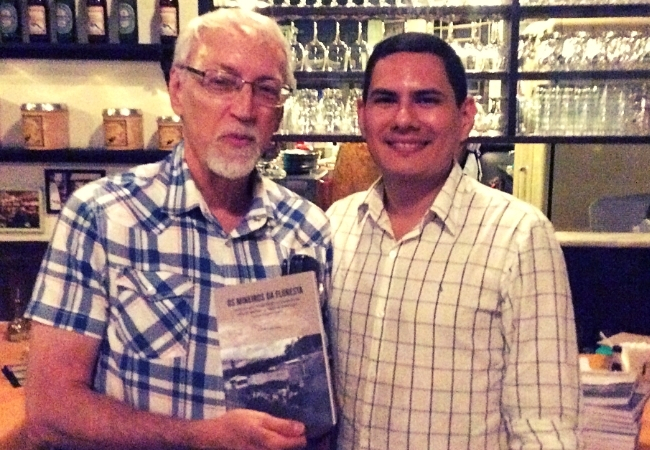Posts com a Tag ‘Amazônia’
Religiões e religiosidades na Amazônia: dinamismo e resistências | Canoa do Tempo | 2022
O estudo das religiões e religiosidades têm ganhado novo fôlego no Brasil. Frustradas asteses da secularização, cresceu sobremaneira em todo o país o interesse pelo religioso e nos ambientes universitários, progressivamente, se organizam novos grupos, laboratórios e linhas de pesquisa. De modo geral, os muitos “reavivamentos” serviram também para gestar novas gerações de estudiosos da religião e com elas novos problemas teórico-metodológicos e novos objetos têm emergido.
Esse movimento, ainda tímido na Amazônia, parece estar ganhando forma e apenas isso já justificaria este dossiê.3 Mas vale lembrar também que aqui, como em outros lugares da América Latina, o panorama religioso tem mudado (e num ritmo cada vez mais acelerado),4 não raro encenando tensões entre os interiores do país e as grandes cidades e capitais, entre tradições e modernidades5 : com a força ainda muito atuante do catolicismo (em suas formas populares e no apelo renovado a uma teologia crítica), além da afirmação (muito recente, mas nada insignificante) das religiões afroindígenas, das tradições ayahuasqueiras e até mesmo dos kardecistas. E mesmo diante do crescimento dos evangélicos (sobretudo pentecostais), outras epistemologias têm entrado em cena, adensando, em meio aos “sopros do espírito” e “rumores de anjos”, algumas leituras problematizadoras da força das religiões e religiosidades na esfera pública e na vida privada das pessoas.6 Leia Mais
ArtCultura. Uberlândia, v.14, 2022.
Apresentação
- Apresentação Introduction
- Anderson Vieira Moura, Rafael Ale Rocha
Dossiê-Religiões e religiosidades na Amazônia: dinamismo e resistências
- Apresentação – Religiões e religiosidades na Amazônia: dinamismo e resistências
- André Dioney Fonseca, Diego Omar
- NOTÍCIAS DE CULTOS PRETOS EM MANAUS NAS PRIMEIRA DÉCADAS DO SÉCULO XX.
- Adriano Magalhães Tenório
- https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/Canoa_do_Tempo/article/view/9810/7840
- Ervas, fé e (cons)ciência! Covid-19 e a experiência de um terreiro de Candomblé
- Josivaldo Bentes Lima Júnior, Adan Renê Pereira da Silva
- PENTECOSTALISMO E PROTAGONISMO CABOCLO NO CAMPO RELIGIOSO AMAZÔNICO
- Liliane Costa Oliveira, Marilina Conceição Oliveira Bessa Serra Pinto
- https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/Canoa_do_Tempo/article/view/10734/7873
- A Eclesiosfera em Movimentotransformações organizacionais e reprodução da Igreja no Maranhão contemporâneo
- Wheriston Silva Neris, Ernesto Seidl
- https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/Canoa_do_Tempo/article/view/10734/7873
- Aspectos da diversidade religiosa do estudante universitário:uma pesquisa com estudantes do Curso de História do Centro de Estudos Superiores de Parintins
- Cristian Sicsu da Glória
- https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/Canoa_do_Tempo/article/view/10734/7873
- A refração metadiscursiva do adventismo na Amazônia em “Libertos: o preço da vida” (2018)
- Aleandro Gonçalves Leite
Publicado: 2022-06-29
Amazônia, fronteiras e diversidades | Escritas do Tempo | 2021
Quais ventos são esses que trazem esse dossiê sobre a Amazônia na Revista Escritas do Tempo? São ventos que sopram o vigor e o frescor da produção do conhecimento histórico produzido nos programas de pós-graduação em História espalhados pela região amazônica! Sem dúvida este número da revista que apresentamos amplia um processo iniciado há algumas décadas atrás com a criação de programas de mestrado e depois de doutorado na UFPA e UFAM.
Hoje os programas de pós-graduação em História estão em inúmeras universidades públicas do outrora chamado Vale Amazônico, como é o caso da UNIFAP, da UNIFESSPA e da UFMA (que integra a região de abrangência da Amazônia Legal). O processo em questão impacta, de maneira decisiva, num conhecimento histórico sobre o passado amazônico que está a todo o momento sendo debatido e revisto, conectando experiências dos diversos centros produtores do saber histórico. Por essa razão esse dossiê celebra exatamente esse momento vivido por todos nós. Leia Mais
Amazonia 1900-1940. El conflito, la guerra y la invención de la frontera | Carlos Gilberto Zárate Botía
O tema das fronteiras amazônicas, seja em sua concepção de linhas demarcatórias de territórios nacionais, seja como zonas de múltiplas interações envolvendo diferentes sujeitos, impõe desafios significativos à pesquisa histórica. Primeiramente, trata-se de um espaço que, a despeito de sua vastidão geográfica, nem sempre recebeu a devida atenção no conjunto das historiografias sul-americanas. Em segundo lugar, a investigação sobre as fronteiras amazônicas requer o cruzamento de fontes procedentes de arquivos espalhados nos países da Pan-Amazônia (e, por vezes, em outros continentes) e o cotejamento de bibliografias de diferentes nacionalidades, que frequentemente apresentam linhas de interpretação francamente antagônicas.
O livro Amazonia 1900-1940, do historiador e cientista social colombiano Carlos Gilberto Zárate Botía, representa justamente uma contribuição que supera esses desafios ao revisitar o tema dos conflitos peruano-colombianos na definição dos limites amazônicos entre os dois países. O autor é professor da Universidad Nacional de Colombia– Sede Amazônica (Letícia), com destacada atuação no Grupo de Estudios Transfronterizos, vinculado ao Instituto Amazónico de Investiagaciones (IMANI). Carlos Zárate é um dos mais importantes cientistas sociais que se dedicam ao estudo das fronteiras amazônicas e, em sua vasta obra, o enfoque interdisciplinar sobre o tema se destaca. Leia Mais
The scramble for the Amazon and the lost paradise of Euclides da Cunha | Susanna Hecht
Essa obra merece uma crítica inicial: trata-se de “vários livros” encadernados sob título e capa únicos. Além da descontinuidade entre seus componentes, a obra é um conjunto de livros enorme e heterogêneo, difícil de ler. Ainda assim, o conteúdo é valioso para quem se interesse por Euclides da Cunha e/ou pelo prolífico trabalho de Hecht sobre a Amazônia; no entanto, a obra não é para iniciantes.
Hecht é doutora em geografia pela University of California (Berkeley) e professora da University of California (Los Angeles). É veterana estudiosa do Brasil e da América Latina, sobre os quais publicou livros e artigos, especialmente a respeito de questões socioambientais, como The fate of the forest: developers, destroyers, and defenders of the Amazon (com Alexander Cockburn; edição atualizada em 2011) e Soy, globalization, and environmental politics in South America (com Gustavo L.T. Oliveira, 2017 ). Leia Mais
Índios cristãos / Almir D. Carvalho Júnior
Há muito que tardava, mas, finalmente, foi publicado, em meados do ano passado, o livro “Índios cristãos: poder, magia e religião na Amazônia colonial”, da autoria do professor Amir Diniz de Carvalho Júnior. De fato, a tese de doutoramento da qual a obra é resultado já havia sido defendida no ano de 2005, na Universidade de Campinas (UNICAMP)1. De certo modo, esta demora surpreende, se levarmos em conta a grande relevância que a pesquisa tem para a Historiografia Indígena e do Indigenismo no Brasil e, de forma mais específica, na Amazônia. Resta a esperar que o formato de livro contribua a tornar o estudo ainda mais conhecido no meio acadêmico!
O autor, professor lotado na Faculdade de História e credenciado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em Manaus, começa a apresentação de seu livro com a observação de que “toda criação é solitária”. Pode-se questionar esta afirmação, visto que Almir Diniz de Carvalho Júnior construiu seu estudo, à toda evidência, enquanto pesquisador bem conectado e inserido em uma rede com outros pesquisadores e pesquisadoras que, como ele, trabalharam e trabalham o protagonismo de indígenas na época colonial. Nesta rede, composta, em grande parte, de historiadores e antropólogos, seu orientador de tese, o já falecido John Manuel Monteiro – à memória do qual o livro é dedicado – ocupa um lugar central, além de Maria Regina Celestino de Almeida, que fez o prefácio, Marta Amoroso, Manuela Carneiro da Cunha, João Pacheco de Oliveira Filho, Ronaldo Vainfas, entre outros e outras. Todos eles e elas são prógonos conhecidos da Nova História Indígena e marcaram, como se percebe ao longo da leitura, as reflexões de Almir Diniz de Carvalho Júnior.
Como já indica o título da obra, os “índios cristãos” estão no cerne da pesquisa do autor. Não se trata, como ele deixa claro logo no início (pp. 21-29), de uma categoria supostamente compacta e genérica de subalternos, atrelados ao projeto de cunho colonial salvacionista. Ao contrário, ele se propõe a analisar sujeitos históricos que, apesar das relações e classificações assimétricas nas quais foram enquadrados, participaram da construção do universo colonial, dentro do qual conseguiram formar e ocupar espaços próprios. A partir desses espaços os índios engendraram, por meio de complexas mediações e negociações, práticas culturais, referências sociossimbólicas e balizas identitárias novas. O autor realça, sobretudo, a dimensão sociossimbólica, como o apontam os termos “poder”, “magia” e “religião”, que, por sinal, constam no subtítulo. Neste sentido, Almir Diniz de Carvalho Júnior consegue conjugar, em termos metodológicos, uma análise criteriosa das múltiplas fontes – que vão de crônicas missionárias a processos inquisitoriais – com o recurso a relevantes investigações antropológicas acerca das cosmologias indígenas.
O livro consiste – como também a tese – em três partes que, por sua vez, estão subdivididas em com um número variável de capítulos. A primeira parte (pp. 39-108) aborda, em dois capítulos, as complexas relações entre os colonizadores portugueses e os povos indígenas no espaço amazônico. No primeiro capítulo, aprofunda-se o processo de implantação e consolidação do projeto colonial e, no segundo, a instalação da rede de missões sob as orientações do padre Antônio Vieira. Em ambos os contextos, os índios não são tratados como meros figurinos, mas agentes centrais. Assim, o autor dá destaque à revolta dos Tupinambá, ocorrida na Capitania do Maranhão, em 1617-1619, logo no início da colonização, como também à reação dos índios da aldeia de Maracanã, lugar estratégico onde se situaram as importantes salinas no litoral do Grão-Pará, à prisão do principal Lopo de Souza, em 1660- 1661. Ambos os eventos apontam os impactos diretos de lideranças indígenas no processo da aplicação das políticas colonizadora e evangelizadora. Embora não tenha sido o objetivo da pesquisa, mas faltou, talvez, abordar também, paralelamente a estes aspectos etnossociais, a questão do espaço em sua dimensão geoétnica e geopolítica. Assim, teria sido interessante trabalhar a Amazônia dos séculos XVII e XVIII enquanto “fronteira”, que, conforme uma definição fornecida por Hal Langfur, seria:
aquela área geográfica remota da sociedade já estabelecida [ou em vias de se estabelecer], mas central para os povos indígenas, onde uma consolidação ainda não foi assegurada e onde ainda paira uma dúvida sobre o desfecho dos encontros culturais multiétnicos2.
A segunda parte (pp. 111-257), mais extensa, pois composta de quatro capítulos, versa tanto sobre os métodos aplicados pelos padres para doutrinar os índios quanto sobre as estratégias usadas pelos últimos ao se reconstituírem como “grupos étnicos autônomos”, incorporando, neste processo, padrões culturais barroco-cristãos. Desta feita, o terceiro capítulo, retoma o tema da centralidade dos grupos Tupinambá no contexto da colonização e evangelização; por sinal, um tópico muito defendido pelo autor. Neste contexto, é oportuno apontar pesquisas mais recentes que tendem a frisar a complexa mobilidade de grupos indígenas de troncos etnolinguísticos não tupi no vale amazônica em torno da chegada dos portugueses. Assim, a tese do pesquisador Pablo Ibáñez Bonillo chama a atenção a “sistemas regionais multiétnicos”, em razão das presenças (no plural) de falantes de idiomas aruaque e caribe, principalmente, no estuário e no curso inferior do rio Amazonas, relativizando, de certa forma, a suposta predominância tupinambá3. O quarto capítulo aprofunda o projeto de “conversão”, levado a cabo, sobretudo, pelos jesuítas, conforme diretrizes exatas e, também, pragmáticas. Neste contexto, o autor lança mão de duas fontes fundamentais acerca da presença e atuação inaciana na Amazônia: a crônica do padre luxemburguês João Felipe Bettendorff, redigido na última década do século XVII, e os tratados do padre português João Daniel, escritos no terceiro quartel do século seguinte. É com base nesta documentação que Almir Diniz de Carvalho Júnior delineia, de forma nítida e envolvente, a peculiaridade das práticas de missionação na colônia setentrional da América portuguesa. A análise teria ficado mais completa com a inclusão da rica correspondência interna dos inacianos, arquivada no Archivum Romanum Societatis Iesu em Roma4. O fato de esta ter sido escrita, em grande parte, em latim dificulta, infelizmente, o acesso de muitos autores às informações nela contidas. Estas fontes são interessantes, pois, em geral, não reproduzem o estilo marcadamente edificante e moralizante das crônicas, tratando de questões polêmicas ou de dificuldades experimentadas com mais franqueza. O quinto capítulo, que constitui, por assim dizer, o miolo da obra, é diretamente dedicado aos “índios cristãos”. Estes são descritos e analisados como sujeitos inseridos no universo colonial do qual são partícipes – mas, salvaguardando seus interesses –, enquanto principais, pilotos e remeiros, artesãos de diferentes ofícios e, também, guerreiros. Atenta-se igualmente aos “meninos” e às “mulheres” indígenas, o que não é de se admirar, pois ambos os grupos recebem destaque nas crônicas pelo fato de seus integrantes terem sido percebidos pelos missionários como mais acessíveis aos objetivos e pretensões de seu projeto salvacionista. Este capítulo demonstra, de forma “plástica”, o que o autor entende por “índios cristãos”, conceito que, com já mencionamos, foi elucidado no início do livro. Neste contexto, merece menção que refere, por diversas vezes, ao termo de “índios coloniais”, formulado, há quarenta e cinco anos, por Karen Spalding em relação à colonização hispânica5. Embora não cite o nome desta historiadora, Almir Diniz de Carvalho Júnior segue, mesmo em outras circunstâncias e com base em outras experiências, a pista lançada por ela. Enfim, o sexto capítulo, que já constitui uma transição para a terceira parte, apresenta os mesmos “índios cristãos” enquanto praticantes de diversos rituais considerados heterodoxos, resultantes do contato entre suas tradições e cosmovisões xamânicas – ou, como detalha o autor, tupinambá – com os dogmas ensinados e as liturgias encenadas no âmbito das missões.
Finalmente, a terceira parte (pp. 261-320) enfoca, em dois capítulos, os índios cristãos e as “heresias” geradas por eles nas suas interações com o universo católico ibero-barroco, tanto em sua dimensão disciplinadora/institucional como inspiradora/vivencial. Neste sentido, o sétimo capítulo familiariza o leitor com a organização e o funcionamento do Tribunal da Inquisição de Lisboa, que atuava na Amazônia desde meados do século XVII mediante um sistema de captação de denúncias6. Para compreender esta instituição e seu agenciamento na colônia, o autor coloca uma tônica especial na elucidação tanto da concepção erudita quanto da mentalidade popular acerca da magia e feitiçaria na cultura portuguesa da época. Faltou, talvez, neste capítulo um maior aprofundamento da percepção desses fenômenos por parte das autoridades locais e dos moradores do Grão-Pará, visto que o universo de crenças e práticas heterodoxas trazido da Europa se reconfigurou, também por iniciativa dos próprios “brancos”, no contato com as religiosidades indígenas. Implicitamente, isso fica evidente no oitavo, e último, capítulo que aborda casos concretos, bem apresentados e analisados, que envolvem “feiticeiros” e, sobretudo, “feiticeiras” indígenas. Comparando a interpretação inquisitorial, tal como ela transparece nas fontes, com as lógicas próprias do universo simbólico xamânico, estabelecidas por pesquisas de cunho antropológico, Almir Diniz de Carvalho Júnior conclui que as heresias eram “formas autônomas de novas práticas culturais”, engendradas não tanto numa postura de resistência, mas, antes, para fornecer sentido ao mundo ao qual foram forçados a inserir-se. Como já antes, na apresentação dos diferentes grupos de índios cristãos, também neste último capítulo, o autor permite, mediante o aprofundamento de diversos casos e personagens de feiticeiros e feiticeiras, mergulhar no universo ameríndio colonial. Com efeito, o emprego de uma linguagem clara e envolvente parece dar vida às índias Sabina, Suzana e Ludovina que, mesmo taxadas como “feiticeiras” ou “bruxas”, circularam amplamente pela sociedade colonial de seu tempo. Neste contexto, convém lembrar que – e a farta documentação inquisitorial o demonstra – os desvios morais e doutrinais dos “brancos” estiveram muito mais na mira dos oficiais da Inquisição do que os dos índios, mamelucos, cafuzos ou negros, mesmo quando esses eram cristãos. Para aprofundar este aspecto, teria sido interessante dialogar com as pesquisas recentes do historiador Yllan de Mattos, cujos trabalhos, aliás, enfocam a atuação inquisitorial na Amazônia colonial7.
Dito tudo isso, fica óbvio o quanto o livro de Almir Diniz de Carvalho Júnior se destaca por dar visibilidade aos indígenas e suas múltiplas (re)ações dentro das conjunturas e conjecturas que marcaram o processo de colonização do Estado do Maranhão e Grão-Pará. Este processo, em muitos aspectos, diferiu das dinâmicas colônias aplicadas na colônia-irmã mais ao sul, o Estado do Brasil, sendo que a evidência da peculiaridade da colônia amazônica, com seu grande contingente de povos indígenas – seja nas missões, seja nos sertões – constitui outro aspecto significativo da obra a ser retido.
Quanto à agência e ao protagonismo dos índios, o autor, ao examiná-los sob um prisma multifacetário, supera a visão binômica que, durante muito tempo, viu o índio, em primeiro lugar, como indivíduo oprimido e vitimado. A (re)leitura criteriosa feita nas entrelinhas das fontes coloniais deixou evidente o quanto os documentos, embora redigidos com um olhar unilateral – pois sempre imbuído do ensejo do respectivo autor de comprovar o suposto sucesso do projeto da colonização ou missionação – falam necessariamente do índio e trazem, assim, à tona suas práticas culturais heterodoxas e suas negociações ambíguas. Em última análise, estas agências “imprevistas” forçaram os missionários a abrir mão de suas pretendias ortodoxias para, num patamar ortoprático, poder se comunicar, mesmo incompletamente, com seus catecúmenos e neófitos indígenas8.
Enfim, vale ressaltar que a pesquisa Almir Diniz de Carvalho Júnior é uma contribuição fundamental para a Historiografia acerca da Amazônia Colonial, que, nos últimos anos, conheceu um crescimento significativo, sobretudo devido à consolidação dos Programas de Pós-Graduação em História em diversas universidades da região. A leitura da obra é, assim, imprescindível não só para aqueles e aquelas que pesquisam, academicamente, as agências indígenas na fase colonial, mas também para todos e todas que procuram entender mais a fundo o devir das populações e culturas tradicionais da Amazônia que, de uma forma ou outra, descendem e/ou emanam dos sujeitos analisados por Almir Diniz de Carvalho Júnior.
Notas
1 O título da tese foi “Índios cristãos: a conversão dos gentios na Amazônia Portuguesa (1653-1769)”. O autor jádivulgou antes, o resultado de sua pesquisa de doutoramento sob forma de artigo científico: CARVALHOJÚNIOR, Almir Diniz de. Índios cristãos no cotidiano das colônias do Norte (séculos XVII e XVIII). Revista deHistória. São Paulo, 2013, vol. 168, fasc. 1, pp. 69-99.
2 LANGFUR, Hal. The Forbidden Lands: Colonial Identity, Frontier Violence, and the Persistence of Brazil’s Eastern Indians, 1750-1830. Stanford: Stanford University Press, 2006, p. 5. Tradução do inglês pelo autor da resenha.
3 BONILLO, Pablo Ibáñez. La conquista portuguesa del estuario amazónico: identidad, guerra, frontera. Tese de doutorado, História e Estudos Humanísticos: Europa, América, Arte e Línguas, Departamento de Geografia, História e Filosofia, Universidad Pablo de Olavide, Sevilha, 2015, pp. 120-147. Em co-tutela com a University of Saint Andrews, Reino Unido.
4 No Archivum Romanum Societatis Iesu, os documentos referentes à Missão e, a partir de 1727, Vice-Província do Maranhão encontram-se, principalmente, nos códices Bras. 3/II, 9 e 25-28.
5 SPALDING, Karen. The Colonial Indian: Past and Future Research Perspectives. Latin American Research Review. Pittsburgh, 1972, v. 7, n. 1, pp. 47-76.
6 Neste sentido, os “Cadernos do Promotor”, arquivados no Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT), em Lisboa, e muito citado Almir Diniz de Carvalho Júnior, são importantes.
7 MATTOS, Yllan de. A última Inquisição: os meios de ação e o funcionamento do Santo Ofício no Grão-Pará pombalino, 1750-1774. Jundiaí: Paco Editorial, 2012; MATTOS, Yllan de & MUNIZ, Pollyanna Mendonça (Orgs.). Inquisição e justiça eclesiástica. Junidaí: Paco Editorial, 2013.
8 Quanto à alteração da ortodoxia em “ortoprática” no processo de missionação, ver GASBARRO, Nicola. Missões: a civilização cristã em ação. In: MONTERO, Paula (Org.). Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006, pp. 71-77.
Karl Heinz Arenz – Professor da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará (UFPA).
CARVALHO JÚNIOR, Almir Diniz de. Índios cristãos: Poder, magia e religião na Amazônia colonial. Coritiba: Editora CRV, 2017, 355p. Resenha de: ARENZ, Karl Heinz. Canoa do Tempo, Manaus, v.10, n.1, p.216-221, 2018. Acessar publicação original. [IF]
Latin eugenics in comparative perspective – TURDA; GILLETTE (HCS-M)
TURDA, Marius; GILLETTE, Aaron. Latin eugenics in comparative perspective. London: Bloomsburry, 2014. 320p. Resenha de: VIMIEIRO-GOMES, Ana Carolina. Uma agenda científica para a eugenia latina? História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 23 supl.1 Dec. 2016.
A obra Latin eugenics in comparative perspective, publicada por Marius Turda e Aaron Gillette em 2014, é uma audaciosa contribuição para a história dos conceitos e práticas do movimento eugênico em perspectiva transnacional. Diante de um tema bastante explorado pela historiografia, o diferencial desse livro está justamente em tomar como objeto a “Eugenia Latina, reinterpretando essa categoria polêmica e ainda pouco explorada”. Para tal empreitada, os autores propõem uma abordagem comparativa envolvendo os sentidos e usos científicos, culturais e políticos da eugenia desenvolvidos em alguns contextos locais europeus e latino-americanos. Entretanto, o livro busca explorar as idiossincrasias da dimensão intraeuropeia da eugenia latina, mobilizando como ponto de diálogo a ideia de uma eugenia “latinizada” na América Latina – antes desenvolvida por Nancy Stepan (2005) em A hora da eugenia – mas propondo avançá-la.
Latin eugenics in comparative perspective é estruturado em sete capítulos, com a conclusão seguida de um epílogo. Essa estruturação segue organizada segundo duas dimensões: temporal, com capítulos que tratam da eugenia em fins do século XIX, no entreguerras e no pós-guerra; e temática, em que são debatidas as especificidades da eugenia latina no que diz respeito à esterilização, à religião, ao racismo científico e à sua comunidade de praticantes, com a criação de uma Federação de Sociedades da Eugenia Latina, nos anos 1930. Aliás, os autores dedicam capítulos separados para a eugenia latina intraeuropeia e a eugenia na América Latina, de forma a pôr em evidência as aproximações e as diferenciações dos movimentos eugênicos nessas duas regiões. Dentre esse conjunto narrativo, destaca-se a interpretação sobre a eugenia no período entreguerras, momento em que, para os autores, as especificidades da agenda científica da eugenia latina se afirmaram e consolidaram no cenário científico internacional. Salta aos olhos a tentativa de mobilizar uma variedade de fontes primárias e o esforço de síntese dos autores, buscando, por meio de revisão bibliográfica, percorrer o debate sobre a história da eugenia em diversos contextos nacionais.
Afinal, como Turda e Gillette caracterizam a eugenia latina? O que diferenciaria sua agenda científica da de outros movimentos eugênicos?
Os autores abrem o livro com a afirmação de que a eugenia latina seria um dos ramos da eugenia que acabou por conformar um conjunto de ideias e práticas adotadas por muitos eugenistas europeus, que consideravam seus países pertencentes a uma comunidade cultural latina, de abrangência internacional. Os países considerados latinos que são tratados no livro são: França, Itália, Espanha, Bélgica, Portugal e Romênia, na Europa; Argentina, México, Cuba, Brasil e Peru, na América Latina. Essa cultura latina seria baseada na concepção de panlatinismo: uma tradição inventada desde fins do século XIX e supostamente partilhada pelos países latinos – definida principalmente em termos histórico-genealógicos (herança romana), por aspectos culturais e linguísticos partilhados e por concepções religiosas comuns (catolicismo). A partir desse pano de fundo, tentam demonstrar que existiu dentro do movimento eugênico latino europeu certo compromisso com essa latinidade, embora os eugenistas de cada país tivessem buscado criar e desenvolver sua própria eugenia nacional, segundo valores culturais e científicos locais próprios. Para Turda e Gillette, o caráter distinto da eugenia latina estaria na crença no poder da ciência como meio de modernizar o Estado-nação, ao mesmo tempo preservando alguns dos valores dessa tradição cultural.
Desse modo, para os autores de Latin eugenics in comparative perspective, esses valores culturais orientaram as particularidades da agenda científica da eugenia latina e, assim, os fundamentos de oposição à eugenia nórdica e anglo-saxã. Nessa direção, um dos argumentos dos autores é o de que a eugenia latina, no entreguerras, mas principalmente nos anos 1930, desenvolveu-se em um conjunto coerente de ideias sociais, biológicas e culturais dirigidas mais às noções de indivíduo e de comunidade nacional, e menos à ideia de classe e de raça, enfatizada pela eugenia nórdica e anglo-saxã. Em jogo nessa perspectiva estavam tentativas de atingir os contornos sociais e [bio]políticos para o “Estado de bem-estar moderno”. Na agenda científica da latina, diferente da vertente anglo-saxã e nórdica, buscava-se a melhoria biológica do indivíduo e do coletivo por meio da medicina preventiva, da higiene social, dos estudos demográficos e da saúde pública, em vez da engenharia genética, da seleção racial e esterilização compulsória. A eugenia latina tinha, então, como principais fundamentos intelectuais o neolamarckismo, a puericultura, a biotipologia e a homicultura. A faceta política dessa eugenia expressou-se na sua mobilização pelos nacionalismos e pelo fascismo e até mesmo na aproximação com o catolicismo, como na Itália. Tais argumentações são demonstradas no livro por meio da revisão bibliográfica e pela empiria, a partir dos discursos e práticas dos cientistas e de instituições eugenistas tais como sociedades, revistas médico-científicas e organizações governamentais e políticas dos vários países privilegiados na análise. Indícios, conforme destacado pelos autores, de uma diacrônica e efetiva influência do pensamento da eugenia latina desde fins dos Oitocentos. Mesmo com risco de conduzir o leitor à simplificação e à superficialidade interpretativas comuns a esse tipo de recorte abrangente envolvendo vários cenários, o livro apresenta problematizações renovadas e várias evidências empíricas de conexões entre países, da circulação internacional e das apropriações locais desse modelo de eugenia latina, que foram pouco exploradas e merecem ser mais bem estudadas.
A obra termina com uma observação instigante sobre o pós-guerra. Os autores levam-nos a interpretar a eugenia latina como empreendimento bem-sucedido, ao afirmar que vários elementos da sua agenda científica acabaram por sobreviver aos ataques políticos e acadêmicos à eugenia depois dos anos 1950, deflagrados pelas trágicas consequências das políticas eugênicas da Segunda Guerra Mundial. Menos associados ao nazismo e às concepções racialistas e racistas radicais, argumentam os autores, os fundamentos intelectuais da eugenia latina necessitaram de poucas mudanças para se acomodar à nova cultura política do pós-guerra. A reformulação da eugenia nesse novo contexto inspira estudos críticos e aprofundados sobre o tema, o que torna Latin eugenics in comparative perspective leitura importante para os pesquisadores que se interessam pela história das variadas propostas de intervenção nas sociedades modernas a partir de teorias biológicas visando ao suposto progresso da humanidade.
Referências
STEPAN, Nancy Leys. A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2005. [ Links ]
Ana Carolina Vimieiro-Gomes – Professora, Departamento de História/Universidade Federal de Minas Gerais. [email protected]
Especialistas na Migração: Luteranos na Amazônia (1967-1997) | Rogério Sávio Link
Desenvolvido como um trabalho acadêmico, uma tese de Doutoramento, o livro de Rogério Link, deve encontrar leitores para além do espaço universitário, por vários aspectos: a narrativa, mesmo quando trata de questões teóricas, não é hermética; os temas tratados dizem respeito a indivíduos e grupos que estão enfrentando circunstâncias que são apresentadas com clareza pelo autor, muitas vezes com as palavras dos próprios protagonistas; o livro é bem organizado, com bastantes subdivisões, permitindo facilmente a releitura de parte da obra. Eventualmente, algumas subdivisões, como 4.1.7 e a 4.2.7, poderiam ser unificadas em um rearranjo diferente, mas o importante é o texto ter sua lógica e coerência. Acrescente-se também a presença do índice remissivo, que é muito importante em um estudo que perpassou tantos agentes, indivíduos e entidades, pois, afinal, a pesquisa abrangeu luteranos vinculados àIgreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e parte do Mato Grosso num período de três décadas. Por outro lado, aextensa bibliografia, as inúmeras fontes documentais, a par das entrevistas, as discussões conceituais e de campos acadêmicos, sinalizam uma obra de reconhecido perfil científico. Leia Mais
Enciclopédia da Floresta – O Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações | Manuela Carneiro da Cunha e Mauro Barbosa de Almeida
“a perda da diversidade genética e específica pela destruição dos ambientes naturais é a estupidez pela qual os nossos descendentes estarão menos dispostos a nos perdoar”
Edward O. Wilson
“Suba!”, lhe diz o seringueiro. A casa é firme graças à maçaranduba, acariquara, murmuru, tarumâ e paracuba, madeiras boas para o barrote, espécie de pilotis sobre o qual se ergue o assoalho de paxiubão. Mas antes de ir entrando, tire os sapatos e lave os pés. Para a parede, paxiubinha, gitó, cumaru e cedro têm preferência. O teto sobre a sua cabeça talvez seja feito de palha de aricuri, que dura até 12 anos se for cortada “no escuro da lua” (lua nova). Admire o asseio e perceba o brilho das panelas areadas pela dona da casa no igarapé mais próximo. Mas só as mulheres serão convidadas a entrar na cozinha antes da hora da refeição. Esta hipotética visita e muito mais é o que nos permite um livro admirável sobre um cantinho de Brasil tão desconhecido quanto fantástico chamado Alto Juruá.
Fica no sudoeste do Acre, em uma região tão isolada que a cidade mais próxima, Marechal Thaumaturgo, até o ano de 2000 não tinha nem correio nem banco, tampouco juiz ou padre e apenas um telefone público. Por outro lado, neste vasto território de 10 mil km2 e apenas 8 mil habitantes, já foram registradas 1620 espécies de borboletas (estima-se que sejam 2000), 616 espécies de pássaros, 113 espécies de anfíbios e 16 espécies de primatas, sem falar em mais de 100 mil espécies de insetos. Estudos realizados por geólogos, ecólogos e botânicos chegaram à conclusão de que a bacia do Alto Juruá “possui uma notável diversidade de sistemas naturais”. Trata-se daquilo que os especialistas chamam de fronteira biológica. Aqui a floresta ainda predomina, embora sejam encontrados mais de dez tipos diferentes de formações florestais, onde se vêem samambaias de até 5 metros de altura. Estes recursos têm sido utilizados – até agora – sem causar impacto destrutivo, de tal modo que os sistemas naturais se encontram em uma situação de “equilíbrio dinâmico”. A baixa densidade demográfica e o estilo de vida extrativista causam alterações de uma ordem que ainda permite à natureza recuperar-se. Um roçado abandonado, volta a ser floresta em 60 anos.
A esta riquíssima biodiversidade, corresponde uma história igualmente complexa e rica, que nos últimos 130 tem tido o seu ritmo ditado pela borracha. Até 1912, a época “de ouro”, marcada pela vinda maciça de nordestinos, logo enredados pelos patrões em dívidas contraídas no nefando sistema do barracão. Tempo das “correrias”, matança organizada e sistemática de índios, assim descrita por um padre francês ainda em 1925:
“Reúnem-se trinta a cinqüenta homens, armados de carabinas de repetição e munidos cada um de uma centena de balas; e, à noite, cerca-se a única cabana, forma de colméia de abelhas, onde todo o clã dorme em paz. À aurora, à hora em que os índios se levantam para fazer sua primeira refeição e seus preparativos de caça, um grito combinado dá o sinal, e os assaltantes fazem fogo todos juntos e à vontade”
O governo brasileiro ainda tentou reviver o auge da borracha durante a 2ª Guerra Mundial, pois o Japão havia cortado aos aliados o suprimento de borracha vindo da Malásia (cujo sistema de produção havia derrubado os preços e causado a falência da região da borracha por décadas). Criou-se a “Batalha da Borracha” e milhares de nordestinos foram atraídos por uma mentirosa campanha de propaganda que lhes prometia prosperidade. Após a 2ª Guerra Mundial a região foi novamente abandonada. Com isto, os seringueiros e os três povos indígenas que habitam estas terras (kaxinawás, ashaninka e katunika), embora tenham mantido costumes e identidades culturais próprias, acabaram por forjar um conjunto de conhecimentos e práticas relativos à floresta que desaguou na “Aliança dos Povos da Floresta”. Acabava-se o “tempo do cativeiro dos patrões” e chegava finalmente o “tempo dos direitos” (kaxinawá) ou “das cooperativas” (seringueiros). O processo culminou com o reconhecimento dos direitos dos indígenas às suas terras na década de 80 e com a criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá em janeiro de 1990, depois de inúmeros conflitos com os patrões para por fim ao monopólio comercial e à cobrança de uma renda anual de 33 kg de borracha por ano, referente ao uso de uma terra que jamais havia sido legalmente deles e de fato sempre havia sido trabalhada pelos seringueiros.
É até difícil explicar em poucas palavras a relevância da Enciclopédia da Floresta. Seu grau de detalhamento é impressionante e nada lhe escapa: os solos, a vegetação, a fauna, os costumes de cada um dos povos, o calendário agrícola, uma descrição passo a passo das atividades (construção de casas, estradas de seringa, alimentação, caça), as formas de classificação do mundo pelos seringueiros, pelos Kaxinawá, pelos Katukina e pelos Ashaninka. Há centenas de fotos e ilustrações, diagramas, mapas, desenhos e dicionários de bichos e plantas. Nem mesmo a mitologia ficou de lado, para o prazer do leitor. Fruto de um trabalho de pesquisa que vem se realizando há mais de uma década, contando com dezenas de especialistas de universidades públicas brasileiras e com uma equipe de pesquisadores “nativos” igualmente importante (todos são devidamente biografados ao final), é uma obra de valor inestimável.
Um dos pontos mais importantes a destacar é a parceria entre o saber científico e aquele proveniente da prática cotidiana, fazendo cair por terra uma perniciosa dicotomia já atacada por Lévi-Strauss em O Pensamento Selvagem. Por último, é preciso lembrar que todo o sistema de entrelaçamento entre os homens e a natureza descrito pela obra repousa sobre um equilíbrio tão frágil quanto ameaçado:
“Não há bolsa de futuros para essa biodiversidade; não há títulos para florestas de máxima diversidade a serem entregues daqui a cem anos. Todas essas árvores e borboletas parecem supérfluas do ponto de vista do mercado.”
Marcos Alvito – Professor do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Autor de As cores de Acari.
CUNHA, Manuela Carneiro da; ALMEIDA, Mauro Barbosa de (Orgs.). Enciclopédia da Floresta – O Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações. São Paulo: Companhia das Letras,2002. Resenha de: ALVITO, Marcos. Cantareira. Niterói, n.2, 2002. Acessar publicação original [DR]
Especialistas na Migração: Luteranos na Amazônia (1967-1997) | Rogério Sávio Link
Desenvolvido como um trabalho acadêmico, uma tese de Doutoramento, o livro de Rogério Link, deve encontrar leitores para além do espaço universitário, por vários aspectos: a narrativa, mesmo quando trata de questões teóricas, não é hermética; os temas tratados dizem respeito a indivíduos e grupos que estão enfrentando circunstâncias que são apresentadas com clareza pelo autor, muitas vezes com as palavras dos próprios protagonistas; o livro é bem organizado, com bastantes subdivisões, permitindo facilmente a releitura de parte da obra. Eventualmente, algumas subdivisões, como 4.1.7 e a 4.2.7, poderiam ser unificadas em um rearranjo diferente, mas o importante é o texto ter sua lógica e coerência. Acrescente-se também a presença do índice remissivo, que é muito importante em um estudo que perpassou tantos agentes, indivíduos e entidades, pois, afinal, a pesquisa abrangeu luteranos vinculados àIgreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e parte do Mato Grosso num período de três décadas. Por outro lado, aextensa bibliografia, as inúmeras fontes documentais, a par das entrevistas, as discussões conceituais e de campos acadêmicos, sinalizam uma obra de reconhecido perfil científico. Leia Mais
In search of the Amazon: Brazil, the United States, and the nature of a region – GARFIELD (HCS-M)
GARFIELD, Seth. In search of the Amazon: Brazil, the United States, and the nature of a region. Durham; London: Duke University Press, 2013. 368p. Resenha de: VITAL, André Vasques. Associações de agentes humanos e não humanos em perspectiva global na construção da Amazônia brasileira. História Ciência Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22 n.3 Rio de Janeiro July/Sept. 2015.
Lançado nos EUA em 2013, In search of the Amazon é o segundo livro do historiador Seth W. Garfield, professor do departamento de história da University of Texas at Austin. Garfield possui vários artigos lançados sobre temas que envolvem a Amazônia e a política indigenista brasileira na Era Vargas (1930-1945). Seu livro anterior foi traduzido para o português e lançado no Brasil em 2011 pela editora da Unesp com o título A luta indígena no coração do Brasil: política indigenista, a marcha para o oeste e os índios Xavante (1937-1988). O livro ora resenhado, no entanto, ainda não tem previsão de lançamento em português no Brasil.
In search of the Amazon analisa as redes constituídas por instituições, indivíduos, objetos e fenômenos no Brasil e EUA durante a Segunda Guerra Mundial que favoreceram uma série de processos que conformaram a paisagem amazônica e os modos de vida na região. Natureza e política não estão separadas nessa análise, que se constitui tanto como trabalho de história política quanto de história ambiental, embora o autor enfatize o seu afastamento em relação a referenciais teóricos da história ambiental. O aporte teórico-metodológico da obra baseia-se na noção de mediadores e redes compostas pela associação de humanos e não humanos, coprodutores de naturezas e sociedades. Trata-se do conceito de agência dissolvida entre humanos e não humanos do sociólogo da ciência Bruno Latour. Ao longo de cinco capítulos, seguidos de um epílogo, seringueiros, seringalistas, políticos brasileiros, produtos manufaturados de borracha, flagelados da grande seca na região Nordeste de 1941-1943, agências estatais brasileiras e norte-americanas, indústrias de borracha sintética dos EUA, políticos em Washington e outros emergem na obra enquanto protagonistas das transformações sociais e ambientais na Amazônia durante a Batalha da Borracha (1942-1945).
No primeiro capítulo é analisada uma conjunção de fatores de ordem interna e externa, que levaram o Estado brasileiro a realizar investimentos na Amazônia e adotar medidas visando à colonização e ao desenvolvimento econômico da região durante o Estado Novo (1937-1945). O aumento da demanda interna e externa por borracha devido ao estabelecimento de indústrias multinacionais de pneus em São Paulo e pela entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial foi entendido como uma nova oportunidade para a integração nacional da Amazônia. Longe de ser um objetivo novo, o autor aponta que a preocupação com o domínio estatal da região amazônica e sua transformação (de terra “selvagem” e abandonada para “civilizada” e fonte de riquezas para a nação) era uma questão antiga, já pensada e tentada ao longo dos séculos, desde o período colonial português. As principais diferenças das políticas implementadas pelo Estado Novo estavam na ênfase desenvolvimentista, que pregava a conquista da terra, o domínio das águas, a subjugação da floresta, ou seja, uma intervenção em larga escala para a reconstrução socioambiental da Amazônia.
Ainda no mesmo capítulo é destacado o papel de diversos agentes mobilizados pelo Estado visando à reconstrução da paisagem amazônica durante o Segundo Ciclo da Borracha. Oficiais militares, médicos sanitaristas, engenheiros, agrônomos, biólogos, geógrafos, literatos, cineastas e a máquina de propaganda do Estado Novo voltaram-se para a Amazônia, buscando sua remodelação material e imagética, dando caráter nacionalista à missão de seu desenvolvimento. O autor também destaca o papel das elites seringalistas no pacto oligárquico que, na prática, conformou os limites das políticas de Estado na Amazônia. Conhecedores do ecossistema local e associando essa condição à legitimidade política, as elites locais foram parte ativa no processo de transformação da paisagem amazônica.
O capítulo dois parte dos desdobramentos da drástica perda de suprimento de borracha dos EUA, com a invasão japonesa à península da Malásia, para analisar o histórico aumento da dependência social e política norte-americana a objetos feitos com látex. Essa dependência gerou a busca pela borracha da Amazônia e, ao mesmo tempo, intensificou diversos debates sobre modernidade e identidade nacional nos EUA. Contendo em torno de três mil peças de borracha, os automóveis ganharam cada vez mais espaço nos EUA ao longo das primeiras décadas do século XX, transformando as comunicações, a produção, o comércio, a saúde e a sexualidade dos indivíduos. A borracha, por meio do seu uso nos automóveis, tornou-se parte da vida humana, símbolo da modernidade e do progresso, além de ter fundamental importância na produção de material bélico. O início da Segunda Guerra Mundial gerou uma corrida pela estocagem de borracha por parte do governo norte-americano e da iniciativa privada das grandes empresas de borracha manufaturada, provocando tensões entre esses agentes. Diante da falta de suprimentos, as discussões no Congresso americano culminaram com a decisão de investir na importação de borracha vinda da Amazônia e no incentivo ao desenvolvimento de borracha sintética a partir de derivados do petróleo, de modo a acabar com a dependência externa. Em março de 1942, Brasil e EUA assinaram os “Acordos de Washington”, prevendo diversos investimentos em infraestrutura, suporte técnico, sanitário e militar no país e em especial na Amazônia, em troca de suprir a demanda norte-americana e de apoio contra a Alemanha. Os acordos previam também reestruturar o sistema de trabalho nos seringais, buscando promover bem-estar social aos seringueiros, mas Garfield enfatiza como as elites amazônicas, além de políticos e empresários conservadores dos EUA buscaram frear quaisquer intervenções estatais nos meios de produção.
O terceiro capítulo analisa o esforço binacional de prover a mão de obra necessária para a extração de borracha na Amazônia e modificar qualitativamente o perfil do seringueiro e sua relação com o meio ambiente, de modo a aumentar a produtividade nos seringais. Apontada como indolente e fisicamente degenerada, a população da Amazônia era vista como inapta para maximizar a produtividade. Após debates e propostas entre o governo brasileiro e o norte-americano, optou-se mesmo pelo incentivo à migração de pessoas vindas do interior dos estados do Nordeste brasileiro, como aconteceu no Primeiro Ciclo da Borracha. O Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para Amazônia (Semta) ficou encarregado de promover a migração, selecionando os trabalhadores de acordo com o biótipo e as condições de saúde, dando assistência aos migrantes durante o trânsito. O autor analisa as estratégias de mobilização com o uso das mídias (jornais, revistas ilustradas, cinema e rádio), o apoio dado pela Igreja católica e o surgimento da expressão “soldado da borracha”, com a associação do seringueiro à defesa nacional brasileira e à liberdade do mundo diante da ameaça hitlerista. Garfield também analisa nesse capítulo o fracasso das tentativas dos governos brasileiro e norte-americano em padronizar as relações de trabalho nos seringais, que, na prática, mantiveram-se da mesma forma como ocorriam no Primeiro Ciclo da Borracha, por força das elites locais.
O capítulo quatro analisa, a partir das perspectivas política, social, econômica e cultural, as condições dos migrantes e famílias do interior do estado do Ceará e suas estratégias frente à grande seca de 1941-1943 e aos incentivos estatais de ida para a Amazônia. O autor destaca a crise econômica que se abateu sobre a região, as políticas públicas destinadas a minorar as condições de miséria das populações do interior, a ida de cearenses para a Amazônia, Minas Gerais e São Paulo, além do papel tanto dos incentivos estatais quanto das redes de transporte e informação na escolha dos migrantes pelo trabalho nos seringais. Cartas trocadas entre amigos e familiares, histórias de riquezas conquistadas e mortes trágicas durante o Primeiro Ciclo da Borracha, além da literatura de cordel, ajudaram na conformação do imaginário cearense sobre a floresta, levando muitos a optar pela longa travessia rumo aos seringais.
O último capítulo analisa como as autoridades brasileiras e norte-americanas, seringalistas e seringueiros, cada um com suas visões e projetos de poder, conformaram populações e paisagens na Amazônia. O Segundo Ciclo da Borracha favoreceu investimentos norte-americanos e brasileiros na região, dotando-a de infraestrutura, como aeroportos, rede de assistência à saúde nas principais cidades e políticas de bem-estar social. No entanto, os prejuízos advindos da suspensão dos trabalhos de extração no período de cheia dos rios, o fortalecimento das indústrias de borracha sintética e a própria dificuldade de intervir nos meios de produção na Amazônia levaram ao gradual rompimento dos acordos de cooperação por parte do governo dos EUA a partir de fins de 1943. Os seringalistas, remanescentes do Primeiro Ciclo da Borracha, economicamente conservadores e descrentes em relação ao discurso nacionalista do governo brasileiro, esforçaram-se por manter o antigo sistema de aviamentos, promoveram fraudes no sistema de crédito e contrabando, e desrespeitaram os contratos de trabalho assinados entre os seringueiros e órgãos do governo federal. Céticos de que o novo boom da borracha duraria, trabalharam para potencializar seus lucros, desafiando os ditames dos Estados e do mercado com o poder político advindo do controle da força de trabalho e do conhecimento que tinham do ambiente amazônico. Coube aos seringueiros desenvolver suas próprias estratégias individuais na floresta, o que incluiu o engajamento em outras atividades, a cobrança de indenizações na justiça e o uso do termo “soldado da borracha” na luta por reconhecimento e pensão na condição de ex-combatentes.
O epílogo analisa como o espaço amazônico foi sendo reconstruído em termos materiais e políticos nas décadas seguintes, especialmente durante o regime militar até a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Garfield analisa brevemente como a Amazônia, novamente palco de projetos desenvolvimentistas durante o regime militar, virou alvo de atenção transnacional devido à emergência dos movimentos ambientalistas e da percepção de necessidade de conservação da floresta para evitar drásticas mudanças climáticas globais. Frente a esses movimentos transnacionais, os seringueiros tiveram a oportunidade de repensar suas identidades e formas de representação, aliando-as a práticas tradicionais que preservavam a floresta, em contraposição ao avanço da fronteira agrícola, que promovia a devastação, potencializando a violência e a marginalização dos extrativistas remanescentes.
Não é difícil para o pesquisador que trabalha com história da Amazônia e deseja utilizar a noção de agência dissolvida ou agenciamento recíproco entre humanos e não humanos conseguir empreender de fato esse modelo de análise. Trabalhar com história da Amazônia é vantajoso nesse sentido por ser difícil separar cultura e natureza nesse extenso espaço aquático e florestal (Leonardi, 1999, p.15). Nesse sentido, a obra de Garfield tem êxito em empreender uma análise que efetivamente combina associações que transgridem fronteiras entre o local, o nacional e o global, bem como o arcaico e o moderno, o social e o natural, seguindo os conselhos de Latour (1994) e lançando interessante contribuição para uma história ambiental transnacional (White, 1999). Justamente pelo esforço do autor em agregar diversos agentes conformadores das transformações da Amazônia durante o Segundo Ciclo da Borracha, emerge na leitura a pouca visibilidade dos povos indígenas em sua análise. As experiências desses povos foram fundamentais para o conhecimento que os seringalistas adquiriram do ambiente amazônico, possuindo intensa presença na sua conformação socioambiental (Ranzi, 2008, p.71-98).
O livro, no entanto, torna-se referência importante para pesquisadores que analisam tanto o Segundo Ciclo da Borracha quanto o primeiro, já que lança luz sobre as continuidades entre esses dois ciclos. De agradável e fácil leitura, também tem potencial de ser apreciado por leitores em geral, que se interessem pela história da Amazônia.
Referências
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34. 1994. [ Links ]
LEONARDI, Victor. Os historiadores e os rios: natureza e cultura na Amazônia brasileira. Brasília: Paralelo 15; Editora UNB. 1999. [ Links ]
RANZI, Cleusa Maria Damo. Raízes do Acre. Rio Branco: Edufac. 2008. [ Links ]
WHITE, Richard. The nationalization of nature. The Journal of American History, v.83, n.3, p.976-986. 1999. [ Links ]
André Vasques Vital – Doutorando, Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. [email protected]
Os mineiros da floresta: modernização, sociabilidade e a formação do caboclo-operário no início da mineração industrial amazônica | Alberto Paz
Da esquerda para direita: Robert Slenes e Adalberto Paz | Foto: Acervo de Adalberto Paz |

Atento a uma sociedade onde predominavam formas tradicionais de trabalho, Adalberto analisa o impacto que o sistema de produção icomiano gerou no cotidiano das pessoas que viviam no Amapá. O autor também buscou entender de quais formas o caboclo da região, acostumado a produzir para sua subsistência, no ritmo do ciclo da natureza, reagiu ao trabalho formal e hierarquizado, bem como às regras impostas pela empresa. Para tanto, o historiador utilizou-se de variadas fontes, como: relatos orais de ex-trabalhadores da Icomi, livros de memórias, artigos de jornais vinculados ao governo territorial, documentos oficiais como relatórios de estado e da empresa, até processos judiciais, encontrados no arquivo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.
O trabalho com processos judiciais é algo recente na historiografia amapaense, mas que vem atraindo mais e mais pesquisadores interessados nos conflitos sociais, como Sidney Lobato, que, em tese defendida na Universidade de São Paulo (USP), buscou analisar as táticas de sobrevivência usadas pelos trabalhadores urbanos em Macapá, entre 1944 e 1964, diante das inseguranças cotidianas por eles vivenciadas.[1] Todavia, no âmbito nacional, há já algumas décadas que os autos da justiça vêm sendo explorados por pesquisadores. Como exemplo, podemos destacar Maria Sylvia, que defendeu, no ano de 1964, a tese Homens livres na ordem escravocrata também na Universidade de São Paulo[2], período de grande desconfiança quanto ao uso desses documentos pelo historiador.
Na década de 1980, Sidney Chalhoub, a partir de Trabalho, lar e botequim[3], travou calorosos debates sobre as potencialidades e limitações dos processos-crimes, pois, ainda existia um forte ceticismo no que tange ao potencial dessas fontes. Contudo, nos últimos 30 anos, seu uso tornou-se bastante recorrente. Os autos criminais e cíveis possibilitam ao pesquisador preocupado com os conflitos sociais conhecer o cotidiano dos trabalhadores e as diferentes atividades destes fora do ambiente de trabalho, tendo como base as narrativas das contendas judiciais. Tais documentos passaram a ser um importante caminho para historiadores que adotam a perspectiva de baixo, um meio de dar maior visibilidade às experiências das classes subalternas.
A obra está dividida em três capítulos. No primeiro, o autor analisa as características da sociedade amapaense na década de 1940, bem como, as transformações ocorridas a partir do momento em que o Amapá se tornou Território Federal, desmembrando-se do estado do Pará, o que acarretou muitas mudanças sociais, econômicas e políticas. Nesta década, no centro deste território, foi encontrada uma grande jazida manganês de alto valor. O segundo capítulo focaliza o cotidiano do trabalhador na década de 1950, momento em que estava sendo instalada a infraestrutura do projeto Icomi. No seu último capítulo, Adalberto Paz, aborda a experiência dos operários dentro de uma cidade construída pela mineradora (company town), no interior da selva amazônica, e as relações desse operariado com o governo territorial – capítulo que também versou sobre as primeiras organizações sindicais na região.
Após a criação do Território Federal do Amapá e a nomeação de Janary Gentil Nunes para governar a região houve uma forte tentativa de modernizar a sociedade territorial. Para tanto, um dos caminhos, na visão dos governantes, seria o investimento em pesquisa que ensejasse o aproveitamento em larga escala das riquezas minerais do referido espaço amazônico. Assim, tendo como fonte artigos do jornal Amapá, Adalberto Paz afirma que Janany ofereceu um prêmio para quem levasse a ele provas concretas da existência de minérios no Amapá. Um regatão da região, Mario Cruz, sabendo da premiação, levou uma pedra de manganês ao governador. Paz afirma que a expedição de Mário ocorrera antes da divulgação da premiação que ficaria conhecida como o marco inicial da exploração mineral no Amapá.
O manganês encontrado era de alto teor e excepcional valor comercial, superior a muitas jazidas conhecidas naquela época. A partir disso, criou-se o mito em torno da viagem do aventureiro, o que passou a ser largamente divulgado e propagandeado por Janary Nunes, que se apresentava como o grande incentivador do aproveitamento das riquezas locais. A expedição de Cruz foi divulgada pelo jornal Amapá e pela Rádio Difusora, veículos ligados ao governo territorial.
Janary de várias maneiras buscava uma aproximação com o trabalhador da região. Este que estava acostumado com a extração da castanha, com os seringais e com os veios de ouro, mundos do trabalho muito diferentes do novo sistema produtivo que a Icomi implantou. Os discursos do governador eram elaborados cuidadosamente. Neles, Nunes buscava a valorização do elemento humano local, o caboclo, imagem-síntese do trabalhador amapaense. Com isso o governador clara e intencionalmente se aproximava do discurso trabalhista do presidente Getúlio Vargas, no mesmo período.
Quais seriam, então, as características desse trabalhador que habitava a região nos anos 1940? Adalberto Paz responde tal pergunta no primeiro capítulo. O autor buscou então compreender e identificar quem era esse trabalhador antes de tornar-se mineiro/operário. Para isso, consultou pesquisadores que tinham passado pela região. Assim, Paz percebeu que dois grandes segmentos extrativistas existiam na Guiana Brasileira, na década de 1940, “o vegetal, com a coleta da castanha-do-Pará e o da borracha; e o mineral, com a garimpagem do ouro” (PAZ, 2014, p.37). Cada atividade exigia um conhecimento específico, porém, muitos trabalhadores desenvolviam mais de uma durante o ano.
Por meio dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge), o historiador trouxe para seu trabalho detalhes dessas atividades. Segundo Antônio Teixeira Guerra, um dos pesquisadores citados por Paz, muitos seringueiros também eram castanheiros, o que era comum, pois, no período das chuvas “entre os meses de janeiro e abril – os trabalhadores apanhavam as castanhas nos médios e altos cursos dos rios e na estiagem – entre os meses de setembro e dezembro – dedicavam-se a extração do látex das seringueiras nos baixos cursos” (PAZ, 2014, p. 39). Importa salientar que os produtos eram negociados por meio do sistema de aviamento.
O sistema de coletas era uma atividade tradicional nesse espaço, e a possibilidade de dinamizar o mercado interno era vista com desconfiança pelo caboclo. Segundo o autor, alguns pesquisadores acreditavam que a falta de experiência, o emprego de métodos inadequados levaram os caboclos a tentativas mal sucedidas na agricultura, pois tais trabalhadores estavam acostumados a obter o seu sustento através do extrativismo.
Outro ponto que merece destaque no estudo de Adalberto Paz é a crescente presença de migrantes egressos do Norte e Nordeste, a maioria dos trabalhadores não especializados que rumaram para a região para compor a mão de obra proletarizada. Estes que eram formados por categorias de trabalhadores que já existiam em diversas regiões do país. Porém, afirma o autor, nas primeiras atividades da empresa Icomi na região (pesquisas e prospecções), os trabalhadores braçais eram originários de diferentes grupos de extrativistas, antes dispersos no interior do Amapá, nas ilhas do estado do Pará e nas cidades amapaenses interioranas. Importa ressaltar que muitos trabalhadores viram na instalação do empreendimento industrial a possibilidade de se desvencilharem das antigas práticas extrativistas, que demandavam muito trabalho e que amiúde geravam ganhos irrisórios.
No segundo capítulo, Adalberto Paz, traz os processos judiciais como principais fontes de análise, documentos que hoje são encontrados no arquivo do Fórum do Tribunal de Justiça de Macapá. Por meio de autos trabalhistas e criminais, o autor chega ao cotidiano dos trabalhadores amapaenses durante a década de 1950. Momentos de lazer, sociabilidades, e conflitos fora do ambiente fabril foram identificados. Certamente um dos principais méritos do autor nesta obra.
Muitas vezes, tendo como espaço de sociabilidade os bares da antiga Doca da Fortaleza, que se localizava no espaço que hoje é o centro comercial de Macapá, bem próximo das modernas construções que estavam sendo erguidas pelo projeto “civilizador” do governo territorial, após a expulsão das pessoas que ocupavam tradicionalmente aquele espaço. A Doca era bastante visitada pelos trabalhadores amapaenses. Muitos operários, quando recebiam os salários da mineradora Icomi, tinham esta área de lazer como destino imediato.
Contudo, o grande fluxo migratório, gerado, principalmente pela oferta de emprego na região, deu destaque a outros ambientes de lazer como: o Porto de Santana, Porto Platon e Terezinha. O usufruto da prostituição era um dos lazeres mais procurados. Paz consegue identificar as minúcias dos conflitos nessas localidades e peculiaridades das pessoas que ocupavam esses lugares por meio dos inquéritos judiciais. Casos amorosos envolvendo mineiros e meretrizes, brigas entre trabalhadores de diferentes regiões, acertos de contas travados nas festas e boemias noturnas.
Não obstante, ao analisar artigos do jornal Amapá, o autor afirma que na nova sociedade que o governo territorial pretendia fundar não havia espaço para criminosos, pessoas vingativas. Criou-se a ideia de reformulação social e moral. Mostrava-se para os trabalhadores que eles não mais estavam vivendo em um período de desamparo e exploração desordenada, mas que era necessário mudar os hábitos. Para isso, buscava-se educar as novas gerações. Tais mudanças estavam em consonância com os objetivos da mineradora Icomi. O estilo de vida boêmio de vários trabalhadores chamava a atenção da companhia, fazendo com que esta buscasse meios para cultivar comportamentos moralmente regulados, principalmente na segunda fase do empreendimento.
Ainda analisando os documentos judiciais, o autor identificou alguns conflitos trabalhistas que envolviam trabalhadores e seus patrões. Eram desentendimentos envolvendo questões hierárquicas. Empregados que, ao reclamar melhores condições de trabalho aos seus superiores, acabavam sendo demitidos por justa causa. Assim, os processos trabalhistas possibilitaram ao pesquisador apreender detalhes desses conflitos e problemas de relacionamento nos espaços da empresa, além das origens da mão de obra, condições de trabalho e o relacionamento dos operários com a mineradora. O pesquisador, também, destaca em seu livro a presença de vários processos sem conclusão, o que deixa entrever certa fragilidade do poder judiciário local. Afirma o historiador que era recorrente a demora no encaminhamento dos processos, a perda de prazos, o que inviabilizava o estabelecimento de sentenças.
Interessante observar na narrativa de Adalberto, que ele faz uma desconstrução dos discursos oficiais propalados, incansavelmente, pela Icomi, onde estes tratavam dos êxitos na execução dos projetos e os progressos proporcionados pela empresa a uma “região selvagem”. Porém, através de inquéritos policiais, chegou-se aos acidentes de trabalho, mortes e sofrimentos que a narrativa oficial intencionalmente não mencionara. E acrescenta o autor, “se nos detivéssemos apenas naquilo que a companhia produziu sobre si mesma e naquilo que o governo territorial dizia que ela representava, não iriamos muito além do otimismo ingênuo” (PAZ, p. 149). De fato, as análises dos documentos judiciais romperam esse silencio.
Na última parte de seu trabalho, o autor trouxe como fontes os livros de memórias, biografias, documentos que foram produzidos pela mineradora Icomi e depoimentos de ex- trabalhadores para poder chegar às experiências e ao cotidiano do operariado dentro de uma das cidades construídas pela empresa, no interior da Amazônia, a company town de Serra do Navio, hoje sede de um dos municípios do estado do Amapá. Neste espaço, ainda permanece a estrutura urbanística construída pela Icomi no início da década de 1960, tornando-se um lugar que abriga lembranças desse passado recente, um lugar de memória.
Importa salientar que a empresa construiu dois núcleos habitacionais para os trabalhadores no Território Federal do Amapá e que, apesar de os documentos e estudos denomina-las de vilas operarias, Adalberto afirma que foram autênticas companies towns, uma chamada de Serra do Navio e outra, edificada nas proximidades do Porto de Santana, denominada Vila Amazonas. Ambas começaram a ser construídas após a empresa ter assegurado a infraestrutura necessária para escoar o minério. Para o autor essas construções tinham como função “‘ajustar’ e normatizar a imensa maioria dos trabalhadores locais não especializados dentro dos padrões de produtividade e ritmos de trabalho da moderna economia capitalista industrial” (PAZ, 2014, p. 167). Buscando forjar comportamentos baseados em um modelo de família estável.
Ambas foram um recurso de controle do proletariado pela Icomi. Todavia, ao contrário do pensamento de muitos pesquisadores, Paz percebe que o trabalhador de Serra do Navio, enxergava o controle a que estava sendo submetido, pois, apesar de todas as estratégias de normatização da empresa, os operários eram capazes de criar estratégias de subversão através dos próprios instrumentos de controle de sua vida social.
No entanto, a tentativa de controle dos trabalhadores acontecia de variadas formas. O que é observado pelo autor através das entrevistas de pessoas que viveram nos núcleos operários, onde cartilhas com as orientações eram distribuídas. Adalberto destaca que a Icomi realizava inspeções sem avisar previamente os moradores das vilas primárias e intermediárias de Serra do Navio. Caso a avaliação fosse negativa, os operários eram particularmente repreendidos. Vários limites e regras de condutas eram impostos. Todavia, o autor verifica nas entrevistas que ainda era possível driblar a fiscalização.
Muito já foi escrito sobre a presença da mineradora Icomi no estado do Amapá. O que ratifica a importância e influência econômica, política e social que teve tal empreendimento na região, fazendo parte da história de muitos amapaenses e sendo o primeiro dessa magnitude a buscar a extração de minérios na Amazônia. Há muitos documentos a serem carreados para a pesquisa da história social do trabalho no Amapá. No atinente aos trabalhadores da Icomi ainda há muito a ser estudado, como, por exemplo, as questões relativas à saúde do trabalhador, que podem ser analisadas por meio de prontuários médicos dos operários que se encontram presentes no arquivo da empresa no município de Santana, e do jornal a Voz Católica. Certamente a leitura atenta de tais documentos pode trazer grandes contribuições para estudos das experiências do trabalhador amazônico.
Notas
1. Ver: LOBATO, Sidney. A cidade dos trabalhadores: insegurança estrutural e táticas de sobrevivência em Macapá (1944-1964). Tese de Doutorado em História Social defendida na USP, 2013.
2. Ver: FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. 4ª ed. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997.
3. Ver: CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001.
Danilo Mateus da Silva Pacheco – Pesquisador do Laboratório de Estudos da História Social do Trabalho na Amazônia (Cnpq/Unifap). Professor da rede estadual de ensino no Amapá (Sead-AP). Especialista em História e Historiografia da Amazônia (Unifap). É mestrando no Mestrado Profissional em Ensino de História (Profhistória/Unifap), e bolsista da Capes.
PAZ, Adalberto. Os mineiros da floresta: modernização, sociabilidade e a formação do caboclo-operário no início da mineração industrial amazônica. Belém: Paka-Tatu, 2014. Resenha de: PACHECO, Danilo Mateus da Silva. O trabalhador amazônico e o novo sistema de produção industrial. Revista Tempo Amazônico, Macapá, v.3, n.1, p.200-206, jul./dez., 2015. [IF]
A fotografia amazônica de George Huebner | Andreas Valentin
O livro que temos em mãos, resultado de tese de doutorado defendida na UFRJ, é uma bem-vinda contribuição que interessará especialmente aos estudiosos da história da Amazônia e da fotografia brasileira. Seu autor, Andreas Valentin, persegue, desde uma abordagem da história social, os feitos de George Huebner. Tal era um exímio fotógrafo alemão que, nos últimos anos do século XIX, estabeleceu-se em Manaus, legando importante conjunto de imagens da Amazônia da era da borracha.
Antes de falar mais do fotógrafo, Valentin prepara o terreno, fornecendo elementos que contribuem para uma avaliação minuciosa da atuação de Huebner. O autor demonstra como na cidade natal desse personagem, Dresden, estabeleceu-se uma sólida indústria da fotografia. Tais empresas desenvolveram desde muito cedo atividades de ensino e pesquisa, estimulando assim a formação de profissionais e o aperfeiçoamento dos artefatos. De modo concomitante à popularização da imagem fotossensível, um grande número de fotógrafos partiu para todos os cantos do mundo, propagando assim retratos e vistas de povos e locais os mais longínquos da Europa. Desde a consolidação do Estado alemão os profissionais daquele país se lançaram à captura dessas imagens. As técnicas fotométricas – relacionadas intimamente à mentalidade racista, ao domínio colonial, e à formação de uma ciência nascente, a etnologia – foram a linguagem corrente na constituição dos retratos desses outros. Os de Huebner cujo foco é a população ameríndia que encontrou na Amazônia não escapariam, na maior parte das vezes, desse tipo de enquadramento. Leia Mais
In Search of the Amazon: Brazil, the United States, and the Nature of a Region – GARFIELD (RBH)
GARFIELD, Seth. In Search of the Amazon: Brazil, the United States, and the Nature of a Region. Durham: Duke University Press, 2014. 343p. Resenha de: DUARTE, Regina Horta. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.34 n.67, jan./jun. 2014.
Nas primeiras páginas de seu livro In Search of the Amazon, Seth Garfield evoca os antigos relatos de exploradores – narrativas emocionantes de jornadas hercúleas – para apresentar sua própria empreitada de anos de investigação sobre a Amazônia. As narrativas antigas de viagens às quais o autor alude, entretanto, representavam o meio tropical por meio de identidades bem estabelecidas e contrapostas ao mundo europeu, fundando mitos e firmando preconceitos. Diferentemente, estamos agora diante de uma refinada reflexão histórica que nos incita a questionar o que sabemos sobre a Amazônia. Com ele palmilhamos – página a página – as trilhas construídas no passado por diversos atores históricos, continuamente refeitas e redirecionadas no jogo dos enfrentamentos sociais e políticos. Munido de minuciosa pesquisa documental e disposto a trilhar territórios inexplorados, Garfield desmonta armadilhas de pretensas identidades, conceitos e representações arraigadas. Demonstra como a busca bem-sucedida de uma essência da Amazônia implica a conclusão de que ela não tem essência alguma, pois é lugar historicamente produzido em intricadas relações sociais de escalas locais, regionais, nacionais e globais. Com guia tão perspicaz, torna-se uma aventura intelectual estimulante adentrar a floresta. Garfield integra a melhor estirpe de historiadores, pois, como disse Marc Bloch (s.d., p.28), “onde fareja a carne humana, sabe que ali está sua caça”.
O tema da exploração da borracha na Amazônia brasileira no período do Estado Novo conduz o livro. A despeito de referenciar continuamente os tempos áureos dessa commodity no Brasil entre 1870 e 1910, e dedicar o epílogo às representações e práticas que delineiam a Amazônia desde os anos 1970 até os dias de hoje, o foco principal concentra-se nos anos da Segunda Guerra Mundial. O contrabando de sementes da Hevea brasiliensis, a seringueira, para o sudeste da Ásia, em 1876, e o sucesso das novas plantações nas primeiras décadas do século XX estabeleceram uma competição internacional na qual o Brasil saiu derrotado: no início dos anos 1930, a Amazônia produzia menos de 1% da borracha consumida no mundo.
Entretanto, com o lançamento da Marcha para o Oeste como projeto de integração nacional por Vargas e o avanço da conquista japonesa sobre o sudeste asiático em 1941, a Amazônia emergiu como local estratégico para o fornecimento dessa matéria-prima. In Search of the Amazon concentra-se na análise política, cultural e ambiental da região, acompanhando a produção de múltiplos sentidos para a Amazônia, no entrecruzamento de práticas sociais e disputas de poder.
A Amazônia é analisada como lugar instituído na temporalidade histórica por uma miríade de sujeitos que, por sua vez, enfrentam as condições do meio físico. Para tanto, Garfield dialoga com o geógrafo David Harvey, para quem os lugares são artefatos materiais e ecológicos construídos e experimentados no seio de intricadas redes de relações sociais, repletos de significados simbólicos e representações, produtos sociais de poderes políticos e econômicos. Com Bruno Latour, o autor argumenta que a “natureza” é inseparável das representações sociais, e que a sociedade resulta também de elementos não humanos. Com Roger Chartier, considera os conflitos sociais à luz das tensões entre a inventividade de indivíduos e as condições delineadas pelas normas e convenções de seu próprio tempo. Esses horizontes precisam ser avaliados na investigação do que homens e mulheres pensaram, fizeram e expressaram.
Garfield escarafunchou arquivos em Belém, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Rio Branco e Rio de Janeiro, como também nos Estados Unidos. Enfrentou condições diversas de conservação, organização e acesso aos acervos, nos quais encontrou jornais da época publicados em várias cidades, boletins e revistas de serviços ligados à borracha, programas de rádio, cinejornais, trabalhos científicos de diversas áreas do conhecimento, entrevistas com migrantes nordestinos, processos criminais e civis, relatórios diversos, correspondências pessoais de homens e mulheres envolvidos na saga dos “soldados da borracha” nos anos 1940, romances sobre a Amazônia, literatura de cordel e fotografias. As imagens são pedra de toque na caprichosa edição do livro. Vinte e oito fotografias – além de figuras e mapas – privilegiam aspectos urbanos de Ma-naus e Belém, cenas de trabalho e vida cotidiana, poses de autoridades políticas e técnicos, acampamentos de migrantes. O diálogo entre as análises do autor e as imagens é extremamente rico, mesmo que o leitor permaneça curioso sobre as condições de produção de algumas fotografias.
Desde a decadência da borracha em 1910, ruínas invadiram a paisagem amazônica, com cidades fantasmagóricas, retração demográfica e um rastro de miséria e doenças tropicais. Os ideólogos do Estado Novo elegeram a Amazônia como imperativo nacional, investindo-a de muitos significados: interior a ser desenvolvido pelo Estado centralizado, fronteira a ser delimitada e protegida, terra de promissão para os migrantes nordestinos, torrão natal e metonímia da nação. Vargas visitou Manaus em 1940, discursou, lançou financiamentos para migrantes, inaugurou serviços para incrementar o comércio da borracha, o abastecimento, condições sanitárias e transporte. Mas a invenção da Amazônia não seria urdida apenas “de cima”. Contou com outros atores e interesses: elites regionais, militares, médicos e sanitaristas, engenheiros, botânicos, agrônomos, geógrafos, literatos, cordelistas e migrantes.
A despeito do caráter espasmódico das articulações entre a Amazônia e o mercado internacional, a história investigada no livro é sobretudo uma história de conexões globais. As transformações tecnológicas colocavam a borracha – isolante, flexível, resistente e impermeável – entre os materiais mais estratégicos para as nações. Em 1931, Harvey Firestone Jr. gabou-se de como as coisas feitas de borracha se haviam tornado indispensáveis para o ser humano civilizado, desde o primeiro choro do recém-nascido até a lenta marcha para o túmulo. A borracha alimentou a cultura do automóvel na sociedade norte-americana e o crescimento da aviação por todo o mundo. Presente em milhares de produtos (como luvas cirúrgicas, sapatos, preservativos e pneus), a borracha revolucionou o cotidiano dos civis e a fabricação de artefatos militares. Evitando interpretações deterministas, o autor alerta para o fato de que as inovações tecnológicas e aplicações da borracha na indústria eram produtoras e produtos das mudanças políticas, econômicas e culturais resultantes de práticas dos agentes sociais (p.55).
Quando o ataque japonês à Malásia suspendeu o fornecimento de borracha, a atenção norte-americana se voltou para a Amazônia. Delinearam-se profundas divergências entre membros do governo de Franklin D. Roosevelt. Alguns, como o empresário e político Jesse Jones, viam a Amazônia como inferno verde e inelutavelmente bárbaro: uma vez que nenhuma ação poderia transformá-la, tratava-se de explorar a borracha da forma mais prática possível. Outros, como o vice-presidente Henry Wallace, apostaram na Amazônia como terra promissora, pedra fundamental da integração interamericana, defendendo projetos de saúde, melhorias e integração social. Ao delinear a ação norte-americana na Amazônia, o autor argumenta a multiplicidade de intenções e práticas dos Estados Unidos na região – resultantes paradoxais de enfrentamentos na política interna desse país – traçando uma análise complexa e original das relações entre o Brasil e os Estados Unidos naqueles anos.
O diálogo entre os norte-americanos defensores de projetos sociais paralelos à exploração da borracha e as autoridades nacionalistas do governo Vargas foi profícuo e gerou iniciativas conjuntas de formalização do trabalho e estabelecimento de condições mínimas de higiene, saúde e alimentação. Autoridades brasileiras e representantes norte-americanos se esforçaram pela presença efetiva do Estado brasileiro na Amazônia, com ações e estratégias para formação e controle da mão de obra. Todas essas práticas eram informadas por projetos políticos críticos da mera exploração descompromissada e inconsequente, embalados tanto pelos sonhos brasileiros de construção nacional como pelas aspirações dos Estados Unidos no sentido de estabelecer conexões interamericanas sob sua égide.
Os seringueiros, por sua vez, surgem nas páginas do livro como sujeitos sociais ativos. Garfield critica sua representação recorrente como vítimas passivas, fáceis de manipular, meros joguetes de campanhas pela borracha. Relatos orais transmitidos entre gerações acenavam com histórias pessoais de enriquecimento com a borracha. Signos de masculinidade abrilhantavam a aventura de partir para a Amazônia. O caráter sazonal, móvel e independente da atividade atraía muito mais que a perspectiva do trabalho nas fazendas de café do Sudeste. A informalidade e a mobilidade combatidas pelo Estado seduziram homens em busca de trabalho e com ganas de enriquecimento. A decisão de migrar foi fruto da seca e da falta de perspectivas nos locais de origem, mas também se baseou em cálculos informados por relações de parentesco, gênero e valores culturais.
Analisando as relações entre Brasil e Estados Unidos em torno da Amazônia em termos de interesses recíprocos, o autor afasta-se das interpretações do Brasil como país subdesenvolvido e vitimado pelo Tio Sam. Nem por isso desconsidera o legado impactante das políticas norte-americanas de guerra, que acirraram a competição em torno do acesso e uso dos recursos, representações divergentes da natureza e disputas pelo exercício do poder.
In Search of the Amazon encontrou também todos os indícios do sofrimento e miséria dos trabalhadores da borracha, e das tragédias de isolamento e abandono após o final da guerra. Entretanto, mostra como os seringueiros foram capazes de se reinventar nas décadas que se seguiram. Passaram de aventureiros desavisados a populações tradicionais e detentoras de saberes, de “soldados da borracha” a ambientalistas. Obtiveram apoio internacional para suas lutas e interesses na conservação da floresta. Investiram a Amazônia de novas significações e desafios. Explorando conexões regionais, nacionais e globais da saga da borracha no período da Segunda Guerra Mundial, Garfield problematiza a natureza da região, apresenta ao seu leitor um panorama instigante da Amazônia como lugar produzido socialmente, arena contínua de conflitos e lutas no jogo da história contemporânea, cenário de controvérsias garantidas dos tempos que virão.
Referências
BLOCH, Marc. Introdução à História. 4.ed. Lisboa: Publicações Europa-América, s.d. [ Links ]
DUARTE, Regina Horta.- Departamento de História, Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora CNPq. reginahorta [email protected].
[IF]
Fordlândia: ascensão e queda da cidade esquecida de Henry Ford na selva – GRANDIN (A)
GRANDIN, Greg. Fordlândia: ascensão e queda da cidade esquecida de Henry Ford na selva. Trad. Nivaldo Montingelli Jr. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. Resenha de: COLACIOS, Roger Domenech. Antítese, v. 4, n. 8, jul./dez. 2011.
Lançado em português em 2010 “Fordlândia: ascensão e queda da cidade esquecida de Henry Ford na selva” do historiador norte-americano Greg Grandin pode ser considerada uma obra de fôlego. O autor utiliza a coleção de documentos dos Arquivos da Ford e uma bibliografia de apoio, num livro que conta com 23 capítulos e epilogo em pouco mais de 360 páginas. O empreendimento de Ford na Amazônia, trazendo a cultura e a tecnologia dos Estados Unidos para a floresta é retratado em vários ângulos e temas, desde aspectos sociais e políticos, até detalhes da vida cotidiana dos trabalhadores da cidade e uma extensa biografia de Henry Ford, que, aliás, toma conta de grande parte do livro. Em 1928, a Ford Motor Company inicia os trabalhos de construção da plantação de seringueiras no Brasil, marcando o começo de enormes desafios e de uma relação ambígua entre os brasileiros, a floresta e seus novos “conquistadores”: a tecnologia e os homens de Ford. O percurso de quase duas décadas girou em torno de corrupção, ignorância, desmatamentos, enganos, queimadas, lazer, trabalho, revoltas, padronização, recomeços, fungos e insetos, militares, política, e acima de tudo, quase nenhuma borracha produzida. Com o intuito de garantir a autossuficiência de borracha para os carros que produzia e se livrar das imposições de um premente cartel liderado pelos ingleses do produto, Ford deu inicio a uma plantação de seringueiras, e o local escolhido foi o berço destas árvores e décadas antes o maior produtor do mundo de látex, a Amazônia brasileira. Mais do que isto, devido a experiência de Ford nos EUA em reconstruir ou mesmo construir cidades no estilo tradicional norte-americano, o industrial pretendia trazer o progresso ao recriar a “América” na Amazônia. A crença na tecnologia, desde que útil para o ser humano, levou Ford a compreender a Amazônia como um espaço para colocar em prática sua missão civilizadora, tornando aquilo que enxergava como uma terra miserável e de gente bárbara, na origem de uma nova cultura na floresta. Ou melhor, de sua cultura, a “América” tradicional. Ao longo do livro Ford é mostrado por Grandin como um homem que não poderia ser descrito como um simples industrial. Dono de uma opinião política e social, por vezes antissemita, adepto do conservadorismo, ao mesmo tempo em que promovia a modernização do mundo, Ford era uma pessoa contraditória nos ideais, girando em torno de noções superficiais do mundo, mesmo assim movendo em sua órbita uma multidão e comandando os rumos da companhia com mão de ferro. Avesso a qualquer tipo de controle sobre as indústrias, seja de cunho governamental ou dos pares capitalistas, Ford não abriu a empresa ao capital financeiro, mantendo-a longe de Wall Street, e também não fazia parcerias com outras indústrias, não procurava o monopólio sobre determinado produto, apesar de controlar a produção de matérias-primas e peças de forma exclusiva para seus carros. Os trabalhadores das fábricas eram mantidos na linha, não somente de montagem, mas pela regularização e vigilância da vida cotidiana, como os hábitos alimentares e de higiene. Proibiu o quanto pode a formação de sindicatos, até mesmo com o uso de violência, e mesmo assim pagava os maiores salários dos EUA, o famoso “Dia de Cinco Dólares”. Manipulava gerentes e administradores, controlando as decisões e lhes dando prêmios pelo bom trabalho executado. O Fordismo significou não apenas um sistema industrial, fechado no modo de produção, mas todo um conjunto de regras de conduta e uma forma de vida, que incutia nos funcionários e que tentava transformar o mundo. Mas a Amazônia era outro mundo. Segundo a posição adotada por Greg Grandin, a Fordlândia foi o fruto de uma “conspiração” com vários atores incluídos, principalmente, Jorge Dumont Villares, sobrinho de Santos Dumont, que sabendo do interesse de Ford em montar um plantação de seringueira, tratou de organizar um esquema de corrupção, fraude e estelionato, com a intenção de vender terras, gratuitas por lei, para a companhia de Ford. O esquema de Villares envolvia políticos, diplomatas e funcionários do alto escalão da fábrica. Todos fisgaram Ford não pela lucratividade do empreendimento, mas sim por sua filosofia de levar a modernização para todo o planeta, convencendo-o que poderia mudar o quadro social e econômico da Amazônia devastada pelo fim da hegemonia como maior produtora de borracha. Ford procurava aquilo que Grandin definiu como “um novo espaço de liberdade”, onde poderia recomeçar seus sonhos e utopias. No ano de 1927 os reveses políticos e sociais no cenário norte-americano (mesmo que sua fábrica liderasse as vendas de carros e houvesse a estabilidade dos preços da borracha no mercado mundial) deu força a “conspiração” amazônica e o projeto foi autorizado, colocando toda a reputação de Ford em jogo. Villares e seus parceiros vendem as terras, com a ajuda do governo do Pará e a Companhia de Ford obtêm a concessão para a exploração total dos recursos naturais, além da borracha, e também isenção dos impostos. Um fato que viria a tona anos depois e provocaria um escândalo nacional e internacional, manchando a reputação de Ford no Brasil.
Deste momento em diante, Ford e a Fordlândia se viram em meio a diversos tipos de desafios e dificuldades, obtendo pouco sucesso e grande fracasso. Dois tipos de problemas se sobressaem na análise de Grandin, o caráter social e o natural da empreitada amazônica do industrial norte-americano. O autor expõe a origem destes problemas da seguinte maneira: a narrativa não está restrita à Amazônia, mas constantemente direciona o leitor até Michigan, na fábrica de Ford, ou nas vilas que construiu em locais estratégicos para a obtenção de matérias-primas. A relação é constante ao longo do livro, com comparações entre o ambiente amazônico e o da região de Ford, seja no aspecto natural ou então urbano. Revelando desta forma a experiência dos homens que trabalhavam para a fábrica e as expectativas daquilo que iriam encontrar no Brasil, o que se mostrou diverso e até mesmo incompreensível para eles. O maquinário, para a devastação da floresta e preparo da cidade e plantação, foi levado dos EUA para o Brasil por navios da Companhia, junto com os homens de confiança selecionados para a administração da cidade. Assim, um misto de trabalhadores brasileiros e gerentes norte-americanos formou a força de trabalho da Fordlândia. Um processo de adaptação que marcou toda a trajetória da cidade-plantação, revelando o conjunto de fragilidades. Por um lado, os norte-americanos procurava instituir entre os funcionários nativos a filosofia do fordismo, com a adequação das normas de higiene e saúde, alimentação e vestuário que agradavam a Ford. De outro lado, o caráter sazonal do trabalho na Amazônia, levava os nativos a permanecerem pouco tempo na Fordlândia, mesmo com os altos salários (em relação ao restante da Amazônia, mas longe dos cinco dólares diários pagos aos trabalhadores nos EUA), que logo voltavam para as famílias, sem contar o problema com a bebida e a prostituição que logo rondaram a cidade de Ford. Quando depois de alguns anos os gerentes conseguiram manter os trabalhadores regularmente na cidade, instruí-los quanto à dinâmica do trabalho fabril se tornou outro desafio, que gerou uma revolta em 1930, destruindo toda a cidade e expulsando momentaneamente os norte-americanos de suas casas. Ações trabalhistas e formação de sindicatos também deram a tônica das relações entre os nativos e os norte-americanos na plantação. A natureza tampouco ajudava. Promotor de uma junção entre indústria e agricultura, Ford acreditava que poderia demonstrar o uso racional da natureza e a pratica industrial na Amazônia. Porém, o desconhecimento dos norte-americanos do ambiente que os circundavam e a inexperiência em plantar seringueiras as tornou alvo das pragas e insetos, os mesmos que acabaram com a economia da borracha na região décadas antes. A ajuda de um especialista, James R. Weir, acabou por se tornar desastrosa, pois por sua sugestão abandonaram a Fordlândia, fundando outra cidade, Belterra, dando continuidade as práticas de plantação que favoreciam a disseminação dos fungos e insetos nas seringueiras. O resultado foi a baixa produtividade das árvores e até mesmo a devastação de muitos hectares. A técnica de enxerto foi utilizada e até aperfeiçoada para o fortalecimento das seringueiras, mas a forma da plantação, colocando as árvores próximas, continuava tornando o combate às pragas uma luta constante e dispendiosa. A plantação se tornou inviável, acumulando prejuízos desde sua fundação em 1928. Sendo vendida ao governo brasileiro em 1945, pelo valor das indenizações a serem pagas aos trabalhadores nativos. A missão civilizadora de Ford foi encerrada pelas mãos de seu neto Henry Ford II, que assumira a empresa, e também pela própria filosofia do industrial que cada vez mais se enterrava num passado bucólico do meio rural norte-americano. O livro de Greg Grandin tem seus méritos. Soube costurar uma trama trazendo para o leitor diversos aspectos da vida de Ford e seu ideário. O retrato do industrial no livro é de um homem marcado pelas contradições, traçando um Ford por vezes inocente e influenciável por sua própria fama. Mostrou também um fato, a possibilidade de se escrever a História do Brasil com uma bibliografia predominantemente estrangeira, utilizando poucos referenciais da historiografia brasileira. O autor coloca a Amazônia na rota do capitalismo do inicio do século XX e revela todo o jogo político e os interesses brasileiros na permanência de Ford no país. A narrativa de Grandin, porém, comete alguns excessos. O autor apresenta uma extensa biografia de Henry Ford, esquecendo-se por vezes da Fordlândia ou mesmo a tornando um objeto de segundo plano. Apesar das fontes primárias serem vastas, provenientes dos arquivos da Ford, o autor carece do olhar crítico para entender os documentos, compreendendo como verdades as informações contidas em cartas, correspondências internas e os diários dos norte-americanos, além das entrevistas com os sobreviventes em que leva ao pé da letra as palavras dos entrevistados. Em vários trechos podemos encontrar a descrição de sentimentos, sensações, beirando a ficção literária, inteiramente baseada nos diários e em obras de escritores que passaram pela região da Fordlândia, isso quando algumas passagens ficam sem referências, ou seja, deixando a dúvida se seriam frutos da imaginação de Grandin. Além disso, temos descrições de fatos e acontecimentos históricos que fogem inteiramente da proposta do livro, mas que ocupam páginas e páginas, desviando o leitor da temática. O autor apresenta algumas informações erradas, como a do escritor José Maria Ferreira de Castro, que indica ser brasileiro e, na verdade, é português, e também o nome de H. Kahn que não é Herbert, mas Hermann. Isto sem contar as repetições da mesma descrição sobre um determinado ator, como Henry Wickham que toda a vez que citado, Grandin escreve que ele roubou as sementes de seringueira do Brasil, ou Santos Dumont, que aparece algumas vezes para ser taxado em todas como o “homem que os brasileiros acreditam ser o inventor do avião”. Ford nunca veio ao Brasil conhecer as terras, apesar do apelo incessante dos brasileiros e convites de governantes. Mas ele não precisava vir para a Amazônia, sua marca e presença poderiam ser encontradas em qualquer lugar do país, nas ruas, nos carros, nos jornais ou na caixa d’agua da cidade que construiu.
Roger Domenech Colacios – Doutorando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de História da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP). Orientado pela Profa. Dra. Maria Amelia Mascarenhas Dantes. Bolsista FAPESP.
Oleaginosas da Amazônia – PESCE (BMPEG-CH)
PESCE, Celestino. Oleaginosas da Amazônia. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi; Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2 ed., 2009. 334 p. Resenha de: MANTOVANI, Waldir. Oleaginosas da Amazônia. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.2, maio/ago. 2010.
O livro “Oleaginosas da Amazônia”, de Celestino Pesce, teve a primeira edição publicada em 1941, sendo agora publicada sua segunda edição, revisada e ampliada, pelo Museu Paraense Emílio Goeldi e pelo Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esta edição da obra traz a estrutura original, é acrescida de um capítulo sobre “O potencial da flora oleífera na Amazônia” e recebe ilustrações de espécies apresentadas.
Antes de ser uma obra que descreve características de espécies de plantas da Amazônia com sementes oleaginosas, o livro reflete a preocupação do autor com a conservação da região e com a necessidade de investimentos na produção racional e em pesquisas sobre o tema, incluindo o melhoramento e o cultivo das espécies cujas sementes eram, até então, colhidas após a queda no solo e armazenadas em condições inadequadas, com a perda de suas qualidades.
As descrições feitas para muitas das espécies tratam de seus habitats e das suas características botânicas, demonstrando a experiência de observação em campo adquirida pelo autor em várias regiões da Amazônia, além de apontar para as melhores formas de obtenção e de conservação das sementes, de extração e de manutenção de propriedades químicas e físicas de suas gorduras e óleos, enquanto para outras espécies são apontados usos potenciais, ainda a serem explorados, incluindo o de consumo das polpas dos frutos.
Ressaltam, nessas descrições, as observações feitas sobre o uso de sementes diversas pelos índios, a exploração feita pelos lavradores do interior e os limites de extração do óleo ou da gordura, seja pela ausência de equipamentos adequados ou pela distância entre o local de produção e o de comercialização, incluindo a exportação para países da Europa, ou pela forma de extração e armazenagem, refletindo a preocupação do autor com a produção em toda a sua cadeia.
Nesta obra, é ressaltada a importância da flora composta pelas palmeiras, das quais descreve características de 36 espécies, além de 64 outras de famílias diversas, ressaltando-se Clusiaceae, Euphorbiaceae e Sterculiaceae. As informações apresentadas para as espécies são desiguais, havendo algumas bastante detalhadas em todos os seus aspectos, enquanto outras, principalmente aquelas para as quais indica potencial de uso, são descritas superficialmente.
Em um momento extremamente controverso acerca do valor da biodiversidade contida em biomas no Brasil, o livro “Oleaginosas da Amazônia” aponta para um dos muitos potenciais recursos de interesse humano ainda não completamente explorados, mostrados pelo olhar de um estrangeiro que se interessou pela região de forma ampla, como quando escreveu sobre a sua conservação: “O próprio caráter da região onde se encontram tais sementes indica que a vegetação das plantas que as produzem é a que deve predominar”.
Trata-se de uma obra que interessa à conservação de recursos naturais, à botânica econômica e, nela, particularmente, à produção de combustíveis alternativos, de óleos aromáticos, de sabões, entre outros produtos. Com um texto rico em informações diversas sobre a Amazônia e sobre as espécies tratadas, de uma forma agradável de ser lida e olhada devido à qualidade da impressão, à variedade e aos detalhes das figuras, este livro escrito em 1941 é extremamente atual em sua mensagem, compondo uma obra incomum.
Celestino Pesce (1896-1942) era italiano, químico, vindo de São Paulo, que se interessou pelas plantas oleaginosas da Amazônia e, desde 1913, dedicado à extração de óleos e gorduras de sementes de várias espécies já conhecidas e de novas descobertas feitas em diversas viagens que realizou pela região. Morreu afogado durante um banho em águas do rio Amazonas. Neste livro, vive para nos alertar.
Waldir Mantovani – Doutor em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas Professor Titular da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Grandes Expedições à Amazônia Brasileira, 1500-1930 – MEIRELLES FILHO (BMPEG-CH)
MEIRELLES FILHO, João. Grandes Expedições à Amazônia Brasileira, 1500-1930. São Paulo: Metalivros, 2009. 241 p. Resenha de: DRUMMOND, José Augusto. Expedição literária pela Amazônia. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.2, maio/ago. 2010.
Este livro de Meirelles é capaz de abalar, mesmo entre os mais céticos, a noção de que os brasileiros não se esforçam para conhecer a Amazônia, mais da metade da qual pertence ao território do Brasil. É verdade que a atenção maior dada à região nas últimas décadas originou-se em boa parte fora do país, incentivada por estudos, relatos e preocupações de não-brasileiros. De resto, o mesmo aconteceu no passado mais distante, conforme registrado pela própria obra resenhada, pois grande parte das expedições abordadas teve iniciativa, apoio e participantes estrangeiros. No entanto, temos há algum tempo uma massa crítica instalada no país, dentro e fora da região amazônica, dotada da capacidade de estudar, conhecer e divulgar as suas singularidades e os seus significados em escala nacional, continental e global.
Resultado de um longo e abrangente trabalho de pesquisa e de um admirável esforço de síntese de escrita, este livro exemplifica essa capacidade. Foi composto por uma grande equipe de pesquisadores, consultores, tradutores, revisores, diagramadores, designers e técnicos em reprodução de imagens, trabalhando numa empreitada de longa duração. Embora seja principalmente uma obra de divulgação para um público ampliado, a alta qualidade dos textos e das ilustrações e o rigor da documentação das informações fazem dela uma rica fonte para estudos acadêmicos, monográficos e técnicos. Ela sobressairia mesmo se fosse apenas uma obra de divulgação, pela seriedade, pelo capricho e pela resolução impecável.
João Meirelles é escritor e ativista ambiental (dirigente do Instituto Peabiru), envolvido com diversas instituições do Terceiro Setor e participante de projetos de proteção de áreas naturais, dentro e fora da Amazônia. É autor de “O Livro de Ouro da Amazônia” (Ediouro, 2004). É o responsável pelo texto deste novo livro, que, com a ajuda de riquíssimas ilustrações, narra e costura entre si 42 expedições selecionadas que percorreram diferentes partes da Amazônia brasileira entre 1500 e 1930. Este amplo período é delimitado no seu início pelas primeiras viagens periféricas de navegadores europeus em torno da foz do rio Amazonas e, no seu final, pelas últimas expedições basicamente terrestres de Cândido Rondon até o coração continental da Amazônia.
Escolher essas 42 expedições, deixando de fora cerca de 30 outras, deve ter sido uma das tarefas mais difíceis do autor na montagem desta publicação, mas o seu esforço de síntese funcionou: permitiu que o livro ficasse dentro de dimensões razoáveis para o tipo de obra que ele pretendia fazer – um livro de textos, fartamente ilustrado e com o adicional de apresentar uma alta qualidade de impressão. Pode-se esperar, com fundamentadas razões, que a obra aqui resenhada vá merecer pelo menos um segundo volume, que inclua as três dezenas de expedições que, embora registradas e estudadas, ficaram de fora. Para dar a dimensão do contexto ainda maior de expedições na região amazônica, Meirelles teve o cuidado de listar, em breves verbetes que compõem um anexo, outras 525 viagens que percorreram trechos da Amazônia, muitas em territórios dos demais países que compartilham a Grande Amazônia com o Brasil. A amostra de expedições analisadas por Meirelles pode até ser considerada pequena em face desse universo enorme, mas a obra é de peso, pois parece ser única, pela sua abrangência e pela sua concepção.
O formato adotado na obra merece ser comentado, pois é sistemático e eficaz. Cada expedição analisada recebe um texto padronizado, acompanhado por uma programação gráfica que combina beleza e funcionalidade. O texto é distribuído por quatro colunas em cada página, com inserções de ilustrações que variam em tamanho, forma, natureza e cores – mapas, fotografias, gravuras e pinturas (com paisagens, animais, plantas), roteiros etc. Muitas ilustrações são de página inteira. Todos os textos contêm as mesmas seções – contexto, líder, colaboradores, percurso, obra (textos ou outros materiais produzidos pelos expedicionários), principais contribuições (literárias, científicas, econômicas, geopolíticas, etnográficas etc.) e as notas bibliográficas. As duas primeiras páginas referentes a cada expedição trazem, ao alto, informações adicionais e sintéticas sobre duração, financiadores e percursos. Cada ilustração é acompanhada da identificação de autores, das datas e da sua fonte original – livros, coleções de museus e arquivos, acervos científicos, acervos particulares, álbuns de exposições e muitas outras.
O autor explica brevemente, na introdução, porque incluiu alguns viajantes e excluiu outros. Ressalta que o critério principal foi o de incluir aqueles que “empresta[m] um novo olhar, nova perspectiva sobre a região, a partir de [suas] andanças” (p. 17). Ele buscou evitar redundâncias, fazendo variar as particularidades individuais e as missões dos expedicionários escolhidos – bandeirantes, clérigos, missionários, militares, demarcadores de fronteiras, cientistas (etnólogos, arqueólogos, botânicos, zoólogos, geólogos, linguistas), pintores etc. Fica patente que era impossível incluir todos. No entanto, em face da relevância dos aspectos humanos e naturais da região e da própria abundância de expedições e de documentação conexa, nenhum critério de seleção agradará a tantos leitores quanto a esperança de que Meirelles e a sua equipe produzam um ou mais volumes que incluam as expedições que a obra resenhada foi obrigada a excluir.
Dada a homogeneidade dos 42 relatos, é difícil destacar qualquer um deles. Algumas expedições e alguns expedicionários chamam a atenção exatamente por serem mais conhecidos – Pedro Teixeira, Condamine, Alexandre Rodrigues Ferreira, Spix e Martius, Langsdorff, Wallace, Agassiz e Rondon. Em outros relatos há ilustrações de qualidade excepcional que seduzem o leitor predisposto a usufruir de um livro tão ricamente ilustrado. As cristalinas fotos das expedições de Rondon, as suaves borboletas pintadas por Bates e as densas gravuras de Orton são exemplos disso.
Apenas para enriquecer a apreciação da obra, destaco o capítulo dedicado a Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958), militar brasileiro, já que brasileiros propriamente ditos (como Couto de Magalhães, Euclides da Cunha e Mário de Andrade) formam uma pequena minoria dos líderes das expedições selecionadas. Além disso, Meirelles destaca que Rondon, entre todos os expedicionários estudados, foi o “grande viajante”, ou seja, aquele que percorreu as maiores distâncias, acumuladas ao longo de quatro décadas de excursões por áreas hoje incorporadas aos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Goiás, Tocantins, Amapá e Roraima.
Meirelles registra outros feitos notáveis de Rondon. As suas numerosas expedições geraram abundantes 140 relatórios (mais de 20.000 páginas) e outros materiais impressos. Mesmo exercitando a sua notável capacidade de síntese, Meirelles se viu obrigado a dividir as numerosas expedições de Rondon em 14 ciclos, cada um dos quais abrange muitas viagens. Essas expedições foram também as maiores coletoras de materiais científicos e etnográficos depositados no Museu Nacional do Rio de Janeiro e em outras instituições. É relevante notar também que Rondon cumpriu uma grande variedade de missões em sua longa carreira de viajante – construtor de picadas e de linhas e estações telegráficas; produtor de documentação cartográfica; fornecedor de materiais para estudos científicos; demarcador de fronteiras internacionais; pacificador e protetor de indígenas; fundador e primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio. Rondon exerceu até o curioso papel composto de líder expedicionário e guia do ex-presidente dos EUA, Theodore Roosevelt, que se incorporou como convidado do governo brasileiro a uma de suas mais difíceis expedições (ao rio da Dúvida). Roosevelt quase morreu nessa expedição e escreveu sobre ela um ótimo relato de viagem, com fartos elogios a Rondon. Dessa forma, Meirelles ajuda a recuperar a memória deste grande brasileiro que foi Rondon.
Resta dizer que o texto não tem uma ‘tese’ central a argumentar ou provar, conforme destaca o próprio autor na sua introdução. No entanto, seria errado dizer que o livro é meramente descritivo, pois nenhum autor, ao reunir, refletir sobre, selecionar e usar tantos materiais sobre uma região de tão grande complexidade poderia se comportar como um narrador descomprometido. Com efeito, o autor manifesta as suas preocupações e a sua atenção para com questões como a dizimação física, territorial e cultural dos povos indígenas da região, a repartição da região entre a soberania de vários países, a escassez de instituições científicas e de cientistas brasileiros instalados na e estudiosos da região, o papel do avanço das fronteiras agrícolas, pecuárias, mineradoras e madeireiras contemporâneas na degradação do bioma Amazônia, entre outras. No entanto, a alma do livro é a recuperação da memória e dos feitos dos expedicionários e das expedições.
Meirelles produziu um livro vitorioso que merece ser lido pelo público mais variado e amplo possível, desde estudiosos da Amazônia a cidadãos comuns, brasileiros da região e de fora dela e estrangeiros que se interessam por ela. Conforme sugerido acima, fica a esperança de que ele e sua equipe produzam um ou mais novos volumes que tratem de outros expedicionários e outras expedições, para assim enriquecer o acervo de produções nacionais sobre a Amazônia.
José Augusto Drummond – Doutor em Land Resources pela Universidade de Wisconsin, USA. Professor Associado do Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília. E-mail: [email protected]
[MLPDB]
Bildungsbürger im Urwald: Die deutsche ethnologische Amazonien-forschung (1884–1929) – KRAUS (BMPEG-CH)
KRAUS, Michael. Bildungsbürger im Urwald: Die deutsche ethnologische Amazonien-forschung (1884–1929). Marburg: Curupira, 2004. 539 p. Resenha de: DRUDE, Sebastian. Expedições alemães que fundaram a etnologia da Amazônia. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, Belém, v.5, n.1, jan./abr. 2010.
Existem hoje, no Brasil, várias instituições, especialmente universidades e museus, onde se realizam pesquisas científicas dedicadas à população nativa, suas culturas e línguas, em particular na Amazônia. É impossível se interessar por esta área de estudos sem conhecer bem os nomes de seus fundadores, entre eles muitos alemães, como Karl von den Steinen, Theodor Koch-Grünberg e outros. Mas quem eram esses ilustres personagens? Cientistas eruditos? Aventureiros? O que fizeram aqui, como se organizavam, como obtinham financiamento, como aproveitaram suas viagens? O que os motivou? Quais eram os principais conhecimentos buscados e obtidos por suas pesquisas? E por que a tradição etnológica alemã, que tanto prometia no século XIX, foi praticamente interrompida nos anos 1920?
Com esta obra, cujo título em português poderia ser “Burgueses de educação (ou de formação) na selva: a pesquisa etnológica alemã na Amazônia (1884–1929)”, o antropólogo alemão Michael Kraus1 apresenta um estudo completo e detalhado com algumas respostas para estas perguntas. Esta obra preenche uma lacuna, pois além de algumas notas bio- e bibliográficas (em especial as feitas no Brasil por Herbert Baldus e Egon Schaden), não há muito material disponível sobre os fundadores dos estudos científicos antropológicos e linguísticos sobre a população indígena das terras baixas da América do Sul2. No entanto, mesmo que hoje não seja um fato amplamente conhecido, esta área de estudos foi uma das mais destacadas no estabelecimento da disciplina ‘etnologia/antropologia’.
O estudo de Kraus tem quase 500 páginas, além de 35 páginas de referências. Estas proporções são indício de uma das características mais notáveis do livro: um grande cuidado e respeito pelas fontes originais e pelos seus autores. Apesar deste rigor científico exemplar (em média, três notas de rodapé por página, muitas com valiosas observações adicionais), o livro em nenhum momento é uma leitura seca ou chata – ao contrário, é muito bem escrito (a linguagem chega a ter qualidades literárias) e prende o leitor em todas as páginas.
O foco do trabalho são as viagens ou expedições dos pesquisadores alemães; as condições institucionais e pessoais constituem seu fundo; os resultados científicos são abordados de forma sucinta. O livro é estruturado em cinco partes, iniciadas por um curto prólogo que explica a ênfase e a abordagem escolhidas. A segunda parte, “condições básicas na Alemanha”, tem três capítulos: um apresenta os pesquisadores examinados; o seguinte, as instituições envolvidas; enquanto que o último analisa as motivações individuais e institucionais, a concorrência e o papel da então jovem disciplina ‘etnologia’, ainda em processo de constituição, discutindo, por exemplo, sua fixação em objetos etnográficos.
Os pesquisadores examinados são Karl von den Steinen, Paul Ehrenreich, Konrad T. Preuss, Theodor Koch-Grünberg, Max Schmidt e Fritz Krause (ao final do livro, o leitor parece conhecer estes pesquisadores como se tivesse convivido algum tempo com eles). São incluídos, ainda, mas com menos ênfase, três pesquisadores que não foram amazonistas ou que não foram cientistas profissionais: Hermann Meyer, Wilhelm Kissenberth e Felix Speiser.
A parte principal do trabalho, “expedições à Amazônia”, consiste de três capítulos extensos dedicados a três ‘passos’ das expedições: 1) os preparativos e a viagem até a América do Sul; 2) as viagens até a região dos índios; e 3) as pesquisas em si, no local de destino. Para cada etapa, Kraus organiza sua exposição em três ou quatro subcapítulos temáticos. Por exemplo, o sub-capítulo III.2.4, “Trabalhadores braçais de mula, lenha e remo: – Os ‘camaradas’ da ciência”, consiste de 25 páginas dedicadas às relações de cooperação, amizade, conflito, dependência e poder entre os pesquisadores e seus acompanhantes europeus, crioulos e indígenas. Analisa desde a quantidade de pessoas envolvidas (ao longo do tempo, as expedições levavam cada vez menos acompanhantes, o que ajudava a intensificar o contato direto entre os pesquisadores e a população nativa estudada, indicando que o ideal moderno da pesquisa de campo como experiência de imersão cultural já existia na época) até as personalidades e os estilos dos pesquisadores ao lidar com este aspecto das expedições. Para cada um destes aspectos, Kraus apresenta o que encontrou no rico material deixado pelos pesquisadores e, ao comparar diferentes expedições e relatos, identifica padrões e características individuais dos cientistas e de suas pesquisas. A maioria dos subcapítulos são estudos preciosos, que podem ser considerados separadamente, sem perder seus méritos.
A parte quatro, “a antropologia dos etnógrafos”, dirige seu foco sobre a história da ciência, analisando as ideias, a visão e as contribuições dos pesquisadores, sem, contudo, apresentar análise e avaliação abrangentes de seus resultados etnográficos e antropológicos, a partir das teorias e dos conhecimentos atuais. Em vez disso, os dois capítulos elucidativos desta parte, “metodologia e temática” e “teoria e visão global”, tentam se aproximar do native’s point of view – ou seja, da visão e concepção dos próprios pesquisadores estudados.
Isto, aliás, é um dos pontos mais marcantes do livro. Kraus sempre procura se aproximar dos pesquisadores que estuda como um etnógrafo deve se aproximar de uma população nativa – procurando um entendimento profundo e holístico, ciente das próprias limitações e do fato de não estar livre das influências de sua própria origem e formação, respeitando a visão ‘êmica’ em vez de julgá-los etnocentricamente ou, neste caso, ‘cronocentricamente’. Evidentemente, esta abordagem encontra seus limites nas fontes existentes – não foi possível para Kraus entrevistar os pesquisadores estudados e muito menos participar como observador das suas pesquisas (é interessante ver como os alemães eram, em geral, francos e honestos o bastante para admitir suas próprias limitações e falhas – o que contrasta com a visão muitas vezes difundida sobre eles, de acordo com a qual estes buscariam esconder os lados menos bem sucedidos de suas pesquisas, na suposta tentativa de construir uma imagem impecável).
O procedimento escolhido por Kraus tem o mérito de ser muito mais instrutivo do que a simples confirmação (ou não) das opiniões modernas difundidas sobre a etnologia do final do século XIX. Assim, um ponto que Kraus discute em várias passagens do livro é que, muitas vezes, o discurso moderno e supostamente ‘desmistificador’ sobre os fundadores da disciplina é, de fato, preconceituoso e algo arrogante, não conseguindo fazer jus à obra realizada e ao avanço científico que esta trouxe. Isto vale, em particular, para o discurso pós-moderno e desconstrutivista – em muitas ocasiões, em contraste com os nossos preconceitos, é possível perceber que os pesquisadores antigos tinham uma visão muito mais diferenciada dos ‘índios’ e de suas culturas do que a que seus críticos modernos têm destes pesquisadores.
Felizmente, Kraus raramente corre o risco de idealizar os pesquisadores alemães, e tampouco fecha os olhos diante de ideias ou comportamentos que são inaceitáveis, do atual ponto de vista (e, às vezes, também a partir de um ponto de vista humanista já existente na época). Em geral, os pesquisadores estudados surgem como humanistas e críticos do etnocentrismo e das crenças progressistas de sua época; e como pensadores independentes e, em vários aspectos, céticos das teorias universalistas (em particular, do evolucionismo e do difusionismo). Depois da Primeira Guerra Mundial, chegaram a ser pessimistas sobre a própria cultura ao compararem-na com as culturas indígenas por eles observadas. Este contraste entre ‘nossa’ cultura e as dos povos indígenas já era bastante visível nas próprias viagens, no contexto colonial e de exploração do interior da Amazônia, em particular durante o primeiro ciclo da borracha, que marca a época das viagens estudadas por Kraus. As pesquisas não deixaram de se realizar neste contexto violento, que, às vezes, era vantajoso para elas, outras vezes não. Isso não significa que as pesquisas fossem de motivação ou caráter colonialista ou explorador, como tantas vezes se proclama. Como Kraus mostra convincentemente, ao menos entre os pesquisadores interessados na Amazônia, a tradição humanista e liberal se manteve viva nos anos 1920. Os homens aqui abordados estavam muito mais preocupados em contribuir para a construção de conhecimento, universal sobre a diversidade cultural ainda existente, do que com interesses nacionais e imperialistas, econômicos ou missionários3.
Lamentavelmente, preconceitos contra pesquisadores do ‘primeiro mundo’ retornam, hoje, por exemplo, sob o rótulo de ‘combate à biopirataria’, no discurso nacionalista e também no discurso anti-imperialista e anti-globalização, supostamente progressista, colocando sob suspeita todo tipo de cooperação internacional. Este não é o único paralelo à situação atual que se pode estabelecer ao ler a obra de Kraus. Quem já fez expedições para estudar grupos indígenas pode ver as próprias experiências espelhadas nos relatos dos viajantes de 100 ou 120 anos atrás, por exemplo, quando são abordados problemas de financiamento ou de transporte, o ritmo diferente do tempo na viagem e ‘no campo’, e, em particular, os relacionamentos (sempre muito diversos e heterogêneos) com indivíduos e grupos indígenas. Estas relações são descritas muito vivamente pelos pesquisadores – e Kraus consegue transmitir esta plasticidade em seu trabalho.
Prosseguindo na comparação da situação da época com a de hoje: embora a população indígena tenha se mostrado, em geral, bem mais resistente do que se poderia imaginar a partir dos cenários pessimistas de alguns dos ilustres cientistas de um século atrás, a situação geral das populações amazônicas, inclusive no Brasil, não é muito animadora, pois continua a ser marcada pela dominação, pela ignorância, pelo desrespeito, pela negligência e, às vezes, pela violência brutal. Na época, como hoje, qualquer pesquisa que ignora esta realidade está condenada a ser julgada de forma negativa pela posteridade. Muito se perdeu nos últimos 100 anos. Assim, os relatos dos pesquisadores são, muitas vezes, as únicas fontes de informação sobre elementos culturais ou sobre grupos indígenas que não existem mais. Como o processo da globalização (interno e externo) está se acelerando cada vez mais, o risco de perder muito mais nos próximos 100 anos é iminente. Na época, como hoje, somente uma parcela pequena da sociedade está ciente destas questões, e muitas vezes não é fácil achar aliados e apoio substancial nas instituições estatais na tentativa de documentar e preservar a riqueza cultural e linguística ainda existente, tarefa cada dia mais urgente4.
Também neste sentido, há boas razões para crer que é lamentável que a tradição alemã da etnologia dos grupos indígenas que habitam as terras baixas da América do Sul não tenha conseguido se recuperar da ruptura que significou a Primeira Guerra Mundial. É deplorável que esta área de estudos não tenha conseguido estabelecer-se nas universidades alemãs (até hoje, na Alemanha, pouquíssimas cadeiras de Etnologia possuem professores com esta especialidade), sendo, posteriormente, quase esquecida nesse país, muito embora em outros, inclusive nos Estados Unidos5 e no Brasil, suas contribuições sejam valorizadas até hoje. No seu epílogo, Kraus reflete brevemente sobre os caminhos desta área de estudos na Alemanha depois da época delimitada pelo seu trabalho (de 1884 a 1929, anos da primeira expedição ao Xingu e da morte de Karl von den Steinen, respectivamente).
A única crítica que se poderia fazer às 500 páginas do livro de Kraus é a mesma que J. R. R. Tolkien acatou em relação ao seu “Senhor dos Anéis”: “O livro é curto demais”. Porém, era necessário, embora lamentável, que o livro se restringisse para poder ser finalizado e publicado. Seria muito bom podermos dispor de uma abordagem semelhante para os precursores (em particular, von Martius) e para alguns estudiosos que não faziam parte da comunidade científica alemã, não tendo sido, por isso, incluídos neste estudo. O próprio autor admite que, provavelmente, muitos iriam sentir falta de Curt Nimuendajú na lista dos estudados. Uma das maiores lacunas na historiografia da antropologia brasileira é a ausência de estudos detalhados sobre as viagens deste pesquisador e sobre os resultados que obteve, e a não publicação da sua volumosa obra inédita6 (o mesmo vale para outros pesquisadores, ainda falando de alemães, como Emilie e Emil Snethlage).
Em suma, o estudo de Michael Kraus é de grande valor e merece ser conhecido internacionalmente, sobretudo entre os antropólogos no Brasil. Por sorte, várias das obras dos ilustres alemães vêm sendo traduzidas e continuam nas listas de leitura dos cursos universitários. É desejável que o mesmo aconteça com o livro de Kraus.
Notas
1 O alemão Michael Kraus, que obteve seu doutoramento em 2002 em Marburg com uma tese que depois transformou neste livro, não deve ser confundido com Michael E. Krauss, linguista norte-americano baseado em Fairbanks, Alaska, que estuda as línguas nativas norte-americanas, nem com os desportistas alemães homônimos.
2 No Brasil, felizmente, existe o tomo editado por Vera Penteado Coelho (1993), embora este seja limitado aos estudos do Alto Xingu e, em particular, aos de Karl von den Steinen.
3 Nisto, Kraus confirma os resultados de Penny (2002), que salientam a visão humanista, anti-racista e o interesse pelo entendimento holístico, do ponto de vista êmico, das culturas humanas (no plural, já nos anos 1880), dominantes na etnologia na Alemanha entre 1870 e 1920.
4 Recentes iniciativas da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), como os projetos de documentação de línguas e culturas indígenas do Museu do Índio, são motivo para alguma esperança neste contexto. Ver http://prodoc.museudoindio.gov.br/.
5 Neste contexto, vale lembrar que Franz Boas recebeu uma parte importante de sua formação nos museus etnológicos alemães. Suas ideias anti-etnocentristas, que hoje são um dos pilares da antropologia moderna, mostram que ele, como também os pesquisadores aqui em foco, era parte da mesma tradição humanista pluri-culturalista alemã, iniciada por Herder e continuada por Wilhelm Humboldt e Adolf Bastian (Bunzl, 1996; Frank, 2005).
6 Existem poucos estudos em alemão sobre este pesquisador, notadamente Dungs (1991), que também merecem ser conhecidos no Brasil.
Referência
BUNZL, Matti. Franz Boas and the humboldtian tradition: from Volksgeist and Nationalcharakter to an anthropological concept of culture. In: STOCKING JR., G. W. (Org.). Volksgeist as Method and Ethic. Madison: University of Wisconsin Press, 1996. p. 17-78. [ Links ]
COELHO, Vera Penteado (Org.). Karl von den Steinen: um século de antropologia no Xingu. São Paulo: EDUSP, 1993. [ Links ]
DUNGS, Günther F. Die Feldforschung von Curt Unckel Nimuendaju und ihre theoretisch-methodischen Grundlagen. Bonn: Holos, 1991. (Série Mundus Ethnologie, v. 43). [ Links ]
FRANK, Erwin. “Viajar é preciso”: Theodor Koch-Grünberg e a Völkerkunde alemã do século XIX. Revista de Antropologia, v. 48, n. 2, p. 559-584, 2005. [ Links ]
PENNY, H. Glenn. Objects of Culture: Ethnology and Ethnographic Museums in Imperial Germany. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002. [ Links ]
Sebastian Drude – Doutor em Linguística pela Freie Universität Berlin. Dilthey-Fellow da Goethe-Universit ät Frankfurt e Pesquisador Associado do Museu Paraense Em ílio Goeldi/MCT. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Amazônia e Defesa Nacional. | Celso Castro
Após o regime militar brasileiro (1964-1984), a Amazônia ganhou importância nas discussões sobre defesa nacional, com destaque para o projeto Calha Norte em 1985 e na década seguinte o Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia). Tal livro pretende contribuir com os estudos sobre Amazônia e defesa nacional no meio acadêmico civil. Com a nova realidade e as novas posturas estratégicas sul-americanas (como uma maior presença e interferência dos Estados Unidos e as atenções voltadas para a Amazônia internacional, assim como a diminuição das preocupações estratégicas brasileiras com a Argentina), torna-se necessário mais estudos abrangendo tais temas, principalmente devido à importância atribuída à região amazônica.
No primeiro capítulo (As Forças Armadas Brasileiras e o Plano Colômbia), João Roberto Martins Filho disserta como a questão sobre defesa da Amazônia ganhou força após o final da Guerra Fria e a criação no Brasil do Ministério da Defesa em 1999, mesmo ano da implantação do Plano Colômbia. O autor afirma que o Brasil se viu obrigado a voltar suas preocupações para a defesa das fronteiras e aos conflitos em território colombiano. A postura do Ministério da Defesa reafirmou a não-interferência brasileira no combate ao narcotráfico na Colômbia, fato esse que passou a ser visto pelas autoridades brasileiras como um assunto de segurança e não mais de defesa, pois o tráfico de entorpecentes é encarado no Brasil como um problema interno, de responsabilidade policial e não militar, não cabendo a outros países intervir nesse tipo de assunto. Tal decisão ganhou força principalmente devido aos interesses e pressões norte-americanos para que o Brasil reconhecesse as guerrilhas colombianas como grupos terroristas e realizasse ações militares em território colombiano. Leia Mais
Subdesenvolvimento Sustentável | Argemiro Procópio
Subdesenvolvimento sustentável, assim Argemiro Procópio sugestivamente descreve o modelo de desenvolvimento predominante na região amazônica compartilhada por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Ao longo de sua exposição Procópio desnuda a realidade dos “oito amazônicos” ao apontar que a Hiléia, em pleno século XXI, ainda carrega consigo vários problemas estruturais, herança de um longo passado colonial.
Neste contexto, o autor nos apresenta a região como produtora de commodities e manufaturados com baixo valor agregado. Cita a mineração, a exploração madeireira e de metais preciosos, as redes do agronegócio da soja, da carne, do couro e, atualmente, da cana-de-açúcar como protagonistas do “continuum da sustentabilidade do subdesenvolvimento em novas versões da economia colonial nos oito países amazônicos”. Leia Mais
Nukak: Ethnoarchaeology of an Amazonian People – POLITIS (IA)
POLITIS, Gustavo G. Nukak: Ethnoarchaeology of an Amazonian People. Walnut Creek: Left Coast Press, 2007. 411p. Resenha de: KELLY, Robert L. Intersecciones en Antropología, Olavarría, n.9, ene./dic., 2008.
It is unfortunate but nonetheless true that many archaeologists do not value modern ethnographies.Why? Archaeologists need information on material culture – how it is made, who uses it, how long it lasts,what happens when it breaks, what happens when its owner dies, and so on. Although there are some notable exceptions, few modern ethnographies pay attention to such mundane things. But archaeologists need these data to construct arguments that allow us to make secure inferences from the material things that we recover. For this reason, a few archaeologists have climbed out of their trenches and conductedethnoarchaeological research with the living. Politis is one of those archaeologists, and Nukak is the result ofhis efforts. This book covers some of the same ground as his 1996 Nukak (published by the Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas) but is updated, placed in a larger theoretical context, andmade available to the largely monolingual North American audience.
The Nukak are a small group of hunter-gatherers who live in the Columbian rain forest. Politis workedwith those who were least acculturated to western society. As an archaeologist who has also done ethnographic research, I understand the effort that lies behind Nukak. Ethnography, especially that of nomadic peoples in isolated places, is not easy. There are the usual problems: language barriers, medical issues, feeding yourself and your students, explaining yourself and your task to the people. In addition,ethnoarchaeologists must justify their preoccupation with odd things such as trash, pits left in the groundafter pounding food in a mortar, or what happens to the remaining bits of a hammock burnt in a maritaldispute. The Mikea, with whom I worked in Madagascar, never believed my (honest) explanation of what I was doing there. Instead, they were certain I was searching for gold or silver, and one of my students hadto fend off accusations of witchcraft when measuring the diameters of house posts. Most people can understand an interest in kinship, religion, and politics, but trash and house posts? For this reason, I admirethe amount of information that Politis was able to collect in his several visits to the Nukak.
Every archaeologist (and ethnographer) interested in hunter-gatherers, and especially those interested in tropical hunter-gatherers, will find something of value in Nukak. Politis describes their settlements in detail, noting the differences between wet and dry season camp construction and how these condition differences in how trash is left behind. Nukak contains some of the only information I know of on how long it takes to put a camp together, or to take one down in order to move. Politis describes their residential and logistical mobility, providing about the only account of how people actually move camp – who does what, what paths they follow, and whether old camps are reoccupied (they are not). He describes their traditional technology and their subsistence, giving special attention to animal exploitation. The book ends with a chapter devoted to what the Nukak data have to say about several perennial issues in the anthropology of hunter-gatherers (at least, those issues that concern archaeologists). He includes two appendices: one containing data on the wet and dry season foraging trips he recorded, and one by Gustavo Martinez on faunal material recovered in the camps. There are many wonderful anecdotes, including the use of a parrot’s entrails as a fishing lure.
Politis begins the volume with background on the Nukak’s environment, his fieldwork methods and theconditions of his research (for example, his eighth session was prevented by the Columbian military) In addition, Politis lays out his theoretical framework. Interestingly, it contains elements of Lewis Binford’s materialistic approach as well as Ian Hodder’s postprocessual approach. In each chapter, Politis provides information on the “function” of material culture or on a more Binfordian behavioralist approach. For example, the discussion of the use of space shows how the particular kinds of structures built by the Nukakin the wet season conditions how trash is deposited (as opposed to the dry season when the Nukak do notbuild structures). But, in each chapter, Politis also discusses the social and ideological meaning of the chapter’s subject. For example, in the chapter on space use and discard, he notes how the trash of a deceased woman was treated, resulting in an archaeological record different from that produced by daily living in a camp, and that directly records some (as yet unknown) links between trash deposition and death.
In the chapter on shelters and camps, Politis also describes non-residential structures – everything from”ritual” structures to more mundane things such as children’s playhouses. In fact, his contribution on children’s toys and their effects on the deposition of trash and other items in residential structures is a crucial contribution. It turns out that children are a strong determinant of the final disposition of material culture in the archaeological record. To me, this is an important observation because anything that signals “children” archaeologically also tells us that a site is a residential camp, rather than, for example, a hunting camp.
Politis also explains that the Nukak avoid previous campsites because these places become wild gardens, the result of gathered seeds left behind (either in trash or feces). With the secondary (but not the primary) canopy removed as the camp is made, these plants thrive in old camps. The Nukak live in a more”constructed” environment than we might think.
Throughout the book, Politis is able to give archaeologists the information that they crave and yet often do not find in other ethnographies. For example, exactly how does one hunt monkeys with a blowgun? There are also useful descriptions of things that carry purely symbolic information, such as the wall of sejeleaves that forms a protective wall around a camp to prevent invasion by the spirits of jaguars. This is alluseful information that many archaeologists will make profitable use of in years to come.
This book is well worth reading, but I must admit that I was disappointed with one aspect of it.Throughout Nukak Politis criticizes the approach of human behavioral (or evolutionary) ecology, specifically its use of optimal foraging models. As a practitioner of human behavioral ecology I admit to some bias, but I also can see that his criticisms of this approach will not convince any other such practitioner that the approach is incomplete or misleading. For example, in a discussion of Nukak mobility, Politis states that “the Nukak abandon camp when many products are still abundant …that are not found further away, which therefore generates a negative cost-benefit energy balance….there are no obvious resource limitations that would prevent the Nukak from staying in their residential camps for longer periods of time. The causes for their high residential mobility must be sought elsewhere.” He argues that mobility produces more patches of edible plants (through the formation of the wild gardens), is necessary to perform rituals, is for sanitary reasons, to avoid a recently deceased person’s spirit, or is for the sheer pleasure of moving (or to satisfya taste for honey or fish).
These are all good reasons to move, and several are mentioned in other ethnographies of foragers. Butthese reasons could be the proximal reason for moving a camp, while the ultimate reason may lie in foodacquisition. Optimal foraging models do not argue that foragers move when nearby food reaches the point of depletion. Indeed, the marginal value theorem argues only that foragers move when the current return rate equals the average return rate of the environment taking travel time into account. In many instances this means that foragers move long before depletion begins; in fact, the “marginal value theorem” leads us to expect that in an environment with high average return rates that people will leave camps long before the point of depletion (I demonstrated this with a simple simulation in The Foraging Spectrum). Another example: there is a significant difference between wet and dry season mobility – the Nukak remain longer in wet than dry season camps and yet move shorter distances when they move in the wet than in the dry season. The data tables show that fish and honey are more important in the dry than the wet season. Do these resources account for the differences in seasonal mobility?
Elsewhere, Politis shows that taboos on certain animals, such as tapir, cannot be explained bymaterialist reasons. He is correct. And yet how would an archaeologist know if the lack of food remains was the product of a taboo? Behavioral ecology’s diet breadth model offers a way. This model predicts which resources should be in a diet based on their return rates assuming that nothing other than strict economic concerns are at work in food selection. If the predicted diet breadth model predicts that tapirs should be included in the diet, and yet the archaeological remains demonstrate that they are not, then we can safely assume (providing that other information shows that tapirs were available) that something else is at work – a taboo, for example. Unfortunately, we cannot really judge the utility of optimal foraging models in the case of the Nukak because their fundamental piece of data – return rates on the various plants and animals-are not in the volume. I admit that this was a disappointment (the data in tables 8.14 – 8.17 are not adequate as these provides returns, not return rates). In sum, those who use the paradigm of behavioral ecology will be somewhat disappointed with the volume.
But set that aside: Nukak contains some wonderful and wonderfully-detailed information on a little-known group of foragers. It is a solid contribution to huntergatherer studies that deserves to be read by anyone, archaeologist or ethnologist, interested in this rapidlydisappearing class of humanity.
Robert L. Kelly – Robert L. Kelly. Department of Anthropology, University of Wyoming. E-mail: [email protected]
[IF]
Conhecimento e fronteira: história da ciência na Amazônia | Priscila Faulhaber e Peter Mann de Toledo
Conhecimento e fronteira: história da ciência na Amazônia ofe- rece aos leitores, além de farta documentação e muita informação, uma acurada análise a respeito do tema englobado pelo título: a história da ciência, dos cientistas e das instituições científicas na Amazônia brasileira. O livro focaliza primordialmente o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), sediado em Belém, e, de modo secundário, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), sediado em Manaus. O volume está destinado a se tornar uma obra de referência.
O livro divide-se em duas partes principais. A primeira delas, intitulada ‘Estratégia científica e unidades de pesquisa na Amazônia’, reúne 14 ensaios e artigos de especialistas em história e política da ciência, em tecnologia e instituições científicas. A segunda parte, sob o título ‘Trajetória social e memória institucional’, apresenta as transcrições de 31 entrevistas e depoimentos de pesquisadores e administradores que atuaram direta ou indiretamente no MPEG, no Inpa ou no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão ao qual são subordinados esses dois principais institutos de pesquisa da Amazônia. A ‘cronologia’ dos dois institutos e a ‘iconografia’, levantadas com rigor e que figuram ao final do volume, formam uma terceira e enriquecedora parte, situando fatos e personagens mencionados ao longo do livro. Leia Mais
A ilusão do fausto: Manaus, 1890-1920 – DIAS (RBH)
DIAS, Edinea Mascarenhas. A ilusão do fausto: Manaus, 1890-1920. Manaus: Valer, 1999, 189p. Resenha de: FIGUEIREDO, Aldrin. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.21, n.40, 2001.
Quando, em 1927, Mário de Andrade – então cacique do modernismo brasileiro – visitava a Amazônia em sua famosa viagem de Turista Aprendiz, ao ser questionado sobre o que achou da capital do Amazonas, respondeu sem titubear que de “virgem de luxo” a cidade estava se transformando em “mulher fecunda”1. As metáforas do poeta serviam para criticar os adornos que foram artificiosamente colocados sobre Manaus ainda “nos tempos áureos da borracha” e que, passado pouco mais de uma década, pareciam já legenda de um tempo remoto. As riquezas oriundas da exploração da goma elástica haviam criado uma época de fausto ilusório, de luxo efêmero, de um progresso inconstante. Nos anos 20, quando a produção amazônica respondia por apenas 5% do consumo mundial de borracha, Manaus amargou dias difíceis. Mário de Andrade viu com bons olhos esse duro aprendizado. Sem o dinheiro fácil da exportação do látex, os governantes locais teriam que ser criativos para produzir “uma nova florada de empreendimentos de alcance elevado”2. Mas essa visão do literato paulista não era partilhada pela maioria dos que viviam na Amazônia. Nessa época, vicejou na região uma verdadeira ideologia da decadência. Os que testemunharam essas mudanças passaram para os mais novos uma memória do “fim da grande vida” – como referiu o poeta amazonense Thiago de Mello, recompondo as lembranças de seus pais, parentes e antepassados. O registro é impressionante:
Do dia pra noite, se foram acabando o luxo, as ostentações, os esbanjamentos e as opulências sustentadas pelo trabalho praticamente escravo do caboclo seringueiro lá nas brenhas da selva. Cessou bruscamente a construção dos grandes sobrados portugueses, dos palacetes afrancesados, dos edifícios públicos suntuosos. Não se mandou mais buscar mármores e azulejos na Europa, ninguém acendia mais charutos com cédulas estrangeiras. O enxoval das moças ricas deixou de vir de Paris. Os navios ingleses, alemães e italianos começaram a escassear na entrada da barra. Muitas grandes firmas exportadoras, de capital europeu, começaram a pedir concordata. Das casas aviadoras (que forneciam dinheiro e mercadoria aos seringalistas do interior da floresta), as mais fracas faliram logo, algumas resistiram um pouco, mas não puderam evitar a falência. As companhias líricas de operetas italianas foram deixando de chegar para as suas temporadas exclusivas no sempre iluminado Teatro Amazonas. Os coronéis de barranco não podiam pagar com fortunas uma carícia mais quente das francesas importadas e refinadas na arte do amor comprado, as quais, por isso mesmo, foram logo tratando de dar o fora, substituídas nas pensões noturnas pelas nossas caboclas peitudas e de cintura menos delgada. Dar o fora foi também o que fizeram os comerciantes ingleses e alemães, os navios partiam carregados deles com a família inteira3.
Com um misto de saudosismo inconfesso e alegria conformada, Thiago de Mello guardou na memória que, com a tal decadência da borracha, Manaus voltou a ser como antes: “pôde ser ela mesma, a viver de si mesma”. A cidade havia, afinal, empenhado um valor muito alto pelos benefícios da riqueza oriunda da exploração da goma, “ao preço da miséria e da servidão de milhares de caboclos”. O fim dessa “virgem de luxo”, nas palavras de Mário de Andrade, era o consolo de quem não viveu os tempos eufóricos das folies du latex. De fato, todo esse luxo sempre pareceu aos visitantes uma espécie de anomalia surpreendente. Teatros, bancos, magazines, palacetes, boulevards, praças e monumentos não combinavam (e ainda não parecerem combinar) com as imagens da floresta, do labirinto de rios e da propaganda ecológica do mais rico ecossistema do planeta. Se essa ambigüidade persiste com força nos dias de hoje, não é de surpreender que não fosse diferente há quase um século. Enquanto já na década de 1920 as histórias da belle époque amazônica passaram a vicejar apenas nas memórias do passado, a imagem do “anfiteatro” amazônico coberto pela verdejante floresta voltou a ocupar a literatura sobre a região4. Tanto em Mário de Andrade como em Raymundo Moraes, preferido entre os literatos locais pelo poeta paulista5, é a natureza amazônica – com sua “autenticidade” selvagem e primitiva – que tomou o lugar de destaque, entronizada até hoje na mídia, em qualquer parte do dito mundo globalizado.
Revirar a história desse tempo, há muito mitificado, passou a ser assunto de memória ou negócio de historiador. Sabendo disso, Edinea Mascarenhas Dias, historiadora paraense há tempos radicada em Manaus, professora aposentada da Universidade do Amazonas, impôs-se a tarefa de questionar muitas das histórias contadas sobre a Manaus do fin-de-siècle. Seu livro, originalmente uma dissertação de mestrado defendida em 1988 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação de Déa Fenelon, deve ser uma grata surpresa ao mais exigente dos leitores. A capital do Amazonas apresentada por Edinea Dias revela detalhes de uma história já anunciada em algumas memórias sobre a virada do século XIX, justamente o tempo em que Manaus sofrera o “primeiro grande surto de urbanização” graças aos investimentos oriundos da exploração da seringueira, como nos informa a autora logo na introdução6. A partir daí, os argumentos da obra são desenvolvidos em duas partes: primeiramente, passamos a vista no processo de construção da “cidade do fausto”, com uma análise detida sobre as origens dessa pretensa urbe moderna no meio da floresta. Na segunda parte, Edinea volta-se para analisar os beneficiados e os excluídos nessa política de melhoramentos públicos. Com isso, a autora percorre os meios utilizados pelas elites do Amazonas na constituição das políticas públicas que ambicionaram transformar uma pequena “aldeia” em uma cidade moderna, tal e qual suas propaladas congêneres européias. Das notícias de viajantes, como Henry Walter Bates, Robert Avé-Lallemant ou Louis Agassiz, que por lá aportaram nas décadas de 1850 e 1860, aos relatórios administrativos dos governos municipais das décadas seguintes, a historiadora acompanhou esse processo de transformação no “rosto” da cidade, imiscuído num projeto de modernização alicerçado em estratégias de exclusão social da pobreza urbana.
Em 1890, em pleno apogeu da exploração da goma, de cada 10 moradores de Manaus, 8 eram analfabetos. Passadas duas décadas, o fosso entre ricos e pobres aumentou ainda mais a constituição de um espaço privilegiado para as reformas sanitárias e para a segregação da cidade eleita. As ruas e logradouros centrais ganharam outros contornos, com novo embelezamento e com uma forte política de higienização do espaço público central. A idéia dos intendentes municipais era mesmo a de disciplinar o transeunte, o vendedor ambulante, o mendigo, o trabalhador comum. Edinea Mascarenhas Dias mostra o porquê de tudo isso não ter dado certo. Os inúmeros projetos de modernização só foram completamente exeqüíveis na cabeça dos governantes de então, embebedados que estavam com as façanhas de Haussmann na capital francesa. Se Manaus preservou alguns desses símbolos do fausto, como o seu famoso teatro, seu porto flutuante, o elegante prédio da alfândega, o palácio da justiça e tantos outros, também possibilitou que ficasse oculta, nesses mesmos relatórios oficiais, uma outra cidade que recebia as imensas levas de imigrantes que vinham de toda a parte em busca das tais riquezas do látex. Edinea visitou essa cidade oculta, recuperou seus números, revolveu seus insucessos, e nos apresentou suas estratégias de lutas pela sobrevivência. Se há uma crítica para ser feita a esse livro é que o mesmo ainda se recente das histórias miúdas dessa população anônima, rejeitada nas estatísticas oficiais. Mas, apesar disto, a autora soube muito bem criticar, sem os habituais excessos anacrônicos, os percursos e as estratégias políticas dos administradores da capital do Amazonas, tomando, um a um, seus nomes e seus feitos.
Por tudo, A ilusão do fausto é um livro necessário não somente a historiadores interessados nas histórias “belepoquianas” das capitais brasileiras do final do século XIX, mas também, e especialmente, a todos aqueles que ainda mantêm intocadas suas imagem sobre a selva amazônica, suas cidades anômalas, com sua gente vivendo à margem da história, como naqueles dias quis Euclides da Cunha7. O trabalho de Edinea Mascarenhas Dias não recaiu (e talvez essa seja uma de suas grandes virtudes) no usual recurso de contrapor a floresta, o ambiente selvagem e primitivo dos rincões amazônicos às vicissitudes da experiência humana nas cidades da região. Por mais incrível que possa parecer, essa é uma grande lição para os pesquisadores mais versados no assunto, sem falar naqueles que propagandeiam a região como laboratório para pesquisas e para a divulgação de seus projetos que pouco, ou quase nada, têm a ver com o dia-a-dia amazônico. Refiro-me aqui, especialmente, ao modo com a imprensa brasileira ainda teima em tratar esses “paraísos” ecológicos, sempre acompanhados de suas desastradas experiências sociais. É justamente contra essa visão da presença humana como “anomalia” na selva amazônica que se insurge o livro de Edinea Mascarenhas Dias. Em vez de acreditar piamente que estava ingressando no éden perdido, “resgatando” a história do homem e suas infrutíferas tentativas de domar a natureza, a autora preferiu trilhar esse mesmo caminho desconfiando dessa velha formulação tirada de velhos e bonitos manuais de história natural, tão ao gosto dos literatos e cientistas dos tempos da borracha.
Notas
1 Diário Oficial. Manaus, 8 de julho de 1927, p.1
2 Idem.
3 MELLO, Thiago de. Manaus, amor e memória. Rio de Janeiro: Philobiblion, 1984, pp. 27-28.
4 Ver MORAES, Raymundo. Cartas da floresta. Manaus: Livraria Clássica, 1927, p.2.
5 ANRADE, Mário de. “A Raymundo Moraes”. In Diário Nacional. São Paulo, 20 de setembro de 1931, p. 2.
6 DIAS, Edinea Mascarenhas. A ilusão do fausto: Manaus, 1890-1920. Manaus: Valer, 1999, p.19.
7 CUNHA, Euclides da. À margem da história. Porto: Livraria Chardron, 1909.
Aldrin Moura de Figueiredo – Universidade Federal do Pará.
[IF]A questão mineral da Amazônia: seis ensaios críticos – FERNANDES et al (RBG)
FERNANDES, Francisco Rego Chaves et. al. A questão mineral da Amazônia: seis ensaios críticos. Brasília: CNPq, 1987. 216 p. (Recursos Minerais Estudos e Documentos 5). Resenha de: SUSLICK, Saul B. Uma radiografia mineral da Amazônia. Revista Brasileira de Geociencias, v 18, p.321-322, 1988.
Saul B. Suslick – Campinas, S.P..
[IF]