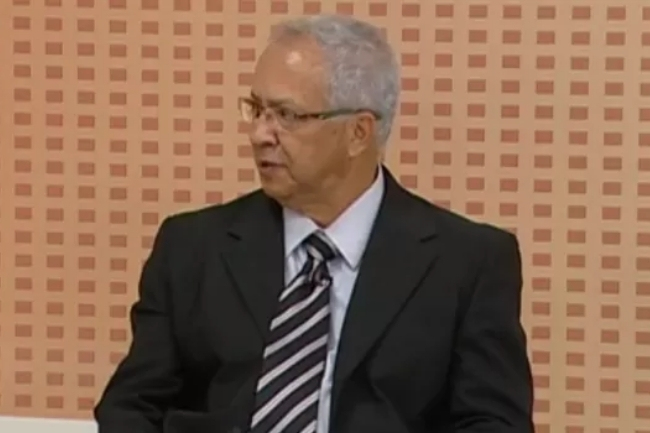Posts com a Tag ‘Caminhos da História (CHr)’
O uso dos conceitos: uma abordagem interdisciplinar | José D’ Assunção Barros
Em épocas de negacionismos, cada vez mais produções sólidas necessitam entrar em pauta para desenvolver o conhecimento histórico e consequentemente o científico. Nesse sentido, que a obra O uso dos conceitos: uma abordagem interdisciplinar de autoria de José D’ Assunção Barros e publicada no ano passado pela editora Vozes se evidencia. Ela que possui como proposta discutir como os conceitos são relevantes para as pesquisas interdisciplinares é dividida em duas partes. Na primeira parte, discute a articulação dos conceitos e a relevância da interdisciplinaridade; e na segunda, demonstra sua articulação com a área de música. Leia Mais
Capítulos de história do pensamento econômico do Brasil | João Antônio de Paula
O livro que ora resenhamos traz uma notável contribuição a História do Pensamento Econômico do Brasil. Destaque-se a maestria com que o autor defende seu principal argumento, a saber: existe um pensamento econômico do Brasil, que não se constituiu sendo um mero receptáculo de ideias adventícias, esse pensamento seria “fruto do modo singular como os brasileiros constroem o seu modo de estar no mundo” (PAULA, 2021, p. 21). Leia Mais
Para a Glória de Deus, e do Rei? Política, religião e escravidão nas Minas do Ouro (1693-1745) | Renato da Silva Dias
D. João VI, Rei de Portugal | Detalhe de capa de Para a Glória de Deus, e do Rei? Política, religião e escravidão nas Minas do Ouro (1693-1745)
A obra em questão vem a lume dezesseis anos após a sua apresentação como tese de doutoramento em História, defendida pelo autor em 2004, na UFMG, sob orientação da professora Carla Anastasia. Nesse intervalo muita coisa se escreveu a respeito da história mineira no século XVIII.2 O trabalho de Renato da Silva Dias, Professor de História na Universidade Estadual de Montes Claros, não se preocupou em antecipar modismos e talvez por isso, recolocado no contexto atual, tenha preservado sua originalidade. Tributário da riquíssima historiografia que, nas décadas de 1980 e 1990, reescreveu a história de Minas Gerais no período colonial, Para a Glória de Deus e do Rei? explorou, em grande parte, as peculiaridades que tornaram a experiência mineradora um evento histórico singular no âmbito da América Portuguesa.
O tema investigado foi o das dimensões políticas do catolicismo luso penosamente imposto aos súditos de Minas. Em especial, Dias preocupou-se em avaliar de que forma a religião católica foi apropriada e reelaborada por africanos detentores de enormes diversidades étnicas, culturais, religiosas e políticas. Aprisionados na terra natal, traficados para a América Portuguesa e revendidos a senhores situados nos arraiais mineradores e em seus respectivos campos e currais, esses trabalhadores sofreram as consequências do escravismo colonial. Estilhaçados seus antigos vínculos e pertencimentos sociais, eles foram obrigados a adotar uma Leia Mais
Impressos subversivos: arte, cultura e política no Brasil 1924-1964 | Maria Luiza Tucci Carneiro
Maria Luiza Tucci Carneiro | Imagem: Mosaico na TV
O livro “Impressos Subversivos: arte, cultura e política no Brasil 1924-1964” foi escrito pela historiadora Maria Luiza Tucci Carneiro e lançado em 2020. A obra, que possui 212 páginas, possui as seguintes seções (todas escritas pela autora): Preâmbulo; introdução; capítulo 1 “Os impressos no mundo da sedição”; capítulo 2 “Na trilha do impresso político”; capítulo 3 “A arte de imprimir e protestar”; capítulo 4 “Artistas de protesto”; capítulo 5 “Panfletos Irreverentes”; Considerações Finais; Fontes; Bibliografia e Iconografia.
A autora fez toda a sua formação em história pela USP, tendo defendido a tese de título “O Anti-semitismo na Era Vargas: Fantasmas de uma geração (1930-1945)” e a tese livre docente “Cidadão do Mundo. O Brasil diante da questão dos judeus refugiados do nazi-fascismo (1933-1950)”. Carneiro atualmente é professora sênior da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Em sua carreira, têm realizado projetos e atividades junto de diferentes instituições, como a Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo e o Arquivo do Estado de São Paulo. Sobre este arquivo, a historiadora já havia coordenado, junto de Boris Kossoy, um Projeto Integrado Arquivo/Universidade (PROIN) Leia Mais
Intelectuais e a modernização no Brasil: os caminhos da revolução de 1930 | Antônio Dimas Cardoso
Antônio Dimas Cardoso | Imagem: Inter TV
Lançada em 2020, pela Editora Unimontes, a coletânea Intelectuais e a modernização no Brasil: os caminhos da revolução de 1930, foi resultado do trabalho de organização de Antônio Dimas Cardoso e Laurindo Mekie Pereira. O primeiro, sociólogo, o segundo, historiador, ambos compartilham a experiência de, em pesquisas anteriores, avaliar a presença e a agência intelectual nas dinâmicas de modernização, sejam nacionais ou continentais. Tratase de matéria cara aos/às investigadores/as das primeiras décadas do século XX brasileiro, uma vez que recorta justamente a fase de profissionalização intelectual em uma paisagem de mudanças políticas, econômicas e culturais, especialmente, após o fim da Grande Guerra e a ascensão de Getúlio Vargas à presidência (MICELI, 2001; JOHNSON, 1995; PÉCAULT, 1990).
A complexidade da temática macro é enfrentada por autores e autoras das áreas de Direito, Ciência Política, Sociologia e, notadamente, da História. Embora não apresente uma divisão explicita, pode-se avaliar a obra em duas partes: na primeira, que reúne os cinco capítulos iniciais, as diferentes abordagens têm em comum o objeto a partir do qual constroem a argumentação, qual seja: as trajetórias de sujeitos históricos que, nascidos no final do século XIX, se posicionaram em diferentes territórios dos espectros políticos então constituídos e atuaram nas dinâmicas históricas que levaram ao poder um novo modelo institucional. Entre defensores e opositores, o leitor e a leitora terão oportunidade compreender como os eventos de 1930 resultam de disputas, alianças instáveis e diferentes graus de afinidade. Uma segunda parte, que engloba os últimos três capítulos, dá conta de evidenciar questões mais amplas relacionadas ao ensino e às reformas educacionais, às rupturas e permanências das dinâmicas eleitorais e à forma como os eventos da política brasileira foram interpretados em Portugal, no calor dos acontecimentos. Leia Mais
Representação dos árabes e muçulmanos na televisão brasileira | César Henrique de Queiroz Porto
César Henrique de Queiroz Porto | Imagem: Arquivo pessoal/UNIMONTES
A telenovela tem uma importância transcendental para a cultura brasileira. No ar há quase 70 anos2, o Brasil já se viu, por muitas vezes, representado nas inúmeras narrativas ficcionais produzidas e exibidas pelas emissoras brasileiras de televisão. Contudo, não foram apenas as telenovelas com enredos repletos de brasilidade que acompanhamos nesse longo período de teledramaturgia brasileira, haja vista que – dada a originalidade dos novelistas3 – também pudemos acompanhar tramas que trouxeram ao telespectador culturas e costumes de outros povos como, por exemplo, a telenovela O Clone, de autoria de Glória Perez, produzida e exibida entre 2001 e 2002, pela TV Globo.
O Clone foi exibida no emblemático ano de 2001, marcado não apenas pelo início do século XXI, mas também pelos ataques terroristas contra os Estados Unidos, promovidos pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, liderada pelo saudita Osama Bin Laden. No dia 11 de setembro de 2001, os terroristas lançaram ataques suicidas – através de aeronaves – contra os prédios do Pentágono, em Washington, e no World Trade Center (também conhecido como Torres Gêmeas), em Nova York, resultando na morte de mais de três mil pessoas. Foi nesse contexto histórico que vinte dias após o atentado terrorista, em 01 de outubro de 2001, estreou a telenovela O Clone, trazendo em sua espinha dorsal toda a cultura muçulmana, além de outros temas tabus como clonagem humana e dependência química. Leia Mais
Transvaloração e redenção na filosofia de Nietzsche: o niilismo tornado história | Ildenilson Meireles
Ildenilson Meireles | Imagem: PPGDS/UNIMONTES
O que torna um texto entendível? Existe relação entre inteligibilidade e qualidade de uma obra? Por que aparenta que nem sempre filósofos fazem questão de se compreender? Não são essas perguntas que se quer responder aqui, mas elas têm ligação com a forma dada à narrativa produzida por Ildenilson Meireles ao publicar como livro o resultado de seu doutoramento, em 2009, pela Universidade Federal de São Carlos.
Anos após a defesa da tese, a obra Transvaloração e Redenção na Filosofia de Nietzsche: o niilismo tornado história, pode ser uma potente ferramenta de “tradução”, talvez até de “simplificação”, de elementos que compuseram parte da filosofia nietzscheana que, por vezes, é colocada como coisa “nebulosa”, rodeada por entraves e complicações, “coisa para poucos”. Como bem reconhece Meireles, a publicação vai a público como “uma necessidade de devolver a estudantes de graduação, pelo menos, o fruto de um trabalho acadêmico sobre um Nietzsche que ainda se pode ler com interesse e curiosidade” (p. 10). Parece ser esse, inclusive, o sentido da circularidade e repetição, ao longo da narrativa, de algumas noções que antes já haviam sido explicitadas por ele. Repetir não para fixar ou ser redundante, mas para esmiuçar mais, por cuidado com quem lê. Não se trata, porém, de “mastigar”, de “pegar na mão” do leitor. Trata-se, sim, de conduzir a leitura, de apresentar conceitos e termos, de destacar como tal noção se apresenta em tal obra de determinado período, de ir e voltar quando convém, de passar por outros nomes que, de algum modo, atravessam o entendimento da filosofia de Nietzsche. Leia Mais
Civilização, tronco de escravos | Maria Lacerda de Moura e Patrícia Lessa e Cláudia Maia
Maria Lacerda de Moura | Arte: Andreia Freire/Reprodução/Revista Cult

A editora Entremares, cuja trajetória se iniciou no ano de 2017, não é uma editora que circula em grandes livrarias, e tem feito um ótimo trabalho de resgate de obras do passado ao passo que também traz publicações recentes de autores libertários. Civilização, tronco de escravos é a segunda obra de Maria Lacerda de Moura lançada pela editora, que também já publicou uma nova edição de Fascismo: filho dileto da Igreja e do Capital (2018) e recentemente lançou a obra Amor & Libertação em Maria Lacerda de Moura (2020), de Patrícia Lessa. Civilização… integra a Coleção Astrolábio da editora, que tem como objetivo trazer a filosofia e o pensamento crítico como instrumentos para navegar na busca de “outros olhares, outra moral, outros horizontes”. Leia Mais
Fascismos (?): análises do integralismo lusitano e da ação integralista brasileira (1914-1937) | Felipe Cazetta
Fascismos… | Detalhe de capa |
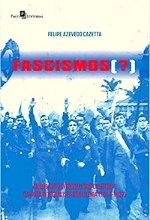
Una segunda razón para resaltar este trabajo es que el realizar esta comparación, permite iluminar con mayor intensidad determinados aspectos, que si solo se hiciera un examen nacional no saldrían a la luz. Una tercera razón es la coherencia y el rigor de este libro que es el resultado adaptado de una tesis presentada en el año 2016
El autor de este libro acierta con su título “Fascismos”, por cuanto como más se profundiza en el análisis del fascismo más se descubre que, sobre un fondo comùn, aparece su carácter heteróclito. Así cada vez está más claro que hubo variadas expresiones fascistas influenciadas por las evoluciones económicas, sociales, políticas y culturales de cada estado, que aun dentro de un mismo país, estas expresiones tenían connotaciones diversas y que fueron adaptando su discurso en las diferentes fases que vivieron. Este es el caso del integralismo lusitano y de su correspondiente brasileño. No solo hubo organizaciones diversas sino dentro de ellas, discursos relativamente heterogéneos, que de todos modos alimentaban un tronco común. Descubrir este tronco común y al mismo tiempo ser sensible a las diferencias no es tarea fácil. Esto es lo que hace esta publicación
Esta característica se pone de manifiesto en este libro por cuanto su principal óptica es la de hacer un análisis teórico doctrinario de los fascismos brasileño y portugués y ver cuales son sus principales similitudes y diferencias y sus mutuas influencias. Para concretar este objetivo, el autor recorre a explicar sintéticamente las biografías de los principales líderes, a estudiar detalladamente sus discursos y publicaciones y a rastrear las referencias que se hacían mutuamente, en sus periódicos y revistas, donde destacan Naçao Portuguesa y América Brasileira
Viajes, contactos, noticias, artículos compartidos y alabanzas mutuas prueban que el Integralismo Lusitano y el Nacional Sindicalismo de este país no estaban tan lejos de la Acçao Integralista Brasileira y aun de la Acçao Imperial Patrianovista Brasileira. Durante un cierto tiempo bebían unos de otros y encontraban una común inspiración en Maurras y el corporativismo que la Iglesia católica preconizaba desde la encíclica Rerum Novarum y que la Qudragesimo Anno de Pio XII reafirmó en 1931. También admiraban los avances de Mussolini en Italia. En cambio, no deja de ser sorprendente que casi no se encuentren referencias a los autores y líderes fascistas españoles o al rumano Manoilescu que fue uno de los divulgadores del corporativismo más conocido en Europa en los años treinta. Parece evidente que la lusofonia y un pasado comùn entre Brasil y Portugal debió jugar un positivo y contradictorio papel entre aquellos movimientos
Contradictorio, porque la afirmación nacionalista y su fijación por reconstruir la historia, propias de estas posiciones, les llevaban a ensalzar la época imperial de Portugal y su dominio sobre Brasil. De ahí que como Cazetta ilustra, algunos líderes brasileiros oscilasen entre la lusofilia y la lusofobia. Pudo más la primera y por lo que parece las relaciones fueron estrechas y positivas. Queda por ahora sin responder la pregunta de hasta que punto estas relaciones fueron favorecidas por los emigrantes portugueses en Brasil y por la propaganda que el Estado Novo hacía en este país [4]. De todos modos, ¿que tenían en común los integralismos brasileño y portugués y sus líderes? En primer lugar, según Cazetta, comparten un pasado literario y hasta cierto punto elitista. Hubiera sido interesante profundizar en el primero ya que el modernismo [5] artístico y literario fue predominante en aquella época y hubiera podido dar algunas claves para entender mejor los origenes culturales de aquellos líderes y de sus expresiones fascistas. No deja de ser curioso que algunos de ellos compartan estudios jurìdicos en las facultades de derecho de Coïmbra y de Recife y Sao Paulo y que allí se forme una identidad de grupo. En el caso portuguès no deja de ser sorprendente que autores tan diferentes como Herculano, Garrett y Antero de Quental sean los referentes anteriores del naciente integralismo
En segundo lugar, ambos movimientos comparten su crítica al liberalismo y a los regímenes parlamentarios a los que adjudican todos los males históricos y reaccionan contra el comunismo. Dios. Patria y Familia podría ser el lema que les une en una concepción tradicionalista que tratan de justificar con una visión histórica peculiar que ellos reconstruyen a su manera. Esta visión les lleva hasta la época medieval en la que florecían organicismo y corporativismo, que constituyen sus fundamentos organizativos para la sociedad que se proponen construir. Un estado fuerte, con ansias expansionistas y centralizado políticamente, pero que otorga poderes administrativos a los municipios les parece ser la mejor fórmula de gobierno. Monárquicos convencidos en su origen, algunos aceptan un cierto republicanismo que no caiga en los defectos de las denunciadas constituciones de 1891 en Brasil y del régimen republicano portugués de 1910
La descripción de estas características es una parte muy substantiva de este libro, que a veces se hace repetitiva como cuando se alarga la presentación del ideario Maurrasiano. Era casi inevitable, ya que, a pesar de pequeñas matizaciones ligadas a itinerarios personales, las expresiones doctrinarias de estas dos corrientes fascistas se parecen y no brillan por su originalidad. Quizás, hubiera sido útil dedicar más espacio a explicar su articulación con el contexto cronológico y politico de cada país. Esto hubiera facilitado la tarea de los potenciales lectores de los dos países. Los brasileños no conocen muy bien la evolución política de Portugal de después de la primera guerra mundial y al revés, no muchos portugueses saben las vicisitudes de la vida política brasileña
Igualmente, si se hubiesen caracterizado mejor a las organizaciones (fuerza, afiliados, modos de organización interna, actividades externas, …) se habría podido pasar a otros niveles de interpretación [6]. Pero esto se escapa a los objetivos del trabajo. El cual hace avanzar en el conocimiento de dos movimientos protofacistas en sus inicios y más declaradamente fascistas en sus respectivas maduraciones, en dos países, tan lejanos y cercanos, como Brasil Y Portugal
Igualmente contribuye a comprender mejor sus relaciones y mutuas influencias, Abre así un estimulante campo, relativamente inexplorado, que hay que esperar sea cultivado por otros investigadores. En cualquier caso, permite sugerir que las expresiones fascistas en Brasil, como en el caso de Mejico [7], no fueron meras copias o mimetismos de lo que sucedía en Europa
Tuvieron sus rasgos específicos. En este sentido, con esta publicación, se da un paso adelante con respecto a las consideraciones que formulaba Helgio Trindade [8] hace casi cuarenta años atrás
Por fin, para finalizar esta nota de lectura hay que constatar como lo hace Felipe Cazetta que en los últimos tiempos los movimientos y las posiciones de extrema derecha han aumentado no solo en su presencia en gobiernos y administraciones en todo el mundo sino también en las practicas cotidianas de muchos ciudadanos y compartir con el, su preocupación por este crecimiento. Conocer mejor sus origenes y despliegues ideológicos se convierte así en una manera de empezar a combatirlo. Es lo que hace este libro que ahora se recomienda
Notas
2. AA.VV. (1987) O estado Novo. Das origens ao fim da dictadura. 1926-1959. Lisboa Ed. Fragmentos. II Vol
3. Larsen, S.U. (Ed.) (2001). Fascism outside europe. N.Y. Columbia University Press7
4. Paulo.E. (2000 ) Aquí tambem é Portugal: a colónia portuguesa no Brasil e o Salazarismo. Coimbra, Quarteto
5. Griffin,R. (2003) Modernism anf fascism. The sense of a beguining under Mussolini and Hitler. N.Y. Palgrave Mac-Millan.
6. Para una interpretación comparativa de las politicas sociales de los fascismos en Portugal, Itàlia, España y Alemania ver Estivill. J. (2020) Europa nas trevas. As politicas sociais nos fascismos. Lisboa Universidad Nova de Lisboa
7. Meyer, J. (1977) Le sinarquisme: Un mouvement fasciste Mexicain. Paris. Ed. Hachette
8. Trindade, H.(1982) El tema del fascismo en America Latina, Revista de Estudios Politicos n. 50
Jordi Estivill – Universidade de Barcelona – Espanha. E-mail: [email protected]
CAZETTA, Felipe. Fascismos (?): análises do integralismo lusitano e da ação integralista brasileira (1914-1937). Jundiaí: Paco editorial, 2019. Resenha de: ESTEVILL, Jordi. Caminhos da História. Montes Claros, v.26, n.1, p.241-244, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF]
Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália | Denise Rollemberg Cruz
É bastante perceptível o fascínio que a experiência nazifascista e a Segunda Guerra Mundial exercem no público – especializado ou não – de história no Brasil. Se os motivos para tal não cabem em uma resenha, vale ao menos mencionar que o amplo alcance tem seus bônus e ônus. Apesar de ser um contexto com ampla e consolidada bibliografia, em muitos espaços parecem persistir análises há muito relativizados pela historiografia acadêmica. Existe um claro embate narrativo que dificulta muito o estabelecimento desses discursos fora das universidades. E mesmo dentro delas.
É no sentido de contribuir para o rompimento dessa barreira que a obra Resistência: memória da ocupação nazista na França e Itália, fruto de pesquisa pós-doutoral de Denise Rollemberg da Cruz, se propõe a atuar. A autora, professora de História Contemporânea do Instituto de História e do programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF), tem a carreira bastante associada aos estudos sobre a ditadura militar brasileira, mas há algum tempo dedica-se também ao contexto europeu, em particular sobre os regimes autoritários da primeira metade do século XX. Existe um diálogo teórico basilar entre os eventos históricos que muito parece ter auxiliado a autora em suas reflexões: tratam-se de experiências traumáticas, que expõem indivíduos a situações-limite e colocam em questionamento projetos políticos que veiculam ideias de harmonia social. Mais do que isso, a historiografia está constantemente empenhada em “mexer no vespeiro” desses eventos, tão embrenhados no debate das relações entre memória e história nos dias atuais. Se a Europa é palco privilegiado do livro, ficam evidentes também as marcas da trajetória pregressa da autora nas linhas que o compõem.
A aposta de Rollemberg está, então, em promover uma discussão conceitual e uma abordagem metodológica que dê conta de exibir, nos casos francês e italiano, uma mostra material dessa tensão mnemônica relativa à ocupação nazista, sobretudo a partir dos discursos museológicos produzidos pelos estados em questão, esmerados em cristalizar determinadas abordagens sobre os eventos históricos que dão nome às instituições. Desde a apresentação, ela já nos apresenta um importante diagnóstico: foi a partir da glorificação da Resistência que começaram a surgir museus e memoriais da mesma (p.12). Importa destacar que a obra não versa apenas sobre o museu: um capítulo é dedicado a escrita epistolar, e o último, ainda que reflita sobre um museu, tem como eixo os usos da memória sobre um evento ocorrido na Itália. Trata-se, portanto, das relações entre história e memória.
O livro é dividido em cinco capítulos. O Capítulo 1 dedica-se ao debate teórico relativo à conceituação de “Resistência”2. Nele, fica evidente a complexidade do problema. Em cada uma das realidades analisadas – França, Itália e Alemanha – há um debate particular, e a mesma dificuldade em encontrar uma definição hegemônica. A fluidez polissêmica é o tom da questão, sempre mediada por interesses políticos e disputas discursivas. Se cada caso é um, parece à autora que as décadas de 1970 e 1980 foram comumente decisivas no sentido de serem o marco das transformações sociais que terminaram por acarretar no pensar sobre as Resistências. Distância temporal, acesso aos arquivos, interesses de geração, enfim, inúmeras circunstâncias propiciaram essa evidente mudança que, ao fim e ao cabo, irá acirrar as tensões memorialísticas sobre os eventos.
Na competente discussão historiográfica trazida pela historiadora, fica evidente uma espécie de fórmula para o desenrolar da reflexão conceitual em cada país: quanto mais autoritário o regime, mais elástico o conceito parece se tornar – e assim abraçar uma variedade ainda maior de comportamentos. Assim, para os franceses resistir é agir diante de um inimigo externo. Com os italianos, o debate se aprofunda, uma vez que uma questão se impõe: a resistência teria se dado em relação a Mussolini (então, desde a década de 1920) ou no contexto da capitulação da Itália, da ocupação alemã e da República de Saló (1943)? E no caso alemão, em que o país não foi invadido? Haveria espaço para resistir? O que seria resistir naquele contexto?
Há ainda outros imperativos que dialogam diretamente com cada realidade nacional. Por exemplo, aquilo que envolve a coletividade ou individualidade da agência. No caso francês, a ação é primariamente coletiva (ainda que algumas atitudes individuais sejam consideradas também atos de resistência), enquanto na Alemanha a individualidade se impõe. O mesmo contraste se observa em relação à legalidade: enquanto na França a ilegalidade é condição mandatória para o ato de resistir, na Alemanha os resistentes são encontrados dentro dos signos das leis de então (funcionários de Estado, generais e outros militares, por exemplo que, em suas atividades, conseguiram de alguma forma apoiar o combate ao nazismo). Aqui a escolha da autora em comparar as distintas experiências se mostra um grande acerto, pois fica evidente essa ocasionalidade que conforma o conceito. No Estado invadido pode haver essa associação com a coletividade porque essa – a princípio – é contrária à barbárie nazista3, enquanto no outro a resistência tem que ser individual porque a coletividade é o inimigo. Na primeira agir ilegalmente é enfrentar o autoritarismo; na segunda, é necessário buscar a partir da legalidade a prátia resistente.
À essa pequena amostra da complexidade do debate somamos as cores locais de cada caso analisado. O que cada autor (e fontes, nos capítulos seguintes) considera ser resistência. Isso também varia, e muito, ao longo do tempo e de acordo com as subjetividades e escolhas políticas. Rollemberg destaca a importância de trabalhos como os de Henri Michel na década de 1960 e de Robert Paxton na seguinte (p. 23-25) para promover o repensar sobre o papel da França e dos franceses na Segunda Guerra Mundial. Ao fim e ao cabo, a variante que torna a conceitualização de “resistência” tão difícil é justamente a vida humana, tão prenhe de inconsistências e desvios que marcam uma trajetória individual. Nas discussões analisadas pela historiadora, é crucial considerar o que Primo Levi chamou de “zona cinzenta”, que escancara a insuficiência da oposição “resistente” versus “colaborador”, como se somente existisse a possibilidade de ser um ou outro. O termo, como disse Levi em Os Afogados e os Sobreviventes (2004), refere-se a uma zona de contornos mal definidos, da qual bem e mal, culpa e inocência fundem-se nos comportamentos do campo, impedindo qualquer tentativa de racionalizar a experiência concentracionária. Extrapolar o uso do termo da experiência dos campos para as vivências em territórios ocupados ou governados pelos fascismos é, para essa historiografia, ser capaz de observar a multiplicidade de comportamentos e a imensa dificuldade em atingir o consenso. Rollemberg, nesse sentido, comenta que mais importante do que encontrar essa definição harmônica é observar justamente as tensões e limites do uso da palavra (p.67).
Importa, por fim, destacar nesse capítulo que a autora comenta também sobre outros conceitos que rodeiam o de resistência, como os de oposição, resiliência, dissensão, entre outros. Os tais múltiplos comportamentos que destacam a vida na zona cinzenta, repetimos, são difíceis de serem aceitos dentro das rédeas de uma definição.
Sem que esse debate se feche, ele ganha novos e intrincados contornos, quando confrontados diante da temporalidade e dos usos políticos do passado. Isso fica gritante ao final do capítulo, quando a historiadora nos atenta para uma importante tensão entre memória e história: há um evidente descolamento narrativo no que envolve a questão étnica e racial e a luta contra a extrema-direita nesse momento analisado. O aspecto racial dos fascismos não importava muito para a ação resistente4. Por outro lado, ele é crucial para o esforço de memória. Não foi o gatilho das resistências, mas é a tônica da lembrança sobre elas.
É com esse olhar que Rollemberg analisa os Museus e memoriais da Resistência no restante do livro. A parte 1, composta pelos capítulos 2 e 3, dedica-se ao caso francês. No capítulo 2, a autora enfoca um rico conjunto de cerca de 60 museus ao longo de todo o território nacional. Ao observar tão ampla gama de lugares de memória (e aqui devemos a Pierre Nora o aparato teórico para a discussão), a historiadora chega a algumas conclusões interessantes. Existem, é claro, especificidades para cada instituição, relativas a questões de acervo, iluminação, uso de som, recursos audiovisuais, a grandiloquência do local, a cenografia, entre outros aspectos. No entanto, também parece claro a ela um certo apego a determinados modelos. Charles de Gaulle e Jean Moulin, lideranças da Resistência (externa e interna) Francesa, são figuras onipresentes, que têm destacadas as suas ações heroicas durante o conflito, enquanto são deixados de lado aspectos que poderiam ser contraditórios (mesmo no Museu Jean Moulin, em Paris)5.
Em termos narrativos, visualiza a repetição daqueles lugares comuns que apostam na cronologia mais simples para tratar da ascensão da extrema direita no período entreguerras até o estopim do conflito mundial e a experiência concentracionária. Há um certo apagamento das regionalidades de cada museu em nome dessa narrativa única e da função pedagógica que lhes cabem (p.125). A autora observa que existem poucos relatos de sobreviventes de campos de trabalho nos museus, e de nenhum relativo aos colaboradores. Ora, isso seria escancarar as inconsistências, a zona cinzenta, e a participação ativa do estado francês no genocídio (p.122). Um desserviço ao esforço de pacificação do passado proposto pelos museus.
Aqui apresenta-se o argumento mais forte desse capítulo, que é justamente a percepção de que há uma sobreposição da memória em relação à história nas narrativas museológicas. Diz a autora:
Sendo os museus históricos – informativos ou comemorativos – lugares de memória, são por natureza do campo da memória, não da história. Em outras palavras, nasceram reféns da memória. A crítica, já existente em muitos museus da Resistência, encontra aí seus limites. Ela se realiza plenamente quando faz dos museus objeto da história. (p.97)
Justifica-se, assim, a relevância do estudo materializado no livro da autora. O museu possui a dupla função comemorativa e informativa. Precisa produzir conhecimento e provocar emoção. Em nome disso, escolhas são feitas, e silenciamentos promovidos sem muito pudor. A vocação maior do museu é a celebração, e não a crítica. Daí a escolha dos temas da perseguição e da deportação, mesmo que não tenham por muitas vezes sido a motivação primeira dos movimentos da Resistência celebrados no espaço museológico. Daí a renovação historiográfica que acompanha os estudos sobre o período desde a década de 1970 ser incorporada timidamente naqueles espaços de memória. Daí a potência de um discurso que valoriza um coletivo imaginado: nós resistentes enfrentamos ele (indivíduo) colaborador.
O terceiro capítulo dedica-se à análise da escrita epistolar numa situação extrema: indivíduos que, resistentes ou reféns, receberam o aviso de que seriam fuzilados. Diante da certeza da morte, dentro de poucas horas, vinha a última missão de resumir uma trajetória e enviar a última mensagem aos entes queridos em algumas linhas. O número de indivíduos que passou por essa experiência não foi desprezível: cerca de 4.020 pessoas (p.172).
Denise Rollemberg esmiúça a morfologia de um conjunto de centenas dessas cartas e observa que, da situação-limite nasce uma escrita-limite (p.182). Os autores, provenientes dos mais distintos grupos sociais, regiões e convicções políticas e religiosas recorrem, muitas vezes, a temáticas e argumentos semelhantes quando estão a se despedir da vida. Em geral, parece que prevalece a ideia do “bem morrer”: uma postura de tranquilidade em relação ao final de suas trajetórias. Claro que a autora leva em consideração que as cartas possuem o objetivo de tranquilizar parentes e companheiros, e por isso imprimir um tom de serenidade pode ser importante para aquelas pessoas. Além disso, não se pode desprezar que essas cartas passaram pela censura (seja alemã, seja francesa) antes de chegar aos destinatários. Outras que contivessem informações consideradas problemáticas jamais conheceriam o seu destino.
Outros apontamentos são dignos de menção. Reforçando a ideia presente no primeiro capítulo sobre a clivagem entre história e memória, ela observa que, no íntimo, o judaísmo não é a força motriz desses indivíduos. São raras as menções à rotina judaica, ainda que o elo com valores cristãos seja bastante presente (p.189). Isso, aliás, é um argumento interessante da autora, que observa a prevalência dos valores da família, religião e tradição nas cartas. Ora, a tríade é bastante próxima do lema da França de Vichy: trabalho, família, pátria (p.199). A ela, parece então que os valores dos condenados são bastante conservadores, ao ponto de se confundirem com aqueles dos colaboracionistas.
Se algo parece revolucionário à autora, é na questão dos condenados com suas esposas. Mesmo diante da pressão de uma sociedade católica e conservadora, quase sempre sugeriam que suas mulheres buscassem a felicidade em novos relacionamentos. Isso, talvez, esteja de acordo com aquilo que subjaz a esse tipo de escrita: as cartas de despedida são, no limite, cartas para si. São expressões da imagem que aquelas pessoas queriam deixar para a posteridade, como gostariam que fossem lembrados. É, de alguma forma, a curadoria de uma memória individual.
A Parte II do livro analisa o caso italiano. No capítulo 4, Rollemberg estuda dezesseis museus e suas construções memorialísticas. Convencionou-se no discurso museológico que a resistência no país teria início em 8 de setembro de 1943, quando do armistício italiano. Esses museus escrevem uma história da Itália até abril de 1945, quando termina a ocupação estrangeira do país. A escolha narrativa, então, fica clara: trata-se do combate contra a Alemanha, e não ao fascismo de Mussolini, que demandaria um recuo temporal maior. Dessa forma, também elencam indivíduos do partido fascista como heróis da Resistência nos museus e memoriais.
Ao mesmo tempo, há um sutil deslocamento temporal do antifascismo na Itália, como se ele fosse dominante desde a década de 1930, e não somente após a crise do regime de Mussolini depois de 1940. O esforço de silenciar o passado fascista é bem claro. É por isso, também, que os museus italianos, diferente dos franceses, apostam mais nas histórias locais em suas representações. É mais um artifício para afastar-se do coletivo, uma vez que o governo italiano era fascista ao início do conflito.
O caso mais curioso destacado pela autora nesse capítulo é o da Piazzale Loreto, em Milão, onde ocorreu a famosa efeméride na qual os corpos de Mussolini, sua amante Clara Petacci e outros fascistas foram pendurados num posto de gasolina e ficaram expostos para a população local. Da cena, restam pouco mais que vestígios. O posto não está lá, o matagal cobre o memorial existente no local… O passado embaraçoso foi sendo recalcado, e tentou-se imprimir, a partir da Resistência, a visão oposta, a do júbilo pela morte gloriosa, diretamente associada ao martírio cristão.
O capítulo final discorre sobre uma das grandes histórias da resistência italiana, a dos Sette Fratelli. Na região da Emilia-Romagna, em 28 de dezembro de 1943, sete irmãos, trabalhadores rurais, foram fuzilados. Faziam parte de uma família que, ali, fazia oposição ferrenha ao regime fascista (o irmão mais velho era do Partido Comunista) e, quando da Ocupação, auxiliava em ações clandestinas para proteger outros membros da oposição ao regime. Centenas de estrangeiros passaram pela fazenda da família e encontraram abrigo e proteção. Não poderia haver narrativa mais conveniente a um esforço de memória sobre a Resistência.
A autora destaca a potência dessa história familiar aos esforços de memória, e mapeia as variações narrativas sofridas pela mesma. O cortejo dos corpos, acompanhado por uma multidão, ganhou status de celebração da liberdade somente quatro anos depois de ocorrido. E foi em 1953, quando Ítalo Calvino escreveu dois textos sobre o acontecido – o que por si só já é uma amostra do alcance da história – ela parece se estabelecer no imaginário social, inspirando outras obras literárias, pinturas e o cinema, através de documentários e um filme. A casa da família, naturalmente, tornou-se um museu. Aqui, não parece haver espaço para a historiografia. Calvino comete um equívoco (intencional ou não), situando a formação do grupo resistente após o armistício e não no contexto anterior, quando de fato ocorreu, e é essa narrativa que se cristaliza. Uma vez mais, como diz Rollemberg, “a memória inventa o passado” (p.345).
Resistência parece cumprir uma dupla função no debate acadêmico brasileiro. Por um lado, é mais um expoente da hoje consolidada discussão acerca das relações entre história e memória, presente em parte relevante de teses e dissertações produzidas nos últimos anos. Traz à cena uma bibliografia mais ampla sobre um debate que nos tem sido tão caro. Ao mesmo tempo, esse panorama conceitual e metodológico propicia novas visões sobre os fascismos e sobre a guerra, que devem ser levadas em conta em novas publicações sobre o tema.
Notas
2. A história dos conceitos, como sabemos, ganhou bastante corpo sobretudo a partir dos estudos de Reinhart Koselleck. Lembremos com o autor (mesmo que não tenha sido citado por Rollemberg) da ideia de que um conceito é também um ato – uma vez que colabora com uma prática ou ação no tempo histórico, e não apenas o nomeia. Isso fica muito claro com o conceito de Resistência.
3. É muito importante destacar que aqui pensamos dentro da perspectiva das narrativas construídas sobre os eventos e que foram centrais nas discussões conceituais sobre a “Resistência”. Dizemos isso por conta da experiência colaboracionista francesa, encarnada na França de Vichy, que a autora também destaca e analisa em seu livro.
4. O antissemitismo, por exemplo, não fazia parte dos discursos e práticas políticas de Mussolini na Itália. Na França, a maioria dos movimentos que compôs a M.U.R. (Movimentos Unidos da Resistência) não tinha a luta racial como pauta.
5. Na própria apresentação do livro a autora destaca a homossexualidade de Jean Moulin, que não aparece em nenhuma narrativa museológica, já que o grande mártir da Resistência não poderia, dentro de uma perspectiva conservadora de sociedade, estar associado a esse aspecto de sua intimidade. Lembremos também da problemática presidência de De Gaulle no contexto pós-guerra, entre 1959 e 1969.
Jougi Guimarães Yamashita – Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor do Ensino Fundamental da Escola Municipal Albert Einstein-RJ. E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3686-4500
CRUZ, Denise Rollemberg. Resistência: memória da ocupação nazista na França e na Itália. São Paulo: Ed. Alameda, 2016. Resenha de: YAMASHITA, Jougi Guimarães. As resistências à história nas narrativas museológicas francesas e italianas. Caminhos da História. Montes Claros, v. 23, n.1, p.118-124, jan./jun., 2018. Acessar publicação original [DR]
Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São Paulo, 1798-1850 | Roberto Guedes
Analisar as vivências de libertos e seus descendentes através de um conjunto variado de fontes, e conseguir reconstituir trajetórias de famílias com ascendência escrava numa área de produção agrícola para o mercado interno – e, por isso mesmo, representativa de regiões agrárias do Brasil escravista do século XIX – foi o que propôs Roberto Guedes em seu livro.
Este trabalho é resultado de sua tese de doutorado defendida na UFRJ em 2005, e tem como recorte espacial a vila de Porto Feliz, na capitania/província de São Paulo, no período de fins do século XVIII e início do XIX (especificamente a primeira metade do século XIX), e como tema central a mobilidade social. O autor procurou analisar as estratégias de ascensão social empreendidas por libertos e seus descendentes, tais como o trabalho, a estabilidade familiar, a inserção em redes de socialização, dentre outros. Para isso, utilizou como método de abordagem o proposto pela micro-história, realizando um trabalho intenso com diversos tipos de fontes, onde utilizou a técnica do cruzamento onomástico: listas nominativas de habitantes, registros paroquiais de batismo, casamento e óbito, inventários post-mortem, testamentos e prestação de contas de testamentos, notas cartoriais, licenças expedidas pela Câmara Municipal, processos crimes, etc. Assim, foi possível ao autor acompanhar por mais de quatro gerações as trajetórias de libertos e descendentes como, por exemplo, o caso da família Rocha.
Além do trabalho com as fontes, vale ressaltar o cuidado do autor em dialogar com a historiografia no decorrer do livro – como os trabalhos e pressupostos da historiadora Hebe Mattos (1995; 2000), referência nos debates propostos – importante não só para situar sua abordagem, apontar questões que está de acordo ou não, como também para comparar os dados levantados para Porto Feliz com os de outras localidades. Algumas questões importantes para a compreensão de seu livro são o fato do autor entender a sociedade de Porto Feliz como uma sociedade com traços de Antigo Regime e a escravidão como sendo parte integrante dela, ou seja, uma sociedade com traços estamentais e escravista, onde a mobilidade social é entendida não só pela mudança de posição na hierarquia social estamental, mas também pelo viés intragrupal e ainda “não deve ser confundida apenas com enriquecimento” (Guedes, 2008, p. 87). Antes, o mais importante era a manutenção e/ou a redefinição do lugar ocupado na hierarquia social, para o que a riqueza podia colaborar ou não. Desta maneira, Guedes procurou entender como se deu a trajetória de forros e descendentes, apresentando seu livro dividido em cinco capítulos, que se destacam pela riqueza de detalhes não só na forma de escrever, bem como através de quadros, gráficos, diagramas, que nos permitem perceber de forma ampla e precisa a vila de Porto Feliz e sua população.
Primeiramente, é apresentada a paisagem agrária da pequena Porto Feliz, que até 1797 era a freguesia de Araritaguaba, quando foi elevada a vila. Durante todo o século XVIII, este lugarejo foi fundamental na rota fluvial das monções quando se descobriu minas de ouro em Coxipó-Mirim e Cuiabá. Já nos primeiros anos do século XIX, o comércio das monções teve sua importância diminuída devido ao surgimento de outras rotas, o que coincidiu com o desenvolvimento da economia canavieira no oeste paulista, desenvolvimento que Porto Feliz acompanhou, se inserindo entre os municípios situados no “Quadrilátero do Açúcar”, área compreendida entre Sorocaba, Piracicaba, Mogi-Guaçú e Jundiaí.
Guedes mostra como o cultivo da cana-de-açúcar, voltado para o mercado externo à vila, estimulou o desenvolvimento de Porto Feliz, possibilitando o crescimento do “miolo urbano” com construção de algumas casas, instalação de vendas; influenciou também o aumento da população, principalmente da população escrava em função do tráfico de cativos para trabalhar nas lavouras; estimulou o mercado de animais e a criação de gado para alimentação e para moverem os engenhos, e também a produção de alimentos como milho, feijão, arroz, entre outros, destinados ao consumo próprio e comercializados na vila. Inicialmente, foram os pequenos escravistas que participaram plenamente da atividade açucareira, mas a partir de 1820-1824 os grandes produtores aumentaram sua participação e intensificaram a concentração da propriedade escrava. Para a montagem de um engenho era preciso cabedais, e o crédito foi fundamental para o financiamento, assim como o fato dos senhores de engenho se dedicarem a outras atividades como negócio de fazendas secas, lavouras, o comércio das monções, etc.
Ao verificar em seus dados levantados para Porto Feliz o exercício de outras atividades pelos principais da terra, Roberto Guedes estabelece um intenso diálogo com a historiografia, tendo o „trabalho‟ como questão importante. Assim, a partir do conceito de trabalho de Caio Prado Jr. no passado colonial/imperial no Brasil e da análise de outros estudos que seguem a mesma perspectiva, o autor matiza a idéia de que o defeito mecânico e a escravidão inviabilizaram o trabalho livre não só no sentido de ocupação de espaços nas esferas produtivas, mas também no de imputar estigma social a trabalhadores, em especial a forros e descendentes. Tendo como base estudos como os do historiador João Fragoso, comparando os dados levantados para outras localidades com Porto Feliz, Guedes constatou que as elites locais dedicavam-se a outras atividades como comércio e que não deixaram de ser estimados socialmente. Desta forma, podiam não ter uma ideologia negativa do trabalho e, por isso, afirma a importância de se analisar cada realidade local e temporal e “ressaltar as nuances que as noções de trabalho tiveram na colônia/império e entre distintos segmentos sociais” (Guedes, 2008, p. 76). Desta maneira, o autor concentra sua análise nos indivíduos que não eram membros da elite, especificamente forros e descendentes, analisando o trabalho como uma das estratégias, uma das várias formas de mobilidade social.
Para abordar este grupo, Guedes se baseou em concepções de Stuart Schwartz (1988) e Hebe Mattos, se fundamentando nas questões de que a escravidão impunha referenciais de hierarquia distinguindo social e juridicamente escravos, livres, forros e descendentes de escravos e que a transposição de uma categoria jurídica a outra e o posterior afastamento de um antepassado escravo pressupõem passos na hierarquia social, para o qual a cor da pele podia estar relacionada. Assim, o autor analisa através de listas nominativas e mapas de habitantes, o trabalho relacionado a cor/condição social, e verifica como a ocupação diferenciou forros e descendentes de escravos e ambos entre si, corroborando com evidências de que o trabalho propiciava mobilidade social expressas na cor.
É válido ressaltar a preocupação do autor em relação ao cuidado que se deve ter durante a análise desses documentos, no que diz respeito à questão de quem atribuiu ou auto- atribuiu a cor e de quem faz o registro, além da variação nas fontes, etc, pois nem sempre há consonância entre os termos utilizados por autoridades que elaboraram os mapas e os utilizados por recenseadores que fizeram as listas, mesmo que ambos se referissem a uma mesma cor/condição social. No geral, Guedes constatou, por exemplo, que a escravidão influenciou nas cores das pessoas em Porto Feliz e que o trabalho influenciou na oscilação da cor, o que era frequente. Em relação ao registro da cor, percebeu que o termo mulato pode ter tido um sentido pejorativo, e que ser caracterizado como branco marcava uma diferenciação fundamental em relação aos escravos e um distanciamento maior da escravidão em relação aos pardos. Enfim, na análise proposta pelo autor, a hierarquia e a posição social manifestas na cor eram fluidas e dependiam de circunstâncias sociais.
Vista pelo autor como o primeiro passo na hierarquia social, a alforria era onde os forros se diferenciavam dos escravos, por isso Guedes também procurou analisar como se dava essa passagem da escravidão para a liberdade, bem como alguns caminhos que conduziam à liberdade e seus momentos posteriores. O autor compreende a alforria como uma troca equitativa entre senhores e escravos, mas obviamente baseada na desigualdade, ou seja, uma relação de troca assentada na reciprocidade, sem esquecer que reciprocidade não é sinônimo de equivalência. Assim, nesta relação, do ponto de vista do escravo, o autor destaca a questão da submissão, que implica reconhecimento do poder senhorial, que juntamente com a obediência e os bons serviços prestados, podem ser vistos como estratégias de mobilidade social, uma vez que submissão não deve ser entendida apenas de forma unilateral, sendo necessário atentar para o interesse do submisso pela submissão, através das quais se podiam alcançar vantagens.
Outras formas de alforrias, de estratégias, destacadas pelo autor foram casos que, segundo ele, não eram frequentes, de ascensão social de cativas e/ou de seus filhos derivada de relações sexuais/afetivas com seus senhores, onde as ex-escravas e/ou seus filhos, além da liberdade, também herdaram alguns bens dos senhores. O matrimônio foi outro exemplo de forma de alforria, pois existiram casos de casamento de libertos(as) com escravas(os), onde a última foi alforriada. E uma vez inseridos na nova condição jurídico social, foi importante estabelecer relações sociais, as quais tinham sempre que ser reatualizadas para manutenção da nova posição, seja pelos forros ou seus descendentes.
É no último capítulo que percebemos a análise do autor por completo, pois através das trajetórias de algumas famílias ele comprova todas as suas hipóteses: a mobilidade social, seu tema central, relacionada conjuntamente ao trabalho, estabilidade familiar, mostrando a solidariedade intragrupal e a inserção em redes de sociabilidade, como as alianças com potentados locais, tudo isso associado à mudança no registro da cor da pele. Foram nessas trajetórias que o autor propôs aplicar o método da micro-história, e realizou o cruzamento de diversos tipos de fontes, analisando a mobilidade social dos egressos da escravidão, onde as trajetórias foram descritas passo a passo a fim de apreender tais estratégias.
Encontrando pontos em comum nessas trajetórias, o autor mostrou que o trabalho podia ser percebido de forma positiva e ainda poderia propiciar margens de autonomia e ascensão social para forros e descendentes, não só em termos materiais, mas também no que diz respeito à reputação, às questões de reconhecimento e atuação social. Sobre a família e a inserção em redes de sociabilidade, os vínculos se percebem, por exemplo, nas relações de compadrio, e mesmo os que conseguiram ascender à condição de escravistas, não implicava o afastamento em relação aos seus iguais. Estes mantinham as relações horizontais, já que não havia porque fechar portas em um mundo instável, apadrinhavam filhos ou eram testemunhas de casamentos de escravos ou forros, mas para apadrinhar seus filhos preferiam pessoas com títulos como donas, tenentes, capitães, etc. Assim, Guedes nos fala da “transformação” de alguns pardos em brancos, como alguns pardos conseguiram se inserir no mundo senhorial, mostrando os fatores associados à mobilidade social também como um processo geracional.
O livro de Roberto Guedes, portanto, mostra como a mobilidade social contribuía para a manutenção de hierarquias sociais, não estando acessível a todos, mas tornando possível a forros e seus descendentes atuarem numa sociedade caracterizada pela desigualdade. O trabalho de Guedes contribui para estudos sobre a escravidão que se voltam para substituir a ideia de “vítima” pela de “agente social”, ou seja, o escravo como um ser ativo na dinâmica da sociedade. Também é importante para estudos que buscam entender a participação social de libertos e seus descendentes, deixando de lado a visão de uma sociedade bipolarizada entre senhores e escravos, com aquele grupo incluído entre os vadios, os desclassificados sociais, com poucas chances de ascensão social; estudos que se voltam para a análise dos usos e significados sociais dos designativos de cor, bem como os que abordam a alforria, principalmente com enfoque para áreas rurais, o que pode servir também para estudos comparativos entre regiões urbanas e rurais.
Referências
MATTOS, Hebe. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995.
______. Escravidão e Cidadania no Brasil Monárquico. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.
SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550- 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
Iara de Oliveira Maia – Mestre, licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4762-4836
GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São Paulo, 1798-1850. Rio de Janeiro: Mauad X; FAPERJ, 2008. Resenha de: MAIA, Iara de Oliveira. Os significados da mobilidade social para forros e seus descendentes. Caminhos da História. Montes Claros, v.22, n.2, p.121-125, jul./dez.,2017. Acessar publicação original [DR]
Uma Arqueologia da Memória Social. Autobiografia de um Moleque de Fábrica | José de Souza Martins
O escritor da obra supracitada é um conhecidíssimo intelectual brasileiro, dono de um privilegiado currículo como professor de sociologia e pesquisador. José de Souza Martins aposentou-se como professor da Universidade de São Paulo (USP) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – em 2003, mas continua na ativa enquanto pesquisador e escritor. Talvez a obra mais conhecida deste sociólogo seja o “O Poder do Atraso” (MARTINS, 1994). Mas, além desta, são mais de vinte publicações desde o primeiro livro, quando José de Souza Martins tinha 18 anos e ainda era trabalhador numa fábrica de cerâmica em São Paulo.
A obra, aqui resenhada, é o seu mais recente livro e recebido (por essa, sua leitora) com grata alegria, pois se trata de uma “escrita de si”, sensível, em que o autor articula trajetória pessoal, familiar, por meio de sua concepção de cultura, cultura coletiva ou social. José de Souza Martins nos entrega, publicamente, sentimentos, segreda impressões sobre outros e sobre si mesmo em um “despudor” paradoxal, ou seja, maravilhoso e respeitoso. Ao terminar de ler, ficamos com a impressão de que, em alguma medida, a memória narrada por ele, a nós também pertence (ou pelo menos, não é estranha a boa parte dos brasileiros que viveram o século XX).
Minha geração é a dos filhos da Era Vargas, a geração dos que viveram a grande e complicada transição do Brasil pós-escravista do café para o Brasil da grande indústria; a geração das crianças e adolescentes que nasceram para o trabalho precoce, de diferentes modos, segundo a situação social de cada um, presas do labirinto da transição social (MARTINS, 1994, p. 447).
A obra, em apreço, se divide em 14 partes, tendo ainda um prólogo e uma conclusão, em que, numa teia intrincada de fatos e acontecimentos, José de Souza Martins vai desvendando a trama das memórias de sua família (portugueses, espanhóis e certa descendência muçulmana), “expulsa” da Europa pela pobreza, para trabalhar no Brasil na lavoura do café em São Paulo. O Sociólogo saiu à cata de saber quem é comboiando o sentimento de ausência deixada com a morte do pai, quando o autor ainda tinha cinco anos de idade, comboiando silêncios em torno de curiosidades do mundo da infância não respondidas na época. E acrescenta ainda:
Nós que procedemos do grande e ignorado mundo dos pobres, seres residuais da sociedade tradicional e pré-moderna que foi largando suas gentes por caminhos e veredas da transição para o mundo moderno, nascemos coadjuvantes da trama da vida, no meio do drama que já estava sendo encenado. Nossas pressas pessoais só têm sentido na lentidão do acontecer histórico (MARTINS, 1994, p. 443)
A narrativa de José de Souza Martins combina com as possíveis análises sobre “o ato de narrar”, como nas dimensões traçadas por Paul Ricouer (2010), sendo que para o filósofo, o vivido só faz sentido quando narrado, pois a narração apresenta uma compreensão desse mesmo vivido a quem narra, mas também a quem lê/ escuta.
E, é assim, que não falta na narrativa autobiográfica de Martins a análise acadêmica de seu autor, seus preceitos teóricos, metodológicos, suas visões de mundo. Nessa construção criativa, a todo o momento, José Martins coloca os trajetos pessoais dentro de uma perspectiva do social, o “eu” é ao mesmo tempo o “nós”, e nesse rico processo, nos explica a lenta ascensão familiar e assevera categoricamente:
Ninguém subia na vida sozinho […] O progresso individual como marco da modernização e das possibilidades pessoais na sociedade industrial é ficção. Só família, nunca sozinhas, ligadas a grupos sociais e instituições, como a vizinhança e, eventualmente, uma igreja, qualquer que seja ela. Sem essas referencias, a vida fica muito complicada (MARTINS, 1994, p. 281)
Retomamos, outrossim, Paul Ricoeur (2010) nas palavras do professor mineiro José Carlos Reis, no que concerne ao seu entendimento sobre a narrativa ricoueriana: “A necessidade em mim e fora de mim não é só percebida, representada, mas assumida como minha situação, minha condição desejante no mundo” (REIS, 2011, p. 259). É assim, que nos parece, que o Sociólogo narra a sua história; ele cria, simultaneamente, uma teia social que denúncia e anuncia as suas próprias ideias para o futuro, diz-nos qual a sua “condição desejante no mundo”.
Esta narrativa autobiográfica é […] uma narrativa etnográfica, um documento e uma explicação, um entendimento do que se passou na formação da classe trabalhadora no Brasil, na perspectiva do testemunho e da experiência pessoal […] O passado não está tão longe assim […] (MARTINS, 1994, p. 441)
É um Sociólogo militante. Ao narrar a sua trajetória, parece, ele mesmo, não acreditar que tenha chegado tão longe do destino posto ao “moleque de fábrica”, que ao nascer foi levantado ao alto pelos braços do pai e vaticinado por este como futuro trabalhador de carpintaria. Tal história, contada muitas vezes por familiares, foi lembrada no momento do juramento em 1993 ao assumir a Cátedra Simón Bolivar da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Escreve:
Descobriríamos, então, que favelas, cortiços, bairros operários, vilarejos rurais, habitações isoladas da roça, estão cheios de crianças promissoras, que só precisam de uma oportunidade, como a que eu tive, para irem além dos limites sociais de seu nascimento. Certamente há, até mesmo, gênios potenciais nesses lugares do supostamente negativo (MARTINS, 1994, p. 453)
A narrativa começa em um lugarejo em Portugal, em 1974, quando já pesquisador, participa de um evento naquele país, decide, por conta própria, viajar para o interior, com o objetivo de conhecer a cidade de nascimento do pai. Ao chegar ao vilarejo, realiza a primeira das descobertas que exibirá ao longo do enredo do livro: seu pai era filho de padre. Descobre-se, em meio a uma história de tabus, e compreende o silêncio dos familiares: “silêncio constrangedor”, “envergonhado”. E, nesse ponto da narração, mais precisamente na página 56 da obra em destaque, ele expõe a fotografia do avô padre, no caixão de morte e nos deixa comovidos confidenciando: “foi assim que conheci meu avô” (MARTINS, 1994, p. 57).
A partir daí, José de Souza Martins, desenrola uma narrativa que apresenta os dois lados da família (paterna e materna), por meio de encontros com pessoas e objetos. Sua família se constrói no que o sociólogo diz ser um mundo de “[…] certo realismo fantástico da cultura e nas mentalidades populares” (MARTINS, 1994, p. 10); são pessoas (o autor, igualmente) que atravessam o século XX, no limiar de representações de mundos díspares: o industrial e o artesanal; o urbano e o rural; o letrado e o analfabeto.
Trajetórias inseridas na problemática dos des-territorializados que são os migrantes (os simples, os pobres, os corridos), que perdem as referências de espaço e tempo coletivos e têm que refazer-se cultural e socialmente para darem conta de novas demandas. José Martins de Souza reflete:
A cronologia dos simples estende-se pelo longo e lento tempo da formação da sociedade moderna, o tempo que nos junta e nos separa. Por isso, o voltar atrás para compreender o incompreensível agora e o possível adiante. Bem pensadas as coisas, é a finitude que dá sentido ao que começa na vida e na história (MARTINS, 1994, p. 10)
A história do pobre ganha sentido na história lenta e de longa duração, ocorrida no cotidiano do trabalho; o cientista social a desenha por meio das suas próprias experiências e de familiares no quadro, denominado pelo professor, como da cultura popular. Como no exemplo, da avó materna, da qual ouvia a crônica familiar que chegava até o século XVIII, memórias dela e de outros que a mesma ouvira contar ou ouvira dizer.
Encontra, o autor, dimensões culturais do cotidiano como a divisão do mundo do trabalho por gênero, mulher na cozinha e homem na roça. O trabalho infantil, dado certo na aprendizagem do pobre. Os laços de compadrio, entre fazendeiros e colonos, na Europa e depois no Brasil, esticados para o paternalismo nas relações operário e patrão, já no mundo da fábrica e do urbano. É o escritor de “Poder do Atraso” (1994) nos alertando na sua condição de “desejante” para a continuidade de uma Sociedade e Estado marcados pelo mando dos donos da terra e mantendo-se conservadora e clientelista na transição do mundo rural para o urbano.
Lembra-nos do “infanticídio involuntário” comum na vida dos pobres, exemplifica com um caso da própria mãe, que “furtara” o remédio para vermes reservado à irmã, pois o dinheiro só dava para comprar o purgante para uma das filhas. Na sequência, o autor divaga contando-nos, quando aluno do curso de Ciências Sociais e trabalhava no setor de pesquisas de mercado de uma grande empresa de leite em pó, teve evidências que o leite de um programa social destinado ao Nordeste do Brasil às crianças pobres, acabava consumido pelo marido/pai, com o argumento que era ele que trabalhava, portanto a necessidade de priorizá-lo com o melhor alimento.
Enfim, a obra de José de Souza Martins se propõe a ser uma autobiografia de uma criança e de um jovem, pois a narrativa se encerra pouco depois da sua saída da fábrica para tentar uma educação distante do mundo do operariado, escreve-nos, “Memórias de operários, sobretudo de operários-crianças, são certamente raras, se é que existem” (MARTINS, 1994, p. 448). Alguns trabalhos hoje vêm problematizando a “invisibilidade” da criança e do jovem nas pesquisas acadêmicas como de Helena Abramo e Lúcia Rabello Castro, ambas da psicologia. As Ciências Sociais também tem se interessado pelo tema, inclusive com a presença de simpósios temáticos e cursos de curta duração, em encontros da área e exemplificamos com o trabalho organizado pela historiadora Mary Del Priori “História da Criança no Brasil” (1999).
É inegável que, entre os muitos aspectos na obra de José de Souza Martins que podem chamar a curiosidade ou a atenção privilegiada do leitor, salientei dois, que me comoveram mais fortemente na leitura desta obra: os aspectos relacionados à própria narrativa de si do autor e a sua perspectiva de dar visibilidade a uma fase da vida do ser humano considerada “nublada”, tanto no que diz respeito à historiografia quanto na experiência de vida de cada um de nós.
Mas, existem ainda outros aspectos significativos no livro do sociólogo que merecem ser conferidos por diferentes leitores, como é caso das grandes personagens que surgem página a página como o avô postiço, o próprio pai, sua tia Anna e tantos outros; mas também o próprio autor o “moleque de fábrica” com sua astúcia diária.
Referências
MARTINS, J. S. O Poder do Atraso. São Paulo: Hucitec, 1994.
MARTINS, J. S. Uma Arqueologia da Memória Social. Autobiografia de um Moleque de Fábrica. São Paulo: Ateliêr Editorial, 2011, p. 57.
REIS, José Carlos. História da “Consciência Histórica“ Ocidental Contemporânea. Belo Horizonte: Autentica, 2011, p. 259.
RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa. SP: Martins Fontes, 2010.
Ivaneide Barbosa Ulisses – Doutorada em História/UFMG. E-mail: [email protected]
MARTINS, José de Souza. Uma Arqueologia da Memória Social. Autobiografia de um Moleque de Fábrica. São Paulo: Ateliêr Editorial, 2011. Resenha de: ULISSES, Ivaneide Barbosa. “Foi assim que conheci meu avô…”: autobiografia da criança que nascerá para ser carpinteiro. Caminhos da História. Montes Claros, v. 17, n.1-2, p.241-245, 2012. Acessar publicação original [DR]
O mundo prodigioso que tenho na cabeça – Franz Kafka: um ensaio biográfico | L. Begley
Se existe um ‘significado inteligente’ a ser encontrado em ‘O veredicto’, Na colônia penal, A metamorfose, Amerika, O processo ou O castelo é a reação que essas obras provocam no leitor (BEGLEY, 2010, p. 240).
De que modo um romancista traduz sua ‘experiência de vida’ para a ‘criação literária’? Como compreender o movimento entre realidade, imaginação e romance? Por que ao reconstruir imaginativamente a realidade o romancista proporciona a possibilidade de refazer a própria experiência do vivido no leitor? Se essas perguntas são enigmáticas e instigantes para a grande maioria dos intérpretes dos romancistas modernos, para o caso de Franz Kafka (1883-1924) elas parecem ainda mais pertinentes, na medida em que seus livros se tornaram uma das chaves interpretativas dos ‘regimes totalitários’, das engrenagens dos sistemas burocráticos, e da própria Modernidade. Contudo, quando a questão é entender sua obra, seu pensamento e quem a produziu não existe nenhum tipo de consenso (ANDERS, 2007). Pelo contrário, ora se atribui a autor e obra uma mera reprodução dos sistemas, numa extensão global, de modo a fazer com que todos estejam encobertos por uma rede interconectada de ideologias, e que imporiam um efeito alienante constante (KOKIS, 1967), ora um delírio enigmático, formado por labirintos que em nada se aproximam da ‘realidade’, ou se o fazem é sempre de forma indireta (COSTA, 1983), ora manifestando a experiência traumática do autor, refeita em seus personagens (CALASSO, 2006), ora demonstrando a ‘visão de mundo’ teológica, produto do judaísmo de sua época (MANDELBAUM, 2003), ora criando a figura de um ‘anti-herói’, prisioneiro das organizações estatais e da burocracia, para as quais este não teria saída, muito menos o que poder fazer (NUNES, 1974), ou ainda, produtor de um projeto inconformista, ao mesmo tempo crítico da modernidade e de suas instituições, e insubmisso a elas (LOWY, 2005).
Não sendo indiferente a essas observações, Louis Begley tentou circunstanciar de que modo Kafka elaborou em suas narrativas ‘o mundo prodigioso que tinha na cabeça’. Para isso, o autor reviu a trajetória problemática do romancista com o pai; quais as relações que teria mantido com os judeus e interpretado suas histórias; de que modo viveu seus relacionamentos amorosos; como essa experiência é refeita na obra, produzindo uma nova experiência artística; e por que seus romances fincaram raízes profundas no Ocidente, por justamente conseguir pormenorizar as conseqüências da burocracia, das instituições e dos regimes totalitários, antes mesmo que estes alcançassem seu auge nos anos de 1930 e 1940. Em suas palavras:
O processo, com sua célebre primeira sentença – ‘Alguém certamente havia caluniado Josef K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum’ – e os trâmites movidos contra K. por um sistema judicial secreto, parecem prefigurar tão claramente a vida sob os regimes totalitários no século XX, com suas leis secretas e seu terror de Estado policial, que inevitavelmente os leitores se admiraram do descortino que Kafka teve da história e da política. Poderia esse romance, publicado em 1925 mas escrito entre o outono de 1914 e janeiro de 1915, portanto antes dos eventos seminais dos regimes bolchevique, fascista e nazista, ter sido uma profecia velada? Esse autor apolítico e reservado teria antevisto a chegada de uma catástrofe que ainda era invisível para grandes estadistas? Nada nos diários de Kafka, em sua correspondência ou nas recordações de seus amigos sugere isso. A resposta há de ser que a visão de Kafka, que consistia tão somente nas coisas tais como elas eram, revelou-se misteriosamente congruente com a realidade do futuro próximo. O amplo material que a formou incluiu: a experiência de Kafka como um súdito Habsburgo e, como estagiário no Tribunal de Praga, com a esclerosada mas ainda toda-poderosa burocracia do império e seus procedimentos labirínticos, ‘kafkianos’; o íntimo conhecimento da burocracia e da arcana regulamentação do Instituto de Seguro; o trato com vítimas de acidente de trabalho cujas reivindicações chegavam às suas mãos, e contra às quais ele às vezes era obrigado a litigar; o virulento e onipresente antissemitismo tcheco, que lhe ensinou lições inesquecíveis sobre o significado de ser rejeitado e desprezado por seus vizinhos; e, obviamente, tudo aquilo que ele censurava em seu pai: brutalidade, veleidade e injustiça (p. 213-14).
Para alcançar esses objetivos, Begley toma como base as correspondências, os diários e os textos produzidos pelo autor. Com o intento de analisar como essa documentação foi produzida, como foi sendo articula, que relações estabeleceu com a obra, como exemplifica em:
Depois de mais uma sessão intensa de estudos no ano acadêmico de 1905-6, Kafka passou raspando nos exames de qualificação e em 16 de junho de 1906 recebeu o grau de doutor em direito. Já fizera um estágio não remunerado de dois meses no escritório de um advogado em Praga, e foi então estagiar durante o ano acadêmico de 1906-7 no tribunal de Praga, primeiro na área civil, em seguida na criminal. Esse treinamento era pré-requisito apenas para o ingresso no funcionalismo público da Áustria, e portanto desnecessário no caso de Kafka. No entanto, revelou-se uma dádiva, pois deu-lhe acesso a material que ele aproveitou quando escreveu sobre o tribunal em O processo. Ele adquiriria mais material valioso – a experiência pessoal no funcionamento da burocracia estatal – trabalhando para a empresa que o empregaria por toda a vida, uma seguradora semiestatal, de meados de 1908 até meados de 1922, e o usaria em O castelo e O processo (2010, p. 36).
E:
É bem comum que filhos incompreendidos de pais filisteus deixem a casa paterna, especialmente depois de, como Kafka, obterem um emprego que lhes permita um grau razoável de independência financeira. Escritores pobres demitiram-se de empregos seguros para atender ao chamado da Musa, enfrentando com bravura a penúria e coisas piores. Kafka não era desse feitio. Ele não abriu mão do Instituto de Seguro antes de seu médico declará-lo incapaz para o trabalho. Quando deixou Praga em setembro de 1923 e foi para Berlim, era um homem desesperadamente doente, e mesmo então manteve a ficção de que era apenas uma mudança temporária e de que logo retornaria (p. 51).
A mesma sensibilidade foi dedicada ao examinar como Kafka interpretou as práticas religiosas judaicas, e como elas serviram para que este pudesse pensar seu mundo. Para ele, “Kafka era um mestre da dialética e raramente se punha apenas de um lado em uma argumentação” (p. 80). Mas, o “purismo do alto alemão da prosa de Kafka, a austeridade de sua linguagem e as ocasionais singularidades de sua grafia e uso da língua também são produtos de sua educação praguense” (p. 78).
De igual modo se aplicou a investigar como foram seus relacionamentos e que experiências absorveu deles. Em suas palavras:
Com exceção dos momentos de triunfo nos quais ele escreveu suas melhores obras e, a partir de 1917, dos momentos que marcaram o avanço de sua doença, os eventos que se destacam na vida de Kafka são suas peripécias atrás de mulheres seguidas por frenéticas tentativas de escapar delas. Duas de suas amadas, Felice Bauer e Milena Jensenská, foram imortalizadas em cartas que ele lhes escreveu e quis que fossem destruídas. Outras foram importantes: Dora Diamant, a moça judia polonesa que se amasiou com Kafka no fim do verão de 1923; a pequena Julie Wohryzek, sua noiva durante um breve período que se seguiu ao término definitivo do relacionamento com Felice e se encerrou com a entrada em cena de Milena, em 1920; a jovem cristã por quem ele esteve brevemente enamorado durante uma temporada de duas semanas em um sanatório de Riva no outono de 1913; Hedwig Weiler, jovem estudante de Viena, que ele conheceu em Triesch no verão de 1907; e uma misteriosa e nunca identificada mulher madura que foi paciente no mesmo sanatório em que ele esteve internado em 1905 em Zuckmantel (p. 88).
Ainda demonstra a importância que as correspondências tinham para o autor, principalmente, quando não obtinha resposta de suas cartas, e transparecer uma reação histérica e compulsiva ao escrever outras cartas procurando saber por que as anteriores não haviam sido respondidas. Preocupa-se em deixar claro quais as aproximações e os distanciamentos entre seus relacionamentos amorosos e a sua produção literária, em especial, no momento em que compôs partes de O processo, entre 1914 e 1915. Para ele:
A vida de Kafka comanda tão imperativamente o nosso interesse porque seus textos curtos e novelas estão entre as mais originais e magistrais obras da literatura do século XX. Sem eles, pouco restaria para que nos lembrássemos dele: esse homem reservadíssimo e introvertido teria sido apenas mais um judeu germanófono entre os 146 098 cristãos e judeus falantes do tcheco e do alemão que morreram na Tchecoslováquia em 1924, no mesmo ano que ele (p. 159).
Mas, ao se voltar mais diretamente para a obra, o autor indica: primeiro, de que modo Kafka a pensou e a articulou, em seguida, quais suas principais características e objetivos. No primeiro caso, detêm-se sobre ‘O foguista’, A metamorfose e ‘O veredicto’, indicando que um tema em comum entre esses textos diz respeito a maneira como os filhos, de uma forma ou de outra, além de estarem dependentes dos pais, sendo submissos a suas vontades, também seriam impotentes ao tentarem se rebelar ou procurar mudar o exercício dessas relações de dominação; as quais o autor pensou em até publicá-las em conjunto sob o título de Os filhos. Para o segundo ponto, vale indicar alguns pequenos exemplos. Para ele:
A família Samsa de A metamorfose fica horrorizada e em choque ao ver que Gregor transformou-se num gigantesco inseto, mas nem o pai nem a irmã evidenciam algo parecido com espanto. Na história de Na colônia penal, o explorador acha repugnante o sistema judiciário, mas nunca lhe ocorre indagar se poderia estar no meio de um pesadelo. Em O processo, a truculência de Josef K. segue o ritmo de sua crescente compreensão do bizarro funcionamento dos trâmites jurídicos, mas ele não contesta sua realidade. Em vez disso, diz ao Inspetor que não está ‘de modo algum muito surpreso’ com as estranhas circunstâncias de sua prisão. No mundo de Kafka, a história é o que é: a realidade é como é retratada (p. 178).
O universo argumentativo de Kafka se moveria formando diversos labirintos, em que, quase sempre, ninguém “houve e ninguém responde”, por que os “circundantes, se houver algum, se mostrarão tão indiferentes quanto o explorador de Na colônia penal, e igualmente pouco propensos a ajudar” (p. 202). E:
Semelhante nesse aspecto a ‘O veredicto’, O processo é um romance com um pé na tradição realista do século XIX. Lendo pela primeira vez o primeiro capítulo, poderíamos pensar que estamos entrando em um mundo ficcional aparentado com os de Gogol, Dostoievski e Flaubert. Essa impressão dissipa-se com o prosseguimento da leitura: percebemos que por trás dos cenários e eventos minuciosamente descritos opera uma força que os distorce e cria uma contrarrealidade. No centro da contrarrealidade estão os tribunais especiais, desconhecidos por K., e a constituição e a lei vigentes em seu país. Entretanto, praticamente todos os demais parecem estar a par do segredo: a sra. Grubach e a srta. Bürstner, os três funcionários que trabalham no banco de K., o tio de K. e o industrial, cliente do banco de K., que o encaminha ao pintor Titorelli. Isso sem contar os que são empregados periféricos dos tribunais, como a lavadeira e seu marido, e os que estão envolvidos nos trâmites da justiça: o advogado Huld e sua enfermeira e criada, Leni, e o comerciante Block, que também tem um caso pendente no tribunal. A ingenuidade e ignorância de K. são verdadeiramente espantosas (p. 218-19).
Assim, “cada pessoa está completamente só”, e é “possível que Josef K. descubra essa verdade em seu último instante de consciência, e que o mesmo se dê com outras grandes vítimas da ficção de Kafka”; esse talvez “seja o segredo por trás da anomia do explorador” (p. 241). Em todo caso, para ele:
O castelo é um romance mais rico do que O processo na amplitude da narrativa, no desenvolvimento de personagens secundários cativantes e inesquecíveis (Frieda, Olga, Amália, as duas albergueiras da aldeia, Pepi e Bürgel, entre outros) e nas descrições da aldeia sem nome coberta de neve e dos interiores de estalagens e cabanas de camponeses que fazem lembrar as pinturas de Peter Bruegel. […] No centro do romance há uma busca incansável e inquietante: a de K., um andarilho, um estranho, cuja identidade limitase a uma inicial. Ele deixou uma terra distante de nome não mencionado, à qual talvez não lhe seja possível retornar. Ostensivamente, K. procura assumir o cargo de agrimensor da aldeia, para o qual as autoridades do castelo podem ou não tê-lo contratado. O castelo domina sobranceiro a aldeia aonde K. chegou, e abriga a toda-poderosa administração a serviço de seu senhor, o conde Westwest. Se K. realmente foi contratado pelo castelo, pode ter sido por engano. Entretanto, há uma versão diferente para a busca de K., que ele revela quando o romance está a meio caminho: K. gostaria de ter chegado à aldeia sem ser notado, sem alarde, para poder encontrar um bom trabalho estável como agricultor. Essa questão nunca é esclarecida, e as intenções de K. não se tornam claras. Mesmo o desejo mais modesto, porém, muito provavelmente teria sido negado (p. 229).
Ainda que esta seja a obra de Kafka que menos desafie “a credulidade do leitor”:
Há muitas ligações temáticas entre O processo e O castelo, o complexo, atravancado e comovente belo último romance de Kafka. Os dois protagonistas – Josef K. no primeiro, K. no segundo – lutam em um labirinto que às vezes parece ter sido concebido de propósito para frustrá-los e derrotá-los. Mais frequentemente, o oposto parece valer: não há um propósito; o labirinto simplesmente existe. Josef K. busca justiça, absolvição de um crime que ele desconhece e do qual o acusam. O objetivo de K. é menos certo (p. 228-29).
Portanto, movendo-se pela vida e a obra de Kafka, e pelas circunstâncias que a deram origem, o autor, embora refaça seus caminhos e estabeleça nexos de identificação plausíveis com outras leituras, como a de Hanna Arendt e de Walter Benjamin, não há como negar que, para ele, autor e obra estariam imersos num circulo de submissões ao sistema institucional e burocrático, cerceado por labirintos e efeitos alienadores. Kafka seria apolítico, o que talvez pareça ingênuo, dadas as suas ligações estreitas com o anarquismo, mesmo que não diretamente partidárias (LOWY, 2005). Ainda assim, seus méritos são evidentes. De leitura agradável e envolvente, este livro permite que o leitor sobrevoe e reencontre o ‘mundo prodigioso que’ Kafka tinha ‘na cabeça’.
Referências
ANDERS, G. Kafka: pró & contra. Tradução, posfácio e notas de Modesto Carone. São Paulo: Cosac Naify, 2007 (1ª ed. 1951, e a nacional de 1969).
CALASSO, R. K. Tradução de Samuel Titan Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
COSTA, F. M. Franz Kafka – o profeta do espanto. São Paulo: Brasiliense, 1983.
KOKIS, S. Franz Kafka e a expressão da realidade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967.
LOWY, M. Franz Kafka: sonhador insubmisso. São Paulo: Azougue Editorial, 2005 (1ª ed. 2003).
MANDELBAUM, E. Franz Kafka: um judaísmo na ponte do impossível. São Paulo: Perspectiva, 2003.
NUNES, D. Franz Kafka: vida heróica de um anti-herói. Rio de Janeiro: Bloch, 1974.
Diogo da Silva Roriz – Doutorando em História pela UFPR, bolsista do CNPq. Mestre em História pelo programa de pós-graduação da UNESP, Campus de Franca. Professor do departamento de História da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Campus de Amambai, em afastamento integral para estudos. E-mail: [email protected]
BEGLEY, L. O mundo prodigioso que tenho na cabeça – Franz Kafka: um ensaio biográfico. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Resenha de: RORIZ, Diogo da Silva. O enigmático mundo de Franz Kafka (1883-1924). Caminhos da História. Montes Claros, v. 15, n. 2, p.143-148, 2010. Acessar publicação original [DR]
Caminhos da História | Unimontes | 2010
Caminhos da História (Montes Claros, 2010-) é uma publicação do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).
Sua ênfase está na difusão do conhecimento na História, especialmente de pesquisas originais. Contudo, é aberta para contribuições de outras áreas do conhecimento, sempre que os artigos submetidos apresentarem vínculos explícitos com a História.
Periodicidade semestral
Acesso livre
ISSN 1517-3771 (Impresso)
ISSN 23050875 (Online)
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos