Posts com a Tag ‘Escola’
Atlas de imagens– história da educação e da escola | Robert Alt
O Atlas de imagens – história da educação e da escola, de autoria de Robert Alt1, foi publicado por Pedro & João Editores em 2021. A tradução, a introdução e as notas são de Bernd Fichtner2 e de João Wanderley Geraldi3; já o prefácio foi escrito por Nilda Alves4. Leia Mais
Escola no Rio Grande do Sul (1889-1950): ensino/culturas e práticas escolares | Jsé Edimar de Souza
A obra Escola no Rio Grande do Sul (1889-1950): ensino, culturas e práticas escolares (Caxias do Sul, editora Educs, 2020, 476 páginas, e-book), organizada pelo professor e pesquisador José Edimar de Souza evidencia o esforço do seu organizador em contribuir para o campo da história da educação no Rio Grande do Sul. O livro está estruturado em quatro eixos de abordagem, os quais serão explorados no decorrer desta resenha. Ao compor a obra desta forma, o autor nos propicia estabelecer um panorama das produções acadêmicas sobre instituições escolares no estado. Da mesma forma, entendemos que tal organização permite ao leitor perceber os diferentes rumos e segmentos que a pesquisa sobre instituições pode tomar. A obra é prefaciada pelo professor António Gomes Ferreira, da Universidade de Coimbra, cujos estudos se dedicam ao campo da História da Educação, Políticas educacionais e Educação Comparada. Leia Mais
La Escuela en tiempos de migración: la voz de los actores educativos | D. Castillo, E. Thayer, R. Santa Cruz e C. Gajardo
Luis Eduardo Thayer | Imagem: Diario UChile
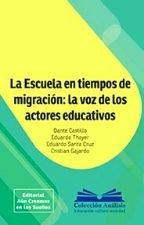
La afirmación que abre esta investigación es la siguiente: “Chile es un país de inmigración” (Castillo et al., p. 7). Esta aseveración es corroborada mediante referencias estadísticas que reflejan el incremento de los ciclos migratorios que han afectado a nuestro país, a partir de la década del noventa. Desde entonces, la tasa de extranjeros residentes en Chile evidencia un crecimiento permanente, por ejemplo, en el periodo comprendido entre el censo de 1992 y 2002, la población migrante aumentó un 75%; mientras que en el recuento poblacional de 2012, estos índices se alzaron sobre un 160% (Castillo et al., p. 10). Según los datos que entregó el Instituto Nacional de Estadística en diciembre de 2018, en Chile habitan 1.200.000 extranjeros, es decir, la tasa migrante corresponde al 6,6% de toda la población (Castillo et al., p. 10). Leia Mais
Investigación y buenas prácticas en educación patrimonial entre la escuela y el museo. Territorio, emociones y ciudadanía | José María Cuenca López, Jesús Estepa Giménez, Myriam J. Martín Cáceres
Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo durante cinco años (2016- 2020) en el Proyecto I+D+i Epitec (Educación patrimonial para la inteligencia territorial y emocional de la ciudadanía. Análisis de buenas prácticas, diseño e intervención en la enseñanza obligatoria), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y los Fondos FEDER, nace este libro de 28 capítulos cuya pretensión es analizar las interrelaciones que confluyen entre los ámbitos de educación formal (escuela) y no formal (museo) en el marco de la educación patrimonial; y contribuir a un mayor entendimiento de las conexiones reales entre ambos contextos cuando el patrimonio se inserta en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cobrando especial relevancia aspectos como la inteligencia territorial, las competencias emocionales y la educación ciudadana en las propuestas didácticas desarrolladas. El libro se encuentra organizado en cuatro bloques diferenciados y perfectamente estructurados, con la aportación en forma de capítulos de 45 autores de prestigio que han participado activamente en el desarrollo del proyecto. Esta ordenación por bloques nos ofrece una visión más clara y certera para comprender los entresijos que lleva consigo la planificación, propuesta y consecución de un proyecto ambicioso, de enorme relevancia para la educación y de tal magnitud, no obstante estamos hablando de una iniciativa coordinada entre numerosos participantes y colaboradores nacionales e internacionales (España, Portugal, Italia, Chile y Estados Unidos). Leia Mais
Ratio Studiorum da Companhia de Jesus (1599): Regime Escolar e Plano de Estudos
“Tem valor a publicação de um texto educativo do século XVI quando, em pleno século XXI nos encontramos com diversos aportes pedagógicos mais variados e entrelaçados com as ciências humanas”? Esta é a pergunta que Luiz Fernando Klein faz ao prefaciar a obra Ratio Studiorum da Companhia de Jesus: Regime Escolar e Planos de Estudos, publicada recentemente em Portugal, pela professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Margarida Miranda. A esta questão, o próprio Klein responde que o lugar da Ratio Studiorum é insubstituível na história da pedagogia, pois foi a primeira sistematização de estudos que se fez no mundo moderno e possui lugar assegurado nos currículos dos cursos de formação em educação na maioria das instituições educativas de nível superior.
A única publicação da Ratio Studiorum em língua portuguesa era a do padre Leonel Franca, em 1952, por meio da Editora Agir, no Rio de Janeiro, sob o título de O método pedagógico dos jesuítas, porém, há muito tempo esgotada. Depois dessa publicação, somente em 2019 a Editora Kírion fez uma nova republicação dessa mesma tradução. De modo que, a publicação realizada pela professora Margarida, em 2018, veio atender a uma necessidade da comunidade acadêmica de língua portuguesa. Leia Mais
Research on teaching global issues: Pedagogy for global citizenship education – MYERS (JISS)
John Myars. Florida State University .
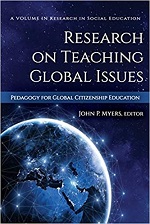
The recent novel coronavirus (COVID-19) pandemic has brought a number of urgent global issues to the fore, including public health, economic development, and universal education. Addressing these issues requires increased international collaboration, research, and instruction. In recent decades, global citizenship education (GCE) has sought to foster the very cross-cultural awareness and cooperation needed to solve pressing global challenges. As an increasingly important and timely discipline, GCE continues to be a source of growing scholarship.
Research on Teaching Global Issues: Pedagogy for Global Citizenship Education is the latest look at critical global issues and the need for related education. It is a topical read for educational stakeholders (teachers, administrators, curriculum writers, policymakers) trying to navigate the pedagogical priorities of an increasingly globalized world, particularly now in light of COVID-19. Edited by John Myers, Research on Teaching Global Issues serves as a guide for incorporating pressing global issues in curricula and classrooms, be they issues of public health, sustainability, poverty, hunger, gender equality, or education.
Research on Teaching Global Issues comprises two parts. The first (Chapters 2-4) considers “the educational contexts and policies that shape how global issues are taught in schools” (p. 7). The second (Chapters 5-9) covers “case studies of global issues in classrooms and schools” (p. 8). In the introductory chapter, Myers provides helpful context and frames the book’s raison d’être: “to bring the worlds of youth interest and engagement with global issues in closer alignment with the democratic purposes of schooling in a global age” (p. 3). Myers accordingly stresses that schools and teachers prepare students to become engaged citizens through the critical examination (e.g., pedagogy debates and discussions in a democratic classroom) of global issues.
In Chapter 2, Yemini, Goren, and Tibbitts undertake an ambitious quantitative network analysis of scholarship concerning GCE and teacher education. Focusing on scholarly literature from 2006 to 2017, the authors identify four main clusters: “subject areas and disciplines”; “globalization and culture”; “education for environmental sustainability”; and “language learning” (p. 16). While observing an increased scholarly interest in these fields, they recognize the need for more research on GCE and teacher education.
In Chapter 3, Shultz, Pillay, Karsgaard, and Pashby use a deliberative pedagogy to engage students from various nations in remote and in-person instruction as part of a UNESCO initiative. Notably, the participating students viewed global citizenship through the prism of equity and justice (i.e., interconnection and complexity; diversity and difference; community, relationality, and compassion). The authors emphasize the importance of student input (16- to 18-year-olds) in designing and developing GCE curricula, while providing a critical look at mainstream GCE views.
In Chapter 4, Rapoport conducts a content analysis of U.S. state social studies standards and related curricular documents that refer to an inquiry-based framework (C3 Framework). While more states over the past decade have incorporated global citizenship (or similar terminology) in their social studies standards, Rapoport rightly concludes that there is insufficient emphasis on transformative critical GCE.
In Chapter 5, Bourn reviews how certain schools in the UK, in conjunction with the Fairtrade Foundation’s Award Program, address fairtrade through classroom activities and school clubs. Despite the potential limitations of such instruction (e.g., providing simplistic causes or answers to unjust trade practices or poverty), Bourn finds that teaching about fairtrade generates student interest, engenders empathy, and develops a global mindset based on awareness and social justice.
In Chapter 6, Cruz, Ellerbrock, Denney, and Viera spotlight InsideART, an innovative University of South Florida program for secondary social studies and visual art teachers incorporating contemporary art into their curriculum (e.g., using open-access material) and teaching global issues. Through workshop evaluations and teacher interviews, the authors conclude that collaboration with museum curators/educators, college professors, and global artists can increase awareness of global and social issues, make these issues relevant for students, and provide more instructional flexibility despite implementation obstacles.
In Chapter 7, Baildon and Bott conduct a revealing case study at a public secondary school in Singapore that adopted a GCE curriculum focused on experiential and student-centered learning. According to the authors, the school does provide more opportunities for students to discuss and analyze global issues by emphasizing values (e.g., caring, empathy) and volunteerism, despite national curricular constraints. However, with insufficient critical inquiry of certain global issues, the authors correctly point out the need for a more transformative GCE curriculum.
In Chapter 8, Bardo advances a thought-provoking conceptual model that serves to foster cultural self-awareness. Through a simulation, he demonstrates how experiential learning activities can help students separate themselves from their cultural positioning and develop a more informed global outlook.
In Chapter 9, Chong argues, persuasively, why the Hong Kong Special Administrative Region should make GCE an integral part of school curricula and teaching methods, in response to recent government efforts to promote national identity over the teaching of global issues. He also provides conceptual, curricular, and pedagogical considerations for teachers tasked with preparing active global citizens.
Despite the range of topics covered in the book, three common themes emerge. First, teachers need more professional development and training to help students critically examine global issues. Second, schools need to embrace critical and transformative GCE, including analyzing non-Western perspectives from the Global South and examining sources of inequality and poverty. This also involves rewriting curricula, designing frameworks, and implementing new pedagogical approaches consistent with forward-thinking GCE values. Third, schools should groom justice-oriented citizens prepared to take action to solve urgent global challenges. This requires students not only to exercise basic civic duties locally or nationally but to become global agents of change.
In sum, Research in Teaching Global Issues spans far-reaching GCE-related topics ranging from teacher education to student engagement, from curriculum frameworks to an interdisciplinary whole-school approach, from school-university partnerships to innovative global studies programs, and from new conceptual models to novel pedagogical practices. For aspiring and established GCE scholars, the book offers insight into recent related literature and an opportunity to consider and analyze new perspectives. For teachers, department chairs, and directors of curriculum and instruction, the book offers lessons from on-point case studies. And, for scholar-practitioners, it is a how-to guide to translate research into practice and reflect on the multi-purpose value of GCE.
This book methodically examines the complexities associated with teaching such a broad discipline. The coherence and flow of each chapter stand out. The careful scrutiny of GCE curriculum and pedagogy also warrants note. Research in Teaching Global Issues serves as a springboard for future research. More attention should be given to both pre-service and in-service GCE training. More studies should look at pioneering schools already engaged in critical inquiry of GCE. And, in a post-COVID-19 world, more should connect with like-minded GCE educators committed to helping students create a better world.
Evan Saperstein – Is an adjunct professor at William Paterson University and a high school social studies teacher in New Jersey. His research interests include global citizenship education, experiential learning, service-learning, curriculum development, and pedagogy. E-mail: [email protected]
[IF]Instrução pública e projeto civilizador: o século XVIII como intérprete da ciência, da infância e da escola | Carlota Boto
Com análise acurada e aprofundada pesquisa, Carlota Boto ofereceu ao público leitor um estudo atento acerca de temas fundamentais para a História da Educação, como as concepções de ciência, infância e escola. O livro Instrução pública e projeto civilizador é resultado da tese de livre-docência da autora, defendida em 2011, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e publicada em 2017, pela Editora Unesp.
A pesquisadora é reconhecida pelas discussões e trabalhos que desenvolve no campo da História da Educação no Brasil. Pedagoga e historiadora, mestre em Educação e doutora em História Social, Carlota Boto é atualmente Professora Titular da Faculdade de Educação da USP (FEUSP). Entre seus diversos livros, capítulos e artigos publicados em periódicos, merece destaque A escola do homem novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa, publicado pela Editora Unesp, em 1996.
Em Instrução pública e projeto civilizador, a autora desenvolveu uma análise sobre alguns dos pensadores do século XVIII que se preocupavam com questões muito proeminentes à sua época, relativas, sobretudo, às ideias de aprimoramento da vida em sociedade e de construção de um novo modelo sociopolítico. O objetivo principal do estudo foi identificar esses sujeitos como intelectuais e homens de saber que atuaram na esfera pública propondo ideias e discutindo questões complexas, no interesse último de lançar as bases para a nova sociedade que se forjava naquele período (BOTO, 2017). Uma das discussões que atraíram a atenção desses intelectuais com mais vigor, como demonstrado no livro, dizia respeito à instrução pública e seu papel civilizador na sociedade moderna.
Do objetivo traçado na pesquisa que deu origem ao livro emergiu uma categoria conceitual que teve importância fundamental no desenvolvimento de toda a análise: a noção de intelectual. Em vista da relevância do conceito, Carlota Boto dedicou um preâmbulo especialmente para discuti-lo. A partir de um esforço teórico, a autora buscou arregimentar diversas conceituações acerca da figura do intelectual na história, mobilizando autores que se ocuparam desse tema, desde o século XVIII até os dias atuais. Assim, as concepções construídas a partir das reflexões de Julian Benda, Max Weber, Norberto Bobbio, Antonio Gramsci, Jean-Paul Sartre e Edward Said, com seus encontros e desencontros, foram articuladas visando definir o que a historiadora chamou de “modo de ser iluminista” (BOTO, 2017, p. 23). Este modo de ser, no que se diz respeito aos homens de letras cujas obras foram analisadas no livro, se caracterizava por uma atitude ativa perante a esfera pública. Os escritores no Iluminismo se constituíam, para a autora, como intérpretes e analistas de seu próprio tempo (BOTO, 2017).
A partir dessa base teórica, a pesquisadora transcorreu pelos vários textos e autores ilustrados que formaram a matéria prima do seu estudo. Todos os letrados analisados foram compreendidos como representantes do “modo de ser iluminista”, empenhados na construção de alternativas para os problemas políticos e sociais.
Instrução pública e projeto civilizador é composto por três grandes capítulos, subdivididos em vários tópicos, nos quais a autora, com escrita fluída e narrativa coesa, analisou a produção de pensadores iluministas, articulando-a ao contexto político e cultural do século XVIII. De forma sutil e indireta, cada um dos capítulos revela, num nível mais profundo, um estudo sobre as três categorias que formam o subtítulo do livro: ciência, infância e escola.
Na primeira parte, intitulada Iluminismo em territórios pombalinos: a formação de funcionários como alicerce da nação, Carlota Boto tomou como objeto de pesquisa a produção de três autores portugueses que, segundo ela, construíram suas reflexões tendo como base as experiências filosóficas iluministas: D. Luís da Cunha (1662-1749), António Nunes Ribeiro Sanches (1699-1782) e Luís António Verney (1713-1792). O objetivo principal da autora foi apontar para a intrínseca relação entre as ideias pedagógicas e científicas desses intelectuais e o projeto de reforma do Estado português, empreendido por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, Secretário de Estado dos Negócios do Reino de Portugal, a partir de 1759.
O argumento central do capítulo é a afirmação de que ação estatal dirigida pelo Marquês de Pombal, especialmente no que tange à educação e à ciência, foi referenciada nas reflexões teóricas dos autores iluministas em foco no estudo. Assim, para a autora, analisar a obra desse grupo de letrados corresponde a investigar parte das diretrizes e orientações centrais da pedagogia encampada e difundida pelo Estado português sob a direção de Pombal.
Para a realização da análise, foram mobilizados dois grupos de fontes. O primeiro é composto por livros e tratados dos três homens de letras estudados pela pesquisadora. Já o segundo conjunto abarca documentos relativos às reformas pombalinas na Universidade de Coimbra, como o Compêndio histórico do estado da Universidade de Coimbra (1771) e os Estatutos da Universidade de Coimbra (1772). O último, conforme a autora, pode ser considerado “o principal arcabouço da modernidade portuguesa do século XVIII em matéria de educação” (BOTO, 2017, p. 150).
A primeira parte do estudo apresenta, assim, uma discussão ampla a respeito de temas variados. A análise se deteve sobre o pensamento de cada um dos autores em foco, de maneira atenta e específica. Além disso, a historiadora se debruçou sobre a organização da escola pública traçada pelo Marquês de Pombal, bem como sobre a reformulação dos cursos e da estrutura da Universidade de Coimbra. Contudo, merece destaque o fato de que toda a narrativa esteve marcada por uma assertiva comum e sempre presente. Tratase da afirmação de que o pensamento dos iluministas portugueses e as reformas pombalinas favoreceram a elevação do alicerce central que conduziu o movimento de modernização em Portugal durante o século XVIII, qual seja, a ciência moderna pautada pela secularização, pela racionalização e pela ampliação do papel do Estado nos campos acadêmicos.
Na segunda parte do livro, a pesquisadora dedicou-se ao estudo da obra de outro importante personagem do Iluminismo, Jean-Jacques Rousseau. Intitulado Política e pedagogia na arquitetura ilustrada de Rousseau, o segundo capítulo teve por objetivo analisar os escritos do filósofo buscando identificar a correlação entre seu pensamento político e suas ideias pedagógicas. Segundo o argumento central, Rousseau representa a síntese da sensibilidade social que marcou o período da Ilustração na Europa. Para a autora, sua doutrina política e pedagógica passou a representar um marco fundamental na organização do mundo político e social engendrado pelo Iluminismo, tendo grande influência nas práticas educativas. Nesse sentido, o intelectual francês seria um “autor primordial para se compreender a moderna acepção de criança” (BOTO, 2017, p. 182).
Para a efetivação dessa análise, Carlota Boto se propôs a realizar uma revisão bibliográfica dos escritos do teórico, dando ênfase a sua literatura pedagógica. Paralelamente, a pesquisadora buscou refletir sobre aspectos biográficos do autor do Emílio, apontando para um entrelaçamento entre sua vida e obra. Assim, foram colocados em foco, diversos textos publicados por Rousseau, em diferentes momentos de sua vida, dentre os quais o Discurso sobre as ciências e as artes (1749), o Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens (1755), as Considerações sobre o governo da Polônia e sua projetada reforma (1772) e – a principal delas – o Emílio (1762).
Na investigação, foram retomados alguns dos temas principais do pensamento rousseauniano, já amplamente discutidos pela historiografia, como o do “estado de natureza” e o da crítica ao processo civilizador. Entretanto, a análise empreendida foi além das discussões consideradas clássicas e se baseou em um mote principal: a ideia de infância. O grande acerto do argumento que orienta a narrativa reside na identificação da ligação estreita entre a compreensão política e as ideias pedagógicas de Rousseau. A partir dessa perspectiva, a autora alcançou uma discussão mais profunda sobre a importância da educação para o modelo de sociedade proposto na literatura iluminista.
Uma das assertivas principais, nesse sentido, aponta para a existência de uma crítica ao modelo pedagógico vigente no século XVIII, isto é, o modelo jesuítico. Segundo a autora, no julgamento que Rousseau empreende a respeito do processo civilizador, a afetação dos costumes é compreendida como a responsável pelo afastamento do ser humano da perfectibilidade do estado de natureza. A crítica se dirige, conforme esse argumento, também à educação praticada nos colégios da época, marcados pelo ensino da polidez. O modelo pedagógico dos colégios era apontado pelo intelectual francês como voltado para o cultivo de falsos valores e, assim, responsável pela corrupção do ser humano e da sociedade civil (BOTO, 2017).
Ao analisar a escrita do Emílio, Carlota Boto defendeu que, mais do que um tratado de pedagogia, o livro é voltado para a compreensão da infância como uma das fases principais da vida humana. Segundo a historiadora, naquela obra, a reflexão sobre a idade pueril estava relacionada à possibilidade de entendimento do homem no estado de natureza, uma vez que a criança guardaria os resquícios do que foi o homem natural. Em seu tratado, Rousseau construiu uma análise que põe em destaque a infância como um estágio específico da vida, cuja marca principal é a possibilidade do aprendizado. Esse período da existência humana foi assim alçado à categoria de objeto de investigação para a compreensão da sociedade. A partir dessa operação, o autor do Emílio alcançou novidades importantes para o seu tempo e que seriam definidoras das práticas educativas posteriores, entre as quais se sublinha a definição mais precisa das diferentes fases da vida. Nas palavras da autora, “Rousseau, esticou a infância; ao nomeá-la, ele a prolongou” (BOTO, 2017, p. 261). E essa foi sua contribuição mais original.
O terceiro capítulo de Instrução pública e projeto civilizador, complementando os dois anteriores, é dedicado ao último item que compõe o subtítulo do livro: a escola. Para discutir o tema, a autora se ocupou em investigar a obra de um protagonista da Revolução Francesa, o Marquês de Condorcet. Nessa parte, foi desenvolvida uma análise em conjunto das concepções pedagógicas e da filosofia da história concebida pelo personagem. Novamente, as fontes utilizadas foram as obras do próprio autor, sendo as principais o Esboço para um quadro histórico dos progressos do espírito humano (1795) e as Cinco memórias sobre instrução pública (1791).
De antemão, a historiadora empreendeu uma reflexão acerca das concepções de história e de modernidade presentes no pensamento de Condorcet. O interesse principal foi analisar a doutrina e evidenciar a filosofia da história construída no Esboço, destacando a característica etapista e teleológica do desenvolvimento histórico que marcam a obra. Como herdeiro direto do Iluminismo, o intelectual construiu uma narrativa sobre a caminhada dos homens na história em direção ao aperfeiçoamento e ao progresso. Baseando-se na noção de perfectibilidade humana, tradição do pensamento ilustrado, Condorcet apontou para a capacidade do ser humano de aperfeiçoar a si e ao seu meio através de etapas sucessivas (BOTO, 2017).
Posteriormente, a autora analisou também as ideias pedagógicas do teórico, buscando enfatizar suas reflexões acerca da instrução pública enquanto política de Estado. Segundo o argumento central, a instrução apareceu no pensamento do intelectual francês como materialização de sua filosofia da história. O modelo de escola formulado por Condorcet se organizava por etapas sucessivas, marcadas por um caráter progressivo, e se baseava na crença no aperfeiçoamento humano. Isto é, a escola concebida por Condorcet se orientava pela marcha da humanidade na direção do progresso e do auto aperfeiçoamento. A cada série superada na escolarização, tal qual concebia o autor, o aluno subiria um degrau a mais na escala de aperfeiçoamento pessoal em direção a razão. Desse modo, como aponta a historiadora, havia uma vinculação inseparável entre a filosofia da história do Marquês de Condorcet e seu projeto de fundação da escola moderna. Esta última deveria estar voltada principalmente para o processo de aperfeiçoamento humano que, por sua vez, levaria à construção de uma sociedade melhor pela difusão da razão.
Assim, perpassando temas fundamentais do período da ilustração, Carlota Boto construiu, em Instrução Pública e Projeto Civilizador, uma análise ampla sobre o pensamento pedagógico de letrados iluministas. Além disso, a autora conseguiu inscrever as reflexões destes sujeitos no contexto político e social de fins do século XVIII, no qual a formulação de um novo modelo de sociedade figurava como a principal demanda intelectual.
É necessário ressaltar que, ao longo de todo o estudo, é possível acompanhar o desenvolvimento de um argumento central que demonstra a importância que a educação passou a ter no movimento intelectual iluminista. Esta importância, pelo que se apreende do livro, é ressaltada sobretudo como recurso político. Se o Iluminismo, na Europa, forjou as bases para o rompimento de uma ordem política arcaica e impulsionou a criação de um novo modelo social, Carlota Boto conseguiu demonstrar que a educação representou uma categoria basilar na construção desse projeto.
Ciência, infância e escola, portanto, se articulam no argumento da historiadora como concepções fundamentais para a compreensão não só do pensamento pedagógico engendrado na filosofia iluminista, mas também do projeto político encampado pelos homens de letras naqueles tempos. Tratava-se de um projeto civilizador cuja ferramenta principal a ser utilizada seria a educação.
Referência
BOTO, Carlota. Instrução pública e projeto civilizador: o século XVIII como intérprete da ciência, da infância e da escola. 1. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2017.
Danilo Araújo Moreira – Mestrando em História – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Ouro Preto. Bolsista CAPES.
A emergência da escola | José Gonçalves Gondra
En julio del 2018 se publicó la obra A emergencia da Escola de autoría del profesor brasileño José Gonçalves Gondra2 lo que representa un gran aporte para la historia de la educación de Latinoamérica en términos de análisis sobre el surgimiento de un determinado modelo escolar. Dando visibilidad a un conjunto de mecanismos que conforman una compleja red de relaciones de poder, dispersos en una superficie de configuración de escolarización institucionalizada en el Brasil Imperial del siglo XIX que, junto con sus particularidades, nos ayuda a pensar en esas emergencias escolares en los diferentes contextos de la América en procesos de emancipación. Leia Mais
A Emergência da Escola | José Gonçalves Gondra
A emergência da escola, o modo como surgiu e se constituiu o modelo escolar que se tornou dominante nos últimos 150 anos, é o problema central do livro escrito por José G. Gondra, lançado em 2018. Com comentários de António Nóvoa, Margareth Rago e apresentação de Diana Vidal, o livro publicado pela Cortez Editora, nos mostra a maneira pela qual se deu a emergência da escola no período imperial do Brasil.
O autor, pesquisador na área, possui larga experiência. É professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pesquisador da FAPERJ, entre outras qualificações. É docente há mais de trinta anos, tendo atuado na educação básica e, atualmente, no ensino superior. Entre diversas outras obras, destaca-se no seu labor autoral as que publicou pela Cortez, com Alessandra Schueler, Educação, Poder e Sociedade no Império Brasileiro e pela EDUERJ, Artes de Civilizar, medicina, higiene e educação escolar na Corte Imperial. Em 2018 escreveu “A emergência da escola” resultante do seu concurso para professor titular, em parceria com o seu grupo de pesquisa realizada no âmbito do Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NEPHE/UERJ), integrado pelos pesquisadores Marina Natsume Uekane, Giselle Baptista Teixeira, Daniel Cavalcanti de Albuquerque Lemos, Pedro Paulo Hausmann Tavares, Pollyanna Gomes Pinho, Inára Garcia e Angélica Borges, citados como coautores do texto. Pollyana Gomes Pinho junta-se ao autor na escrita do capítulo IV. Leia Mais
Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX) – MAGALHÃES (RHHE)
MAGALHÃES, Justino. Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX). Lisboa: Educa; Unidade de I&D de Ciências da Educação, 2010. 644p. Resenha de: CARVALHO, Bruno Bernardes. Da cadeira ao banco: escola e modernização (séculos XVIII – XX). Revista de História e Historiografia da Educação, Curitiba, Brasil, v. 3, n. 9, p. 198-204, setembro/dezembro de 2019.
A obra “Da Cadeira ao Banco: Escola e Modernização (Séculos XVIII – XX)”, de autoria de Justino Magalhães, professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, é leitura essencial aos pesquisadores da História da Educação. Partindo da metáfora que dá título ao livro, o autor faz uma incursão pelos séculos XVIII ao XX, munido pela erudição que lhe é peculiar. Além do profundo trabalho de pesquisa, o autor nos oferece uma visão sobre a “história da longa duração”, isto é, o processo histórico de constituição da escola e da educação escolar enquanto instituintes e institutos da Modernidade na Europa. Adotando a perspectiva da síntese historiográfica, pela visão ampliada do processo de escolarização, o conjunto de análises e reflexões apresentadas na obra são importantes contribuições à historiografia educacional, pois faz emergir categorias de análise, que servem de aporte para outras investigações, como por exemplo: estatalização; nacionalização; governamentação; regimentação; cultura escrita; e munícipio pedagógico, discutidas em artigos e livros anteriores por Justino Magalhães.
O livro divide-se em três partes: Questões Introdutórias; Parte I – História do Educacional Escolar Português; e Parte II – Da Cadeira ao Banco. A primeira é composta por ensaios que versam sobre a História da Educação, enquanto área de pesquisa, e a escola como objeto historiográfico. Magalhães (2010) ressalta o vínculo existente entre história e educação, e entre educação e sociedade. Coloca em relevo a educação e o educacional escolar como elementos basilares da Modernidade, aqui entendida como o longo ciclo histórico que abrange os séculos XVIII a XX. Também destaca que a escola e a cultura escolar, no desenvolvimento histórico, tornaram-se constitutivas e instituintes da Modernidade, desempenhando papel de relevo na modernização da sociedade e no processo de constituição dos estados nacionais. Nesse âmbito, a educação, e mais especificamente a educação escolar, mediante a generalização da cultura escrita, forneceu as bases de legitimação para constituição e afirmação do Estado em relação à sociedade. Pensada e institucionalizada como forma de regenerar a sociedade via consecução da cidadania, a escola evoluiu assentada no paradoxo modernização-tradição, de preparar o futuro pela reafirmação do passado. Questões que ele procura demonstrar tomando por mote a análise do caso português, objeto do capítulo seguinte. Além deste argumento central, o tópico introdutório contém reflexões sobre a História, a prática historiográfica e a pesquisa em História da Educação, sendo que o autor defende uma perspectiva epistemológica que perpasse diferentes dimensões espaço-temporais: curta, média e longa duração; local, regional e nacional; em escalas micro, meso e macro.
Já na Parte I, História do Educacional Escolar Português, Magalhães procura “reconstituir” a gênese e desenvolvimento da escola em Portugal, buscando estabelecer a cronologia desenvolvimento do sistema educativo português, tomando sempre em consideração o educacional escolar, como resultante da relação escola-sociedade. O período analisado (séculos XVIII – XX) é caracterizado por ciclos: es-tatalização, nacionalização, governamentação e regimentação. Progressivos e integrativos, cumulativa e lentamente resultaram na institucionalização da escola em Portugal, numa perspectiva da História enquanto processo.
A estatalização compreende o período que vai de 1752 quando Marquês de Pombal assume o poder, até 1820, com a Revolução Liberal do Porto. Compreende, assim, o seguinte feixe de características e processos: a ênfase da escrita como elemento de estruturação e organização do social; a escolarização do ensino e da cultura escrita; a escrita e a escola enquanto condição e instância de civilidade, ou seja, a emergência de “um proto-sistema escolar”, conforme nominado pelo autor, pois com esta estrutura “embrionária” se estabelece o “Subsídio Literário”. Neste cenário a instrução adquiriu centralidade, tornando-se matéria de interesse público, desígnio a ser assumido pelo Estado. Iniciava-se a transfiguração da educação em tecnologia do social, como meio de racionalização da sociedade e do estado nacional.
A partir da implantação do liberalismo em Portugal (1820), o desenvolvimento histórico educacional português promove um processo de nacionalização, já que a ênfase passa a recair na consolidação da nacionalidade portuguesa. A instrução pública acena com centralidade na construção de uma identidade pátria, a escola e a cultura escolar são nacionalizadas, mediante alguns processos a se destacar: a nacionalização curricular; a burocratização da estrutura escolar; a normalização pedagógica; protagonismos das instâncias locais, em especial as paróquias e municípios; adoção e reforço da língua vernácula como base da cultura escrita e da cultura escolar. Escola e nacionalidade caminharam associadas no período em questão, valorizando-se o nacional, as tradições e os valores pátrios, visando a construção de uma portugalidade.
O terceiro período histórico do desenvolvimento educacional português, trabalhado por Magalhães, século XIX, é caracterizado como ciclo em que a educação escolar se estrutura num sentido de maior organização e burocratização. Para Magalhães a escola nacional, além de reconfigurar o sentido do escolar, instala a governamentação, ou a burocratização do educacional escolar, com vistas a modernizar a escola e, por conseguinte, transformar a sociedade. O Estado português assume maior protagonismo na organização da escola, instituindo normas de escrituração escolar, uniformizando o currículo, criando órgãos de governo para inspeção do ensino, ampliando o aparelho pedagógico-administrativo, profissionalizando o magistério, enfim, variadas ações no sentido de conferir uma racionalidade burocrática à educação. Organizando a escola, pretendia-se o ordenamento e a regeneração da sociedade.
Há que se destacar também neste ciclo de governamentação, o papel desempenhado pelos municípios na organização da instrução em Portugal. Muito embora as ações empreendidas pelo governo português indiquem uma centralidade, com o estado nacional promovendo a normatização do escolar, os municípios portugueses contavam com certa porção de autonomia, resultado da descentralização administrativa, constituindo-se como “municípios pedagógicos”, espaços não somente de ação e decisão política, mas territórios essencialmente pedagógicos, educacionais, envolvendo-se diretamente na organização da instrução em seus domínios. É possível afirmar que exista uma autonomia regulada, ou seja, uma descentralização normatizada, em que as instâncias locais contavam com certo grau de autonomia, ao passo que o estado nacional, sobretudo, por meio da inspeção de ensino, normatizava e conferia uma racionalidade burocrática a educação escolar.
Por fim, o quarto ciclo histórico caracterizado pelo autor, a regimentação, define um período de vínculo e condicionamento entre escola e regime político. Trata-se de uma aproximação, ou mesmo de uma fusão entre os ideais do regime político instituído e a educação, entre a escola e o Estado. A escola é literalmente regimentalizada, ou nas palavras de Magalhães (2010), tem-se a “prevalência do Estado, arrastando e arrestando a escola para si” (p.349), uma aliança entre escola e regime com vista ao progresso do país. O período de regimen-tação abrange tanto a República quanto o Estado Novo em Portugal1. Durante o período republicano a tônica recai em republicanizar a escola, a fim de se republicanizar o país. Fundem-se neste sentido os ideais de cidadania, republicanismo, nacionalismo, patriotismo. A escola republicana objetivava formar o cidadão republicano, o homem novo. A escola emerge neste período consolidada enquanto tecnologia do social, como meio de ordenação e progresso da sociedade. pela via da escolarização pretendia-se a regeneração do social. E no que se refere ao chamado Estado Novo em Portugal, tais concepções são ainda mais acentuadas durante a administração salazarista: reforça-se a ideologização do ensino, com forte apelo cívico-nacionalista. Conforme metáfora do autor, “do velho se fez novo”, o Estado Novo se apropria da regimentação do educacional republicana, reincidindo sobre o teor nacionalista.
Na Parte II da obra, “Da Cadeira ao Banco”, o autor retoma os quatro ciclos históricos apresentados na seção anterior, agora tomando por argumento central a cultura escolar e seu processo histórico de constituição. Somente aí temos claramente apresentado o conceito presente na metáfora da “Da cadeira ao Banco”: assim como a criança, que ao entrar na escola levava consigo sua própria cadeira, e ao passo de seu desenvolvimento intelectual ascendia à bancada e à mesa central, a escola enquanto instituição social, também pode ser entendida metaforizada num processo de crescimento, que perpassa segundo o autor, dois séculos de história. Nesta parte da obra a cronologia não é mais o ponto principal da análise, mas sim os aspectos gerais e mais profundos que caracterizam o desenvolvimento da escola em sua relação intrínseca com a sociedade. Magalhães destaca que: “O processo de passagem da cadeira ao banco/ bancada espelha a evolução da instituição escolar, no plano interno e na sua relação com a sociedade (…)” (p. 414).
Da cultura escolar em Portugal, instituída historicamente e instituinte do social, são indicados os vetores centrais do processo de constituição do escolar em Portugal: a universalização da escola e da cultura escrita ao longo destes dois séculos; a escola concebida como como tecnologia do social, via de legitimação e consolidação do Estado-Nação; o paradoxo escolar de construção do futuro pela preservação da tradição, ou em outras palavras, a contradição escolar de pretensamente fornecer os meios de regeneração e progresso da sociedade, mediante a reafirmação de valores pátrios e da tradição; o crescente processo de regulamentação e burocratização do educacional escolar, aliado as ideologias dos regimes políticos; o caráter essencialmente educacional da Modernidade, na estreita e complexa relação existente entre modernidade, cultura escrita, escola, cidadania e estado-nação. Em linhas gerais, esta segunda parte da obra cristaliza a concepção de que a cultura escrita como meio, e a escola como centro, caracterizam a Modernidade enquanto processo civilizacional, destacando a relevância e o significado histórico do processo de escolarização como instância de modernização da sociedade portuguesa.
Importante mencionar que o autor dedica um capítulo especial para análise da realidade educacional brasileira, demonstrando inclusive diálogo fértil com pesquisadores brasileiros. Empreendendo uma análise comparada, analisa os ciclos históricos do educacional no Brasil, tomando por base as mesmas categorias do caso português: estatalização, nacionalização, governamentação e regimentação. Dentre outras questões, Magalhães (2010) destaca o papel desempenhado pelos municípios na organização da instrução primária brasileira, apontando para uma municipalização da instrução.
Numa inapropriada síntese, dada a complexidade e profundidade da obra em tela, aos que se interessarem pela leitura e pelo vai-vém “Da Cadeira ao Banco”, será possível ter uma melhor compreensão da relação existente entre escola, sociedade e Modernidade. Enquanto tecnologia do social a escola é instituto e instituinte, fator de modernização. À imagem da criança que adentra à escola com sua cadeira, somos conduzidos pelo autor, que espelhando a ação do mestre nos insta a aprofundar nosso entendimento sobre o processo de escolarização, tomando nosso lugar na bancada ao centro da sala.
Notas
1 A implantação da República em Portugal data de 1910, enquanto o Estado Novo tem sua origem em 1926, perdurando até 1974, sendo também este último período denominado de salazarismo.
Bruno Bernardes Carvalho – Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia (Brasil). Contato: [email protected].
A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia – BENITO (RBHE)
BENITO, Augustin Escolano. A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia. Campinas: Alínea, 2017. Resenha de: MAGALHÃES, Justino. Revista Brasileira de História da Educação, n.18, 2018.
Este livro é uma tradução do título La escuela como cultura: experiencia, memoria, arqueologia, de Agustín Escolano Benito. A tradução foi feita por Heloísa Helena Pimenta Rocha (UNICAMP) e Vera Lucia Gaspar da Silva (UDESC). No Prefácio, Diana Vidal adverte o leitor que, pelo tema, pela escrita do autor e pelo enlevo da leitura, está perante um livro ‘inescapável’. Na Apresentação, as tradutoras previnem que, na migração entre as duas línguas, a tradução foi por elas pensada como interpretação e adaptação consciente, no esforço de “[…] compreender as reflexões do autor e torná-las compreensíveis” (Escolano Benito, 2017, p. 18).
O livro é composto por Introdução – A escola como cultura– e quatro capítulos: Aprender pela experiência; A práxis escolar como cultura; A escola como memória; Arqueologia da escola. Termina com Coda: cultura da escola, educação patrimonial e cidadania.
Qual é o objecto do livro que Agustín Escolano agora publica? Em face do título enunciado, através da comparação A escola como cultura, o que fica de facto resolvido no livro – o assunto escola ou o objecto cultura? E o que contém o subtítulo Experiência, memória e arqueologia, que relação há entre estes enunciados? Mais: Que relação entre o subtítulo e o título? O subtítulo reporta à escola ou à cultura? Ou aos dois termos, estabelecendo dialéctica através de ‘como’, ou seja, dando curso à comparação? Experiência, memória e arqueologia não são termos de igual natureza, nem de igual grandeza. Reportarão a um mesmo referente? A escola é parte da vida e foi experienciada ou mesmo experimentada pelos sujeitos, individuais ou colectivos. Daqui decorrem marcas que constituem memória – a experiência. A arqueologia reporta à materialidade e simbologia que ganham significado a partir de um olhar externo, deferido no tempo. A operação arqueológica permite a (re)significação de marcas que sejam apenas reminiscências.
A interpretação mais subtil para o título reside porventura na capacidade ardilosa e densa de Agustín Escolano em conciliar educação e história através da escola como cultura. A substância e o sentido da escola residem na cultura. Em cada geração, foi como cultura que a escola se substantivou, e foi como experiência que se tornou significativa. Para as gerações actuais, a escola é cultura e experiência, mas é também memória e arqueologia. Como refere o autor, a escola-instituição foi por diversas vezes questionada, mas a educação precisou (e precisa) da escola, como fica assinalado pela confluência de diferentes variações pedagógicas.
A história e a historiografia acautelaram essencialmente o institucional. Agustín Escolano entende, todavia, que é fundamental e significativo no plano educacionale de cidadania salvaguardar o cultural. A cultura escolar apresenta materialidade e historicidade, constituindo uma fenomenologia do educável e desafiando a uma hermenêutica como currículo e como representação. Dialogando com uma constelação de disciplinas é na etno-história que o autor encontra a ‘episteme’ e a matriz discursiva para o estudo que apresenta.
Pode aventar-se que este livro é um ensaio-manifesto. Agustín Escolano procura dar nota de uma genealogia e de uma evolução da cultura e da forma escolar, compostas por distintas dimensões processuais e orgânicas, e comportando descontinuidades, contextualizações, adaptações que não comprometeram o que frequentemente designa de ‘gramática da escola’ ou de ‘forma escolar’. Refere que esse historial está plasmado nas narrativas sobre experiências e modalidades orgânicas, nos restos materiais e arqueológicos sobre a realização escolar, nas memórias individuais e colectiva, enfim, na arqueologia como substância e método para a reconstituição e a interpretação do passado. Tal como a entende Escolano, a etno-história congrega estas distintas instâncias, devidamente apoiada na arqueologia, na fenomenologia e iluminada por um labor hermenêutico, aberto à complexidade e à interdisciplinaridade.
A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia contém uma história da escola, mas é sobretudo uma argumentação sobre a articulação entre escola e cultura e sobre a (re)significação da história-memória da escola como cidadania.
Na Introdução, o autor procura justificar o título do livro focando-se no enunciado ‘a escola como cultura’. Incide fundamentalmente sobre as práticas, posto que são inerentes ao escolar e, em seu entender, não têm sido objecto de um labor apurado por parte da teoria educativa e da história. Tal vazio constata-se no que reporta aos fundamentos, mas torna-se sobretudo notório no que respeita à recepção, seja esse vazio alocado às instituições ou à mediação e adaptação de conteúdos e práticas por parte dos professores, ou seja, por fim, às práticas incorporadas e apropriadas enquanto pragmática da educação. O autor chama a si o ensejo de dar a conhecer como a práxis escolar se constituiu em cultura.Inerente à práxis, sua evolução e sua conceitualização, está uma praxeologia resultante de uma depuração e de uma espécie de darwinismo que intriga o autor. Se em cada momento a pragmática educativa foi um habitus, há que analisar a evolução semântica desta constante.
No primeiro capítulo ‘Aprender pela experiência’, Agustín Escolano coloca a inevitabilidade da inscrição espacial e temporal das práticas, mas admite também a linha de continuidade, sem o que não será possível uma racionalidade inerente à prática. Partindo da figura do professor, reforça a noção de experiência como contraponto à focalização externa. Recorrendo a Michel de Certeau, refere que as circunstâncias não actuam fora de um racional. A constituição da práxis em cultura e da cultura em experiência são inerentes ao escolar – “Como instituição social, a escola abriga entre seus muros situações e ações de copresença, que resultam em interações dinâmicas” (Escolano Benito, 2017, p. 77). A cultura escolar congrega aspectos vários, incluindo a dimensão corporativa e a grande parte das práticas escolares integram um “[…] regime de instituição” (Escolano Benito, 2017, p. 88). A cultura empírica da escola constitui uma ‘coalizão’ nomeadamente entre ideais, reformas educativas, ritos e normas, práticas experiências profissionais.
No segundo capítulo ‘A práxis escolar como cultura’, o autor procura inquirir em que medida a pedagogia como ‘razão prática’ poderá explicar ou governar a esfera empírica da educação, pois que, como disciplina formal e académica, tem permanecido associada aos sectores político-institucional. Nesse sentido, a cultura empírica afigura-se como ingénua e não científica, e o seu valor etnográfico reside no plano descritivo, a que foi sendo contraposta uma racionalidade burocrática. Numa perspectiva sócio-histórica, a escola é uma construção cultural complexa que seleciona, transmite e recria saberes, discursos e práticas assegurando uma estabilidade estrutural e mantendo uma lógica institucional. Mas, para Agustín Escolano, em articulação com a cultura empírica da escola desenvolveram-se duas outras culturas: “[…] uma que ensaiou interpretá-la e modelá-la com base nos saberes (cultura académica) e outra que intentou governá-la e controlá-la por meio dos dispositivos da burocracia (cultura política)” (Escolano Benito, 2017, p. 119). Na sequência, retoma vários contributos que convergem na centralidade da cultura empírica associada ao ofício docente, seja referindo-se-lhe, entre outros aspectos, como arte e ‘tato’/ prhónesis, seja referindo-se à formalidade escolar como gramática e ao recôndito da sala de aula como ‘caixa-negra’. Centra-se, por fim, no binómio hermenêutica/ experiência, associado à narratividade dos sujeitos, para sistematizar o que designa de etno-história da escola, cujas orientações metódicas resume a: estranhamento, intersubjectividade, descrição densa, triangulação, intertextualidade.
O capítulo 3, ‘A escola como memória’, permite ao autor glosar o que designa de hermeneutização das memórias – assim as dos professores, quanto as dos alunos. São diferentes quadros em que o material e o simbólico se cruzam, permitindo sistematizar o que Agustín Escolano designa de ‘padrões da cultura escolar’: atitudes, gestos, formas retóricas, formas de expressão matemática. “A escola foi das instituições culturais de maior impacto no mundo moderno” (Escolano Benito, 2017, p. 202), pelo que a memória escolar é interpretação e pode ser terapia. Hermeneutizar as memórias escolares é retomar as pautas antropológicas de pertença e é valorizar uma fonte de civilização.
Se toda a obra vai remetendo para o CEINCE – Centro Internacional de la Cultura Escolar – do qual Agustín Escolano é fundador-director –, o quarto capítulo, ‘Arqueologia da escola’, é um modo sábio e fecundo de apresentar, justificar e conferir valor patrimonial e significado educativo a um Centro de Cultura e Memória da Escola, na sua materialidade e na profunda razão de ser como lugar de história e antropologização da história, e como fonte de subjectivação. Repegando a arqueologia como desígnio, são ilustradas de modo singular as virtualidades do CEINCE.
Em modo de epílogo, o autor escreve ‘Coda – cultura da escola, educação patrimonial e cidadania’, na qual dialoga com a moderna museologia, buscando lugar, sentido e significado para a preservação do passado. Que fazer com os testemunhos do passado? Agustín Escolano, com legitimidade e com a propriedade que lhe assiste, não hesita em contestar a estreiteza da memória oficiosa da escola, que poderá servir objectivos de governabilidade da educação e até alguns ensejos patrimoniais, mas o Museu investe-se de novo sentido na medida em que combine o racional e o emocional, tornando possível uma educação patrimonial. A memória escolar é pertença de todos e a todos respeita.
Por onde viajam o pensamento e a escrita de Agustín Escolano? Como constrói o discurso, alimenta o texto, fundamenta o argumento? Que unidade no diverso? Que dialéctica? Ensaio, manifesto, narrativa? Originalidade, glosa, réplica?
Este livro é formado por textos que têm um mesmo quadro de fundo. Há referências de assunto e de autores que se repetem, dando a cada capítulo uma unidade. Mas há uma trama, uma unidade de conjunto, uma sequência e uma ordem que consignam o livro. O argumento evolui para a arqueologia como materialidade-testemunho e como ciência-tese. Preservar e hermeneutizar – eis dois verbos-chave para (re)significar a memória escolar. A história da escola é formada por permanência e mudança.
Agustín Escolano dialoga antes de mais consigo próprio, gerando enigmas, esboçando uma trama, fazendo evoluir uma tese. Os autores que revisita (e são muitos – porventura todos os que, domínio a domínio, podem ser tomados como principais) são interlocutores cujos enunciados servem o texto do autor, sem prevalências nem rebates desnecessários. São personagens de uma peça maior, quiçá interdisciplinar, que é a cultura escolar, ou melhor, a escola como cultura. Agustín Escolano escreve sem reservas. Referenciou os principais autores e compendiou os assuntos nucleares. Mas, sobretudo, escreve com a propriedade que lhe advém de uma tão ampla como aprofundada cultura erudita e pedagógica. Escreve com a soberania que lhe assiste enquanto senhor de uma materialidade e de uma cartografia representativas do institucional escolar, tal como foi sendo constituído, concretizado, globalizado desde a Antiguidade Clássica.
A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia é fundamental e disso se apercebe o leitor desde a primeira página. Não é necessariamente um livro consensual, mas um bom mestre é-o enquanto senhor de uma verdade que serena e fomenta novas questões. Agustín Escolano é mestre-exímio. Assim o presente livro seja acolhido com as virtualidades que lhe cabem.
Justino Magalhães – Historiador de Educação. Professor Catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Investigador Colaborador do Centro de História da Universidade de Lisboa. E-mail: [email protected].
Escuela y métodos pedagógicos en clave de gubernamentalidad liberal: Colombia, 1821-1946 – ECHEVERRI ÁLVAREZ (RBHE)
ECHEVERRI ÁLVAREZ, J. C. (2015). Escuela y métodos pedagógicos en clave de gubernamentalidad liberal: Colombia, 1821-1946. Medellín: UPB, 2015. Resenha de: VÉLEZ, Beatriz Elena López; VELÉZ, Raul Alberto Mora. Escuela y métodos pedagógicos en clave de gubernamentalidad liberal. Revista Brasileira de História da Educação, Maringá, v. 16, n. 3 (42), p. 420-426, out./dez. 2016.
El libro de Echeverri es una investigación histórica y, como todo trabajo histórico, tiene como objeto el presente: las preguntas se formulan en relación con problemáticas que aquejan nuestro propio tiempo: problemáticas en torno a las cuales se recurre al pasado para examinar las condiciones de su emergencia, los procesos de su desarrollo en el tiempo y las características de su actual vigencia. Una historia que permite desentrañar algunos de los mecanismos mediante los cuales llegamos a ser lo que actualmente somos en los marcos de la educación y de la escuela.
El libro se divide en tres apartados. El primero presenta la problemática, los referentes conceptuales y la metodología de trabajo; el segundo, muestra las primeras concreciones de la construcción de la libertad liberal en la nueva república: la independencia, la emergencia de la constitución y, en ella, de la escuela misma; el tercer apartado, despliega los métodos pedagógicos en clave de construcción de la Gubernamentalidad liberal.
Un simple diagnóstico muestra que la escuela ha dejado de ser el espacio fundado por sociedades disciplinarias en un tiempo que, según Gilles Deleuze, dejó de ser el nuestro: ya no la caracteriza la máquina disciplinaria para el control minucioso sobre los cuerpos, los tiempos y los espacios con el propósito de lograr la sumisión de los cuerpos y de las mentes. La educación gira hacia el niño como centro del proceso formativo: constante proyecto político que amplía cada vez más sus derechos que los hace cada vez más protegidos, libres y autónomos pero más violentos e indisciplinados en una sociedad que parecieran confundir autoridad y autonomía en la relación que establece con sus niños y jóvenes.
La escuela deviene escenario de conflicto, violencia, falta de autoridad y, recientemente, de bullyng o matoneo. Para enfrentar esos problemas se multiplican las demandas para democratizar la escuela, lograr mayores cuotas de libertad y de autonomía y superar el fardo disciplinario del siglo XIX. Pero el autor pregunta ¿y si esa libertad que se invoca, antes que el mecanismo para solucionar los problemas actuales de la escuela, fuera el elemento subyacente que históricamente les ha dado emergencia y desarrollo?
La escuela, aunque conflictiva, indisciplinada y violenta, no carece de gobierno. Por el contrario, estos fenómenos objetivan un poder en el cual a la ampliación de derechos le son correlativos fenómenos, aparentemente perversos, pero en realidad estrategias de gobierno de la población. El autor plantea que la característica histórica de la escuela no es el autoritarismo de los maestros, la rigidez de los saberes o los rezagos de la máquina disciplinaria del siglo XIX, sino el concepto de libertad que circula socialmente para producir tipos específicos de experiencias y de prácticas de libertad en la escuela. En síntesis, la libertad fundamental para comprender la escuela del presente desde la perspectiva de las formas imperantes de poder liberal.
La libertad se reconoce como base para emprender una genealogía de los regímenes actuales de gobierno, porque la libertad se refiere a la estructuración del Estado moderno en el cual se ha desplegado un tipo de libertad, cierta manera de comprenderla, de ejercerla y de relacionarnos como sujetos libres. Libertad es materiales, técnicas y prácticas gubernamentales de gobierno de la población que tienen concreciones específicas en la escuela; y esta escuela es uno de los principales dispositivos para su construcción constante. El libro pregunta por las condiciones históricas de constitución y desarrollo de la escuela en el marco de la ‘gubernamentalidad liberal’. Por eso, el autor considera que pensar los problemas actuales de la educación, antes que reiteradas invocaciones por más democracia, libertad y autonomía, debe establecer cuál ha sido el papel de la libertad en el devenir histórico de la escuela desde la conformación del Estado nacional.
A esta inquietante pregunta le da una novedosa respuesta con los trabajos de Michel Foucault en torno a la Gubernamentalidad libera. Libertad es el elemento básico de la forma del poder liberal. La gubernamentalidad liberal se refiere al conjunto de instituciones, procedimientos, cálculos y tácticas que, por dar emergencia al Estado moderno, permitían ejercer una forma de gobierno cuyo blanco principal era la población, su forma mayor de saber la economía política y su instrumento técnico esencial, las políticas de ‘seguridad’. En fin, los tipos de racionalidad mediante los cuales se buscaban dirigir la conducta de los hombres a través de la administración del Estado.
La libertad es una construcción consciente utilizada como instrumento mediante el cual se regulan estrategias y técnicas de gobierno al mismo tiempo que con estas se intenta producir cada vez más libertad. En la modernidad, y hasta hoy, la libertad ha sido tanto el objetivo de gobierno como su instrumento constante; y la escuela uno de los dispositivos de su construcción constante. El gobierno no trata de imponer una ley, trata de disponer las cosas y utilizar las leyes como tácticas, es decir, por una serie de medios trata alcanzar algún fin previsto. En síntesis, gobierno es la práctica de conducir conductas con base en la libertad de los sujetos. La escuela es el dispositivo que articula la institucionalidad, los saberes y las personas para lograr una economía en la conducción de las conductas de las personas.
El autor se vale de este constructo foucaultiano como rejilla para mirar la historia de la escuela, así la libertad se construye y queda plasmada en diferentes registros que dan cuenta de los espacios fácticos de libertad: la legalidad nacional e institucional, los saberes y prácticas en las cuales los estudiantes adquieren cada vez mayor visibilidad y participación; Al mismo tiempo, la idea de libertad comienza a convertirse en construcción subjetiva, en una apropiación individual en el terreno de los imaginarios y de las concepciones: manipulación ideológica que produce la conducción de las conductas y es rastreable, por ejemplo, en conceptos reiterados y dispersos tales como autonomía, aprendizaje, conciencia, y la reiteración sin descanso de la misma palabra libertad, por ejemplo.
Echeverri utiliza dos categorías para explicar la producción constante de la libertad: ‘horizontalización de las relaciones’ y ‘el viaje hacia el sí mismo’. La primera muestra la manera mediante la cual los estudiantes adquieren, en el terreno de los derechos, de los saberes y de las prácticas, mayor visibilidad y participación en la escuela y la sociedad; al mismo tiempo, cómo los maestros son obligados a abandonar sus posiciones centradas en la dignidad de la función, para ganar autoridad por otras vías más ‘pedagógicas’. En la escuela se van horizontalizando las dignidades, por ejemplo, en las luchas contra el castigo, en las prescripciones de la pedagogía, en las reflexiones sobre la naturaleza y derechos de los niños de los diferentes saberes.
La otra categoría es ‘el viaje hacia el sí mismo’. La libertad no es solamente una expresión externa en el marco de la ley, es, mejor, una experiencia personal, un imaginario, una forma natural de estar en sociedad y de relacionarse con uno mismo, con el otro y con lo otro. Por eso, en la escuela se emprende, por vía de los métodos pedagógicos un camino hacia el interior de las personas, hacia su consciencia y opinión, para que cada quien se sienta cada vez más libre y en condición de exigir cada vez mayor libertad. El viaje hacia el sí mismo es el trabajo ideológico mediante el cual la idea de libertad se introyecta en cada individuo hasta convertirla en una forma normal y necesaria de estar en sociedad.
Hasta aquí el libro deja claro el problema, los referentes teóricos y la metodología que emplea. Con el segundo apartado, ‘Concreciones de la libertad en la Gubernamentalidad liberal: independencia, constitución y escuela’, el autor se interna en las formas republicanas de producción de la libertad liberal en lo que actualmente es Colombia: lo hace a partir de lo que el autor considera las primeras concreciones de libertad que, al mismo tiempo, son instrumentos para su construcción constante: la independencia, la constitución y la escuela. En esos elementos se muestra de qué manera la libertad comienza a tomar el espacio de la escritura, de la enseñanza, de la institucionalidad, de los discursos y de las acciones; en otras palabras, el libro muestra cómo la libertad se convierte en una regularidad discursiva; por esa vía, y por los senderos de la ley, se va transformando en un imaginario colectivo y en una forma de estar en sociedad.
Con este precedente pasa al cuarto apartado, es decir: ‘La libertad en cuatro modelos pedagógicos’. Estos modelos, tratados como métodos pedagógicos, sirven de hilo conductor para atravesar desde el siglo XIX hasta las primeras décadas del XX con base en la construcción constante de la libertad en la escuela. Los métodos pedagógicos le permiten a Echeverri ilustrar los modos en que la escuela hacía vivir la experiencia de la libertad tanto como concreción en el marco de los derechos y de las normas como en el marco de la construcción de la subjetividad. Método lancasteriano, método pestalozziano, Pedagogía Católica y Escuela Activa hicieron parte de un proceso de superposición y de relevos pedagógicos mediante los cuales se ha ido construyendo la libertad de manera cada vez más exhaustiva, según las necesidades de gobierno de la población que el poder liberal demanda como su condición de vigencia constante.
El método lancastariano es particularmente importante demostrar cómo un dispositivo de la construcción de la libertad por cuanto, contrariamente, en Colombia ha hecho carrera imágenes de un sistema disciplinario en el erróneo sentido de encierro, castigos infamantes y verticalidad autoritaria: máquina para lograr la sumisión de los cuerpos y de las mentes. Por lo contrario, el método lancasteriano encierra para hacer que las castas, sumisas al fundamento divino del poder, se acostumbren a la libertad e igualdad de la ley constitucional. Un método que, por primera vez, muestra que la posición en la institución y la sociedad dependen del progreso individual en competencia constante con los otros inmediatos, de la libertad individual.
El texto del profesor Echeverri es enfático en este punto, ¿cómo puede un sistema pedagógico buscar la sumisión de la población como fundamento del gobierno? No, la sumisión era precisamente lo que tenía que ser superado mediante la construcción fáctica e imaginaria de la libertad como forma de estar en la nueva sociedad democrática. El método lancasteriano sienta las bases, todavía de manera precaria y externa, para la construcción constante de la libertad, es decir, mediante la fórmula todavía vigente de otorgar derechos desde arriba para que se demande cada vez mayor libertad desde abajo para mantener la vigencia de la forma del poder liberal.
Pero la libertad requiere mucho más que mecanismos externos de ejercicio efectivo. Necesita convertirse en un imaginario que permanezca incuestionable individual y grupalmente, así las condiciones sociales parezcan negar la posibilidad de su concreción. Por ello, el modelo Pestalozziano, relevo histórico del lancasteriano, inicia el largo caminho hacia ‘el sí mismo’. Esto es, un modelo pedagógico que supera la tiranía del método externo para enseñarlo todo, y se adentra en la mente para reconocer los mecanismos del aprendizaje individual. La libertad allí no es solo una expresión del derecho con consecuencias sociales de igualdad, competencia y éxito, sino una forma de sentirse ‘uno mismo: lógicas que’ promueven experiencias personales de libertad e impelen a exigir cada vez mayores cuotas de libertad hasta convertirlas en sujetos.
En el apartado siguiente, se discute una posible impugnación a la hipótesis general: que la pedagogía católica transitaba a contrapelo de las ideas del liberalismo y la modernidad en general. El libro muestra que la Gubernamentalidad liberal no es un asunto de liberales y de conservadores, sino una forma general del poder en la cual, inclusive la oposición fragmentada del clero en Colombia, más que un freno definitivo a la Gubernamentalidad, fue un obstáculo que fuerza mayor empeño en las transformaciones. Por eso, concluye el autor, también la pedagogía católica es un dispositivo de la construcción de la libertad liberal aunque por un camino apenas diferente: una libertad con base moral en la religión católica.
La escuela activa, último modelo abordado en el libro, reconoce que no hace un aporte en el estudio de este modelo en Colombia, solo toma trabajos clásicos en la literatura educativa del país, para documentar la hipótesis de la construcción constante de la libertad liberal por vía educativa y pedagógica. En ella, el viaje hacia el sí mismo sigue su camino cada vez de manera más exhaustiva y en conjunción con más refinadas concreciones de libertad en la sociedad, el derecho y los saberes científicos. Es un camino por el cual se llega a las conclusiones que se presienten: el trabajo podría abarcar todo el siglo XX, inclusive lo que va del XXI, para mostrar que esa libertad, tecnología del yo, es una función de la escuela. Tanto así, que los niños y los jóvenes en la escuela han llevado esa libertad al extremo de horizontalizar las relaciones con los adultos, padres y maestros, y hacer visible en ella lo impensado: conflicto, violencia, falta de autoridad. Por eso, advierte el autor, para comprender esas problemáticas escolares quizás el camino no es invocar más democracia, sino reconocer el papel histórico que la construcción de la libertad liberal ha representado para que la escuela haya llegado a ser lo que es actualmente.
Estamos ante un libro de historia con profundas consecuencias educativas y pedagógicas. Libro novedoso que no debe ser abordado como novedad, interés pasajero, sino como un hito latinoamericano de reflexión. ¿Qué tipo de construcción subjetiva de la libertad produce efectos perversos en la escuela como falta de autoridad, apatía, individualismo, conflicto, violencia, por ejemplo?, ¿qué formas del poder horizontalizan las relaciones entre quienes deben agenciar la ley y los que deben ser ingresados a la cultura? El libro es un guiño para pensar detenidamente las concepciones de niños y de jóvenes que porta la sociedad y, tal vez, al reconocerlo nos daríamos cuenta de que la escuela es lo que hemos hecho de ella en las lógicas del liberalismo.
Beatriz Elena López Vélez – Decana Escuela de Educación y Pedagogía. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín, Colombia. Historiadora, Magister en Educación, Candidata a Doctora en Filosofía. E-mail: [email protected]
Raul Alberto Mora Vélez – Universidade de Illinois, Ph.D. em Educação. E-mail: [email protected]
Immigrants a les escoles – DEUSDAD (I-DCSGH)
DEUSDAD, Blanca. Immigrants a les escoles. Resenha de: BELLATI, Ilaria. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.79, abr., 2015.
Con Immigrants a les escoles, Blanca Deusdad, doctora en sociología y docente en la Universidad Rovira i Virgili, ha ganado en 2008 el décimo segundo premio Batec a la investigación e innovación educativas. Las conclusiones y reflexiones de este libro son el fruto de un trabajo acerca de los efectos del aumento de la población extranjera en la sociedad catalana y sus consecuencias en las aulas escolares. Leia Mais
Práticas pedagógicas para a inclusão e a diversidade – CUNHA (REE)
Eugênio Cunha. Professor e jornalista e colunista do DIA. Foto: Divulgação.
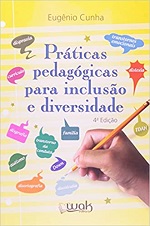
A participação das pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE), na sociedade, é recente, principalmente por ter sido levado em conta pressupostos arraigados sobre anormalidade e deficiência ao longo da história da humanidade. Desde longe, do período da era clássica aos tempos atuais, muitas foram as concepções cultivadas sobre as pessoas com deficiência, bem como de seu papel na sociedade. (JANNUZZI, 2006)
Em consequência dessas concepções, o processo de direcionamento das pessoas com NEE à educação lentamente vem sendo conquistado, juntamente com o da população em geral, e, partindo deste fato, o livro Práticas pedagógicas para inclusão e a diversidade, organizado pelo autor Eugênio Cunha – professor, pesquisador e integrante do grupo de pesquisa em Políticas Públicas de Educação da Universidade Federal Fluminense – GRUPPE/UFF/CNPq – reúne experiências e práticas ocorridas em seu cotidiano docente sobre alunos com NEE. A obra é constituída, de modo geral, pela importância da educação inclusiva, sendo esta temática hoje em dia bastante discutida na academia.
Organizado em onze capítulos, o livro tece reflexões sobre a diversidade na escola e na sociedade, currículo inclusivo e a estimulação dos alunos com NEE, sobre as etapas da atuação docente, bem como sobre a importância da família no processo de inclusão escolar e social.
No âmbito da historicidade, no primeiro capítulo, intitulado “Um pouco sobre diversidade, escola e inclusão”, Eugênio Cunha utiliza-se de uma linha do tempo para explicar como a educação inclusiva esteve/está presente em todas as épocas e lugares, enfocando que, mesmo para as pessoas com NEE, a escola é lugar de suma importância para o desenvolvimento social e cognitivo delas, capaz, por sua essência, de cumprir a mais elevada destinação social do saber: o aprendizado do saber sistematizado.
Quando o assunto é currículo escolar inclusivo, o autor, em seu segundo capítulo, intitulado “Um currículo inclusivo”, ressalta que este deve estar articulado com as dinâmicas sociais provenientes dos educandos, ter como ponto de partida o cotidiano do aluno. Além disso, ressalta a importância da construção de um currículo com a participação da equipe escolar, abrangendo desde professores até gestores e familiares, ou seja, uma equipe que efetive a funcionalidade do currículo para a vida escolar e social do aluno.
No terceiro capítulo, intitulado “O que estimular no aluno?”, o autor destaca as habilidades que todos os alunos, incluindo aqueles com necessidades especiais, devem aprender dentro da escola, sendo elas: Afetividade; Socialização e ludicidade; Linguagem e comunicação; Educação Psicomotora; Música e Arte; e contar com uma boa alimentação. A par de tais habilidades, o autor acredita que o professor poderá atuar, de forma eficaz, para superar tanto as dificuldades de si mesmo como a de seus alunos com NEE.
Em seu quarto capítulo, “Teoria e prática: utilizando ideias pedagógicas para educar”, discute a questão de que a escola contemporânea não pode ser inflexível e estanque, já que a inteligência dinamicamente está em constante adaptação e, por meio de estímulos, mune-se de habilidades emocionais, cognitivas e criativas. Por isso, os professores necessitam tanto do conhecimento que adquirem em razão do exercício da prática docente quanto das diversas teorias pedagógicas que dão suporte ao trabalho. Nesse contexto, Eugênio Cunha põe em destaque as teorias de Piaget, Vygotsky, Ausubel e Paulo Freire.
Nos capítulos quinto e sexto, intitulados, respectivamente, “Estágios da aprendizagem discente” e “Etapas da atuação docente”, o autor revela-nos que há quatro estágios da aprendizagem, sendo o primeiro o estágio diretivo – que depende invariavelmente da presença do professor; o autônomo – em que o aluno adquire a capacidade de aprender novas habilidades por iniciativa própria; o criativo – que abarca modificações operadas pelo aprendiz, que vão desde executar novas tarefas até manusear materiais e, por último, o estágio colaborativo – com produções individuais ou em grupo, socializando o saber produzido, tanto pelo educando quanto pelo educador. Já em relação às etapas da atuação docente, o autor enfoca três etapas do trabalho pedagógico, sendo a primeira a observação, que é uma das etapas do método científico, em que os elementos observados são catalogados e organizados para, posteriormente, serem analisados. A segunda etapa é a avaliação, sendo esta objetiva, ou seja, que compreende o comportamento do aluno diante dos instrumentos de ensino e aprendizagem. Esta etapa torna-se, desse modo, um mecanismo de melhoria nas decisões que virão a seguir, pois está direcionada à aprendizagem discente. A última etapa é a mediação, que é aquela na qual o professor utiliza-se de atividades que permitirão o melhor desenvolvimento do aprendente, ou seja, o que mais interessa a este.
Sobre “O que é preciso saber? Um olhar sobre algumas necessidades especiais mais comuns na escola”, o sétimo capítulo ressalta algumas observações que podem auxiliar os professores na sua prática. Discute temas importantes como o Autismo, a Síndrome de Down, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA), Transtornos Emocionais, dentre outras. Colabora sobremaneira ao trazer à tona algumas atividades interessantes a fim de aguçar, além da motricidade e do cognitivo, a criatividade e a afetividade de seus alunos com e sem NEE.
Com tais considerações, leva o leitor a concluir que a família sempre deve estar presente na escola para que a inclusão seja efetiva, já que a tríade escola, família e sociedade favorece a formação de todos os alunos. Os capítulos oitavo e nono, intitulados “Família e escola” e “O afeto e suas três dimensões: pessoal, social e pedagógica”, dá enfoque à emoção como uma das forças motrizes do processo de inclusão do aluno com NEE na escola.
Para finalizar, os dois últimos capítulos, décimo e décimo primeiro, respectivamente com os títulos “Breve histórico de políticas inclusivas” e “Propostas de atividades”, Eugênio Cunha apresenta um trajeto das políticas destinadas à educação especial no Brasil, propondo algumas atividades práticas que poderiam ser apropriadas pelos professores, bastando, para tanto, utilizar-se de criatividade para que tomem corpo e, assim, contribuam para a prática inclusiva.
As discussões encontradas nesses textos revelam ao leitor uma visão mais clara sobre a Educação Inclusiva, enfatizando-lhe a importância para o processo de inclusão de alunos com NEE dentro da escola.
Enfim, ao recebermos alunos com NEE em nossa sala de aula, perguntamos: Como educá-los? Como incluí-los? Em seu livro, Eugênio Cunha aponta os elementos que podem colaborar na busca de respostas para tais perguntas nitidamente importantes na área educacional. As discussões levantadas no livro proporcionam ao leitor inúmeras reflexões, sobretudo em relação às práticas pedagógicas que devem ser consideradas para esse alunado e, também, sobre os conteúdos curriculares a serem utilizados para ele, ressaltando os anseios e desejos desses sujeitos que, assim como todos, têm o direito à educação e à cidadania.
Jessica de Brito – Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas, Departamento de Educação. E-mail: [email protected] – [email protected]
Regards sur le monde. Apprendre avec et par l’image a l’ecole – DURISCH GAUTHIER et al (DH)
DURISCH GAUTHIER, Nicole; HERTIG, Philippe; MARCHAND, Reymond Sophie (éds.). Regards sur le monde. Apprendre avec et par l’image a l’ecole. Neuchâtel: Alphil-Presses universitaires suisses, 2015, 359p. Resenha de: FINK, Nadine. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.205-206, 2015.
Nous vivons dans un monde d’images, fixes et mobiles, que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans la salle de classe. Nous sommes non seulement constamment exposés aux images, mais nous en sommes également devenus de fervents produc teurs et diffuseurs. Nous savons que chacune d’entre elles n’est qu’une représentation qui construit un point de vue et qui délivre un discours, un certain regard sur le monde. Pourtant, les images ont le plus souvent été – et sont encore majoritairement – utilisées de manière illustrative en guise d’accompagnement de textes et de discours. Une telle approche tend à prendre le visible pour le réel, le réel pour le vrai. Déconstruisant ce rapport illustratif, Regards sur le monde place l’image et son usage au coeur des apprentissages. Celle-ci devient alors bien plus qu’une simple illustration: elle est un support de connaissance que l’on peut utiliser au même titre qu’un texte, en apprenant à en identifier la nature et le statut, à en analyser le contexte de production et le contenu, à en décoder le message et les représentations véhiculées. L’objectif de ce bel ouvrage collectif – très richement illustré – est précisément d’offrir aux enseignants des exemples concrets d’utilisation de l’image à l’école, de manière à ce qu’ils puissent s’en inspirer pour leurs propres séquences d’enseignement.
Dans le domaine des sciences humaines et sociales, chaque discipline porte un regard sur l’image qui lui est propre, l’analysant selon des questionnements qui relèvent de son champ scientifique. Certaines problématiques d’apprentissage relèvent toutefois d’une « grammaire commune », de caractéristiques génériques qui transcendent les disciplines spécifiques.
Elles font l’objet des quatre chapitres de la première partie de l’ouvrage, qui permettent de saisir les principaux enjeux et méthodes de l’usage et de l’analyse de l’image dans les sciences humaines et sociales: apprendre à décoder et à analyser les images (processus de dénotation/connotation), à les classer et à les catégoriser, à les exploiter em classe, à prendre conscience de l’imaginaire collectif construit par les images. La seconde partie de l’ouvrage donne successivement la voix au statut spécifique de l’image en géographie, en histoire, en éthique et culture religieuses. Tous ces chapitres se fondent sur des expériences réalisées en classe ou dans le cadre de la formation d’enseignants. Quatre d’entre eux sont consacrés à l’enseignement de l’histoire.
Ils mettent en évidence l’importance du rôle de l’image dans la construction du discours historique et décrivent des démarches originales et inspirantes pour travailler en classe à partir d’images fixes et mobiles, qu’il s’agisse d’affiches de propagande politiques et publicitaires, de caricatures et de dessins de presse, de films documentaires et de fiction, ou même de clips musicaux et de séries à succès. Il ressort ici – comme dans tout l’ouvrage d’ailleurs – que le travail d’analyse des images n’est pas une fin en soi, mais qu’il participe à la construction d’un savoir propre à chaque discipline scolaire. La troi sième partie propose trois regards extérieurs à l’école pour explorer les domaines de la photographie, du cinéma et de la bande dessinée. Une quatrième et dernière partie met en perspective l’ensemble des chapitres pour plaider en faveur d’un enseignement qui apprenne non seulement aux élèves à décoder les images et à affiner leurs regards d’observateurs, mais qui développe également leurs compétences et leurs savoirs dans l’utilisation des nouvelles technologies.
Cet ouvrage permettra aux disciplines des sciences humaines et sociales – particulièrement grandes consommatrices d’images – de prendre en charge une forme d’éducation au regard. Un tel enseignement constitue un enjeu majeur en termes d’apprentissage pour donner des clés de lecture aux élèves: il s’agit de les outiller pour qu’ils puissent faire face aux nombreuses manipulations et représentations réductrices auxquelles les exposent les images.
Nadine Fink – Haute École pédagogique, Lausanne.
[IF]
La Educación Patrimonial en la Escuela y el Museo. Investigación y experiencias – EDIPATRI (I-DCSGH)
EDIPATRI (Educación e Interpretación del Patrimonio). La Educación Patrimonial en la Escuela y el Museo. Investigación y experiencias. Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2013. Resenha de: CALAF MASACHS, Roser. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.77, jul., 2014.
Tenemos la ocasión de comentar un libro que es el resultado de investigaciones realizadas al amparo de EDIPATRI (Educación e Interpretación del Patrimonio), grupo de investigación ubicado en el Departamento de Didáctica de las Ciencias y Filosofía, y con sede en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva.
Se publican los resultados del proyecto I+D+i «El patrimonio y su enseñanza: análisis de recursos y materiales para una propuesta integrada de educación patrimonial», y, en particular, la opinión del profesorado de educación primaria y educación secundaria obligatoria de centros de enseñanza de Huelva capital y provincia, así como la de gestores de museos histórico-artísticos, museos de ciencias y de parques nacionales. Aportaciones que se realizaron con motivo de unas jornadas de reflexión realizadas entre los días 19 y 20 de octubre de 2011 en el Departamento de Didáctica de las Ciencias y Filosofía de la Universidad de Huelva.
El trabajo que protagoniza el libro se deriva de otros dos proyectos de I+D que mencionamos en líneas sucesivas. En el bloque I se presentan los fundamentos teóricos y metodológicos de la línea de investigación EDIPATRI y su recorrido en los últimos quince años, destacando el rasgo que lo caracteriza: «El tratamiento del patrimonio desde una perspectiva multidisciplinaria y holística, capaz de integrar todos los tipos de patrimonios, conectar la educación formal con la comunicación patrimonial en contextos no formales e informales, así como dar sentido y reforzar ciertos aspectos identitarios de las sociedades».
En el bloque II se proponen los resultados de investigación más relevantes de los proyectos I+D «La enseñanza y difusión del patrimonio desde las instituciones educativas y los centros de interpretación»: «Concepciones sobre el patrimonio desde una perspectiva holística» y «La imagen de Andalucía trasmitida por los museos andaluces: análisis conceptual y didáctico». Ambos proyectos, junto con el que ha dado lugar a esta publicación, son complementarios, con objetos de estudios que confluyen en una misma línea: conocer la complejidad y las características de los diferentes elementos que intervienen en los procesos de educación patrimonial, detectando los obstáculos que impiden su desarrollo deseable, y estableciendo los criterios y parámetros necesarios para superarlos. De esta forma, se sintetizan los resultados de los proyectos de I+D «La enseñanza y difusión del patrimonio desde las instituciones educativas y los centros de interpretación». «Concepciones sobre el patrimonio desde una perspectiva holística» (dirigido por Jesús Estepa) y «La imagen de Andalucía transmitida por los museos andaluces: análisis conceptual y didáctico» (dirigido por José M.ª Cuenca). Los resultados manifiestan algunas dificultades epistemológicas, metodológicas y teleológicas que, fundamentalmente, derivan de los desequilibrios formativos en relación con el patrimonio. Así, de los colectivos que intervienen en el estudio, los maestros, que cuentan con una formación didáctica superior al resto pero inferior en lo que respecta a cuestiones sociales e históricas, muestran problemas relacionados con la epistemología y la conceptualización del patrimonio. En cambio, los profesores de secundaria (sobre todo del área de geografía e historia) y los gestores, con más peso disciplinario en su formación, muestran un mayor dominio conceptual, pero manifiestan notables carencias metodológicas para desarrollar acciones educativas eficaces a partir del patrimonio. Todo ello acaba generando dificultades que impiden captar y comprender la finalidad del patrimonio. Un problema que es mucho más acusado en el caso de los gestores, en tanto que son los principales responsables de las instituciones y programas relacionados con el patrimonio.
En el bloque III de este volumen, capítulos 7 al 11, se recoge la visión de más de 25 participantes (maestros, profesorado de ciencias sociales, geografía e historia, ciencias de la naturaleza y física y química, así como de gestores del patrimonio). También se recogen ideas en relación con la educación patrimonial que ofrecen los libros de texto y los materiales didácticos de espacios patrimoniales. Sus aportaciones como usuarios, en el caso del profesorado, o como diseñadores de materiales didácticos, en lo que se refiere a los gestores patrimoniales, complementan y matizan el análisis realizado en el proyecto de investigación mencionado en relación con el patrimonio en los libros de texto y materiales didácticos de los museos y centros de interpretación del patrimonio. Además, se ha obtenido información adicional que ha enriquecido nuestro conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje del patrimonio, sus dificultades y sus obstáculos, pero también sobre las propuestas y las experiencias que el profesorado y los gestores promueven para intentar superar tales limitaciones.
El Bloque IV reúne 5 trabajos que presentan otros tantos proyectos de tesis doctorales en curso relativos a la educación patrimonial en contextos formales, no formales e informales, dirigidos por miembros del equipo de investigación de EDIPATRI y realizados mayoritariamente por colaboradores de los proyectos de investigación desarrollados desde el 2003 hasta la actualidad. Asimismo, en el último capítulo de este bloque de contenidos se presenta una síntesis de la tesis leída en 2012 en el seno de EDIPATRI. Su autora (Myriam Martín Cáceres bajo la dirección de José M.ª Cuenca) plantea la importancia del museo como comunicador, desarrollando una investigación cualitativa de gran precisión metodológica.
En el Bloque V, capítulos 18 a 24, se recogen las experiencias didácticas en relación con el patrimonio que han desarrollado algunos de los participantes (profesorado y gestores) en estas Jornadas, lo que nos permite acercarnos al conocimiento de la práctica de la enseñanza y comunicación didáctica del patrimonio en la escuela y los museos.
Finalmente, el último capítulo del libro pretende ser síntesis y conclusión de lo tratado en el mismo, planteando las líneas de investigación actuales y las nuevas perspectivas en la investigación en educación patrimonial. Tras estas conclusiones se presenta un anexo fotográfico y bibliográfico.
Hay que agradecer el trabajo de compilación que ha hecho Jesús Estepa, dado el esfuerzo de publicación que ha significado el libro en estos tiempos de crisis. Y sólo me resta felicitar a EDIPATRI por el trabajo realizado.
Roser Calaf Masachs
[IF]Crossing boundaries: intercontextual dynamics between family and school – MARSICO et al (REi)
MARSICO, G.; KOMATSU, K.; IANNACCONE, A. Crossing boundaries: intercontextual dynamics between family and school. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2013. In: Revista Entreideias, Salvador, v. 2, n. 2, p. 259-265, jul./dez. 2013.
Crossing Boundaries: Intercontextual Dynamics Between Family and School é uma coletânea publicada em 2013 pela Information Age Publishing (IAP), organizada por Giuseppina Marsico (Universidade de Salerno), Koji Komatsu (Universidade Osaka Kyoiku) e Antonio Iannaccone (Universidade de Neuchâtel). O livro está organizado em duas seções, com cinco capítulos (1-5) na primeira seção e seis capítulos (6-11) na segunda. A primeira seção é intitulada Explorations of Regulatory Dynamics Taking Place During the Encounters of the Two Microsystems e a segunda Analyses of the Representations’ System Produced by the Actors in One Context (Family) Towards the Other Microsystem (School). Na última seção estão inseridos, ainda, três capítulos finais (Commentary; General Conclusion: Moving Be¬tween the Social Spaces: Conditions for Boundaries Crossing; e About the contributor).
A coletânea representa uma aproximação, um convite para o estudo dos processos educacionais a partir da perspectiva da psicologia cultural. O objetivo central da coletânea é analisar aquilo que acontece na zona de contato (border) entre a cultura familiar e a cultura escolar. O livro apresenta uma discussão sobre as fronteiras existentes entre esses diferentes contextos educacionais. Os autores propõem uma reflexão sobre os variados discursos que surgem na zona de fronteira e sobre o movimento de atravessá-las, observando o que acontece na vida cotidiana dos atores envolvidos. Ao analisarem o movimento entre os espaços sociais e os processos dinâmicos que acompanham o diálogo entre a família e escola, os autores recorrem aos diversos conceitos da psicologia cultural.
A presente resenha refere-se, especificamente, ao capítulo intitulado “Conclusão Geral – Movendo-se entre os espaços sociais: Condições para Atravessar as fronteiras” (General Conclusion: Moving Between the Social Spaces: Conditions for Boundaries Crossing) de autoria de Giuseppina Marsico. Esse capítulo situa-se no final da segunda seção do livro, na página 361 e trata do processo de atravessar as fronteiras entre a família e a escola.
Ao observarmos o contexto educacional brasileiro, é possível identificarmos uma fragmentação das vozes da família e da escola sobre o estudante, o que provoca uma separação e um distanciamento que não favorece o diálogo. Uma dificuldade relacionada à criança, ou adolescente, pode estar presente em meio aos dois contextos: o familiar e o escolar. Entretanto, verificamos uma tendência à fragmentação, como se fosse possível realizar tal separação. Muito comumente, a família responsabiliza a escola e a escola responsabiliza a família por situações que expressem alguma crise vivenciada no contexto escolar. Os signos relacionados à culpabilização e à demanda por ações estão presentes tanto na escola e quanto na família, diante da emergência do aluno-problema. Esses signos causam desconforto e costumam transitar de um lado a outro, ora no contexto familiar, ora no contexto escolar. Um aspecto que deve ser considerado nesse processo de (des)responsabilização diante das dificuldades apresentadas pelas crianças e adolecentes parece reverberar na dificuldade de ambos os lados da fronteira em sustentar a lei, o que acaba por delegar ao outro o exercício da mesma. Sendo assim, o diálogo que se estabelece na zona da fronteira, entre esses dois contextos, se apresenta como uma possibilidade cercada de tensão.
A escola brasileira ainda apresenta aspectos que favorecem o distanciamento de um diálogo entre a família e a escola, de uma forma reflexiva e que possibilita o movimento para as intervenções a partir das demandas e produções singulares do aluno. De modo geral, a escola se posiciona em um lugar assimétrico em relação à família, ocupando um lugar de poder. Marsico (2013) utiliza a metáfora da varanda (balcony) para indicar o lugar de poder ocupado pela escola. Segundo Marsico, na varanda se faz contato com o externo, há alguma forma de relação com o exterior, mas está presente certo empoderamento sobre o outro. À família, só é permitido o acesso à escola a partir de condições estabelecidas por esta última e, ainda assim, quando ocorre, não se dá de forma integral em virtude dos limites impostos pela mesma. Por mais que permita o acesso e tente proporcionar um diálogo a partir de uma escuta atenta ao que a família expressa, a escola se mantém no lugar assimétrico, que implicitamente envolve, também, uma posição de defesa.
Porém, tanto no contexto educacional privado quanto no público existem famílias que ultrapassam esses limites, essas fronteiras. No contexto privado, esse movimento pode ocorrer a partir de um signo de consumo, que reconfigura e desafia a assimetria da varanda, visto que reposiciona a família em uma condição de cliente que consome o serviço oferecido pela escola. Esta parece ser uma importante condição que permeia o diálogo entre a escola e a família no contexto privado.
Além disso, o que parece prevalecer é uma preocupação maior com as questões relativas à aprendizagem, considerando que a educação é guiada por fronteiras. Desde macrofonteiras, como os diferentes níveis a serem alcançados na educação formal escolar que revelam uma ideía de acumulação de conhecimento e avaliação de desempenho: do aluno espera-se que assimile o conhecimento proposto, sendo frequentemente avaliado em sua capacidade de apreensão deste conhecimento para em seguida progredir, ou não, para o ano escolar posterior. Essas macrofronteiras já sofreram diversas alterações semânticas ao longo da história recente da educação formal brasileira: o antigo jardim de infância foi renomeado como pré-escola, e agora educação infantil; o ensino primário foi transformado em ensino fundamental e assim por diante. Porém, muito pouco foi alterado no que se refere à lógica de assimilação e avaliação do desepenho acadêmico/escolar pelo estudante. Em outras palavras, mudou-se o semblante, não o conteúdo.
Ainda pensando nessas macrofronteiras, o modelo de progressão linear da educação formal reproduz uma lógica contrária à pro¬posta por Marsico. A educação formal baseada nesta lógica parece privilegiar o desempenho do estudante diante das expectativas criadas pela própria escola ao invés de fomentar as potencialidades deste mesmo estudante.
Tomando-se como referência um grupo de estudantes que estão situados em uma mesma macrofronteira, o sexto ano (antiga quinta série do Ensino Fundamental II) por exemplo, as histórias de vida, crenças pessoais, potencialidades de cada um constituem microfronteiras que são desconsideradas diante da visão homogeneizada desses sujeitos por parte da escola. Quando um aluno apresenta alguma demanda específica, nomeada como queixa escolar, essas microfronteiras são evidenciadas, influenciando no atravessamento das macrofronteiras. Como exemplo, um estudante que apresente conflitos em seu ambiente familiar que reverberam em seus relacionamentos com colegas, evidencia que dentro de uma mesma classe há diversos sujeitos singulares (microfonteiras) e que a partir de suas histórias pessoais podem apresentar dificuldades no desempenho escolar e na progressão para a série seguinte (macrofronteiras).
Quando um fenômeno como este ocorre (a queixa escolar) ou quando existe alguma questão, uma “etiqueta” psiquiátrica – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH); Transtorno Opositivo Desafiador (TOD); dentre ouros), ou comportamentos que geram incômodo na família ou na escola, o diálogo parece surgir como uma necessidade diante do não saber o que fazer em relaçâo a este quadro. Nestes casos, o diálogo se coloca como “condição” para o desenvolvimento do aluno, e às vezes, até para sua permanência na escola. Se por um lado, esse diálogo pode gerar maior trânsito nas zonas de fronteiras, por outro, é marcado por muitas implicações e resistências. As fronteiras se tornam mais fluidas quando há presença do diálogo, mas ao mesmo tempo surgem dificuldades de falar sobre os assuntos e pensar no que pode ser feito. As zonas de fronteiras se tornam, então, zonas de negociação.
Surge, dessa forma, a demanda real para o atravessamento da fronteira entre a família e a escola. É comum que a família busque ajuda da escola ou procure esclarecer aspectos importantes relacionados às eventuais dificuldades apresentadas pela criança ou adolescente. Do mesmo modo, frequentemente a escola procura a família para solicitar ajuda ou até mesmo encaminhar a criança para outros profissionais como, por exemplo, o parapedagogo:1 o médico, o psicólogo, o acompanhamente terapêutico e demais profissionais. Esses profissionais são convocados para responder às demandas de queixa escolar, que, na maioria das vezes, partem dos profissionais da escola ou da família, mas muito raramente dos estudantes.
Marsico desenvolve a ideia de que entre a escola e a família existe um terceiro lugar constituido pela fronteira entre os dois contextos e que emerge diante de situações que exigem o diálogo entre ambos os lados da fronteira. Em circustâncias nas quais a escola e a família são confrontadas a dar respostas sobre uma situação que desconhecem, como nos casos nos quais emerge um aluno-problema, observamos que esse terceiro lugar costumeiramente é ocupado pelos parapedagogos. Esses profissionais (médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais. etc) são convocados a responder, descrever e propor soluções para os conflitos que são supostamente o objeto de seu saber. Esses profissionais são, então, convocados a decifrar o enigma que se estabelece quando é identificado um “aluno-problema”.
A questão que se coloca é: em que medida esses profissionais que trabalham fora do espaço físico da escola (chamados “parapedagogos”, que apresentam consigo seus mais diversos tecnicismos) podem colaborar para a solução dos conflitos que acontecem na escola ou na família? Ao encontrarem uma classificação para os sintomas apresentados pelo estudante, e oferecerem uma etiqueta, não estariam reduzindo o fenômeno e criando marcas que podem afetar o desenvolvimento posterior da criança, ou do adolescente?
Atualmente, percebemos que a escola, no contexto privado, parece demandar e necessitar de outros saberes para responder a tais dificuldades, o que se torna importante na medida em que busca atravessar a fronteira do saber escolar/pedagógico e alcançar o diálogo com as outras áreas para ampliar as possibilidades de intervenção. Por outro lado, a escola parece vivenciar uma angústia do não saber, depositando muitas respostas nesses outros profissionais aos quais recorre, os parapedagogos. A atuação desses profissionais pode marcar a trajetória escolar e desenvolvimental do aluno. Em uma leitura acrítica de suas funções, os parapedagogos podem produzir rótulos, “colar” etiquetas diagnósticas aos alunos, que podem se perpertuar, desresponsabilizando os demais atores envolvidos no fenômeno, como a escola e os pais.
Um dos fundamentos mais caros à psicologia cultural é a concepção da cultura como um processo dinâmico em detrimento da noção de cultura como algo sólido repleto de construções simbólicas imutáveis e na qual o sujeito está inserido em uma relação de objeto, sendo um produto de sua cultura. A escola, ao longo da história, se traduz como uma das instituições que descrevem e representam os valores do tempo e da cultura coletiva. Em sua origem, como ocorreu com outra instituição social, a família, a lei oriunda da lógica patriarcal norteava as relações dentro e fora do contexto escolar. A verticalidade da lei, na modernidade, deu lugar à horizontalidade, na pós-modernidade, tradução da necessidade de reinvenção das soluções como consequência do declínio da autoridade.
Diante disso, podemos entender que a escola ocupava um lugar de saber e de poder. Com as mudanças da pós-modernidade, a escola começa a vivenciar uma crise em relação a tal saber e ao exercício da autoridade. Esta instuição, de modo geral, apresenta uma certa dificuldade e fragilidade nesse exercício, especialmente quando mantém uma relação de clientela com seus estudantes e com suas respectivas famílias. Dessa forma, destituida de seu lugar original, fica evidente o apelo que a escola faz à lei (externa). Não se trata de construir juízos de valor quanto a escola atual. A questão parace ser que, em um sociedade horizontalizada, a constituição das fronteiras já é marcada pela diluição, tornando a relação entre escola e família ainda mais tensa diante da falta de lei/autoridade, que gera corpos “sem gravidade”,2 “presas” fáceis para o discurso dos parapedagogos que diagnosticam e propõem a terapêutica para um sintoma do tempo encarnado no aluno.
Como já exposto, na escola privada o apelo à lei é feito muitas vezes pela via da medicalização. As crianças e adolescentes “problema” são abordadas por parapedagogos como neurologistas, psicólogos, psicopedagogos com o objetivo de reestabelecer a norma no desempenho escolar. No Brasil, diante dos últimos acontecimentos, observamos que na escola pública a questão parece ser da ordem não somente do restabelecimento da norma, mas da lei/ autoridade propriamente dita. Tem aumentado o número de casos em que a polícia é convocada pela escola, e comparece, para dar resoluções a conflitos que antes eram mediados e solucionados no contexto escolar. Como exemplo, recentemente, em uma escola municipal de Salvador- Bahia, a direção da instituição informou às famílias que, na presença de um conflito ou incômodo entre os alunos, os responsáveis deveriam se encaminhar para a delegacia para resolver a situação ou efetuar uma queixa formal. Aqui, já aparece uma questão que marca a vida e o imaginário das crianças e adolescentes: o “sujar” a ficha, o nome diante dos conflitos. Com uma queixa policial, aparece a ameaça da possibilidade do ato ficar registrado como um antecedente criminal, o que, na realidade, se refere à uma situação escolar, que deveria ser resolvida neste contexto e com os envolvidos no conflito.
Em resumo, diante dos argumentos trazidos por Marsico, parece não haver discordância no que se refere à necessidade de atravessar as fronteiras entre a escola e a família, através do estabelecimento de um diálogo que se transforme em uma ponte permanente entre os dois lados da fronteira. No entanto, notamos que essa condição se dá a partir de uma posição institucionalizada.
O calendário escolar contempla momentos de encontro entre a família e a escola, mas frequentemente esses encontros são carac¬terizados por um discurso prévio que aborda questões genéricas e que não contempla a singularidade do caso a caso de cada aluno. As reuniões de pais e mestres são o exemplo mais claro desta condição. Nesses casos, o conceito de varanda (balcony), traduz, com preci¬são, a posição assimétrica da escola com relação à família, pois é a primeira que determina o momento, lugar e a direção desse tipo de evento/encontro. Em contrapartida, na prática, a singularidade do aluno costuma emergir somente quando há o surgimento de uma crise que demanda o atravessamento das fronteiras. No restante dos casos, a singularidade costuma ficar silenciada pela suposta normalidade no desempenho do aluno, que na maioria das vezes o torna invisível à escola.
A pertinência do texto de Marsico reside, principalmente, na possibilidade de uma leitura singular do processo educacional, a partir da constatação de que a fronteira entre a escola e a família, ao fim de tudo, pode ser localizada, corporificada na própria criança ou adolescente. E é a partir dela que se constroem as pontes necessárias entre os lados da fronteira. O aluno seria, então, o terceiro lugar, marcando o “porquê” de atravessar a fronteira e mostrando o “como” esse movimento pode ser feito de forma a contemplar suas particularidades e sua trajetória escolar.
Notas
1 Termo criado pelos autores, usado pela primeira vez nesta resenha, para designar um conjunto de profissionais que têm sido cada vez mais presentes no entorno da escola: psiquiatras, neurologistas, psicólogos, acompanhante terapêutico, pediatras e psicopedagogos.
2 Termo utilizado pelo psicanalista Charles Melman em seu livro “O homem sem gravidade”, para se referir a agitação dos corpos na contemporaneidade em decorrência do declínio da lei.
Referências
MELMAN, Charles. O homem sem gravidade: gozar a qualquer preço. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2003.
A escola na ótica dos Ava Kaiowá: impactos e interpretações indígenas – BENITES (H-Unesp)
BENITES, Tonico. A escola na ótica dos Ava Kaiowá: impactos e interpretações indígenas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2012, 120 p. Resenha de: ZIMMERMANN, Tânia Regina. História [Unesp] v.32 no.1 Franca Jan./June 2013.
Tonico Benites pertence à etnia Kaiowá, da aldeia Jaguapiré, município de Tacuru. É graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – com a dissertação intitulada: “A escola na ótica dos Ava Kaiowá: impactos e interpretações indígenas” – e concluiu o doutorado na mesma instituição. Benites foi professor de Psicologia da Educação na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.
A obra que aqui apresentamos é resultado de suas pesquisas etnográficas nas aldeias Kaiowá de Sassoró e Jaguapiré, Mato Grosso do Sul. Ao longo dos três capítulos que compõem a obra, o autor centralizou seus estudos na escolarização promovida por órgãos públicos nas aldeias e nos impactos deste processo na educação escolar tradicional das famílias Kaiowá; seguem-se análises sobre a construção da educação indígena a partir do olhar de muitas famílias extensas, incluindo-se discursos de líderes religiosos e das novas gerações escolarizadas.
No primeiro capítulo, Benites pontua as tradições de conhecimento nas aldeias e a história de formas de dominação, desde a conquista europeia até a Guerra do Paraguai. Para o autor, os Guaranis são um povo resistente, pois, apesar dos contatos com os grupos colonialistas dominadores, eles mantêm até o tempo presente um modo comum de ser, viver e falar sua língua materna. Neste processo colonialista são analisados os trabalhos nos ervais, o sistema de aldeamento e a ação missionária. Para o autor, historicamente, os povos indígenas foram expulsos e desvinculados pelo Estado brasileiro de seus territórios antigos, que foram comercializados mediante leis que favoreciam principalmente os latifundiários. O Estado passou a considerar os indígenas, jurídica e socialmente, seres não civilizados, que estariam ainda em processo de evolução humana. Para Benites, a postura do governo brasileiro contribuiu para acentuar a discriminação e a manutenção de estigmas contra os indígenas.
Segundo Benites, os espaços territoriais conhecidos como reservas indígenas, nos quais os índios devem viver, são sítios de confinamento, nos quais os Guaranis e Kaiowás limitam seus modos autônomos de vivência e às vezes passam fome, miséria e perdem referências e tradições culturais.
Ainda neste capítulo, o autor analisa a constituição histórica das aldeias Kaiowá de Sassoró e Jaguapiré, nas bacias do rio Iguatemi, de Mato Grosso do Sul e os conflitos e divergências em relação à interferência do Estado ao impor um modelo de educação escolar denominada escola polo indígena municipal.
No capítulo seguinte, “Organização social e transmissão de conhecimentos entre os Ava kaiowá”, Benites nos brinda com uma análise da organização política e doméstica na perspectiva familiar e geracional e segue contemplando os rituais, normas, comportamentos, namoro-casamento, interferências religiosas externas e conflitos intra e intercomunitários. O autor finaliza o capítulo com a explicação do processo de educação de jovens e crianças pela família e comunidade, com ênfase nos espaços, e das técnicas e rituais de transmissão de conhecimento em práticas cotidianas. Para Benites, as crianças e jovens aprendem como devem viver e se comportar, de acordo com as práticas de cada família extensa.
No último capítulo, “Os Ava em face da educação escolar”, o autor aborda algumas lógicas e práticas escolares, religiosas e governamentais nas aldeias. Benites inova ao interpretar a educação escolar formal a partir do olhar dos Ava Kaiowá, ou seja, das famílias e dos líderes religiosos. O autor também enfatiza que há um entendimento de algumas famílias de que o ensino da escrita e a educação formal são fonte de diversos saberes, prestígio e poder político dos não indígenas. Para muitas famílias, a escola constitui uma instituição externa, que complementa sua educação tradicional. Por fim, Benites analisa o movimento indígena Kaiowá, que reivindicou a especialização de professores indígenas a partir da década de 90; esse projeto foi denominado “Ara Verá”. O autor conclui que, mesmo com o movimento, as atividades educativas nas aldeias permaneceram sob o domínio dos missionários da missão Evangélica Caiuá.
Eis o conjunto de interpretações produzidas pelo antropólogo Benites que constitui uma importante referência para pessoas ávidas por um saber aberto para a construção do novo, para o respeito ao diferente, ou seja, conforme as palavras do próprio autor: “[…] entende-se que esta escola indígena nas aldeias deve […] estar a serviço da diversidade de ser e de viver de cada família extensa contemporânea, o Ava kuera reko reta (‘modo de ser múltiplo’)”.
Tânia Regina Zimmermann – Professora Doutora do Curso de História da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, unidade de Amambai. E-mail: [email protected].
Novas tecnologias para ler e escrever: algumas ideias sobre ambientes e ferramentas digitais na sala de aula – RIBEIRO (REi)
RIBEIRO, Ana Elisa. Novas tecnologias para ler e escrever: algumas ideias sobre ambientes e ferramentas digitais na sala de aula. Belo Horizonte: RHJ, 2012. Resenha de: PINHEIRO, Daniel Silva Pinheiro; CALDEIRA, Marildes. Revista Entreideias, Salvador, v. 1, n. 2, p. 159-162, jul./dez. 2012.
Ao longo dos séculos, os processos de ler e de escrever foram redesenhados pelas modificações dos seus suportes e materiais. Passamos desde a argila, papiro e papel, bem como pelos formatos de rolo e códice chegando à atualidade em que temos à disposição as telas dos dispositivos digitais. Estes vêm exercendo forte influ¬ência nos modos de ler e escrever, alterando a própria estrutura textual, em que se apresenta na forma de hipertexto, cada vez mais multimodal no sentido em que podem combinar as diversas linguagens, tais como imagens, sons, códigos verbais, dentre outras.
Essas combinações multiplicam as possibilidades de comunicação para o sujeito, lhe permitem novas formas de interação social, assim como estimulam o aparecimento de novos gêneros textuais. Tal assertiva, implica numa ampliação e complexificação dos processos de letramento. É justamente considerando e discutindo estas questões que a Ana Elisa Ribeiro nos convida ao diálogo com o livro Novas tecnologias para ler e escrever.
A obra constitui-se numa organização das pesquisas acadêmicas realizadas pela autora e de suas experiências em sala de aula como professora de Português e de Produção de Textos. Trata-se de um trabalho que busca não somente esclarecer conceitos do campo da leitura e da escrita em meios digitais, mas que também traz relatos bem fundamentados, de atividades de leitura e escrita, usando o que ela denomina “ferramentas digitais”.
Ao descrever algumas experiências realizadas, em práticas de letramento digital, ou seja, situações de uso da escrita e leitura em meio digital, percebe-se que a pretensão da autora é viabilizar que seus leitores reflitam e sejam instigados a também experienciar estas e outras práticas similares em seus respectivos contextos. É evidente ao longo da obra que a mesma destina-se, especialmente, a professores que já trabalham ou pretendem trabalhar com produção textual considerando as questões emergentes no que diz respeito às tecnologias e ao letramento.
Apesar do enfoque prático, e de frequentemente ser empregado o termo “ferramentas” para designar os ambientes e dispositivos digitais, a autora avança para além da concepção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) enquanto simples suportes ou instrumentos e sustenta a importância desses espaços como potencializadores do trabalho crítico e colaborativo, favorecendo assim uma perspectiva que considera a escrita como processo e não como produto.
Ribeiro sustenta que a Web 2.0 é caracterizada especialmente pela participação dos sujeitos que concomitantemente produzem conteúdo e aperfeiçoam o próprio sistema. Também é peculiar ao contexto da Web 2.0 a intersecção entre os dispositivos digitais e a rede, a internet, o que aumenta significativamente as possibilidades de colaboração, de produção e publicação de textos. Temos ai, um avanço em relação à visão restrita das TIC como meras ferramentas, em seu texto, a autora evidencia sua compreensão das TIC enquanto potencializadoras da produção de saberes e culturas. Para além de suas próprias pesquisas a autora utiliza-se de alguns outros referenciais do campo da linguística e da comunicação para estruturar suas observações. São citados, por exemplo, Lucia Santaella, Manuel Castells, Pierre Lévy, Antônio Marcuschi, André Lemos, entre outros.
O livro é organizado em 12 pequenos capítulos que ao mesmo tempo em que tem seus temas interligados, oferecem a possibili¬dade de um caminhar não linear. O leitor possui a liberdade para escolher qual o assunto específico que lhe interessa ou em qual capítulo do livro quer iniciar sua leitura sem, com isto, ter sua compreensão comprometida.
Diante da nossa dificuldade em dissociar a priori o termo tecnologia do contexto que envolve exclusivamente equipamentos elétricos, a autora atenta para o fato de que o homem já há muito tempo age sobre a natureza modificando-a. Para isto, ele utiliza-se de recursos técnicos que originam tecnologias capazes de suportar e estruturar as ações humanas. Importa perceber isto, pois tal dificuldade pode ocorrer de maneira similar com relação à percepção das TICs, as quais também não são tão recentes – exemplo disto, é o rádio, cuja criação e utilização data de algumas décadas.
Por meio de uma observação histórica o que se percebe é uma relação imbricada entre tecnologia e sociedade, ambos sendo influenciados e influenciando-se mutuamente. É a partir desta relação que os sujeitos vão se apropriando das tecnologias, transformando seus usos e construindo novas necessidades.
Desta forma, o domínio da tecnologia da escrita exige o domínio conjunto de várias técnicas, isto, desde que predominavam o uso do lápis e papel chegando até os nossos dias de uso intensivo dos dispositivos tecnológicos digitais. Conforme a autora, os usufrutos são aprendidos, cada objeto de ler e suas configurações são apropriados pelos sujeitos por meio da experiência e experimentação. Considerando a argumentação feita até aqui, e as afirmações de Ribeiro, seria possível imaginar a existência de uma disputa envolvendo as tecnologias (novas e antigas) e as instituições formativas, tais como a escola. Contudo, ela argumenta que esse tipo de compreensão se constitui num equívoco, já que o que se percebe é uma reconfiguração das tecnologias e mídias para que se mantenham entre as opções do leitor. Com relação a escola, o que se faz necessário é um olhar outro no que diz respeito às mídias que precisam ser vistas como novos meios de fazer, propor e mesmo seduzir, tanto alunos quanto professores.
Também merece relevância apresentar a reflexão acerca do conceito e do contexto de utilização do termo letramento feito pela autora, bem como sua relação com a alfabetização. Ribeiro define o letramento como sendo os usos que as pessoas realizam da alfabetização que tiveram ou das práticas ligadas à cultura escrita em que estão imersas. Argumenta em torno da existência de agências de letramento, que seriam espaços de socialização de práticas de letramento, tais como a escola, o trabalho e a família. Além de empregar a concepção de graus de letramento, em que por meio das mais diversas agências os sujeitos podem adquiri-los em variados níveis. Esses termos e conceitos são fundamentais no campo dos estudos sobre as práticas de uso da língua e seus variados gêneros. Já que a humanidade sempre inventará novas formas de escrever, novos gêneros de textos e suportes de leitura é impossível afirmar que existam limites para o letramento. Desta forma, na atualidade, em que contamos com a internet e os dispositivos digitais, a autora julga como pertinente adjetivar o termo letramento com a palavra digital, isto, para indicar a escrita em ambiente online, em rede, utilizando-se de dispositivos digitais.
Visto que se inserem neste contexto sociotécnico como mediadores instituídos para isto, a escola e o professor são multiplicadores potenciais deste letramento digital. Para Ribeiro, é justamente a partir do momento que as agências de letramento, com especial menção – a escola, compreenderem a permeabilidade relativa que existe entre textos e dispositivos de ler que será possível formar leitores hábeis e aptos a qualquer experiência de leitura (p. 119), consequentemente será possível colaborar para emancipação humana.
Como eventos de letramento que podem ser trabalhados em sala de aula, a obra conta com a indicação de experiências, por exemplo, o trabalho com webjornais, que possui entre as suas principais características a não linearidade e a multimodalidade. Estas, no entanto, não são propriedades dos jornais da web, pois já existiam há algumas décadas. Os ambientes digitais intensificaram e ampliaram essas características, trazendo outras opções de combinação das linguagens, como o áudio e o vídeo, que não seriam possíveis no meio impresso.
Outra experiência envolvendo letramento digital relatada no livro de Ribeiro é o trabalho com Google Docs cujo enfoque está mais voltado a valorização da escrita. Esse recurso possibilita a produção de escritos elaborados colaborativamente, estando os sujeitos em tempos e espaços diferentes, basta estarem com algum dispositivo digital conectado a internet. Nesse trabalho, o professor tende a enfatizar o processo de escrita, ainda mais do que o seu produto.
Ribeiro também opta por relatar nesta obra o seu trabalho com os alunos envolvendo práticas de retextualização, as quais requerem um maior planejamento e o uso efetivo de algumas linguagens. Para exemplificar, a autora trás uma experiência que refere-se ao uso de programas de rádio, em que os alunos foram instigados a retextualizar na forma de material impresso, uma locução gravada de uma rádio web. Ribeiro sustenta que essas atividades podem ser remodeladas e promovidas em qualquer série, em qualquer etapa de ensino, só dependendo da criatividade da agência e do professor (p. 75).
Consideramos que a obra oferece uma leitura clara, objetiva e promove importantes reflexões sobre os processos de letramento, principalmente quando este é confrontado com as novas práticas de leitura e escrita mediadas pelos meios eletrônicos.
Daniel Silva Pinheiro
Marildes Caldeira
Jovens e Cotidiano: trânsitos pelas culturas juvenis e pela escola da vida – STECANELA (ER)
STECANELA, Nilda. Jovens e Cotidiano: trânsitos pelas culturas juvenis e pela escola da vida. Caxias do Sul: EDUCS, 2010. Resenha de: ROSA, Marcelo Prado Amaral. Educação & Realidade, Porto Alegre, v.37 n.2, maio/ago., 2012.
O livro Jovens e Cotidiano é resultante do estabelecimento de elos entre a empiria e a teoria, tendo como objeto de análise a dimensão educacional não formalizada, pautado no diálogo entre a sociologia da educação e a sociologia da juventude, buscando interfaces como forma de compreender os processos informais da socialização juvenil. Tais entrelaçamentos foram possíveis através da ocorrência, ao longo da produção textual, de um diálogo em três dimensões, articulando as vozes dos interlocutores empíricos com os interlocutores teóricos e com os conhecimentos tácitos da própria autora, objeto de estudo e problema de pesquisa do projeto de doutoramento. Ainda, o livro apresenta três dimensões de abordagem que, mesmo integradas, oferecem contribuições originais e individualizadas sem prejuízo algum com relação ao todo, sendo as dimensões: discussão teórica sobre juventude; reflexão metodológica de pesquisa de acordo com a perspectiva etnográfica; e a construção dos itinerários de vida e dos processos identitários da juventude da periferia urbana de um município de porte médio do interior do Rio Grande do Sul. A leitura é recomendada para docentes atuantes em todos os níveis, graduandos e pós-graduandos da área de Ciências Humanas e Sociais e Licenciaturas em geral, além de todos os interessados em conhecimentos sobre os espaços não formais de educação.
A autora da obra, professora Nilda Stecanela, é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente, é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul (UCS), além de professora na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. Coordenadora do Observatório de Educação da UCS e do Programa Nossa Escola Pesquisa sua Opinião no Polo Rio Grande do Sul. Atua, principalmente, nas seguintes linhas de pesquisa: Gêneros e processos de socialização; Formação de professores para educação básica; Infâncias, juventudes e processos de socialização e Filosofia e história da educação. É autora e/ou organizadora de outras cinco obras, entre elas, Mulheres e direitos humanos: desfazendo imagens, (re)construindo identidades (2009); Interação com o mundo natural (2007); Construção de conceitos de Ciências (2006); Fundamentos da práxis pedagógica (2005).
A obra em questão se apresenta dividida em nove seções, organizadas de forma exemplarmente didática, a saber: introdução; capítulo 1 – A problemática do estudo; capítulo 2 – Os dilemas conceituais; capítulo 3 – Percursos metodológicos; capítulo 4 – Os percursos juvenis; capítulo 5 – Desafios interpretativos: o que comunicam as palavras sobre o cotidiano?; conclusões; referências; e, por fim, anexos. A obra completa apresenta 368 páginas. Ainda, os autores que inspiraram a forma de escrita do trabalho como um todo foram José Machado Pais e Alberto Melucci, o que proporciona uma escrita densamente descritiva pelos avanços e retrocessos realizados pela autora, além de emocionante, com conexões metafóricas com a poesia de Manuel de Barros, fazendo da exposição despida e ousada da escrita a característica peculiar da obra. Na seção dos anexos ainda são apresentados os perfis dos jovens entrevistados, o que possibilita ao leitor suscitar uma espécie de grau de empatia com os coautores1 do texto.
O primeiro capítulo do trabalho em questão – A problemática do estudo –, tem como objetivo situar sobre os caminhos percorridos para a construção do objeto, intenções e o problema de pesquisa que deram a direção do estudo. Este capítulo encontra-se subdividido em quatro seções.
m Caminhos e motivações para a definição do objeto, é exposta rapidamente a trajetória dentro do curso de mestrado da autora, em que se tem o princípio de um olhar para a dimensão não formalizada da educação a partir de indícios sobre a ausência do diálogo entre as trajetórias juvenis e os conhecimentos escolares. Ainda, aqui, é explicitado os marcos teóricos para o ajustamento focal deste estudo.
Já em Os objetivos, o problema e as hipóteses de investigação, é apresentada a definição do objetivo que norteou o trabalho, sendo “[…] conhecer e compreender as dinâmicas que envolvem os processos educativos não-escolares dos jovens de uma periferia urbana, a fim de possibilitar releitura das práticas educativas escolares” (p. 20), juntamente com a conceituação de periferia. Desta forma, a autora julga prudente o afastamento da escola para compreendê-la, navegando pelos usos temporais e espaciais que os jovens praticam na possibilidade de identificação de como e quais conhecimentos os mesmos constroem nas suas práticas culturais cotidianas. Sobre as hipóteses, a autora afirma categoricamente que não elaborou hipóteses prévias, evitando, assim, o condicionamento das lentes sobre o panorama da pesquisa, adentrando tal cenário munida de intuições.
Na subseção O cenário e os sujeitos da pesquisa, são apresentadas sucintas retomadas históricas da formação e desenvolvimento da cidade de Caxias do Sul e da comunidade O Reolon onde estão localizados os sujeitos da pesquisa, dezoito jovens de ambos os sexos, em situações divergentes em relação à escola, à família e ao trabalho. Para análise detalhada são reconstruídas as trajetórias de quatro jovens (capítulo 5). Em As fronteiras disciplinares, é declarada a característica de interdisciplinaridade do trabalho, tendo como porto seguro a Educação, justificando o entrelaçamento de disciplinas no hiato comunicativo existente entre a Sociologia da Educação e a Sociologia da Juventude. Sobre o distanciamento entre estas duas possibilidades da Sociologia, Abrantes (p. 26) expõe “[…] ocorre um distanciamento entre os “alunos” dos estudos sobre educação e os “jovens” dos estudos culturais, deixando transparecer, em várias situações, que não se está falando dos mesmos atores”. Os principais autores utilizados para a contextura teórica deste capítulo são José Machado Pais, Paulo César Carrano, Juarez Dayrell, Paulo Freire e Alberto Melucci.
O objetivo do segundo capítulo da obra – Os dilemas conceituais – foi contextualizar teoricamente os temas e conceitos implicados no estudo, baseando-se na produção sociológica sobre o assunto. Encontra-se subdividido de acordo com os subtítulos A pesquisa com jovens com base na sociologia do cotidiano, que focaliza a sociologia da vida cotidiana como perspectiva metodológica. Segundo Pais, quando se adota tal ponto de vista como propulsão para o conhecimento, se “[…] condena os percursos de pesquisa a uma viagem programada […] que facultam ao pesquisador a possibilidade de apenas ver o que seus quadros teóricos lhe permitem ver” (p. 31). Ainda, a autora aqui, apresenta como justificativas para adotar essa abordagem metodológica os aspectos de ser este um posicionamento de abertura ao inusitado, afastando-se da “lógica do preestabelecido”, procurando apreender algo que está presente de modo bruto; ao passo que procura transformar o cotidiano em durável admiração ou espanto, centrando sua atenção nos desaterros dos detalhes da vida cotidiana. Nesse capítulo, é colocado à vista o mergulho etnográfico realizado pela autora, visando à potencialização da decifração dos enigmas contidos nos trânsitos dos jovens participantes da pesquisa.
m Para além da hegemonia da forma escolar, os processos educativos não escolares, a autora tece a trama escolar através da história e procura compreender, através da trajetória dos jovens da pesquisa, a questão da exclusão social e escolar provocada tanto por fatores endógenos quanto exógenos à escola. Seguindo no texto, a autora se concentra nos alicerces da crise da escola. Aponta as mutações que a instituição escolar sofreu ao longo do século passado, na qual “[…] a escola passou de um contexto de certezas para um contexto de promessas, situando-se hoje num contexto de incertezas” (p. 43) e a “[…] invasão da escola pelo social, e o social invadido pela escola” (p. 45) e a “[…] nostalgia das representações que acreditam ser possível à escola dar conta de todas essas [qualificação escolar, educativa e de socialização] funções” (p. 48) como pontos nevrálgicos da mutação da escola. Para finalizar esse subcapítulo, concentra cuidados sobre o “saber de experiência feito” (p. 64) através da metáfora escola de borracha.
m A juventude possível reinventada pelas classes populares, a autora aborda as divergentes tipologias de passagem à vida adulta, problematizando, assim, a categoria juventude. Para isso, parte da perspectiva das transições, buscando tramar as culturas juvenis com as correntes teóricas da sociologia da juventude desenvolvidas por José Machado Pais: a corrente geracional e a corrente classista. Ao final, faz uma reflexão sobre a relação entre as biografias padronizadas e as biografias de escolha nos percursos da composição das identidades juvenis em contextos de pressão do cotidiano.
or fim, Nas cronotopias do cotidiano, o rolar das identidades juvenis, a autora encadeia as identidades juvenis com a articulação cronotópica do cotidiano, marcada principalmente pela dessacralização do espaço físico. É destaque nesse capítulo a estruturação dos subcapítulos, pois a leitura dos mesmos pode ser realizada independente da sequência temporal apresentada na obra sem o risco de incompreensões. As principais referências neste capítulo são Alberto Melucci, Rui Canário, Juarez Dayrell, François Dubet, Phillipe Áries, Jaume Trilha, Paulo Freire, Alfred Schutz, José Machado Pais, Pedro Abrantes Maria das Dores Guerreiro, Joaquim Casal, Michel Certeau, Marília Sposito, Gisela Tartuce, Mario Margulis e Marcelo Urresti.
No terceiro capítulo de Jovens e Cotidiano – Percursos metodológicos –, é apresentado os percursos metodológicos da pesquisa, incluindo as posturas assumidas pela autora em relação ao cenário da investigação. Este capítulo encontra-se seccionado em subcapítulos, a saber: Do estudo exploratório aos “inventários dos usos dos tempos”; Vozes que compõem o diálogo: a sociologia da amostra; A arte da escuta na pesquisa com o cotidiano; Da escavação do cotidiano à escovação das palavras: o tratamento dos dados.
No primeiro, a autora descreve suas incursões pela comunidade e imersões nas estratégias de abordagem da pesquisa. No segundo, a autora clarifica aspectos referentes à amostra do estudo. Já no terceiro, os aspectos-chave da escrita recaem sobre a “presença participante” (p. 145) e a “escuta sensível” (p. 146) da autora no cenário da pesquisa. O primeiro aspecto é tomado como um procedimento alternativo frente à impossibilidade de imersão na realidade dos jovens do estudo; o segundo, “evoca a habilidade do observador em perceber e respeitar a fala do outro […]. Para ser sensível, a escuta não deve compreender somente a audição, mas convocar os demais sentidos para perceber os gestos, os silêncios, as pausas, as emoções […]” (p. 146).
Na quarta e última seção, a parte mais densa do capítulo, pois, aqui, a autora organiza e trata os dados da pesquisa. O procedimento adotado para a análise e interpretação das narrativas dos jovens participantes da pesquisa é a análise textual discursiva. Neste subcapítulo, a autora descreve minuciosamente toda a sua trajetória dentro do procedimento adotado, desde a organização do corpus até a produção do metatexto que comunica os resultados a que chegou a pesquisa, tendo como norte a metáfora do mosaico. Neste capítulo, no decorrer da escrita da autora, são destaques os referenciais Alberto Melucci, Howard Becker, José Machado Pais e Roque Moraes.
No quarto capítulo, Os percursos juvenis, a autora apresenta os percursos juvenis por via das trajetórias de quatro jovens da pesquisa, reconstruídas na forma de mosaico. A voz dos interlocutores empíricos é trazida em primeiro plano e, a partir da descrição, são recompostas suas narrativas, orientadas por categorias emergentes na forma de trânsitos, agregando diferentes temporalidades e espacialidades. Assim como os outros capítulos, este também se encontra dividido em subcapítulos, a saber: Trajetórias de Preto: o “Educador do Cotidiano”; Trajetórias de DL: um MC de um grupo de Rap; Trajetórias de Benhur – B-boy de um grupo de Rap e, por fim, Trajetórias de Daiana: a jovem escondida na Caderno de segredos. As trajetórias, expostas aqui, compõem extratos da biografia dos jovens e não tem o objetivo de representar o mundo juvenil, “[…] mas podem representar um mundo juvenil, através dos quais outros casos poderão ser analisados a partir do efeito da reflexividade” (p. 165).
No capítulo Desafios interpretativos: o que comunicam as palavras sobre o cotidiano?, procurou-se informar as categorias que emergiram no campo de investigação, de modo a entrelaçar os sentidos das narrativas dos jovens, estando organizado em “unidades contextuais” (p. 323). A divisão capitular aqui é entre: Trânsitos com a pressão do cotidiano, Trânsitos com as biografias de escolha e Trânsitos com a escola da vida. Neste capítulo também existe a preocupação da autora em expor a incompletude do trabalho perante a gama possível de análises da realidade a partir da realidade. Houve o cuidado em nomear cada jovem participante da pesquisa a partir de suas próprias palavras ou dos significados que elas produziam no entender da autora. As referências base neste capítulo são Alberto Melucci, Rui Canário, Juarez Dayrell, Gisela Tartuce e Mario Margulis.
Nas Conclusões é destaque a tentativa da autora em manter um distanciamento do olhar sobre o conjunto de palavras que compõem o estudo, ou seja, procurou-se um afastamento das peculiaridades da juventude analisada para vislumbrar uma aproximação com o contexto jovem de modo generalizado. Pode-se evidenciar com este trabalho, que a moradia, educação e trabalho são os elementos que mais afetam diretamente o trânsito dos jovens da pesquisa, sendo a escola um dos primeiros recuos ante aos desafios na garantia da sobrevivência. Nesse cenário, de intensa pressão do cotidiano, aparecem como alternativas de descompressão as culturas juvenis, como a música baseada nos ritmos rap e rock e a religião, sendo possível assim vincular a cultura local dentro do contexto de mundo externo à periferia. Analisar as narrativas dos jovens permitiu conhecer as experiências criativas que os mesmos aplicam no seu contexto para viver numa sociedade em mutação. O desafio destes cidadãos é viver em um intenso movimento de reinvenção baseado na aprendizagem que se fundamenta na experiência não escolar, sendo assim possível afirmar que os jovens da periferia aprendem e ensinam, convertendo o conhecimento em ação a partir da ação cotidiana, “[…] relembrando que somos seres incompletos, e que a vida é uma escola […]” (p. 349).
Para finalizar esta resenha, o desafio imposto à autora nesta jornada pelo cotidiano dos jovens foi “compor uma sinfonia” (p. 148) partindo de acordes e notas musicais inaudíveis e talvez até descompassadas quando ouvidas individualizadas. Entretanto, com a regência musical empregada, eclode aqui com toda a dramaticidade, emoção e paixão, sem notas destoantes na partitura ou cacofonia na união do coro, uma composição de melodia harmônica ímpar que ao descer das cortinas se reconhece, através da entonação das palavras e na afinação do arranjo instrumental da orquestra, numa sublime trilha sonora sobre as dimensões não escolares da educação, digna das mais belas óperas.
NotaS
1 Para a autora, os sujeitos da pesquisa são os coautores do trabalho, pois somente através da escuta sensível das palavras dos sujeitos da pesquisa é que foi possível o surgimento de categorias nomeadas com expressões nativas, como pressão do cotidiano e escola da vida (exposição oral).
Marcelo Prado Amaral Rosa – Graduado em Química Licenciatura pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), campus de Frederico Westphalen. Especialista em Metodologia do Ensino de Química pela Universidade Gama Filho (UGF). Mestrando em Educação na Universidade de Caxias do Sul (UCS), Rio Grande do Sul, vinculado à linha de pesquisa em Educação, Linguagem e Tecnologia, E-mail: [email protected]
Letramentos múltiplos, escola e inclusão social | Roxane Rojo
Um dos temas mais discutidos na relação escola-cidadão, atualmente, é a questão do letramento. Desde os estudos precursores, no Brasil, de Magda Soares, o letramento vem sendo cada vez mais debatido e ampliado, como comprova o mais recente livro de Roxane Rojo (Letramentos múltiplos, escola e inclusão Social. São Paulo: Parábola, 2009).
Doutora em linguística aplicada ao ensino línguas pela PUC- SP e professora do curso de letras e do programa de pós-graduação em linguística aplicada da UNICAMP, Roxane Rojo tem se dedicado a pesquisas, consultorias e assessorias junto a entidades públicas e privadas relacionadas à educação, tendo se empenhado, ultimamente, nos estudos acerca do letramento e suas derivações. Leia Mais
A polegarzinha: uma nova forma de viver em harmonia e pensar as instituições, de ser e de saber – SERRES (REi)
SERRES, M. A polegarzinha: uma nova forma de viver em harmonia e pensar as instituições, de ser e de saber. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. Resenha de: PINHEIRO, Daniel Silva; FIORELLI, Marilei Cátia. Revista Entreideias, Salvador, v. 1, n. 1, p. 113-116, jan./jun. 2012.
Os juvenis e jovens que ocupam as carteiras escolares na atua¬lidade se distinguem de seus antecessores por alguns motivos que chamam a atenção: conhecem os derivados, mas não os insumos utilizados em sua produção; não vivenciaram grandes guerras no Ocidente; tem sua longevidade em ascensão e seu próprio nasci¬mento foi meticulosamente programado.
Ambientando-se na França, Michel Serres começa seu texto tecendo argumentos para por em evidência quem são os alunos, a escola e a sociedade dos dias de hoje em que todos os “dedos das mãos” e toda a atenção voltam-se para os meios digitais, as tecno¬logias e seus aparatos. De maneira criativa, ele utiliza a expressão “Polegarzinha” justamente para enfatizar a agilidade com que tanto meninas quanto meninos utilizam seus dispositivos móveis para acessar a internet e os conhecimentos que ali encontram-se disponíveis – a opção por utilizar-se do termo no feminino para referir-se aos dois gêneros, sugere também esse efeito um tanto quanto generalizante que é característico dessa geração e mesmo da própria rede.
O preâmbulo, exposto pelo autor, dá conta de uma revolução digital que faz com que a relação pedagógica se altere tendo em vista especialmente a presença da Polegarzinha. Nesta primeira parte do livro, Serres busca situar quem é este novo indivíduo social, mencionado suas particularidades e conveniências. De acordo com ele, a Polegarzinha e o Polegarzinho manipulam várias informações ao mesmo tempo: “por celular tem acesso a todas as pessoas, por GPS a todos os lugares, pela internet a todo saber” (p. 19). Assim, é como se não mais habitassem o nosso espaço, o nosso mundo. Mas há ainda outra diferença que os singularizam – “Não tem mais a mesma cabeça” (p. 21). Serres apresenta então, uma série de descompassos presentes no cotidiano da Polegarzinha. Ele identifica que a própria consti¬tuição familiar se alterou já que a idade da mãe avançou 10 ou 15 anos na geração do primeiro filho, revelando que os pais dos alunos mudaram de geração. “Acompanham menos os filhos?” (p. 15), interroga-se ele. Além disto, o autor constata que os docentes hoje, ensinam a esses jovens em estruturas que datam de uma época onde não se reconhecem mais: “prédios, pátios de recreio, salas de aula, auditórios, laboratórios, os próprios saberes… Estruturas que datam de uma época, que enquadravam-se num tempo em que seres humanos e o mundo eram algo que não são mais”. Incluso nesse panorama de defasagem está a postura dos professores de “presunção de incompetência” (p. 63) para com os estudantes. Na contemporaneidade, no entanto, há uma grande probabilidade de os alunos investigarem previamente na internet os conceitos, o que recoloca esta relação e deve reverberar numa “presunção de competência” (p. 64), segundo Serres. Tendo em vista que este cenário social sofreu alterações nos modos de construção do conhecimento, o autor indaga-nos com três questões: O que, a quem e como transmitir? Seu objetivo com isto é destacar a relação da pedagogia com a evolução tecnológica. O saber tinha como suporte o corpo do professor-erudito, “uma bi¬blioteca viva: esse era o corpo docente do pedagogo” (p. 25). Com o avanço do tempo, surgem os rolos de pergaminho, livros, imprensa, e agora a rede internet: “a evolução da dupla, suporte-mensagem, é uma boa variável da função ensino” (p. 25).
Assim, Michel Serres apresenta um paralelo entre o surgimento da impressão e o das mídias atuais – onde já está tudo transmiti¬do, de certa maneira. A principal questão agora é como o aluno consegue assimilar o saber, assim distribuído. Uma de suas justi¬ficativas para esta observação é que com os livros e a imprensa a memória sofreu uma mutação – agora o conhecimento não precisa estar “armazenado”. Ele recorre, para fortalecer este argumento, a Montaigne, que prefere “uma cabeça bem constituída a uma cabeça bem cheia” (p. 27).
Serres conclui esta parte inicial se perguntando por que as coisas ainda não mudaram? Culpa a si próprio e os outros filósofos. E diz que gostaria de ter 18 anos para poder reinventar, recriar tudo, como os Polegarzinhos.
Na segunda parte do texto, cujo título é “Escola”, Michel Serres tenta compreender a cabeça da Polegarzinha ou o vazio que paira em seu lugar, citando a lenda de Saint Denis – que foi decapitado por soldados antes de chegarem ao topo da colina onde deveria ocorrer a execução. Saint Denis então pegou sua própria cabeça e, carregando-a, seguiu caminhando até o destino final. Utilizando-se dessa folclórica referência, Serres elabora uma interessante me¬táfora: a Polegarzinha senta em frente ao seu computador, como se sua cabeça estivesse à frente dela com as informações todas lá. Não precisa ocupar seu espaço dentro da cabeça com os dados, mas com as conexões desses dados, as faculdades mentais, é como se “nossa inteligência saísse da cabeça ossuda e neuronal” (p. 36); “nossa cabeça foi lançada a nossa frente, nessa caixa cognitiva objetivada” (p. 36). Novamente recorrendo a Montaigne, Serres entende que as redes possibilitam que a cabeça esteja mais bem constituída do que cheia e desta forma, como nunca antes, a Polegarzinha consegue “voltar sua atenção para a ausência que se mantém acima do pescoço” (p. 37). É neste espaço vazio, onde circula o ar, o vento, ou melhor ainda, onde em uma pintura clássica de Saint Denis há uma pequena luz, que se pode encontrar o ponto onde “reside a nova genialidade, a inteligência inventiva, a autêntica subjetividade cognitiva” (p. 37). No lugar do espaço vazio, antes cabeça, agora há o tumulto de vozes. A Polegarzinha ouve cada vez menos os professores porta-vozes. E ouve cada vez mais a todos os ruídos, todas as emissões de todos os pontos da rede. Trocam o silêncio, imobilidade e prostração dos modelos que denomina de “instituições-caverna”, pela balbúrdia ruidosa, descentralizada.
Serres afirma que a Polegarzinha procura encontrar o saber na sua máquina, e não mais nas bibliotecas e livros já previamente organizados, classificados, metrificados, hierarquizados. Que a difu¬são do saber não pode mais se dar com exclusividade em nenhum campus universitário. O conhecimento agora circula pelas redes, emitido e compartilhado por milhares de anônimos.
Na parte final, nomeada como “Sociedade”, Serres discute de maneira mais detida o espaço social onde a Polegar¬zinha está inserida, com a presença das tecnologias digitais e as constantes mudanças políticas, sociais e cognitivas potencializada por elas. O mundo social da polegarzinha aponta para questões de trabalho. Há uma busca e ao mesmo tempo um tédio, causado por um certo “roubo de interesse” (p. 65) de uma sociedade comparti¬mentada demais, sem o espaço inventivo, que restringe o espaço antes disposto para as utopias. A Polegarzinha, no entanto, não consegue dizer ao certo o que está ocupando este lugar, isto porque, aparentemente, tudo está proposto, transmitido. As relações nas redes sociais digitais, em que se contam aos milhares os amigos da Polegarzinha, são alvo de críticas pelos adultos que questionam estes números e estes conceitos de ami¬gos virtuais. Mas é uma maneira nova, única, pura das redes, que pertence a eles, à geração dos pequenos polegares. E o processo foi constituído sem base em exemplos anteriores, das sociedades, dos pais divorciados, dos partidos políticos e igrejas. São outras construções sociais. O caminho é apontado, novamente, por vozes que ecoam pelas redes. Estas parecem dar o tom de, quem sabe, uma época, de um segundo período oral, fruto da mistura – quem sabe um remix – com os escritos virtuais. Michel Serres, como poucos filósofos, ouve esse novo período oral que o virtual emana.
Daniel Silva Pinheiro – E-mail: [email protected]
Marilei Cátia Fiorelli – E-mail: [email protected]
Práticas escolares e Processos Educativos: Currículo, Disciplinas e Instituições Escolares (séculos XIX e XX) – GONÇALVESE NETO et al (RBHE)
GONÇALVES NETO, Wenceslau; MIGUEL, Maria Elisabeth Blank; FERREIRA NETO, Amarílio. Práticas escolares e Processos Educativos: Currículo, Disciplinas e Instituições Escolares (séculos XIX e XX). Coleção: Horizontes da Pesquisa em História da Educação no Brasil, 4. Vitória: Edufes, 2011. Resenha de: OLIVEIRA, Antoniette Camargo de. Revista Brasileira de História da Educação, v. 11, n. 3 (27), p. 153-182, set./dez. 2011.
Este livro é o volume quatro da coleção “Horizontes da Pesquisa em História da Educação no Brasil”, resultado da parceria entre a SBHE e a Ufes, cujo primeiro volume foi publicado (em 2009) para comemorar o décimo aniversário da SB HE. Assim como os outros três volumes, seu objetivo é reunir pesquisas e estudos tanto sobre perspectivas teóricas, metodológicas e temporais diversas ou complementares entre si, quanto aquelas originárias das várias instituições acadêmicas e localidades nacionais e ou internacionais, preocupadas em produzir conhecimento principalmente sobre história da educação. Nesse sentido, tal iniciativa tem vindo ao encontro de uma necessidade premente por uma visão mais ampla, possibilitadora de estudos comparativos que efetivamente contribuam para a compreensão crítica do processo histórico e para o apontamento de projetos e ações positivas na área escolar.
Optou-se por comentar os quinze capítulos, dispondo-os tanto numa sequência temporal crescente, do Império ao século XX, quanto buscando integrá-los em termos de fontes, objetos, contextos e perspectivas. Sobre a Região Sudeste há quatro capítulos, sobre a Região Sul há três, e um sobre a Norte. Quanto aos outros, de maneira geral, dizem respeito a especificidades da educação enquanto referência nacional.
Analete Regina Schelbauer, ao abordar a escolaridade primária em São Paulo, com o seu “Das normas prescritas às práticas escolares: a escola primária paulista no final do século XIX”, deixa à mostra preocupações que não eram apenas nacionais, mas também internacionais, a respeito da necessidade de se alcançar efetivamente os trabalhadores, de forma a “cidadanizá-los” e civilizá-los. Inicialmente ela aponta para o que se idealizava em termos de educação popular e que servia de modelo, a partir dos ministérios da instrução de outros países na mesma época. Ao lançar mão de leis e regulamentos, bem como de relatórios de professores primários da então província paulista, a autora traz para o âmbito nacional as propostas (normatizações) e práticas implementadas (instituídas) ou apenas relatadas pelos professores da província de São Paulo, colaborando por formar a nação brasileira, moderna e competitiva que se queria. Normas e relatos estes – em termos de divisão do alunos, matérias ou disciplinas a serem ensinados, métodos e instrumentos ou utensílios de ensino –, que pela perspectiva da autora em questão, podem servir de referência para futuras pesquisas, a partir de outras províncias, e decorrentes trabalhos de comparação.
Comparação, esta, que já se mostra possível, considerando outro autor, o qual também cuida das preocupações relativas ao ensino primário, voltado para os homens livres, pobres e ex-escravos, também a partir da segunda metade do século XIX, em preparação às esperadas mudanças advindas com a República. Trata-se de Carlos Henrique de Carvalho, com o seu “Legislação, civilidade e currículo: processo de escolarização primária em Minas Gerais (1835-1889)”. Escrevendo a partir das leis, regulamentos, resoluções e portarias mineiras, estabelecidas no decorrer do período, o autor chama a atenção para a influência da Igreja Católica, nas instâncias legislativa e executiva relativas à educação, aspecto que pode constituir-se num diferencial desta província em relação às outras. É interessante também comparar Minas e São Paulo, nos quadros de Carvalho (p. 214) e Schelbauer (p. 38), a respeito da divisão do ensino primário em graus e matérias, sendo que o mineiro diz respeito a 1859 e o paulista a 1887, o que pode ser demonstrativo da posição de vanguarda de Minas em termos de preocupações com o ensino “popular” em relação a outras províncias.
Ainda relativo ao ensino primário, e em complemento aos dois trabalhos anteriores, Rosa Fátima de Souza escreve sobre “A organização pedagógica da escola primária no Brasil: do modo individual, mútuo, simultâneo e misto à escola graduada (1827-1893)”. Os autores já resenhados apontam para a existência de supostos métodos de ensino no Império, seja a partir das legislações ou dos relatórios de professores. Entretanto, é Souza quem vai problematizar seus respectivos conceitos, origens, diferentes significados ou concepções que circularam no país em cada situação e em certas províncias. Conforme a autora, o Brasil carece de estudos sobre o surgimento e alterações sofridas pelo método simultâneo.
Maria Elizabeth Blanck Miguel, em “Práticas escolares e processos educativos na escola provincial paranaense (1854-1889)”, se utiliza de leis e regulamentos enquanto fontes, mas também, especialmente, de relatórios de professores, ricos em detalhes a respeito dos reais problemas educacionais daquela província do Sul. Quanto ao processo de instalação do método simultâneo na província do Paraná (que remete ao capítulo de Souza), é um trabalho indicativo das diferenças e semelhanças educacionais daquela região em relação ao Sudeste, região em torno da qual parecem estar voltados a maioria dos trabalhos nesta área. Verifiquem que há um trecho da Instrução Geral de 27 de dezembro de 1856, transcrito por Souza (p. 356), o qual também foi utilizado de forma mais completa por Blanck Miguel, nas páginas 184 e 185.
Para além de tais métodos ou modos (p. 339) de ensino que, grosso modo, vieram se desenhando no Império brasileiro, Wenceslau Gonçalves Neto com o capítulo “A organização escolar em Minas Gerais no início da República: intenções, métodos e currículos nas propostas educacionais do Estado e dos Municípios”, chama a atenção, pelo menos no caso de Minas Gerais, para o método intuitivo, o qual talvez proporcionasse uma segurança maior ao professor na condução dos alunos, método este mais direcionador que os anteriormente apontados por Souza. A suposição de que fosse o método intuitivo o adotado nas escolas públicas, deve-se inclusive ao instrumental ou mobiliário escolar apontado na legislação mineira. Um outro tópico trabalhado por Gonçalves Neto, e que também nos dá pistas para outras percepções, é o que trata do currículo. Se compararmos o que estava prescrito na legislação estadual para as escolas primárias no início da República (p. 443) com os quadros das páginas 214 e 220, relativos ao Império na província mineira, perceberemos que muito pouca coisa mudou em termos de parâmetros disciplinares. Entretanto, ficam claras as diferenças entre o prescrito pelo Estado e o instituído pelos municípios. Tal capítulo é uma referência importante para aqueles que queiram desenvolver suas pesquisas e estudos sobre a História da Educação de quaisquer municípios mineiros.
Na passagem do Império para a República, Lúcio Kreutz, em “Práticas escolares entre imigrantes no Rio Grande do Sul: 1870-1940”, elabora uma espécie de síntese das considerações desenvolvidas ao longo de sua trajetória enquanto pesquisador da educação. De qualquer maneira, são nítidas as diferenças em relação aos trabalhos sobre os quais já se comentou, considerando a especificidade do seu objeto, consubstanciado em comunidades rurais étnicas, a partir do que ele intitula “escolas de imigração”. Deixa claro o papel da Igreja e do Estado, bem como as características, inclusive físicas, que favoreceram a formação dos núcleos rurais e suas respectivas escolas. Mesmo heterogêneas entre si – além de denotar uma contradição, por terem favorecido a cultura de origem dos imigrantes em detrimento da nacional –, não deixa de ser uma experiência referencial em termos de participação comunitária, onde a cultura e a religião foram primordiais no sucesso daqueles experimentos de ensino e aprendizagem.
“A escolarização da infância: prescrições na imprensa periódica da Educação Física (1932-1945)”, de Rosianny Campos Berto e Amarílio Ferreira Neto, toma como fonte/objeto duas revistas publicadas no período, uma sob a responsabilidade da Escola de Educação Física do Exército e outra sob a de civis, ligados à Associação Cristã de Moços e elaborada pela Companhia Brasil Editora. De ambas as revistas, publicadas no Rio de Janeiro, os autores analisam os artigos voltados para a educação física escolar infantil, assunto priorizado pelos respectivos editores no período. Destacam a necessidade de demarcação de poder por parte de cada grupo, a partir de suas publicações, bem como as diferentes concepções que tinham a respeito da infância.
“Práticas escolares em escolas normais rurais do Rio Grande do Sul (1940-1970)”, de Flávia Obino Corrêa Werle aponta para uma das consequências das propostas de nacionalização do ensino, responsáveis pelo fechamento de muitas escolas étnicas a partir dos anos de 1930, especialmente nas colônias rurais rio-grandenses das quais trata o já citado Lúcio Kreutz. A autora chama a atenção para o caráter masculino dos discentes nas então escolas normais rurais, a contrapelo da ideia de feminização do magistério, prevalente nos diversos estudos; deixando claro também a valorização do esporte pela comunidade escolar, dentro e fora do currículo, enquanto forma de reforço do pertencimento e integração escola/comunidade; o que corrobora, em parte, com os ideais preconizados pelas fontes/ objetos do estudo de Berto e Neto a respeito da educação física.
No capítulo “A centralidade do instrumento de trabalho na relação educativa: a escola moderna brasileira nos séculos XIX e XX”, Gilberto Luiz Alves é objetivo nas suas impressões a respeito de como veio se consolidando o uso dos manuais ou livros didáticos em sala de aula no Brasil. Manuais estes que, segundo ele, deram vida à organização do trabalho didático ideada por Comenius no século XVII, em que a centralidade na relação educativa passa a ser o instrumento de trabalho, em detrimento do professor ou do aluno. Referência a respeito deste objeto, o autor estabelece os avanços em termos de outras pesquisas já produzidas, dando destaque à tese de Gatti Júnior (2004).
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas, ao escrever sobre “As lições de português para o ensino ginasial no Estado Novo, nas Páginas floridas”, dá continuidade à problemática dos livros didáticos, especialmente nas décadas de 1930, 1940 e 1950. Para tanto, trata do então competitivo mercado editorial e da legislação relativa à produção de tais livros, antecedendo o período trabalhado por Gatti Júnior (citado anteriormente). Para o editor da coleção Páginas floridas, o livro ditático não deveria ter um papel central enquanto instrumento de trabalho na relação educativa, conforme consta no trecho de um prefácio transcrito nas páginas 103 e 104.
Maria Elizabete Sampaio Prado Xavier, escrevendo quanto às “Noções de História da Educação para professores: o manual de Afrânio Peixoto (1876-1947)”, nos dá indícios sobre o tipo de conhecimento a respeito da História da Educação a que os normalistas das décadas de 1930 e 1940 tiveram acesso. Contribui, igualmente, para um debate atual relativo à distância entre o conhecimento produzido e aquele diretamente utilizado na sala de aula, especialmente na formação de professores.
“O debate ciências versus humanidades no século XIX: reflexões sobre o ensino de ciências no Collegio de Pedro II”, de Karl Michael Lorenz e Ariclê Vechia, nos remete a um contexto geral ainda atual. Os autores concluem – através da análise e comparação das diversas reformas do ensino secundário, bem como dos currículos implantados nos Colégio de Pedro II e Gymnasio Nacional (referência para o ensino no Brasil a partir da então capital federal) – sobre a prevalência das disciplinas humanísticas ou clássicas em detrimento das científicas, técnicas ou realistas. Também apontam para as razões que levaram tanto autoridades quanto público, “a rejeitar o papel das ciências na vida acadêmica dos alunos secundários” ao longo de todo o XIX.
Complementarmente, Maria do Perpétuo Socorro Gomes de Souza Avelino de França escreve sobre a “História do ensino secundário brasileiro republicano: o Liceu Paraense”, a reboque da legislação nacional. Suas análises, sem dúvida, servem de modelo para outros trabalhos a respeito deste grau de ensino nos demais estados brasileiros. Enquanto Lorenz e Vechia chamam mais a atenção para a característica propedêutica, do secundário para o superior, França joga luz sobre o sistema de exames parcelados, prática comum durante o Império e que pode explicar o esvaziamento e as desistências verificadas nas então escolas secundárias públicas. Esta autora também analisa detidamente as mudanças curriculares pelas quais passou o Liceu Paraense na República.
Em “‘Uma aventura para o dia de amanhã’: o projeto do serviço de ortofrenia e higiene mental na reforma Anísio Teixeir (1930)”, Adir da Luz Almeida e Ana Maria Bandeira de Mello Magaldi acabam por estabelecer como se deu, no Brasil, as ideias precursoras dos princípios de normatização, integração e inclusão que se sucederam a partir dos anos de 1950. Tratou-se de uma das frentes da referida reforma, em que as “crianças problema” ou detentoras de alguma “anormalidade”, a princípio indicadas pelos seus professores, teriam sua vida (dentro e fora da escola) esquadrinhada numa ficha, a partir da qual profissionais especializados apontariam o tratamento mais adequado a receberem, pelos pais ou professores, no sentido de melhor se socializarem.
Finalmente, Ester Buffa e Gelson de Almeida Pinto, em “A educação infantil e o espaço escolar: três instituições criadas no final do século XX”, nos dão indicativos sobre a arquitetura escolar mais contemporânea, de escolas cujos projetos de construção foram pensados a partir de seus respectivos ideais pedagógicos. Duas escolas construtivistas, em Porto Alegre e Uberlândia e uma outra que adota a Pedagogia Waldorf, em Capão Bonito, ambas criadas nas décadas de 1980 e 1990. Além de nos incitar a observar e refletir a respeito dos projetos arquitetônicos das instituições escolares as/nas quais trabalhamos e ou pesquisamos, os autores apontam para a necessidade de um trabalho multidisciplinar, no sentido de se pensar, projetar e construir espaços escolares infantis, que possibilitem sua utilização “plena e intensamente”.
Referências bibliográficas
GATTI JR., Décio. Livro Didático e Ensino de História: dos anos sesenta aos nossos dias. São Paulo: PUC-SP, 1998.
Práticas escolares e Processos Educativos: Currículo, Disciplinas e Instituições Escolares (séculos XIX e XX) – GONÇALVES NETO et al. (RBHE)
GONÇALVES NETO, Wenceslau; MIGUEL, Maria Elisabeth Blank; FERREIRA NETO, Amarílio. Práticas escolares e Processos Educativos: Currículo, Disciplinas e Instituições Escolares (séculos XIX e XX). Coleção: Horizontes da Pesquisa em História da Educação no Brasil, 4. Vitória: Edufes, 2011. Resenha de: OLIVEIRA, Antoniette Camargo de. Revista Brasileira de História da Educação, v. 11, n. 3 (27), p. 153-182, set./dez. 2011.
Este livro é o volume quatro da coleção “Horizontes da Pesquisa em História da Educação no Brasil”, resultado da parceria entre a SBHE e a Ufes, cujo primeiro volume foi publicado (em 2009) para comemorar o décimo aniversário da SB HE. Assim como os outros três volumes, seu objetivo é reunir pesquisas e estudos tanto sobre perspectivas teóricas, metodológicas e temporais diversas ou complementares entre si, quanto aquelas originárias das várias instituições acadêmicas e localidades nacionais e ou internacionais, preocupadas em produzir conhecimento principalmente sobre história da educação. Nesse sentido, tal iniciativa tem vindo ao encontro de uma necessidade premente por uma visão mais ampla, possibilitadora de estudos comparativos que efetivamente contribuam para a compreensão crítica do processo histórico e para o apontamento de projetos e ações positivas na área escolar.
Optou-se por comentar os quinze capítulos, dispondo-os tanto numa sequência temporal crescente, do Império ao século XX, quanto buscando integrá-los em termos de fontes, objetos, contextos e perspectivas. Sobre a Região Sudeste há quatro capítulos, sobre a Região Sul há três, e um sobre a Norte. Quanto aos outros, de maneira geral, dizem respeito a especificidades da educação enquanto referência nacional.
Analete Regina Schelbauer, ao abordar a escolaridade primária em São Paulo, com o seu “Das normas prescritas às práticas escolares: a escola primária paulista no final do século XIX”, deixa à mostra preocupações que não eram apenas nacionais, mas também internacionais, a respeito da necessidade de se alcançar efetivamente os trabalhadores, de forma a “cidadanizá-los” e civilizá-los. Inicialmente ela aponta para o que se idealizava em termos de educação popular e que servia de modelo, a partir dos ministérios da instrução de outros países na mesma época. Ao lançar mão de leis e regulamentos, bem como de relatórios de professores primários da então província paulista, a autora traz para o âmbito nacional as propostas (normatizações) e práticas implementadas (instituídas) ou apenas relatadas pelos professores da província de São Paulo, colaborando por formar a nação brasileira, moderna e competitiva que se queria. Normas e relatos estes – em termos de divisão do alunos, matérias ou disciplinas a serem ensinados, métodos e instrumentos ou utensílios de ensino –, que pela perspectiva da autora em questão, podem servir de referência para futuras pesquisas, a partir de outras províncias, e decorrentes trabalhos de comparação.
Comparação, esta, que já se mostra possível, considerando outro autor, o qual também cuida das preocupações relativas ao ensino primário, voltado para os homens livres, pobres e ex-escravos, também a partir da segunda metade do século XIX, em preparação às esperadas mudanças advindas com a República. Trata-se de Carlos Henrique de Carvalho, com o seu “Legislação, civilidade e currículo: processo de escolarização primária em Minas Gerais (1835-1889)”. Escrevendo a partir das leis, regulamentos, resoluções e portarias mineiras, estabelecidas no decorrer do período, o autor chama a atenção para a influência da Igreja Católica, nas instâncias legislativa e executiva relativas à educação, aspecto que pode constituir-se num diferencial desta província em relação às outras. É interessante também comparar Minas e São Paulo, nos quadros de Carvalho (p. 214) e Schelbauer (p. 38), a respeito da divisão do ensino primário em graus e matérias, sendo que o mineiro diz respeito a 1859 e o paulista a 1887, o que pode ser demonstrativo da posição de vanguarda de Minas em termos de preocupações com o ensino “popular” em relação a outras províncias.
Ainda relativo ao ensino primário, e em complemento aos dois trabalhos anteriores, Rosa Fátima de Souza escreve sobre “A organização pedagógica da escola primária no Brasil: do modo individual, mútuo, simultâneo e misto à escola graduada (1827-1893)”. Os autores já resenhados apontam para a existência de supostos métodos de ensino no Império, seja a partir das legislações ou dos relatórios de professores. Entretanto, é Souza quem vai problematizar seus respectivos conceitos, origens, diferentes significados ou concepções que circularam no país em cada situação e em certas províncias. Conforme a autora, o Brasil carece de estudos sobre o surgimento e alterações sofridas pelo método simultâneo.
Maria Elizabeth Blanck Miguel, em “Práticas escolares e processos educativos na escola provincial paranaense (1854-1889)”, se utiliza de leis e regulamentos enquanto fontes, mas também, especialmente, de relatórios de professores, ricos em detalhes a respeito dos reais problemas educacionais daquela província do Sul. Quanto ao processo de instalação do método simultâneo na província do Paraná (que remete ao capítulo de Souza), é um trabalho indicativo das diferenças e semelhanças educacionais daquela região em relação ao Sudeste, região em torno da qual parecem estar voltados a maioria dos trabalhos nesta área. Verifiquem que há um trecho da Instrução Geral de 27 de dezembro de 1856, transcrito por Souza (p. 356), o qual também foi utilizado de forma mais completa por Blanck Miguel, nas páginas 184 e 185.
Para além de tais métodos ou modos (p. 339) de ensino que, grosso modo, vieram se desenhando no Império brasileiro, Wenceslau Gonçalves Neto com o capítulo “A organização escolar em Minas Gerais no início da República: intenções, métodos e currículos nas propostas educacionais do Estado e dos Municípios”, chama a atenção, pelo menos no caso de Minas Gerais, para o método intuitivo, o qual talvez proporcionasse uma segurança maior ao professor na condução dos alunos, método este mais direcionador que os anteriormente apontados por Souza. A suposição de que fosse o método intuitivo o adotado nas escolas públicas, deve-se inclusive ao instrumental ou mobiliário escolar apontado na legislação mineira. Um outro tópico trabalhado por Gonçalves Neto, e que também nos dá pistas para outras percepções, é o que trata do currículo. Se compararmos o que estava prescrito na legislação estadual para as escolas primárias no início da República (p. 443) com os quadros das páginas 214 e 220, relativos ao Império na província mineira, perceberemos que muito pouca coisa mudou em termos de parâmetros disciplinares. Entretanto, ficam claras as diferenças entre o prescrito pelo Estado e o instituído pelos municípios. Tal capítulo é uma referência importante para aqueles que queiram desenvolver suas pesquisas e estudos sobre a História da Educação de quaisquer municípios mineiros.
Na passagem do Império para a República, Lúcio Kreutz, em “Práticas escolares entre imigrantes no Rio Grande do Sul: 1870-1940”, elabora uma espécie de síntese das considerações desenvolvidas ao longo de sua trajetória enquanto pesquisador da educação. De qualquer maneira, são nítidas as diferenças em relação aos trabalhos sobre os quais já se comentou, considerando a especificidade do seu objeto, consubstanciado em comunidades rurais étnicas, a partir do que ele intitula “escolas de imigração”. Deixa claro o papel da Igreja e do Estado, bem como as características, inclusive físicas, que favoreceram a formação dos núcleos rurais e suas respectivas escolas. Mesmo heterogêneas entre si – além de denotar uma contradição, por terem favorecido a cultura de origem dos imigrantes em detrimento da nacional –, não deixa de ser uma experiência referencial em termos de participação comunitária, onde a cultura e a religião foram primordiais no sucesso daqueles experimentos de ensino e aprendizagem.
“A escolarização da infância: prescrições na imprensa periódica da Educação Física (1932-1945)”, de Rosianny Campos Berto e Amarílio Ferreira Neto, toma como fonte/objeto duas revistas publicadas no período, uma sob a responsabilidade da Escola de Educação Física do Exército e outra sob a de civis, ligados à Associação Cristã de Moços e elaborada pela Companhia Brasil Editora. De ambas as revistas, publicadas no Rio de Janeiro, os autores analisam os artigos voltados para a educação física escolar infantil, assunto priorizado pelos respectivos editores no período. Destacam a necessidade de demarcação de poder por parte de cada grupo, a partir de suas publicações, bem como as diferentes concepções que tinham a respeito da infância.
“Práticas escolares em escolas normais rurais do Rio Grande do Sul (1940-1970)”, de Flávia Obino Corrêa Werle aponta para uma das consequências das propostas de nacionalização do ensino, responsáveis pelo fechamento de muitas escolas étnicas a partir dos anos de 1930, especialmente nas colônias rurais rio-grandenses das quais trata o já citado Lúcio Kreutz. A autora chama a atenção para o caráter masculino dos discentes nas então escolas normais rurais, a contrapelo da ideia de feminização do magistério, prevalente nos diversos estudos; deixando claro também a valorização do esporte pela comunidade escolar, dentro e fora do currículo, enquanto forma de reforço do pertencimento e integração escola/comunidade; o que corrobora, em parte, com os ideais preconizados pelas fontes/ objetos do estudo de Berto e Neto a respeito da educação física.
No capítulo “A centralidade do instrumento de trabalho na relação educativa: a escola moderna brasileira nos séculos XIX e XX”, Gilberto Luiz Alves é objetivo nas suas impressões a respeito de como veio se consolidando o uso dos manuais ou livros didáticos em sala de aula no Brasil. Manuais estes que, segundo ele, deram vida à organização do trabalho didático ideada por Comenius no século XVII, em que a centralidade na relação educativa passa a ser o instrumento de trabalho, em detrimento do professor ou do aluno. Referência a respeito deste objeto, o autor estabelece os avanços em termos de outras pesquisas já produzidas, dando destaque à tese de Gatti Júnior (2004).
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas, ao escrever sobre “As lições de português para o ensino ginasial no Estado Novo, nas Páginas floridas”, dá continuidade à problemática dos livros didáticos, especialmente nas décadas de 1930, 1940 e 1950. Para tanto, trata do então competitivo mercado editorial e da legislação relativa à produção de tais livros, antecedendo o período trabalhado por Gatti Júnior (citado anteriormente). Para o editor da coleção Páginas floridas, o livro ditático não deveria ter um papel central enquanto instrumento de trabalho na relação educativa, conforme consta no trecho de um prefácio transcrito nas páginas 103 e 104.
Maria Elizabete Sampaio Prado Xavier, escrevendo quanto às “Noções de História da Educação para professores: o manual de Afrânio Peixoto (1876-1947)”, nos dá indícios sobre o tipo de conhecimento a respeito da História da Educação a que os normalistas das décadas de 1930 e 1940 tiveram acesso. Contribui, igualmente, para um debate atual relativo à distância entre o conhecimento produzido e aquele diretamente utilizado na sala de aula, especialmente na formação de professores.
“O debate ciências versus humanidades no século XIX: reflexões sobre o ensino de ciências no Collegio de Pedro II”, de Karl Michael Lorenz e Ariclê Vechia, nos remete a um contexto geral ainda atual. Os autores concluem – através da análise e comparação das diversas reformas do ensino secundário, bem como dos currículos implantados nos Colégio de Pedro II e Gymnasio Nacional (referência para o ensino no Brasil a partir da então capital federal) – sobre a prevalência das disciplinas humanísticas ou clássicas em detrimento das científicas, técnicas ou realistas. Também apontam para as razões que levaram tanto autoridades quanto público, “a rejeitar o papel das ciências na vida acadêmica dos alunos secundários” ao longo de todo o XIX.
Complementarmente, Maria do Perpétuo Socorro Gomes de Souza Avelino de França escreve sobre a “História do ensino secundário brasileiro republicano: o Liceu Paraense”, a reboque da legislação nacional. Suas análises, sem dúvida, servem de modelo para outros trabalhos a respeito deste grau de ensino nos demais estados brasileiros. Enquanto Lorenz e Vechia chamam mais a atenção para a característica propedêutica, do secundário para o superior, França joga luz sobre o sistema de exames parcelados, prática comum durante o Império e que pode explicar o esvaziamento e as desistências verificadas nas então escolas secundárias públicas. Esta autora também analisa detidamente as mudanças curriculares pelas quais passou o Liceu Paraense na República.
Em “‘Uma aventura para o dia de amanhã’: o projeto do serviço de ortofrenia e higiene mental na reforma Anísio Teixeir (1930)”, Adir da Luz Almeida e Ana Maria Bandeira de Mello Magaldi acabam por estabelecer como se deu, no Brasil, as ideias precursoras dos princípios de normatização, integração e inclusão que se sucederam a partir dos anos de 1950. Tratou-se de uma das frentes da referida reforma, em que as “crianças problema” ou detentoras de alguma “anormalidade”, a princípio indicadas pelos seus professores, teriam sua vida (dentro e fora da escola) esquadrinhada numa ficha, a partir da qual profissionais especializados apontariam o tratamento mais adequado a receberem, pelos pais ou professores, no sentido de melhor se socializarem.
Finalmente, Ester Buffa e Gelson de Almeida Pinto, em “A educação infantil e o espaço escolar: três instituições criadas no final do século XX”, nos dão indicativos sobre a arquitetura escolar mais contemporânea, de escolas cujos projetos de construção foram pensados a partir de seus respectivos ideais pedagógicos. Duas escolas construtivistas, em Porto Alegre e Uberlândia e uma outra que adota a Pedagogia Waldorf, em Capão Bonito, ambas criadas nas décadas de 1980 e 1990. Além de nos incitar a observar e refletir a respeito dos projetos arquitetônicos das instituições escolares as/nas quais trabalhamos e ou pesquisamos, os autores apontam para a necessidade de um trabalho multidisciplinar, no sentido de se pensar, projetar e construir espaços escolares infantis, que possibilitem sua utilização “plena e intensamente”.
Referências
GATTI JR., Décio. Livro Didático e Ensino de História: dos anos sesenta aos nossos dias. São Paulo: PUC-SP, 1998.
Antoniette Camargo de Oliveira – E-mail: [email protected]
Educação física inclusiva na escola: em busca de uma escola plural – SOLER (RF)
SOLER, Reinaldo. Educação física inclusiva na escola: em busca de uma escola plural. Rio de Janeiro: Sprint, 2005. Resenha de: CRUZ, Marlon Messias Satana. Revista FACED, Salvador, n. 20, p. 127-133, jul./dez. 2011.
O autor nos mostra uma proposta de intervenção no sentido de inclusão de alunos com deficiência na educação física Escolar. Partindo de conceitos e na perspectiva de excluir o preconceito, o autor apresenta alguns conceitos básicos a respeito da Educação especial como: Educação Especial: processo de desenvolvimento global das potencialidades de pessoas com deficiência, de condutas típicas e de altas habilidades e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de ensino. Fundamenta-se em referências teóricas e práticas, compatíveis com as necessidades específicas de cada aluno. O processo deve ser integral, fluindo desde a estimulação essencial até os graus superiores do ensino. Sob o enfoque sistêmico, a educação especial integra o sistema educacional vigente, identificando-se com sua finalidade, que é a de formar sujeitos conscientes e participativos.
Alunado da Educação Especial: é constituído por educandos que requerem recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas. Genericamente chamados de portadores de necessidades educacionais especiais, classificam-se em: pessoas com deficiência (visual, auditiva, mental e múltipla), portadores de condutas típicas (problemas de condutas decorrentes de síndromes de quadros psicológicos e neurológicos que acarretam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social) e os de altas habilidades (com notável desempenho e elevada potencialidades em aspectos acadêmicos, intelectuais, psicomotores e artísticos).
Pessoa com Deficiência: é a que apresenta, em comparação com a maioria das pessoas, significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores inatos e/ou adquiridos, de caráter permanente e que acarretam dificuldades em sua interação com o meio físico e social.
Pessoa Portadora de Necessidades Especiais: é a que, por apresentar, em caráter permanente ou temporário, alguma deficiência física, sensorial, cognitiva, múltipla, ou que é portadora de condutas típicas ou ainda de altas habilidades, necessita de recursos especializados para superar ou minimizar suas dificuldades.
Aluno Com Necessidades Educativas Especiais: é aquele que, por apresentar dificuldades maiores que as dos demais alunos, no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes a sua idades (seja por causas internas, por dificuldades ou carências do contexto sociofamiliar, seja pela inadequação metodológica e didática, ou por história de insucessos em aprendizagens), necessitam, para superar ou minimizar tais dificuldades, de adaptações para o acesso físico (remoção de barreiras arquitetônicas) e/ou de adaptações curriculares significativas em várias áreas do currículo.
Educação Inclusiva: por educação inclusiva se entende não só o processo de inclusão dos alunos com deficiência ou de distúr¬bios de aprendizagem na rede comum de ensino em todos os seus graus, mas fundamentalmente de todas as diferenças, pois hoje é o fato que cada ser humano é uno, e as oportunidades devem ser iguais para todos. A primeira escola de todas as pessoas deve ser a escola regular.
Reinaldo Soler nos mostra que na busca da educação inclusiva a metodologia ideal é a pedagogia transdiciplinar de Nicolescu (1997) e seus princípios são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver junto. Entretanto, na educação física a pedagogia cooperativa nos prepara melhor para esta tarefa da educação inclusiva.
Tratar de inclusão é uma tarefa difícil, pois apesar da sociedade sentir a necessidade de superar a prática exclusiva a uma prática inclusiva, as ações ainda, em muitos casos, ficam no plano das ideias estando longe da prática. O educador tem um papel fundamental neste processo, pois tem todos os elementos em seu poder e pode modificar toda uma cultura, exclusiva, por meio de suas aulas. Nesta perspectiva a escola passa a ser o espaço possível para que toda esta transformação possa acontecer, pois este é o espaço que devemos nos diferenciar dos outros e construir o nosso mundo.
A primeira escola de todas as pessoas poderá ser sempre a regular, porém após avaliação, se houver a necessidade da escola especial, este aluno deve ser remanejado para esta. Entretanto, a primeira opção deve ser sempre a oportunidade de conviver e aprender com todas as diferenças, tendo sempre as mesmas oportunidades. Os educadores têm o dever de oportunizar aos alunos com deficiência uma inserção em uma escola regular independentes dos resultados futuros. E os pais devem dar a confiança e segurança necessária para matricular seus filhos em uma escola de ensino regular, a construção de uma escola inclusiva dever ser compromisso de toda a sociedade.
Muitos são os mitos e preconceitos que fazem com que a sociedade tenha um comportamento errôneo perante os alunos com deficiência, pode-se entender que ao longo do convívio, paralelo a educação, formam os conceitos, as idéias e opiniões sobre este público. Existe a real necessidade em conviver com a pessoa com deficiência, para superar preconceitos, entendê-las e reconhecer que a diversidade é real. Sem preconceitos traçamos um caminho para uma sociedade menos injusta, que acolhe as diferenças e as valorize.
Passeando pela história, o passado nos mostra que a educação física já foi responsável por discriminações dos alunos com deficiência das escolas regulares, em 1938 de acordo com o decreto 21.241, a matrícula de alunos especiais foi proibida com o argumento que o estado dos alunos o impediria permanentemente de participar das aulas de educação física. Já na atualidade podemos perceber que a educação física superou preconceitos e se transformou em relação aos alunos especiais, tomando como exemplo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1996), onde nos mostra esta mudança de enfoque:
“Por desconhecimento, receio ou mesmo preconceito, a maioria dos portadores de necessidades especiais tendem a ser excluídos das aulas de educação física. A participação nessa aula pode trazer muitos benefícios a essas crianças, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades perceptivas, afetivas de integração e inserção social, que levam este aluno a uma maior condição de consciência, em busca da sua futura independência.” (p. 40)
O professor de educação física deve passar por todo este processo de transformação, para que possa incorporar o devido tema a sua pratica pedagógica, para que suas aulas, que já trata tantas outras diferenças, passe a respeitar esta necessidade especial. E, sobretudo, assumindo a questão da sociedade inclusiva como sua.
Os alunos com deficiência podem se relacionar bem com qualquer pessoa, principalmente com aqueles que os entendem, e para entendê-los não é preciso pré-requisitos, basta tratá-los com igualdade, sem restrições, muito menos pena, ou proteção exagerada, e, sobretudo, acreditam em suas potencialidades. Podemos citar que os portadores de deficiência física e os portadores de deficiência sensorial estão se integrando gradativamente à vida da comunidade escolar. E, ainda persistem, em grau mais elevado, preconceitos em relação àqueles que possuem deficiência intelectual. A escola valoriza a mente, e se esta mente não produz como o esperado, então está sujeita a exclusão e ao isolamento. Os portadores de deficiência intelectual são mais capazes do que muitos estereotipam, basta que lhe dê um espaço e respeite sua individualidade.
Devemos nos livrar de qualquer tipo de preconceito com os alunos com deficiência, e enxergá-los como pessoas mais que eficientes, e para isso o papel do educador é essencial. A sociedade em geral será beneficiada com esta mudança de enfoque, pois assim esta estará mais justa e solidária. Esta mudança profunda de comportamento depende preferencialmente do esforço de pessoas comprometidas com o processo educacional.
Não podemos mais aceitar a exclusão como algo normal, pois ultimamente está havendo avanços em relação em uma nova escola, agora inclusiva. A inclusão é uma grande oportunidade para as escolas se transformarem e se modernizarem e também uma chance, tanto do poder público como da iniciativa privada, investir no aprimoramento dos seus professores investindo em formação, tornando-os competentes para lidar com a diversidade, visando uma transformação tanto na escola quanto na sociedade.
Entretanto, devemos entender a diferença entre interação e inclusão, na interação a escola não muda e a permanência da criança é condicionada às suas possibilidades. Já na inclusão, a escola deve mudar e se adaptar as diferenças, e não ao contrário. Existe uma grande necessidade em conhecer melhor a questão da inclusão/interação, e isto é reforçado também por meios de leis e portarias que tentam sanar, por meio de esclarecimento, alguns preconceitos a respeito da inserção do aluno com deficiência na escola regular. Os cursos superiores na área de educação necessitam de disciplinas específicas que visem focalizar melhor o assunto.
Contudo, uma escola regular não se torna inclusiva somente em receber alunos especiais nas suas classes, torna-se inclusiva quando se reestruturam, tanto no espaço físico quanto pedagogicamente, para atender os novos alunos em termos de Necessidade Especiais.
Apesar da inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino ser um direito garantido pela constituição federal, para que ela realmente se efetive é necessário que a comunidade escolar esteja preparada para esta mudança. A inclusão apóia e defende a participação de todo o universo escolar, professores, diretores, funcionários, alunos e comunidade. O sucesso da inclusão está diretamente ligado ao trabalho desenvolvido por toda comunidade escolar.
Especificando em educação física, independente de qual seja o conteúdo escolhido, os processos de ensino-aprendizagem deve considerar as características dos alunos em todas as suas dimensões (cognitivas, corporal, afetiva, social e estética), garantindo a participação de todos independente do seu comprometimento motor, sensorial, cognitivo. A participação do aluno com deficiência na aula de educação física é muito relevante no sentido que os alunos possam desenvolver suas capacidades perceptivas, afetivas, de integração, e de inclusão social, favorecendo a sua autonomia e independência, estabelecendo e ampliando cada vez mais suas relações sociais, aprendendo aos poucos a articular suas idéias, respeitando as diferenças e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração.
O professor de educação física deverá fazer as adequações necessárias, nas regras, nas atividades, na utilização do espaço, utilizando de recursos que estimule a participação de todo grupo, dando possibilidades que favoreçam a sua formação integral. A aula de educação física deve ser um exercício de convivência, em que os alunos aprenderão a construir uma nova sociedade, sem discriminação, e com atitudes de solidariedade, respeito e aceitação, não havendo lugar para o preconceito e a exclusão.
O papel do professor de educação física na inclusão, como em qualquer modalidade de ensino, é o de intermediar novos aprendizados, apresentando aos seus alunos o novo e o desconhecido, pois diante do desafio, o aluno tende a assimilar melhor o conhecimento, idealizando os recursos motores e mentais que possuem. O professor deve entender que utilizando o lúdico, que é a linguagem infantil, poderá avançar muito mais no aprendizado, já que, o que prende uma criança a uma atividade é a alegria e o prazer de brincar.
É necessário criar alternativas para o fim desta exclusão que torna a todos nós perdedores. Uma proposta sugerida é basear o trabalho na pedagogia cooperativa, tentando com isso criar uma nova ética, uma ética cooperativa, nesta perspectiva o professor deve possuir habilidades para integrar o grupo reforçando a cooperação. O papel do professor é fundamental nessa perspectiva, porém a ideia é que o grupo possa se tornar cada vez mais independente, autônomo e criativo. Desta forma estimula cada vez mais a autoestima dos alunos. Ter uma autoestima saudável é fundamental para que a pessoa possa tentar aprender e ensinar com cada vez mais entusiasmo. A autoestima é formada pela imagem que cada pessoa tem de si mesmo, somada ao autoconceito desenvolvido a partir de incentivos e informações que recebe de seu meio social. O papel do professor é fundamental para que os alunos construam uma autoestima positiva, ou seja, a maneira como eles vêem a sim mesma. Podemos e devemos como professores, estimular o crescimento da autoestima dos alunos em todo momento, essa é uma das funções do educador, pois o sucesso dos alunos depende e está intimamente ligado a uma autoestima saudável.
Dentro desta perspectiva, podemos citar que são inúmeros os benefícios da inclusão dos alunos com deficiência nas escolas regulares e principalmente nas aulas de educação física, pois quando se participa junto com outras pessoas acontece o aumento da autoestima, melhoria da competência física e social e também um aumento na variedade de modelos sócias propiciados pela diversidade dos participantes. Os benefícios da inclusão de alunos com necessidades educativas especiais na escola regular são evidentes, apesar das dificuldades, e o aprendizado é mútuo, tanto alunos com deficiência ganham, quanto os alunos da rede regular de ensino.
A escola deve ser estruturada visando à formação crítico¬-reflexiva e ativa do aluno na construção da sua identidade, da sua cidadania, por ser um dos primeiros espaços de convivência social, onde ele passa uma considerável parte de sua vida e toma conhecimento de seus primeiros aprendizados.
Em face disso, a acessibilidade – direito e condição de acesso aos lugares, às pessoas e às atividades humanas, de todos os cidadãos – deve ser promovida pelas instâncias e políticas públicas a fim de propiciar a inclusão de todas as pessoas, deficientes ou não. A criação das condições reais de acesso à escola é fundamental para que se possa conceber um ambiente inclusivo.
Marlon Messias Satana Cruz – Universidade do Estado da Bahia – DEDC Campus XII. Email: [email protected]
Cadernos à vista: escola, memória e cultura escrita – MIGNOT (RBHE)
MIGNOT, Ana Chrystina Venancio (Org.). Cadernos à vista: escola, memória e cultura escrita. Rio de Janeiro: Eduerj, 2008. Resenha de: PETRY, Marília Gabriela Petry; MOREIRA, Glória Cristina Maciel Moreira. Revista Brasileira de História da Educação, n. 23, p. 261-267, maio/ago. 2010.
Conforme anuncia o título, o propósito da obra é trazer os cadernos escolares à nossa vista. Objeto ordinário da educação escolar, o caderno é reconhecido como elemento fundamental da escolarização moderna, mas muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos, já tão acostumados à sua presença. O subtítulo da obra – Escola, memória e cultura escrita –, destaca o objeto “caderno escolar”, as memórias nele incrustadas bem como a reflexão acerca da cultura escrita que perpassará boa parte dos textos.
Organizado por Ana Chrystina Venancio Mignot, o livro possui 272 páginas divididas em 14 artigos escritos por autores brasileiros e estrangeiros. Sua editoração é impecável, sendo grande parte dos artigos ilustrados com fotografias que representam fontes das pesquisas.
Os 14 artigos que compõem o livro estão estruturados em quatro eixos, propostos por Mignot. São eles:
1) Balanço dos estudos feitos no âmbito da historiografia da educação;
2) Produção e circulação dos suportes e utensílios da escrita escolar;
3) Usos dos cadernos escolares;
4) Iniciativas pessoais e familiares de salvaguarda desses documentos produzidos durante a trajetória escolar.
Em “Os cadernos escolares como fonte histórica: aspectos metodológicos e historiográficos”, Antonio Viñao faz um mapeamento desses materiais pedagógicos ao longo da história, tomando-o como produto da cultura escolar, e discorre acerca das dificuldades metodológicas que perpassam as pesquisas debruçadas sobre essa temática. Discute, ainda, a utilização dos cadernos escolares como instrumento de conhecimento e reconhecimento da escola e seu cotidiano, abordando a importância de um entrecruzamento de fontes.
Em “Os cadernos de classes como fonte primária de pesquisa: alcances e limites teóricos e metodológicos para sua abordagem”, Silvina Gvirtz e Marina Larrondo apresentam um estudo, realizado em alguns países da Europa e da América do Sul, no qual evidenciam quanto os cadernos escolares dizem a respeito dos sistemas educativos e são produtores de saberes, além de transmissores. Saberes esses que devem ser incorporados pelos alunos, sendo, portanto, produtores de efeitos.
Dentre os trabalhos que apontam para um estudo da origem, produção e disseminação do uso dos cadernos escolares, bem como da importância e do sentido que esse suporte tomou em sala de aula, encontra-se o capítulo escrito por Rogério Fernandes, “Um marco no território da criança: o caderno escolar”. O autor faz uma genealogia dos cadernos escolares, os quais, aos poucos, substituíram as caixas de areia e as ardósias, que eram aparatos de baixo custo da cultura escrita. Remete o olhar para o âmbito da indústria e do mercado, os quais deram suporte para a disseminação do uso do caderno individual. Para Rogério Fernandes, não obstante o mercado estar atento às mudanças e contribuir para o uso em massa do caderno, foram necessárias também mudanças nas práticas escolares. Os alunos passaram a ser protagonistas no processo de ensino e aprendizagem, por meio da teorização e individualização, o que facilitou a difusão do caderno como principal instrumento de escrita do aluno, refletindo naquele o trabalho do professor.
Ana Chrystina Venancio Mignot, em seu capítulo “Antes da escrita: uma papelaria na produção e circulação dos cadernos escolares”, fala da trajetória da Casa Cruz, que passou de mercado de artigos de pesca a uma renomada papelaria, atendendo à elite do Rio de Janeiro, em fins do século XIX e início do século XX, estando em funcionamento até os dias atuais e atribuindo seu enorme sucesso ao ecletismo com que trabalhava. Afirma que o caderno há muito não é mais um conjunto de folhas cosidas juntas. Utilizando-se de exemplares de coleções de cadernos, anúncios em periódicos e entrevistas com antigos proprietários, Mignot faz uma relação entre os processos de escolarização, industrialização e comércio que contribuíram para a massificação do uso dos cadernos, elevando-os de objetos de desejo a objetos de consumo. Observou, ainda em seu estudo, como os cadernos contribuíram para a transmissão de valores e ensinamentos que deveriam ser perpetuados: “mensagens introjetadas de amor à pátria, de obediência à ordem e amor ao trabalho” (p. 72). Por fim, conclui que esses suportes da escrita foram banalizados, mas ao longo da história afetaram as práticas de escrita, os processos de ensino-aprendizagem e os uso do tempo nas salas de aula.
No capítulo “Instrumentos da escrita na escola elementar: tecnologia e práticas”, Márcia de Paula Gregório Razzini fala de uma demanda por outros instrumentos que começaram a servir de suporte ao papel com o crescente uso dos cadernos escolares e se consagraram ao longo do tempo, como penas, tintas e, posteriormente, lápis, canetas, entre outros. Ao utilizar várias fontes para seu estudo, entre elas anúncios, dicionários, manuais pedagógicos e inventários de escolas, a autora aponta que, além da substituição da caixa de areia ou da ardósia pelo caderno, se operou também a substituição de seus aportes, o dedo ou o lápis de pedra pelas canetas de pena, lápis e canetas de madeira. Ao concluir, a autora chama a atenção para que façamos uma reflexão sobre os usos excessivos das canetas e lápis em sala de aula, o que poderia contribuir para um empobrecimento da oralidade escolar, a qual é peculiar, uma vez que possui padrões formais que só a escola poderia e pode oferecer à maioria da população, de acordo com a autora.
Rosa Maria Souza Braga, no capítulo “A boa letra tem grande importância: Orminda Marques e as prescrições sobre a escrita”, versa sobre os cadernos de caligrafia e discute a importância que estes adquiriram no período em questão. Em seu estudo, Rosa Maria utiliza o livro escrito por Orminda, cujo intuito foi unir ciência e educação, tendo como título A escrita na escola primária. Nesse livro, Orminda defende a incorporação de uma metodologia da escrita por parte dos alunos, a qual contempla graciosidade no traço, ou seja, a necessidade de um senso estético desde cedo, além de economia do tempo na tarefa de escrita e disciplinamento do corpo.
“Aprendendo com cadernos escolares: sujeitos, subjetividades e práticas sociais cotidianas na escola”, capítulo escrito por Inês Barbosa de Oliveira, mostra como supostos consumidores não são apenas passivos de uma ação, mas usam o que lhes é oferecido para consumo e imprimem subjetividades, tornando esses objetos muito particulares e diversificando seus usos. Inês Barbosa de Oliveira defende que é possível, partindo desse pressuposto, colocar como sujeitos de um estudo não somente os alunos a quem esses cadernos pertencem, mas também os demais sujeitos da cultura escolar, como os professores e as metodologias por eles aplicadas, o que permite compreender uma “pluralidade de redes tecidas entre alunos e escola”.
No texto “Aprendendo a usar cadernos: um caminho necessário para a inserção na cultura escolar”, Anabela Almeida Costa e Santos, pela ótica da psicologia escolar e da pesquisa etnográfica, analisou cadernos de alunos de uma turma de 1ª e outra de 4ª série de uma escola pública paulista. Segundo a autora, essas duas séries marcam momentos distintos da escolarização e apropriação do objeto “caderno”, a 1a como fase de iniciação quanto ao seu uso e, no caso da 4a série, de autoria, uma vez que nesta os alunos passam a criar novas formas de se apropriar do caderno, revelando co maior ênfase características pessoais. Conclui que, ao longo dos anos, os estudantes começam a ter domínio das regras do uso desse material, o que possibilita que seja utilizado efetivamente como auxiliar de estudo.
María del Mar del Pozo Andrés e Sara Ramos Zamora, no texto “Representações da escola e da cultura escolar nos cadernos infantis (Espanha, 1922-1942)”, têm como objeto de estudo uma coleção de 300 cadernos oriundos de escolas públicas espanholas. A análise desse material permitiu um aprofundamento acerca das práticas escolares de cultura escrita dessas instituições. O foco do texto está nas “percepções da escola e dos valores educativos que se refletem nos cadernos escolares” (p. 162).
De acordo com as autoras, um dos aspectos mais interessantes da prática de escrita era a redação de cartas pelos alunos, atividade muito esmerada e presente nos cadernos. O estudo concluiu que nesses cadernos coexistiam os escritos disciplinados e dirigidos pelos professores e uma principiante forma de expressão infantil espontânea. Entretanto, as autoras não se propuseram a responder se os escritos refletiam exclusivamente a personalidade do professor ou da criança.
Em “Cadernos escolares: memória e discurso em marcas de correção”, Isa Cristina da Rocha Lopes trabalhou com uma coleção de 45 cadernos da 1a a 4a séries do ensino fundamental, originários de acervos pessoais. O estudo propôs-se a delinear tendências visíveis nesses cadernos e pode-se perceber o quanto a marca da presença do professor no período estudado (1951-2003) esteve aparente nos cadernos dos alunos, por meio de registros escritos, sinais gráficos e imagens constituintes de um discurso escolar indicador de identidades. De acordo com a autora, conclui-se que produções discursivas semelhantes podem cumprir funções diferentes, pois dependem de quando aparecem e de quais sentidos estão impregnados.
No texto “O conteúdo emocional de três cadernos escolares do franquismo”, Kira Mahamud Ângulo fala-nos da educação de meninas na Espanha, a partir da análise de três cadernos pertencentes a uma professora. Esses cadernos são conhecidos como “cadernos de circulação” ou “de aula” e são assim chamados porque todos os alunos participavam de sua escrita; destinavam-se ao registro da memória das aulas, uma espécie de diário. O objetivo do trabalho centrou-se em enfatizar o conteúdo emocional desses cadernos, a partir de três elementos: transparência da professora na expressão dos seus sentimentos, referências ao amor pátrio e religioso nas lições de comemorações e recurso à poesia para o ensino. Os cadernos continham várias poesias favoráveis ao regime franquista e serviam como impregnadores da nova ideologia. A autora concluiu, entre outras coisas, que a professora concebia o caderno de circulação como um recurso e material educativo, que exercia função de introjeção da cultura escrita, de doutrinação de uma visão de mundo a partir do conhecimento e sentimentos, não se caracterizando apenas como dispositivo de controle e inspeção.
Eurize Caldas Pessanha, no texto “Entrevendo o currículo: um estudo sobre cadernos escolares de normalistas”, usa como fonte de pesquisa dois cadernos de duas normalistas da década de 1930, um de higiene e outro de rascunho (anotações rápidas). A autora considerou esses cadernos frestas para enxergar parte do processo de negociaçãodo currículo e pretendeu analisar quais práticas de transmissão de conhecimentos poderiam ser deduzidas a partir deles. O texto está estruturado em três partes: na primeira, a autora situa os cadernos a partir da história das escolas frequentadas pelas normalistas; na sequência, descreve-os materialmente; e, por último, explicita os conhecimentos e práticas possíveis de serem visualizadas.
Em “A estética e as ilustrações nos cadernos escolares: o caso de uma escola de meninas na Espanha franquista”, Ana María Badanelli Rubio analisa cadernos pertencentes à mesma professora mencionada no artigo de Kira Mahamud Ângulo, porém de períodos diferentes. Estes “cadernos de rotação”, que relatavam os acontecimentos escolares, continham ilustrações de qualidade excepcional feitas pelas alunas. Além de servirem como diário, a professora selecionava atividades que as alunas deveriam desenvolver, o que indica que eram meticulosamente planejados. Sendo assim, esses cadernos não eram um espaço de fruição, imaginação e fantasia. A autora conclui que os cadernos não eram apenas um meio para aquisição de conhecimentos, mas também um local de registro do cotidiano escolar e de informações a respeito dos atores envolvidos. Ana María pontua, ainda, questões a respeito da estética presente nos cadernos, devido à inspeção pela qual passariam, questões de gênero e de religiosidade.
Para finalizar, em “Velhos cadernos, novas emoções”, Mirian Paura Sabrosa Zippin Grinspun dá voz às próprias lembranças a respeito dos cadernos de família e os motivos que a levaram a guardá-los. Pela análise dessa coleção, evidencia permanências e rupturas ao longo da escolarização da sua família.
Da leitura desta obra, retiramos algumas reflexões acerca do objeto “caderno”, hoje consagrado e tornado quase invisível, banalizado por aqueles que o usam.
Conforme os autores dos artigos sublinham, os cadernos são, pela especificidade que os sujeitos lhes emprestam, passíveis de serem compreendidos para além de sua materialidade, uma vez que nos falam, de modo próprio, de características de uma época. Versam sobre currículos e métodos de ensino e de como e em quais circunstâncias esses métodos foram empregados. Falam-nos de subjetividades, não somente de alunos e de professores, mas de atores envolvidos no processo de escolarização, de uma cultura específica e de processos naturalizados e internalizados por quem passa pelos cadernos escolares e deixa suas marcas escritas nas linhas e nas entrelinhas.
Os textos enfatizam a importância dos cadernos como fontes de pesquisa ocupadas de investigações que ajudam a compreender a complexa construção da cultura escolar (ou culturas, como têm preferido alguns autores). Escrevendo a partir de espaços geográficos diferentes, mas tendo em comum esse suporte material tão marcante da vida escolar, os autores remetem a diferentes abordagens e possibilidades de leitura de um mesmo objeto.
Marília Gabriela Petry – E-mail: [email protected]
Glória Cristina Maciel Moreira – E-mail: [email protected]
Homo Zappiens: educando na era digital – VEEN; VRAKKING (C)
VEEN, W.; VRAKKING, B. Homo Zappiens: educando na era digital. Trad. de Vinícius Figueira. Porto Alegre: Artmed, 2009. Resenha de: PETARNELLA, Leandro; GARCIA, Eduardo de Campos. Conjectura, Caxias do Sul, v. 15, n. 2, p. 175-179, Maio/Ago, 2010.
A sociedade está em permanente metamorfose. Na atualidade, a força motriz das transformações sociais são as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Por consequência, educar crianças que se desenvolvem em uma sociedade alicerçada nessas novas tecnologias se torna uma tarefa tão difícil quanto arriscada, uma vez que essas enfrentam dificuldades em se ajustar ao sistema educacional atual, dadas suas íntimas relações com a tecnologia.
Partindo das considerações acima, Wim Veen e Ben Vrakking tecem no livro Homo Zappiens: educando na era digital, suas reflexões sobre um tema atual e polêmico: o papel da escola e da educação em uma sociedade tecnológica. Reflexões essas delineadas em 137 páginas, divididas em seis capítulos: “Tempos de Mudança” como primeiro capítulo; “Conhecendo o Homo Zappiens” como segundo capítulo; “Entendendo o caos” apresentando o terceiro capítulo e como quarto capítulo “Aprendendo de maneira divertida”. “Parando a montanha russa” (5º capítulo), antecede o sexto e último capítulo “O que as escolas poderiam fazer”.
No primeiro capítulo “Tempos de mudança”, os autores discorrem sobre alguns momentos nos quais a sociedade se viu diante do terror do bug do milênio, apresentando de forma fácil a necessidade de um novo saber sobre o velho conhecimento, para que se resolvam os problemas tecnológicos atuais. Segundo os autores, o bug do milênio levou o homem a refletir sobre sua consonância vivencial com a tecnologia, em vista de que a mesma se tornou uníssona em seu cotidiano juntamente com suas responsabilidades vitais. Por meio dessa necessidade, pode-se entender por que os autores denominaram a nova geração como Homo Zappiens.
Para exemplificar a denominação e levar o leitor à reflexão, os autores propõem uma narrativa ficcional, cuja personagem é nominada como Jack. A figura dramática de Jack, ambientalizada numa situação cotidiana, se vê num cenário tecnológico cujos objetos que o circundam conduzem sua vida. Nesse cenário, encontram-se aparelhos que se tornaram íntimos demais para nos desvencilharmos de seus objetivos, ou seja, aquilo que há três mil anos era algo impulsionado pelo músculo-força-cinética hoje é tecno-mecânica-elétrica.
Por meio de Jack podemos perceber que, com o desenvolvimento tecnológico, aquilo que no passado era usufruto de alguns, hoje se massifica transcendendo fronteiras, tempo e espaço. Os autores exemplificam essa facilidade de comunicação colocando Jack numa situação corriqueira: A personagem Jack encontra-se atrasada para o trabalho e parada no trânsito, a metros de distância de seu local de trabalho. Jack, então, se comunica por meio de um celular com sua secretária e, logo em seguida, atende um cliente, tudo isso por meio de um click.
Não é só o click que nos leva às facilidades na comunicação, mas tudo o que nos cerca: televisão, rádio, computador, etc. O fato é que não basta reconhecer que a tecnologia facilita o cotidiano do homem, mas que essa tecnologia, como parte da vida do homem, faz desse homem mais homem na representação social; melhor dizendo, um homem mais sábio, atualizado, antenado, zap. Em outras palavras: a tecnologia que se apresenta é parte da personalidade, de uma essência humana tecnológica, pois o homem contagia-se e se torna complacente com a tecnologia, passando, com o uso dela, a administrar seu “eu”. Desse modo, o tempo passa a ser um estimado bem, que iminencia um tempo em que viver os segundos e produzir nos segundos faz a diferença. Nessa perspectiva, o tempo deve ser administrado de forma orbital e tecnológico, pois, no labore, a postura perante qualquer equipe de trabalho deverá desenvolver e reconhecer o capital humano como meio para se dilatarem as possibilidades de crescimento. O Homo Zappiens se revela como um ser tecnologizado, cujo cotidiano faz dele alguém renovável, flexível como os autores tratam no capítulo seguinte.
No segundo capítulo “Conhecendo o Homo Zappiens”, os autores explanam sobre o comportamento das crianças que representam esses sujeitos, cujo cognitivo é delineado pelas tecnologias e suas convergências. O Homo Zappiens, sendo sujeito hodierno, age de forma dispersa ao olhar dos educadores, que, porém são, na verdade, multifuncionais, o que os leva a observar de forma rápida alguns diferentes meios tecnológicos, tais como, o celular, o MSN, a televisão, o rádio, etc. Nesse aspecto, as gerações tecnologizadas se concebem como a geração de rede, a geração digital, a geração instantânea e, entre tantas outras nominações, a cibergeração. Nessa perspectiva, os Homo Zappiens, por meio de um click, acessam e navegam instantaneamente em qualquer lugar e em qualquer tempo e, nesse navegar, plugam-se em jogos interativos, salas de bate-papo, ciberencontros, etc.
A diferença entre o Homo Zappiens e as outras gerações, segundo os autores, é concebida por meio do modo como ambos se relacionam com as tecnologias: os Homo Zappiens se tornam íntimos da tecnologia, porque aprendem numa relação de intimidade que se contextualiza pela prática e pela experimentação da tecnologia, enquanto as outras gerações se submetem às instruções para depois efetuar operações tecnológicas. Desse modo, as novas gerações têm um desenvolvimento tecnocognitivo enquanto às outras gerações, o real se baseia na instrução para a aprendizagem.
Dando continuidade a ideia de Homo Zappiens, o terceiro capítulo: “Entendendo o caos”, aborda a forma como as crianças da atual geração se familiarizam com a tecnologia. Sendo essa facilmente utilizada no cotidiano dos indivíduos, os Homo Zappiens visualizam na tecnologia uma possibilidade de socialização, o que ocorre por meio de jogos de LAN e mensagens instantâneas, ou seja, aquilo que para muitos (de gerações passadas) pode ser considerado um caos. Para os autores é o desenvolvimento da habilidade icônica, a de tarefas múltiplas, de zapear e a de colaboração que diferencia o Homo Zappiens dos demais sujeitos de gerações passadas. Entendamos por meio da ideia dos autores que, enquanto as gerações passadas assistiam a filmes observando a história e a interpretação, os Homo Zappiens decifram e compreendem como cada cena foi elaborada. Decifrar a tecnologia empregada é o grande desafio da tecnogeração, isto é, para ela construir o conhecimento. O mesmo ocorre, por exemplo, com o processo de leitura, cujos olhos atentos aos vários ícones nas páginas da NET saciam a ânsia de aprender desses indivíduos, pensadores digitais.
Avançando o pensar, no quarto capítulo: “Aprendendo de maneira divertida”, os autores apresentam o homem como alguém que entende o aprender e o concebe por meio de uma verossimilhança entre o jogar. A interação virtual ou real tem como essência a potencialidade investigativa. Assim, para os autores, aprender é a capacidade de observar o meio e seu entorno, é adaptar-se às transformações ocorridas, é retransformá-lo. Desse modo, o Homo Zappiens vê e vive a interação por meio do contato e do convívio com a tecnologia-interativa ou a interação-sócio-humana. Mesmo porque o novo nada mais é que velhos processos reprojetados por novos meios, novas ferramentas.
Diante do contexto até aqui apresentado, os autores referem que o processo de aprender pode advir de duas concepções: a primeira proposta parte do senso comum e concebe a aprendizagem como um processo permanente no cotidiano de cada indivíduo; a segunda propõe que a aprendizagem se efetive por meio de níveis e que nem sempre a experiência evidencia aprendizagem. O Homo Zappiens aprende de forma que sua autonomia se evidencie, inclusive, por meio da escolha daquilo que se quer aprender e como se quer aprender. Nesse aspecto, podemos considerar que a nova geração fica atenta ao que aprende, por que aprende e, principalmente, como aprende, sendo essa forma a força motivadora da conduta dos Homo Zappiens, conforme relatam os autores no quinto capítulo Parando a montanha russa.
No sexto e último capítulo: “O que as escolas poderiam fazer”, os autores propõem que a escola, sendo meio para sistematização da educação e da aprendizagem, deve atender aos interesses e às necessidades da sociedade, entre esses: a necessidade de acompanhar ou preconizar as tecnologias inerentes aos avanços da sociedade. Partindo dessa concepção de escola, os autores propõem uma leitura da metodologia utilizada na educação atual, meio de poder que linearmente se desenvolve para que as pessoas se tornem emergentes, o que denota transformar-se de dominado em dominante. Assim, se concebe a escola como um espaço que se apropria das tecnologias e evolui para que essas estejam a serviço da emancipação do homem como sujeito autônomo, que se permite experimentar o novo a todo instante.
Nessa proposta de cenários educacionais, os autores propõem uma reflexão sobre quatro eixos cênicos: inovação, marketing, perseverança e melhoria o que implica uma maior liberdade de escolha no trajeto educacional de cada indivíduo. Os respectivos eixos devem ser construídos por meio de um novo design pedagógico, cujos professores devem ficar atentos aos desafios do novo a todo instante, sendo esse novo não só conhecer as novas tecnologias, mas dar espaço às novas atitudes educacionais, dentre elas, a atitude de confiar nos alunos no que tange ao fazer, ao querer e ao cumprir com liberdade, tendo como vértebra educacional o talento e a habilidade do Homo Zappiens, de estar imerso naquilo que faz, quando se apaixona pelo que faz. Desse modo, a organização e a formatação das avaliações devem, também, se modificar para dar espaço a mudanças significativas, mudando matérias em temas, avaliações em desafios, escrita em imagens…
Transformando as reflexões em um tecido orgânico, no comentário final, os autores propõem uma reflexão sobre os assuntos abordados, não esperando que o leitor aceite passivamente as ideias explicitadas no livro, ao contrário, recorrem sabiamente a todo critério de liberdade apresentado no decorrer do livro Homo Zappiens: educando na era digital, para concluir que, enquanto a geração Homo Zappiens for julgada por meio dos velhos paradigmas, nunca compreenderemos como essa geração brinca e se comunica, o que, na verdade, representa uma fonte de informações para que possamos lidar com nosso futuro digital e criativo.
Referências
VEEN, W.; VRAKKING, B. Homo Zappiens: educando na era digital. Trad. de Vinícius Figueira. Porto Alegre: Artmed, 2009. 141 p.
Leandro Petarnella – Professor na Universidade Nove de Julho (Uninove/SP). Mestre. Doutorando em Educação pela Universidade de Sorocaba (Uniso/SP) e em Administração pela Uninove/SP. Desenvolve pesquisas relacionadas à tecnologia e ao cotidiano escolar. E-mail: [email protected]
Eduardo de Campos Garcia – Professor na Universidade Nove de Julho (Uninove/SP). Mestrando em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Especialista em Magistério do Ensino Superior pela PUCSP. E-mail: [email protected]
Escola e democracia (edição comemorativa) – SAVIANI (TES)
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia (edição comemorativa). Campinas: Autores Associados, 2008, 164 p. Resenha de: RAMOS, Marise. Revista Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v.7, n.1, mar./jun. 2009.
O leitor poderia se perguntar sobre o valor da iniciativa de se lançar uma edição comemorativa do livro Escola e democracia, de Dermeval Saviani, considerado um clássico na área da Educação. Para aqueles que não conhecem a obra, a resposta seria óbvia. Já os que a conhecem encontrarão a resposta para além do significado simbólico – que sustenta, a princípio, o caráter comemorativo da edição – vindo a se motivar pelo valor que os prefácios a oito edições, inclusive à presente, assim como o apêndice – o texto Setenta anos do ‘Manifesto’ e vinte anos de Escola e democracia: balanço de uma polêmica – acrescem à obra.
Os prefácios e o apêndice reiteram o estilo do autor de dialogar com os leitores, especialmente quando provocado, tornando públicas as motivações que subjazem à sua obra, mediante uma franca disposição de revisitá-la a partir das interpretações. No caso de Escola e democracia, a interpretação da obra original por pesquisadores dedicados ao estudo da História da Educação como um trabalho de natureza historiográfica levou Saviani a explicitar que se tratava, ao contrário, de uma obra de natureza polêmica. É a diferença entre ambas as abordagens que serve de fio condutor ao apêndice, dirigido, segundo o autor, aos historiadores da educação, constituindo-se, porém, num texto de referência teórico-metodológica para os estudiosos da educação em geral.
Primeiramente, dele depreendemos a necessidade de que a leitura de um texto não o desvie de sua origem ‘literária’ e de contexto. Nesse sentido, assim como o autor explica que Escola e democracia, um conjunto de textos que, valendo-se da metáfora da ‘teoria da curvatura da vara’, procurava polemizar com a visão apologética sobre a Escola Nova que mobilizou os educadores nas décadas de 1970 e 1980 – contexto em que reside e que justifica seu estilo polêmico – ele demonstra o quanto o Manifesto dos pioneiros da educação nova, documento cuja interpretação levou a tal apologia, era um instrumento político. Nesse sentido, o recurso em que se apóia toda a obra – a teoria da curvatura da vara – enunciada por Lênin ao ser criticado por assumir posições extremistas e radicais, foi amplamente utilizado pelos apologetas da Escola Nova. Porém, alerta o autor, diferentemente do uso por ele feito, o escolanovismo se valeu dessa metáfora como um dispositivo instaurador da própria verdade, o que exigiu a crítica formulada no livro em questão.
Demonstrado que o conteúdo de qualquer publicação escapa ao controle de seus autores, compreende-se, com o autor, que a natureza do Manifesto levou a “versões ‘popularizadas'” – “modo como esse ideário se fixou na cabeça dos professores” (p. 97) – sobre as quais incidiu a crítica formulada em Escola e democracia. Reitera o autor que em nenhum momento esteve em causa as elaborações dos Pioneiros, principalmente porque, como um documento de política educacional, essas versavam mais sobre a defesa da escola pública. Os esclarecimentos reaparecem neste texto, mas foram expostos no prefácio à 34ª edição que acompanha também a presente. Com argumentos cristalinos, o autor demonstra que, embora a Escola Nova tenha sido posta no centro da polêmica, o livro não se colocava contra o seu ideário em si, menos ainda à formulação contida no Manifesto, embora o reconhecimento de seu caráter progressista só tenha sido explicitado posteriormente, junto com os esclarecimentos. Mas a denúncia da Escola Nova teria sido uma estratégia visando a demarcar mais precisamente o âmbito da pedagogia dominante, então caracterizada como a pedagogia burguesa de inspiração liberal.
Com esse texto e em outras passagens dessa edição comemorativa, aprendemos também o quanto repetir uma ideia de diferentes formas pode ser necessário para que seu conteúdo filosófico – a concepção de mundo que a sustenta – possa ser compreendido e, talvez, compartilhado. Foi o que levou o autor a esclarecer a relação entre as ideias expostas em Escola e democracia e a visão marxista, tal como fez no prefácio à 20ª e na atual edição da obra. É nessa perspectiva que os capítulos três e quatro do livro devem ser lidos, posto que neles o leitor (re)encontrará os fundamentos da pedagogia histórico-crítica, como contraposição à pedagogia burguesa de inspiração liberal que esteve na base da Escola Nova.
No prefácio à 34ª edição, o leitor encontrará uma posição mais contundente do autor nesse sentido. Ao negar que o livro tenha se proposto a ser um ‘antiManifesto de 1932‘, ele nos convida a lê-lo sim como um manifesto, mas de lançamento da pedagogia histórico-crítica. A maneira como ele mesmo enuncia a estrutura do livro qualifica o convite e ajuda a responder às perguntas iniciais deste texto, posto que, antes de tratar, no capítulo dois, da denúncia das visões apologéticas da Escola Nova – o que é feito mediante a apresentação de três teses que, pela via polêmica, curvam a vara para o outro lado – o leitor é brindado com um completo diagnóstico das principais teorias pedagógicas, cotejadas com as contribuições e os limites de cada uma delas. Se nesse capítulo a necessidade de uma nova teoria é anunciada, seus fundamentos teórico-metodológicos e sua proposição como uma pedagogia histórico-crítica é formulada, assim como se esclarecem, no último capítulo, as condições de sua produção e operação em sociedades como a brasileira.
Se o caráter didático dessas exposições justifica a pertinência de mais uma edição da obra, como bibliografia básica para os estudantes dos cursos de graduação em pedagogia e de pós-graduação em Educação; seus fundamentos filosóficos, demonstrados pela apropriação das categorias do método histórico-dialético para a formulação de uma teoria pedagógica, demonstram sua atualidade, por manter-se na contracorrente do pensamento hegemônico. Em tempos quando o velho se traveste de novo, tal como se vê com as pseudoteorias pedagógicas (neo)pragmatistas e (neo)construtivistas, a reafirmação da validade histórica da filosofia materialista histórico-dialética como referencial teórico-metodológico e ético-político é revolucionário.
É esta a referência que leva o autor a dialogar, de forma franca, clara e contundente, com seus críticos historiadores da educação, particularmente Clarice Nunes e Zaia Brandão. Isto ele faz reiterando que o equívoco de seus críticos foi não diferenciar a abordagem polêmica da historiográfica, posto que suas três polêmicas teses, a saber: a) do caráter revolucionário da pedagogia da essência e do caráter reacionário da pedagogia da existência; b) do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudocientífico dos métodos novos; e c) de como quando menos se falou em democracia no interior da escola mais ela foi democrática e quando mais se falou em democracia menos ela foi democrática, foram tomadas como resultado de uma investigação historiográfica e não como exercício de um procedimento expresso na metáfora da teoria da curvatura da vara. Ainda que enunciadas como teses, na linha do método dialético essas ideias tratavam-se mais de antíteses que, postas em contradição com as primeiras, potencializariam a síntese que seria uma nova teoria pedagógica. Mas com esse exercício, alerta o autor, ele se situava no âmbito do debate ideológico e não no plano da discussão historiográfica. Isto não foi reconhecido por seus críticos, dentre os quais Clarice Nunes.
O deslocamento dessas ideias do plano ideológico para o historiográfico também estaria na origem da interpretação de Zaia Brandão de que, pela sua análise, ter-se-iam apagado as diferenças, ambiguidades e contradições que atravessaram a história do movimento da escola nova. A memória do próprio marxismo ou de marxistas que nela estiveram ter-se-ia, então, silenciado. Ao contrário, o que os críticos historiadores chamam de silenciamento do marxismo o autor explica como a compatibilidade que houve entre marxistas e liberais em torno do objetivo modernizador que o ideário da Escola Nova propunha. Tal compatibilidade talvez tenha se reforçado pela hegemonia do Partido Comunista, para o qual era necessário, primeiro, realizar a revolução democrático-burguesa como condição para se colocar, posteriormente, a revolução socialista.
Esses argumentos que o autor agora traz a público, porém, não estavam dados na obra original. Neste momento, ele se vale de outro de seus estudos, qual seja, o texto O pensamento de esquerda e a educação na República brasileira. Um estudo que, segundo o próprio, não sendo historiográfico, mas tendo um certo caráter analítico sem o objetivo de polemizar, procura compreender o processo histórico, apresentando um enunciado na condição de hipótese a ser mais bem investigada. A ocupar o primeiro plano de uma análise, um assunto dessa complexidade histórica e política não seria simplesmente tematizado para contrapor a uma crítica, tal como é o propósito do autor nesse texto. Por isto, o respeito aos limites com que é tratado. Sua abordagem, porém, não deixa de nos convidar a um estudo mais aprofundado, reiterando, então, o mérito do diálogo travado com o autor com seus críticos.
É o diálogo, portanto, o ponto forte dessa edição comemorativa de Escola e democracia. A carta de Zaia Brandão enviada ao autor em resposta a tais considerações é expressiva. Ao reconhecer a impropriedade de se ter tomado o texto como historiográfico, reitera-se, porém, o impacto que o mesmo provocou na historiografia da educação. A tal consequência não prevista, porém científica e politicamente tão relevante, somente uma obra da envergadura de Escola e democracia poderia levar. Tornar público esse debate, “rompendo o silêncio em torno das interpretações produzidas no âmbito da historiografia da educação brasileira” sobre o seu trabalho, “tão somente com o espírito de somar esforços no fortalecimento de nossa área de investigação” (p. 100), é digno de um intelectual como Dermeval Saviani. Quanto ao valor da iniciativa de se lançar uma edição comemorativa do livro Escola e democracia, com a ampliação que se quis retratar aqui, esperamos que o leitor possa se posicionar com a oportunidade de (re)visitá-la.
Marise Ramos – Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: [email protected]
[MLPDB]Bullying e suas implicações no ambiente escolar – PEREIRA (RF)
PEREIRA, Sônia Maria de Souza. Bullying e suas implicações no ambiente escolar. São Paulo: Paulos, 2009. 96p. Resenha de: ROCHA, Telma Brito. Revista FACED, Salvador, n.15, jan./jul. 2009.
O cinema, nos últimos anos, tem nos apresentado uma série de filmes que abordam a violência nas escolas. Basta assistir aos filmes: Visitor Q (Japão/2001), Tiros em columbine (EUA/2002), Elefante (EUA/2003), Escola da violência (Coreia do Sul/2006), É só uma questão de tempo (Austrália/2006), Klass (Estônia/2007), A onda (Alemanha/2008), Entre os muros da escola (França/2009) Embora nem todos os filmes sejam baseados em fatos reais, eles demonstram que o problema da violência nas escolas é comum ao conjunto das sociedades.
No Brasil, como sabemos, não é diferente; professores convivem com cenas reais de brigas entre alunos que envolvem agressões físicas com socos, chutes ou agressões psicológicas, por meio de ofensas, difamações (inclusive dirigidas aos próprios professores); e ainda grupos de alunos ou ex-alunos depredando o patrimônio, munidos de armas ou drogas, comprometendo a integridade da vida escolar.
As formas de violência no ambiente escolar são variadas e envolvem uma mutiplicidade de atos. O mesmo ocorre com os fatores determinantes para sua ocorrência, pois abarcam desde questões psicológicas, familiares, socioeconômicas, e também circunstânciais como o uso de drogas lícitas ou ilícitas.
No contexto das diferentes formas de manifestações da violência na escola, temos ainda o bullying, termo de origem inglesa, derivado do adjetivo bully, que significa valentão, tirano; um tipo de violência entre os alunos, caracterizada pela ocorrência de agressões de ordem física e/ou psicológica, geralmente por um longo período e de forma repetitiva, na qual se evidencia um desequilíbrio de poder entre agressor e vítima.
O bullying é um problema que vem sendo detectado como em muitas escolas, sejam públicas ou privadas. Mesmo assim, profissionais da educação desconhecem suas características, ou as graves consequências dos atos cruéis e intimidadores. Por conta desse desconhecimento, ele é confundido com a indisciplina ou brincadeiras entre alunos ou grupos de alunos, por vezes de caráter físico, que envolvem contato pessoal, discussões ou brigas corriqueiras, ocasionais, em pares de igual força e poder.
Nesse sentido, o livro Bullying e suas implicações no ambiente escolar, fruto de uma monografia defendida no curso de Pedagogia da UFBA em 2007, sob a orientação da professora Celma Borges, é uma obra importante, pois ajuda pais e profissionais da educação no entendimento dessa temática. Por meio de uma revisão bibliográfica, a autora analisa porque é tão difícil para as escolas detectarem o bullying, quais as consequências para o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos vitimados; como as escolas e as famílias podem prevenir e combater o bullying.
O livro é composto de pequenos capítulos, seis ao todo, incluíndo a conclusão. De maneira clara e objetiva, a autora apresenta na introdução a estrutura do livro, pontuando que seu trabalho não tem pretensão de apresentar soluções definitivas, mas desenvolver algumas reflexões sobre a gravidade do problema, e também medidas para o seu enfretamento no ambiente escolar.
No capítulo dois, a autora revisa os conceitos de violência e seus possíveis condicionantes como fator explicativo desse fenômeno.
Considera que o conceito varia em diferentes períodos da história da humanidade, ou seja, depende da forma como cada indivíduo compreende o tema, a partir de seus valores e sua ética.
Assim, o termo é complexo e polissêmico, visto que é usado para designar fenômenos variados e distintos. Dentre os fatores determinantes para a violência, entre os mais citados em sua revisão bibliográfica está a desestruturação familiar, e o alto índice de exclusão social.
No capítulo três, parte do histórico para explicar o conceito de bullying, e as diferenças entre bullying e indisciplina. Essa discussão que a autora traz é importante, porque sabemos que, embora os estudos sobre a questão da violência na escola já aconteciam desde os anos 70, na Suécia, Reino Unido, Estados Unidos da América (EUA), só nos anos 80 é que Dan Olweus, pesquisador da Universidade de Bergen na Noruega, desenvolveu os primeiros critérios para detectar o problema de forma específica, e assim diferenciá-lo de outras possíveis interpretações, que envolviam indisciplina e brincadeiras entre alunos – as chamadas gozações. Já no Brasil, até 2003, o termo não era mencionado nas pesquisas sobre violência escolar, somente em 2005, conforme a autora, os estudos de Lopes Neto (2005), Fante (2005), Seixas (2005) e Murriel e outros autores. (2006) discutem a questão (p. 36).
Segundo Pereira, o bullying se manifesta através de insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, tomar pertences, meter medo, atuação de grupos que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos, levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais. (p.31) Em geral, podemos notar que as vítimas não dispõem de recursos, status e habilidade para reagir porque estão numa relação desigual de poder com os agressores, ou por razões psicológicas, econômicas ou sociais. Os agressores se valem dessas incapacidades para infligir dano, seja porque alcançaram algum tipo de gratificação emocional com tal postura, ou pretendem obter alguma vantagem específica como se apossar de dinheiro, de objetos da vítima, ou ainda solidificar posições na hierarquia do grupo onde estão inseridos, e aumentar sua popularidade entre os demais colegas. O caráter intencional ainda é justificado pela escolha de grupos com características físicas, socioeconômicas, de etnia e orientação sexual, específicas.
Nesse sentido, ser diferente é um pretexto para que o autor do bullying satisfaça a sua necessidade de agredir, ofender e humilhar alguém. Os agressores buscam em suas vítimas algumas diferenças em relação ao grupo no qual estão inseridos. A prática de bullying se constitui numa prática de rejeição perversa, que priva o indivíduo, considerado “diferente e inferior”, de sua dignidade, e de seu direito de participar e existir socialmente.
A autora estabelece diferença entre disciplina, indisciplina e bullying: Disciplina são regras básicas de convivência, a indisciplina pode ser percebida como uma fuga as regras, uma não obediência, pelo aluno, às regras preestabelecidas, no caso da escola. (p. 52) Porém, não podem ser confundidas, visto que a primeira provoca transtornos disciplinares de fácil solução. A segunda provoca transtornos mais complicados, pois prejudica o desenvolvimento natural de seus envolvidos, tanto no emocional como no cognitivo e psicológico.
No capítulo quatro, apresenta as consequências e implicações do bullying, tanto para vítima quanto para agressor, demonstra os aspectos psicológicos e cognitivos implicados. Para os agressores, as prováveis consequências podem ser: crença na força para solução dos seus problemas; dificuldade em respeitar a lei e os problemas que daí advêm; problemas de relacionamento afetivo social. (p. 62) Já para as vítimas, existe perda de concentração na escola, de autoestima, problemas de relacionamento, síndrome do pânico, depressão, e podem levar a atitudes mais extremas como o suicídio.
No quinto capítulo, discute alguns modelos de prevenção/ intervenção de alguns países para minimizar a violência nas escolas.
No entanto, aponta que não existe uma receita única, mas várias que deram certo, como as estratégias estabelecidas no currículo, no projeto pedagógico, articuladas à gestão da escola.
Além disso, considero importante que cada escola estabeleça um projeto que reconheça seus limites, possibilidades, compreendendo ainda sua diversidade. É preciso, pois, que a união, as secretarias estaduais e munícipais se comprometam com a formação de professores para o enfretamento do bullying. O livro, portanto, é uma excelente oportunidade para começar o debate no espaço escolar; um suporte teórico que nos ajudará, entre outras questões, a distinguir os alunos que praticam bullying dos alunos indisciplinados, e medidas de intervenção para sua prevenção.
Telma Brito Rocha – Doutoranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).E-mail: [email protected]
Identités, Mémoires, Conscience historique – TUTIAUX-GUILLON; NOURISSON (CC)
TUTIAUX-GUILLON, Nicole; NOURISSON, Didier (Org). Identités, Mémoires, Conscience historique. Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2003. 220p. Resenha de: AUDIGIER, François. Le cartable de Clio – Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire, Lausanne, n.3, p.319-321, 2003.
Ce volume rassemble les contributions présentées lors du Congrès mondial de la Société internationale de didactique de l’histoire qui s’est tenu à Lyon en 2001. Les organisateurs avaient retenu trois mots – identités, mémoires, conscience historique – pour définir le thème principal de ce Congrès, trois mots qui dessinent un ensemble de questions qui traversent aujourd’hui nos sociétés, l’histoire savante, l’histoire scolaire. Les questions posées ont rencontré un large écho dans la plupart des États et systèmes scolaires européens mais aussi en Amérique du Nord et du Sud, dans certains États d’Afrique et d’Asie. La diversité des contributions témoigne de cette large ouverture et de cette convergence des préoccupations. C’est un des intérêts forts de cet ouvrage que de nous ouvrir ainsi à d’autres horizons, de pouvoir établir des rapprochements, nuancer des différences, tenter de partager la recherche de solutions pour répondre aux défis que l’enseignement de l’histoire doit affronter.
L’ouvrage est divisé en trois parties. Chacune rassemble, autour d’un axe directeur, des contributions dans lesquelles les trois termes choisis pour ce Congrès entrent en écho l’un avec l’autre. La perspective commune est aussi celle d’une nécessaire interrogation de l’histoire scolaire du point de vue de sa définition, de ses contenus et de ses modes de transmission.
La première interroge « l’enseignement de l’histoire entre principes et pratiques ». Dans sa conférence d’ouverture Christian Laville livre une analyse critique du concept de conscience historique et du courant qui le porte. Empruntant ses références aux situations européenne et québécoise, il ouvre très largement son propos aux travaux anglophones. Il introduit ainsi une préoccupation qui habite de nombreuses contributions de cet ouvrage avec la critique du récit largement développée chez certains historiens et à l’école, et l’importance de plus en plus grande accordée à l’enseignement des modes de pensée historique. Nicole Tutiaux-Guillon s’appuie en particulier sur sa participation à l’enquête Jeunes et histoire pour mettre l’intention de construction d’une conscience historique critique au regard des coutumes didactiques. Elle souligne le poids des secondes comme obstacle à la première et souligne l’importance accordée aux connaissances comme vecteur privilégié voire unique pour cette construction. En s’appuyant sur l’exemple français Annie Bruter questionne la relation entre l’identité, la mémoire collective et l’enseignement de l’histoire. Si certains facteurs internes à l’école expliquent le délitement de cette relation, il convient aussi de considérer le rôle déterminant joué par les transformations de l’idée de nation. Elle conclut sur les ambiguïtés et les écarts qui caractérisent l’histoire scolaire et les discours officiels. Avec la Commune de Paris, Didier Nourrisson introduit les « oubliés » de l’histoire scolaire, les contenus de celle-ci variant de manière souvent plus spontanée que vraiment réfléchie. Ses réflexions se prolongent dans ce numéro du Cartable. Arja Virta clôt cette première partie par la présentation d’une enquête menée auprès de futurs enseignants du primaire en Finlande, sur les conceptions que ces derniers ont de l’histoire et de son rôle dans la société et pour les individus. Elle met notamment en évidence les composantes intellectuelles et critiques, mais aussi affectives et émotionnelles des relations que les personnes entretiennent avec l’histoire.
La deuxième partie traite de la question des « enjeux » et des « contextes ». Trois communications sont présentées par des universitaires engagés dans la formation des maîtres et travaillant dans des contextes différents. Robert Martineau analyse le problème identitaire canadien dans quatre de ses dimensions: historique, politique, civique et éducative, pour appeler à une nécessaire refondation de la citoyenneté canadienne dans une société plurielle. Il met en écho les travaux de nombreux historiens de son pays avant de plaider pour un enseignement qui, loin des grands récits épiques, privilégie un apprentissage des modes de pensée historique. Elisabeth Erdmann interroge la mémoire dans l’Allemagne d’aujourd’hui alors que s’y développe une sorte de « boulimie commémorative » selon la formule de Pierre Nora. Elle compare Les lieux de mémoire avec un ouvrage paru en Allemagne et inspiré par la même problématique, pour souligner certaines des différences entre les deux œuvres, différences liées au contexte de chaque pays. Observant l’accent mis en Allemagne sur les deux derniers siècles, elle propose de reprendre la distinction entre mémoire «communiquée» très liée à la mémoire orale, mémoire culturelle qui renvoie aux signes multiples dans une société donnée et mémoire historique liée aux méthodes critiques, à l’usage raisonné des sources, etc. Elle plaide pour un enseignement permettant aux élèves de différencier ces mémoires et pour le développement d’enquêtes comparatives entre nos États. L’enquête est le matériau sur lequel s’appuie Lana Mara de Castro Siman pour étudier les représentations du passé qu’ont de jeunes brésiliens, en prenant pour objet principal la fondation de la nation au Brésil et en utilisant la lecture d’images. Elle conclut notamment sur l’importance de l’histoire scolaire dans la formation de ces représentations et se prononce pour un enseignement qui favorise la rupture avec les schémas binaires simplificateurs.
Les contributions de la troisième partie sont rassemblées sous le titre de « Penser le passé, apprendre l’histoire ». Charles Heimberg développe l’importance d’un enseignement centré sur l’apprentissage des modes de pensée de l’histoire comme contribution d’une nouvelle manière d’interroger son identité et de regarder le monde. Il insiste notamment sur la distinction entre histoire et mémoire avant de proposer quelques exemples de travail en classe et de poser quelques questions sur la difficile question de l’évaluation. Jacques Vieuxloup présente une recherche en cours sur l’enseignement des concepts d’État et de pouvoir dans des classes de quatrième et de troisième dans un collège français. Tout en faisant place aux interrogations que l’idée même de concept soulève en histoire, il se situe dans la perspective d’un enseignement qui privilégie la construction de concepts et fait état des premiers résultats obtenus auprès des élèves. En s’appuyant sur les expériences menées à l’Université catholique de Louvain, Kathleen Rogiers fait quelques suggestions sur l’usage des ordinateurs dans l’enseignement et l’apprentissage de compétences historiques avec des élèves de l’enseignement secondaire. Le support est un cd-rom comportant quatre dossiers de sources historiques permettant de travailler sur le concept de pouvoir dans la société médiévale. L’accent est mis sur l’autonomie, la participation active, le travail d’interprétation, autant de résultats importants pour un enseignement renouvelé de l’histoire. Susanne Popp étudie la spécificité de la mémoire concernant Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht et ses transformations en Allemagne. Elle part du fait que cette mémoire est une mémoire centrée sur un « couple » et non sur un « héros » pour analyser les possibilités que cette particularité éveille mais aussi les obstacles. L’existence de deux Allemagnes pendant une quarantaine d’années permet de développer une comparaison entre deux traditions mémorielles qui se rejoignent dans l’oubli des textes politiques de ces deux personnages. Angelina Ogier Cesari analyse les discours sur Napo léon 1er dans un corpus de manuels scolaires de l’école élémentaire entre 1880 et 1995 en France. Elle construit une périodisation de ces discours qui s’achève, à partir des années 1980, par une très nette diminution de la place accordée à Napoléon. Le lien avec les finalités de l’enseignement de l’histoire est ici fortement établi, la construction d’une identité nationale essentielle hier, un déclin de cette référence et une ouverture au monde aujourd’hui. En relation avec la mondialisation, Tayeb Chenntouf étudie la place donnée à l’histoire des civilisations et au concept de civilisation dans les enseignements d’histoire et de géographie des pays du Maghreb et de France. Il constate l’ouverture internationale de l’histoire surtout pour l’étude des civilisations anciennes et, en revanche, la place relativement modeste accordée aux civilisations du temps présent. Le projet Braudel reprend toute sa pertinence dans un monde où la prise en compte des identités plurielles, l’ouverture aux autres et la tolérance sont plus que jamais nécessaires.
Il revient à Henri Moniot qui a incarné l’intérêt des historiens universitaires pour la didactique de l’histoire de conclure en convoquant quelques « saints » auxquels se vouer. Choisissant Braudel, Létourneau, Lepetit et plusieurs autres, il reprend à nouveau frais la double référence, incontournable comme on dit aujourd’hui, qui commande l’enseignement de l’histoire: la connaissance et la connivence. Tout cela appelle, exige suis-je tenté d’écrire, la poursuite de divers chantiers déjà engagés, l’ouverture de quelques nouveaux, et pour tous, le développement de solides recherches appuyées sur des données empiriques, seul moyen de mettre à distance, au moins un peu, les dimensions idéologiques, affectives, les passions dont l’histoire et son enseignement sont l’objet.
François Audigier – Université de Genève.
[IF]La terra abitata dagli uomini – BRUSA et al (CC)
BRUSA, Antonio; BRUSA, Anna; CECALUPO, Marco. La terra abitata dagli uomini. Bari, Irrsae Puglia: Progedit, 2000, 205p. Resenha de: HEIMBERG, Charles. Le cartable de Clio – Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire, Lausanne, n.3, p.326, 2003.
Cet ouvrage traite de l’histoire enseignée sous l’angle de l’éducation interculturelle. La réalité du fait migratoire dans les écoles italiennes est relativement récente et n’a pas manqué de provoquer une large réflexion du monde de l’éducation sur la manière de s’adresser à tous les élèves qui sont désormais présents dans les classes. Mais le rôle de l’histoire scolaire pour les processus interculturels, dans un premier temps, est demeuré occulté. Dans son introduction, Antonio Brusa explique en quoi il est pourtant essentiel, et évoque ce qui a été fait depuis lors en la matière. L’ajout de nouvelles thématiques dans les programmes a d’abord provoque une telle surcharge qu’il a bien fallu se résigner à repenser l’ ensembre du curriculum. La réflexions est malheureusement déroulée em dehors des structures universitaires, mais elle a permis de remettre enfin en cause un récit linéaire et seulement européen de l’histoire humaine. De fait, le dépassement d’une histoire ethnocentrique et le développement d’une histoire qui tienne bien compte de la dimension mondiale sont équivalents, dans le domaine de l’histoire, à ce que représente l’antiracisme dans l’espace public.
Le schéma traditionnel et linéaire de l’histoire ne comprend aucune donnée spatiale, il se déroule à partir d’un lieu donné sans prendre suffisamment en considération des tableaux synchroniques du monde, sans interroger l’altérité dans la contemporanéité. En outre, ce grand récit pourrait être repensé autour des trois modèles d’organisation sociale que séparent les deux grands changements ayant marqué l’histoire de l’humanité, la révolution néolithique et l’industrialisation. La reconstruction de l’histoire enseignée par des synthèses globales et des récits qui les donnent à voir permet aussi de faire construire une grammaire de l’histoire et d’exercer des activités dans ce sens. Une typologie des exercices que l’on peut développer en classe d’histoire est ainsi proposée. De même que des exemples de jeux de rôles ou de simulation qui permettent aux élèves de construire des connaissances d’histoire sur des thèmes très variés.
Ce volume, avec les nombreux exemples didactiques qu’il présente, concerne avant tout la scolarité obligatoire, soit l’enseignement primaire et l’école moyenne. Sa dernière partie suggère toute une série d’activités scolaires qui peuvent être développées dans le cadre du « laboratoire d’histoire ». Il dégage ainsi de nouvelles perspectives pour l’histoire enseignée qui sont vraiment très stimulantes.
Charles Heimberg – Institut de Formation des Maîtres (IFMES), Genève.
[IF]Cinéma-École: aller-retour – NOURRISSON (CC)
NOURRISSON, Didier; JEUNET, Paul. Cinéma-École: aller-retour. SaintÉtienne: Publications de l’Université de SaintÉtienne, 2001. 280p. Resenha de: HEIMBERG, Heimberg. Le cartable de Clio – Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire, Lausanne, n.3, p.326-327, 2003.
Les Actes du colloque « Cinéma-École: allerretour », qui s’est tenu à Saint-Étienne du 23 au 25 novembre 2000, évoquent à la fois les images de l’école au cinéma et le cinéma dans l’enseignement. La manière dont les films ont représenté l’école a souvent été négative ; c’était un lieu à éviter où se développait la délinquance. Mais si le cinéma a d’abord été un moyen pédagogique au potentiel énorme, il est aujourd’hui devenu un moyen de communication, mais aussi une partie nouvelle de ce monde que les élèves doivent apprendre à lire pour pouvoir mettre à distance ce qu’ils constatent et ce qu’ils ressentent.
L’un des éléments originaux de ce cinéma scolaire est constitué par les films fixes, des images dont la succession peut rythmer une séquence d’enseignement. Une collection disloquée de ces films a été retrouvée fortuitement dans les anciennes douches d’une école primaire stéphanoise. Mais le cinéma scolaire n’est pas seulement un moyen pédagogique. L’histoire scolaire, notamment, a dû intégrer l’apport des œuvres cinématographiques pour l’évocation de certains événements. Évelyne Hery a cependant souligné l’ampleur de la méfiance des maîtres d’histoires à l’égard des films, au moins jusqu’aux années 70.
La ville de Saint-Étienne manifeste de l’intérêt pour l’histoire du cinéma, scolaire en particulier. C’est aussi dans cette ville qu’a été retrouvé, un peu miraculeusement, un film muet que l’on croyait perdu: Le tour de France par deux enfants de Louis de Carbonnat, tourné en 1923 à partir du livre écrit en 1877 par G. Bruno (en réalité Augustine Tuillerie). Ainsi a-t-il pu être projeté pendant ce colloque.
Charles Heimberg – Institut de Formation des Maîtres (IFMES), Genève.
[IF]Éducation à la santé. XIXe-XXe siècle – NOURISSON (CC)
NOURISSON, Didier. Éducation à la santé. XIXe-XXe siècle. Rennes: Éditions de l’École nationale de la Santé publique, 2002. 158p. Resenha de: HEIMBERG, Charles. Le cartable de Clio – Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire, Lausanne, n.3, p.327, 2003.
Ce volume rassemble des conférences qui ont été prononcées à l’IUFM de Saint-Étienne entre 1995 et 1997. Elles portent sur l’émergence de la santé publique dans le projet éducatif et les pratiques scolaires. Les concepts de santé publique sont nés au fil des deux hygiénismes qui ont successivement prévalu de la fin du XVIIIe siècle à 1870, puis de 1880 à 1940. C’est dans ce contexte que la propreté de l’enfant est devenue une exigence et a même fait l’objet d’un contrôle social. La leçon d’hygiène est ainsi apparue dans les écoles dans une perspective qu’on devine particulièrement normative. Cette propagande pour l’hygiène et la santé a bien sûr recouru aux images, affiches publicitaires, et plus tard à la magie des films. Dans les écoles, l’apparition de l’éducation physique est intervenue dans une perspective de promotion de la santé, comme cela a aussi été le cas avec la natation (on peut toutefois se demander si le facteur militaire, pour les garçons, ne jouait pas aussi un rôle important). Au tournant des XIXe-XXe siècle, l’enseignement antialcoolique à l’école était prescriptif, et souvent caricatural, mais il ne s’est pas révélé très efficace. Voilà de quoi nourrir une réflexion sur l’école d’aujourd’hui, son rôle effectif et la manière de répondre aux diverses injonctions, aux demandes sociales multiplex et Nouvelles, dont elle fait encore l’objet en matière d’éducation à la santé.
Charles Heimberg – Institut de Formation des Maîtres (IFMES), Genève.
[IF]L’Histoire à l’école. Modes de pensée et regard sur le monde – HEIMBERG (CC)
HEIMBERG, Charles. L’Histoire à l’école. Modes de pensée et regard sur le monde. Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, coll. Pratiques et enjeux pédagogiques, 2002, 125 pages. Resenha de: LEONARDIS, Patrick. Le cartable de Clio – Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire, Lausanne, n.2, p.282-283, 2002.
L’histoire est une discipline en crise. Pourtant elle a rarement été autant sollicitée dans l’espace public. C’est le point de départ de la riche réflexion que Charles Heimberg nous propose sur la place de l’histoire dans la Cité en général et à l’école en particulier. Se nourrissant des écrits de Marc Bloch, d’Hobsbawm, de Walter Benjamin ou de ceux moins connus des historiens italiens actuels, il nous livre un petit ouvrage d’une remarquable concision et dégageant de grandes perspectives didactiques.
L’auteur regroupe en trois axes d’activités (comparer, périodiser et distinguer l’histoire de ses usages publics) les éléments constitutifs d’une pensée propre à la discipline dans le cadre scolaire: la compréhension du présent par une prise en compte du passé, l’intérêt pour le caractère spécifique du passé, la complexité des temps et des durées, la question de la mémoire collective et la critique des usages culturels et médiatiques de l’histoire. Il défend l’idée que tous les élèves peuvent entrer dans ces modes de pensée historiens relativement tôt, en tout cas dès les premiers degrés du secondaire et qu’il serait regrettable de croire que sans un socle préalable de connaissances, il n’est pas possible de faire réfléchir des élèves sur des problèmes d’histoire. Le défi de cette vision de l’histoire enseignée est de promouvoir une même his toire de la maternelle à l’université, sans négliger bien évidemment des niveaux de progression différenciés. Tout en ne dédaignant pas les didactiques transmissives traditionnelles ou béhavioristes, le socio-constructivisme semble bien la voie à suivre pour Heimberg, si l’on veut renouveler les pratiques d’enseignement et sortir de l’empilement de connaissances déconnectées les unes des autres et donc faiblement porteuses de sens.
Loin d’établir un catalogue de belles intentions didactiques et fort de son expérience d’historien, d’enseignant et de formateur, il présente, à l’appui de sa démonstration, des suggestions d’activités d’une rare simplicité à mettre en œuvre dans les classes et qui conjuguent avec efficacité des perspectives tant historiques que pédagogiques.
En vérité, derrière une apparente simplicité se cache une pédagogie très exigeante où les enseignants développeraient à leur tour une réflexion collective sur les usages publics de l’histoire, ainsi que sur leur responsabilité sociale d’historien et de pédagogue. Avec beaucoup de conviction, l’auteur les engage à dépasser le faux dilemme d’une école inculcatrice du savoir s’opposant à une école favorisant l’épanouissement de compétences citoyennes.
L’Histoire à l’école s’adresse donc aux enseignants qui cherchent à développer dans leur classe une véritable pensée historique, au risque de l’expérimentation, de réajustements successifs, d’idées nouvelles. Un immense chantier, comme ne le cache pas l’auteur, mais, ajouterat-on, qui vaut la peine d’être entrepris.
L’ouvrage se conclut par quelques perspectives particulièrement pertinentes concernant le point qui fâche: l’évaluation. En exemplifiant les nouveaux objectifs d’apprentissage de fin de scolarité obligatoire introduits récemment dans l’école genevoise, Heimberg défend une vision de l’histoire scolaire qui ne serait pas um outil de sélection et qui participerait au projet d’une école ne galvaudant pas son épithète de démocratique. A juste titre, une place capitale est attribuée au formatif, malgré les grandes difficultés à pratiquer ce type d’évaluation dans une branche d’éveil à faible dotation horaire, et à la transparence des critères d’évaluation.
Il nous invite ainsi à parcourir le champ d’un possible pédagogique, permettant d’envisager une histoire enseignée ouverte, plurielle, citoyenne, démocratique. Beau programme s’il en est.
Patrick de Leonardis – Séminaire pédagogique (SPES), Lausanne.
[IF]L’histoire à l’École, matière à penser – MARTINEU (CC)
MARTINEU, Robert. L’histoire à l’École, matière à penser… Paris et Montréal: L’Hartmattan, 1999. 400p. Resenha de: AUDIGIER François. Le cartable de Clio – Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire, Lausanne, n.1, p.208-212, 2001.
L’histoire à l’école, matière à penser…, le titre exprime, dans l’ambivalence même du terme de ‹penser›, l’ambition du projet de Robert Martineau : nous inviter à une double réflexion, sur l’histoire comme matière sco- laire dont il convient de penser, plus exacte- ment de repenser, l’enseignement, mais aussi une matière dont la présence à l’école est nécessaire puisque, parmi ses diverses finali- tés, elle est une initiation à un mode de pen- sée particulier, la pensée historique. Ces deux dimensions de ce travail affirment avec force l’importance de l’enseignement de l’histoire dans nos sociétés contemporaines et le projet de sa nécessaire évolution ; le monde change, l’histoire comme science qui étudie le passé en résonance avec le temps présent aussi, l’enseignement de l’histoire se doit de chan- ger également. Cet ouvrage est l’adaptation d’une thèse soutenue en 1997 et dont le titre était encore plus explicite : « l’échec de l’ap- prentissage de la pensée à l’école secon- daire », avec pour sous-titre, « contributions à l’élaboration de fondements didactiques pour enseigner l’histoire ». Autre double mouvement qui dit l’intention et la structure de l’ouvrage. L’intention est de contribuer à construire l’enseignement de l’histoire sur un socle de connaissances et de réflexions plus solidement établi qu’il ne l’est actuelle- ment. Prétention? Car, après tout, cela fait plus d’un siècle que l’enseignement de l’his- toire est, sous sa forme actuelle et son ambi- tion, présente à l’Ecole, car les enseignants enseignent et ne voient pas nécessairement pourquoi et encore des travaux jetteraient la suspicion sur leur métier et les manières de l’accomplir… Prétention ? Ce serait le cas si d’une part l’auteur s’était tenu à distance de l’enseignement, d’autre part si l’état des lieux se trouvait trop léger, enfin si l’argumentaire ne reposait sur une solide connaissance des sciences historiques elles-mêmes.
Pour le premier point, l’expérience de Robert Martineau comme enseignant du secondaire puis formateur garantit une bonne connais- sance de l’enseignement dans son aspect pra- tique et quotidien. Pour le second point, il convoque différentes enquêtes dont les résul- tats qui établissent la minceur de la compé- tence historique maîtrisée par les élèves du secondaire à la fin de leurs études, fondent son inquiétude concernant les effets de l’en- seignement de l’histoire. A la différence de nombreuses enquêtes, l’objectif n’est pas de s’indigner d’une perte de repères chronolo- giques ou d’ignorances ramassées dans des questionnements qui ressemblent surtout à des jeux télévisés et d’inviter à regretter un ‹bon vieux temps› plus mythique que réel ; l’auteur nous place d’emblée dans la perspec- tive de ce qu’il appelle ‹la pensée historique› et son apprentissage. En fait, il s’agit très sim- plement de prendre au sérieux ce que disent les divers textes qui organisent l’enseigne- ment de l’histoire au Québec, démarche dont l’intérêt dépasse largement le seul cas traité ici. L’écart constaté entre les intentions et les résultats est le lieu où se place le travail de Robert Martineau. C’est dans cet écart que celui-ci construit son ‹modèle d’enseigne- ment adapté de la pensée historique›. Ainsi, il définit trois indicateurs de maîtrise d’un mode de pensée historique : l’attitude histo- rique, la méthode historique et le langage de l’histoire, indicateurs dont il rassemble les caractères dans un des nombreux tableaux qui scandent utilement l’ouvrage. Enfin, entre l’histoire et l’élève, se placent les enseignants et ce qu’ils font en classe, en principe au nom des conceptions qu’ils ont de la disci- pline et de son enseignement. Pour celui-ci, il reprend et réélabore le concept d’adaptation. L’ensemble de la problématique est argu- menté avec force citations d’auteurs franco- phones et anglophones, citations parfois un peu répétitives, mais qui ont l’avantage d’in- troduire le lecteur, peu au fait de ces publica- tions, dans des travaux et des réflexions fort intéressantes. Ces développements qui s’achèvent par l’énoncé de sept hypothèses de recherche, occupent près des deux tiers de l’ouvrage.
Travail de recherche, l’ouvrage s’appuie sur des données empiriques rigoureusement construites et recueillies. Trois univers sont interrogés sous forme d’enquêtes par ques- tionnaires : le savoir conceptuel des ensei- gnants auprès des enseignants, la pratique de l’enseignement de l’histoire et la compétence des élèves à ‹penser historiquement› auprès des élèves. Pour répondre à la question diffi- cile et délicate de la connaissance des pra- tiques d’enseignement, Robert Martineau n’a pas pratiqué d’observations, ce qui aurait alourdi considérablement son propos. Il y répond en questionnant les élèves eux- mêmes, les manières dont ils disent avoir été enseignés et non leurs enseignants. La perti- nence de cette méthode est confirmée par d’autres études notamment sociologiques qui soulignent la grande fiabilité du jugement des élèves. Les trois ensembles de variables ainsi définis, les questionnaires rigoureusement testés puis administrés, l’auteur analyse et interprète les résultats avant de les utiliser pour valider ou invalider ses hypothèses.
Une des observations les plus intéressantes est le doute mis sur les hypothèses qui lien de façon trop étroite différentes variables qui explorent la formation des enseignants, leur expérience professionnelle, la maîtrise qu’ils ont d’un savoir conceptuel adéquat et les conceptions qu’ils ont de l’histoire enseignée ainsi que de la mise en œuvre d’une pratique adaptée. Si les liens entre ces différentes variables s’avèrent peu significatifs, en revanche la pratique adaptée est plus forte- ment liée avec les conceptions qu’ils ont de l’enseignement et de l’apprentissage. Ainsi, les compétences des élèves à penser histori- quement sont d’autant plus affirmées que leurs enseignants ont des conceptions de leur métier qui se rapprochent du ‹modèle adapté›. « De fait, ces données tendent à suggé- rer que la compétence des élèves à ‹penser his- toriquement› dépend non pas de ce que leurs enseignants pensent, mais de ce qu’ils font en classe. » mais ajoute-t-il aussitôt : « Il faut tou- tefois rappeler que nos résultats ont déjà mon- tré que ce que les enseignants font en classe est influencé par ce qu’ils pensent…» (p. 316). Voilà tout de même de quoi conforter les tenants des méthodes d’enseignement et d’apprentissage qui se recommandent du socio-constructivisme, même si le passage de la théorie à la pratique quotidienne est un chemin semé d’embûches. On pourrait aussi citer la convergence avec d’autres études qui montrent la corrélation entre, d’une part le fait pour un enseignant d’être considéré comme juste dans ses évaluations, exigeant dans son enseignement, soucieux de traiter l’ensemble des programmes, respectueux et à l’écoute des élèves et, d’autre part les pro- grès réalisés par ces derniers.
La conclusion revient sur l’ensemble du tra- vail et s’achève par quelques propositions didactiques. On quitte alors le domaine strict de l’enquête pour s’engager dans celui des propositions et de l’action. Ces proposi- tions sont précédées, quelques pages plus avant, par un ‹portrait troublant› des réponses des enseignants où il apparaît, par exemple, que ceux-ci sont encore très forte- ment attachés à l’idée d’efficacité d’une transmission des connaissances pourvu que celles-ci soient bien maîtrisées par l’ensei- gnant, ou qu’ils considèrent que l’expé- rience, le métier sont bien plus importants que la théorie pour enseigner. Cependant, pour une minorité d’enseignants, il y a bien de fortes corrélations entre une bonne connaissance de la discipline historique et du mode de pensée historique, des conditions pouvant favoriser les apprentissages corres- pondant, des processus de cognition en his- toire et des facteurs favorables à un appren- tissage de ce mode de pensée.
Comme tout ouvrage de qualité, celui-ci appelle discussions et prolongements sur des thèmes importants pour la didactique de l’his- toire, plus largement pour celle des sciences sociales. Suggérons quelques exemples:
– à tout seigneur tout honneur, commen- çons par le ‹penser historiquement›. Un premier débat serait d’examiner d’une part le singulier qui est ici affirmé, d’autre part la spécificité de ce penser par rapport à d’autres sciences sociales ; on pourrait citer à titre d’exemple les concepts ou l’esprit critique, qui dans leur généralité ne sont pas la propriété des historiens. A supposer ce débat achevé, l’insistance mise sur les traces historiques et leur traitement, la descrip- tion des différentes étapes du travail de l’historien, laissent de côté un moment essentiel du travail de l’historien tel que Prost le suggère dans Douze leçons pour l’histoire : « On retrouve le cercle vertueux: il faut déjà être historien pour pouvoir poser une question historique ». Cela invite à examiner de façon très précise les affir- mations relatives à la possibilité pour les élèves de poser des questions ou d’élabo- rer des problèmes historiques. Sans un moment consacré à ‹l’état de la ques- tion›, moment dont il conviendrait d’étudier ce qu’il peut recouvrir à l’Ecole, il est difficile de poser une question qui ait du sens, du moins un sens pour l’his- torien. Il ne suffit pas d’avoir des sources pour les interroger de façon pertinente. Les questions des historiens sont élabo- rées autant en écho aux questions que nos sociétés posent au passé et en fonc- tion des sources, qu’à partir des constructions déjà établies par les histo- riens. Cette absence de références à un état des lieux est fréquente dès lors que l’on privilégie un travail effectif des élèves qui ne soit pas seulement une écoute attentive des résultats déjà énon- cés par les historiens. Sans doute ne peut- il guère en être autrement en classe, ni état de la question par les élèves, ou alors très rarement, ni corpus de sources très variées, avec des sources contradictoires, etc. On est très loin d’une ‹transposition didactique› ou de la présence en classe de ‹la› méthode historique. On fait autre chose qui répond aux impératifs et au projet de l’enseignement. Un autre objet de travail à développer est relatif au temps historique, plus exactement aux temps des historiens. Il me semble ici trop réduit à la seule durée et les effets créateurs de sens de sa construction- manipulation par l’historien sont trop discrètement pris en compte ;
l’écriture de l’histoire est aussi un thème un peu négligé, écriture comme pratique scolaire, écriture et son lien congénital avec la narration. L’histoire est une pra- tique, son résultat est un texte. Que ce soit l’élève qui l’établisse, avec toujours des textes comme sources même si des sources non-textuelles sont aussi utili- sées, ou que l’élève prenne connaissance de textes d’historiens déjà écrits, il y a toujours du texte en jeu, et donc de la compréhension de texte. Dans les pra- tiques d’enseignement, leur description, leur analyse, la promotion de pratiques différentes, le travail des élèves, l’évalua- tion, etc. comment faire place à cette ‹nature textuelle› ?
l’ouvrage est centré sur l’histoire à l’Ecole et l’histoire comme science. Un prolonge- ment important voire nécessaire serait d’ouvrir la réflexion aux pratiques sociales de référence et aux usages sociaux de l’his- toire, en entendant plus largement les pra- tiques sociales que les seules pratiques des historiens professionnels. L’histoire, écrite et racontée, celle qui circule dans nos sociétés est loin de se limiter à cette seule origine. De plus, il y a des pratiques de l’histoire qui renvoient aux usages sociaux dont elle est l’objet. Le concept de pra- tiques sociales de référence prend tout son poids si nous incluons, pour l’histoire, tout ce qui concerne ses usages sociaux, en particulier ses usages politiques. La contribution de l’histoire scolaire à la for- mation du citoyen n’est-elle pas aussi de faire de ces usages sociaux et politiques de l’histoire un objet de travail ? C’est bien le sens d’une des rubriques ouverte dans Le cartable de Clio ;
le concept de pratiques sociales de réfé- rence n’est pas le seul qui relève du champ des didactiques. Un autre concept célèbre utilisé dans l’ouvrage est celui de transposition didactique. Il me semble être utilisé de façon très instrumentale et conduit l’auteur à considérer de manière insuffisante tout ce qui relève des contraintes de construction des savoirs scolaires, de la scolarisation des savoirs ;
les finalités de l’enseignement de l’his- toire sont en tension permanente; elles ne sont pas seulement intellectuelles et critiques mais également culturelles et patrimoniales. Avant d’être un outil de formation de l’intelligence et de l’esprit critique, l’histoire est un moyen de construction et d’affirmation des identi- tés collectives. Trop d’événements récents nous le rappellent pour que l’on puisse adhérer immédiatement à des formula- tions très optimistes où seules les dimen- sions critiques et intellectuelles sont prises en compte. Ce qui est en jeu concerne la citoyenneté, la contribution de l’histoire à la transmission et à la construction du lien social et du lien politique, de l’identité collective ;
enfin, l’enquête fait apparaître un groupe de 20 à 25 % d’élèves en délicatesse avec l’histoire ; un tel résultat n’est pas propre au Canada ; il suggère des enquêtes com- plémentaires et comparatives, sans doute plus qualitatives, pour mieux cerner le profil et les conceptions de ces élèves.
Ces thèmes ne sont que quelques exemples de débats et de travaux que suggère l’ouvrage. Cela en souligne l’intérêt et la richesse. La didactique de l’histoire requiert de nom- breuses recherches. Elle en a besoin pour s’établir comme champ de recherche et de réflexion; l’enseignement de l’histoire en a besoin pour y puiser les ressources pour être mieux réfléchi et pratiqué. Lisez ce livre, étu- diez-le, discutez-le. Vous y rencontrerez une pensée rigoureuse et stimulante ; si vous n’êtes pas déjà convaincus, vous y prendrez conscience que ni l’histoire, ni son enseigne- ment, ni son apprentissage ne sont des objets simples et tranquilles. Aussi, le meilleur ave- nir que nous souhaitons à cet ouvrage est dans les prolongements qu’il appelle, les débats et les travaux qu’il devrait très heureusement susciter.
François Audigier – Université de Genève.
[IF]Arqueología de la Educación. Textos, indicios, monumentos. La imagen de los indios en el mundo escolar – PODGORNY (IA)
PODGORNY, Irina. Arqueología de la Educación. Textos, indicios, monumentos. La imagen de los indios en el mundo escolar. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires, 1999. 222p. Resenha de: ENDERE, María Luz. Intersecciones en Antropología, Olavarría, n.1, ene./dic., 2000.
La Dra. Irina Podgorny cuenta con una sólida formación en arqueología y antropología y ha publicado numerosos trabajos en temas relacionados con historia de la ciencia en Argentina, en especial de la arqueología y la antropología en el período de institucionalización de las mismas y de la creación de los grandes museos nacionales hasta la primera mitad del siglo XX.
En este trabajo se reproduce en parte su tesis doctoral “Arqueología y Educación: la inclusión de la arqueología pampeana en la educación argentina”, presentada en 1993. Lo que ha sido excluido de la versión original es la segunda parte en la cual se analizaban los trabajos científicos en base a los cuales se organizó el estudio del pasado indígena entre 1880 y 1940, por haber sido objeto de publicaciones anteriores de la misma autora y que no son ajenos al lector familiarizado con la producción de Podgorny en los últimos años (en especial Podgorny 1999).
Esta publicación, aunque tardía, no es menos oportuna ya que aborda una cuestión poco explorada en Argentina, cual es la presentación de la arqueología y del pasado indígena en la enseñanza primaria (actual EGB) en la provincia de Buenos Aires. Pese a que la relación entre arqueología y educación es una cuestión que ha sido objeto de reflexión por parte de autores extranjeros (en particular MacKensie y Stone 1990), en el marco de la denominada arqueología postprocesual (Hodder 1986), la producción de trabajos que se ocupen específicamente de cómo se enseña la arqueología y el pasado indígena en la escuela en Argentina es muy escasa. Si bien se reconoce en los ámbitos científicos que el pasado prehistórico está virtualmente excluido en la educación formal argentina, no hay suficientes trabajos de investigación que contrasten esta afirmación con la realidad cotidiana que se vive en las aulas.
Desde la arqueología postprocesual se ha enfatizado la subjetividad de la interpretación del pasado y su manipulación desde el presente, manipulación de la que no ha sido ajena la arqueología (ver Kohl y Fawcett 1995; Díaz-Andrew y Champion 1996). En esta línea interpretativa, recobra especial interés la indagación de cómo el pasado o determinadas versiones del pasado han servido de fundamento a políticas hegemónicas, así como a la consolidación de una identidad nacional única -y al mismo tiempo negadora de toda posible diversidad étnica o cultural-, sobretodo en las nuevas naciones surgidas a partir de procesos de descolonización.
En este sentido, la educación formal constituye un instrumento idóneo para difundir la idea de nacionalidad cuya fuerza homogeneizante requiere necesariamente la negación y exclusión de todo pasado que pueda proveer de algún resquicio para una versión que difiera de la historia oficial, así como la exaltación de aquello que pueda servir de base a las “nuevas” tradiciones nacionales (en el sentido de Hobsbawm y Ranger 1983).
En ese marco la indagación sobre la presentación del pasado indígena y la inserción de la arqueología en la currícula escolar -tanto en la formación de docentes como de alumnos-, así como en los libros de textos permite comprobar qué lugar ocupaban en la “versión oficial” del pasado y comprobar cómo el mismo se fue modificando a través del tiempo.
Este trabajo abarca el período 1880-1990 en los cuales -destaca Podgorny- se ponen de manifiesto dos diferentes modelos culturales de nación: el de la homogeneidad cultural y el crisol de razas, correspondiente a la etapa de la consolidación institucional del país (1880-1940) y el de nación pluricultural evidenciado en las políticas culturales instrumentadas desde la restauración democrática de 1983.
La propuesta de Podgorny consiste en analizar las representaciones acerca de los indígenas en la educación formal en la provincia de Buenos Aires con el fin de “comprender los usos de tales imágenes en la consolidación del sentimiento de pertenencia a la nación”.
Reconociendo su basamento metodológico en la “arqueología del saber” de Foucault (1969) en el cual “los discursos y saberes son definidos como ´monumentos ´ y analizados en su materialidad”, Podgorny señala que “los discursos que se originan y se usan en la vida cotidiana en la escuela pueden ser definidos como monumentos de una cultura contemporánea que contiene en sí elementos procedentes de las mentalidades y culturas del pasado, más allá de la voluntad de los participantes actuales de ese discurso, (…) tales restos pueden ser hallados también en el discurso de los científicos y, desde ese punto de vista, ambos tipos de discursos pueden ser equiparados” (pág. 4).
Esta “arqueología de la educación” argentina es reconstruida mediante análisis de contenido de documentos, entrevistas, observación participante, etnográfica y encuestas y se basa en tres tipos de evidencias: los contenidos curriculares, la realidad en el aula -a través del caso de estudio- y el análisis de los textos escolares, que permiten evaluar no sólo los contenidos sino también la articulación entre arqueología y educación a través del tiempo.
La obra se estructura en dos partes. En el capítulo primero de la primera parte, aborda la situación escolar contemporánea a través del análisis de las imágenes, los presupuestos y las categorías utilizadas en la presentación de los pueblos aborígenes de los programas de educación primaria y demás documentación oficial en la provincia de Buenos Aires entre 1975-86, período durante el cual se produce el paso de un modelo hacia el otro. En el capítulo segundo, se contrasta la reforma curricular impuesta desde el Estado con la realidad en el aula, tomando como caso de estudio escuelas de la zona sur del Gran Buenos Aires, en las cuales se efectuó el trabajo de campo entre 1987-1989. En el tercero, aborda los conceptos de historia y ciencias sociales que manejan los docentes entrevistados durante el trabajo de campo y en el cuarto, las representaciones de los pueblos indígenas y las ideas acerca de los indios que expresan los alumnos.
Al final de la primera parte, la autora marca las contradicciones existentes en el mundo escolar: “mientras que en los documentos y manuales se define a la argentina como un país pluricultural y plurilingüe, los contenidos y la lógica de la organización de los contenidos tienden a una presentación que entraña la exclusión de los pueblos indígenas” (pág. 100). Al tiempo que señala que las categorías que efectivamente se usan en la escuela primaria, presentan a los pueblos indígenas como entidades naturales desconectados tanto de su propia historia como de la historia nacional.
En la segunda parte del libro, Podgorny analiza la presentación de las sociedades indígenas en los textos utilizados en las escuelas bonaerenses entre 1880 a 1989, reconstruyendo la relación entre arqueología, discursos acerca de la nacionalidad y contenidos educativos a través del tiempo. Es allí donde se pone de manifiesto la segunda contradicción, ya que mientras el modelo de crisol de razas continuó vigente en gran parte del siglo XX, la fluida relación entre investigación arqueológica y educación que existía hasta 1925, comenzó a eclipsarse desde entonces hasta su total desconexión.
Las razones de esta crisis Podgorny las busca más allá del ámbito estrictamente educativo y se remite a la disputa entre arqueología e historia en ocupar un lugar de privilegio en el discurso intelectual -y político sobre los orígenes de la nacionalidad argentina. Por otro lado, esa desconexión fue agravada por “la relativa autonomía de las editoriales con respecto a la información que hacen circular” y a la reiteración año tras año de la misma información a través de un proceso que la autora califica de “autoplagio” de los manuales escolares (pág. 171). Finalmente, la realidad educativa aportó un elemento adicional: pese a la existencia en el mercado de manuales que responden al cambio de modelo curricular desde 1980, los viejos manuales seguían siendo usados en el aula para fines de esa década. Y lo que es aún peor se puede estimar que están todavía hoy en uso, tomando en consideración la conclusión a la que arriba la propia autora luego de relevar los textos escolares usados en las escuelas investigadas: “el desfasaje entre la fecha de publicación del libro y las del uso por un niño, oscila entre los tres y los treinta años” (pág. 163).
En conclusión, este trabajo tuvo en el momento de su producción y sigue teniendo aún una gran cuota de originalidad pues ilustra con datos de la realidad la distancia que media entre la información arqueológica que se maneja en los ámbitos universitarios y académicos y la contenida en los manuales de instrucción básica y, lo que es peor aún, las categorías que manejan docentes y alumnos sobre la arqueología y sobre los pueblos indígenas y su pasado. La lectura de las respuestas de los entrevistados es a la vez divertida y trágica, cuando se comprueba que los equívocos de los niños escasamente puedan ser aclarados por los docentes. Podgorny enfatiza que este trabajo “es una evidencia arqueológica de la situación de la enseñanza de la historia hacia fines de la década de 1980” y que no pretende que sea visto como el presupuesto de una realidad inmutable. Sin embargo, por más optimistas que seamos con los beneficios que hayan traído dieciséis años de democracia, el tiempo que requieren los cambios en educación permite suponer que no se esté demasiado lejos de la realidad actual en muchas aulas del país.
Reflexionar sobre esta cuestión, es también el punto de partida para un nuevo desafío para los arqueólogos en Argentina, cual es cómo presentar la arqueología al público de una manera más democrática y pluralista (ver Jameson 1997; también Stone y Molyneaux 1994; McManus 1996).
En este sentido, la elección de este trabajo para su publicación en la colección Tesis doctorales de la Sociedad Argentina de Antropología ha permitido la difusión de una investigación que no merecía permanecer inédita y que sin duda será de gran utilidad, no sólo para la reflexión de los propios arqueólogos, sino de todos aquellos que estén de algún modo involucrados con la presentación del pasado a través de la educación formal y no formal.
Referências
Díaz-Andreu, M. y T. Champion (eds.). 1996 Nationalism and Archaeology in Europe. UCL Press, Londres. [ Links ]
Foucault, M. 1969 La arqueología del saber. Siglo XXI, México. [ Links ]
Hobsbawm, E y T. Ranger (eds.). 1983. The Invention of Tradition. Cambridge University Press, Cambridge. [ Links ]
Hodder, I. 1986 Reading the past; current approaches to interpretation in archaeology. Cambridge University Press, Cambridge. [ Links ]
Jameson, J. (ed.). 1997 Presenting Archaeology to the Public. Diging for Truth. Altamira Press, Londres. [ Links ]
Kohl, P y C. Fawcett (eds.). 1995 Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology. Cambridge University Press. Cambridge. [ Links ]
MacKensie, R. y S. Stone (eds.). 1990 The Excluded Past. Archaeology in Education. Routledge, Londres. [ Links ]
McManus, P. (ed.) 1996 Archaeological Display and The Public. Museology and Interpretation. Institute of Archaeology, UCL, Londres. [ Links ]
Podgorny, I. 1999 El argentino despertar de las faunas y de las gentes prehistóricas. Coleccionistas, Museos y estudiosos en la Argentina entre 1880 y 1910. EUDEBA, Buenos Aires. [ Links ]
Stone, P. y B. Molyneaux (eds.). 1994 The Presented Past. Heritage, Museums and Education. Routledge, Londres. [ Links ]
María Luz Endere – INCUAPA – Departamento de Arqueología. Facultad de Ciencias Sociales. UNCPBA. Avenida Del Valle Nº 5737. B740JWI Olavarría. Buenos Aires. Correo electrónico: [email protected]
[IF]




