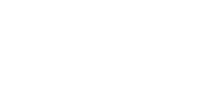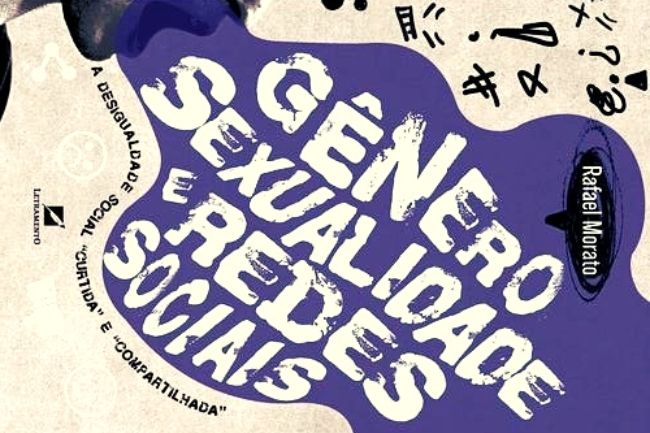Posts com a Tag ‘Gênero’
Gênero & Interdisciplinaridade | Luciana Rosar Fornazari Kanovicz
Luciana Rosar Fornazari Kanovicz | Imagem: Unicentro
A coletânea Gênero & Interdisciplinaridade organizada por Luciana R. F. Klanovicz (2020) inaugura a coleção “Desenvolvimento Comunitário e Interdisciplinaridade”. O livro reúne investigações e experiências de diversas/os pesquisadoras e pesquisadores brasileiras/os de variadas áreas do conhecimento que adotam perspectivas interdisciplinares a partir das quais a categoria gênero é discutida.
O volume está dividido em 16 capítulos, além de sua introdução, que assumem premissas teórico-metodológicas distintas e, ao mesmo tempo, imbricam-se, dialogando entre si e problematizando as relações de gênero em diversos campos ou segmentos da sociedade brasileira – no meio rural, nos espaços institucionalizados das universidades, em museus, no sistema prisional, no sistema de saúde e na mídia. Leia Mais
A Vulva é uma Ferida Aberta e Outros Ensaios | Gloria Anzaldúa
Gloria Anzaldúa | Imagem: American-Statesman
O ato de falar e de escrever é marcado por relações de poder e atravessado por modelos epistemológicos que tentam suprimir línguas e formas de existir (Conceição EVARISTO, 2021). Questiona-se: quem ousa falar tem o poder de se fazer ouvir? É da complexidade que envolve essa pergunta que sugerimos a leitura de Gloria Anzaldúa. A autora, ao produzir teorias sobre a sua existência nas fronteiras, dá cores e tons a sua linguagem insubmissa que desafiou os olhos do homem branco. A tradução do livro de Gloria Anzaldúa, A Vulva é uma Ferida Aberta e Outros Ensaios, foi lançada no Brasil em 2021, pela editora A Bolha.
O livro reúne seis ensaios e um poema produzidos em momentos distintos da sua carreira. Neles se encontra uma amálgama de discussões sobre as questões de mestiçagem, fronteira, raça, gênero, sexualidade, classe, saúde, espiritualidade, escrita e linguagem, que são questões centrais em sua obra. Cláudia de Lima Costa e Eliana Ávila (2021), tradutoras da obra de Gloria Anzaldúa no Brasil, assinam o prefácio do livro e destacam a importância da autora para o surgimento da discussão sobre diferenças – sexual, étnica e pós-colonial – no bojo feminismo norte-americano. Já o posfácio é um ensaio de AnaLouise Keanting (2021), professora na Texas Women’s University, em estudos de mulheres, e é a atual depositária do Gloria Anzaldúa Literary Trust. Nesse texto encontramos uma importante reflexão sobre as teorias mais recentes de Gloria Anzaldúa, pós-Borderlands/La Frontera, tornando a leitura de A Vulva é uma Ferida Aberta e Outros Ensaios ainda mais instigante. Leia Mais
A invenção das mulheres: construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero | Oyèrónke Oyewùmí
Oyèrónke Oyewùmí | Foto: Stine Boe/Por dentro da África
A invenção das mulheres: construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero, fruto da tese de doutorado da socióloga nigeriana Oyèrónkẹ Oyěwùmí, foi lançada originalmente em 1997, nos Estados Unidos, e teve sua primeira edição brasileira publicada no ano de 2021, pela editora Bazar do Tempo.
É logo no prefácio que Oyěwùmí antecipa à leitora aquilo que sua obra não é, a saber, um estudo sobre o que, no pensamento ocidental, se convencionou chamar a questão da mulher. Nos moldes daquilo que vem sendo proposto pelas abordagens do feminismo negro e decolonial, a autora problematiza as teorias feministas hegemônicas que preconizam a ideia de que as categorias de gênero seriam universais, totalizantes e atemporais. Ela argumenta que, no caso dos Oyó-iorubá, sociedade investigada em sua pesquisa, tais categorias não são autóctones, ou seja, não existiam antes do contato com o Ocidente, iniciado através da colonização inglesa na Iorubalândia. Leia Mais
Um feminismo decolonial | Françoise Vergès
Françoise Vergès (2020) | Imagem: Anthony Francin/Divulgação
Un féminisme décolonial, [Um Feminismo Decolonial], de Françoise Vergés, reivindica uma teoria multidimensional do movimento feminista: antirracista, antipatriarcal, anticolonial e anticapitalista. O livro também tece críticas ao movimento feminista civilizatório. Apresentado inicialmente por Flávia Rios, no texto ‘Por um feminismo radical’, traduzido por Jamille Pinheiro Dias e Raquel Camargo. A obra é construída por um prefácio à edição brasileira, da própria autora, uma introdução – “Invisíveis, elas “abrem a cidade” – e dois capítulos: “Definir um campo: o Feminismo Decolonial” e “A evolução para um feminismo civilizatório do século XXI”. O livro resulta dos estudos da autora sobre o pensamento feminista e a decolonialidade, publicado originariamente na França, em 2019, e lançado em português, no Brasil, pela Ubu Editora, em 2020.

Morrer para não sofrer: questões de gênero em Castro/PR (1890-1940) | Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski
Dulcelli Estacheski e Silvia Delong. As pesquisadoras participaram do Programa CBN Linha Aberta | Imagem: CBN Vale do Iguaçu
A obra Morrer para não sofrer, aborda uma temática por vezes silenciada em nossa sociedade, trata sobre o sofrimento que levou mulheres e homens a morte voluntária. Desse modo, sua relevância transpõe as fronteiras da História – área de produção – e pode servir de referência para Sociologia, Psicologia, Ciências Sociais, Filosofia e outras áreas correlatas. A pesquisa elaborada durante o doutorado no Programa de Pós-Graduação em História da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), nos anos de 2016-2019, vem conceituar a autora que está nos Estudos de Gênero há mais de uma década.
Usando inquéritos policiais de 1890-1940 sobre suicídio na cidade interiorana de Castro-PR, Dulceli discorre como padrões estereotipados de gênero foram influências importantes no sofrimento cotidiano e social dessas pessoas, que decidiram por cabo à suas vidas como forma de descanso emocional, físico e/ou psicológico. Decidida a tratar sobre mulheres, homens e casais, ela divide seu livro em quatro capítulos, sendo o primeiro destinado ao “tabu do suicídio”, o segundo à violência, feminilidade e a morte voluntária, o terceiro à apresentação dos homens e o suicídio e o quarto ao debate sobre os romances suicidas. Leia Mais
História oral, gênero e interseccionalidade | História Oral | 2022
Interseccionalidade, livro de Patricia H. Collins e Sirma Bilge (Detalhe de capa)
O tema deste dossiê evidencia um movimento acadêmico e político na elaboração de conhecimento, voltado à escuta de vozes dissonantes em uma sociedade hegemonicamente branca, sexista e cis heteronormativa. Esse posicionamento se insere no que poderíamos denominar de “uma virada epistêmica” (Veiga, 2020), um “giro decolonial” (Ballestrin, 2013), ou ainda um “giro afetivo” (Lara; Enciso, 2013), produto e produtor de mudanças analíticas implicadas e afetadas (no sentido de afeto e de afetação) por demandas sociais e identitárias e pela entrada de “sujeitos improváveis” em uma universidade historicamente distanciada do perfil da maioria da população brasileira. As políticas públicas de ação afirmativa favoreceram o acesso de negras/os, indígenas, população LGBTQIA+, filhas e filhos da classe trabalhadora, assim como de pessoas que vivem nas mais diversas margens deste país desigual, a um espaço muitas vezes visto como um lugar inalcançável para tais populações.
Essa circulação de sujeitas/os em instituições de ensino e pesquisa, antes deles distanciadas, assim como debates intelectuais posicionados advindos dos feminismos negros e indígenas e dos chamados estudos queer, têm possibilitado e ampliado questionamentos relativos às colonialidades de saber, de ser e de gênero que orientam a ciência e atuam no apagamento ou no silenciamento de classe, gênero e raça. Como afirmou María Lugones, para que se desconstruam as relações de poder que perpassam o conhecimento científico e as próprias lutas políticas, é preciso “viajar entre mundos”, ou seja, habitar mais de um território, reconhecer os (entre)lugares de fala (Ribeiro, 2017) e compreender as diferenças subjetivas, raciais, identitárias e sociais como problemas a serem enfrentados na elaboração do conhecimento, visibilizados e postos ao debate público. Leia Mais
Gênero, sexualidade e redes sociais: a desigualdade social “curtida” e “compartilhada” | Rafael Morato
Gênero, sexualidade e redes sociais | Detalhe de capa
O livro aqui resenhado foi publicado em 2019, mas as questões que ele nos traz fazem pensar que estamos séculos atrás. Como é possível ainda nos depararmos com o fato de que a nossa sociedade vive para criticar e aprovar a sexualidade e os comportamentos do outro? Estamos na chamada era digital, em que as redes sociais atuam com força e protagonismo nas interações humanas, cada curtida ou compartilhamento feito nesses meios digitais carrega consigo uma carga ideológica muito grande, julgando comportamentos e influenciando opiniões.
Nesse universo de possibilidades que a vida, o corpo humano e as relações sociais nos apresentam, há inúmeras formas de ser e de viver os gêneros e a sexualidade. No entanto, o que se percebe através de redes sociais como o Facebook, por exemplo, é que continuamos nos apegando a críticas pautadas na dualidade, que giram em torno de um modelo de homem e de mulher socialmente construídos, e de uma sexualidade baseada na heteronormatividade, invisibilizando – e muitas vezes condenando – outras formas possíveis de ser e de se relacionar emocional e sexualmente. Leia Mais
A invenção das mulheres: construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero | Oyèrónkẹ Oyěwùmí
A invenção das mulheres: construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero, fruto da tese de doutorado da socióloga nigeriana Oyèrónkẹ Oyěwùmí, foi lançada originalmente em 1997, nos Estados Unidos, e teve sua primeira edição brasileira publicada no ano de 2021, pela editora Bazar do Tempo. Leia Mais
Gênero & Interdisciplinaridade | Luciana Rosar Fornazari Klanovicz
A coletânea Gênero & Interdisciplinaridade organizada por Luciana R. F. Klanovicz (2020) inaugura a coleção “Desenvolvimento Comunitário e Interdisciplinaridade”. O livro reúne investigações e experiências de diversas/os pesquisadoras e pesquisadores brasileiras/os de variadas áreas do conhecimento que adotam perspectivas interdisciplinares a partir das quais a categoria gênero é discutida. Leia Mais
Slave Trade and Abolition: Gender/Commerce and Economic Transition in Luanda | Vanessa Oliveira
Slave Trade and Abolition, publicado em 2021, é a mais recente obra de Vanessa Oliveira. O livro analisa as estratégias adotadas pelos comerciantes sediados em Luanda face ao processo de transição do tráfico transatlântico de escravos para o comércio “lícito” de produtos tropicais. A obra presta particular atenção às interações sociais entre estrangeiros e a população local nas esferas do comércio, casamento e da exploração da mão de obra africana. Trata-se do estudo social e económico mais aprofundado e abrangente sobre Luanda no período do tráfico de escravos e após a abolição. No livro, a autora procura, com base na micro-história conectada à história global, desvendar as vivências cotidianas experimentadas pelos comerciantes de escravos em Luanda, sem perder de vista as conexões atlânticas dos seus residentes. Semelhante metodologia pode ser observada na obra Crosscultural Exchange in the Atlantic World, de Roquinaldo Ferreira, na qual o autor evidencia os fortes laços culturais e outros que interligavam Brasil e Angola na época do tráfico de escravos.1 Leia Mais
Gender and Diplomacy. Women and Men in European Embassies from the 15th to the 18th Century | Roberta Anderson, Laura Oliván Santaliestra e Suna Suner
1 En marzo de 2016 varios especialistas provenientes de diferentes casas de estudio de Europa y Rusia se reunieron en las instalaciones del Don Juan Archiv (Viena) para reflexionar en torno a la relación entre género y diplomacia entre los siglos XV y XVIII. El evento contó con la coordinación académica de Suna Suner, Laura Oliván Santaliestra y Reinhard Eisendle. El libro que reseñamos, publicado en 2021, recoge los trabajos presentados en el mencionado simposio. Se trata de una publicación de referencia que desarrolla una línea de investigación con notoria actualidad en el mundo académico: la historia diplomática de las mujeres. Leia Mais
Gender in World Perspective | Raewyn W. Connell
Em 2021, no primeiro semestre do segundo ano de uma devastadora pandemia, uma estudiosa veterana da área de estudos de gênero começa a ler a quarta edição de um livro paradidático da área. Escrito em linguagem direta e simples para pessoas jovens – universitárias, principalmente –, o livro bem serviria, a princípio, para uso em sala de aula em países anglófonos, ou nos diversos lugares do mundo que adotam o inglês como língua franca no ensino. E ela se pregunta sobre o valor concreto desse esforço para alunas e alunos do ensino superior no Brasil. Há inúmeros livros paradidáticos desse tipo disponíveis no mercado editorial mundial de língua inglesa, alguns mais gerais, outros mais específicos, e são todos excelentes recursos para docentes do ensino superior confrontados pelo desafio de sintetizar para seus discentes uma enorme quantidade de material relevante. O livro a que se refere esta resenha, contudo, destaca-se pela autoria: foi escrito pela renomada Raewyn Connell, grande figura não só no campo global dos estudos de gênero, como também da sociologia australiana. Leia Mais
Sex, skulls, and citizens: gender and racial science in Argentina (1860-1910) | Ashley Elizabeth Kerr
Todos nuestros huesos persisten al paso del tiempo. Son los últimos registros del archivo viviente que llamamos cuerpo. Frágiles e indestructibles, los restos óseos resisten archivados bajo tierra (o minan) nuestro vínculo con el pasado. Esto parece aún más evidente en una Argentina en la que los restos humanos se han transformado en poderosos agentes de las narrativas históricas. Quizás un ejemplo paradigmático de esto sean los restos de las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar, que, activados por los equipos de antropología forense y los organismos de derechos humanos, se transformaron en actores indiscutibles en los procesos por la verdad, la memoria y la justicia.
Sex, skulls and citizens aborda otros restos: aquellos que durante décadas permanecieron como botines de guerra en las vitrinas de los museos. Este libro se ocupa de aquellos cuerpos violentados por el proyecto expansionista del Estado argentino para indagar sobre los puntos de contacto entre ciencia, raza y sexualidad en la formación de la argentina moderna. Leia Mais
Racismo y sexualidad en la Cuba colonia. Intersecciones | Verena Stolcke
Verena Stolke | Canal Santiago Morcillo
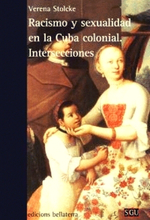
Como bem salienta a autora (César; Lassali; Stolcke, 2017), é interessante notar que o título da versão em castelhano é mais apropriado que em inglês. Isso porque afirma ela, dimensiona não apenas a intersecção dos temas abordados, como destaca os elementos centrais que organizavam a sociedade cubana na época colonial. Na disciplina, não lemos o livro todo, fruto de sua pesquisa de doutoramento em Oxford orientada por Pierre Rivière, mas as discussões foram importantes para compreender os motivos pelos quais a “heterodoxia” de Verena nos fornecia uma instigante e inovadora maneira de fazer e praticar pesquisa antropológica. O trabalho de campo por ela realizado se centrou em Arquivos Coloniais de Cuba e Espanha. É verdade, porém, que este não fora desde sempre o objetivo da investigação. Stolcke conta que tinha como objetivo estudar as mudanças na família depois da Revolução de 1959. Chegou a ficar alguns meses em Sierra Maestra – juntamente com sua filha e com seu marido que investigava os efeitos da reforma agrária implementada por Fidel Castro – realizando a pesquisa. Entretanto, politicamente havia um contexto delicado e a presença de europeus passou a não ser bem quista. Leia Mais
Gênero, neoconservadorismo e democracia: disputas e retrocessos na América Latina | Flávia Biroli, Juan Marco Vaggione e Maria das Dores Campos Machado
Na América Latina, a década de 2010 foi marcada pela queda do que se convencionou chamar de “onda vermelha”. Fosse por meio de golpes ou eleições, essas mudanças levaram à instabilidade política e ao acentuado crescimento do conservadorismo religioso e do neoliberalismo no continente latino-americano. O resultado mais visível da chegada desse segmento das direitas ao poder vem sendo demonstrado pelo desprezo às políticas de direitos humanos e aos acordos internacionais de garantia de direitos sexuais e reprodutivos. Dessa forma, para sua autoafirmação diante de outras frações do conservadorismo, tais movimentos transformam seus adversários políticos em inimigos, agindo de modo violento contra movimentos feministas e LGBTQI.
É partindo desses pontos que a obra “Gênero, neoconservadorismo e democracia: disputas e retrocessos na América Latina”, de Flávia Biroli, Maria das Dores Campos Machado e Juan Marco Vaggione, traz as seguintes questões: qual (is) é (são) a(s) novidade(s) desses atuais ataques à agenda da igualdade de gênero e da diversidade sexual? Como esses atores conservadores, sobretudo religiosos, incidem sobre as democracias da região? Quais as consequências do uso do gênero dentro das disputas políticas? E quais são os efeitos da polarização em um contexto de erosão das democracias? Leia Mais
Jinga de Angola: a rainha Guerreira da África | Linda M. Heywood
Cercada por mitos e controvérsias, a história da Rainha Jinga já inspirou livros, canções, filmes e movimentos sociais. No Brasil, trabalhos como de Selma Pantoja (2000) e de Mariana Bracks Fonseca (2018) ilustram a importância da rainha Jinga no contexto africano as representações dela ao longo do tempo. Atualmente, o livro “Jinga de Angola: a rainha guerreira da África”, escrito por Linda M. Heywood, é o mais recente e um dos mais completos estudos sobre a história da rainha africana que enfrentou disputas internas e externas para reconstruir o reino do Ndongo entre os séculos XVI e XVII.
A autora tem uma carreira consagrada ao estudo das sociedades na África Centro Ocidental (grosso modo atual Angola), tendo publicado monografias e organizado livros sobre o tema. Seus trabalhos versam sobre assuntos relacionados à política, cultura, poder e diáspora no contexto africano. Entre nós, a produção de Heywood é tímida, resumindo-se ao livro de organização “Diáspora Negra no Brasil” (2008), da editora Contexto, versão do livro Central Africans and Cultural Transformations in American Diaspora, mas composta apenas com artigos relacionados ao Brasil. Leia Mais
El revés de las vacaciones: hotelería, trabajo y género. Mar del Plata, segunda mitad del siglo XX | Débora Garazi
En las sociedades modernas, las vacaciones se conformaron como un tiempo de ocio para el descanso y el esparcimiento. En la Argentina, Mar del Plata, balneario ubicado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, devino un destacado centro de veraneo que, si bien tuvo un origen social elitista, vivió un proceso de democratización hasta llegar a convertirse, al promediar el siglo XX, en una capital del turismo de masas, cuya cara oculta fue un extenso mundo laboral. En El revés de las vacaciones, Débora Garazi estudia el trabajo hotelero, en la ciudad de Mar del Plata, durante la segunda mitad del siglo XX, preguntándose por las experiencias laborales de sus protagonistas.
Este libro, producto de una investigación doctoral financiada por el sistema científico público argentino, se escribe desde la historia social y los estudios de género. Su primer logro es estudiar el mundo del trabajo a través de los procesos laborales que incluyen tanto los espacios y los tiempos como las tareas y los saberes involucrados, así como también tres dimensiones muy particulares como son la económica, la temporal y la emocional; es decir, la autora elige un camino distante del universo sindical y las acciones colectivas, lo cual no significa que desestime ni a las organizaciones gremiales ni a las protestas. Su segundo logro radica en ahondar en las relaciones de género atendiendo tanto a la segregación ocupacional entre personas —mujeres y varones— como a los sentidos implícitos en las tareas. Leia Mais
Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro | Camillia Cowling
A edição brasileira do livro “Concebendo a Liberdade: mulheres de cor, gênero e abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro” da historiadora inglesa Camillia Cowling, professora de história da América Latina da Universidade de Warwick, foi lançada em 2018 pela editora da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. O livro é uma tradução do original intitulado Conceiving Freedom: Women of Color, Gender, and the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro, lançado em 2013 pela University of North Carolina Press e, desde 2010, partes da obra já vinham sendo divulgadas em publicações internacionais pela autora.
Cowling trouxe para o centro desta narrativa as histórias de vida (ou pelo menos parte das histórias) de duas mulheres libertas: Ramona Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes. Elas transcorrem por toda a obra, desde a introdução, quando a autora nos transporta para os respectivos dias em que estas mulheres, a primeira em Havana, a segunda no Rio de Janeiro, entraram com pedido de custódia de seus filhos nas instâncias judiciais máximas de cada uma destas cidades: Ramona no Gobierno General em Havana em busca de libertar seus quatro filhos María Fabiana, Agustina, Luis e María de las Nieves, e Josepha no tribunal local de primeira instância e depois no Tribunal de Relação no Rio de Janeiro, um tribunal de apelação, em busca de liberta sua filha Maria. Ramona teve que enfrentar “um dia escaldante do verão caribenho de 1883” e Josepha, diferentemente da cubana, “provavelmente sentiu arrepios de frio […] enquanto caminhava pelas ruas da cidade [do Rio de Janeiro]”, em agosto de 1884, quando é inverno na cidade. (COWLING, 2018, p. 23) Leia Mais
História das mulheres e gênero em suas diversas abordagens | História em Revista | 2021
As pesquisas voltadas para os mais diversos âmbitos relacionados à História das mulheres e aos Estudos de Gênero têm se ampliado desde meados do século passado, e, no tempo presente, consolidam esses campos de estudos como importantes áreas de produções acadêmicas. Trabalhos realizados, tanto nas esferas da graduação quanto da pós-graduação, refletem a dinâmica das investigações realizadas e, significativamente, têm contribuído para o fortalecimento dessas temáticas sensíveis. Tendo em vista suas diversas abordagens, permeadas por diferentes fontes, bibliografias, discussões teóricas e metodológicas, essas pesquisas são capazes de conduzir estudiosas e estudiosos desses assuntos a uma gama de novos conhecimentos históricos e epistemológicos.
As autoras e os autores que colaboram com seus artigos para a composição do dossiê, abordam discussões a respeito de sexualidades, construções culturais, preconceitos, desigualdades de gênero, violências, entre outros elementos, de forma que, com seus diferentes diálogos, problematizam os temas, oferecendo reflexões atualizadas e enriquecedoras. Leia Mais
História & outras eróticas | Marcos Antonio de Menezes, Martha S. Santos e Robson Pereira da Silva
Orestes perseguido por las Furias, de William-Adolphe Bouguereau (1862) | Domínio público |
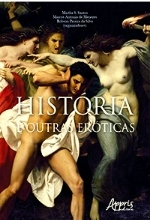
Um novo tempo há de vencer
Pra que a gente possa florescer
E, baby, amar, amar, sem temer
Eles não vão vencer
– Johnny Hooker
Apesar dos constates ataques que a educação e a ciência têm sofrido no Brasil, principalmente nos últimos anos, por conta da gestão genocida empreendida por Jair Bolsonaro bem como por todos os outros ignóbeis que se somam a ele, ainda assim é possível notar uma resistência por parte daqueles que não aceitam abaixar a guarda e continuam firmes na produção de um conhecimento que busca reflexões contínuas da sociedade atual e da pluralidade de indivíduos nela inseridos.
Desse desejo de resistir é que nasceu História e outras eróticas (2020), organizado por Martha S. Santos, Marcos Antonio de Menezes e Robson Pereira da Silva. A obra mostra a que veio logo em suas primeiras páginas, ao dar as boas-vindas aos leitores com uma citação do sociólogo inglês Anthony Giddens que, dentre outros assuntos, investiga as transformações contemporâneas e seus reflexos nas relações amorosas e eróticas, e também com um trecho do single God Control (2019), de Madonna, que em sua música faz um manifesto contra o porte de armas nos Estados Unidos e relembra no clipe da canção o massacre [2] ocorrido em uma boate LGBT, no mesmo país.
A coletânea de textos que se seguem é inaugurada por Tamsin Spargo, que no primeiro capítulo do livro tece considerações abarcando sexo, gênero e sexualidade, partindo principalmente dessas temáticas para promover reflexões que vão desde o tratamento misógino que observou em ambientes de trabalho dos quais fez parte até a maneira como a pornografia colabora para as representações sexualizadas de corpos hiperbólicos. Em seu texto, Spargo dialoga em grande medida com o filósofo Michel Foucault, umas das maiores referências no que diz respeito as temáticas de sexualidade e educação, bem como a relação destes com o poder. Ademais, a autora ainda relembra a publicação de seu ensaio Foucault e a teoria queer (1999), onde ela explora o modo como o pensamento do filósofo teria refletido na construção e entendimento da referida teoria.
Na sequência, Luisa Consuelo Soler Lizarazo reflete sobre as fronteiras sexuais que ainda perduram paralelamente a diversidade de gênero, sobretudo àquelas observadas em sociedades transculturais, ao mesmo tempo em que problematiza a ordem moral que continuamente busca impor um modelo de família funcional apenas à sistemas patriarcais e capitalistas. A autora faz um levantamento de como as questões relacionadas ao assunto foram observadas ao longo dos séculos e evidencia a importância do direito de se exercer a possibilidade de escolha de cada sujeito.
Ao longo do tempo tem-se observando a História e a ficção protagonizando discussões acaloradas que resultaram em mudanças e reestruturações no fazer historiográfico. Seguindo nessa linha de raciocínio, Peterson José de Oliveira constrói seu texto a partir da relação dos historiadores com a verdade e a ficção e traz para o leitor a novela, um gênero um tanto quanto subestimado e ainda pouco estudado. Para suas análises, Oliveira concentra seu trabalho principalmente a partir do uso da montagem e da polifonia, duas formas narrativas essenciais para a construção de O mezz da gripe (1998) de Valêncio Xavier que, por meio maneira de sua narrativa, mescla ficção e realidade e, por conseguinte, reflete sobre os efeitos de verdade presentes na novela.
No capítulo seguinte a autora Lúcia R. V. Romano promove reflexões importantes a respeito das intersecções entre as artes cênicas e o feminismo, elucidando a importância da história para a construção de um diálogo entre os dois campos e pontuando a colaboração cada vez mais notável da historiografia para os estudos feministas. Em seu texto, Romano deixa claro que muitas são as questões atuais envolvendo a história, o teatro e o pensamento feminista e abre espaço para se pensar o artivismo feminista, com ênfase no Madeirite Rosa, um coletivo teatral paulistano.
Outra linguagem artística colocada em pauta ao longo da obra História e outras eróticas (2020) é o cinema, abordado no texto de Grace Campos Costa e Lays da Cruz Capelozi, que trazem para os leitores um debate precioso sobre a representação feminina a partir da filmografia de Catherine Breillat. Em um texto bastante didático e rico em imagens, as autoras apresentam uma discussão que vai de encontro a um tabu ainda muito atual: o prazer feminino. Como objeto de estudo é analisado o filme Romance X (1999) e ao longo do texto, além de conhecer um pouco mais sobre o cinema de Breillat também é possível compreender a forma como ela se posiciona antagonicamente aos estereótipos que ainda são observados no que diz respeito ao desejo feminino em representações cinematográficas.
No capítulo seguinte, Ana Lorym Soares faz um interessante paralelo entre a realidade a qual temos vivido e a distopia, lançando seu olhar para o romance O conto da Aia (1939), de Margaret Atwood. A autora explica que em outras obras de distopia o que se observa é um padrão onde os personagens principais são, na grande maioria das vezes, homens, de modo que no romance estudado, Margaret Atwood inova ao trazer uma mulher como personagem central da obra, fugindo dos padrões observado neste gênero da literatura. Desse modo, além de importantes reflexões a respeito da escrita feminina de Atwood, direito das mulheres e seus corpos enquanto campo de poder, Ana Lorym Soares ainda deixa evidente a importância de um olhar atento a realidade, a fim de que as distopias permaneçam no campo de conhecimento da ficção.
Também no campo da literatura, Marcos Antonio de Menezes, constrói seu texto a partir de romances e poesias, sendo que nas páginas que se seguem os leitores serão levados a refletir sobre a(s) representações do(s) feminino(s) na obra de Charles Baudelaire, levando em consideração questões postas em pauta pelo movimento feminista atualmente. Indo contra a grande maioria das produções literárias do século XIX, tecidas a partir da ótica masculina e burguesa, os leitores poderão conhecer um pouco mais sobre a estética, a recepção e as temáticas abordadas nos enredos de grandes obras, como As flores do mal (1857), de Baudeleire e Madamy Bovary (1856), de Gustave Flaubert.
No capítulo seguinte, Robson Pereira da Silva, apresenta-nos ao subversivo Hélio Oiticia, um dos artistas mais completos e importantes da arte brasileira. No texto é apresentada e discutida a antiarte e a arte de subversão de Oiticica nos anos de 1960 e 1970, onde através da performance o mesmo combatia todo e qualquer autoritarismo institucionalizado. O texto é essencial para compreender as configurações do corpo como objeto inventivo bem como do uso da contraviolência de Hélio Oiticica, que se valia da arte para combater a repressão vivida no contexto da ditadura militar no Brasil. O trabalho de ativistas/artivistas negros queer no estado da Bahia é preconizado por meio do texto de Tanya Saunders, que a partir do seu estudo relacionado a discussões de gênero, raça e sexualidade debate de que maneira se tem observado a construção crescente do “não humano”. No capítulo, o retrocesso vivido atualmente no Brasil é colocado em xeque e debatido através da ótica da colonialidade, do afrofuturismo e da necropolítica, que de maneira cada vez mais pungente e perigosa busca ditar quem têm ou não importância em sociedade.
No capítulo seguinte, Martha S. Santos toca com coragem em uma ferida ainda aberta, especialmente, ao problematizar a importância da compreensão da instituição da escravidão no Brasil a fim de que se entenda de uma vez por todas os reflexos desta para a criação e manutenção de privilégios desfrutados por determinadas classes sociais em nosso país. Em seu texto, a autora busca fazer um rápido balanço historiográfico dos estudos ligados a escravidão nas últimas quatro décadas no Brasil além de apresentar seus estudos, concentrados no interior do Ceará, e dialogar intrinsicamente com os estudos de gênero ao refletir sobre a maneira pela qual mulheres e crianças aparecem inseridas no processo da escravidão.
Com um olhar voltado também para a escravidão, Murilo Borges da Silva dialoga com o texto anterior ao abordar os relatos de viajantes no estado de Goiás, bem como as contribuições destes para a produção de corpos femininos negros e representações do feminino muitas vezes equivocadas.
Em seu texto, Silva trabalha com os relatos de Saint-Hilaire (1975) e Johann Emanuel Pohl (1976) para verificar como as mulheres negras aparecem nestes relatos, através dos quais nota-se que há uma tentativa de silenciamento por parte dos viajantes em questão, que não raras vezes, faziam de seus escritos um lugar seletivo, tornando visível determinados fatos e invisíveis outros, da maneira como lhes era favorável e de acordo com aquilo que consideravam necessário.
Logo em seguida os leitores são postos frente a questões direcionadas principalmente aqueles que se dedicam a produção de conhecimento, pois Fábio Henrique Lopes lança um problema grave que diz respeito a maneira como muitas vezes utilizam-se de pessoas transsexuais e de outras identidades de gênero apenas como objetos de estudo. Partindo dessa colocação, o autor torna possível um olhar mais atento ao lugar de fala que cabe a nós, pesquisadores. Aqui, fica claro que é necessário que haja um repensar do fazer historiográfico e epistemológico de modo a não ferir o outro e deixa a todos uma breve, mas, importante advertência: “incluir, excluindo é fácil […]” (LOPES, 2020, p. 276).
O próximo capítulo é um nó na garganta, daqueles que a cada palavra lida cresce um pouco mais, pois logo de cara, Miguel Rodrigues de Sousa Neto e Diego Aparecido Cafola lançam alguns fatos que não podem serem ignorados: a heterossexualidade e a cisgeneridade compulsória tem acarretado na invisibilização e precarização da existência da população LGBTQI+ e, consequentemente, na sua eliminação física. Os autores afirmam que o conhecimento produzido na academia não tem ultrapassado seus muros e que os reflexos dos discursos construídos em cima de conservadorismos podem ser notados cada vez mais através da violência com que a população LGBTQI+ tem sido alvo constante. Em um texto tocante, os autores colocam em xeque a noção atual de humanidade e questionam o processo de exclusão de grupos marcados pela diferença, ou melhor, que as maiorias silenciadas têm sofrido.
No texto que se segue as problemáticas levantadas dialogam com estas do texto anterior, porém, são levadas para o espaço escolar ao demonstrar como a escola tem atuando como agente da normatividade. Neste capítulo, Aguinaldo Rodrigues Gomes problematiza a hierarquização e o silenciamento de corpos dissidentes por meio do discurso falacioso da “ideologia de gênero” difundida, inclusive, como uma das principais bandeiras levantadas e defendidas durante a eleição de Jair Bolsonaro. O autor reitera os ataques aos quais a educação tem sofrido no campo dos estudos de gênero e da educação sexual, além de expor o cerceamento de professores, aos quais os conservadores e reacionários tentam colocar em uma redoma cujas grades é a ignorância e o preconceito.
Por fim, o último capítulo traz aos leitores uma “greve selvagem” que resultou na derrota do capitalismo em uma luta protagonizada por estudantes e trabalhadores. Em seu texto, João Alberto da Costa Pinto aborda a Revolução do Maio de 1968, a mais importante revolução anticapitalista do século XX. Sua análise parte da trajetória política e teórica de Raoul Vaneigem e se expande para outros militantes que fizeram parte do movimento que ficou conhecido como Internacional Situacionista (IS). De forma clara, Pinto explana o que levou dez milhões de trabalhadores e estudantes a frearem o capitalismo na França de forma totalmente espontânea e auto-organizada.
Dessa feita, levando em consideração o cenário hostil em que a produção de conhecimento científico se encontra em discrédito, como política de governo, bem como os ataques que as populações negras, índigenas, de mulheres e LGBTQI+, sobretudo àqueles sujeitos e sujeitas marcadas pela pobreza e precariedade da vida e do mundo do trabalho tem sofrido cotidianamente com as políticas de morte e indiferença, conclui-se que a coletânea de textos reunida em História e outras eróticas (2020) além de sinônimo de resistência é também um contributo a produção intelectual que se preocupa em pensar, refletir e problematizar os campos de estudo da política, raça, femininos e performatividades de gênero. Nas páginas desta obra, os leitores irão encontrar questionamentos relevantes acerca de temas atuais e necessários, fazendo com que a obra se configure como um alento a defesa dos direitos humanos, revestido de esperança, força e coragem para continuar na luta por igualdade.
Nota
2. O massacre na boate “Pulse” aconteceu em Orlando, no dia 12 de junho de 2016. Na data, Omar Mateen abriu fogo dentro do local e assassinou quarenta e nove pessoas e deixou cinquenta e três gravemente feridas.
LOPES, Fábio Henrique. Efeitos de uma experimentação político-Historiográfica com travestis da primeira geração. Rio de janeiro. In: MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020.
MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020.
Natália Peres Carvalho – Graduada em História pela Universidade Federal de Goiás e mestranda no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da Universidade Federal de Goiás. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9841094387536865. E-mail: [email protected].
MENEZES, Marcos Antonio de; SANTOS, Martha S.; SILVA, Robson Pereira da (org.). História & outras eróticas. Curitiba: Appris, 2020. Resenha de: CARVALHO, Natália Peres. História & outras eróticas (2020) – Uma obra urgente e necessária. Albuquerque. Campo Grande, v.13, n.25, p.184-188, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF].
História & Outras Eróticas | Martha S. SAntos e Marcos Antonio Menezes
O que pode um corpo sem juízo? Quando saber que um corpo abjeto se torna um corpo objeto e vice-versa? Não somos definidos pela natureza assim que nascemos Mas pela cultura que criamos e somos criados
Sexualidade e gênero são campos abertos
De nossas personalidades e preenchemos
Conforme absorvemos elementos do mundo ao redor
Nos tornamos mulheres – ou homens,
Não nascemos nada
Talvez nem humanos nascemos
Sob a cultura, a ação do tempo, do espaço, história
Geografia, psicologia, antropologia, nos tornamos algo
Homens, mulheres, transgêneros, cisgêneros, heterossexuais
Homossexuais, bissexuais, e o que mais quisermos
Pudermos ou nos dispusermos a ser
O que pode o seu corpo?
Jup do Bairro.
História & Outras Eróticas, organizado por Martha S. Santos, Marcos Antonio Menezes e Robson Pereira da Silva, é fruto de um esforço científico coletivo que extrapola a materialidade dos textos que compõe a obra. O troca-troca cultural entre arte e agenda política (MEIHY, 2020, p. 13) que nos chega, tem origem na realização do VI Congresso Internacional de História da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Desta feita, os louros pela excelência são creditados aos/às autores/as e estendem-se aos discentes e docentes do Curso de Licenciatura em História da referida universidade, bem como, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) pelo investimento na produção científica brasileira. Leia Mais
Mulheres por dentro e por fora de África: caminhos e possibilidades no debate de gênero | AbeÁfrica | 2021
A ideia que esteve na origem do dossiê que aqui apresentamos foi gestada a partir de uma mesa coordenada por uma das coorganizadoras deste volume, Andréa Lobo, do título “Mulheres africanas vistas por mulheres brasileiras”, tendo integrado algumas das contribuidoras4. A proposta da mesa foi a de reunir e confrontar experiências empíricas de estudiosas brasileiras e africanas, no continente africano, tendo como foco principal destacar os processos de produção e reprodução social efetivado por mulheres no cotidiano de suas sociedades, bem como refletir sobre a produção de conhecimento de mulheres (e homens) africanos/as sobre suas próprias dinâmicas sociais. Nesse sentido, o nosso objetivo foi o de debater sobre o “feminino”5 a partir das perspectivas das mulheres, tanto no ambiente doméstico quanto no espaço público e comunitário. Foi possível vislumbrar, a partir das discussões, a forma como se configuram as relações sociais e de poder a partir de dinâmicas de gênero em contextos específicos africanos, ressaltando dimensões importantes como a da emancipação, a da autoconsciência e a da capacidade de agenciamento das mulheres africanas.
Cabe salientar que as percepções e abordagens trazidas por essa mesa permitiram aprofundar a compreensão não apenas da complexidade que caracteriza o campo dos estudos africanos e de gênero, que envolvem vidas, cotidianos e o imaginário de mulheres e homens africanas/os, pelo olhar delxs própri@s e/ou de outr@s. A partir de uma perspectiva comparada, foi-nos possível estabelecer algumas conexões interessantes bem como vislumbrar possibilidades de agendas comuns e experiências partilhadas: questões como a construção da autonomia no espaço público, a luta antirracista e a participação histórica das mulheres nas construções dos estados africanos independentes, tendo em conta as narrativas das mulheres e suas experiências e trajetórias, nos demonstraram que existem diálogos possíveis e utopias que poderão se transformar em realidades, ainda que precisemos aprofundar amplamente nossos conhecimentos sobre as tantas histórias das mulheres e suas vivências, a partir de suas próprias vozes. Leia Mais
Fortineras, mujeres en las fronteras. Ejércitos, guerras y género en el siglo XIX | María Cristina Ockier
El presente libro recupera los resultados obtenidos en la tesis de maestría en género de Ockier. La autora se ha dedicado a la historia del alto valle del Río Negro, particularmente al período correspondiente a la “Conquista del desierto”, y en este trabajo continuó en esa línea de estudio en clave de género. En las últimas décadas los estudios en perspectiva de género se han incrementado y en gran medida se debe al esfuerzo de los movimientos feministas. Empero, los trabajos previos que refieren a las fortineras, las mujeres de las que se ocupa Ockier, se han limitado a un carácter sobre todo descriptivo, que sin duda han contribuido en el rastreo y conocimiento de las mismas al momento de elaborar el estudio más reflexivo y analítico que aquí se reseña. Ockier no solo va a dar cuenta de las actividades que realizaban dichas mujeres en los campamentos, sino que además devela el entramado de jerarquías y poderes en las relaciones sociales que se construyeron en base al patriarcado. Y en relación a ello observó cómo las mujeres resultaron desplazadas de las tareas socialmente consideradas de mayor relevancia, entre ellas la actividad militar.
El libro se estructura en tres partes. En la primera, que consta de dos capítulos, la autora se pregunta: “¿Dónde radica la particularidad del quehacer militar? En los fortísimos significados y representaciones de género que lo atraviesan” (p. 5). De este modo, pretende desmentir la idea biologicista de que las mujeres son incapaces de ejercer violencia. Concepto que ha conllevado a representar a las mujeres guerreras – Juana de Arco, las amazonas, Boadicea, entre otras– como figuras excepcionales, personajes románticos, no naturales. La autora realizó un recorrido histórico e historiográfico sobre diversos estudios que han analizado el papel de las mujeres en la guerra en diferentes contextos. Primeramente, lo hizo a una escala internacional e incluyó no solo relatos de mujeres occidentales, sino también orientales, para luego acercarse a los estudios latinoamericanos que han recuperado las voces de las mujeres que intervinieron en diferentes batallas, entre ellas: las amazonas, las paceñas, las cochabambinas que participaron en las Guerras de Independencia, las matriarcas, andarilhas y vivandeiras del Brasil que estuvieron en la Guerra del Paraguay, y las adelitas de la Revolución Mexicana. Asimismo, menciona a mujeres individuales, como Machaca Güemes, Juana Moro, Javiera Carrera y muchas más… Todas fueron enmarcadas bajo dos estereotipos o representaciones: de víctima o de bravura. El androcentrismo ha conllevado a crear esas imágenes dado que no es “natural” que una mujer tome las armas o ejerza la violencia. Leia Mais
Michael Young, Social Science & The British Left, 1945-1970 / Lise Butler
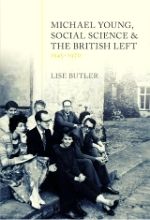
Lésbicas e Professoras. O Gênero na Docência | Patrícia Daniela Maciel
Um livro traz reflexão e novas compreensões sobre uma temática. Diante da necessidade de dar voz e visibilidade para a questão da lesbianidade na escola, Patricia Maciel escreveu o livro intitulado como “Lésbicas e Professoras. O Gênero na Docência” por ora resenhado.
A 1ª edição foi lançada em Curitiba, no ano de 2017 pela editora Appris. Suas 197 páginas destacam as questões que fogem a norma com o intuito de compreender as relações dos sistemas discursivos hegemônicos dentro da escola. O interesse da autora é romper com sistemas de controle e de assujeitamento dos corpos diante das questões que envolvem a sexualidade, assim, têm como ponto de análise as falas do ser docente lésbico e como rompem com o discurso heteronormativo em sua vida pessoal e profissional, e como confrontam e avaliam essas experiências em torno dos padrões de gênero ao longo da sua carreira profissional.
A forma de subjetivação e de enfrentamento dos padrões patriarcais na atuação profissional das lésbicas é o foco central do livro. Nesse aspecto, os cinco capítulos discorrem sobre atitudes de resistência contra os processos de subordinação heteronormativos e para embasamento, é utilizado Tereza de Lauretis, Judith Butler, Monique Wittig e Margareth Rago visando refletir sobre a representação social do corpo feminino lésbico no ambiente escolar e sua multiplicidade de atuação contra a heteronormatividade.
Para delimitar o objeto da pesquisa, a autora realizou a busca por docentes que se encaixavam no perfil da temática via email por um período de duas semanas. Nove docentes demonstram interesse em participar, contudo, a investigação ocorreu somente com sete que aceitaram realizar as entrevistas. Assim, o ponto inicial do livro visa a autocompreensão subjetiva das docentes lésbicas em torno da relação da escola e gênero. Para isso, destaca a multiplicidade de definições acerca da diversidade e o autorreconhecimento da sexualidade que foi encontrado, entendendo que, ser docente e lésbica não homogeneíza a visão das entrevistadas. Ao conceituar os resultados concomitante as ideias de Jorge Larossa, a autora do texto ora resenhado, discorre que a prática de conhecimento é uma condição de ascese para a experiência de existência.
Como resultado, é destacado três grupos de análise: O primeiro, as docentes podiam falar de si como lésbicas nas escolas. O segundo tem como foco a evidencia das lutas e os enfrentamentos contra os processos de condutas patriarcais no ambiente escolar e a valorização de suas experiências como lésbicas. Por fim, o último grupo de análise destaca como docentes reconstroem a feminilidade fora do padrão heteronormativo no ambiente escolar.
Para reconhecer a heterogeneidade das entrevistadas, a pesquisadora destaca no primeiro capítulo o perfil de cada através da autodescrição. O segundo capítulo descreve o efeito dos discursos de gênero na construção docente. Vale ressaltar que a autora ao se basear nos estudos de Michel Foucault, Judith Butler, Tereza de Lauretis, Linda Nickolson, Paul Beatriz Preciado e Guacira Lopes Louro, os conceitos de sexo/gênero utilizados ultrapassam os conceitos binários e tem como ideia central o dispositivo da sexualidade para descrever os discursos, enfatizando assim, as singularidades dos relatos e experiências sobre gênero de cada docente lésbica.
Tendo como referência as ideias de Foucault, o livro destaca o entendimento sobre o sexo como um poder que ganha legitimidade pela linguagem e práticas e leva o indivíduo a pensar de acordo com determinados domínios do saber. Entender o sexo/gênero como uma tecnologia discursiva que controla o campo das significações sociais e que produzem no sujeito algumas significações é destacado no decorrer da obra a ideia que, a partir das tecnologias dos discursos, se forma uma ideia do “eu” que se conhece e se controla através da sexualidade.
Cabe salientar que a autora respaldada em Louro (2008), descreve a forma que as professoras falam de si mesmas como uma forma de atravessar limites e fazer seu próprio obstáculo para penetrá-los, superá-los e transpô-los e assim, pensar fora da lógica imposta e viverem a sexualidade. Nesse aspecto, incita uma reflexão sobre a instabilidade profissional e pessoal causada pela escola por utilizar a heterossexualidade compulsória como normalizador das condutas sociais do ambiente escolar que reprime as professoras lésbicas para exercerem sua profissão.
Outra singularidade observada é sobre o significado que a escola atribui ao gênero e a forma que influi na relação das professoras com seus alunos. O tom e o sentido que as entrevistadas dão às suas trajetórias como professoras interferem no seu reconhecimento como lésbica. Mesmo que as entrevistadas não falem de forma explicita na escola sobre sua sexualidade elas garantem através do enfrentamento das normas sexistas, a defesa dos alunos gays e das alunas lésbicas, mas isto não garante que a escola fale de forma aberta sobre gênero.
Através dos relatos das professoras é notório que a hegemonia patriarcal no ambiente escolar ainda vigora de forma impositiva e normalizadora. Fugir à regra hegemônica é resistência, desafiar as regras de controle dos corpos é dar voz aos sujeitos em formação que são inferiorizados e marginalizados pelas estruturas sexistas dominantes tão enraizadas e que podem acarretar em danos irreversíveis na vida dos estudantes LGBTQIA+.
Nesse sentido, o cap. 3 descreve sobre os efeitos das experiências de si e do ser docente dentro da perspectiva da multiplicidade do discurso de gênero que dá forma ao sujeito. É destacado que as professoras pesquisadas ressignificam a docência e produzem uma ética de si para ser usada no campo educativo, assim, a forma que conduzem suas experiências como mulheres e a forma que vivem a sua sexualidade são vista como um ascese, uma episteme para pensar a partir da singularização e no modo como elas se relacionam com o mundo e com os seus alunos. Através dessas experiências elas tentaram introduzir novos espaços e novos modos de mudanças na cultura e na sociedade.
O penúltimo capítulo descreve sobre a produção dos femininos na escola mediante os discursos performativos e como as entrevistadas se auto afirmam individualmente como mulheres, professoras e lésbicas. A reflexão baseia-se nas relações de poder em torno dos discursos entre o ideal de mulher e os discursos flexibilizadores das suas escolhas.
Ao descrever como são produzidos os femininos e corrobar com os estudos de Hall (2000), o livro mostra que as identidades não são iguais, nem mesmo em meio a uma cultura histórica do povo. Assim, ao mostrar como se produz os femininos nas falas das professoras, a autora destacou os processos políticos universais que visam construir os discursos com o intuito de criar as desigualdades. Dessa forma, é observado nas entrevistas como funcionam os discursos de gênero e como estes constroem a si por meio da diferença. As falas das docentes demonstram que muitas vezes as estruturas de poder não dão às professoras lésbicas um essencialismo identitário aceitável, pois estas estruturas estão sempre em alerta em relação ao gênero da mulher e o que é visto como aceitável em relação à prática da feminilidade no mundo heteronormativo, mas mesmo diante de tantos obstáculos, elas assumiram uma forma de desconstruir os discursos binários baseados na lesbianidade.
Cabe salientar que apesar das professoras problematizarem sobre gênero na escola a partir das suas experiências como seres engendrados, algumas apresentaram receio e insegurança no tratamento dos alunos na escola. Um exemplo é o discurso da professora Ana que relata a mudança no seu jeito de tratar os alunos da educação infantil dos alunos dos anos iniciais e fundamental por receio de ser mal interpretada, ou seja, ela deixa que o padrão heteronormativo influencie na sua relação interpessoal onde a homossexualidade não é aceita, pois a escola nega tais relações como um de seus rígidos referentes culturais. “Em relação a isso, posso afirmar que: 1) os alunos têm dificuldades para significar as estéticas, os comportamentos e as posturas das professoras pesquisadas; 2) a escola não lhes proporciona condições para que eles possam pensar em outros tipos de feminilidades” (p. 178).
No último capítulo a autora termina suas considerações sobre a pesquisa destacando o redimensionamento da sua experiência como pesquisadora que as narrativas das docentes lhe oportunizaram. Ao relembrar como as professoras são envoltas diariamente por relações de poder através do dispositivo de gênero e como elas precisam interpretar, negar, afirmar e transformar esses discursos em sua vida para continuar sua vida pessoal por serem corpos sociais, é o ponto de destaque do livro e que norteia toda a reflexão do livro.
Ao realizar a leitura, percebi que caminhar para um processo de normalização do gênero nas escolas é uma busca que ainda necessita de longos caminhos, principalmente nas escolas públicas onde os sujeitos são invisibilizados e envoltos por questões políticas e de controle tradicional dos corpos. Mas a potência dos discursos das professoras tem dado voz para a desconstrução dos padrões sexistas que envolve o ambiente de atuação profissional.
Através da utilização de seus corpos como impulso para subverter a ordem binária instituída no ambiente escolar, as docentes lésbicas veem em seu trabalho uma forma de reestruturar as percepções sociais, mesmo sendo muitas vezes oprimidas pela heteronormatividade. Desta forma é notória a emergência no apoio e multiplicação das lutas contra determinismos falocêntricos para um maior reconhecimento dos sujeitos LGBTQIA+, bem como a necessidade de pesquisas que envolvam a temática da lesbianidade no ambiente escolar, pois desta forma, conseguiremos voz e um novo olhar para debates sobre gênero e sexualidade que ainda é invisibilizados e vista como um tabu científico no meio social, mas principalmente, nas escolas.
Mayana Morbeck Coelho – Pedagoga. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade – PPFREC/UESB/Jequié. https://orcid.org/0000-0003-2720-5930 Email: [email protected]. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
MACIEL, Patricia Daniela. Lésbicas e Professoras. O Gênero na Docência. Ed. Appris. 2018, p. 197. Resenha de: COELHO, Mayana Morbeck. Subvertendo padrões de gênero na docência. Abatirá. Eunápolis, v.1, n.2, p.150-154, jul./dez., 2020. Acessar publicação original [IF]
Corpos em Aliança: Diálogos Interdisciplinares sobre gênero, raça e sexualidade | Ana Claudia Martins e Elias Ferreira Veras
Nas últimas décadas, temos testemunhados constantes transformações sociais, históricas, políticas e culturais, que abalaram as estruturas cishetonormativas dos antigos padrões de gênero, raça e sexualidade. As lutas feministas, as conquistas LGBTQIA+, os movimentos trabalhistas e a descolonização dos países africanos, por exemplo, que perpassaram o século passado, desdobrando-se até os dias atuais, culminam em novas formas contemporâneas de fazer política e ciência.
A obra Corpos em Aliança: Diálogos Interdisciplinares sobre gênero, raça e sexualidade, organizada por Elias Ferreira Veras e Ana Claudia Aymoré Martins, professor/a da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), aparece nesse contexto teórico-metodológico-político de transformações, sendo oriundo dos debates realizados durante o II Colóquio diálogos interdisciplinares sobre gênero, raça e sexualidade: corpos em aliança, organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Gênero e Sexualidade (GEPHGS/CNPq), do Curso de História da UFAL – com apoio do CNPq -, em Maceió (AL), no mês de maio de 2019. Leia Mais
Queer in the Tropics: Gender and Sexuality in the Global South | Pedro Paulo Gomes Pereira
Queer in the Tropics: Gender and Sexuality in the Global South, de Pedro Paulo Gomes Pereira, é apresentado pelo autor como um livro-experiência. São vidas e teorias que tecem trajetórias e(m) afetos. Pedro Paulo vai incorporando seus encontros com experiências-outras, e aqui o uso do gerúndio se faz necessário, posto que o movimento e o devir são constituintes de um caminhar que segue abalando as teorias que viajaram aos trópicos, ao Sul Global. O livro constrói uma análise que, a partir da teoria queer, convida à interpelação da configuração sexo/gênero como parte do projeto colonial.
Ensaio passos entre mundos e teorias, daqui do interior, com um olhar caipira de quem desconfia de muita coisa: o encontro com o livro me afetou de modo a querer contar umas histórias com Pedro Paulo. Mas, no meio do caminho tinha uma pedra1. Não bastasse Richard Miskolci ter escrito a apresentação, Judith Butler escrevera o prefácio do livro. Para que eu adentraria nessa prosa? Leia Mais
Encontros e desencontros de lá e de cá do Atlântico: mulheres Africanas e Afro-brasileiras em perspectiva de gênero / Patrícia G. Gomes e Claudio A. Furtado
Patrícia Godinho Gomes / Foto: Elaine Schmitt – UFSC Notícias /
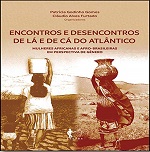
No primeiro capítulo, “De emancipadas a invisíveis: as mulheres guineenses na produ-ção intelectual do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas”, a autora Patrícia Godinho Go-mes apresenta um breve excursus teórico de Houtondji e Oyèwùmi e a questão dos estudos sobre mulheres e gênero, no qual destaca a origem da produção deste conhecimento e seus principais destinatários. No processo de independência de Guiné-Bissau, em 1973, a partici-pação das mulheres constituiu-se em um elemento-chave para seu desenvolvimento do pro-cesso, tanto externo como interno. Porém, a importância das mesmas é inviabilizada nos dis-cursos, como discutido no diálogo apresentado entre dois intelectuais guineenses- Carlos Lo-pes e Diana Lima Handem, que debatem temas como patriarcado, subalternização e relações de gênero e mercado de trabalho. É abordada a ausência de mulheres na produção intelectual do INEP, juntamente com a de temas sobre as mesmas, dando destaque às atitudes de alguns órgãos como A União Democrática das Mulheres Guineenses (Udemu) em relação a isto. Leia Mais
Entre márgenes/intersticios e intersecciones: diálogos posibles y desafíos pendientes entre género y migraciones | María José Magliano
La multiplicidad de aristas teóricas, trayectorias colectivas e individuales, apuestas metodológicas y desafíos epistemológicos que confluyen en este libro,se vuelven espacios intersticiales desde los cuales repensar la incorporación de la perspectiva de género al campo de los estudios migratorios en Argentina. Leia Mais
¿Reconocimiento o redistribución? Un debate entre marxismo y feminismo | Judith Butler e Nancy Fraser
Introducción
La presente reseña tiene como objetivo problematizar el debate Fraser-Butler, no a través del análisis de los dos postulados principales, sino a través de la crítica de los mismos y de las posibilidades que en ellos se encierran. Este ejercicio lo que pretende problematizar es la relación entre genitalia-sexo-género, con el capitalismo y la disolución de las certezas ontológicas con la pérdida de vigencia de lo denominado como moderno.
Tanto el debate Fraser-Butler, surgido en la New Left Review en el año 2000 y convertido en libro en 2017, como el debate filosófico en torno a la modernidad, aparecido en las primeras décadas del siglo XX, no son nuevos. Sin embargo, las problemáticas que abordan siguen estando vigentes, sobre todo, ahora, que los feminismos autodenominados radicales están en plena ofensiva reaccionaria poniendo en riesgo las vidas de las personas trans y lanzándose a una aventura colonizadora sobre aquellos cuerpos que consideran abyectos. Esto hace necesario señalar cómo determinadas articulaciones feministas pueden constituirse como represivas, donde una interpretación falaz de la relación entre género y sexo puede llegar a funcionar como vehículos de la dominación. Esto permitiría a grupos feministas enrocarse en el biologicismo y el etnocentrismo para instrumentalizar la lucha por la liberación y convertirla en su monopolio. De este modo, garantizarían, a través de la defensa de una feminidad cis y blanca, la invisibilización, persecución y represión de los colectivos más desfavorecidos. Es esta labor represiva de determinadas articulaciones feministas con vocación universalista y eurocéntrica, que se amparan en interpretaciones falaces de la realidad, la que constituye el objetivo de crítica de esta reseña. El texto de Fraser nos serán muy útiles para comprender este tipo de posiciones reaccionarias, sin que esto suponga que acusemos a Fraser en el presente por las afirmaciones teóricas mantenidas hace veinte años. Leia Mais
Mulheres, direito à cidade e estigmas de gênero. A segregação urbana da prostituição em Campinas | Diana Helene
O livro Mulheres, direito à cidade e estigmas de gênero: a segregação urbana da prostituição em Campinas, de Diana Helene Ramos (1), é o primeiro livro escrito por uma arquiteta e urbanista brasileira discutindo a relação entre prostituição e cidade. Publicado em 2019 pela editora Annablume, esse livro é resultado de tese de doutorado da autora em Planejamento Urbano e Regional, desenvolvida no Ippur UFRJ, pela qual recebeu o Prêmio Capes de Tese 2016 da área de Planejamento Regional/Demografia (2). O livro está dividido em três partes, com um total de seis capítulos que, em linhas gerais, discutem a presença das prostitutas na cidade de Campinas e sua participação enquanto agente na produção do espaço urbano, seu cotidiano e os deslocamentos ocorridos no contexto urbano e laboral dessas trabalhadoras. Leia Mais
Teoria do romance III: o romance como gênero literário – BAKHTIN (B-RED)
BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra; organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. 144p. Resenha de: MELO JÚNIOR, Orison Marden Bandeira de. Bakhtiniana, Revista de Estudos do Discurso, v.15 n.2, São Paulo, Apr./June 2020.
Como já é notório a todos os leitores que acompanham as publicações de textos do Círculo pela Editora 34, a sequência dos textos Teoria do romance I, Teoria do romance II e, agora, Teoria do romance III tem, como base, o tomo 3 da coletânea Obras reunidas em sete tomos [Sobránie sotchiniênii v siémi tomakh] de Mikhail Bakhtin, organizada por Vadim Valeriánovitch Kójinov (1930-2001) e Serguei Geórguievitch Botcharóv (1929), que, segundo Grillo (2009), são os detentores dos espólios bibliográficos de Bakhtin. Ainda segundo Grillo (2009), após a morte de Kójinov, ficou Botcharóv o responsável pela coordenação do projeto, dando, dessa forma, conforme a Nota à edição brasileira encontrada na Teoria do romance I (BAKHTIN, 2015), o consentimento para que Paulo Bezerra e a editora o dividissem em três volumes.
Com a finalização da publicação da Teoria do romance com esse terceiro volume, é possível ter uma visão privilegiada em relação ao conjunto dos textos que compõem o Tomo 3. Desse modo, é mais fácil perceber, agora, que o número de ensaios que os três volumes apresentam não corresponde totalmente aos ensaios encontrados na coletânea Questões de literatura e de estética: a teoria do romance (doravante, QLE) (BAKHTIN, 2002). QLE se inicia com o ensaio O problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária. No entanto, esse ensaio não está publicado na trilogia. Segundo Bezerra (2015), ele foi suprimido da Teoria do romance pelos organizadores russos por ser um texto mais genérico sobre a teoria da literatura, com foco na contraposição aos formalistas russos. Grillo (2009) informa que ele aparece no Tomo 1 das Obras reunidas em sete tomos, juntamente com os textos Arte e responsabilidade, Para uma filosofia do ato e O autor e o herói na atividade estética.
O segundo ensaio O discurso no romance é publicado pela Editora 34 no primeiro volume da trilogia: Teoria do romance I: A estilística (BAKHTIN, 2015). Formas de tempo e de cronotopo no romance (ensaios da poética histórica), terceiro ensaio da QLE, é publicado em Teoria do romance II: as formas do tempo e do cronotopo (BAKHTIN, 2018). É interessante notar que, na tradução de Paulo Bezerra, o ensaio passa por uma pequena modificação no seu título: As formas do tempo e do cronotopo no romance: um ensaio de poética histórica. Vale destacar que ambas as obras (Teoria do romance I e Teoria do romance II) foram resenhadas logo após a sua publicação e suas resenhas foram publicadas na revista Bakhtiniana. A resenha de Adriana P. P. Silva do primeiro volume foi publicada no primeiro número de 2016 (SILVA, 2016) e a resenha de Maria Elizabeth S. Queijo do segundo volume, no segundo número de 2019 (QUEIJO, 2019).
A coletânea QLE finaliza com três curtos ensaios: Da pré-história do discurso romanesco, Epos e o romance (sobre a metodologia do estudo do romance) e Rabelais e Gógol (arte do discurso e cultura cômica popular). Desses três, dois deles aparecem no volume Teoria do romance III: o romance como gênero literário (BAKHTIN, 2019), a saber: Da pré-história do discurso romanesco e Epos e o romance (sobre a metodologia do estudo do romance), mas com modificações em seus títulos. O texto Rabelais e Gógol aparece no Tomo 4 das Obras reunidas que, segundo Grillo (2009), é dedicado aos textos de Bakhtin sobre Rabelais, o que inclui, obviamente, a obra sobre François Rabelais e a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, publicada pela editora Hucitec no Brasil sob o título A cultura popular na idade média e no renascimento: o contexto de François Rabelais (BAKHTIN, 2010).
Em relação aos ensaios que compõem o terceiro volume da Teoria do romance, em um primeiro momento o leitor consegue identificar apenas um, Sobre a pré-história do discurso romanesco, cujo título se assemelha ao anterior. No entanto, pode causar alguma estranheza o título do segundo ensaio que, inclusive, aparece como subtítulo do volume: O romance como gênero literário. Bezerra (2019), no seu posfácio intitulado O fechamento de um grande ciclo teórico, conta que esse era o título original do texto, publicado de forma fragmentada sob o título Epos e o romance. Esse mesmo título é encontrado nas versões em inglês, espanhol, francês e italiano: Epic and novel: toward a methodology for the study of the novel (BAKHTIN, 1981); Épica y novela: (acerca de la metodología del análisis novelístico) (BAJTÍN, 1989); Récit épique et roman: (méthodologie de l’analyse du roman) (BAKHTINE, 1978); Epos e romanzo: sulla metodologia dello studio del romanzo (BACHTIN, 2001). Bezerra (2019) explica que o título do ensaio foi restaurado pelos organizadores das Obras reunidas com o objetivo de corresponder, de forma integral, ao projeto de Bakhtin de versar sobre “o romance como gênero literário específico”, mostrando, dessa forma, “os encontros e os desencontros dos dois gêneros” (p. 120), ou seja, da epopeia e do romance. Essa estranheza, no entanto, é facilmente dissipada pela compreensão do seu sentido, restando aos leitores e estudiosos do romance à luz bakhtiniana se adequar aos novos termos e títulos, sabendo que são resultados de estudos e pesquisas de scholars especialistas nas obras do Círculo. Ademais, o leitor da tradução de Paulo Bezerra deve se sentir privilegiado por essa informação, trazida no terceiro volume da Teoria do romance, tendo em vista que em nenhuma versão da obra no inglês, espanhol, francês e italiano essa explicação é dada ao leitor.
Antes de adentrar nas considerações mais específicas sobre o terceiro volume da teoria do romance, novamente devido a essa visão privilegiada da totalidade dos textos que compõem a Teoria do romance de Bakhtin, é necessário observar a macroestrutura dos três volumes. Como já foi ressaltado por Silva (2016) e Queijo (2019), essas obras trazem um enriquecimento aos estudos do romance não somente por serem textos cuja tradução “se aproxima da voz de seu autor” (SILVA, 2016, p.269), mas por todos os paratextos encontrados nelas, o que inclui o posfácio do tradutor que, segundo Queijo (2019, p.155) “emoldura o texto que as [páginas do posfácio] precedem”. Brait (2019) afirma que compreender uma obra como enunciado concreto, conforme o Círculo, implica entender que todos os textos dessa obra fazem parte do seu todo arquitetônico, o que inclui os paratextos, ou seja, “textos que se avizinham do texto principal, caso do título, subtítulos, dedicatórias, epígrafes, prefácio, posfácio, etc. e que […] abrem caminho para o leitor adentrar os meandros do texto principal” (p.251). Na Teoria do romance I, além do prefácio por Paulo Bezerra, o tradutor também apresenta um glossário de alguns conceitos-chave. Além desses paratextos, ainda há uma nota à edição brasileira, um nota de informação sobre Bakhtin e outra sobre Bezerra. No segundo volume, é adicionado, ao texto principal, alguns rascunhos que Bakhtin fez para o último capítulo que ele adicionou posteriormente. Esse rascunho foi intitulado de Folhas esparsas. Além desse rascunho, há o posfácio de Bezerra, que ele intitula de Uma teoria antropológica da literatura, além das notas recorrentes nos três volumes (nota dos editores, nota sobre Bakhtin e nota sobre o tradutor). O terceiro volume segue o formato do segundo, com um posfácio por Paulo Bezerra e as três notas. O posfácio de Bezerra é intitulado O fechamento de um grande ciclo teórico, que dá, como se percebe, o tom de completude a esse grande enunciado Teoria do romance. É interessante notar que apenas o primeiro volume traz um glossário, com notas explicativas do tradutor. Isso possivelmente se deve ao fato de que o tradutor assumiu novos termos para aqueles que já estavam consolidados na academia. Um exemplo é o termo “heterodiscurso”, que veio substituir “o já consagrado termo plurilinguismo nos trabalhos dos pesquisadores brasileiros que se debruçam sobre o pensamento bakhtiniano” (SILVA, 2016, p. 268).
Em relação ao conteúdo de Teoria do romance III (BAKHTIN, 2019), não me aterei ao resumo de cada ensaio, já que eles já têm sido apresentados por vários estudiosos das obras de Bakhtin sobre o romance, em específico, e sobre a literatura, em geral. Um exemplo disso é o capítulo de Maria Inês B. Campos (2009) na coletânea Bakhtin: dialogismo e polifonia (BRAIT, 2009), que apresenta todos os ensaios da coletânea Questões de literatura e de estética (BAKHTIN, 2002). Para a apresentação do ensaio Dá pré-história do discurso romanesco/Sobre a pré-história do discurso romanesco, escreveu o texto intitulado O importante papel do riso e do plurilinguismo (CAMPOS, 2009, p.137-139) e para a do ensaio Epos e o romance (sobre a metodologia do estudo do romance)/O romance como gênero literário, escreveu Sobre a metodologia do estudo do romance (CAMPOS, 2009, p.139-142). Diante disso, é necessário explicar ao leitor que os ensaios foram enriquecidos substancialmente não só pelo fato, já apontado, de eles terem sido restaurados quanto aos títulos originais, mas também por incorporarem as próprias correções de Bakhtin, restituírem trechos anteriormente cortados e preservarem as anotações que Bakhtin fez nas margens dos textos datilografados. Segundo a Nota à edição brasileira (2019), além dessas notas do próprio Bakhtin, o leitor encontrará esses trechos restaurados (indicados por asterisco) e as notas do tradutor.
Essas inserções e modificações no texto podem ser vistas, em primeiro lugar, pelas escolhas tradutórias de Bezerra que, em alguns momentos, diferem das escolhas dos tradutores de QLE. Bezerra (2015, p.10) explica que “[t]raduzir Bakhtin, além de ser um desafio extremamente difícil, é também arriscado”. Para ele, isso se dá pelo fato de que o tradutor está diante de “conceitos que abrangem todo um sistema de reflexões embasado em algo que talvez se possa chamar de filosofia estética” (BEZERRA, 2015, p.10). Nesse sentido, é possível destacar dois exemplos de diferenças tradutórias entre Bezerra e os tradutores de QLE. Em primeiro lugar, pensando nas categorias bakhtinianas, Bezerra ilumina muitos trechos dos ensaios com a utilização de termos teoricamente mais específicos. Como exemplo, encontramos a seguinte oração no ensaio Dá pré-história do discurso romanesco: “Pode-se notar cinco tipos de abordagens para o discurso romanesco” (BAKHTIN, 2002, p.364); na tradução de Bezerra, em Sobre a pré-história do discurso romanesco, lê-se: “observam-se cinco tipos de enfoque estilístico do discurso romanesco” (BAKHTIN, 2019, p.13). Observa-se que Bezerra utiliza termos específicos (“enfoque estilístico”) em vez de termos mais genéricos (“abordagem”). Em segundo lugar, é pertinente destacar a escolha tradutória de Bezerra diante de termos multissêmicos da língua russa, como a palavra slovo. Segundo Grillo e Américo (2017, p.364), o termo “tem um significado amplo, que compreende desde a unidade lexical até a ‘a linguagem verbal em uso’ ou o enunciado e o discurso”. Diante disso, o tradutor necessita fazer escolhas, levando em consideração as possibilidades tradutórias e o contexto teórico do termo no texto de partida. Por exemplo, no ensaio A palavra na vida e a palavra na poesia de Volóchinov (2019), Grillo e Américo explicam, na Nota do Tradutor 1, que a tradução de slovo como “palavra” se deu pelo fato de o ensaio estabelecer um diálogo mais direto com o manifesto dos futuristas russos intitulado Slóvo kak takovóie [A palavra como tal]. No entanto, esclarecem que a tradução como “discurso” seria favorecida pelo fato de que “a linguagem é considerada na relação com o seu meio social, com o criador e o contemplador, com a sua esfera de circulação etc.” (2019, p.109). Nessa esteira, ainda no primeiro ensaio de Teoria do romance III, verifica-se que a escolha de Bezerra também difere da escolha dos tradutores de QLE (BAKHTIN, 2002). Em Dá pré-história do discurso romanesco, lê-se: “Entretanto, nas condições do romance, a palavra tem uma existência inteiramente particular […]” (BAKHTIN, 2002, p.364). Já em Sobre a pré-história do discurso romanesco, percebe-se que Bezerra escolhe o termo “discurso”: “Entretanto, nas condições do romance o discurso vive uma vida totalmente específica […]” (BAKHTIN, 2029, p.14).
Além dessas diferenças tradutórias, é necessário que o leitor esteja ciente para o fato de que os ensaios que formam Teoria do romance III possuem trechos novos. Como já mencionado anteriormente, essa nova versão dos ensaios recupera trechos anteriormente cortados. Um exemplo disso é o primeiro parágrafo do ensaio O romance como gênero literário (BAKHTIN, 2019, p.65). Esse parágrafo traz uma explicação necessária da razão pela qual o autor teve de dedicar um espaço do ensaio que trata da teoria do gênero romanesco para uma discussão sobre a filosofia dos gêneros. Esse parágrafo não existe na tradução de 2002. De fato, o primeiro parágrafo da tradução de 2002 se inicia com a oração: “O estudo do romance enquanto gênero caracteriza-se por dificuldades particulares” (BAKHTIN, 2002, p.397). Esse é o segundo parágrafo da tradução de 2019, que se inicia com a oração: “A teoria do romance enquanto gênero distingue-se por dificuldades peculiares […]” (BAKHTIN, 2019, p.65).
Com essas breves notas, já é possível perceber a singularidade da nova tradução ao português brasileiro desses ensaios. Como mencionado anteriormente, além de uma tradução teoricamente mais específica e das incorporações textuais feitas, Teoria do romance III ainda recebe um ensaio de Paulo Bezerra em que não só explica a origem dos ensaios de Bakhtin, ou seja, as “duas conferências proferidas por Bakhtin nas reuniões do grupo de teoria da literatura organizado pelo professor Leonid Timofêiev no Instituto de Literatura Mundial Maskim Górki de Moscou” (BEZERRA, 2019, p.113), como também tece detalhes sobre os dois ensaios separadamente. Dessa forma, destaca, em Sobre a pré-histórica do discurso romanesco, o riso e a paródia, e o objetivo central do ensaio, e demonstra como O romance como gênero literário “[…] quebrou os paradigmas tradicionais nos estudos e enfoques da história e da teoria do romance” (BEZERRA, 2019, p.122).
Teoria do romance III, portanto, é uma obra de excelência, que deve ser lida por todos aqueles que estudam o romance pelas lentes bakhtinianas. Esse convite não é feito somente para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler os ensaios, mas também para aqueles que já os leram, discutiram, estudaram em QLE, pois poderão perceber o enriquecimento ao texto proporcionado por Paulo Bezerra, que, mais uma vez, utilizando-se dos seus conhecimentos linguísticos, literários, tradutórios e teóricos (em especial, da teoria dialógica), traz ao leitor um texto que é mais completo em si mesmo – com a inserção de todas as notas de Bakhtin suprimidas anteriormente e as notas e observações tão ricas do tradutor -, completando a Teoria do romance proposta por Bakhtin.
Referências
BACHTIN, M. Epos e romanzo: sulla metodologia dello studio del romanzo. In: BACHTIN, M. Estetica e romanzo. Tradução Clara Strada Janovič. Torino: Einaudi, 2001. p.445-482. [ Links ]
BAJTÍN, M. Épica y novela (Acerca de la metodología del análisis novelístico). In: BAJTÍN, M. Teoría y estética de la novela: trabajos de investigación. Tradução Helena S. Kriúkova, Vicente Cazcarra. Madrid: Taurus, 1989. p.449-485. [ Links ]
BAKHTIN, M. Epic and novel: toward a methodology for the study of the novel. In: BAKHTIN, M. The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. Edited by Michael Holquist; translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin, TX: University of Texas Press, 1981. pp.3-40. [ Links ]
BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Tradução Aurora F. Bernardini et al. São Paulo: Hucitec; Annablume, 2002. [ Links ]
BAKHTIN, M. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Tradução Yara F. Vieira. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. [ Links ]
BAKHTIN, M. O discurso no romance. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance I: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015. [ Links ]
BAKHTIN, M. As formas do tempo e do cronotopo no romance. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance II: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2018. [ Links ]
BAKHTIN, M. O romance como gênero literário. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. [ Links ]
BAKHTINE, M. Récit épique et roman: (méthodologie de l’analyse du roman). In: BAKHTINE, M. Esthétique et théorie du roman. Tradução: Daria Olivier. Paris: Édition Gallimard, 1978. p.439-473. [ Links ]
BEZERRA, P. Prefácio. In: BAKHTIN, M. O discurso no romance. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance I: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015. p.7-13. [ Links ]
BEZERRA, P. O fechamento de um grande ciclo teórico. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. p.113-133. [ Links ]
BRAIT, B. Discursos de resistência: do paratexto ao texto. Ou vice-versa? Alfa, v.63, n.2, p.243-263, 2019. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa/article/view/11452/8477. Acesso em: 25 jan. 2020. [ Links ]
CAMPOS, M. I. B. Questões de literatura e de estética. In: BRAIT, B. (org.). Bakhtin: dialogismo e polifonia. São Paulo: Contexto, 2009. p.113-149. [ Links ]
GRILLO, S. Obras reunidas de M. M. Bakhtin. Bakhtiniana. Revista de Estudos do Discurso, v. 1, n. 1, p.170-174, 2009. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/bakhtiniana/article/view/3007/1938. Acesso em: 25 jan. 2020. [ Links ]
GRILLO, S.; AMÉRICO, E. V. Glossário. In: VOLÓCHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução Sheila Grillo e Ekaterina V. Américo. São Paulo: Editora 34, 2017. p.353-368. [ Links ]
GRILLO, S.; AMÉRICO, E. V. Nota do Tradutor 1. In: VOLÓCHONOV, V. (Círculo de Bakhtin). A palavra na vida e a palavra na poesia: ensaios, artigos, resenhas e poemas. Organização, tradução, ensaio introdutório e notas Sheila Grillo e Ekaterina V. Américo. São Paulo: Editora 34, 2019. p. 109. [ Links ]
NOTA à edição brasileira. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance I: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015. p. 15-16. [ Links ]
NOTA à edição brasileira. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. p. 7-8. [ Links ]
QUEIJO, M. E. S. BAKHTIN, Mikhail. Teoria do romance II: As formas do tempo e do cronotopo. Tradução, posfácio e notas de Paulo Bezerra; organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2018. 272p. Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 150-158, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-45732019000200150&lng=en&nrm=iso&tlng=pt&ORIGINALLANG=pt. Acesso em: 25 jan. 2020. http://dx.doi.org/10.1590/2176-457340996. [ Links ]
SILVA, A. P. P. F. BAKHTIN, Mikhail. Teoria do romance I: A estilística. Tradução, prefácio, notas e glossário de Paulo Bezerra; organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015. 256p. Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso, São Paulo, v. 11, n. 1, p.264-269, 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-45732016000100264&lng=en&nrm=iso&tlng=pt&ORIGINALLANG=pt. Acesso em: 25 jan. 2020.. http://dx.doi.org/10.1590/2176-457324424. [ Links ]
Orison Marden Bandeira de Melo Júnior – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil; [email protected].
Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa da assembleia / Judith Butler
Conhecida internacionalmente pelo livro Problemas de gênero: feminismo e a subversão da identidade2, publicado no início da década de 1990 e lançado no Brasil apenas em 2003, a filósofa estadunidense Judith Butler se dedica às análises sobre feminismos, gêneros, corpos e sexualidades. Sua obra, que mantém fluxo entre teoria e engajamento político, exerce significativa influência, tanto nos debates acadêmicos em diferentes áreas do conhecimento quanto nos movimentos sociais e em setores da sociedade civil. Suas teorias, em destaque sobre a performatividade dos gêneros, ensejaram um intenso debate e tensões, por deslocar certezas naturalizadas como a do sexo biológico. Na sua perspectiva, há um esforço em retirar o caráter ontológico das interpretações sobre as identidades de gênero e sobre o sexo, gerando uma dissociação entre o sexo, gênero e desejo.
Nos últimos títulos publicados pela autora, como Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto?3 e Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia4, há o interesse em discutir sobre formas de inserção políticas contemporâneas, violências institucionalizadas ou não e sobre a precariedade a que determinados conjunto de sujeitos são induzidos e que limitam a prática efetiva da democracia e que encontram no gênero e na experiência corporificada espaços privilegiados de acontecimento.
O livro Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia reúne seis capítulos que possuem como eixo norteador a relação entre os corpos, suas performances em assembleias e a ocupação de espaços públicos promovida pelas manifestações que se multiplicaram em vários países do mundo, desde 2010, quando cerca de um milhão de pessoas se reuniram na Praça Tahrir no centro do Cairo, no que ficou conhecido como Primavera Árabe. Para a autora, as manifestações no Egito, além de servirem de exemplo para lutas políticas em outros países, renovaram o interesse de pesquisadores de várias partes do mundo sobre o estudo de assembleias públicas e de movimentos sociais que tomaram como fator estimulante a condição precária a que muitos corpos são submetidos, nas chamadas democracias neoliberais.
Para iniciar a reflexão, Butler apresenta algumas categorias importantes para pensar os temas desenvolvidos ao longo dos capítulos, entre elas: democracia, povo, precariedade e performance. A autora sofistica a análise dessas categorias, considerando a polifonia à qual são sujeitas. No que se refere à conceitualização de democracia, é apontada a necessidade de pensá-la, para além de uma abordagem nominalista que não considera os limites da prática democrática em contextos neoliberais que operam pela precarização da vida, limitando o direito à existência de grupos. Em outros termos, para pensar em democracia na contemporaneidade é necessário ir além de estruturas governamentais que se autoproclamam democráticas, discutindo a inserção de práticas em assembleia que reivindicam formas de existência não precárias. Verticalizando ainda mais a análise sobre esse aspecto, Butler aponta que os discursos que se apoiam no marketing e na propaganda são os definidores de quais movimentos populares podem ou não serem chamados de democráticos.
Nesse debate, emerge a segunda categoria problematizada pela autora: povo. Seu interesse é responder às seguintes questões: quem realmente é o povo? Que operações de poder discursivo e com que intencionalidades se constrói essa categoria? A resposta que a autora constrói para essas perguntas é a de que não existe “povo” sem uma fronteira discursiva, ou seja, sua definição é um ato de autodemarcação que corresponderia a uma “vontade popular”. Aplicando à análise dos movimentos contra a condição precária, como a Primavera Árabe e o Occupy the Wall Street, a autora conclui que é necessário “ler tais cenas não apenas através da versão de povo que eles enunciam, mas das relações de poder por meio das quais são representadas”5.
Por precariedade, Butler entende uma condição induzida por violência a grupos vulneráveis ou ainda a ausência de políticas protetivas. Sua análise situa em torno das economias neoliberais que cada vez mais retira direitos – previdenciários, trabalhistas, de moradia – e acesso a serviços públicos como escolas e universidades.
A última categoria basilar para entender as discussões que seguem nos seis capítulos do livro é a de performance, já discutida pela autora em outros textos, mas que, nesta obra, é pensada através do viés das coletividades e para além do gênero. Em outros termos, Butler incorpora o seu conceito de performance para entender como os corpos agem de forma coordenada em assembleias. Para a autora, podemos perceber as manifestações de massa como uma rejeição coletiva à precariedade e, mais que isso, como um exercício performativo do direito de aparecer, “uma demanda corporal por um conjunto de vidas mais vivíveis”6.
A tese sobre a qual os capítulos versam é a de que, quando os corpos se reúnem em assembleias, quer sejam em praças, ruas ou mesmo no ambiente virtual, eles estão exercitando o direito plural e performativo de aparecer e de exigir formas menos precárias de existência. Os objetivos dessas assembleias são desde oposição a governos autoritários até redução de desigualdades sociais, questões ecológicas ou de gênero. Pensar sobre elas e sobre a pluralidade que incorporam é discutir como a condição precária é representada e antagonizada nesses movimentos e como se materializam na expressão de corpos que entram em alianças.
Os capítulos deste livro “buscam antes de tudo compreender as funções expressivas e significantes das formas improvisadas de assembleias públicas, mas também questionar o que conta como público e quem pode ser considerado povo.”7 Os primeiros capítulos se concentram na discussão sobre formas de assembleia que possuem modos de pertencimento e que ocorrem em locais específicos. Já os últimos capítulos discutem movimentações que acontecem entre aqueles que não compartilham um sentido de pertencimento geográfico ou linguístico.
No capítulo 1, intitulado “Políticas de gênero e o direito de aparecer”, Butler discute as manifestações de massa, com destaque àquelas que pautam as questões de gênero, como uma rejeição coletiva à precariedade de corpos que se reúnem por meio de um exercício performativo do direito de aparecer. Nesse sentido, a autora insere a discussão sobre o reconhecimento com um dos cernes dessas manifestações públicas. Segundo ela, os sujeitos estariam lutando por reconhecimento em um campo altamente regulado e demarcado de zonas que permitem ou interditam formas corporificadas. No capítulo, a autora ainda se lança a responder questões como: por que esse campo é regulado de tal modo que determinados tipos de seres podem aparecer como sujeitos reconhecíveis e outros tantos não podem? Quais humanos contam como humanos? Quais humanos são dignos na esfera do aparecimento e quais não são? Para a autora, o reconhecimento passa pela noção de poder que segmenta e classifica os sujeitos de acordo com as normas dominantes que buscam normalizar determinadas versões de humanos em detrimentos a outras. A autora avança ainda mais: a necessidade de se questionar como as normas são instaladas é o começo para não as tomar como algo certo/ um dado.
Utilizando o gênero para pensar essa questão, Butler argumenta que as normas de gênero são transmitidas por meio de fantasias psicossomáticas como patologização e a criminalização, que buscam normalizar determinadas práticas e versões do humano em relação às outras, basta pensar que há formas de sexualidade para as quais não existe um vocabulário adequado porque as lógicas como pensamos sobre o desejo, orientação, atos sexuais e prazeres não permitem que elas se tornem inteligíveis. Nesse processo de apagamento, o que se observa é a luta em assembleia pelo direito de viver uma vida visível e reconhecível que opera por meio de rompimentos no campo do poder.
No segundo capítulo, “Corpos em aliança e a política das ruas”, é dada visibilidade para os significados das manifestações no espaço público que articulam pluralidades de corpos que compartilham a experiência da precariedade e que se exibem e lutam por direito de existir. Para a autora, a política nas ruas deve congregar uma luta mais ampla contra a precariedade, sem que sejam apagadas as especificidades e pluralidades identitárias. Para tanto, há a necessidade de uma luta mais articulada que requer uma “ética de coabitação”. A ideia não é de “se reunir por modos de igualdade que nos mergulhariam a todos em condição igualmente não vivíveis”8, mas sim de “exigir uma vida igualmente possível de ser vivida”9.
Para pensar no espaço de aparecimento, Butler recorre e questiona Hanna Arendt que pensa o espaço a partir da perspectiva da pólis, onde a ação política é sine qua non ao aparecimento do corpo no espaço público. Para Butler, o direito de ter direitos não depende de nenhuma organização política particular para sua legitimação, pois antecede qualquer instituição política. O direito, então, passa a existir quando é exercido por aqueles que estão unidos em alianças e que foram excluídos da esfera pública, que é marcada por exclusões constitutivas e por formas de negação. Isso fica claro quando:
Ocupantes reivindicam prédios na Argentina como uma maneira de exercer o direito a uma moradia habitável; quando populações reclamam para si uma praça pública que pertenceu aos militares; quando refugiados participam de revoltas coletivas por habitação, alimento e direito a asilo; quando populações se unem, sem a proteção da lei e sem permissão para se manifestar, com o objetivo de derrubar um regime legal injusto ou criminoso, ou para protestar contra medidas de austeridade que destroem a possibilidade de emprego e de educação para muitos. Ou quando aqueles cujo aparecimento público é criminoso – pessoas transgênero na Turquia ou mulheres que usam véu na França – aparecem para contestar esse estatuto criminoso e reafirmar o seu direito de aparecer10.
Em outros termos, o espaço público é tomado por aqueles que não possuem nenhum direito de se reunir nele. Indivíduos que emergem de zonas de invisibilidade para tomarem o espaço, ao mesmo tempo em que se tornam vulneráveis às formas de violência que tentam reduzi-los ao desaparecimento. Neste capítulo, a autora discute o direito de ter direitos não como uma questão natural ou metafísica, mas como uma persistência dos corpos contra as forças que buscam sua erradicação.
No terceiro capítulo chamado “A vida precária e a ética da convivência”, Butler discute os significados de aparecer na política contemporânea e as possibilidades de aproximação entre corpos identitariamente diferentes e espacialmente separados, unidos apenas pela experiência da globalização e mediados pelos fenômenos tecnológicos e comunicacionais atuais, como as redes sociais. Para Butler, “alguma coisa diferente está acontecendo quando uma parte do globo, moralmente ultrajada, se insurge contra as ações e os eventos que acontecem em outra parte do globo”11. Para a autora, trata-se de laços de solidariedade que emergem através do espaço e do tempo, ou seja, uma forma de indignação que não depende da proximidade física ou do compartilhamento de um língua. Em outros termos, as obrigações éticas são surgem apenas nos contextos de comunidades “paroquiais” que estão reunidas dentro das mesmas fronteiras, constituintes de um povo ou uma nação.
Em parte, essas experiências compartilhadas são possibilitadas pelas novas mídias que, além de espaço de mobilização, se configuram também como uma potente possibilidade de transpor a cena, simultaneamente, para vários outros lugares. De outro modo, “quando o evento viaja e consegue convocar e sustentar indignação e pressão globais, o que inclui o poder de parar mercados ou de romper relações diplomáticas, então o local terá que ser estabelecido, repetidas vezes, em um circuito que o ultrapassa a cada instante”12. Assim:
Quando a cena é transmitida, está ao mesmo tempo lá e aqui, e se não estivesse abrangendo ambas as localizações – na verdade, múltiplas localizações – não seria a cena que é. A sua localidade não é negada pelo fato de que a cena é comunicada para além de si mesma e assim constituída em mídia global; ela depende dessa mediação para acontecer como o evento que é. Isso significa que o local tem que ser reformulado para fora de si mesmo a fim de ser estabelecido como local, o que significa que é apenas por meio da mídia globalizante que o local pode ser estabelecido e que alguma coisa pode realmente acontecer ali. […] As cenas das ruas se tornam politicamente potentes apenas quando – e se – temos uma versão visual e audível da cena comunicada ao vivo ou em tempo imediato, de modo que a mídia não apenas reporta a cena, mas é parte da cena e da ação; na verdade, a mídia é a cena ou o espaço em suas dimensões visuais e audíveis estendidas e replicáveis. Quando a cena é transmitida, está ao mesmo tempo lá e aqui, e se não estivesse abrangendo ambas as localizações – na verdade, múltiplas localizações […]13
O quarto capítulo – “A vulnerabilidade corporal e a política de coligação” – estrutura-se em torno de três questões fundamentais: vulnerabilidade corporal, coligações e políticas das ruas. A vulnerabilidade é uma experiência corpórea de exposição a possíveis formas de violências como conflitos entre manifestantes, violência policial ou violência de gênero, pois “algumas vezes o objetivo de uma luta política é exatamente superar as condições indesejadas da exposição corporal. Outras vezes a exposição deliberada do corpo a uma possível violência faz parte do próprio significado de resistência política”14. Para a autora, essa vulnerabilidade torna-se menos problemática quando os coletivos criam redes de proteção. A multidão, então, assumiria a função de suporte coletivo, pois:
Quando os corpos daqueles que são considerados “dispensáveis” se reúnem em público (como acontece de tempos em tempos quando os imigrantes ilegais vão às ruas nos Estados Unidos como parte de manifestações públicas), eles estão dizendo: “Não nos recolhemos silenciosamente nas sombras da vida pública: não nos tornamos a ausência flagrante que estrutura a vida pública de vocês.” De certa maneira, a reunião coletiva dos corpos em assembleia é um exercício da vontade popular, a ocupação e a tomada de uma rua que parece pertencer a outro público, uma apropriação da pavimentação com o objetivo de agir e discursar que pressiona contra os limites da condição de ser reconhecido em sociedade. Mas as ruas e a praça não são a única maneira de as pessoas se reunirem em assembleia, e sabemos que uma rede social produz ligações de solidariedade que podem ser bastante impressionantes e efetivas no domínio virtual15.
No quinto capítulo intitulado “Nós, o povo – considerações sobre a liberdade de assembleia”, Butler discute a categorização e a reivindicação da ideia de “povo”, em meio às lutas políticas, problematizando concepções restritivas de povo, como no caso da Constituição dos Estados Unidos. Necessário pensar que a construção de “povo” é uma autodenominação que opera por meio de uma construção discursiva, integrando e excluindo grupos que estão ou não dentro dessa categoria. Ainda no capítulo, a autora discute as privatizações no contexto neoliberal, que minimiza a proteção do Estado e enseja formas de alianças nas ruas que lutam contra o precário.
No último capítulo, intitulado “É possível viver uma vida boa em uma vida ruim?”, Butler aborda, a partir da proposta analítica de Adorno, sobre as possibilidades de vida em um mundo marcado pela condição de desigualdade. Para a autora, a luta política e a performance coletiva em assembleia são ações que vão de encontro à lógica da precarização e que podem ser uma alternativa no contexto neoliberal de diminuição de direitos.
O fio que costura toda a argumentação do livro é o da necessidade de criar condições coletivas de existência e de visibilidade de corpos contra as formas de precariedade que limitam a vida de vários sujeitos. A proposta da autora é a criação de alianças políticas que incluam várias pautas e demandas no contexto das democracias neoliberais. Butler revisita alguns conceitos como de performatividade e de precariedade, já utilizados em outras obras, aplicando-os às questões contemporâneas. Nessa obra, Butler extrapola a análise teórica acerca das assembleias contemporâneas e assume uma postura política de incitação à luta por democracia e direitos sociais no contexto de precarização provocada pelo neoliberalismo.
Laura Lene Lima Brandão – Doutoranda/Universidade Federal do Piauí. Teresina/ Piauí/ Brasil. E-mail: [email protected].
BUTLER, Judith. Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa da assembleia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. Resenha de: BRANDÃO, Laura Lene Lima. Pelo direito de (r)existir: os corpos nas ruas. Outros Tempos, São Luís, v.17, n.29, p.396-342, 2020. Acessar publicação original. [IF].
Vira-vira, Violeta – LACERDA (REF)
LACERDA, Socorro. Vira-vira, Violeta. Petrolina, PE: Edição da Autora, 2017. Resenha de: DINIZ, Rozeane Porto; KARLO-GOMES, Geam. Representações de gênero em Vira-Vira, Violeta. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, v.28 n.2 2020.
Socorro Lacerda, professora, feminista e filha do Rio São Francisco – autodescrição da autora -, lançou, em 2017, o seu segundo livro: Vira-Vira, Violeta. Trata-se de uma obra de literatura infantojuvenil com discussões sobre diversas representações de gênero, apresentando, de forma estratégica, personagens que estão no cerne dessa problematização. É surpreendente o quanto o livro é acessível, podendo ser lido por pessoas de qualquer idade, pois, mesmo numa linguagem coerente com o público infantojuvenil, traz configurações de personagens históricas muito significativas para o contexto de luta por igualdade de gênero.
O livro de Socorro aborda as relações de gênero a partir da protagonização de uma luta das mulheres, representadas na narrativa pelas personagens nomeadas como Violetas, em prol da igualdade de direitos em relação aos homens, configurados no livro como Cravos. Violetas e Cravos são nomes e personagens simbólicos usados pela autora para protagonizar a luta e a resistência entre homens e mulheres. Leia Mais
Aquí se baila el tango: una etnografía de las milongas porteñas – CAROZZI (REF)
CAROZZI, María Julia. Aquí se baila el tango: una etnografía de las milongas porteñas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015. Resenha de CASTELAO-HUERTA, Isaura. Prácticas generizadas del tango milonguero. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.28 n.2 2020.
A través de un lenguaje fluido y fácil de seguir, María Julia Carozzi nos introduce al mundo del tango milonguero en donde las distintas prácticas espaciales y corporales hacen el género. Para lograrlo, Carozzi realiza un doble ejercicio: traza un recorrido histórico sobre el tango y desarrolla una etnografía con una inmersión profunda debido a que su trabajo de campo incluyó, además de clases de tango como alumna y posteriormente como profesora, acudir a milongas y a todo tiempo de eventos donde se baila tango casi todos los días de la semana (María Julia CAROZZI, 2015, p. 30).
María Julia Carozzi es doctora en Antropología por la Universidad de California, Los Ángeles. Actualmente es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Asimismo, coordina el Núcleo de Estudios Antropológicos sobre Danza, Movimiento y Sociedad en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Ha investigado sobre educación y relaciones inter-étnicas, sobre la religión Umbanda, el movimiento new age, la religiosidad popular y el culto a Gardel y el tango bailado. Leia Mais
Concebendo a liberdade / Camillia Cowling
O livro de Camillia Cowling publicado nos Estados Unidos, em 2013, e recentemente traduzido para o português já se constitui uma leitura obrigatória para historiadoras, historiadores e demais pessoas interessadas em conhecer aspectos da luta de pessoas escravizadas na Diáspora. Em Concebendo a liberdade a autora apresentou uma pesquisa comparativa entre Havana (Cuba) e Rio de Janeiro (Brasil) na qual “mulheres de cor” apareciam na linha de frente da luta por liberdade legal para elas próprias e suas crianças nas décadas de 1870 e 1880.
Ao prefaciar a obra Sidney Chalhoub foi muito feliz ao lembrar a acolhida que o livro de Rebeca Scott a Emancipação Escrava em Cuba teve no Brasil, ainda na década de 1980, evidenciando o interesse do público brasileiro em saber mais sobre este processo em Cuba, colônia Espanhola que assim como o Brasil e Porto Rico foi um dos últimos redutos da escravidão nas Américas.
Mais de três décadas desde a tradução do livro de Scott, a pesquisa de Cowling chegou ao Brasil em um momento que embora já possamos contar com vários estudos de referência para o conhecimento a respeito da escravidão e da liberdade muitos lacunas ainda estão por serem preenchidas, a exemplo, das especificidades da experiência das mulheres – escravizadas, libertas e “livres cor”.
Felizmente, o alerta das feministas negras, especialmente a partir da década de 1980 de que as mulheres negras tinham um jeito específico de estar no mundo ganhou novo impulso nos últimos anos, notadamente, devido ao processo que resultou na Primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras, ocorrida no Brasil, em 2015, cujos desdobramentos já podem ser percebidos na sociedade brasileira e tem inspirado pesquisadoras e pesquisadores no desafio de reconstituir esse passado.
Inserida no campo da história social e utilizando uma escala de tempo pequena para descortinar a agência feminina negra, Cowling esteve atenta também para questões mais amplas do período investigado como às conexões atlânticas entre Cuba e Brasil no contexto da “segunda escravidão”. Isso permite que a leitora e o leitor possam notar que embora tivessem optado por um processo de abolição gradual da escravidão ambos vivenciaram processos paralelos e distintos um do outro.
A obra foi dividida em três partes e subdividido em 8 capítulos. Neste texto destaco alguns aspectos, dentre vários outros, que chamaram minha atenção de maneira especial. Primeiramente, saliento que Cowling conseguiu remontar o itinerário de duas libertas tornado visíveis as marcas deixadas por elas tanto em Havana como no Rio de Janeiro, de modo que personagens tradicionalmente invisibilizadas pela documentação e, até mesmo, pela historiografia tiveram seu ponto de vista descortinado nas páginas de seu livro.
Os fragmentos da experiência de Romana Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes remontados pela autora é a demonstração de um esforço investigativo de fôlego e bem sucedido. As questões levantadas e o exercício de imaginação histórica da pesquisadora tornaram possíveis que a partir do ponto de vista dessas mulheres possamos saber como pensavam várias outras de seu tempo e compreender os sentidos de suas escolhas, bem como daquelas feitas por seus familiares, escrivães, curadores e integrantes do movimento abolicionista.
A liberta Romana que comprara a própria liberdade um ano antes de migrar para Havana, em 1883, encaminhou uma petição dirigida ao governo-geral de Cuba reivindicando a liberdade de suas 4 crianças, María Fabiana, Agustina, Luis e María de las Nieves que estavam em poder de seu ex-senhor, Manuel Oliva. Quase um ano depois, foi a vez da liberta Josepha dar início a uma ação de liberdade na cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de retirar sua filha, Maria, ingênua, com apenas 10 anos, do domínio de seus ex-senhores José Gonçalves de Pinho e sua esposa, Maria Amélia da Silva Pinho.
Assim como outras tantas pessoas, Romana e Josepha eram migrantes que a despeito das dificuldades das cidades, usaram a seu favor as possibilidades que as mesmas ofereciam na busca pela liberdade, além disso, como ressaltou a autora as chances de uma pessoa escravizada conseguir a liberdade morando nas áreas urbanas eram maiores do que aquelas que moravam nas áreas rurais.
De acordo com Cowling as duas libertas se apegaram as brechas da lei e fizeram omesmo tipo de alegação para contestar a legitimidade do domínio senhorial. EnquantoRomana declarou que sua filha era vítima de negligência e abuso sexual, Josepha alegou que suas crianças não estavam recebendo educação. Foi com base nessas denúncias que os senhores foram acusados de maus tratos, o que implicava na perda do domínio sobre as mencionadas crianças, conforme a legislação de Cuba e do Brasil respectivamente determinava.
No livro de Cowling, a leitora e o leitor interessado no tema pode verificar que as perguntas feitas a documentos como petições, ações judiciais, correspondências, jornais, obras literárias, imagens e legislação explicitam que as mulheres escravizadas, libertas e “livres de cor” sempre estiveram no centro da luta por liberdade legal. Isso porque as noções de gênero foram determinantes para o modo como elas vivenciaram a escravidão e consequentemente influenciaram em suas escolhas na luta pela conquista da manumissão. Além disso, especialmente nas décadas de 1870 e 1880, elas que sempre estiveram na linha de frente das disputas judiciais foram colocadas ainda mais no centro do processo da abolição gradual da escravidão.
As Romanas e as Josephas foram muitas nas duas cidades portuárias investigadas pela autora e com o objetivo de conseguir a própria liberdade e de suas crianças, elas se apegaram a argumentos legais tomando como base a legislação, como a Lei Moret de 1870 e a Lei do Patronato de 1880, em Cuba; e a Lei do Ventre Livre de 1871, no Brasil, mas também se apegaram a argumentos extralegais baseados em valores culturais como o“sagrado” direito a maternidade, apelando para piedade e a caridade das autoridadespara os quais levaram suas demandas de liberdade para serem julgadas.
Para Cowling, sobretudo, a retórica da maternidade era tão forte que era utilizada tanto por mulheres ao reivindicarem a liberdade de suas filhas e filhos como nos casos em que eram os filhos que buscavam libertar suas mães, e mesmo, nos casos em que os pais apareceram junto com as mães tentando libertar suas crianças, a opção era por colocar a maternidade no centro.
Não poderia deixar de trazer para este texto aquele que a meu ver é um dos pontos mais fortes da obra. Trata-se da opção da autora de enfrentar o tema da violência sexual contra “mulheres de cor”, aspecto da vida de muitas dessas personagens, ainda pouco explorado pela historiografia brasileira, seja devido ao sub-registro dessa violência na documentação disponível que era escrita em sua maioria por homens da elite e autoridades muitos dos quais também proprietários de cativas, seja devido à própria tradição de priorizar outros aspectos da experiência das pessoas.
Para a autora a tradição de violar o corpo de “mulheres de cor” era naturalizada entre os senhores e os homens da lei tanto que os primeiros não viam qualquer impedimento à prática de estuprá-las. Por isso mesmo, a falta de proteção extrapolava a condição de cativas e nem mesmo a liberdade legal era garantia de proteção ou reparação contra aqueles que as forçassem a ter relações sexuais com eles ou com outros (muitas escravizadas eram forçadas a prostituição por suas proprietárias e proprietários).
No entanto, se por um lado, ao se depararem com denúncias de violência sexual as autoridades geralmente posicionavam-se a favor dos agressores, inclusive responsabilizando as próprias “mulheres de cor”, prática que tinha a ver com a imagem que esses homens de maneira geral faziam desse grupo social considerado por eles como lascívias e corruptoras das famílias da elite. Por outro, ao procurar à justiça para denunciar a violência sexual elas explicitavam sua própria compreensão sobre si mesmas. Ao fazer isso Romana e várias outras estavam dizendo que acreditavam ter conquistado para si e para suas filhas o direito de poder dizer não para um homem com quem não quisessem fazer sexo.
Cheguei ao epílogo da obra convencida por Cowling de que embora Romana e Josepha tenham vivido em lugares diferentes e nem se quer se conhecessem, caso tivessem tido a oportunidade de se encontrar naqueles anos cruciais de suas vidas, elas teriam muito que conversar. Inevitavelmente suspeito ainda que várias mulheres negras do século XXI que tiverem acesso as minúcias do itinerário das personagens trazidas no trabalho terão a sensação de que também poderiam participar da conversa.
Por fim, acredito que as questões levantadas ao longo da obra sob vários aspectos servirão de inspiração para historiadoras e historiadores empenhados na reconstituição tanto quanto possível da vida de mulheres escravizadas, libertas e “livres de cor”, bem como de seus familiares e das pessoas com as quais elas se aliaram na construção de outros tantos processos coletivos de luta por liberdade legal.
Karine Teixeira Damasceno – Pós-Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura (PUC-Rio), Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
COWLING, Camillia. Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e a abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro. Tradução: Patrícia Ramos Geremias e Clemente Penna. Campinas: UNICAMP, 2018. 440p.. Resenha de: DAMASCENO Karine Teixeira. “Mulheres de cor” no centro da luta por liberdade legal em Havana e no Rio de Janeiro. Canoa do Tempo, Manaus, v.11, n.2, p.294-297, out./dez., 2019. Acessar publicação original.
Gênero e consumo no espaço doméstico: representações na mídia durante o século XX na Argentina e no Brasil | Inés Pérez Marinês Ribeiro dos Santos
Gênero e consumo no espaço doméstico: representações na mídia durante o século XX na Argentina e no Brasil é o título do livro organizado por Inés Pérez e Marinês Ribeiro dos Santos a partir de artigos apresentados no 10º Seminário Internacional Fazendo Gênero (2013). A publicação tem como objetivo analisar, por meio dos artefatos, práticas e difusão do consumo, a construção de noções de feminilidades e masculinidades que incidem sobre a divisão sexuada do trabalho, a organização, a concepção e a ocupação do espaço habitado.
Temas afins foram pesquisados pelas organizadoras em suas teses de doutorado a partir dos campos da história da família e do design e da perspectiva de gênero. Enquanto Pérez (2012) analisou as transformações nas estruturas familiares na Argentina dos anos 1940 e 1970 em relação às dinâmicas de gênero e ao processo de industrialização da vida doméstica, Santos (2015) investigou as relações entre as transformações de gênero no Brasil dos anos 1960 e 1970 e a assimilação da linguagem pop no design de produtos. No desenvolvimento das pesquisas foi ficando clara a centralidade do consumo para a compreensão da modernidade, uma vez que a estruturação de um mercado diversificado de artefatos produzidos em massa foi acompanhada por discursos que contribuíram para a estratificação das vendas e a desigualdade de aquisição por gênero, classe e raça, incidindo nos ambientes urbano e doméstico, este último alvo privilegiado da produção industrial no período. Leia Mais
Gênero e Desigualdades: os limites da democracia no Brasil | Flávia Biroli
Como garantir a maior participação política (nas diferentes esferas) das minorias? De que maneira é possível superar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres (como limitação temporal, causada pelo acúmulo de responsabilidades do trabalho doméstico, cuidado e maternidade) para um maior envolvimento político? Que direitos ainda são negados às mulheres e às pessoas LGBTQI+ pela democracia 1 brasileira? Como os feminismos têm contribuído para uma sociedade mais igualitária no que tange aos direitos e à participação política? Quais foram os avanços, os limites e as desigualdades ao longo das últimas décadas no Brasil? Essas e muitas outras questões foram respondidas por Flávia Biroli no livro Gênero e Desigualdades: os limites da democracia no Brasil, publicado no ano de 2018, no qual enfatiza, como anunciado no título, as limitações, as desigualdades e as relações de gênero presentes na democracia brasileira, a partir de uma análise que entrelaça local/global e as diferentes teorias feministas.
Flávia Milena Biroli Tokarski é formada em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (UNESP), e possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Ao longo de seus anos de pesquisadora e professora no Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB), tem se dedicado às temáticas da democracia, política, estudos de gênero e teoria feminista, sobretudo, com enfoque nas áreas de mídia e política. Suas principais publicações, além do livro resenhado aqui, são: Caleidoscópio convexo: mulheres, política e mídia (2011, publicado com Luis Felipe Miguel), Autonomia e desigualdades de gênero: contribuições do feminismo para a crítica democrática (2013), Família: novos conceitos (2014) e Feminismo e Política (2014, também com Luis Felipe Miguel). Leia Mais
Mulheres, Gênero, Sertanidades | SÆCULUM – Revista de História | 2019
Pretendemos, com este breve balanço apresentado na forma de ensaio, dar conta de apresentar um campo que começa a se consolidar, agregando pesquisas e trabalhos acadêmicos em torno da temática gênero e sertões. Mapeado inicialmente por esforços isolados e pontuais, o campo passa pela formação de uma rede que começa a atuar em conjunto, ganhando aos poucos espaço e reconhecimento, abrindo territórios intelectuais próprios. Entre competências científicas e afetos, as trocas e os compartilhamentos estão na base dessa proposta de pensar sertanidades com perspectivas outras, que buscam ir além da leitura e interpretação dos clássicos e da visibilidade dos “cabra-machos” e coronéis. Os sertões que aparecem são narrados na ótica das mulheres, das práticas sociais invisíveis, dos sujeitos antes considerados impossíveis, deslocados, seja nos termos de existências e vivências socialmente localizadas, mas, mais ainda, na visibilidade de suas histórias, trajetórias e memórias.
Se buscarmos nos embrenhar nos sertões da teoria, iremos perceber a necessidade da aproximação com outras noções que demarquem uma ausência ou um afastamento de uma historiografia preponderante, de mainstream, protagonizada por universidades localizadas em eixos historicamente privilegiados, como as regiões sudeste e sul do Brasil. Leia Mais
Darwinismo, raça e gênero: projetos modernizadores da nação em conferências e cursos públicos (Rio de Janeiro, 1870-1889) | Karoline Carula
A década de 1870 assinala o momento da chegada ao Brasil das “ideias novas”, como destacou Silvio Romero. Entre estas ideias, uma, o darwinismo, logrou grande sucesso entre os pensadores que buscavam fazer do Brasil um país moderno e civilizado. O darwinismo sofreu diversas apropriações e direções discursivas, sendo isto perceptível nas discussões que ocorriam nos jornais e revistas da Corte. Como exemplo dessa ampla difusão do darwinismo, temos o encontro do cientista francês Louis Couty com um fazendeiro de nome Tibiriçá. Dizia Couty (1988, p.98): “Estava eu percorrendo os títulos dos livros que via sobre a mesa de meu anfitrião, [Charles] Darwin, [Herbert] Spencer” e admitia “sem surpresa que os via ali, e que os via trazerem as marcas de uma leitura prolongada”.
O leitor que abrisse os jornais, como a Gazeta de Notícias ou o Jornal do Commercio , entre as décadas de 1870 e 1880, encontraria várias chamadas para conferências e cursos públicos na Corte que tratavam dos mais diversos assuntos discutidos pela ciência na época, quase todos perpassados pela perspectiva do darwinismo. O homem de letras desse período tinha uma ampla programação de ciência para realizar nos espaços públicos da capital do Império. Decorriam disso discussões e sociabilidades novas, permeadas pelas várias interpretações da teoria de Charles Darwin. Esse assunto é objeto de exame do livro Darwinismo, raça e gênero , escrito por Karoline Carula e publicado pela Editora Unicamp. O livro é resultado de sua pesquisa de doutoramento em história social defendida na Universidade de São Paulo. Atualmente, Carula é professora de história na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Leia Mais
A violência de gênero nos espaços do Direito: Narrativas sobre ensino e aplicação do direito em uma sociedade machista – SCHINKE (RTA)
SCHINKE, Vanessa Dorneles (Org.). A violência de gênero nos espaços do Direito: Narrativas sobre ensino e aplicação do direito em uma sociedade machista. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 388 p. Resenha de: REIS, Jade. Relações de Gênero nos espaços do Direito: experiências compartilhadas. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.11, n.27, p.523-529, maio/ago., 2019.
Diversos relatos de mulheres advogadas sobre o seu ofício diário mostram que durante sua trajetória jurídica lhes são apresentados empecilhos e violências simbólicas que envolvem as relações de gênero. Não coincidentemente, a coletânea de artigos organizada pela professora e doutora em Direito Vanessa Dorneles Schinke, objeto desta resenha, aborda experiências de mulheres da área do Direito, em carreiras absolutamente marcadas pelos estereótipos historicamente construídos nas relações de gênero.
O livro, lançado no ano de 2017, é dividido em três partes, sendo a primeira delas o “Prelúdio”, na qual estudantes de Direito narram suas trajetórias e experiências da vida universitária, bem como expressam as relações complexas de poder que permeiam estes espaços. O exercício de questionar e historicizar a situação das mulheres está presente nesta parte, assim como em todo o livro, bem como o de refletir sobre o papel de educadoras e operadoras do Direito em uma sociedade machista. Para as autoras, partindo da perspectiva de que, por muito tempo, este campo científico foi essencialmente masculino em termos de representatividade, e tendo em vista a luta das mulheres pela democratização do ensino superior e do mercado de trabalho, sua presença nestes espaços e no espaço público de maneira geral, estudando, profissionalizando-se, adentrando carreiras e cargos públicos, se apresenta como um avanço no que se refere ao árduo processo de ocupação dos espaços considerados pela norma patriarcal como “masculinos”.
A segunda parte, intitulada “Andante”, conta com doze artigos escritos por professoras, estudantes de graduação, pós-graduação e operadoras do Direito. Esta tem como foco temático questões que, como afirmam, não encontram espaço na circulação acadêmica do campo do Direito, mas fazem parte das experiências e cotidianos destas mulheres no âmbito universitário, como, por exemplo, nas salas de aula e instâncias politicamente deliberativas do meio universitário. As autoras buscam, por meio da narrativa de suas experiências, problematizar a naturalização de práticas violentas e machistas no ensino do Direito.
Segundo estas autoras, a condição de gênero expressa nas relações sociais no campo do ensino do Direito é definida historicamente a partir da socialização e das definições impostas pela sociedade patriarcal, gerando assim o problema da ausência de reconhecimento e a descrença no seu potencial de desenvolvimento na área jurídica. Roberta Baggio, professora do curso de Direito da UFRGS relatou em seu artigo que, na banca de um concurso público que prestou, ouviu de um membro a seguinte frase “como pode você ser mulher e ter um currículo com tantas experiências acadêmicas ao mesmo tempo?” (BAGGIO, 2017, p. 66), demonstrando assim o grau de incapacitação destinado às mulheres em suas avaliações de emprego, o que é por vezes um fator determinante em suas trajetórias profissionais. A autora afirma que na medida em que o ensino do Direito contribui para tais práticas, formam-se juristas que naturalizam as violências de gênero, culpabilizam e responsabilizam as mulheres pela cultura machista em casos de opressão.
As violências físicas e simbólicas existentes nos “trotes” nos cursos de Direito são, também, tema de abordagem nesta parte do livro. Violências estas que, muitas vezes advindas dos professores, envolvem provocações e incitações machistas, homofóbicas, transfóbicas e racistas, nas quais os corpos femininos são objetificados. Estudantes e professoras se organizam em ações contra os episódios de extremo machismo e preconceitos na universidade através de cartas de repúdio, escrachos, atos e movimentações, criação de coletivos e meios de solidariedade e articulações via internet e redes sociais. No entanto, denunciam as poucas oportunidades de debater gênero e violência nos cursos de Direito, bem como nos demais cursos de graduação e pós-graduação. A pesquisa realizada pela advogada Luana Pereira com estudantes da faculdade de Direito da UFRGS revela que 69% destas afirmaram já ter sido vítimas de práticas machistas na academia, 52% afirmaram ter passado por situações de assédio moral e 19,4% assédio sexual (PEREIRA, 2017, p. 94). Muitos dos casos de extrema violência de gênero que ocorrem nestes espaços têm repercussão em nível público, atingindo assim um maior número de mulheres, formando uma rede de sociabilidades e luta contra tais práticas. Todavia, o silenciamento dos assédios continua sendo uma realidade para as mulheres, professoras, estudantes e funcionárias técnicas e terceirizadas. Segundo a advogada Alice Abelar, na PUCRS, dentre 126 professores de graduação, 26% são mulheres. Apenas 20% na Pós-graduação em Direito e 10% na Pós-graduação em Ciências Criminais. Estes dados evidenciam a dificuldade do acesso das mulheres ao cargo de professora universitária, enquanto que não há discussão e questionamento sobre o assunto que não sejam impulsionados pelas mulheres, e daí a importância de sua representatividade.
A partir da leitura da obra é possível observar que entre as décadas de 1970 e 1990, com a crescente expansão das universidades, as mulheres passam a ter maior expressão neste campo, ainda que com as demarcações de classe e raça. Problematizar a violência de gênero nestes espaços deve considerar a gritante ausência de mulheres negras, indígenas e deficientes no ensino superior, que tem se democratizado processualmente a partir das lutas dos Movimentos Sociais e dos incentivos governamentais, como, por exemplo, a Lei n.º 12.711 de 2012 (Lei de Cotas).
O machismo dentro da militância do movimento estudantil também é apontado pelas autoras, na medida em que os estudantes homens ocupam cargos de representatividade, interrompem as falas de companheiras do movimento, não levam em consideração suas boas ideias, considerando-as apenas auxiliares de determinadas funções dentro das organizações.
As mulheres encontram-se em árduo combate político na academia, espaço que durante muito tempo fora homogeneizado pela presença masculina. Por isso a importância dada às professoras e militantes deste espaço na construção de diferentes futuros para estas mulheres. A terceira parte da coletânea, intitulada “Adagio”, reúne o total de onze artigos que apresentam criticamente a disputa de gênero no interior do judiciário, no qual a presença das violências simbólicas se destaca sobremaneira. Nesta parte da obra em questão, são narrados diversos casos que apresentam a naturalização e o descaso com as violências de gênero expressas no campo.
Marta Machado e Fernanda Matsuda, em seu estudo sobre a representação das mulheres nos processos judiciais no Sistema de Justiça Criminal, apontam que o discurso sobre as mulheres apresenta figuras dicotômicas idealizadas de mulher, sendo a “boa mulher” de família, boa esposa, dedicada, trabalhadeira, e a “mulher desafiadora, festeira, nervosa” (MACHADO e MATSUDA, 2017, p. 196), enquanto que os homens são sempre representados como pais de família, honestos e trabalhadores. As violências cometidas por estes, segundo as autoras, são rotineiramente justificadas nas salas de audiência pelo “mau comportamento” das mulheres, e apontadas como comportamento isolado dos homens. Estas demarcações interferem sobremaneira nos desfechos processuais das ações, legitimando, por vezes, danos irreparáveis às vidas de mulheres que são vítimas das violências de gênero, raça, etnicidade e demais preconceitos.
Segundo as autoras, os órgãos do Sistema Judiciário não reconhecem tais violências, e portanto não incidem os dispositivos legais específicos para os respectivos casos. Neste sentido, percebemos a desigualdade de gênero do exercício de poder nas instâncias do Judiciário brasileiro, o que está expresso, também, na baixa representatividade das mulheres nas esferas de decisão das organizações jurídicas, igualmente abordadas nesta parte do livro. Da mesma forma, ocorre nos escritórios de advocacia, nos quais a pesquisadora Patrícia Bertolin observou alto número de evasão de mulheres, ainda que nas entrevistas realizadas com os advogados homens que trabalham nestes espaços tenha sido frequente a negação de qualquer tipo de discriminação de gênero. A maternidade nesta profissão parece ser um dos principais problemas aparentes que obstacularizam a ascensão das mulheres no meio, como um “problema a ser resolvido”. Nesse sentido, é consenso entre as autoras que a advocacia é uma profissão que vem se femilinizando, mas ainda nos padrões machistas excludentes, obrigando as mulheres a afirmar e provar o tempo todo sua competência e eficiência profissional.
O livro “A violência de gênero nos espaços do Direito” é uma obra sobre experiências cotidianas. Um manifesto de mulheres feministas. Mulheres que lutam pela igualdade e promoção de direitos. Trata-se de pesquisadoras guiadas pela epistemologia feminista, que buscam problematizar seus posicionamentos e lugares de fala de forma interseccional, considerando os diferentes tipos de opressão decorrentes dos diversos marcadores sociais historicamente constituídos em nossa sociedade. Suas narrativas expressam uma série de subjetividades, com as quais se identificam o tempo todo as mulheres que as leem. Estas narrativas, como afirmam diversas vezes as autoras, saem da posição estritamente acadêmica, na medida em que tratam de experiências de mulheres que vivenciam as violências e demarcações de gênero não apenas nos espaços do Direito, mas na sociedade como um todo. A pesquisadora e organizadora da obra, Vanessa Dorneles Schinke, apontou ao encerrar as discussões realizadas no livro: “Aqui não há linha clara entre sujeito e objeto, empiria e teoria. O resultado é uma complexa composição que se retroalimenta da colaboração entre diversas pessoas – verbais e de carne e osso” (SCHINKE, 2017, p. 367) São diversos os arcabouços teóricos sobre Relações de Gênero e Teoria Feminista, específicos de cada temática abordada, utilizados nos 23 artigos que compõem a obra. Dentre eles, estão os que possibilitam articular as categorias como gênero e poder, através dos escritos de Michel Foucault e Joann Scott, por exemplo, gênero, raça e interseccionalidade, através dos estudos das teóricas Kimberlé Crenshaw e Helena Hirata, por exemplo, gênero e classe social, utilizando como referencial teórico os escritos da socióloga Heleieth Saffioti, dentre outras. Bem como referenciais teóricos clássicos dos estudos de gênero, como Simone de Beauvoir, Judith Butler e Bell Hooks, por exemplo. As autoras partem, em comum, da já mencionada epistemologia feminista, na medida em que têm como proposta a mudança do paradigma referencial das experiências compartilhadas pelos sujeitos e abordadas nas pesquisas científicas. A lógica da narrativa de suas experiências vivenciadas no campo alinha-se na epistemologia feminista, na medida em que justamente descola a figura masculina como detentora principal das discussões acerca das relações no meio jurídico.
A universidade e os demais campos do Judiciário são entendidos por estas pesquisadoras como espaços privilegiados da reprodução de uma cultura machista e sexista, mas são também expressos como espaços de luta e resistência de mulheres pela democratização dos espaços do Direito.
Jade Liz Almeida dos Reis – Mestranda em História na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Florianópolis, SC – BRASIL. E-mail: [email protected].
Women as Foreign Policy Leaders: National Security and Gender Politics in Superpower America – BASHEVKIN (REF)
BASHEVKIN, Sylvia. Women as Foreign Policy Leaders: National Security and Gender Politics in Superpower America. Oxford: Oxford University Press, 2018. Resenha de: SALOMÓN, Mónica. La política exterior ya no es cosa de hombres. Revista Etudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.2, 2019.
¿En qué medida las mujeres que ocupan altos cargos en el poder ejecutivo representan a las mujeres como un todo o categorías específicas de mujeres? ¿Qué nos dice el desempeño de mujeres con responsabilidad en la conducción de la política exterior y de seguridad de sus países – y, específicamente, de los Estados Unidos – en relación a la discusión sobre la supuesta mayor disposición al pacifismo de las mujeres en comparación con los hombres? ¿Las decisiones de esas mujeres son evaluadas con los mismos criterios habitualmente empleados para juzgar a sus homólogos masculinos?
Women as Foreign Policy Leaders avanza en las respuestas a esas y a otras instigadoras preguntas centrales en las discusiones del campo de conocimiento de género y política y en sus intersecciones con otras áreas, como los estudios sobre seguridad internacional, la historia diplomática o el análisis de política exterior. Lo hace a través del estudio de las trayectorias vitales y políticas de cuatro mujeres que ocuparon altos puestos diplomáticos en los Estados Unidos: Jeane Kirkpatrick, embajadora ante la ONU durante la administración Reagan; Madeleine Albright, primera embajadora ante la ONU y luego secretaria de estado con Bill Clinton; Condolezza Rice, consejera de seguridad nacional en el primer mandato de George W. Bush y secretaria de estado en el segundo mandato y por último Hillary Clinton, secretaria de estado en el gobierno Obama. Leia Mais
Linguagens pajubeyras: re(ex)istência cultural e subversão da heteronormatividade – LIMA (REF)
LIMA, Carlos Henrique Lucas. Linguagens pajubeyras: re(ex)istência cultural e subversão da heteronormatividade. Salvador: Devires, 2017. Resenha de: OLIVEIRA, João Manuel de. Performatividade Pajubá. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.2, Florianópolis, 2019.
Este livro, editado pela Devires, que no panorama editorial brasileiro tem sido vital para sustentar e fomentar uma cultura de literatura e ensaio queer, é um marco no pensamento sobre subversão da heteronormatividade que poderíamos chamar de kuir/queer. Carlos Henrique Lucas Lima, autor da obra, recorre ao termo queer, sem o manter acriticamente. Toda a obra é precisamente uma celebração, de formas de resistir culturalmente, de torcer a norma e ressignificá-la, de produzir uma teoria e prática torcidas.
Carlos Henrique Lucas Lima é professor na Universidade Federal do Oeste da Bahia e escreveu este livro como resultado do seu doutoramento em Cultura e Sociedade na Universidade Federal da Bahia e fez esse trabalho no CuS, Cultura e Sexualidades, recentemente constituído como núcleo de pesquisa. Com formação inicial em Letras e História da Literatura, o seu olhar simultaneamente interdisciplinar e indisciplinar ajuda a entender algumas das propostas intrincadas deste texto híbrido que a editora Devires publicou. Leia Mais
Género y cuidado: teorías, escenarios y políticas – ARANGO GAVIRIA et al (REF)
ARANGO GAVIRIA, Luz Gabriela; AMAYA URQUIJO, Adira; PÉREZ BUSTOS, Tania; PINEDA DUQUE, Javier. Género y cuidado: teorías, escenarios y políticas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, 2018. Resenha de: GASCA, Ells Natalia Galeano. La dimensión política del cuidado Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.2, 2019.
El libro Género y cuidado: teorías, escenarios y políticas contiene reflexiones sobre la interrelación entre las categorías de género y cuidado desde diferentes perspectivas. La edición académica a cargo de Luz Gabriela Arango, Adira Amauya, Tania Pérez Bustos y Javier Pineda Duque resulta de un esfuerzo interinstitucional entre la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes de Bogotá. Se abordan debates teóricos y aportes empíricos derivados de investigaciones de autoras/es adscritas/os a distintas instituciones alrededor del mundo, lo que permite vislumbrar cómo el fenómeno del cuidado mantiene ciertas continuidades en el nivel doméstico, local y global. Las aportaciones contribuyen a entender cómo la categoría de cuidado tiene un potencial político de importancia, sobre todo en lo referente a la necesidad de encontrar formas de relación más justas y equitativas, desde los espacios micro sociológicos que afectan la vida cotidiana, hasta los macro sociales que afectan a los colectivos.
El libro se encuentra divido en tres secciones: “Ética y ethos del cuidado”, “Escenarios y significados del trabajo del cuidado” y “Organización social del cuidado y política pública”. El primer capítulo, de autoría de Joan Tronto, es titulado “Economía, ética y democracia: tres lenguajes en torno al cuidado”. La autora hace una reflexión ética desde la óptica del cuidado, vinculando aspectos relativos a la democracia. Igualmente, reflexiona sobre las atribuciones inequitativas de responsabilidades de cuidado y las asocia con las desigualdades de poder, expresadas en la clase social, la raza, la etnicidad, la sexualidad, entre otras diferencias. Aquí, la autora tipifica diversas formas de exención de las responsabilidades. Su enfoque intenta evitar que, al considerar la dimensión ética, se dejen de lado las preocupaciones sociales y estructurales, intentando tener presentes las dimensiones morales y las asociadas a la economía del cuidado. En este sentido, considera que es importante enmarcar el cuidado de manera que nadie se entienda ni totalmente dependiente, ni totalmente autónomo. Leia Mais
Ambulare – PRADO (REF)
PRADO, Marco Aurélio Máximo. Ambulare. Belo Horizonte: PPGCOM UFMG, 2018. Resenha de: COACCI, Thiago. Como funciona a despatologização na prática? Revista Etudos Feministas, v.27, n.2, Florianópolis, 2019.
Muita tinta tem sido gasta sobre a (des)patologização das transexualidades (Guilherme ALMEIDA; Daniela MURTA, 2013; Berenice BENTO; Larissa PELÚCIO, 2012; Daniela MURTA, 2011; Amets SUESS, 2016). O assunto já foi tema de reuniões no Ministério da Saúde, de debates em várias universidades e foi discutido também na Organização Mundial de Saúde (OMS). Desde 2008, a OMS iniciou o processo de reformulação de sua Classificação Internacional de Doenças, a CID. Esse documento orienta as práticas e as políticas de saúde em todo o mundo. Até a décima revisão, publicada em 1990, as formas de vida trans eram classificadas como uma patologia mental e traduzidas no diagnóstico F64.0 – transexualismo, dentre outros códigos similares. É essa classificação, em conjunto ao DSM, que tem orientado os documentos oficiais da política pública brasileira do processo transexualizador1.
Uma das principais demandas dos movimentos internacionais de pessoas trans era justamente a despatologização dessas experiências, isto é, sua retirada desses manuais e, principalmente, sua retirada do capítulo relativo aos transtornos mentais. Diversos grupos como o GATE* e a TGEU2 se mobilizaram para influir nesse processo. Participaram das reuniões, fizeram campanhas e mobilizações internacionais para sensibilizar as/os pesquisadoras/es e profissionais envolvidas no Grupo de Trabalho responsável por repensar as práticas de cuidado com essas pessoas. O desejo sempre foi pela despatologização, todavia, como Guilherme Almeida e Daniela Murta (2013) já chamavam atenção, fazendo coro a algumas organizações do movimento social, despatologizar não pode ser sinônimo de descuidar ou desassistir. A despatologização não poderia, nem deveria implicar perda de direito para essa população. Leia Mais
Feminismo em Comum: Para Todas, Todes e Todos – TIBURI (REF)
TIBURI, Marcia. Feminismo em Comum: Para Todas, Todes e Todos. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018. 125pp. Resenha de: LUCENA, Srah Catão. Da teoria às práticas: a epistemologia cotidiana de um feminismo em comunhão. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.27, n.3, 2019.
Filósofa de formação, a também escritora, artista plástica, professora e militante associada ao Partido dos Trabalhadores Marcia Tiburi publicou seu oitavo livro de ensaios, o qual vem avultar uma produção já robusta desta intelectual que também escreve romances, livros infantis, além de participar de antologias em coautoria com outras autoras de referência no campo da filosofia, como Suzana Albornoz e Jeanne Marie Gagnebin. De maneira geral, Feminismo em Comum amplia o projeto intelectual de Marcia Tiburi ao alinhavar recortes da sua biografia profissional à sua produção escrita, dotada de um estilo perspicaz, porque sabe traduzir filosofia, política e arte em linguagem acessível. Neste volume, a escritora reúne em um total de 125 páginas um debate que conecta seus temas predominantes, filosofia e política, à problemática de gênero. Ao elaborar como a estrutura opressora do patriarcado sistematiza a ordem social e mental brasileiras de maneira a cingir a vida das mulheres, a autora propõe, através de uma dicção prática e por vezes pungente, a perspectiva feminista como uma alternativa à recuperação da democracia para todas, todes e todos.
Organizado em dezessete capítulos, o ensaio inicia com uma chamada, “Feminismo já!”, convocando leitoras e leitores a compreenderem os extremos em que se encontra a questão feminista, separada, de um lado, pelo grupo que teme e rejeita o feminismo e, do outro, pelo que se entrega ao conceito com muita esperança, mas sem necessariamente pensá-lo como prática e, portanto, modo de vivência e atuação na sociedade. A questão da transfiguração da teoria feminista em exercício social é uma preocupação atual do campo de estudos e encontra-se presente em trabalhos de referência do pensamento feminista, a exemplo de Sara Ahmed no seu Living a Feminist Life (2017). Nesse sentido, propor o feminismo como ferramenta de trabalho e modo de estar no mundo é um ponto forte do livro de Tiburi, já que sintoniza a sua discussão a um contexto amplo e universal, mas sem perder de vista a especificidade brasileira que serve como referência direta para quem tem seu livro em mãos. Leia Mais
Debates feministas. Um intercâmbio filosófico – BENHABIB et al (REF)
BENHABIB, Seyla; BUTLER, Judith; CORNELL, Drucilla; FRASER, Nancy. Debates feministas. Um intercâmbio filosófico. Trad. de Fernanda Veríssimo, São Paulo: Editora Unesp, 2018. Resenha de: SANTOS, Patrícia da Silva. Feminismo, filosofia e teoria social: mulheres em debate. Revista Estududos Feministas, Florianópolis, v.27, n.3 2019.
O discurso filosófico e teórico nas sociedades ocidentais estabeleceu-se, por muito tempo, como território predominantemente masculino. O debate acerca da boa vida e as concepções em torno de suas instituições subjacentes à filosofia e à teoria social eram, até há pouco, protagonizados por homens que se apresentavam como as vozes “neutras” e “objetivas” de nossas formulações teóricas. O que acontece quando quatro feministas se reúnem para debater suas questões em profundo diálogo com algumas das mais relevantes tendências teóricas contemporâneas – como a teoria crítica, o pós-estruturalismo e a psicanálise? É claro que não se poderia exigir dessa empreitada a homogeneidade e o consenso próprios da suposta “universalidade” com que se disfarçou a moderna racionalidade ocidental.
Debates feministas, publicado originalmente no início dos anos 1990 e só agora disponível em edição brasileira, não é somente um livro sobre teoria feminista (uma das lições implícitas é justamente a impossibilidade de se pensar tal concepção no singular). É um testemunho de que o abalo geral provocado pelo pensamento contemporâneo em concepções basilares como identidade, normas e cultura exige que sejam autorizados sujeitos de discurso até então silenciados para que a filosofia e a teoria social se dispam da falsa neutralidade e incorporem os ruídos do não-idêntico, da subversão e da diferença. Em seus debates, Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell e Nancy Fraser buscam apontar o lugar dos discursos feministas nessa tarefa de reelaboração do pensamento filosófico e teórico – as quatro pensadoras já apareciam, juntamente a outras, em volume publicado no Brasil há um bom tempo (Seyla BENHABIB; Drucilla CORNELL, 1987). Leia Mais
Género y sociedad en el Egipto romano. Una Mirada desde las cartas de mujeres – ZABALEGUI (PR)
ZABALEGUI, A. Goñi. Género y sociedad en el Egipto romano. Una Mirada desde las cartas de mujeres. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2019, 360p. Resenha de: PERALES, A. Izquierdo. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, Murcia, p.199-201, 2019.
La doctora Goñi Zabalegui nos sumerge, a partir de las cartas de las mujeres en el Egipto romano, en la historia social de Egipto bajo el dominio del Imperio. Esta publicación es la adaptación en formato libro de la tesis doctoral de la autora, Cartas papiráceas de mujeres del Egipto Romano: género y sociedad. Esta obra se incluye dentro de la Colección Deméter vinculada al grupo de investigación Deméter. Maternidad, género y familia de la Universidad de Oviedo, cuyo objetivo es la implantación y desarrollo de los estudios de género a través de dicha colección monográfica.
Para realizar este estudio la autora parte de la obra de R. S. Bagnall y R. Cribiore, Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-AD 800 que, a principios de nuestro siglo, realizaron una recopilación de los papiros y los ostraca de las mujeres desde época ptolemaica hasta parte de la Alta Edad Media. No obstante, decide profundizar en la situación concreta de las mujeres en el Egipto romano, abarcando un periodo histórico desde el siglo I a. C. al siglo III d. C. El libro se centra en tres ámbitos de la sociedad de este periodo: las relaciones sociales, la movilidad y las actividades económicas. La premisa de su autora es que un estudio exhaustivo de las cartas de este momento puede aportar una visión sobre las relaciones de género y de poder, así como la situación en que se encontraban las mujeres en este contexto.
En el primer capítulo se analizan las cartas en papiro de mujeres y la práctica epistolar durante este periodo. La autora señala que, en general, el acceso al papiro no fue caro ni difícil, aunque en algunas zonas el acceso al mismo debió ser más caro, por lo que parece ser el motivo por el cual encontramos reutilización de papiros o el uso de ostraca. Por otro lado, mientras que durante el Egipto ptolemaico la documentación se halla principalmente en el contexto funerario, en el Egipto romano aparece en el espacio urbano. No obstante, hay pruebas de correspondencia en época ptolemaica, ya que había un sistema bastante desarrollado de correspondencia entre el monarca y los subordinados, aunque la mayor parte de las cartas en papiro proceden de época romana.
Durante el segundo capítulo se retratan las relaciones sociales a través de la correspondencia. La familia constituye entonces la unidad básica de organización social y, por otro lado, es un vehículo de construcción de identidades. Había diferentes tipos de familia (nuclear, extensa, y hermanos y/o hermanas que convivían de forma independiente o con sus parejas en una misma vivienda) que podían variar dependiendo del cambio de estatus del individuo. Además, los matrimonios consanguíneos fueron habituales hasta su desaparición en el siglo III d. C. Asimismo, se trata de un periodo con altas tasas de mortalidad, un factor que influyó a las estructuras familiares de la época, y en el caso de las mujeres hay muchas muertes vinculadas al parto.
En cuanto a la situación de la mujer, mientras que el derecho egipcio proporcionaba una mayor libertad a las mujeres, en época ptolemaica se introduce la figura del tutor legal para las féminas, que continúa hasta época romana. Aunque las mujeres siguieron gozando de cierta autonomía pese a esta figura legal, se vieron afectadas ya que, aunque no dependían del tutor para gestionar propiedades o negocios, o para presentar una demanda, sí que precisaban de su compañía en determinados momentos de procesos judiciales, y, por otro lado, su participación política se vio afectada por el derecho latino y las limitaciones que este establecía para desempeñar la mayoría de oficios públicos en la zona griega del Imperio romano. Dentro del contexto familiar, al mismo tiempo, las mujeres tenían un papel importante dentro de la vida de los hijos en la tradición greco-egipcia: las madres, incluso las abuelas, podían decidir sobre la vida de los hijos.
En cuanto a las relaciones fuera del núcleo familiar las amistades también tenían un papel importante en la sociedad grecolatina, sin embargo su concepto de amistad va más allá del actual, ya que adquieren un papel primordial dentro de la esfera pública y política.
Por otro lado se encuentran las relaciones de dependencia, los esclavos y las esclavas por ejemplo, aunque en las cartas aparecen en ocasiones difuminados con otro grupo de personas cuyo estatus no aparece definido, pero que sabemos que recibían un jornal muy pequeño, por lo que su relación de dependencia podría equipararse a la de los esclavos. En las cartas la forma de comunicación de las personas dependientes es diferente, porque se muestra la necesidad o el deseo de desempeñar correctamente la tarea que se les ha encomendado, ya que probablemente en el pasado recibieron alguna crítica por no haber desempeñado bien la función encomendada, como bien señala la autora.
Se destaca que las relaciones sociales no solo están marcadas por el poder, sino que también están influidas por la reciprocidad, algo que tuvo una gran importancia en el mundo grecorromano. La reciprocidad regulaba todas las relaciones sociales, pero también las relaciones entre las personas y los dioses.
En el tercer capítulo aborda los espacios relacionados con las cartas, desde el hogar hasta los viajes. El acceso a la vivienda en el Egipto romano era privilegiado en esta provincia, cuyo valor económico lo podemos estudiar a través de contratos (alquiler, compraventa, matrimoniales), testamentos, así como los préstamos de dinero en los que se hipoteca la casa. Por otro lado, la diferencia entre lo público y lo privado es fundamental para entender los roles de género en el mundo antiguo. El papel de la mujer en la vida pública queda muy limitado debido al derecho latino, por lo que solo realizaron participaron en algunas actividades religiosas con poco poder ejecutivo, siempre determinadas por el estatus económico de las mujeres.
Asimismo hay pruebas en las cartas de los viajes de las mujeres. Dependiendo de la situación socioeconómica de cada mujer podía viajar sola o acompañada: había mujeres que solo estaban acompañadas por otros viajeros del camino, conocidos o familiares, y esclavos o escoltas en el caso de las mujeres de un estatus social elevado.
A lo largo del cuarto capítulo se detiene a analizar el rol de las mujeres dentro de la economía a través de las cartas privadas. En de este contexto el papel de las cartas fue fundamental, ya que en ellas se produce la comunicación de gestiones administrativas, por lo que forman parte de un corpus de documentación administrativa que nos permite entender la distribución y administración de la economía durante este periodo. Durante el periodo de ocupación romana se consolida la propiedad privada, lo cual provoca una fragmentación de la misma y el aumento de las parcelas pequeñas en la chora egipcia, fruto de las herencias, lo cual determina la situación socioeconómica tanto de hombres como de mujeres.
Finalmente la autora proporciona al lector un apartado de anexos: en el primer anexo encontramos una serie de tablas descriptivas con el nombre del documento, el emisor o emisora, el destinatario o destinataria, el lugar donde se ha encontrado el documento, y la fecha en que está datado; en el segundo anexo describe y analiza brevemente cada una de las cartas que se han tenido en cuenta para la realización de su estudio; y, finalmente, en el tercer anexo la autora proporciona una serie de mapas e ilustraciones.
En definitiva, el trabajo realizado por Goñi Zabalegui es, sin lugar a dudas, fundamental, no solo para entender la historia del Egipto grecorromano, sino también para el estudio del Imperio romano, la historia de género, la historia de la economía y la historia social. Además, a través de esta obra se contribuye claramente al desarrollo y la difusión de la papirología. Su obra tiene una magnífica profundidad y diversidad cuyo alcance va más allá de un estudio de género, ya que la cantidad de datos y perspectivas que maneja la autora demuestran la calidad de su estudio. Por otro lado resultaría sumamente interesante ampliar este mismo estudio a los otros periodos que aparecen en la obra de Bagnall y Cribiore, para así culminar realizando un estudio comparativo de los cambios sociales y de la construcción del género entre el año 300 a. C. y el 800 d. C. Asimismo, también supondría un gran aporte científico una profundización en la historia emocional a través de las cartas de las mujeres: por ejemplo, tratando cómo vivían su emocionalidad y qué tipo de vínculos se generaban dentro de la familia. No obstante, el estudio de la autora ya es de por sí bastante extenso y polifacético, y es en sí mismo un gran aporte para el mundo de la investigación.
Alejandra Izquierdo Perales – Universidad Complutense de Madrid.
[IF]
Calibã e a bruxa – FEDERICI (Topoi)
FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa. Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Trad. de Coletivo Sycorax, São Paulo: Elefante, 2017. I Tomo, Migraciones. Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017, 194p.p. Resenha de: REIS, Marcus. A normatização dos corpos e a regulação dos gêneros no processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Topoi v.19 n.39 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2018.
Calibã e a bruxa não é um livro que foge aos debates atuais envolvendo o movimento feminista. O fato de a tradução desta obra para o português ter sido encabeçada justamente por um “Coletivo”, o Sycorax, demonstra o alcance desse trabalho para além do contexto estadunidense. A proposta de Silvia Federicié clara ainda na introdução de sua obra, afirmando seu desejo em “esboçar a história das mulheres na transição do feudalismo para o capitalismo” como modo de explicar a relação entre essa história e a exploração decorrente desse processo. Por outro lado, não se desvincula dos primeiros momentos em que o feminismo se posicionou contrariamente ao status quo, ainda que a publicação original seja de 2004.
Não há, ressalte-se, um apego ao anacronismo por parte de Silvia Federici, como se o conceito de gênero fosse utilizado para enxergar as raízes do feminismo na Época Moderna. A originalidade de sua obra consiste em se preocupar não apenas com a multiplicidade que o conceito de mulher possui, mas principalmente com os espaços sociais distintos e atrelados ao fenômeno sobre o qual a autora se debruça. É nesse sentido que Federici parte para o uso em plural da ideia de mulher, assumindo, no âmbito de seu trabalho, o entendimento de que as práticas capitalistas são essenciais para perceber como as relações sociais em que as mulheres se inseriram estiveram marcadas por um contexto de exploração (p. 27).
Há, também, a preocupação em discutir os conceitos de caráter marxista antes mesmo de operacionalizá-los, como a noção de acumulação primitiva. Ao tratar dessa noção, a autora a articula ao objetivo central de sua obra, a “caça às bruxas”, afirmando que esse fenômeno, seja no mundo europeu ou no Novo Mundo, “foi tão importante para o desenvolvimento do capitalismo quanto a colonização e a expropriação do campesinato europeu de suas terras” (p. 26). É nesse objetivo que, aliás, Federici destaca seu distanciamento das análises de Marx na medida em que o autor, a seu ver, negligenciou a participação das mulheres no contexto da acumulação primitiva. Se Marx “tivesse olhado sua história {do capitalismo} do ponto de vista das mulheres” (p. 27), não teria afirmado que o capitalismo prepararia o caminho para a libertação do proletariado. É, portanto, na tentativa de ampliar a ótica marxista ao atrelá-la à categoria de gênero que seu trabalho se insere, dividindo-se em cinco capítulos.
Seu primeiro capítulo, intitulado “O mundo precisa de uma sacudida”, parte essencialmente da discussão voltada ao surgimento dos Estados Absolutistas, iniciando o debate ainda no contexto da Baixa Idade Média, caracterizada pelas relações de servidão e seus conflitos. No campo das relações de gênero, a contribuição da autora reside no interesse em atrelar o surgimento desses Estados a uma forte política de regulação dos sexos, dos papéis sociais que homens e mulheres deveriam cumprir, apontando para o forte revés sofrido pelas mulheres por conta da legalização do estupro. O resultado disso, para além da degradação da honra feminina, foi o fato de que essa legalização “insensibilizou a população frente à violência contra as mulheres, preparando o terreno para a caça às bruxas que começaria nesse mesmo período” (p. 104).
“A acumulação do trabalho e a degradação das mulheres” confere título ao segundo capítulo da obra de Federici, acompanhando a lógica que finalizou o capítulo anterior, atrelando a emergência dos Estados Absolutistas à maior degradação social das mulheres e à emergência de uma nova feminilidade. É nesse espaço de discussões que, por exemplo, a autora retoma o conceito de acumulação primitiva. Ao defender a hipótese de que esse conceito não diz respeito apenas a uma “acumulação e concentração de trabalhadores exploráveis e de capital”, a autora o entendeu como contexto de reformulação das relações de trabalho a partir da sujeição das mulheres. No entender de Federici, esse contexto contribuiu para o processo de ressignificação das funções sociais prescritas às mulheres, que teria atingido seu auge no século XIX “com a criação da dona de casa em tempo integral”, na medida em que à figura feminina coube exclusivamente o papel de reprodutora, distanciando-a da vida pública por conta da nova divisão sexual do trabalho.1
É também nesse segundo capítulo que a autora passa a apresentar com mais clareza sua hipótese central de trabalho: o fenômeno de caça às bruxas corresponderia à maior derrota sofrida pelas mulheres na medida em que teria culminado no surgimento de um novo modelo de feminilidade. As mulheres seriam, assim, destituídas do universo público, relegadas ao papel de reprodutoras, esposas, viúvas ou prostitutas, ficando, por fim, distantes das “relações coletivas e {dos} sistemas de conhecimento que haviam sido a base do poder das mulheres na Europa pré-capitalista” (p. 187). Desse modo, até finais do século XVII o que predominou foi um novo “cânone cultural”, encarando as mulheres como “selvagens, mentalmente débeis, de desejos insaciáveis, rebeldes, insubordinadas, incapazes de se controlarem”.
Seu terceiro capítulo, “O grande calibã”, analisa como esse processo de disciplinamento dos corpos direcionado às mulheres foi colocado em prática ao longo da Época Moderna, já que, no capítulo anterior, a autora discutiu as bases que permitiram o avanço dessa estrutura normativa. Esse novo contexto foi caracterizado pela dicotomia da “Razão e as Paixões do Corpo”. Como pano de fundo desse binômio, enxergou a emergência de uma “engenharia social” interessada em reinterpretar as funções do corpo e inseri-lo numa nova lógica em que este foi encarado como fonte de todos os males. Sob a filosofia mecanicista, interessada amplamente em destrinchar as funções corporais, Federici percebeu como o controle da classe dominante sobre o mundo natural se deu progressivamente até culminar no “controle sobre a natureza humana”. Como consequência, ocorreu a morte do conceito de corpo enquanto receptáculo de forças mágicas, amplamente difundido ao longo do Medievo. Aqui, sentimos falta de uma reflexão mais atenta à diversidade documental do período. Nesse sentido, em que medida essa morte de fato teria ocorrido nos séculos XVI e XVII se tomássemos por base as narrativas presentes nos processos dos diversos tribunais do Santo Ofício, e não somente os tratados da época?
Outro argumento empregado por Federici baseia-se no crescente interesse da burguesia em desclassificar a magia, encarando-a como principal entrave para o disciplinamento social e, por consequência, do trabalho. Esse ataque aos indivíduos que se valiam do sobrenatural como forma de resposta às demandas cotidianas, foi, inclusive, um dos principais alicerces para que os Estados investissem na perseguição contra a magia, resultando no fenômeno que é base do trabalho da autora. Disciplinar o corpo esteve, portanto, diretamente relacionado à desconstrução da magia, ambas tornando-se “laboratório no qual tomou forma e sentido a disciplina social” (p. 261).
Seu penúltimo capítulo, “A grande caça às bruxas na Europa”, busca, em sua essência, confirmar que o fenômeno da caça às bruxas foi resultado de um processo planejado e encabeçado pelas diversas estruturas de poder, maiormente Igreja e Estados, a fim de levar adiante um disciplinamento social em que as mulheres foram subjugadas.2 Foi, portanto, “iniciativa política”,3 com forte atuação da Igreja Católica por fornecer o “arcabouço metafísico e ideológico” que sustentou as perseguições a partir do século XVI. Além disso, tais perseguições devem ser vistas como uma reação à resistência das mulheres contra as relações capitalistas que ressignificaram a feminilidade. Por fim, esse fenômeno foi instrumento de construção de uma ordem patriarcal que criou modelos de feminilidade prescritos às mulheres, tornando seu “trabalho, seus poderes sexuais e reprodutivos” a serem controlados pelos Estados, segundo a forma de força de trabalho defendida pela burguesia. Se pensarmos numa síntese do que foi esse fenômeno, segundo Federici, poderíamos dizer que a caça às bruxas foi “uma guerra contra as mulheres; {…} uma tentativa coordenada de degradá-las, demonizá-las e destruir seu poder social {…} onde se forjaram os ideais burgueses de feminilidade e domesticidade” (p. 334).
O derradeiro capítulo, “Colonização e cristianização”, se debruça na extensão que o fenômeno da caça às bruxas adquiriu no Novo Mundo. A autora defende que a abrangência desse fenômeno para além do espaço europeu foi motivada pelo interesse das autoridades em utilizá-lo como ferramenta capaz de minar a “resistência anticolonial e anticapitalista” e levar adiante o interesse exploratório. Seu foco se direcionou basicamente ao contexto da América espanhola, percebendo similaridades com o processo de definição da bruxaria no âmbito europeu, como no perfil das mulheres que foram acusadas por esse delito no espaço americano: “as mulheres se converteram nas principais inimigas do domínio colonial, negando-se a ir à missa, a batizar seus filhos, ou a qualquer tipo de cooperação com as autoridades coloniais e os sacerdotes” (p. 402). Tal qual na Europa, a perseguição se direcionou ao combate de práticas e crenças heterodoxas ao catolicismo bem como às revoltas contra o sistema dominante, neste caso, colonialista.
Ao conferir protagonismo a um “sistema em que a vida está subordinada à produção de lucro” (p. 35), o que implica na imposição da violência, a autora acaba por privilegiar sua análise a partir de uma estrutura hegemônica. E, talvez, seja no excessivo olhar estruturante de sua obra que as análises empreendidas por Federici perdem força, principalmente em relação a outros campos de discussões associados ao fenômeno estudado.4 Perde-se a avaliação precisa do peso das práticas encabeçadas pelas mulheres como resultado da própria crença dessas mulheres na sua capacidade de dialogar com o sobrenatural. Ao enxergar nas práticas heréticas protagonizadas por elas ao longo da Baixa Idade Média como exemplos claros de uma verdadeira “revolução sexual”, a autora cai no risco de desconsiderar que, por vezes, essas mesmas mulheres, ao ingressarem no universo do sobrenatural, almejavam apenas a manutenção de seus casamentos, sem que a estrutura normativa fosse colocada em xeque.5
Mesmo ao chamar o “Novo Mundo” para o debate, relacionando-o ao contexto de perseguição à feitiçaria, a autora não se descola de um olhar homogeneizante, como ao considerar o período de 1580 a 1630 como ápice da “caça às bruxas”. Se partirmos para a América portuguesa, espaço que é negligenciado em sua obra, é possível perceber que, mesmo no século XVIII, os índices de denúncias e processos promovidos pela Inquisição portuguesa por esse delito são elevados, até maiores que os números relativos ao século XVI.6
Mesmo nesse século, as realidades são diversas quando comparamos regiões distantes, ainda que seja possível identificar algumas coerências nos argumentos da autora. No contexto inglês, Federici enxerga uma relação intrínseca entre o elevado número de acusações contra supostas feiticeiras em Essex e a grande quantidade de terras cercadas nessa região. O mesmo vale quando a autora, concordando com Henry Kamen, estabelece um paralelo entre as graves crises econômicas e o avanço da perseguição à bruxaria, já que muitas mulheres participaram das revoltas como protagonistas. No entanto, a imprecisão existe quando outros contextos são comparados, como em Portugal, em que a realidade é outra. Conforme apontou Francisco Bethencourt, nesse espaço, a figura da mulher, pobre e marginalizada socialmente, pouco apareceu nos processos da Inquisição lusitana.7
Por fim, outro importante debate historiográfico no qual se insere Calibã e a bruxa diz respeito ao entendimento da autora de que a misoginia, juntamente com o conceito de acumulação primitiva, contribuiu decisivamente para que a “caça às bruxas” se sustentasse como importante ferramenta de submissão das mulheres aos mecanismos de poder marcadamente masculinos. Trabalhos como o apresentado por Silvia Federici demarcam, assim, uma diferença visível em relação a outro viés analítico defendido, por exemplo, por Stuart Clark, no qual o peso da misoginia é relativizado.
Em Pensando com demônios, o conceito de contrariedade é tomado como base para refutar a ideia de que a misoginia foi o grande pilar que sustentou a demonologia e a “caça às bruxas”. Clark parte do entendimento de que a modernidade europeia sustentou suas visões de mundo e interpretações a partir de um “extremismo cognitivo”, do qual a figura da “bruxa” foi resultado direto. Bem e Mal se tornaram conceitos essenciais para tais sociedades.8 Esse novo “idioma” foi recorrente não apenas nos corredores eclesiásticos, mas também no modo como a religiosidade foi vivenciada, fazendo com que a alma do indivíduo fosse objeto de disputas. Assim, a misoginia perde força como categoria explicativa, na medida em que a contrariedade se tornou o elemento capaz de explicar os motivos das mulheres terem sido relacionadas à bruxaria.9
Por isso, ao perceber a pouca ocorrência de tratados que se interessaram exclusivamente em injuriar as mulheres e tendo em vista que os trabalhos da época pouco se direcionaram a “explorar o fundamento da bruxaria no gênero”,10 o autor defendeu a necessidade de se relativizar o uso da noção de misoginia. No entanto, ao afirmar que havia uma conexão óbvia para os estudiosos entre a presença das mulheres e a sua predisposição às influências diabólicas, a ponto de fazerem com que tais autores não sentissem “a menor necessidade de elaborar sobre ela ou apelar para o ódio às mulheres em seu respaldo”, Stuart Clark acabou por abrir uma aresta nos seus pressupostos, o que faz com que trabalhos como o de Silvia Federici seja um importante contraponto a esse viés.
Essa relativização por parte do autor a respeito da misoginia foi sustentada por outras duas interpretações. Clark percebeu que na maioria das vezes os tratados demonológicos não se interessaram exclusivamente em injuriar as mulheres – elemento que, a seu ver, sustenta a ideia de misoginia. Além disso, os tratados interessados em discutir sobre o fenômeno da bruxaria “mostraram pouco interesse tanto em explorar o fundamento da bruxaria no gênero quanto em usá-la para denegrir as mulheres”. Assim, as obras que foram amplamente difundidas pela historiografia como exemplo da misoginia presente nas perseguições à bruxaria, como o Malleus Maleficarum e os tratados de Jean Bodin e Martin del Rio, foram encaradas sob uma leitura isolada que pouco ou quase nada se preocupou com a justificativa da presença de mulheres no fenômeno da bruxaria. Todavia, os argumentos de Stuart Clark também são passiveis de críticas.
Se há uma obviedade na conexão entre a figura das mulheres e a presença do Diabo, conforme aponta o autor,11 não é na identificação desse caráter que reside a chave para a compreensão de todo o fenômeno de “caça às bruxas”. Em Calibã e a bruxa , o aspecto central para responder à problemática levantada consistiu justamente em conferir peso à misoginia como instrumento que sustentou a conexão citada, sem perder de vista que a história das mulheres em meio ao contexto de “caça às bruxas” é uma história eivada de trajetórias por vezes silenciadas, inclusive pelos próprios historiadores que negligenciaram o peso das estruturas de poder na normatização dos corpos, na definição dos gêneros e na sustentação de uma heterossexualidade compulsória. Um dos méritos da obra de Federici consiste justamente em perceber como o consenso entre as autoridades religiosas e civis produziu uma série de mecanismos de vigilância e normatização interessados na manutenção do binarismo masculino/feminino. Vide exemplo apontado pela autora nos discursos que se produziram a respeito do pacto diabólico, em que, mesmo ao defenderem a existência de rituais em que as mulheres negavam o catolicismo, se relacionavam com os diabos e consolidavam sua posição de “feiticeiras”, prevalecia a supremacia masculina: “as mulheres tinham que ser retratadas como subservientes a um homem {o Diabo} e o ponto culminante de sua rebelião – o famoso pacto com o diabo – devia ser representado como um contrato de casamento pervertido” (p. 343).
Calibã e a bruxa é uma obra que merece uma leitura atenta por se preocupar em compreender os longos séculos de associação das mulheres à figura do Diabo, à predisposição ao delito da feitiçaria, ou bruxaria, sem isolar as trajetórias dessas mulheres dos motivos que sustentaram essa associação. Por isso a relevância de sua obra: reafirmar a necessidade de se compreender passado e presente sem negligenciar o peso das relações de gênero e dos papéis sociais atribuídos aos homens e mulheres. Além disso, se levarmos em consideração não apenas a temática em que a autora se debruça, mas também o recorte temporal escolhido, percebemos o quão necessário são as publicações interessadas em articular religiosidade e relações de gênero na Época Moderna, tornando-se exemplos da diversidade de interpretações resultantes dessa interação. Para o contexto brasileiro, que tem acesso relativamente tardio à publicação em português deCalibã e a bruxa , tais aspectos estão igualmente presentes (talvez até com maior peso). Eles nos permitem entender que o estudo da bruxaria está longe de se esgotar quando o conceito de gênero é operacionalizado.
Referências
FEDERICI, Silvia; Calibã e a bruxa . Mulheres, corpo e acumulação primitiva. Trad. de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017. Tomo I: Migraciones. Ciudad de México: Palabra de Clío, 2017. 194p. [ Links ]
1É nesse contexto de disciplinamento dos corpos e de normatização das mulheres, atrelando-as ao papel reprodutivo, que a autora enxerga um forte paralelo com o aumento dos processos envolvendo os delitos de infanticídio e bruxaria (p. 157).
2Um dos argumentos mais sólidos que a autora construiu referente à submissão feminina no âmbito da caça às bruxas diz respeito à mudança de status adquirida pela figura do Diabo a partir do século XVI, deixando de ser escravo e servo das mulheres, tornando-se figura abominável, “seu dono e senhor, cafetão e marido”. Tanto é que o pacto diabólico, considerado pelos demonólogos como auge dos rituais empreendidos pelas mulheres com a figura do Diabo, evocava a supremacia masculina através de tal personagem, para a qual as mulheres deveriam prestar juramento (p. 338).
3A autora chega a afirmar que a “caça às bruxas foi o primeiro terreno de unidade na política dos novos Estados-nação europeus”, muito por conta de protestantes e católicos terem compartilhado do mesmo interesse em coibir a presença da bruxaria entre seus fiéis (p. 303).
4Como, por exemplo, a possibilidade de promover estudos mais aprofundados das crenças, das práticas, da possibilidade de se compreender o universo mágico-religioso e suas relações entre os indivíduos a partir do entendimento de que havia ali uma coerência interna distanciada do materialismo.
5No contexto da Coimbra Seiscentista, José Pedro Paiva identificou a predominância das mulheres casadas como as maiores interessadas em contar com a ajuda das feiticeiras para a manutenção de seus casamentos. Cf.: PAIVA, José Pedro. O papel dos mágicos nas estratégias do casamento e na vida conjugal na diocese de Coimbra (1650-1730). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1990, p. 168-169; 180-182.
6MATTOS, Yllan de. A última Inquisição: os meios de ação e funcionamento do Santo Ofício no Grão-Pará pombalino. 1750-1774. Jundiaí: Paco Editorial, 2012.
7BETHENCOURT, Francisco. O imaginário da magia. Feiticeiras, adivinhos, curandeiros em Portugal no século XVI. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 371. Destaque-se ainda, entre os denunciantes, a multiplicidade de classes sociais interessadas em denunciar o delito da feitiçaria.
8CLARK, Stuart. Pensando com demônios. A ideia de bruxaria no princípio da Europa Moderna. Trad. de Celso Mauro Paciornik. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006, p. 87.
9Ibidem, p. 187.
10Ibidem, p. 166.
11“Os autores sobre bruxaria evidentemente davam como certo uma maior propensão das mulheres ao demonismo, e tudo em seu ambiente cultural os encorajava a isso. A conexão era tão óbvia para eles, tão profundamente enraizada em suas crenças e comportamento, que não sentiam a menor necessidade de elaborar sobre ela ou apelar para o ódio às mulheres em seu respaldo.” Cf.: Ibidem, p. 168.
Marcus Reis – Doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: [email protected].
Uma Estrela Negra no teatro brasileiro. Relações raciais e de gênero nas memórias de Ruth de Souza (1945-1952) | Julio Claudio da Silva (R)
O livro de Julio Claudio da Silva, Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro, é fruto da esmerada pesquisa para a tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Se insere nas discussões sobre o papel dos negros, e negras, na sociedade brasileira do pós-Abolição e as tensas relações raciais tão presentes no pensamento intelectual brasileiro das primeiras décadas do século XX.
Tomando como referencial a bem-sucedida carreira da atriz negra Ruth de Souza, o historiador problematiza as relações raciais, de gênero, a construção e reconstrução da memória da atriz, e as tensas dimensões vivenciadas por ela, pelo direito de inserir-se no complexo universo cultural brasileiro.
Esse exercício apurado de análise da memória pública de Ruth de Souza, de sua problemática, e da sua relação com as questões raciais e de gênero é o principal caminho trilhado por ele para dar destaque às lutas sociais e culturais de artistas negros entre as décadas de 1930 e 1950, e as profundas conexões dessas lutas com a vida política brasileira do período.
Professor da Universidade do Estado do Amazonas, Julio Claudio da Silva realizou sua formação como historiador na UFF. E ao longo de sua trajetória como pesquisador, tem se dedicado a investigar a questão racial no Brasil, e os desdobramentos correlatos a temática, como a História África e da Cultura Afrobrasileira, o Movimento Negro, e a memória e trajetória dos/as intelectuais negros/as.
Assim, algumas das inquietações do pesquisador podem ser percebidas no livro Uma Estrela Negra no Teatro Brasileiro, que em seu argumento central tem como proposta refletir sobre as relações raciais e de gênero no Brasil a partir da recuperação de alguns aspectos da memória e trajetória da atriz brasileira Ruth de Souza. Passando ainda pela história de umas das importantes associações negras do século XX, o Teatro Experimental do Negro.
Um dos esforços da narrativa do autor ao longo dos capítulos consiste em historicizar e refletir a temática do racismo no Brasil, visando contribuir com novas formulações e respostas para os estudos das relações raciais e de gênero (p. 21-23).[1] Desse modo, O trabalho insere-se no diálogo com a ampla produção historiográfica que analisa os processos de construção de conceitos como raça, relações raciais e da identidade negra na sociedade brasileira.[2] Especialmente na discussão que considera a identidade não somente como uma ideia, desligada da realidade concreta, mas que, antes de tudo, se manifesta na realidade social.[3]
Preocupado com as formas complexas dos processos ligados à cidadania nas sociedades pós-emancipação, as questões levantadas pelo autor ao longo de sua pesquisa buscaram evidenciar, a partir da trajetória artística da jovem Ruth de Souza, como a racismo se manifestou de forma muito particular para as mulheres negras. [4] Debruçando-se sobre a história da atriz, Silva procura observar “os processos de construção de memórias e os limites estabelecidos pelas relações raciais e de gênero, em uma sociedade pretensamente meritocrata fundada sobre o mito da democracia racial” (p. 25). Para tal, a figura de Ruth de Souza favorece a problematização das temáticas raciais e a generificação nos palcos brasileiros, uma vez que como mulher, afrodescendente, e proveniente das classes subalternas, ela conquistou reconhecimento, conseguindo se profissionalizar como uma das primeiras atrizes com esse perfil a fazer teatro erudito no nosso país.
O autor segue a tradição de estudos ligados à história social, fazendo uso da biografia de Ruth de Souza para compreender as dinâmicas da modernização do teatro brasileiro e como a questão racial e de gênero impactaram nesse processo. Como estratégia, Julio Claudio da Silva utiliza-se de depoimentos concedidos pela atriz em diversas décadas, assim como de relatos fornecidos por seus contemporâneos, e ainda da reunião de reportagens publicadas nos anos 1940 e 1950 selecionadas pela própria Ruth de Souza ao construir seu acervo pessoal.
Na primeira parte do seu livro, composta por dois capítulos, a analise do autor recai sobre os anos iniciais da carreira de Ruth de Souza como atriz no Teatro Experimental do Negro. Silva utiliza-se dos pressupostos metodológicos da História Oral, para problematizar a memória narrada dos entrevistados, demonstrando que a memória faz muito mais referencia ao presente que ao passado.
As tensões diante da recuperação da memória, os silêncios e esquecimentos foram analisadas pelo autor sem perder de vistas a dimensão política, que se mostrava marcadamente nas vivências de Ruth de Souza desde sua infância pobre, ao lado de sua mãe, viúva e empregada doméstica. Mas que, apaixonada pelas artes cênicas, ousou ser atriz.
Ao introduzir o leitor, logo no primeiro capítulo, na discussão dos conceitos memória, gênero e cultura afro-brasileira – os três pilares teóricos fundamentais para o desenvolvimento de sua argumentação nos capítulos seguintes, o autor pretende fundamentar os conceitos de sua pesquisa tendo como ponto de partida os depoimentos cedidos a ele pela própria Ruth de Souza. E com sensibilidade apurada e comprometida, Julio de Souza, além de dar visibilidade para os primeiros anos da trajetória da atriz, insere aos leitores e leitoras na bela história de homens e mulheres do Rio de Janeiro efervescente das décadas de 1930 e 1940.
A luta de Ruth de Souza, e de seus contemporâneos do Teatro Experimental do Negro, por maiores oportunidades na dramaturgia brasileira demonstram o quanto são racializadas as relações sociais no Brasil. Investigando os laços de amizade e as redes de solidariedade utilizadas pela atriz para conquistar seu espaço no cenário artístico brasileiro o autor nos conduz por um amplo universo de personagens engajados no combate às desigualdades e de lutas em meio à intensa exclusão do Rio de Janeiro de inícios do século XX.
Apesar dos entraves impostos pelo racismo cordial brasileiro, e pela suposta democracia racial, o autor realiza um cruzamento entre os depoimentos da atriz e recortes de jornais que apresentam muitas informações sobre o início da sua carreira, destacando a dimensão política de lutas e embates, por vezes “esquecida” nos relatos de Ruth de Souza, mas recuperada nos textos dos seus contemporâneos. Um exemplo disso é o depoimento de Raquel da Trindade sobre os primeiros anos de atuação do Teatro Experimental do Negro e das estratégias utilizadas por aqueles sujeitos na luta contra o racismo, especialmente as formas de racismo tão comuns nos palcos brasileiros daqueles anos.
As preocupações com novas questões que pudessem complexificar as narrativas elaboradas pela atriz Ruth de Souza nas entrevistas dadas ao autor, e a promoção do diálogo entre esses depoimentos com outras falas da atriz em gravações que estão sob guarda do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS RJ), constituem o segundo capítulo do livro. Nele, Julio Claudio da Silva dá particular atenção para as tensões, lacunas e contradições desses relatos, e como novas questões propostas por ele podem ampliar o campo de análise, permitindo compreendermos as estratégias utilizadas pela atriz na elaboração, e reelaboração, da memória sobre a ausência de oportunidades para uma jovem negra e pobre no campo teatral das décadas de 1930 e 1940.
A redação envolvente de Julio Claudio de Silva, e sua apurada análise apontam para ambiguidades nos depoimentos de Ruth de Souza, especialmente quanto a racialização do teatro, e como em alguns momentos a atriz atribui seu sucesso quase que unicamente a seu mérito, “desracializando” obstáculos de sua trajetória, e sublimando sua condição de artista afrodescendente, que viveu intensamente a realidade de exclusão imposta pelas artes cênicas no Brasil.
Na segunda parte do livro, o autor dedica-se a investigar o complexo processo de “arquivamento de si” e do Teatro Experimental Negro realizado pela própria Ruth de Souza. Para tal, Julio Claudio da Silva faz uso dos registros sobre a vida da atriz e da companhia de teatro reunidos no “Acervo Ruth de Souza”, do Laboratório de História Oral, da Universidade Federal Fluminense (LABHOI UFF). A intenção de Silva consiste em compreender os níveis de retroalimentação que os recortes de jornais reunidos pela própria Ruth de Souza tiveram sobre sua memória e, até certo modo, ancoraram o relato que a atriz fez de si.
Ao atentar para os silêncios presentes nos relatos da “Dama Negra do Teatro”, o autor recupera a organização de uma rede de alianças formadas em torno do grupo de artistas ligados ao Teatro Experimental do Negro, bem como a importância do grupo para o processo de modernização do teatro brasileiro, e das iniciativas de combate ao racismo no Rio de Janeiro do período. No capítulo 3, ao cotejar a documentação do Acervo Ruth de Souza, o historiador mergulha na problemática relativa às restrições impostas aos artistas afrodescendentes nos palcos, e como tais práticas, seja nos locais, ou mesmo na forma com que eram mostrados nos espetáculos teatrais, se materializavam frequentemente.
Desse modo, ao recuperar a memória sobre o papel da companhia Teatro Experimental do Negro, a narrativa de Silva nos apresenta “acirradas batalhas de memória entre Paschoal Carlos Magno e Abdias Nascimento” em torno da “paternidade da entidade” (p. 128), e como tais embates foram capazes de complexificar ainda mais a história de uma das mais importantes manifestações culturais do movimento negro brasileiro. Assim, o capítulo nos fornece amplamente uma riqueza considerável de informações sobre o panorama teatral brasileiro do período, especialmente quanto às dificuldades de funcionamento, e estratégias usadas pelos artistas do Teatro Experimental do Negro nas lutas contra “o complexo de inferioridade do negro e contra o preconceito de cor dos brancos”, como parafraseia o próprio autor (p. 134).
É especialmente bem sucedida a escolha de Silva ao investigar o grupo de artistas ligados ao Teatro Experimental do Negro, pois permite aos leitores a compreensão da importância da entidade para os artistas e para a cultura brasileira, justamente por criar e organizar uma “nova modalidade do teatro negro no Brasil” (p. 141). Mostrando o compromisso daqueles sujeitos em constituir espaços igualitários, que permitissem atuar plenamente como artistas, verem representados com justiça o seu universo étnico-racial e, portanto, contribuindo para a elevação cultural e dos valores individuais dos negros (p. 163).
No capítulo quatro, Julio Claudio da Silva busca investigar os limites e possibilidades para a construção de um teatro negro no Brasil da década de 1940 (p. 167). Para isso, o autor utiliza a cobertura dada pela imprensa sobre os espetáculos montados pelo Teatro Experimental do Negro, a partir dos recortes guardados pela atriz Ruth de Souza, tentando compreender como os críticos teatrais viam as adaptações de peças teatrais estrangeiros para o público brasileiro pelos artistas da entidade, e também as percepções racializadas sobre a atuação dos atores e atrizes da companhia de teatro.
Deslocando o foco de análise para os possíveis diálogos entre o palco e a platéia o autor analisa as montagens dos espetáculos estrangeiros O Imperador Jones, Todos os filhos de Deus têm asas e O Moleque sonhador, de autoria de Eugene O’Neill. Assim como os espetáculos escritos por brasileiros especialmente para o Teatro Experimental de Negros, como a peça O filho pródigo, de Lucio Cardoso, ou a Aruanda, escrita por Joaquim Ribeiro; e por fim a peça Filho de Santo, escrita por José Moraes Pinho. Dessa maneira, Silva nos auxilia a compreender como a montagem de espetáculos com temas ligados à realidade afrodescendente se constituiu elemento primordial para o crescimento das artes, e particularmente do teatro, no Brasil.
Montados entre os anos de 1945 e 1949, os textos iluminam “temáticas sócioculturais das populações e culturas afrodescendentes” (p. 168), e tal esforço de destaque da cultura negra é reconhecido pelos críticos como iniciativa fundamental no complexo cenário de lutas contra o racismo tão presente na sociedade brasileira. O olhar multifacetado do autor revelou um esforço de pesquisa que nos indica o quanto racialização cultural não passava somente pelos palcos, mas também pelo espaço destinado aos espectadores, e de como o grupo de artistas reunidos em torno do Teatro Experimental do Negro consolidava-se paulatinamente como uma espécie de oásis artístico em que era possível difundir textos e performances antirracistas, em que os artistas negros pudessem também apresentar sua arte e seu talento.
Por fim, no último capítulo, Silva dedica-se aos anos em que a atriz Ruth de Souza desliga-se do Teatro Experimental do Negro e vai para o exterior, onde tem a oportunidade de estudar artes cênicas nos Estados Unidos da América. O episódio, descrito pelo historiador como “um divisor de águas” na vida profissional da artista, revela o quão fundamental foi o apoio recebido pela atriz e o quanto a rede de solidariedades em que ela estava inserida foi primordial para o seu processo aprimoramento e profissionalização.
Essa temporada de estudos no exterior, de fato, abriu novas portas para a atriz, proporcionando a ela novos contratos, e uma carreira em ascensão nas principais companhias de cinema dos anos 1940 e 1950. Mesmo diante da tensão e do preconceito expressos na oferta de pequenos papeis para a atriz negra, seu talento e esforço foram reconhecidos em prêmios e indicações importantes pro seguimento, seja no Brasil ou ainda internacionalmente.
Ao se deparar com as questões metodológicas em torno da memória e do racismo na sociedade brasileira, o autor enfrenta o desafio de nos apresentar um texto rico teoricamente e que contribui amplamente com as discussões sobre os papéis da mulher negra no Brasil, especialmente no cenário cultural e político do pós Abolição, por meio da trajetória de uma mulher negra, que ousou ser artista, em uma sociedade que negou, e continua negligenciando, os direitos básicos aos afrodescendentes.
Notas
1. Optei em citar ao longo da resenha, entre aspas, palavras do próprio Julio Claudio da Silva, ou citações feitas por ele no livro.
2. Ver os trabalhos de GUIMARÃES, Antonio Sergio Alfredo. Classes, Raça e Democracia. São Paulo: Fapesp; Editora 34, 2002; SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993; SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
3. NASCIMENTO, Elisa Larkin. O sortilégio da cor: identidade, raça e gênero no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2003.
4. O debate tem sido feito em trabalhos como o de ALMADA, Sandra. Damas Negras: sucesso, lutas e discriminação: Xica Xavier, Lea Garcia, Ruth de Souza, Zezé Motta. Rio de Janeiro: Mauad, 1995; ARAÚJO, Joel Zito Almeida de. A negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira. São Paulo: Editora Senac, 2000.
Vitor Leandro de Souza – Mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é Doutorando em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E-mail: [email protected] . ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9869-8907 .
SILVA, Julio Claudio da. Uma Estrela Negra no teatro brasileiro. Relações raciais e de gênero nas memórias de Ruth de Souza (1945-1952). Manaus: UEA Edições, 2017. Resenha de: SOUZA, Vitor Leandro de. Memória, gênero e antirracismo: a trajetória de lutas da atriz Ruth de Souza. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.36, n.2, p.319-324, jul./dez. 2018. Acessar publicação original [DR]
Dramatização dos corpos: arte contemporânea e crítica feminista no Brasil e na Argentina – TVARDOVSKAS (HU)
TVARDOVSKAS, L.S. Dramatização dos corpos: arte contemporânea e crítica feminista no Brasil e na Argentina. São Paulo: Intermeios, 2015. 488 p. Resenha de: RIBEIRO JÚNIOR, Benedito Inácio. História, gênero e feminismo: arte e práticas de liberdade no Brasil e na Argentina. História Unisinos 22(2):320-325, Maio/Agosto 2018.
Com mais de dez artigos publicados versando sobre os temas feminismo, gênero, arte e história, Luana Saturnino Tvardovskas traz a público os frutos colhidos na sua pesquisa de doutorado, defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp, sob a orientação de Margareth Rago.2 A obra, intensa nas reflexões e no peso, contempla a produção artística das brasileiras Rosana Paulino, Ana Miguel e Cristina Salgado e das argentinas Silvia Gai, Claudia Contreras e Nicola Costantino. Atravessando e historiando os caminhos de “[…] verdades cáusticas, de saberes menosprezados e de vozes inauditas” (Tvardovskas, 2015, p. 430) de tais artistas, a historiadora costura perspectivas historiográficas sobre mulheres, gênero e feminismos aos conceitos e práticas políticas e de pensamento de intelectuais como Michel Foucault, Judith Butler, Rosi Braidotti, André Malraux, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Margareth Rago, Norma Telles, Suely Rolnik, Tânia Navarro-Swain, Nelly Richard e Leonor Arfuch. O que garante a qualidade dessa urdidura é um apurado trabalho de análise das obras e das trajetórias das artistas e uma escrita politizada, afetada e afetuosa.
Comprometida com o assunto – arte, história e feminismo –e com a orientação de Rago desde a graduação, Tvardovskas privilegiou pensar estilísticas da existência e produções artísticas a partir do ferramental teórico-político- -metodológico feminista em sua trajetória como historiadora. Sua dissertação de mestrado é exemplo disso: defendida em 2008, Figurações feministas na arte contemporânea: Márcia X., Fernanda Magalhães e Rosângela Rennó, ela analisa instalações, performances e objetos artisticamente construídos com o objetivo que questionar verdades instituídas em relação à sexualidade, ao corpo feminino e à subjetividade (Tvardovskas, 2008).
Voltando à obra, esta foi defendida como tese de doutorado em 2013 e revista para ser publicada como livro em 2015. O livro foi dividido em cinco capítulos e em duas partes. Junto com a introdução, o primeiro capítulo –“Um museu imaginário feminista: histórias da arte e feminismos, diálogos possíveis” – está separado das duas partes do livro. A primeira parte – intitulada Brasil– contém os capítulos 2 e 3. No primeiro deles, “De ousadias discretas e manobras radicais: mulheres artistas no Brasil”, a reflexão sobre a produção de mulheres na arte brasileira a partir de 1970 e do movimento feminista toma lugar, ao mesmo tempo que a temática de gênero é discutida em relação aos contextos curatoriais e aos estudos acadêmicos. Já o terceiro capítulo, que recebeu o nome de “Potência desconstrutiva: Rosana Paulino, Ana Miguel e Cristina Salgado”, é escrito a partir do estudo das produções e trajetórias artísticas das três brasileiras investigadas por Tvardovskas. Argentina, como é denominada a segunda parte do livro, é composta pelos quarto e quinto capítulos, respectivamente intitulados “Cuerpos aflictos: arte e gênero na Argentina contemporânea” e “Memórias insatisfeitas: Silvia Gai, Claudia Contrerase Nicola Costantino”. Assim, a segunda parte da obra obedece à organização feita pela autora na sua primeira parte, pois os capítulos são organizados com o intuito de evidenciar as discussões sobre as artes e os feminismos nos seus contextos nacionais e, em seguida, verticalizar a análise abordando as artistas separadamente. O primeiro deles relaciona os temas da arte, política e gênero na Argentina contemporânea, trazendo reflexões acerca do período ditatorial e de abertura política e sobre a crítica de arte no país. No seu quinto e último capítulo, a obra interpreta as imagens plásticas produzidas por Gai, Contreras e Costantino.
No início do seu primeiro capítulo, Tvardovskas esclarece que seu trabalho buscará uma conjunção entre crítica cultural e História para abordar as poéticas visuais das artistas que são seu objeto de estudo. O intuito da autora é problematizar a partir de um olhar feminista essas estéticas femininas, partindo da hipótese de que tais produções “[…] anunciam novas possibilidades de intervenções na cultura”, e, inspirada em Walter Benjamim, questiona se elas podem ser “[…] compreendidas como espaços de resistência ao empobrecimento ético, político e subjetivo atual” (Tvardovskas, 2015, p. 37).
Nessa esteira, a autora vai situando os seus referenciais para a discussão de suas artistas-objeto: chama para a conversa Michel Foucault e Judith Butler para questionar a naturalidade dos corpos, percebendo-os a partir daí como produtos de discursos sobre o sexo. Interessa-se pelo conceito foucaultiano de parrhesia, que seria uma experiência antiga greco-romana construída a partir do cuidado de si e dos outros, buscando a afirmação de uma existência bela, libertária e ética. Desse modo, a opressão feminina vivenciada em seus corpos, a negação de seus desejos e a renúncia de si seriam terrenos de desconstrução de mulheres artistas que buscam em suas próprias vidas a matéria de seu trabalho. Logo, a autora situa as produções das seis artistas analisadas nessa convergência teórico-política.
Ainda no primeiro capítulo, preocupa-se em pensar a crítica feminista sobre as artes visuais, pontuando as concepções de arte e história da arte no Brasil, na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Assim, Tvardovskas evidencia as condições históricas que excluíram as mulheres da história da arte ocidental. A partir de autoras como Griselda Pollock, Linda Nochlin, Rozsika Parker, Whitney Chadwick, para citar apenas algumas, a autora expõe que nos séculos XVIII e XIX as mulheres foram impedidas de pintar os gêneros tidos como maiores, entre eles os nus, sendo-lhes permitido apenas o estudo da natureza morta, do retrato e da paisagem. Também a ordem burguesa, no mesmo período, afastou ainda mais o conceito de artista da identidade das mulheres, com a redução delas ao papel reprodutivo e ao lar. No século XX, as concepções de originalidade e genialidade foram quase sempre atribuídas aos homens, assim como as mulheres foram banidas da história do modernismo. Embasada por reflexões que desconstroem as bases da História da Arte, bem como da própria disciplina histórica, Tvardovskas aponta para a compreensão da História que não se vê mais como discurso neutro ou universal como importante passo para a compreensão das mulheres, artistas ou não, como sujeitos históricos, concluindo que “[…] a história enquanto enunciado verdadeiro e absoluto não serve ao feminismo” (Tvardovskas, 2015, p. 61). O primeiro capítulo se encerra com uma crítica à pretensão de compreender uma periodização para a crítica de arte feminista latino-americana que coincida com a efervescência desses temas na Europa e nos Estados Unidos, iniciada a partir dos anos 1970. Os regimes ditatoriais que se deram no nosso continente na segunda metade do século XX ritmaram de outro modo o movimento feminista e seus efeitos no campo artístico, e, de acordo com a autora, apenas depois dos momentos de abertura política o feminismo impactou de forma mais efetiva a indústria cultural e as artes em geral. Por esse desenvolvimento mais tardio, Tvardovskas afirma que não houve no Brasil uma revisão dos cânones artísticos ou uma rememoração de nomes de mulheres em outros períodos históricos, como ocorreu nos países de língua inglesa. Assim, a partir de uma vontade de evidenciar perspectivas feministas e seus locais na arte latino-americana, Tvardovskas inicia suas análises.
O segundo capítulo se encarrega da discussão sobre as mulheres na arte brasileira e também introduz pequenas biografias de Ana Miguel, Rosana Paulino e Cristina Salgado, bem como apresenta seus estilos e materiais de trabalho. Insere, dessa forma, a produção e carreiras das três artistas na fase de abertura do regime militar, na década de 1980, caracterizada pela euforia por novas possibilidades artísticas e políticas. A história política do Brasil, do movimento feminista, das artistas-objeto e de outros artistas brasileiros é enfocada no estudo, gerando um panorama crítico das condições históricas que caracterizaram a arte e os trabalhos de Miguel, Paulino e Salgado. Com o fim da ditadura, Tvardovskas percebe como os movimentos sociais foram fortalecidos e, dentre eles, o feminismo. Isso levou as mulheres a se imporem mais abertamente como sujeitos políticos e atuarem criticamente em áreas como produção cultural, academia e no poder legislativo, repensando a cidadania, os corpos, o gênero, a sexualidade feminina e seus papéis de mães, esposas e filhas. Os anos 90 vão se caracterizar, então, por uma maior interação das obras de mulheres na desconstrução do imaginário misógino brasileiro, resultado do fim dos governos autoritários e da visibilidade conquistada pelos movimentos feministas.
Duas informações são importantes para entender o engajamento necessário às artistas mulheres para fazer arte no Brasil. Primeira: a entrada das mulheres nas instituições de educação artística no Brasil enfrentou grandes dificuldades, percebidas pela autora até finais do século XIX, já que apenas em 1892 foi concedido o acesso às mulheres ao ensino superior, como na Academia Nacional de Belas Artes. Outra informação buscada por Tvardovskas é a questão de grandes nomes femininos do modernismo brasileiro. Amparada nos resultados de sua própria dissertação e nas pesquisas de Marilda Ionta, a autora entende que o grande reconhecimento de Tarsila do Amaral e de Anita Malfatti estabelece a importância das mulheres na arte nacional e, ao mesmo tempo, sugere-se que não haveria distinções entre homens e mulheres nesse campo: “Criou-se a representação na mídia e na historiografia de que a presença dessas duas artistas confirmava que no Brasil não existiam problemas de gênero no território artístico” (Tvardovskas, 2015, p. 96).
Na seção final do capítulo 2, a autora dá visibilidade à maneira pela qual a discussão de gênero veio tomando lugar nas artes visuais brasileiras, percorrendo catálogos de exposições, obras analisadas, exposições organizadas com o intuito de divulgar a arte de mulheres no país, concluindo que tais discussões serviram para deslocar conceitos e valores, questionando as naturalizações que envolvem a arte brasileira, as mulheres e a domesticidade. Tvardovskas conclui que a arte contemporânea abriu espaços de liberdade e de questionamento de normas e, por isso, pode ser compreendida pela ideia foucaultiana de estética da existência.
Ao iniciar o terceiro capítulo, Tvardovskas esclarece que fará uma leitura feminista das produções dessas autoras – que nem sempre entendem suas obras ou a si mesmas como feministas –, conjugando autobiografia e política para compreender seu objeto de pesquisa. Desse modo, as três artistas brasileiras e seus trabalhos são percebidos desde suas questões cotidianas e “marcas vividas”, mesclando aspectos culturais e sociais para a “[…] busca de caminhos diferenciados para a constituição das subjetividades na atualidade” (Tvardovskas, 2015, p. 114).
Em decorrência disso, nas narrativas pós-estruturalistas e feministas, como defende a obra, autorretrato foge às narrativas tradicionais de uma constituição de um eu verdadeiro. No caso das artistas mulheres, o uso de temas e materiais íntimos, cotidianos e domésticos serviria, segundo suas perspectivas de gênero, para negociar, reagir e inverter os ditames da feminilidade “[…] e da identidade ‘Mulher’, constituindo imagens muito surpreendentes de si mesmas” (Tvardovskas, 2015, p. 11). Não seria a autobiografia individualista, branca, ocidental, masculina e universal, mas, em nome da pluralidade, apostas na ressignificação e intensificação das experiências vividas.
Assim, obras como a instalação My bed, da inglesa Tracey Emin, trazem uma interrogação sobre os limites entre público e privado, na qual a cama, objeto íntimo, pode despertar questionamentos sobre a vida em sociedade. Salgado, Paulino e Miguel seriam exemplos dessa arte que conjuga elementos autobiográficos, íntimos e privados ao mundo político e público. Rosana Paulino3 tematizará em suas obras as questões de gênero e etnicidade: questiona modelos de comportamento e corpo a ela destinados historicamente, “[…] marcando sua arte com ‘traços de revolta’” (Tvardovskas, 2015, p. 139). Uma das obras analisadas em Dramatização dos corpos é a impactante Bastidores (2013), em que seis fotos de mulheres negras são expostas em bastidores de costura com suas bocas, testas, olhos ou gargantas costurados grosseiramente com linha escura.
Paulino, em entrevista colhida por Tvardovskas, afirma que a obra reúne memórias familiares aos problemas coletivos. A historiadora entende que do espaço íntimo de Paulino emerge uma crítica atroz à sexualização e silenciamento das mulheres negras, mas também conexões com o passado escravista brasileiro. Nessa esteira, sendo mulher negra, tendo passado pela experiência ainda na infância da pobreza, do racismo e do sexismo, Paulino se vale dessas experiências subjetivas em grande parte do seu trabalho: ressignificando práticas cotidianas femininas como o costurar, o tecer, o bordar, gera posicionamentos e reflexões sobre as práticas violentas que caminham juntas às vivências femininas e negras. Guiada por Deleuze e Guattari, a autora vê nessa artista e suas criações espaços abertos a devires e desterritorializações identitárias sobre as mulheres; e, inspirada em Foucault, lê as mesmas imagens como a “coragem da verdade”, numa implicação ética na qual Paulino fala francamente da escravidão.
Em Ana Miguel4 é possível ver as associações do feminino com aranhas e fiandeiras, bem como personagens de contos de fadas como Rapunzel. Recorrendo aos materiais e às técnicas comumente ligados ao feminino, como a linha, a cama e o crochê, Ana Miguel gera afeto e incômodo na sua obra I love you. A descrição e as camadas de sentido que recobrem a obra são pensadas por Tvardovskas a partir de referências clássicas, como o mito de Aracne, da influência do pensamento psicanalítico na obra de Miguel e as questões envolvendo o corpo feminino. A autora percebe que a sua instalação Um livro para Rapunzel (2003), assim como suas teias de crochê, caracterizam-se como modos de deslocar naturalizações sobre o feminino. A infância é pensada também, ao lado da instalação supracitada, com a exposição Pensando a pequena sereia, “a matéria é o que deseja minha alma” (1990), como lugar de repensar a subjetivação das meninas.
Por fim, Miguel tem seu trabalho Ninhohumano (2008) estudado por Tvardovskas: trata-se de uma intervenção urbana feita em conjunto com Claudia Herz, na qual as duas habitam por dias uma árvore no aterro do Flamengo (RJ). Para Tvardovskas, a intervenção força os limites entre o jardim público e o espaço privado da casa: desloca as divisões estabelecidas entre público e privado, entre locais habitáveis e não habitáveis. Assim, Miguel revela uma multiplicidade de sentidos sobre o humano, o feminino e a infância, repensando o corpo e o desejo para uma “potência feminina criativa”.
A última brasileira abordada no livro é Cristina Salgado.5 Esta se volta para o corpo feminino com a intenção de romper com significados cristalizados por meio de torções, fraturas, rompimentos, dobras e incisões, representando esculturas de corpos impossíveis e problematizando a questão da nudez (Tvardovskas, 2015). Também envolvida em temáticas que cruzam estética e psicanálise, os corpos esculpidos por Salgado são plasmados às paredes e objetos de decoração, com inchaços e torções se fazendo evidentes. De acordo com Tvardovskas, a estratégia já vinha sendo usada por outras artistas surrealistas como crítica à domesticidade feminina.
Em sua instalação Grande nua na poltrona vermelha, composta em 2009 e com direta associação com Grande nu no sofá vermelho (1929), de Pablo Picasso, o corpo de uma mulher se derrama pelo espaço, excedendo as proporções humanas, mas rostos, mãos e pés dão caráter humano ao emaranhado de dobras e torções. O nu para a artista mulher torna-se uma presença e uma ausência que, nas palavras de Tvardovskas, significa o corpo nu feminino sempre em evidência em obras de arte, mas criadas e vistas por olhares masculinos. Ao contrário, Salgado o deforma e o recria: a sua mulher nua se derrama aspirando buscar outras formas de entender o feminino, o corpo, a arte e as próprias maneiras de conceber nosso olhar sobre o mundo, inventando o feminino como dobras não localizáveis, numa leitura deleuziana.
A segunda parte da obra se inicia no quarto capítulo, que tem como objetivo entender as nuances das relações entre arte e gênero na Argentina contemporânea. Como fez ao tratar do Brasil, a obra pensa a história política recente naquele país como terreno fértil para as artes em geral: a violência, a tortura, os desaparecimentos e os assassinatos vividos no período ditatorial (1966-1973) fazem surgir um luto simbólico nas expressões estéticas, e as artistas argentinas analisadas não escapam a essa problemática. Traçando um panorama da história da arte argentina, Tvardovskas aponta para as omissões das quais as artistas mulheres foram vítimas. Assim como aconteceu no Brasil com Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, artistas mulheres que atingiram certo reconhecimento na Argentina, como Lola Mora e Marta Minujín, têm suas trajetórias usadas para mascarar o silenciamento das poéticas visuais femininas e a inexistência de interesse sobre as obras das demais artistas.
Tvardovskas afirma que em meados da década de 1980 tem-se a inserção de prismas de gênero na arte argentina: depois da ditadura, numa realidade econômica e social deteriorada, a cena underground refletiu acerca dos corpos e suas sexualidades “fora da ordem”. Já em 1986, a exposição Mitominas I acolhe obras de mulheres que se perguntavam acerca dos mitos que as construíam enquanto mulheres, e, dois anos depois, a exposição Mitominas II. Los limites de la sangre fará alusão à violência política na Argentina, à AIDS e à violência de gênero.
Para pensar as relações entre arte e gênero na Argentina, a historiadora relembra os parâmetros que consideraram certas manifestações artísticas como “arte política” na década de 1960: em confronto com a ditadura, artistas se dedicavam a tecer críticas ao poder e às estruturas macropolíticas. A partir dos anos 80, Tvardovskas reconhece um fortalecimento e maior visibilidade dos movimentos sociais, mas o foco da crítica dos artistas não é mais somente o estado. Assim, artistas militantes que discutiam os novos impasses sociais, diferentes dos anos 60, foram tachados de despolitizados e frívolos, pois baseariam seus trabalhos em temas muito subjetivos, como o corpo e a sexualidade. Por isso, suas obras acabaram sendo pejorativamente denominadas de “arte rosa”, “arte light” e “arte gay”.
Por seu turno, o último capítulo de Dramatização dos corpos coloca os trabalhos das argentinas Silvia Gai, Claudia Contreras e Nicola Costantino sob a perspectiva dos estudos feministas. Tvardovskas encontra como eixo tematizador dos trabalhos dessas artistas as questões relacionadas ao corpo, grande sensibilidade e uma crítica forte à história do seu país. Assim, as três artistas-objeto enfatizam em suas criações a memória como prática ativa no presente e lugar de reflexão política. Silvia Gai6 começa seus trabalhos com técnicas têxteis em meados dos anos 90, tecendo órgãos humanos em crochês de formato tridimensional, aplicando-lhes um banho de água e açúcar que lhes garante uma estrutura firme, como se vê na sua série de órgãos Donaciones, de 1997. Esses trabalhos levam à reflexão sobre a enfermidade e a fragilidade dos corpos: pequenos tumores, más-formações e lacerações se alastram por seus trabalhos. As reflexões acerca do HIV, que preocupou a argentina desde os anos 80, da mesma maneira emergem em suas obras. Também há trabalhos da artista que se dão em almofadas e aventais, objetos do uso cotidiano e doméstico. Tvardovskas os entende por uma perspectiva feminista, pois Silvia Gai “[…] explicita os enunciados sociais que tradicionalmente restringem as mulheres à domesticidade, em nome de uma suposta ‘ordem biológica’” (Tvardovskas, 2015, p. 320). É possível ver a criação de corpos sensíveis à percepção, de uma maneira muito diferente daquela expressa pelos invasivos discursos médicos e cirúrgicos. As linhas e redes formadas pelos seus trabalhos igualmente aludem às interpretações feministas, podendo sugerir a criação cultural de órgãos, tecidos e corpos.
Já Claudia Contreras7 usa materiais e técnicas de criação muitas vezes tachadas como menores e atribuídas às mulheres, confrontando acidamente a história do último século, em especial os genocídios e a ditadura em seu país. Os problemas que inundam a Argentina na década de 1990, como as mazelas do neoliberalismo e o empobrecimento massivo da população, suscitam na arte de Contreras questões a serem tratadas, bem como os desaparecimentos políticos da ditadura militar, numa tentativa de reconstruir o passado de forma crítica, questionando discursos oficiais e os problemas da memória e do esquecimento. Em reconstruções do mapa argentino, ela expõe corpos atacados e agredidos, como nas obras Argentina Corazóne Columna vertebral, ambas de 1994-1995. Já a série Cita envenenada (2001), “[…] remete à prisão de militantes políticos pela polícia, por meio do descobrimento de esconderijos e encontros marcados, associada, portanto, à traição” (Tvardovskas, 2015, p. 375). Nesse sentido, Contreras utiliza um objeto cotidiano, banal, como uma xícara, e nele expõe dentes humanos, estabelecendo uma relação entre os micropodores que perpassam nossos cotidianos e revelam violências e impactos sobre nossos corpos. Os trabalhos que nem sempre se mostram como críticas feministas – como, à primeira vista, pode parecer Cita envenenada – podem ser lidos numa perspectiva feminista, uma vez que, para Tvardovskas, conceitos como corpo, desejo, cotidiano e poder são postulados pelas discussões de mulheres interessadas na transformação da realidade social e cultural.
Nicola Costantino8 encerra as análises de Dramatização dos corpos, mostrando o olhar ácido sobre a cultura argentina e as convenções de moda, do feminino e da maternidade presente nos trabalhos dessa artista. Assim como Contreras e Gai, Costantino é entendida por Tvardovskas como uma daquelas artistas que utilizam a água como elemento sofredor e matéria de desespero, o que pode ser visto na obra Ofelia, Muertede Nicola Nº II.9 A maternidade, a cozinha, o envelhecimento e a beleza feminina são constantemente questionados pelas corrosivas obras de Nicola Costantino, o que fica claro nos seus trabalhos de inkjetprint, como nas impactantes Nicola costurera (2008), Madonna (2007) e Savon de corps (2003). Em Nicola Alada, de 2010, a imagem de si é usada para refletir acerca do corpo, o imaginário sobre a mulher e a violência histórica. Seu autorretrato como Vênus na frente de uma enorme carcaça bovina pendurada causa uma mordaz contradição entre o ideal da imagem feminina e a violência causada ao olhar espectador pela carne animal exposta. O corpo animal entrecruzado ao corpo de Vênus nos faz perceber, segundo Tvardovskas, o sofrimento possível em um corpo, em especial o das mulheres.
Passando à conclusão, Tvardovskas entende as obras das seis artistas estudadas como práticas fluidas e em constante reelaboração e como exercícios de reconstrução de si e da cultura no seu entorno: as produções de Salgado, Paulino, Miguel, Gai, Contreras e Costantino ampliam nossas formas de perceber o feminino e as ex não hierárquicas e não binárias. A autobiografia, o corpo, o espaço privado se constituem como espaços possíveis de repensar a memória e com potência criativa e libertária. Não há um sentido feminista essencial, pretendido pelas autoras ou fixo na análise de Tvardovskas; muito pelo contrário, a autora deixa explícita a intenção de lançar um olhar histórico e feminista sobre as obras estudadas. Durante toda a sua análise, por meio da crítica de suas fontes, das obras e das mulheres estudadas, reescreve um passado sobre a arte muitas vezes negligenciado, afirmando abertamente a sua leitura sobre elas: “Não se trata, assim, de uma simples invenção de sentidos inexistentes, mas de uma lente necessária para um olhar social que parece não conseguir enxergar com acuidade seus contínuos processos de apagamento das diferenças” (Tvardovskas, 2015, p. 380). Uma leitura mais que necessária nos tristes tempos vivenciados pela cultura e arte brasileiras, quando se olha, por exemplo, para as recentes polêmicas acerca do cancelamento da exposição QueerMuseu (Folha de S. Paulo, 2017) e em torno da performance La bête, acusada de pedofilia (Carta Capital, 2017). Dramatização dos corpos se torna leitura obrigatória num ambiente em que a arte que discute gênero, cultura LGBT, o corpo e o desejo é cada vez mais vítima de discursos censores e intolerantes.
Referências
CARTA CAPITAL. 2017. Museu de SP é acusado de pedofilia e rebate: performance não tem conteúdo erótico. Disponível em: https:// www.cartacapital.com.br/sociedade/museu-de-sp-e-acusado-de- -pedofilia-e-rebate-performance-nao-tem-conteudo-erotico. 29 set. Acesso em: 31/10/2017.
FOLHA DE S. PAULO.2017. Após protesto, mostra com temática LGBT em Porto Alegre é cancelada. Disponível em: http:// www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/09/1917269-apos-protesto- mostra-com-tematica-lgbt-em-porto-alegre-e-cancelada. shtml. 10 fev. Acesso em: 31/10/2017.
TVARDOVSKAS, L.S. 2008. Figurações feministas na arte contemporânea: Márcia X., Fernanda Magalhães e Rosângela Rennó. Campinas, SP. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, 223 p.
TVARDOVSKAS, L.S.2013. Dramatização dos corpos: arte contemporânea de mulheres no Brasil e na Argentina. Campinas, SP. Tese de Doutoramento. Universidade Estadual de Campinas, 370 p.
TVARDOVSKAS, L.S.2017. Currículo da Plataforma Lattes. Brasília. Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv. do?id=K4594129J5. Acesso em: 09/05/2017.
Notas
2 Esses dados foram consultados no Currículo Lattes de Luana Saturnino Tvardvoskas. Ver na lista de referências Tvardovskas (2017).
3 Nascida em 1967, é gravadora e especialista em gravura pelo London Print Studio e possui doutorado em Artes Plásticas pela ECA/USP. Todas as informações biográficas das artistas foram encontradas na própria obra de Luana Tvardovskas (2015).
4 Nascida em 1962, gravadora e escultora, estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (RJ) e Filosofia Contemporânea e Antropologia na Universidade Federal Fluminense e na Universidade de Brasília.
5 Pintora, desenhista e escultora. Nasceu em 1957, estudou desenho, pintura e litografia na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde se tornou professora. É doutora em Linguagens Visuais pela UFRJ e professora da UERJ e da PUC-RJ.
6 Nascida em Buenos Aires em 1959, é uma escultora que trabalha com crochês e bordados, dialogando com práticas têxteis.
7 Nasceu em 1956, também em Buenos Aires. Trabalha com colagem, costura, paródia, desenhos, pinturas, bordados, objetos, fotografias e animação digital. Estudou na Escuela Nacional de Bellas Artes de Quilmes, na Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano e na Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Também estudou em Madri.
8 Nascida em Rosário, em 1964, tem sido bastante comentada no circuito latino-americano contemporâneo, trabalhando com autorretratos, esculturas, embalsamamento de animais, imitações de pele humana, performances, vídeos e instalações. Formou-se na Escola de Artes Plásticas da Universidad de Rosario e embalsamamento e mumificação de animais no Museo Nacional de Ciencias Naturales de Rosario.
9 A água possui esse lugar na produção dessas três artistas e no imaginário argentino contemporâneo pelas memórias da ditadura militar, já que eram comuns os voos nos quais militares jogavam militantes políticos no mar e no Río de la Plata.
Benedito Inácio Ribeiro Junior – Doutorando em História na Universidade Estadual Paulista (UNESP) em Assis. Professor Assistente I na Faculdade de Administração de Santa Cruz do Rio Pardo da Organização Aparecido Pimentel de Educação e Cultura. Praça Dr. Pedro Cesar Sampaio, 31, Centro, 198000-000, Santa Cruz do Rio Pardo, SP, Brasil. E-mail: [email protected].
Health Equity in Brazil: Intersections of Gender/Race/and Policy | Kia Lilly Caldwell
No livro Health Equity in Brazil: Intersections of Gender, Race, and Policy (Equidade em saúde no Brasil: intersecções de gênero, raça, e política Pública), Kia Caldwell, professora da Universidade da Carolina do Norte, procura analisar como fatores estruturais e institucionais contribuíram e continuam a contribuir para a precarização da saúde de milhares de mulheres e homens negros. Caldwell chama a atenção para o insucesso do Brasil em desenvolver políticas que resolvam as questões de saúde que impactam desproporcionalmente a população negra até o início do século XXI. Ela enfatiza, ainda, o fato de o país não apresentar longa tradição de pesquisas ou de políticas em saúde focadas nas desigualdades raciais ou étnicas. Discorre, por um lado, sobre os esforços do Brasil no que se refere ao enfrentamento da epidemia de HIV/AIDS, e, por outro, sobre os desafios para assegurar equidade em saúde para a população afrodescendente. No que se refere à questão da garantia de saúde de qualidade para seus cidadãos, em particular para negras e negros, Caldwell examina o fato de o país ter sido bem-sucedido em certos desafios, mas ter falhado em confrontar outros. Leia Mais
Os gêneros do discurso – BAKHTIN (B-RED)
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. Paulo Bezerra (Organização, Tradução, Posfácio e Notas); Notas da edição russa: Seguei Botcharov. São Paulo: Editora 34, 2016. 164p. Resenha de: BRAIT, Beth. Bakhtiniana – Revista de Estudos do Discurso, v.12 n.2 São Paulo May./Aug. 2017.
Por que determinados textos, literários ou não, comportam mais de uma boa tradução, dentro de uma língua, sem que a ordem de aparecimento desqualifique a anterior? E se pensarmos num mesmo tradutor, o que justificaria a (re)tradução? Evidente que as respostas são muitas e vão depender, necessariamente, da maneira como se considera a passagem de um texto de uma língua a outra. Se, por exemplo, compreendermos a tradução como uma relação singular, estabelecida entre um texto de partida e um contexto de chegada, implicando modos de ler/reler uma obra e seu autor, será possível considerar não somente as idiossincrasias do tradutor criterioso que se volta mais de uma vez para um mesmo texto, e que com sua lupa persegue as minúcias estilístico-significativas do diálogo aí estabelecido entre duas línguas, duas consciências produtivas e em tensão, mas também, a possibilidade de reconhecer singularidades do tempo-espaço em que as traduções e (re)traduções acontecem. O novo contexto de recepção envolve, ao mesmo tempo, uma tradição temporal e espacial de estudos a respeito do autor/obra/tradução e a possiblidade de conferir ao novo trabalho do tradutor, ao texto de origem e à (re)tradução um estatuto diferenciado das manifestações anteriores.
Assim deve ser compreendido Mikhail Bakhtin: os gêneros do discurso, livro que chegou ao leitor em 2016, representando ganhos e significados especiais para os estudos bakhtinianos no Brasil. O crítico, ensaísta, professor e pesquisador Paulo Bezerra, reconhecido por suas importantes traduções literárias e por ser um dos responsáveis pela existência de Mikhail Bakhtin em língua portuguesa, retoma dois textos por ele traduzidos diretamente do russo e publicados em 2003 na coletânea Estética da criação verbal – “Os gêneros do discurso” e “O problema do texto na linguística e nas outras ciências humanas: uma experiência de análise filosófica”, este último renomeado como “O texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas: um experimento de análise filosófica” – e a eles acrescenta dois inéditos – “Diálogo I. A questão do discurso dialógico e Diálogo II”, publicados pela primeira vez na Rússia em 1997.
Sem dúvida, esse evento tradutório, que interliga versões pontualmente modificadas de dois textos que, juntamente com outros do pensador russo, são centrais para a compreensão dos conceitos de gênero discursivo, enunciado, texto, cadeia comunicativa, cadeia da comunicação discursiva, campos da comunicação cultural, cadeia histórica da cultura, deixa os estudiosos entusiasmados por ao menos duas razões. Pela estética das traduções de Paulo Bezerra, produto do reconhecido rigor acadêmico-científico, pautado na ética da pesquisa, sempre atento ao estado da arte de suas traduções e ao estado atual do conhecimento dos escritos do autor de Problemas da poética de Dostoiévski, notadamente na Rússia, onde vai buscar e conferir fontes. E pela chegada de dois novos escritos, voltados para diálogo, outra grandeza essencial na reflexão teórico-filosófica bakhtiniana que, como afirma Bezerra, “mesmo sendo textos preparatórios de ‘Os gêneros do discurso’, discutem questões congêneres não contempladas nessa obra e trazem rascunhos de projetos teóricos que o mestre pretendia desenvolver, revelando sua permanente preocupação com o aprofundamento e uma maior abrangência de sua teoria do discurso em vários campos das humanidades” (p.151).
Portanto, o gesto que implica (re)tradução acrescida de tradução de inéditos acontece a partir de um retorno do tradutor-pesquisador às fontes russas, aí consideradas a edição de Estética da criação verbal (Moscou, Iskusstvo,1979, organização e notas de Serguei Botcharov) e o tomo 5 das Obras reunidas de M. M. Bakhtin, (Moscou, 1997, volume organizado por Botcharov e Liudmila Gogotichvíli). A consequência imediata, altamente positiva para o leitor brasileiro e para o conhecimento do pensamento bakhtiniano, é uma decisão editorial que repensa a natureza dos textos reunidos em Estética da criação verbal, obra publicada na Rússia após a morte do autor.
Bastante conhecida no Brasil, essa coletânea, que teve uma primeira tradução feita a partir da edição francesa (Maria Ermantina Galvão G. Pereira, 1992), tem desde 2003 tradução feita por Paulo Bezerra, diretamente do russo. E é nela que se encontram os textos “Os gêneros do discurso”, “O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas: uma experiência de análise filosófica”, assim como diversos outros trabalhos produzidos em diferentes momentos por Mikhail Bakhtin. Como afirma Paulo Bezerra, “não é um livro tematicamente uniforme; são três livros em um, todos diferentes entre si pelos objetos de análise e reflexão, além de dois textos sobre Dostoiévski e outros quatro sobre diferentes temas de ciências humanas” (p.151). Ou seja, trata-se de um conjunto que, de fato, poderia, por um critério de relação e coerência entre obras, ser desmembrado e, com isso, oferecer ao leitor de hoje um panorama mais esclarecedor da maneira como alguns constructos do pensamento bakhtiniano foram aparecendo, sendo trabalhados e retrabalhados, evidenciando seu papel, função e participação na edificação da arquitetônica que rege e abriga o conjunto desse forte pensamento sobre linguagem.
E é justamente essa perspectiva que, considerando a possibilidade de agrupamentos coerentes dos trabalhos presentes em Estética da criação verbal, apresenta Os gêneros do discurso como o primeiro de quatro volumes previstos. Nesse sentido, o leitor se pergunta: “E qual é a coerência temática que dá conta, nesse primeiro volume, dos dois trabalhos conhecidos somados aos dois inéditos?”.
Os estudiosos interessados em alguns dos fios condutores do pensamento bakhtiniano têm procurado estabelecer, dentre outras coisas, a relação existente entre os conceitos de enunciado (por vezes enunciado concreto ou mesmo enunciação em algumas traduções), texto, discurso, gênero do discurso, cadeia da comunicação discursiva, campos ou esferas da comunicação cultural, sem dúvida pilares da construção reflexiva bakhtiniana, voltada para a linguagem nas artes e nas ciências humanas e, especialmente, a maneira como esses elementos constituem unidades e elos para a compreensão do processo vivo da comunicação humana, das cadeias discursivas.
Essa busca leva, necessariamente, aos dois trabalhos produzidos por Mikhail Bakhtin nas décadas de 50 e início de 60, do século passado, aproximados de forma muito pertinente nesse volume: “Os gêneros do discurso” (1952 – 53) e “O texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas: um experimento de análise filosófica” (1959-61). Neles, os conceitos mencionados são apresentados, tematizados, discutidos e inseridos na construção de uma perspectiva dialógica de concepção e abordagem da linguagem, bem como interligados numa interdependência que evoca outros escritos de Bakhtin, caso de “O discurso no romance” (texto iniciado em 1929 e concluído entre 1934 e 1936, publicado pela primeira vez na União Soviética em 1972).
A tentativa constante de compreensão do significado desses constructos fundamentais para a perspectiva dialógica da linguagem, caso de gênero do discurso, enunciado, texto fica facilitada pela organização desse primeiro volume do desmembramento de Estética da criação verbal, justamente pela forma como discurso, gênero e enunciado se articulam em relação a texto e vice-versa.
Em “Os gêneros do discurso” encontra-se um momento da concepção bakhtiniana de linguagem que sistematiza a importância da noção gênero para a compreensão da língua em movimento, plena de vida e de mobilidade, flagrada no diz-que-diz do burburinho da vida e da cultura, da vida na cultura, quer artística ou científica, do enunciado como unidade dialógica de tensão entre um/outro, entre ao menos duas consciências, entre identidades/alteridades, entre a língua/unidade, preservada a duras penas pelas forças centrípetas, e a língua/plural, multifacetada, plenamente realizada pelas forças centrífugas provocadoras do plurilinguismo. E é precisamente por essa dualidade – unidade/unicidade – que em “Os gêneros do discurso” encontra-se a importante discussão sobre as realidades representadas pela oração, enquanto unidade/modelo do conjunto de possiblidades de um sistema, e o enunciado, oral ou escrito, proferido de forma concreta e única, por integrantes das diferentes esferas da atividade humana.
Se gênero do discurso é um tema que acompanha o pensador russo ao longo de toda a sua vida, podendo essa presença ser vivenciada em Problemas da poética de Dostoiévski e em O discurso no romance, por exemplo, a concepção de texto como unidade semiótico ideológica também se reitera ao longo do conjunto da obra, ganhando discussão específica em “O texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas: um experimento de análise filosófica”, no qual se pode ler: “[…] por trás de cada texto está o sistema da linguagem. […]. Concomitantemente, porém, cada texto (como enunciado) é algo individual, único e singular, e nisso reside todo o seu sentido […]. Esse segundo elemento (polo) é inerente ao próprio texto, mas só se revela numa situação e na cadeia dos textos (na comunicação discursiva de dado campo)” (p.74-75).
O trecho em destaque indica duas dimensões implicadas, como também se pode observar em Os gêneros do discurso, que são evocadas como condição de existência de um texto: a materialidade sígnica ou dimensão semiótica, que o constitui e o faz participante de um sistema; a singularidade que lhe é conferida a partir de sua participação ativa e efetiva na cadeia da comunicação discursiva da vida em sociedade. Essa combinatória constitutiva de elementos dados (sistema) e elementos criados (linguagem em uso) possibilita a um texto ser reconhecido como pertencente a um sistema (linguístico, pictórico, musical, etc.), e, ao mesmo tempo, como portador de valores, de posições que garantem a produção de sentidos, sempre em confronto com outras posições e valores presentes numa sociedade, numa cultura. De acordo com Bakhtin, “Onde não há texto não há objeto de pesquisa e pensamento” (p.71).
Os dois inéditos, por sua vez, tem um sabor muito especial. O título evoca uma das peças-chave da teoria bakhtiniana, que é o diálogo, concebido como constitutivo da linguagem humana e não apenas como estrutura de conversa. Escritos antes da versão definitiva de “Os gêneros do discurso”, “Diálogo I” (1950) e “Diálogo II” (1952), publicados em 1997 no volume 5 das Obras de Bakhtin (Editora Rússkie Slovarí), certamente surpreendem, conforme afirma Bezerra:
À primeira vista são rascunhos do que viria a ser o texto final de “Os gêneros do discurso”, porém, uma leitura atenta mostra que Bakhtin vai além do livro projetado. […] Em toda a concepção bakhtiniana a linguagem humana é vista sob um prisma dialógico, mas nesses “diálogos” atribui-se à própria língua uma natureza dialógica, o que, a meu ver, é uma novidade na teoria linguística de Bakhtin (p.111).
A esse coerente conjunto, Paulo Bezerra ainda acrescenta um posfácio, a bem da verdade um substancioso ensaio de quase vinte páginas, sugestivamente intitulado “No limiar de várias ciências”, por meio do qual caracteriza a coerência do quarteto, enquanto composição teórica interligada por uma das unidades temáticas própria do pensamento bakhtiniano, relacionando-a com outros trabalhos do autor, discutindo a importância desse conjunto e auxiliando, neste momento dos estudos bakhtinianos, a compreensão dos complexos meandros de “Os gêneros do discurso”, trabalho nem sempre pensado em suas reais especificidades, em consonância com outros trabalhos de Mikhail Bakhtin. E aí a (re)tradução se justifica, ganhando corpo e lugar na cultura brasileira.
Beth Brait – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUC-SP, São Paulo, Brasil; CNPq-PQ nº. 303643/2014-5; [email protected].
Botitas Negras en Calama. Género, magia y violencia en uma ciudad minera del norte de Chile – KRAUSHAAR (RCH)
KRAUSHAAR, Lilith. Botitas Negras en Calama. Género, magia y violencia en uma ciudad minera del norte de Chile. Santiago de Chile. Ceibo Ediciones, 2016. 398p. Resenha de: ESPIRITO-SANTO, Diana. Revista Chilena de Antropología, n.34, p.109-111, jul./dic., 2016.
Este texto fue tomado de la presentación del libro, el 16 de Noviembre, en la Sala de Teatro Cinema.
Sabía que la antropóloga Lilith Kraushaar trabajaba con magia, relaciones y políticas de género, violencia y economía del poder en el culto a un espíritu de una señora que había muerto trágicamente en una ciudad minera en el norte de Chile. Pero no más. Cuando ella me pidió que participara de la presentación de su libro Botitas Negras en Calama, me di cuenta de que su trabajo era más que una simple etnografía de la biografía (y necrografía) de una mujer del ambiente. Además de trazar una historiografía rizomática, plural, de los hechos y del contexto de su construcción posicionada en múltiples sectores de la sociedad calameña, el libro también intenta entender la gran fe que sus varios caminos y encarnaciones, así como las intersecciones del significado de su muerte, siguen inspirando en los habitantes de estas precarias economías políticas. Este trabajo demuestra destreza en múltiples niveles de análisis discursivo y narrativo, socio-histórico y de cultura material, y es la combinación experta y sensible de estos métodos sumamente antropológicos, lo que es verdaderamente inspirador. Así es que gracias a Lilith por haber escrito este libro.
Botitas Negras es Irene Iturra, una mujer de 27 años brutalmente asesinada en los alrededores de Calama en 1969. Los detalles de su muerte son violentos en cualquier estándar: fue encontrada con la cara, cuero cabelludo y pechos cortados, sin una mano, piel y tendones de brazo, y semi-desnuda, como si hubiera sido violada. Se notó que vestía botas negras, la marca que la sexualizó desde ese momento, y que además la identificó. Tanto en los medios de comunicación, en la policía como en la población se genero un sinnúmero de hipótesis coherentes con la división sexual y económica del trabajo, y también con las ideologías de género y poder de ese tiempo y espacio: que había sido víctima de un triángulo amoroso, de alguna venganza o ira de parte del “marido”. Finalmente, cuando se produjo la imagen de “prostituta” en los medios de comunicación, se vio el asesinato como una conclusión casi naturalizada de un “ambiente” sexualmente depravado, y se apuntó a los males de una ciudad con vicios mineros descontrolados. Sin embargo, como sabemos, el caso se quedó sin culpables.
Pero Lilith Kraushaar no nos pinta un cuadro simple o sencillo de este “ambiente”, ni del enredo de conexiones en las cuales Irene Iturra se mueve, a veces secretamente de su celosa pareja, a veces con esperanza para su futuro en la prostitución. La autora nos recrea no solo el lenguaje del contexto bohemio de Chillán y Calama, trazando los pasos de Irene por una multitud de espacios y las discusiones públicas más amplias que siguieron, sino que es minuciosa hasta con el más pequeño detalle socio-histórico y documental, tejiendo una historia compleja, rica, cuyas partes sin embargo encajan de una forma disonante, en ángulos rectos, como la historia siempre es, vista de perspectivas diferentes. No hay una narrativa; hay muchas, paralelas, simultáneas, que hacen a la vez total sentido en el trabajo aquí expuesto.
Este no es solamente un libro sobre el comercio sexual en centros mineros; es también un tratado antropológico y crítico sobre la propia organización económica, sexual, y social en comunidades mineras en Chile, una organización que tiene fuertes raíces en las compañías norteamericanas que promovían modelos de familia y género que producían (y producen) tensiones irreconciliables. El hecho es que Irene Iturra desafió la tenue barrera construida entre esposas de trabajadores, protegidas por su marido y fieles a él, y las demás: solteras, mujeres nocturnas, prostitutas, sujetas a la violencia indiscriminada de sádicos. Al hacerlo, Irene puso en relieve estas mismas categorías, confundiendo los dos roles.
Pero tal como Irene utilizaba diferentes nombres, encarnando personajes diferentes según el contexto y las relaciones sociales que cultivaba en él, su cuerpo y la figura que sobresale eventualmente de su muerte tendrá repercusiones, algunas inesperadas. De hecho, hay que decir que Lilith hace más que caracterizar un espacio histórico: también ha escrito una especie de antropología del amor y de los sentimientos calameños, por medio de la magia dejada al pie del altar de Botitas Negras: cartas, velas, flores, placas, cigarros, cerveza, dulces y otros regalos que se enmarcan dentro del homenaje y de los pedidos que jóvenes y viejos pero especialmente mujeres, le vienen hacer a ella. De Irene Iturra a Botitas Negras hay una transformación: la prostituta se vuelve maestra en temas del ambiente, de clientes y prostíbulos; como ente sexual, se convierte en especialista del amor y atracción; como esposa, en temas de matrimonio y vida doméstica; la mujer asesinada y violada se vuelve la protectora de otras mujeres, experta en técnicas de venganza; se vuelve milagrera y destructora a la vez. Sus múltiples resignificaciones no son extrañas a otros difuntos especiales, no solo en Chile. La cultura material hace el milagro posible; materializa la esperanza. Por alguna razón nosotros antropólogos de fenómenos religiosos le prestamos especial atención. La figura de Irene es, por lo tanto, reclamada y rehecha en Botitas, disputada por distintos grupos con diferentes creencias relativas a la muerte y a sus prácticas funerarias.
En la segunda parte del libro, por lo tanto, Lilith nos lleva por los variadísimos motivos que impulsan el culto a Botitas, la santa prostituta. Al final, vemos que se anuda perfectamente un lado del libro con el otro: aparte de otras solicitudes, las mujeres que vienen a la tumba, desamparadas, saben que Botitas “entiende”, como dice Lilith, y cito,
lo que implica el ser mujer en esta ciudad minera, con todos los impedimentos y los papeles que se le atribuyen: conservar la familia, arreglársela con varios tipos de trabajo para obtener un sueldo, complacer sexualmente, vivir con el sueldo de otro, competir entre mujeres, admitir el privilegio masculino de escoger entre varias mujeres, el entretenimiento homosocial, situaciones todas que anuncian la expresión diaria y la eventualidad de la violencia en las relaciones de género, amparadas por las instituciones y el mercado capitalista (p. 296).
Pero, para finalizar, podemos decir que si por un lado, a través del culto a Botitas se articulan las condiciones del capitalismo industrial y los valores subjetivos mantenidos por la gente en una ciudad minera en tiempos actuales, en tanto “muerta” Irene Iturra trasciende estas mismas condiciones. Ella no es solo testigo de la historia verídica, de hechos socio- económicos refractados a través de su biografía, pero también en cierto modo hace y rehace historia.
Dice Stephan Palmié (2002: 4-5), un antropólogo y historiógrafo de religiones afro-cubanas, que en un sentido muy concreto, cada forma de conocimiento histórico involucra proposiciones sobre el papel de los muertos en el mundo de los vivos, conformado como es por la existencia y agencia pasada de humanos.
Estos conocimientos hacen reclamos al pasado; un pasado que viene a instanciar, mantener o contestar un mundo presente. Pero estos reclamos no deberán ser vistos como concepciones objetivistas de representaciones históricas, como si el pasado fuera sujeto de fácil rescate o recuperación. La historia, nos cuenta Palmié, es, invariablemente, constituida por imaginación histórica, por historias personales y familiares inacabadas, discursos y imágenes que compiten, donde no hay una linealidad entre realidades pasadas, a ciertas distancias temporales, y el presente.
Tomar en serio a los muertos afro-cubanos es, según él, indagar sobre las relaciones entre el pasado y el presente que subyacen a un orden contemporáneo pero quedan no-reconocidos, en silencio, no obstante que su existencia en el mundo haya tenido consecuencias que todavía resuenan entre los vivos.
A mi modo de ver, y en consonancia con lo que señala Palmié, lo que logra el culto a Botitas es también eso: traer a la consciencia que el pasado no terminó, y nunca va a terminar. Hay personajes, como los afroamericanos, pero también Irene Iturra, cuyas historias no son la propiedad especial de sus descendientes, sino parte del patrimonio ético e intelectual del Occidente como tal. Mientras que los muertos de que habla Palmié hacen parte de la formación de la modernidad Atlántica, como espíritu, podemos igualmente proclamar que Botitas pertenece a una conformación mucho más grande que los contornos de su propia vida.
Referências
Palmié, S. 2002. Wizards and Scientists: Explorations in Afro- Cuban Modernity and Tradition. Duke University Press, Durham
Diana Espirito-Santo – Profesora Asistente de Antropología, Pontificia Universidad Católica de Chile. E-mail: [email protected].
[IF]
Lugares para a história – FARGE (RHR)
FARGE, Arlette. Lugares para a história. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. Resenha de: ESTACHESKI, Dulceli de Loures Tonet. Relações de gênero nos lugares para a história. Revista de História Regional n.21 v.2, p.735-739, 2016.
Uma das características dos estudos de gênero é a pluralidade teórica, metodológica e temática. São diversas possibilidades reflexivas que refletem a própria essência de tais estudos, que visam não apenas produções acadêmicas consistentes, mas principalmente, objetivam reflexões que possibilitem transformações nas práticas sociais. O intuito é a construção de um mundo mais justo que, como os estudos de gênero, valorize a diversidade. Teorias e metodologias diversas para pensar práticas diversas de pessoas diversas, essa é a essência.
Arlette Farge é uma historiadora francesa que se dedica aos estudos do século XVIII. No Brasil temos duas de suas importantes obras publicadas, o primeiro, ‘O sabor do arquivo’, de 20091 é uma escrita quase poética sobre a pesquisa arquivística. Trata do contato com o documento, do encantamento pela descoberta na pesquisa histórica que utiliza como fontes os documentos judiciais. Pessoas, queixas, delinquência, vigilância, controle, narrativas, são elementos que constituem tais documentos e revelam histórias, costumes, o cotidiano de pessoas que não queriam suas vidas expostas de tal forma, mas que por terem sido assim documentadas, ajudam a pensar sobre as relações de poder. Os arquivos judiciários expressam os ajustes e os impasses nas relações do sujeito com seu grupo social e com os poderes estabelecidos. E quando pensamos em relações de poder, pensamos em gênero, que “é um primeiro modo de dar significado”2 a elas e, mesmo que a autora não cite especificamente o termo, ela salienta que as mulheres são encontradas nesses arquivos que, para ela, desvendam também “o funcionamento do confronto do masculino e do feminino”3. A segunda obra, mais recente, publicada em 2015, é ‘Lugares para a História’4 e novamente ela não escreve especificamente sobre gênero, mas então, como sua obra pode ser importante para as pesquisas na área? Afinal, de que ela trata? Em sua introdução Farge ressalta que a historiografia precisa ocupar-se de escritas que interessem à comunidade social e que confrontem o passado e o presente. Quando pesquisamos as relações hierárquicas de gênero por uma perspectiva histórica, é isso que fazemos, é o que queremos, confrontar o passado, as formas como foram constituídas essas relações para melhor argumentar em nossas problematizações em relação ao presente. As questões de gênero são essenciais para a comunidade social e por isso devem ser escritas, lidas e refletidas.
Em sete capítulos a autora apresenta o que chama de ‘lugares para história’, que são situações que encontram eco na atualidade, como o sofrimento, a violência e a guerra, ou que consideram sujeitos e experiências singulares, como a fala, o acontecimento, a opinião e a diferença dos sexos. Para ela Esses dois conjuntos se religam pela presença hoje de configurações sociais violentas e sofridas, e de dificuldades sociais que desqualificam o conjunto das relações entre o um e o coletivo, entre o homem e a mulher, o ser singular e sua – ou suas – comunidade social, entre o separado e sua história.5 No primeiro capítulo, ‘Do sofrimento’, Farge questiona se a historiografia pode dar conta do sofrimento humano. O sofrer pode ser um tema para a história ou o sofrimento um lugar para ela? A história tem dado conta de grandes “catástrofes humanas” fazendo com que a dor que elas causam nos sujeitos seja pensada como se fosse apenas fatalidade, consequência de eventos maiores que merecem a total atenção. Dificilmente a história se volta para os “ditos do sofrimento”, para as palavras de dor, à exceção, como aponta a autora, da história do tempo presente que valoriza os relatos de pessoas que vivenciaram momentos históricos tensos e apresentam as suas percepções sobre eles. Um bom exemplo disso é o texto de Wollf6 que analisa relatos de familiares de desaparecidos políticos da América Latina, evidenciando que os apelos aos sentimentos da opinião pública foram utilizados para fins políticos, para desacreditar regimes militares e fortalecer a luta por direitos humanos.
Para Farge é possível e preciso entender que “a dor significa, e a maneira como a sociedade a capta ou a reusa é extremamente importante”.7 Os grandes eventos como guerras e revoluções afetam a vida das pessoas de formas muito distintas, dependendo do lugar social que elas ocupam. Farge salienta a necessidade de se pensar na tristeza de mulheres que sofrem em um mundo caracteristicamente masculino e de pobres que vivem em sociedades tão desiguais. Ela enfatiza que há racionalidade nessas distorções, nessas diferenciações que causam dor e pesquisar sobre isso, escrever a partir desse entendimento, é uma forma de buscar erradicar o sofrimento dos que hoje são atingidos pelos ecos dessas situações históricas. Para Wolff8 emoções e gênero se entrelaçam, pois fazem parte da experiência humana. É sobre essa experiência, essencialmente a que causa sofrimento, que Farge nos convida a escrever e é por isso que sua obra é tão importante para pensar as relações de gênero. A racionalização do sofrimento nessas relações sendo historicamente analisados pode explicar os dispositivos que fizeram surgir tais sentimentos e práticas, podendo “fornecer os meios intelectuais de suprimi-los ou de evitá-los”9 Há uma insatisfação em relação aos discursos históricos sobre a violência.
“A interpretação histórica da violência, dos massacres passados, dos conflitos e das crueldades, praticamente não permite, na hora atual, ‘captar’ em sua desorientadora atualidade o que se passa sob nossos olhos”10. Em seu capítulo ‘Da violência’, a autora convida a não nos dobrarmos ao sentimento de fatalidade ou impotência diante da violência e ressalta que é legítimo buscar outras interpretações históricas, como o fazem as pesquisas sobre as emoções que destacam sujeitos, gestos e falas. Para ela, a historiografia pode, não apenas, apresentar o conhecimento, mas indicar caminhos para a luta, para o enfrentamento à violência.
A violência tem racionalidade. A violência de gênero é pautada numa racionalidade em relação a uma sociedade hierarquizada na qual homens devem ser dominadores e mulheres submissas, contrariar essa lógica pode levar ao ato violento. Entender a racionalidade da violência, para Farge, é um caminho para evitá-la, transformando a realidade com outras formas de racionalização.
‘Da guerra’ problematiza a ideia de que a guerra é inevitável e questiona a “estranha disposição que nos fez considerar esse fenômeno como normal”11.
No capítulo seguinte, ‘Da fala’, Farge afirma que o/a historiador/a dá sentido à fala para que o passado se torne inteligível ao leitor e alerta para o fato de que “a história pode ser dita rápido demais”12 e dessa forma invisibilizar as pessoas que a fazem. A escrita da história pode dar lugar aos sujeitos, como Foucault o fez em ‘A vida dos homens infames’13 ou em ‘Eu, Pierre Riviere…’14, como Davis fez com Martin Guerre15, Esteves com as ‘meninas perdidas’16 e Wolff com as mães de desaparecidos políticos17.
A história pode pensar a resistência pelas vozes de quem transgride a ordem. Estas percepções são apresentadas nos capítulos seguintes, ‘Do acontecimento’ e ‘Da opinião’. Em seguida, a autora dedica um capítulo para pensar a ‘diferença dos sexos’ como um lugar para a história. Como salientado acima, Farge não parte dos estudos de gênero, então não se ocupa em pensar as categorias de análise sexo e gênero e suas problematizações. Ela parte de discussões propostas por uma história das mulheres da França, para acusá-la de pessimista, marcada por uma inércia que apresenta as diferenças entre homens e mulheres como algo estável, não tendo como intuito mover o leitor a pensar a necessidade de mudança. A autora critica, assim como o fazem os estudos de gênero, esse caráter fixo das coisas. A ordem hierárquica, desigual, deve ser pensada pelas transgressões que sofre, pois “reconstituir os momentos em que a instabilidade, o desequilíbrio, as recusas”18, ocorrem pode demonstrar a possibilidade de novas estruturas.
Farge conclui que “buscando conhecer outro tempo, não escapamos do nosso, e, se este último, como o faz hoje, se arranca brutalmente do passado, a história se engaja também nessa ‘realidade’ para encontrar seu sentido”.19 Ao propor uma reflexão histórica que dê conta das dores humanas, sem entendê-las apenas como fatalidades, mas embrenhando-se pelo que move as ações, os sentimentos, as inquietações e os desejos, que transformam as pessoas, fazem sofrer ou lutar, submeter-se ou transgredir, ‘Lugares para História’ ajuda a pensar a categoria gênero como essencial para as reflexões históricas, mesmo que não a cite. Os estudos de gênero possibilitam compreensões que podem gerar mudança social, que se configuram em uma história engajada, como almeja a autora.
Notas
1 FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. São Paulo: EDUSP, 2009.
2 SCOTT, Joan. Gênero uma categoria útil para análise histórica. Educação e realidade. Porto Alegre. Vol. 20. N. 2. Jul/dez, 1995. p. 14.
3 FARGE, op. cit.,p. 43.
4 FARGE, Arlette. Lugares para a história. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
5 FARGE, Lugares… Op. cit. p. 9-10.
6 WOLFF, Cristina Scheibe. Pedaços da alma: emoções e gênero nos discursos da resistência. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, 23(3), setembro/dezembro, 2015.
7 Ibidem. p. 19.
8 WOLFF, op. cit.
9 FARGE, Lugares… Op. cit., p. 23.
10 Ibidem. p. 25.
11 Ibidem. p. 43.
12 FARGE, Lugares… Op. cit., p. 61.
13 FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infames. In: Ditos e escritos. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2006.
14 FOUCAULT, Michel. Eu, Pierre Riviere, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Rio de Janeiro: Graal, 1977.
15 DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
16 ESTEVES, Martha de Abreu. Meninas Perdidas: Os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da Belle Époque. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
17 WOLFF, op. cit.
18 FARGE, Lugares… Op. cit., p. 114.
19 Ibidem, p. 129.
Dulceli de Loures Tonet Estacheski – Doutoranda em História pela UFSC. Professora do curso de História da UNESPAR, campus de União da Vitória. E-mail: [email protected].
História das mulheres e do gênero em Minas Gerais / Cláudia Maia e Vera L. Puga
Escrever a história das mulheres e do gênero ainda é uma tarefa ousada. Desde os anos 1980, o tema chega ao Brasil e se consolida como um campo definido de pesquisa para as/os historiadoras/es ganhando visibilidade, apesar de ainda sofrer restrições no interior das instituições acadêmicas. O número significativo de publicações revela gradativo fortalecimento desse campo, como atesta o crescimento das publicações de livros, artigos em revistas especializadas, teses, dissertações e simpósios temáticos versando sobre o tema. O que significa escrever uma história das mulheres e do gênero? A história se tornou o lugar a partir do qual o feminismo questionou o sujeito universal moderno (homem, branco, heterossexual e cristão), fazendo emergir uma vasta gama de sujeitos históricos em suas especificidades de gênero, étnico-raciais, sociais e sexuais.
O livro História das mulheres e do gênero em Minas Gerais, organizado por Cláudia Maia (UNIMONTES) e Vera Puga (UFU) resulta de uma parceria de longa data entre as organizadoras, que são pesquisadoras conceituadas e bastante atuantes nos simpósios sobre “História das mulheres e do gênero” na Associação Nacional de Professoras/es Universitários de História (ANPUH). Cláudia Maia é doutora em História pela Universidade de Brasília, na área de Estudos Feministas e de Gênero, e pós-doutora pela Universidade Nova de Lisboa. Atua como professora adjunta do Departamento de História e dos Programas de Pós-graduação em História e de Letras/Estudos Literários, da Universidade Estadual de Montes Claros. Vera Puga é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), desde 1998, e atualmente faz parte de algumas comissões: do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (ENADE-Formação Geral) e da Secretaria de Políticas para as Mulheres (Comitê Técnico-Institucional, questões de gênero). É professora Associada II da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde atua no Programa de Mestrado e Doutorado em História Social, no Núcleo de Estudos de Gênero e Mulheres (NEGUEM) e na Revista Caderno Espaço Feminino, como editora.
O livro em questão conta ainda com a participação de pesquisadoras/es de vários estados brasileiros que se debruçaram sobre diferentes momentos da história das mulheres em Minas Gerais, partindo de variados tipos de fontes e abordagens metodológicas. Foi publicado pela Editora Mulheres e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Trata-se de uma coletânea de 552 páginas, organizada em quatro partes que indicam os múltiplos olhares sobre as mulheres mineiras: 1) transgressoras e insubmissas mineiras; 2) damas, donas do sertão; 3) saberes e fazeres femininos; 4) casamento e maternidade: mecanismos de um destino social.
A primeira parte da obra é constituída por textos que tratam das variadas ações de mulheres mineiras em diferentes temporalidades e espaços, para romper com as amarras das tradições patriarcais. Através da escrita sensível da pesquisadora Diva do Couto Muniz, conhecemos professoras mineiras cujo conjunto de ações “insubordinadas, indóceis e indisciplinadas” fincaram um marco de resistência ante o conjunto das estratégias elaboradas nas Minas oitocentistas, para circunscrevê-las a um ideal de mestra, recatada e submissa. Encontramos também as mulheres que ousaram contrariar regras “sagradas” e constituíram famílias com padres, mesmo estando sujeitas a sanções sociais, conforme divisou Vanda Praxedes. Mulheres mineiras livres ou escravizadas com suas práticas e estratégias em favor da abolição, como a escravizada Catarina que se destacou pela “astúcia empreendida em seus projetos de liberdade” (p.87), são desveladas por Fabiana Macena. A mineira Maria Lacerda de Moura, sua trajetória e escrita libertárias compõem o texto escrito por Cláudia Maia e Patrícia Lessa. Os três últimos textos discorrem sobre a escrita feminina: Maura Lopes Cançado e sua vida marcada pela insanidade e transgressão das normas de gênero, cuja obra Hospício é Deus foi discutida de forma densa por Márcia Custódio e Alex Fabiano Jardim. Contribuindo para visibilizar as mulheres negras e suas escritas, Constância Duarte nos presenteia com uma análise belíssima de parte da obra da escritora mineira Conceição Evaristo. Nos contos analisados, as personagens negras nos convidam a conhecer suas trajetórias, nas quais a intersecção entre gênero, etnia e classe se fazem presentes nas suas estratégias, vivências e resistências cotidianas. Fechando a primeira parte, conhecemos Márcia, prostituta de Pouso Alegre, cujas cartas são analisadas por Varlei do Couto a partir da noção foucaultiana de escrita de si. Vivendo e lutando num contexto em que as campanhas de moralização e higienização sociais têm como foco seu local de trabalho e residência, Márcia elabora táticas de resistência, enquanto troca correspondências com pessoas de sua estima, nas quais fala de si e de sua posição frente à sociedade em que vive.
Na segunda parte da obra, intitulada “Damas, donas do sertão”, os olhares das/os pesquisadoras/es se voltam para as regiões consideradas mais distantes de Minas Gerais: os sertões longínquos, tradicionalmente considerados como espaços do desmando e poderio falocêntricos, agora são relidos sob novo viés. Assim, conhecemos por meio do texto de Gilberto Noronha as imagens contraditórias construídas sobre Joaquina de Pompéu e sua atuação no Oeste de Minas Gerais, entre os séculos XVIII e XIX. Em alguns discursos, ela é a mulher reta, recatada e justa; em outros, figura como “caudilho de saias” ou “sinhá Braba”, colérica, descomedida sexualmente e cruel com seus subordinados. Dona Tiburtina de Andrade Alves é outra mulher cuja posição ativa suscitou inúmeras representações: seu envolvimento em episódio sangrento da política de Montes Claros, no início do século XX, foi lido e relido ao longo do tempo a partir de várias perspectivas, sendo ora louvada, ora criticada, conforme destacam as autoras Maria de Fátima Nascimento e Filomena Cordeiro Reis. Correndo mundo através da literatura, as personagens femininas de Guimarães Rosa, tão vivazes quanto os viventes de carne e osso, em suas ações destecem o tecido da tradição falocêntrica e conduzem os destinos por caminhos por elas mesmas traçados. Zidica, Rivília e “Dlena, aranha em jejum” apresentam possibilidades de “desarticular o estabelecido” e nos são apresentadas com sua astúcia, pela pena sutil de Telma Borges.
Os textos que compõem a terceira parteda obra, denominada “Saberes e fazeres femininos”, têm em comum o cuidado das/o autoras/res em ouvir as próprias mulheres acerca de seus conhecimentos e práticase das formas pelas quais atuaram em suas comunidades. As falas das narradoras são permeadas de satisfação em rememorar suas trajetórias de vida e, ao mesmo tempo, reiteram sentidos tradicionais sobre as atividades consideradas como apanágio feminino ou masculino. Através do texto de Lúcia Helena da Costa, acessamos as narrativas das parteiras do norte de Minas Geraiscujas práticas de partejar sofreram a interferência dos médicos no processo de medicalização da saúde das mulheres e dos recém-nascidos, a partir dos anos de 1950. No texto de Cairo Katrib e Fernanda Naves, nas memórias de mulheres congadeiras em Ituiutaba se entrelaçam trajetórias pessoais e a prática cultural do Congado. Durante muito tempo silenciadas pela tradição judaico-cristã, as vozes das mulheres que atuaram na fundação de Igrejas pentecostais no Norte de Minas Gerais são enfim ouvidas por meio da pesquisa de João Augusto dos Santos. A ligação entre os fazeres considerados como femininos ligados à cozinha e aos hábitos alimentares mineiros são discutidos por Mônica Abdala. Ainda sobre saberes, temos as narrativas das mulheres trabalhadoras rurais no Triângulo Mineiro, visibilizadas por Maria Andréa Angelotti. A exclusão feminina do acesso à educação formal é discutida por Leila Almeida, que se debruça sobre as narrativas de mulheres de Januária acerca de suas trajetórias de escolarização. As hierarquias de gênero que comumente estabelecem restrições diversas às mulheres marcaram a vida de muitas das narradoras, que foram impedidas de estudar durante a juventude por maridos ciumentos e obrigações domésticas. Encerrando a terceira parte, conhecemos a luta pela terra travada pelas mulheres negras remanescentes de um Quilombo em Paracatu, através da pesquisa de Maria Clara Machado e Paulo Sérgio da Silva.
O casamento e a maternidade têm sido apontados enfaticamente como formas de aprisionamento das mulheres, transformados em destinos social e biológico circunscrevendo as mulheres na esfera da casa e da família, submetidas a cerceamentos e violências. A quarta e última parte do livro se caracteriza por discutir os dispositivos sociais responsáveis por restringir as mulheres às funções de esposas e mães, bem como as estratégias encontradas por muitas para se livrarem de situações de violência em casamentos infelizes. Helen Ulhôa Pimentel examina documentação do século XVIII do tribunal eclesiástico instalado em Paracatu. A autora estuda o papel da Igreja quanto ao casamento e a possibilidade de anulação do mesmo. Entre a documentação encontrou vários casos nos quais as mulheres resistiram às imposições da Igreja e a procuravam buscando se livrar de situações intoleráveis, como casamentos violentos, o caso, por exemplo, de Joana de Souza Pereira. Na sequência, também tratando de casamento e divórcio, temos o texto de Dayse Lúcide Santos, que discute a legislação brasileira, do final do século XIX e início do século XX, acerca do tema e analisa alguns processos de separação ocorridos em Diamantina. Uma das conclusões a que chega é a de que havia um descompasso entre as normas instituídas pelo Estado e pela Igreja e as vivências de homens e mulheres, o que levava a transgressões da norma. Os discursos produzidos no início do século XX sobre os papéis das mulheres na formação dos cidadãos nas regiões do triângulo mineiro constituem foco da pesquisa de Florisvaldo Ribeiro Júnior. As mulheres eram “alvos de prescrições físicas e morais de jornalistas, médicos, intelectuais, políticos e padres”, que procuravam estabelecer normas e controle sobre os seus corpos e condutas. Temos, aqui, excelente análise a respeito da relação entre as representações de gênero e os projetos de Nação Moderna do período. Na sequência, os discursos de mães adolescentes sobre maternidade e casamento, em Uberlândia, são analisados por Carla Denari, que percebe um descompasso entre os discursos do Estado acerca da gravidez na adolescência e os sentidos positivos que as mães adolescentes atribuem à maternidade e ao casamento. A educação enquanto espaço de produção das diferenças de gênero é objeto de Vera Lúcia Puga que percorre criticamente o processo educacional dicotômico, desde o século passado, com os internatos separados por sexo, até o presente, com a permanência da educação binária que se evidencia pelo funcionamento da escola deprincesas em Uberlândia.
Enfim, o livro como um todo oferece uma importante contribuição paraa história eos estudos de Gênero; seu diferencial é a abordagem centrada nas mulheres mineiras de várias regiões do estado, suas atuações em cada contexto ondese inseriram na luta pela liberdade de existir e agir. Se por um lado a obra congrega estudos variados que pretendem visibilizar as ações das mulheres mineiras, por outro tem nessa diversidade de perspectivas a emergência de alguns problemas: em alguns textos percebe-se que as mulheres estão subsumidas nas condições históricas de suas sociedades, em outros é possível vislumbrar a ideia de predestinação de determinadas mulheres para a atuação política em seus contextos. Notam-se também algumas lacunas no que tange às mulheres indígenas e às lesbianas, denotando uma ausência de estudos sobre essas mulheres em Minas Gerais e apontando, por outro lado, para a possibilidade de exploração destes campos pelas novas levas de historiadoras/es feministas. As brechas apontadas não diminuem o mérito da obra, visto que, nós historiadoras/es feministas somos conscientes de que todo texto histórico é parcial. Nesse sentido, as organizadoras na apresentação explicam que o “livro não teve a pretensão de percorrer o conjunto dos estudos que têm sido desenvolvidos sobre mulheres e gênero em Minas Gerais no campo da História, mas é uma pequena mostra desses estudos”1. Dentro do proposto, o livro contribui imensamente para que se conheça um pouco mais da história das mulheres mineiras.
Rosana de Jesus dos Santos – Doutoranda em História na Universidade Federal de Uberlândia.Bolsista Fapemig.E-mail: [email protected].
MAIA, Claúdia; PUGA, Vera Lúcia (Org.). História das mulheres e do gênero em Minas Gerais. Ilha de Santa Catarina: Editora Mulheres, 2015. 552p. Resenha de: SANTOS, Rosana de Jesus. História histórias. Brasília, v.3, n.6, p.223-227, 2015. Acessar publicação original. [IF]
A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro – FISCHER (RBH)
FISCHER, Brodwyn. A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro. Stanford, California: Stanford University Press, 2008. 488p. Resenha de: OLIVEIRA, Samuel Silva Rodrigues de. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.33, n.66, jul./dez. 2013.
O livro A Poverty of Rights: Citizenship and Inequality in Twentieth-Century Rio de Janeiro é o resultado da tese defendida por Brodwyn Fischer, em 1999, na Universidade Harvard. A autora analisa o processo de formação dos direitos na organização do Estado e da sociedade brasileira e os conflitos de classe, raça e gênero que permearam a constituição do espaço urbano carioca.
Por eleger como cerne de sua análise os embates estruturados no cotidiano dos pobres do Rio de Janeiro, A Poverty of Rights é uma contribuição original à história social da pobreza urbana. O trabalho relaciona-se à renovação da historiografia em tempos recentes, dando destaque ao tema das favelas. Como observou Brum,
se a história urbana e, em especial, a história da cidade do Rio de Janeiro se consolidaram como campo de pesquisa institucionalizado de historiadores a partir da década de 1980, será apenas na primeira do século XXI que começou a tomar corpo uma produção dos programas de pós-graduação em história em que a favela é tomada como objeto de estudos históricos. (Brum, 2012, p.121)
Junto aos livros Um século de Favela (2001), organizado por Alba Zaluar e Marcos Alvito, Favelas Cariocas (2005), de Maria Lais Pereira da Silva, A invenção da favela (2005), de Lícia do Prado Valladares, e Favelas cariocas: ontem e hoje (2012), organizado por Marco Antônio da Silva Mello, Luiz Antônio Machado da Silva, Letícia de Luna Freire e Soraya Silveira Simões, a obra de Fischer inscreve-se na renovação dos estudos históricos sobre a cidade do Rio de Janeiro, tendo como eixo a problematização das práticas e representações da pobreza e do espaço urbano.
O diferencial da pesquisa de Fischer é o recorte temporal, o escopo de fontes que utiliza e a maneira como enfoca o tema da cidadania. Ao enfrentar uma questão de ampla tradição na História e nas Ciências Sociais que tratam do Brasil e da América Latina – a relação entre desigualdade, direito e espaço urbano –, Fischer desenvolve um argumento centrado em processos que transcorreram entre a década de 1920 e o início da década de 1960. Esse foi o período de rápida urbanização, industrialização e expansão dos subúrbios, favelas e outras formas urbanas. O corte temporal também se justifica em vista da estrutura de poder que presidiu o campo político carioca. Desde a primeira Constituição republicana (1891) até 1960, o Rio de Janeiro tinha um prefeito indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado, elegia vereadores para o legislativo municipal e deputados e senadores para o legislativo federal. Sendo a capital da República, as reformas no sistema político encontravam ampla repercussão e expressão na vida política e cultural da cidade. Além disso, o governo de Lacerda (1961-1965) foi um marco para os estudos sobre a pobreza urbana no Rio de Janeiro: ao iniciar uma política de remoção que culminaria no despejo parcial ou completo de cinquenta a sessenta favelas (atingindo cerca de 100 mil pessoas), alterou profundamente a rotina e a conformação do espaço urbano carioca.
Além do recorte temporal, a autora usa diversos tipos de documentos para desenvolver o seu argumento. Uma vez que as classes subalternas não deixam arquivos organizados que informem sobre suas práticas, justifica-se o uso de sambas, jornais, fotografias, discursos políticos, relatórios de agências do poder público, projetos de lei, legislação, cartas e processos de justiça, entre outros documentos, para compreender as estratégias dos pobres na conquista da cidadania. O material acumulado pela autora é eclético, encontra-se disperso numa miríade de lugares e instituições, e estabelece vários filtros culturais para representar a pobreza urbana. Somente com a leitura de um caleidoscópio de registros, somada à análise da bibliografia específica sobre a relação entre direito e cidadania, consegue-se colocar em pauta problemas relevantes na análise da sociabilidade e das práticas dos grupos subalternos.
Para analisar o corpus documental heterogêneo que acumulou, a autora organizou a análise em quatro partes que possuem certa autonomia, cada uma das quais é constituída por dois capítulos. Na primeira parte, intitulada “Direitos na Cidade Maravilhosa”, analisa o processo de formação do espaço urbano do Rio de Janeiro e a classificação das formas de habitar da população pobre. Interessa à autora salientar como a construção do status de ilegalidade para as formas de habitar e viver na cidade, a restrição do espaço político dominado pela interferência do governo federal e as legislações restritivas ao crescimento das favelas contribuíram para a reprodução de uma incorporação clientelista dos pobres na política urbana. Na segunda parte, intitulada “Trabalho, Direito e Justiça Social no Rio de Vargas”, Fischer tem como principal material de análise as cartas enviadas para o presidente Getúlio Vargas. A promulgação da legislação trabalhista, o discurso varguista incorporando o trabalhador na comunidade política nacional, e as estratégias dos grupos populares para conquistar direitos sociais são o eixo de sua análise. Na terceira parte, intitulada “Direito dos pobres na Justiça Criminal”, a autora analisa a forma como o crime era definido por critérios do sistema jurídico e de uma moralidade popular, e como esse jogo de força foi alterado pela reforma do Código Penal na década de 1940, com o surgimento da noção de ‘vida pregressa’. Na última parte, intitulada “Donos da Cidade Ilegal”, Fischer analisa os conflitos pela terra e pelo direito à moradia travados na zona rural e nas favelas do Rio de Janeiro.
A “Era Vargas” (1930-1945) foi um período de grandes transformações no que toca o direito da classe trabalhadora. Esse fato político e social já foi analisado por diferentes autores, constituindo-se em uma questão clássica para a historiografia brasileira. Fischer consegue trazer uma novidade para o tema, pois não restringe a análise ao direito social e político, mas aborda como as reformas penal e urbanística do Rio de Janeiro também afetaram a cidadania dos grupos populares. Destarte, a política de massa e o Código Eleitoral de 1932, o direito à cidade e o Código de Obras de 1937 do Rio de Janeiro, o direito civil e o Código Penal de 1940, e o direito social e a Consolidação das Leis Trabalhistas (1943) são os eixos de sua análise, como fica evidenciado na divisão das partes do livro.
A autora mostra que a conquista de direitos para os ‘pobres’, para os trabalhadores informais e parcela significativa da população brasileira sem registro civil delineou-se em situações de grande ambiguidade. Longe de desenvolver uma narrativa linear da evolução do Estado e da sociedade na sedimentação dos direitos, como na análise clássica de T. H. Marshall em Cidadania, classe social e status, ou de incorporar o discurso das ideologias políticas que transformaram Vargas em um mito, a autora apresenta a contingência das situações vivenciadas pelos ‘pobres’. Preocupa-se com a forma pela qual as pessoas com baixa educação formal e com pouco poder econômico e político construíram várias estratégias para lutar por direitos, sempre marcadas pela contingência de suas vidas e experiências sociais.
Ao sublinhar o processo de formação dos direitos e da cidadania, Fischer enfatiza que os pobres “formam a maioria numérica em várias cidades brasileiras, e eles compartilham experiências de poucas conquistas, exclusão política, discriminação social e segregação residencial”, conformando “uma identidade e em alguns momentos uma agenda comum” (Fischer, 2008, p.4). Ela compreende que esse grupo não tem sido pesquisado de forma verticalizada, visto que a história social do período posterior à década de 1930 tem privilegiado a análise da consciência da classe trabalhadora, dos afrodescendentes, dos imigrantes estrangeiros e das mulheres. Segundo a autora,
a verdade é que no Rio – como em outros lugares, da Cidade do México a Caracas, a Lima ou Salvador – nem raça, nem gênero, nem classe trabalhadora foram identidades generalizadas e poderosas o suficiente para definir a relação entre a população urbana pobre e sua sociedade circundante, durante a maior parte do século XX. Muito poucas pessoas realmente pertenciam à classe trabalhadora organizada; muitas identidades raciais e regionais competiram umas com as outras em muitos planos; muitos laços culturais, econômicos e pessoais vinculavam os mais pobres aos clientes, empregadores e protetores de outras categorias sociais; também muitos migrantes foram para a cidade para alimentar suas esperanças. O povo pobre no Rio compreendeu a si mesmo, em parte, como mulheres e homens, em parte como brancos e negros, nativos ou estrangeiros, classe trabalhadora ou não. Mas eles também se entenderam como um segmento específico, simplesmente como pessoas pobres tentando sobreviver na cidade. (Fischer, 2008, p.3, tradução nossa)
Nesse sentido, Fischer também enfatiza que a experiência da pobreza urbana não pode ser reduzida à definição de classe trabalhadora no sentido clássico do marxismo. Ao reduzir a experiência da pobreza urbana a uma situação de classe, corre-se o risco de perder as dimensões étnicas, raciais e de gênero que moldam as identidades e as relações tecidas com as variadas instâncias sociopolíticas. A desigualdade social foi tomada no livro como uma condição que atravessa diversos tipos de situações e que perpassa transversalmente as relações tecidas na sociedade e no Estado brasileiros.
Por tudo isso, A Poverty of Rights constitui um importante trabalho para a renovação dos estudos sobre a cidadania no período posterior à década de 1930 e da história social da pobreza urbana no Rio de Janeiro.
Referências
ALVITO, M.; ZALUAR, A. (Org.) Um século de favela. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. [ Links ]
BRUM, Mario Sergio Ignácio. Cidade Alta: história, memórias e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de Janeiro. (Prefácio de Paulo Knauss). Rio de Janeiro: Ponteio, 2012. [ Links ]
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. [ Links ]
MELLO, M. A. da Silva; MACHADO DA SILVA, L. A.; FREIRE, L. L.; SIMÕES, S. S. (Org.) Favelas cariocas: ontem e hoje. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. [ Links ]
SILVA, Maria Lais Pereira da. Favelas Ccariocas (1930-1964). Rio de Janeiro: Contratempo, 2005. [ Links ]
VALLADARES, Lícia do Prado. A invenção da favela: do mito de origem à favela.com. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005. [ Links ]
Samuel Silva Rodrigues de Oliveira – Doutorando, Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC-FGV). Bolsista Faperj. E-mail: [email protected].
[IF]
Marking samba: A new History of race and music in Brazil – HERTZMAN (NE-C)
HERTZMAN, Marc. A. Marking samba: A new History of race and music in Brazil Durhcham: University Press, 2015. Trad. Livre Dmitri Cerbonicine Fernandes. Resenha de: FERNANDEZ, Dmitri Cerbonicine. De “pelo telefone” a “internet”: tensões entre raça, direitos, gênero e nação. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n.102, Jul, 2013.
Nos últimos quinze anos, os chamados brasilianistas norte-americanos e britânicos voltaram seus olhos a temas anteriormente circunscritos aos nativos – caso geral da música popular brasileira e, em específico, do samba e do choro1. Se, por um lado, nossas obras musicais populares desde há tempos são bastante apreciadas e (re) conhecidas, chamando a atenção de vasto público, o mesmo não se poderia dizer das reflexões acadêmicas tecidas sobre essas obras e seus criadores.Os trabalhos da nova geração de brasilianistas são,por isso mesmo,um alento em diversos sentidos.A mera existência de um interesse estrangeiro por objetos de pesquisa tradicionalmente relegados a segundo plano nas ciências humanas auxilia a modificação do panorama de certo desapreço pelo assunto, forçando a universidade e demais instituições a reverem suas posições.A lastimável ausência de tradução dessas pesquisas para o português e a falta de interlocução dos estudiosos brasileiros – muitas vezes encerrados apenas na discussão em língua pátria e,quando não,em sua própria área ou subárea-talvez estejam com os dias contados; prenúncio de uma possível maturação de um campo de estudos que, embora secundário se comparado com o dos “grandes temas” – políticos, históricos, sociais -, não se iniciou ontem2.
Conquanto os resultados das análises empreendidas por esse novo grupo de brasilianistas variem bastante em termos de metodologia empregada, escopo, materiais coletados e ineditismo, são evidentes o impacto e a qualidade, se não de todas, pelo menos de algumas delas, o que as equipara ao que de melhor já foi escrito por aqui sobre a música popular em seus diversos aspectos. Dentre os livros que se destacam, um deles, sem dúvida, é Making samba: a new history of race and music in Brazil, do professor da Universidade de Illinois, Estados Unidos, Marc A. Hertzman. Originalmente uma tese de doutorado em História da América Latina defendida na Universidade de Wisconsin-Madison, em 2008, o livro recebeu dois prestigiosos prêmios nos Estados Unidos3, o que o gabaritaria, por si só, à tradução imediata.
Logo de início, Marc Hertzman propõe um novo mergulho em águas passadas, quer dizer, ele se dispõe a revisitar pelo menos três eixos estruturantes de nossa música que já foram, em separado, alvos da bibliografia específica: 1) o lugar do negro e as possibilidades de ação, repressão e reconhecimento no nascente universo artístico4; 2) o aparecimento das instituições comerciais em meio ao fazer musical popular e as resistências e colaborações que essas instituições passaram a alimentar da parte de artistas, intelectuais, jornalistas, políticos, folcloristas etc.5; 3) os sentidos do entrelaçamento da ascendente forma musical popular brasileira no início do século XX com a ideia emergente de nação e a instauração da República6. No entanto, há em sua problematização um entrelaçamento entre esses três eixos, algo que nunca havia sido tentado antes. O resultado é um livro que traz inúmeros dados, situações, fotos e declarações que recebem nova luz interpretativa, fornecendo no conjunto um panorama inédito de questões que se pensavam solucionadas.Os que,mesmo assim,ainda imaginarem que se trata de mero exercício desnecessário e repetitivo de diletantismo rapidamente se convencerão do contrário por conta de outro motivo: a presença de um elemento que confere o tom central à obra e que, sozinho, já a justificaria de imediato. Falamos aqui da postura epistemológica adotada por Hertzman, que o diferencia do viés que predominou durante largo espaço de tempo na academia brasileira: o do ensaísmo.
Por um lado, é bem verdade, tal pendor ao ensaio conformou uma maneira toda especial, muito criativa e prolífica de interpretação em um ambiente científico inóspito e incipiente,momento em que financiamentos para a realização de surveys e a disposição de arquivos e materiais minimamente organizados eram escassos em nosso país. Em tal conjuntura, onde sobravam erudição e capacidade de síntese aos nossos intelectuais “heroicos”, a necessidade teve de se fazer virtude, e os clássicos pioneiros demarcaram o início de uma profunda autocompreensão que ensejou, por linhas tortuosas, trabalhos como os do próprio Marc Hertzman. Por outro lado, há até hoje resquícios desse modo de fazer que, desacompanhados das antigas virtudes, mais servem para escamotear resultados duvidosos, destilar arrogância, falta de empenho e de energia em vasculhar bibliotecas, museus e arquivos do que em iluminar o que quer que seja. Atêm-se ou a materiais recauchutados, apropriando-se de modo acrítico de “verdades” jornalísticas que rondam os mais diversos estudos sobre música no Brasil há tempos, ou a letras de canções e células musicais, como se a partir delas, e só delas, fosse possível, sem um objetivo claro ou um problema teoricamente orientado, reconstruir toda a história de um gênero musical ou de uma época.
Nesse sentido, Hertzman desdobrou-se como poucos haviam feito nos estudos históricos sobre o samba; correu atrás de comprovações documentais, muitas delas localizadas em acervos pessoais de difícil acesso ou em museus que, geralmente, sofrem e sofreram durante décadas com o descaso governamental, a falta de verbas, incêndios, desfalques, perdas, desorganização. O resultado dessa tarefa árdua e minuciosa de levantamento de informações não o tornou mero coletor nem fez de seu trabalho uma descrição insossa de materiais repertoriados,o que costuma ocorrer quando tamanha energia tem de ser gasta tão somente no serviço de garimpagem. Pelo contrário, ele logrou conectar a criatividade intelectual e a audácia interpretativa de nossos antigos ensaístas com o emprego de uma empiria embasada em recolhimento e análise de dados, descortinando de maneira surpreendente, aos nativos e aos gringos, um novo universo em torno de um domínio que, à primeira vista, nada mais ou muito pouco ainda tinha a render. Dito isso, não se trata, assim, de qualquer “revisita” às três questões apontadas; antes, de uma pesquisa de fôlego que tenta fornecer, se não a última palavra sobre o assunto, ao menos uma palavra muito mais balizada, material e metodologicamente bem orientada do que as que tínhamos à mão até o presente momento.
O livro percorre um largo período cronológico ao longo de seus nove capítulos: passa-se desde a abolição da escravidão no Brasil, em 1888,até meados da década de 1970,quando se dá a instauração definitiva das modernas leis de proteção aos direitos autorais – embora as análises mais consistentes do livro, com fartura de materiais inéditos, estejam concentradas nas quatro primeiras décadas do século XX. Apenas o último capítulo se dedica ao escrutínio da conjuntura musical da década de 1960 em diante, o que, no conjunto da obra, representa mais elemento de verificação das teses defendidas sobre a “época de ouro” do que uma parte autônoma. O acompanhamento da noção de autoria, em termos legais e materiais, e seu correlato simbólico, qual seja, a individuação dos artistas, bem como o desenvolvimento das instituições que lidavam com essas questões e a legislação pertinente serviram como o fio de Ariadne de toda a estruturação do argumento de Hertzman; ele empregou uma embocadura até então menosprezada pelos demais estudiosos no intento de penetrar, de modo inovador, por veredas já caminhadas: “Embora estudiosos de muitas disciplinas venham se fascinando com a construção da autoria, poucos se interessaram pela relação entre propriedade intelectual e constituição nacional pós-colonial – sobretudo nas Américas – ou as histórias imbricadas entre raça, propriedade intelectual e nação” (p. 3)7.Em outras palavras,os marcos legislativos e as instituições que regulamentavam o fazer musical, a distribuição monetária e o papel desempenhado pelo Estado na garantia,manutenção e modernização de todo o engenho assomado no espaço de tempo compreendido pela pesquisa fizeram render uma nova visão sobre processos há muito mal compreendidos, pois faltavam materiais pertinentes ao demais autores,conforme argumentado,a fim de que pudessem chegar a conclusões mais robustas e precisas, que ultrapassassem o acolhimento acrítico dos depoimentos de quem viveu os acontecimentos em tela – referenciais fartamente empregados até então por alguns estudiosos.E é justamente a esta tarefa que Marc Hertzman se propõe:buscar no emaranhado que se formou entre as questões que envolvem raça, propriedade intelectual e nação o sentido da constituição do samba e, em uma via de mão dupla, a partir da problematização que parte da constituição do samba enquanto gênero musical negro, comercial e nacional, enxergar de modo mais exato e minucioso a imbricação de todo o processo cultural,econômico e político que conformou o Brasil.
No primeiro capítulo, Hertzman procura traçar uma espécie de pré-história das formas musicais populares que desaguariam no samba, bem como dos condicionantes sociais que assomavam ao final do século XIX com elas, isto é, os lugares de raça, de autoria e do vínculo possível dessas formas artísticas e seus produtores correspondentes com a ideia de nação em uma sociedade escravocrata. Hertzman, no entanto, passa longe de um denuncismo vazio ou de tomar um parti pris tão comum nos estudos atuais sobre raça e nação. O autor deixa claro desde o início que não guarda o propósito de esposar asserções como as que essencializam o samba como puro produto de uma “resistência negra” em abstrato nem as que retiram a agência dos negros, outorgando aos intelectuais brancos ou ao Estado varguista a proeminência na conformação dos traços das expressões culturais brasileiras. Hertzman tampouco se vincula seja à visão que adula a intermediação efetuada pelos meios de reprodução comercial da música popular,seja à que a rechaça apriori,pois considerada maléfica ou deturpadora de uma imagem “pura” e “autêntica”.Pelo contrário,colocar todas essas cosmovisões nativas abraçadas pela academia em perspectiva, fazê-las confrontarem-se umas com as outras para que, ao fim e ao cabo, venha à tona um panorama mais complexo do que aquele com o qual a literatura específica se habituou: este sim é um dos propósitos centrais de Hertzman, alcançado justamente por meio do que anunciamos como o grande feito de seu trabalho, quer dizer, a confrontação com materiais inéditos, que auxiliam a desvendar mitos até então inquestionáveis e uma visão que não se detém em fronteiras específicas do saber.
Um desses mitos que fundamentaram o memorialismo da música popular brasileira é o do que o autor denomina de “paradigma da punição” (p. 31). A ação supostamente praticada por parte do Estado de maneira sistemática,que penalizava os praticantes do samba com a prisão, de acordo com declarações à imprensa de sambistas que viveram a “época gloriosa dos primórdios”,é posta em suspenso no segundo capítulo. Hertzman, por meio de pioneiro mergulho nos arquivos penais das primeiras décadas do século XX,descobre que jamais houve uma única punição estatal por conta da prática do samba,ao contrário do que é alardeado em quase todos os trabalhos acadêmicos que lidam com a época. Tal relato mais servia como estratégia discursiva – um tanto exagerada para antigos sambistas firmarem-se como mártires de uma época ou para construírem a autenticidade requerida do gênero samba e, de lambujem, de si mesmos, dentro do circuito de valores que aos poucos foi se estabelecendo naquele gênero – do que refletia fielmente os processos históricos, entremeados na realidade de alianças e colaborações entre a polícia, o Departamento de Imprensa e Propaganda de Vargas e os órgãos representativos dos músicos.Isso não quer dizer, por outro lado, que Hertzman pinte um ambiente de igualdade e liberalidade generalizados para a prática musical popular no início do século XX, conforme veremos a seguir.
O olhar atento do historiador,que busca em uma miríade de eventos nem sempre vinculados imediatamente ao fenômeno a ser explicado os desenvolvimentos possíveis dos caminhos da história, evidencia-se no terceiro capítulo, em meio à interpretação de uma ilustração de um jornal da década de 1910 trazida à baila por Hertzman. O desenho tentava retratar uma tragédia: um dos primeiros artistas populares de relativo sucesso à época, um negro de apelido “Moreno”, havia sido supostamente traído por sua esposa,uma branca portuguesa.Ele resolveu matá-la a facadas e, em seguida, se matar. A representação da situação congregava todas as chaves necessárias para o desvendamento da figuração que ascendia na primeira década do século XX, para os temores que suscitava, para as apreensões que fazia refulgir: um novo universo estava se abrindo,com possibilidade de fama e sucesso àqueles que sempre foram apartados da ribalta da vida nacional, embora prenhe de todas as contradições que tão bem expressam a nossa formação. Que se atentasse para o “perigo” de permitir que essas figuras tão fascinantes quanto temerárias, aos olhos dos brancos, prosseguissem por uma via de acesso a patamares que já tinham dono: as mulheres brancas, o dinheiro, a fama. Isso é o que argumentavam os jornalistas que comentaram a mencionada cena de “Moreno”:o negro não tinha estruturas psicológicas nem sociais para angariar sucesso, para se manter na independência econômica, para se casar com uma mulher branca, em suma, para deixar de ser negro naquela sociedade dominada pelos brancos (p. 87). A igualdade democrática, o reino do direito abstrato e universal, a possibilidade de uma vida econômica e socialmente digna em seu próprio país não passavam de quimeras. Afinal, “quem eles pensavam que eram?”. Em contrapartida, alguns conseguiam escalar parcialmente as trilhas abertas pelo desenrolar da individuação artística e pelo novo comércio, por mais que tivessem que forjar por meio de suas mãos,do sangue de “Moreno”,ou de oportunidades ímpares, por um lado, ou apoiados em trajetórias distintas e caminhos compartilhados com os dominantes, por outro.
O que importa até aqui é que não cabem mais,de acordo com a proposta do autor,a aceitação pura e simples de quaisquer generalizações de categorias, como as de “o samba”, “a raça”, “a nação”, “a autoria” ou “o comércio”: há nas entrelinhas dos processos constitutivos de cada um dos fatores assinalados minúcias geralmente ignoradas, tensões e conflitos constitutivos dos próprios conceitos e processos que, se vistos desvinculados dos artífices que lhes deram viço,de seus tempos históricos, das funções que cumpriram e das atuações concretas dos atores que as encarnavam, mais borram a compreensão historiográfica do que a auxiliam em sua missão de reconstituição da figuração em pauta. Assim, Hertzman dá à mostra que existiram projetos autorais, intelectuais mesmo, por trás de cada grupo e personagens distintos que ocupavam posições díspares na sociedade brasileira das primeiras décadas do século XX. Figuras que, ao mesmo tempo que se confrontavam, teciam por vezes alianças e podiam ainda manter certo grau de cumplicidade, de animosidade, de distanciamento ou de proximidade, a depender de coordenadas e de conjunturas específicas.
Uma das mais expressivas comprovações diz respeito ao escrutínio dos que rodeavam a famosa casa de Tia Ciata, figuras centrais que participaram do que se convencionou denominar de “a nossa música” (p. 95): Hertzman demonstra no quarto e no quinto capítulos que jamais eles poderiam ser equiparados sem mediação a outros artistas que não tivessem nem a inserção socioeconômica deles, nem o conhecimento formal de música, nem o trânsito com jornalistas, industriais da arte e figurões da política e da intelectualidade nacional, nem a decorrente capacidade de mediação, seja artística ou intelectual. Igualar um Pixinguinha a um Baiaco ou a um Brancura, ou até mesmo a um Ismael Silva, pelo simples fato de serem negros esconde um abismo muito revelador do próprio modo pelo qual o racismo à brasileira se constituiu: por meio de reentrâncias e sutilezas, ou, mais especificamente, por meio de um engenhoso dégradé. Se é verdade que em determinado momento de suas trajetórias artísticas todos os citados enfrentaram alguma face do racismo, não se pode dizer que tenha sido da mesma maneira: as margens de manobra variavam muito, bem como o grau de sofrimento que os acometia,a depender da posição social que ocupavam. No caso de Pixinguinha e dos seus, tratou-se de notícias jornalísticas denominando-os de “negroides pardavascos”, incapazes de representar o Brasil,ou de pretendentes a um patamar mais elevado, como Catulo da Paixão Cearense, a desatiná-los (p. 113); no caso de Brancura, Baiaco e Ismael, tratou-se de uma vida tortuosa e de pobreza, de marginalidade, eivada de prisões, brigas e outros eventos manifestos de violência. Embora todos eles, de alguma forma, tenham contribuído para a criação e sustentação de símbolos guindados à condição de “nacional”, Hertzman chama a atenção para o fato de que cumpre visualizar com cuidado os modos pelos quais quando e cada um deles pôde – e se pôde – e por meio de quais contextos e estratégias ser alçado e se alçar ao panteão do samba e, por que não e por consequência, ao panteão nacional. A luta que envolveu a imposição de certa visão que concedia às suas criações a imagem de autêntica, única, sofisticada e respeitável toma, assim, lugar de destaque na análise (p. 115).
Transparecem, destarte, por meio de diversos exemplos, elementos intrínsecos à formação da nação, caracterizada sobretudo pelo tipo de estrutura social herdada da escravidão. Pela primeira vez tal situação é sistematicamente levada em consideração em conjunto com os efeitos simbólicos e econômicos que incidiram nas atividades artísticas populares. Hertzman demonstra no capítulo sexto como até mesmo intelectuais e artistas do porte de Villa-Lobos,Mário de Andrade e Luciano Gallet compartilhavam com maior ou menor ênfase de visões de época, segundo as quais se deveriam abrir alas à construção de um desejado Brasil “civilizado” e seu pressuposto, as correntes da modernidade, o que incorria em algum tipo de rebaixamento do que era apreendido como hierarquicamente inferior em uma escala artística de sensibilidade e racionalidade. Nesses casos, iniciavam-se discussões sobre o que podia ser aproveitável ou não para se entabular o concerto da nação,e aquilo que identificassem como “africano” era posto na berlinda.O mesmo se passava entre os intelectuais nativos do samba, como Tio Faustino, Vagalume ou China, irmão de Pixinguinha,que buscavam enfatizar a autenticidade de certa herança da África contra o que viria a ser uma África corrompida (p.156).Nesse cenário, alguns podiam tanto desempenhar o papel de dominantes em meio aos dominados como podiam ser defenestrados e ter as portas fechadas em diversos âmbitos. Em outros momentos, conforme frisado por Hertzman no capítulo sétimo, alguns podiam até mesmo se reportar diretamente ao presidente da República, como ocorreu em 1930 com os mencionados Pixinguinha e Donga, que clamavam a Getúlio Vargas,em meio a uma procissão de músicos,o auxílio do “pai dos pobres” à música nacional (p. 170). Já dentre os diversos artistas negros, sobretudo os semidesconhecidos resgatados pelo autor na intenção de iluminar comparativamente as possíveis trajetórias artísticas e seus liames com suas posições sociais, a situação era distinta: torna-se claro como os empecilhos enfrentados por eles dificultavam não só suas condições simbólicas naquelas instituições como ainda a simples manutenção econômica de suas vidas. A vinculação desses e de vários estorvos com outros fatores, como o de gênero, foi realizada no trabalho também de modo pioneiro.
A ascensão do samba em sua concretude pôde ser vislumbrada por meio de representações monetárias de quanto ganhava um grande artista – um cantor branco como Francisco Alves, por exemplo – em comparação com um compositor negro à margem dos estabelecimentos comerciais da música, como Ismael Silva (p. 129); de outro lado,a partir da constatação de uma tal pista micro,quer dizer, da assimetria econômica existente entre figuras de um mesmo universo, passa-se ao escrutínio do modo pelo qual se organizavam as instituições políticas e culturais, e como os elementos “raça”, “classe” e “gênero” se vinculavam de forma intrínseca ao funcionamento dessas instituições. É o que se vê com nitidez nos capítulos sétimo e oitavo. No caso das que lidavam com a música popular, como a Sociedade Brasileira de Autores (SBAT, fundada em 1917), a primeira que tomou para si a função de arrecadação e distribuição monetária dos proventos das atividades artísticas em geral no Brasil, percebia-se em suas entranhas a reprodução de todas as desigualdades de nossa sociedade em termos econômicos e simbólicos. O mesmo ocorrendo com os produtos de seus cismas ao longo do tempo,casos da União Brasileira dos Compositores (UBC),a Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música (SBACEM) etc., todas as que deram origem ao moderno sistema de arrecadação e distribuição de direitos ainda hoje vigente.Seus dirigentes,em maioria homens brancos vinculados a atividades consideradas “nobres” à época – como o teatro ou a “grande” música, em meados dos anos 1910 e 1920,ou os mais bem-sucedidos em termos econômicos com a ascensão do universo musical popular, a partir dos anos 1930 -, não se fizeram de rogados para eternizar a posição subalterna que os artífices negros, sobretudo os socialmente mais desprivilegiados, ocupavam em meio às estruturas das instituições à primeira vista “universais” que dirigiam, o que sublinha o caráter racial e economicamente assimétrico que perpassou a constituição de todas as nossas instituições democráticas, quando vistas de mais perto.
Emerge, assim, uma verdadeira história “materialista” do samba – e, por que não, do choro -, na melhor acepção do termo: em primeiro lugar, pelo fato de Hertzman lidar com estimativas sistematizadas de vendas de discos, com cifras relativas aos direitos autorais de canções, de lucros de gravadoras e de estações de rádio, de execuções de canções e de várias operações econômicas que dão à mostra a real dimensão das transformações estruturais ocorridas em meio à atividade musical popular. Em segundo lugar, o aspecto eminentemente “materialista” de sua proposta também se revela por conta do método: a visada totalizante, que pressupõe uma aguçada capacidade comparativa entre fatos, personagens e momentos aparentemente despidos de qualquer relação ou pertinência a fim de iluminar, a partir de distintos vieses, uma mesma questão específica. Hertzman arrisca, destarte, uma espécie de história total, onde condicionantes institucionais, geográficos, raciais, econômicos e culturais são movimentados para dar vida à agência dos atores (p. 11). Modificando seu foco a todo instante,passando de uma interpretação de um fato micro a uma correlação estrutural macro,e vice-versa,um verdadeiro mosaico das relações que davam viço àquela figuração nascente vem à tona. Embora a incursão na justificativa teórica de seu trabalho seja deveras enxuta,haja vista Hertzman nomear,e muito de relance,apenas Homi Bhabha, Michel Foucault e Peter Wade como inspiradores da empreitada (p. 10), é notória a contribuição tácita de autores como Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Fernand Braudel, E. P. Thompson, Raymond Williams,dentre outros grandes nomes das ciências humanas,em seu modo de reconstituir a urdidura da história em voga. Mas essa explicitação, enfim, é o que menos importa, pois o primordial foi efetuado, quer dizer, o manejo teoricamente orientado do material levantado para além das fronteiras disciplinares artificialmente demarcadas.
Notas
1 Ver, por exemplo, DAVIS, DARIÉN J. White face, black mask: Africaneity and the early social history of popular music in Brazil. East Lansing: Michigan State University Press, 2009; Livinsgton-Isenhour, Tamara E. e Garcia, Thomas G. C. Choro: a social history of a Brazilian popular music. Bloomington: Indiana University Press, 2005; McCann, Bryan. Hello, hello Brazil: popular music in the making of modern Brazil. Durham: Duke University Press,2004;Stroud,Sean.The defence of tradition in Brazilian popular music: politics, culture and creation of Música Popular Brasileira. Aldershot: Ashgate, 2008; Shaw, Lisa. The social history of the Brazilian samba. Aldershot: Ashgate, 1999.
2 Ressalte-se a ausência de obras dedicadas à reflexão sobre música popular nos principais centros brasileiros produtores de conhecimento até meados da década de 1970, que vê, muito timidamente em sua segunda metade, o início de estudos regulares e sistematizados sobre o assunto. Balanços críticos de publicações na área podem ser encontrados em Béhague, Gerard. “Perspectivas atuais na pesquisa musical e estratégias analíticas da Música Popular Brasileira”. Latin American Music Review. Austin: University of Texas Press, v. 27, no 1, 2006; Napolitano, Marcos. “A Música Popular Brasileira (MPB) dos anos 70: resistência política e consumo cultural”. In: IV Congreso de la Rama Latinoamericana del IASPM, 2002, Nicarágua. Atas del IV Congreso de la Rama Latinoamericana del IASPM, 2002, mimeo; Naves, Santuza C. et alli. “Levantamento e comentário crítico de estudos acadêmicos sobre música popular no Brasil”. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais — BIB. São Paulo: ANPOCS, no 51, 2001.
3 Trata-se do prêmio de melhor tese de doutorado da New England Council of Latin American Studies (NECLAS) e de uma menção honrosa do Bryce Wood Book Award pelo livro, comenda concedida anualmente pela Latin American Studies Association ao melhor livro que verse sobre a América Latina.
4 Como, por exemplo, RODRIGUES, Ana Maria. Samba negro, espoliação branca. São Paulo: Hucitec, 1984.
5 Como, por exemplo, FROTA, Wander Nunes. Auxílio luxuoso: samba símbolo nacional, geração Noel Rosa e indústria cultural. São Paulo: Annablume, 2003.
6 Como, por exemplo, WISNIK, José Miguel e SQUEFF, Enio. Música: o nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo:Brasiliense,2a ed.,1983.
7 Tradução livre realizada pelo autor da resenha.
Dmitri Cerboncini – Fernandes– Professor de Sociologia na Universidade Federal de Juiz de Fora.
Gênero, etnia e movimentos sociais na história da educação – FRANCO (RBHE)
FRANCO, Sebastião Pimentel; SÁ, Nicanor Palhares (Org.). Gênero, etnia e movimentos sociais na história da educação. Vitória: EDUFES, 2011. (Coleção Horizontes da pesquisa em História da Educação no Brasil, 9) Resenha De: FORDE, Gustavo Henrique Araújo. Revista Brasileira de História da Educação, Campinas, v. 13, n. 2 (32), p. 249-255, maio/ago. 2013.
Há parcerias que apresentam resultados bastante profícuos: a Coleção “Horizontes da pesquisa em História da Educação no Brasil” é um deles. Resulta de bem-sucedida parceria entre a Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em comemoração ao aniversário de dez anos de existência da primeira.
Publicada pela Edufes, a coleção comprova o êxito notável desse projeto editorial, que busca refletir parte das pesquisas realizadas na última década em História da Educação no Brasil, e leva o leitor a percorrer, de maneira ampla e profunda, diferentes temáticas localizadas em espaços-tempos diversos, sob análises a partir de variadas perspectivas teórico-metodológicas. O volume 9 da coleção, organizado pelos pesquisadores Sebastião Pimentel Franco e Nicanor Palhares Sá e intitulado Gênero, etnia e movimentos sociais na história da educação, é o objeto desta resenha.
O primeiro capítulo do livro, “Mulheres preceptoras no Brasil oitocentista: gênero, sistema social e educação feminina”, de autoria de Maria Celi Chaves Vasconcelos, investiga a construção social do gênero feminino a partir da educação doméstica, realizada por mulheres preceptoras no Brasil. A pesquisa analisa o sistema societário vivido pelas mulheres durante a segunda metade dos Oitocentos (1850-1889) e seus papéis sociais como preceptoras, professoras ou mães/mestras dos filhos, em diálogo com o tipo de educação permitida e/ou negada nessa modalidade educativa.
O artigo de Vasconcelos apresenta as diferenciações de gênero na educação e na infância de meninos e meninas do Brasil e identifica o perfil das mulheres preceptoras e as possibilidades que elas viam para a educação formal. As análises revelam que tais mulheres colaboraram para iniciar as primeiras rupturas na ordem estabelecida, no que diz respeito aos limites e às possibilidades femininas de trabalho, sustento e independência no Brasil dos Oitocentos.
O segundo capítulo, “Gênero e partilha desigual: a escolarização de meninas e meninos nas escolas mineiras do século XIX”, de autoria de Diva do Couto Gontijo Muniz, de boa inspiração poética, com epígrafe em que é citado poema de Carlos Drummond de Andrade, nos convida a questionar a lógica da partilha binária do sistema sexo/ gênero. Com esse fio condutor, a autora observa que as salas mistas constituem uma mudança ocorrida apenas no regime republicano do País.
As análises percorrem os conflituosos processos de instruções públicas, problematizando a lógica de partilha binária e desigual de gênero na instrução pública, que separava meninas e meninos com um atendimento escolar diferenciado, em conformidade com as legislações da época, dedicadas à organização e ao funcionamento das escolas mineiras. A autora finaliza o trabalho, concluindo que, mesmo que o percurso escolar dos meninos oferecesse possibilidades para o mundo do trabalho e da política e o percurso das meninas fosse destinado ao mundo do lar e da família, muitas mulheres não se sujeitaram plenamente às imposições educacionais e sociais da época, tendo optado pelo exercício profissional e pela autonomia financeira a partir do ingresso no magistério.
“O sistema coeducativo nas escolas protestantes em São Paulo (séc. XIX/XX)”, de Jane Soares de Almeida, é o terceiro capítulo do livro. Contextualizando os anos iniciais do século XX a partir dos princípios liberais e da educação marcada pelo conservadorismo dos anos pré-republicanos, a autora afirma que, a partir de 1870, escolas protestantes adeptas da coeducação buscavam ampliar a sua atuação no nosso país, pautadas em seus objetivos igualitários e democráticos, tendo como missão não apenas evangelizar, mas, igualmente, educar os indivíduos no âmbito da moral e da ética.
O artigo ressalta que as missionárias protestantes eram ativas defensoras de ensino igual para os sexos, tendo sido, inclusive, adotado o sistema de classes mistas sob o princípio da coeducação, o que favorecia a igualdade de oportunidades educacionais entre meninos e meninas. Todavia, finaliza concluindo que, apesar das classes mistas e da coeducação, meninos e meninas, na vida social, eram educados separadamente, e o lugar das mulheres seria o lar, fossem elas católicas, protestantes ou de qualquer outra orientação religiosa.
Com foco nos estudos de gênero, o quarto capítulo, “A instrução feminina na visão dos presidentes de províncias do Espírito Santo (1845 – 1888)”, de Sebastião Pimentel Franco, investiga a ação do Estado em favor da ampliação da oferta de escolarização para as mulheres no século XIX. A pesquisa estuda os primeiros passos dados na instrução pública do Espírito Santo oitocentista, pautada na garantia e na ampliação da oferta da escolarização primária às mulheres.
O artigo destaca que a ideia da submissão da mulher foi instalada na sociedade brasileira desde o início da colonização. A partir da terceira década do período oitocentista, com o advento da ideia de que a instrução tiraria o País do atraso e da incivilidade, diz o autor, a mudança desse cenário tornou-se favorável, uma vez que, para formar bons homens, era preciso formar boas mães. Na visão dos dirigentes dessa época, as mulheres eram a força motriz que impulsionaria a sociedade, sendo elas as formadoras e as educadoras das gerações futuras. Esse fato fomentou ações dos dirigentes da província do Espírito Santo, no sentido de garantir o acesso das mulheres à instrução e a ampliação do número delas no magistério. Assim, até o final do século XIX, o magistério primário se transformaria numa atividade feminina.
Em “Educação e perspectiva de gênero no novo mercado de trabalho vitoriense”, o quinto capítulo do livro, de autoria de Maria Beatriz Nader, é analisado o processo que favoreceu, em fins do século XX, que as mulheres vitorienses deixassem a vida doméstica em busca do mercado de trabalho. O artigo faz breve abordagem sobre a história da educação feminina na perspectiva dos estudos de gênero e descreve as alterações na formação instrucional e profissional das mulheres, no período pesquisado, com base no novo segmento profissional terciário representado pelas indústrias de base.
A autora destaca que, ao lado da modernização urbana, que trouxe novas oportunidades educacionais e profissionais às mulheres, impulsionando-as a saírem do âmbito doméstico e a lançarem-se no mercado de trabalho, o período de 1990 a 2000 foi marcado por um maior grau de escolarização feminina, o que contribuiu para que o trabalho doméstico se tornasse algo desprezível para as mulheres. Nader finaliza, concluindo que a qualificação profissional veio a ser significativa na vida das mulheres, na medida em que lhes permitiu maiores e melhores oportunidades no mercado de trabalho, que propiciaram a sua emancipação estrutural, financeira e familiar.
Marcus Vinícius Fonseca é o autor do sexto capítulo do livro, “Entre o cativeiro e a liberdade: a educação das crianças escravas nos debates sobre a Lei do Ventre Livre”, que trata das conexões entre o processo de abolição do trabalho escravo e a educação dos indivíduos oriundos do cativeiro, questão esta que, na análise do autor, mobilizou a sociedade brasileira durante o século XIX, possibilitando, inclusive, algum tipo de instrução para as crianças nascidas livres, de mulheres escravas, a partir da Lei do Ventre Livre, em 1871.
As fontes investigadas pelo autor apontam para a preocupação, na época, com a necessidade de os indivíduos oriundos do cativeiro serem submetidos a uma formação diferente daquela ocorrida no bojo da escravidão, sinalizando que os debates tratavam a abolição da escravatura e a educação dos indivíduos originários do cativeiro como ações paralelas e complementares, ou seja, indicavam que era necessário um processo de educação diferente daquele levado a efeito na escravidão, acompanhando a libertação do ventre; do contrário, as vítimas libertas da escravidão se converteriam em uma ameaça à sociedade.
“Entre a enxada e a caneta: a educação entre imigrantes italianos e seus descendentes no Rio Grande do Sul (Brasil)”, o sétimo capítulo, de autoria de Maria Catarina Zanini e Miriam de Oliveira Santos, investiga a importância da educação para imigrantes italianos e seus descendentes no Rio Grande do Sul, analisando o quanto a educação esteve presente na constituição das italianidades desse grupo étnico.
As análises demonstram que a família, vista como instância socializadora e compreendida dentro do contexto religioso e do mundo do trabalho, foi o elemento-chave para a sobrevivência desses imigrantes e descendentes, assegurando a transmissão do capital cultural e econômico e operando como espaço de socialização e preservação de práticas culturais e organizativas responsáveis pela existência cotidiana desses indivíduos.
Na época, o catolicismo de origem rural configurava-se como a religião trazida pelos imigrantes italianos, e muitas das ordens religiosas foram responsáveis por fundar escolas que ofereciam uma educação pragmática e positivista. O ensino, ali, desprezava o excesso de teorias, aproximando-se da visão expressa pelo ditado italiano “a enxada é o mais nobre instrumento do mundo, mais do que o livro e que a espada”.
O oitavo capítulo, “Uma escola luterana nas décadas de 1920 e 1930 no Rio Grande do Sul”, de Martin N. Dreher, registra que, no campo religioso, naquela época, a população estava dividida entre católicos romanos e evangélicos luteranos. Entre os luteranos, havia a instrução primária e a secundária. O ensino era bilíngue; a alfabetização se iniciava com a língua materna alemã e, posteriormente, sob a perspectiva do Estado Novo, as escolas comunitárias das colônias alemãs “desnacionalizavam” as crianças.
O artigo traz uma possível reconstrução do currículo da Escola Allemã de Montenegro, na qual grande importância foi dada ao estudo da organização social e política do Rio Grande do Sul; e, igualmente, apresenta uma possível reconstrução dos métodos de ensino utilizados nessas escolas comunitárias coloniais. No primeiro ano escolar, por exemplo, elas se pautavam no lema “escrever menos e falar mais”, evitando, assim, o método utilizado nas escolas brasileiras da época, que estava assentado em “desenhar” e “copiar”. O autor finaliza, apontando a riqueza dessas escolas, que formavam pessoas para o uso perfeito de dois idiomas e para uma futura vida profissional.
O nono capítulo, “Educação, negros e racismo em Mato Grosso na Primeira República”, de Nicanor Palhares Sá e Paulo Divino Ribeiro da Cruz, é uma importante contribuição para suprir a lacuna acerca da história da educação de negros e de mestiços indígenas com negros, em Mato Grosso.
Os autores revisitam conceitos como eurocentrismo, colonialidade do poder e racismo epistemológico. Afirmam eles que, na passagem do século XIX para o XX, o sistema escolar em Mato Grosso foi marcado pela discriminação contra negros, pardos e brancos pobres, ao hierarquizar a sociedade a partir de uma lógica racial e eurocêntrica, numa época em que a população mato-grossense era majoritariamente composta por mestiços de negros e indígenas – as duas raças inferiores, segundo esse pensamento europeu.
As análises dos autores indicam que essa bipolaridade entre brancos e negros influenciava a constituição dos materiais didáticos e das carreiras educacionais do magistério, contribuindo fortemente para o processo de subordinação cultural e simbólica do negro brasileiro.
Em “Educação e lutas populares na história mato-grossense”, décimo capítulo, Artemis Torres investiga a dimensão pedagógica das lutas e dos movimentos populares em busca de seus direitos. Apesar de possuírem um caráter educativo reconhecido, tais movimentos e lutas raramente estão entre os temas de interesse para pesquisa. O autor destaca que várias ações educativas vinculadas aos movimentos sociais estão presentes nos currículos das Faculdades de Educação.
Os movimentos sociais, nessa pesquisa, são compreendidos como instâncias formativas e organizativas potentes para as mudanças sociais. Em vista disso, o autor se debruça a investigar as lutas sociais dos trabalhadores em Mato Grosso, representados pelo movimento popular conhecido como “banditismo”, e outras lutas sociais, como as do movimento dos “sem-terra”, das associações de agricultores, do movimento dos “sem-teto” e dos sindicatos urbanos.
Marlúcia Menezes de Paiva é autora do décimo primeiro capítulo, intitulado “Movimentos de educação popular no Rio Grande do Norte (1958-1964)”. Ela investiga duas experiências educacionais populares. A primeira trata das Escolas Radiofônicas, uma experiência em educação e cultura popular de alfabetização pelo rádio, e a segunda trata da campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, um movimento de educação voltado para as camadas populares; ambas as experiências foram realizadas na cidade de Natal. As Escolas Radiofônicas, destinadas prioritariamente à população rural, estavam assentadas no tripé: professoras-locutoras, monitores e rádio. Já a campanha “De pé no chão também se aprende a ler” esteve baseada na construção de escolas com cobertura de palha e chão de barro batido.
Esse último capítulo do livro ressalta que essas duas experiências de educação popular desenvolviam, ao lado da alfabetização, uma ação pedagógica conscientizadora. As análises priorizam os processos de formação dos professores, os materiais instrucionais e os conteúdos ditos conscientizadores, concluindo a autora que ambas as experiências representaram significativos movimentos sociais populares.
Por fim, o livro Gênero, etnia e movimentos sociais na História da Educação, organizado com maestria, reúne onze artigos que nos oferecem um bom panorama das pesquisas em História da Educação, orientados por três núcleos temáticos (gênero, etnia e movimentos sociais). Todavia, eles estabelecem conexões entre questões de gênero, classe, etnia e lutas sociais, conferindo significativa aderência aos trabalhos. Após a leitura do volume, é possível dizer, com tranquilidade, que se trata de obra imprescindível àqueles e àquelas que se dedicam ao estudo nesses campos de investigação que permeiam os “Horizontes da pesquisa em história da educação no Brasil”, título da coleção que resulta da parceria entre a Sociedade Brasileira de História da Educação e a Universidade Federal do Espírito Santo.
Gustavo Henrique Araújo Forde – Doutorando em Educação – PPGE/UFES. E-mail: [email protected]
Mulher e Literatura: história, gênero e sexualidade | Cecil J. A. Zinani
O imbricado narrativo literário é tão revelador de um mundo imaginário de modelos de gênero quer seja em relação às estratégias dominantes quanto de corpos não conformados que resistem à imposição de normas. Neste sentido, encaminho nestas linhas algumas discussões presentes na obra auferida em torno das aproximações entre a literatura e a história, as relações de gênero e modelos de feminilidade. Também se apresenta exemplos da autoria feminina latino-americana em relação a diferentes vivências de personagens mulheres.
Nesta obra, o conjunto de textos apresenta mulheres escritoras, suas protagonistas e demais personagens em diferentes obras literárias latino-americanas contemporâneas. O livro foi organizado em três seções: história, gênero e sexualidade. Estas três seções e as diversas autorias contemplam a necessidade de outros olhares sobre as narrativas cujas tramas tecem imaginários diferenciados. Assim, percebe-se a tentativa de aproximação entre várias áreas do conhecimento humano como a psicologia, antropologia e a história para dar conta das relações entre mulheres, homens e de sexualidades não conformadas. Destarte, a literatura e seu contexto são reveladores de histórias minúsculas, mas tão ricas e significativas como as demais histórias. Leia Mais
Testo Yonqui – PRECIADO (REF)
PRECIADO, Beatriz. Testo Yonqui. Madrid: Espasa, 2008. 324 p. Resenha de: LESSA, Patrícia. Mulheres testosteronadas: adictas, malditas, transgressoras, bombásticas? Revista Estudos Feministas v.19 n.1 Florianópolis Jan./Apr. 2011.
Beatriz Preciado é filósofa, estudou teoria de gênero na New School for Social Research, em Nova York, onde foi aluna de Jacques Derrida e Agnès Heller. É autora do livro Manifesto contra-sexual, traduzido para cinco idiomas, e entre seus ensaios destacamos Sex Design (Centre Pompidou, 2007), Multitudes Queer (Multitudes, 2004) e Savoirs-Vampires@War (Multitudes, 2005). Atualmente, ensina teoria contemporânea de gênero em diferentes universidades, entre as quais destacamos Paris VIII, l’École des Beaux Arts de Bourges, e Programa de Estudios Independientes del Museu d’Art Contemporani, de Barcelona. A autora se fundamenta nas teorias feministas contemporâneas, que problematizam a performatividade dos gêneros e servem como marco conceitual para discutir corpo, sexualidade e gênero.
O livro Testo Yonqui é dividido em 13 capítulos, dentre os quais destacamos as seguintes discussões: era farmacopornográfica; história da tecnossexualidade; farmacopoder; pornopoder; micropolítica de gênero na era farmacopornográfica; e vida eterna. Preciado qualifica sua obra como livro de autoficção, pois se trata de um protocolo de intoxicação voluntária à base de testosterona sintética, de um ensaio corporal, do corpo experimental em mutação no período que dura a escrita do livro. Ela descreve o uso da testosterona sintética em forma de gel, que é absorvida na pele; basta uma dose de 50 miligramas de Testogel diárias para experienciar o que ela nomeia como mutação de uma época. Leia Mais
Sob o signo de Atena: gênero na diplomacia e nas Forças Armadas – MATHIAS (REF)
MATHIAS, Suzeley Kalil (Org.). Sob o signo de Atena: gênero na diplomacia e nas Forças Armadas. São Paulo: UNESP; Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas, 2009. 279 p. Resenha de: MOREIRA, Rosemeri. Igualdade de gênero nos meandros das missões de paz e na carreira diplomática. Revista Estudos Feministas v.19 n.1 Florianópolis Jan./Apr. 2011.
Temática ainda pouco explorada nos meios acadêmicos, a presença de mulheres militares nas missões de paz e na carreira diplomática é o ponto nodal dos dez artigos que compõem este livro organizado pela socióloga Suzeley Kalil Mathias.
Os quatro primeiros artigos fazem parte do projeto “La mujer en las Fuerzas Armadas y Policía: una aproximación de gênero y las operaciones de paz”, realizado pela Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal). Em comum, esses quatro artigos apresentam dados sobre a situação socioeconômica das mulheres diante das diversas realidades nacionais, a discussão histórica da inclusão de mulheres nas respectivas Forças Armadas e a análise da situação profissional das mulheres militares. Com relação ao último item, os dados traduzidos na riqueza de gráficos e tabelas enfocam os percentuais numéricos por sexo e as possibilidades femininas de acesso aos postos de comando e às armas de combate e, principalmente, discutem a presença de mulheres nas missões de paz. Pontos-chave das reflexões, as análises das autoras sobre essa presença vão ao encontro das concepções da ONU sobre a paz, defesa e segurança humana, apregoadas após a Guerra Fria. São apontadas as dificuldades, as resistências e/ou as deficiências das Forças Armadas em levar adiante o projeto de igualdade de gênero nos respectivos contextos nacionais. Comum ainda aos quatro textos é a reflexão sobre a carência, na maior parte desses países, de um debate civil e público sobre a questão que se configura ainda como um “não assunto”. Leia Mais
Linguagem, gênero, sexualidade: clássicos traduzidos – OSTERMANN (REF)
OSTERMANN, Ana Cristina; FONTANA, Beatriz. Linguagem, gênero, sexualidade: clássicos traduzidos. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 166 p. Resenha de: ANDRADE, Daniela Negraes Pinheiro. Questões linguísticas envolvendo gênero, sexualidade e interação social. Revista Estudos Feministas v.19 n.1 Florianópolis Jan./Apr. 2011.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos,1 no seu artigo primeiro, diz que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos” e que, portanto, “dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”. Partindo do pressuposto, elaborado pelo filósofo alemão Immanuel Kant, de que o ser humano é, primordialmente, fruto daquilo que a educação faz dele, é plausível pensar que a construção de uma sociedade livre, fraterna e igualitária passa pelo acesso ao conhecimento. É sabido, contudo, que não todo e qualquer tipo de conhecimento se põe a serviço do respeito à diversidade em amplo aspecto como fator preponderante para a humanização das relações sociais de modo a assegurar o convívio livre, fraterno e igualitário entre as pessoas.
Se o conhecimento é a chave para o entendimento e o aprimoramento das relações sociais dos seres de natureza humana, independentemente de raça, etnia, credo, opinião política, orientação sexual etc., toda obra que contribua para a construção do saber nesse sentido é digna de elogio. O livro Linguagem, gênero, sexualidade: clássicos traduzidos, sendo assim, merece ser celebrado. A obra presta um grande serviço à comunidade acadêmica leitora do português brasileiro e aos demais públicos interessados em prol do fortalecimento dos estudos voltados para a construção de um saber humanizador no tocante à questão da diversidade de gêneros e à questão da sexualidade no âmbito das interações sociais. Organizada por Ana Cristina Ostermann, ph.D. em Linguística (Universidade de Michigan, EUA), e por Beatriz Fontana, Doutora em Letras (UFRGS, Brasil), a publicação traz a compilação, competentemente traduzida, de artigos acadêmicos escritos por pesquisadores e pesquisadoras estadunidenses e britânicos/as considerados basilares dentro do escopo compreendido por gênero, sexualidade e interação social, abordado sob o viés da linguística interacional. Leia Mais
La aventura de escribir: la narrativa de Angélica Gorodischer – ALETTA DE SYLVAS (REF)
ALETTA DE SYLVAS, Graciela. La aventura de escribir: la narrativa de Angélica Gorodischer. Buenos Aires: Corregidor, 2009. 288 p. Resenha de: ALLOATTI, Norma. A la ventura de las palabras. Revista Estudos Feministas v.19 n.1 Florianópolis Jan./Apr. 2011.
La narrativa de Angélica Gorodischer, estudiada en sus pormenores en el libro de Graciela Aletta de Sylvas, invita a recorrer el camino trazado por los libros de la prestigiosa escritora argentina con el oportuno complemento de un repaso por teorías y enfoques lingüísticos que, además de la rigurosidad, dan cuenta de una actualización tenaz en su tratamiento.
El estudio del conjunto de cuentos, novelas y ensayos de Angélica Gorodischer, emprendido por Aletta de Sylvas como tarea académica (es la primera tesis doctoral dedicada a la producción de Gorodischer), conduce a lectoras y lectores por un recorrido signado por la abundancia de instrumentos conceptuales que, si en los primeros capítulos atienden a posicionar a la escritora en el lugar que ocupa en la literatura argentina, en los últimos muestran una profunda mirada sobre los relatos y la vinculación que cada uno de ellos tiene con géneros narrativos de variada factura, producidos por Gorodischer en su prolífica vida escritural. Advierte con certeza las influencias que en cada texto, en cada narración, quedan manifiestas desde la vida misma de la autora, desde la energía y la vitalidad que ella irradia. Las estampas biográficas que aparecen en el primer capítulo lo traducen con claridad y le permiten adentrarse, a partir del segundo, en un análisis perspicaz de las inscripciones literarias que la autora rosarina ha desenvuelto a partir de su primer cuento policial publicado en 1964, para recalar en sus escritos más recientes. No soslaya, tampoco, la marca feminista que la escritora introduce en sus textos y, en este análisis desde la perspectiva de género, Aletta de Sylvas bucea en pródigos conceptos que le proporcionan mayor profundidad en la dilucidación de la narrativa en estudio. Leia Mais
De minifaldas, militancias y revoluciones: exploraciones sobre los 70 en la Argentina – ANDÚJAR (CP)
ANDÚJAR, Andrea et al. De minifaldas, militancias y revoluciones: exploraciones sobre los 70 en la Argentina. Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, 2009, 217 p. Resenha de: VEIGA, Ana Maria. Minissaias, militâncias, revoluções e gênero na última ditadura argentina. Cadernos Pagu, Campinas, n. 36, Jan./Jun. 2011.
O livro De minifaldas, militancias y revoluciones: exploraciones sobre los 70 en la Argentina amplia o debate sobre a última ditadura militar naquele país (1976-1983) ao inserir nele questões de gênero e a participação política das mulheres nos grupos de resistência. Organizado por Andrea Andújar, Karin Grammático, Débora D’Antonio, Fernanda Gil Lozano e María Laura Rosa, o livro dá sequência à compilação eletrônica Historia, Género y Política en los ’70 (Andújar, 2005), editada online pelo mesmo grupo no ano de 2005, como resultado das jornadas ocorridas na Universidade de Buenos Aires1, que lembraram os trinta anos do começo da ditadura argentina, abordando especificamente as relações de gênero.
A primeira parte da obra, denominada “Espacios de Militancia y Conflictividad”, é composta de quatro capítulos. Marta Vassalo aborda a situação das mulheres nas fileiras militantes, tratadas como duplamente subversivas, já que fugiam aos seus papéis tradicionais, assumindo lugares considerados masculinos. Além disso, Vassalo explora a maternidade e as normas morais e sexuais para os casais militantes, que tinham seus relacionamentos mediados pelos ditames das organizações – a descoberta do feminismo e sua reivindicação vieram a complicar ainda mais a situação de algumas mulheres que passaram a atuar na chamada dupla militância. Em outro capítulo, Karin Grammático fala das disputas internas do Movimento Peronista e das manobras e demandas da “Rama Femenina”, que tomou lugar nesse movimento. A autora aponta para as mulheres como grupo de interesse do peronismo, mas do qual não se fazia uma leitura política aprofundada; as mulheres teriam direitos políticos, dentro dos limites de seus papéis de mães e esposas, como as situava também Evita Perón. Além disso, Grammático faz uma interessante reflexão sobre a preocupação geracional do líder Perón, mesmo no exílio, de formar novos dirigentes a partir da Juventude Peronista. Segundo ela, Perón tentava apaziguar as agrupações armadas do movimento, como as Forças Armadas Peronistas e os Montoneros.
As trajetórias de religiosas “terceiromundistas” na Argentina são analisadas por Claudia Touris, que aponta os grupos de formação católica na renovação da esquerda nos anos 1960 e a ação limitada das mulheres dentro desses grupos, apesar da transformação das vidas das religiosas depois do Concílio Vaticano II; a aproximação com o peronismo e uma nova postura política marcaram a “nova mulher cristã”, politicamente ativa. Luciana Seminara e Cristina Viano também seguem as trajetórias de duas mulheres que começaram a vida política em grupos católicos alinhados com a Teologia da Libertação e que acabaram por encontrar a luta armada praticada pelos Montoneros e pelo Partido Revolucionário de los Trabajadores, deparando-se ainda com o feminismo, em um momento de “direitização” do governo peronista, de repressão intensa e clandestinidade.
A segunda parte do livro, “Prácticas Terroristas, Prácticas de Resistencia”, é aberta com o capítulo de Débora D’Antonio, que aborda a agência política praticada dentro dos cárceres entre 1974 e 1983. A autora tematiza a resistência e a reorganização política das mulheres no cárcere de Villa Devoto, criando uma cultura política carcerária; além disso, trata de violência sexual, tortura, sujeição dos corpos e colaboração, discutindo as estratégias de sobrevivência dessas mulheres. O capítulo de Laura Rodriguez Agüero mostra a repressão sobre prostitutas e militantes de esquerda em Mendoza, de 1974 a 1976, período em que estiveram em atividade na região os conservadores Comando Anticomunista de Mendoza e o Comando Moralizador Pio XII, que ameaçavam, assassinavam, colocavam bombas em casas noturnas, casas de militantes de esquerda, centros israelitas e igrejas evangélicas. Pessoas mortas eram encontradas nuas, algumas com as cabeças raspadas; a morte era decretada a quem colocasse em questão modos de vida tradicionais: prostitutas, homossexuais, traficantes.
No capítulo que encerra esta parte, Marina Franco aponta o exílio como espaço de transformação de gênero. Desde 1973, com a repressão da Aliança Anticomunista Argentina, aproximadamente 300 mil foragidos deixaram o país. A autora analisa o papel ativo das mulheres diante da experiência migratória, a construção de novas percepções como força, segurança e independência, e o encontro de muitas delas com o movimento feminista na França, para onde partiram quase dois mil e quinhentos argentinos/as. Mas a autora avisa que essa relação deve ser matizada, pois seus efeitos concretos foram limitados. A manutenção dos papéis periféricos das mulheres no exílio, com a reestruturação das organizações e o encontro com ideais liberalizantes, levou à ruptura de diversos casais, já que as mulheres adquiriram novas posições domésticas e políticas; portanto o exílio pode ter tido um efeito acelerador, como explica a autora, com o deslocamento de prioridades e a descoberta de novas demandas assumidas pelas mulheres.
A terceira parte do livro, “Representaciones, Imágenes y Vida Cotidiana”, traz para o cenário historiográfico outras perspectivas, ainda incomuns nos meios acadêmicos. Andrea Andújar explora os vínculos de casal na militância política de esquerda dos anos 1970, trabalhando sobre a penetração mútua entre seus ideais e a cultura de massa, representada no capítulo pelas telenovelas e pelo rock and roll. Em um texto estimulante, Andújar reflete sobre a constituição de novas formas de ser e se relacionar para as mulheres, com a erosão do mundo tradicional e o questionamento das relações heterossexuais, monogâmicas, visando o casamento. Enquanto o rock trazia o rechaço aos cânones sociais vigentes e a apologia ao amor livre (ainda heterossexual), colocando as mulheres como agentes que também tomavam iniciativas, as telenovelas as representavam em sua passividade, mas já traziam algumas inovações nos papéis; ambos os segmentos culturais traziam o contexto social e político dos primeiros anos 1970. Enquanto isso, as organizações de esquerda viam as inquietudes amorosas como debilidade política, naturalizavam as tarefas tidas como femininas e reproduziam o modelo de conduta pregado pela ditadura: amor duradouro, fidelidade, reprovação do adultério, concepção tradicional de família. A autora sinaliza a cultura como espaço de disputas e a tentativa de novos vínculos amorosos em ambiguidade com o imaginário tradicional sobre o amor e as relações.
Isabella Cosse também traz os novos protótipos femininos que emergiram naqueles anos com a divulgação da imagem da “jovem liberada”, com desejo sexual ativo, que trabalhava e não tinha como meta o casamento; surgia uma nova sensibilidade moral, principalmente entre a classe média mais elevada, identificada com os Estados Unidos e com a Europa. O modelo dona de casa passou a ser rechaçado, a tecnologia resolveria os problemas das mulheres. Cosse analisa o papel das revistas de vanguarda para jovens liberadas, o plano modernizador e a influência feminista; tudo isso em contraste com as tímidas mudanças na classe média mais ampla e com o embate ideológico travado por revistas conservadoras (Para Ti) e populares (Vosotras), que tiveram de atender às novas demandas, apropriando-se dos novos códigos sociais, mas sem questionar gênero – reforçavam os lugares tradicionais das mulheres.
Um dos últimos capítulos, de Rebekah Pite, questiona as tarefas domésticas das mulheres argentinas difundidas pelos livros do ícone da cozinha, Doña Petrona, no período de 1970 a 1983. Segundo Pite, além de receitas, a chefe ensinava também qual seria o lugar das mulheres na sociedade argentina: perfeitas donas de casa, que sabiam economizar e receber convidados. A autora mostra que a cozinha era um lugar “natural” e seguro para as mulheres, e que o programa de Doña Petrona na televisão foi talvez o único a não sofrer os cortes da censura. Em cima da mesa, uma placa avisava aos convidados: “Proibido falar de política”. A apresentadora estava de acordo com os preceitos da ditadura: as mulheres deviam permanecer nos seus lares, mantendo os papéis tradicionais de gênero; era preciso modernizar a tradição, não romper com ela.
O único capítulo do livro que de certo modo destoa de um rigor metodológico é intitulado “Rastros de la ausencia: sobre la desaparición en la obra de Claudia Contreras”. María Laura Rosa questiona como a arte pode falar de genocídio e, como resposta, discorre sobre o contexto argentino, fazendo um paralelo com a arte lá produzida, buscando explorá-la como política. “Como falar de um passado que se prolonga no presente?”, pergunta a autora. Aos leitores e leitoras ficam algumas impressões que parecem pessoais e uma análise quase emotiva, que não problematiza o uso da arte como fonte para a historiografia. Essa é a ausência que podemos reivindicar.
Com esse apanhado de capítulos, percebemos a amplitude e o aprofundamento de temáticas que trazem para a discussão historiográfica sobre a última ditadura militar argentina a perspectiva das relações de gênero, no âmbito da esquerda política, mas também da direita. De minifaldas, militancias y revoluciones é uma parte importante de um debate, travado em sua transnacionalidade2 por pesquisadoras/es que se preocupam em complexificar a escrita da história, nela inserindo atores/as sociais que não estiveram presentes no que contemplou a historiografia tradicional, mas que trazem histórias e heranças próprias de um período intenso, vivido, lembrado e relembrado por grupos sociais que naquele momento ainda buscavam marcar seus lugares e espaços. Esse livro e as reflexões que ele suscita são marcas materiais de uma legitimidade e, ao mesmo tempo, espaços ocupados por sujeitos históricos ainda em permanente elaboração. Aos estudiosos e interessados, vale a pena conhecer um trabalho de competência acadêmica, que oferece novas possibilidades à historiografia latino-americana, partindo da perspectiva argentina.
Referências
Andújar, Andrea et alii. Historia, género y política en los ’70. Buenos Aires, Feminaria, 2005. Disponível em www.feminaria.ar. [ Links ]
Pedro, Joana Maria; Wolff, Cristina Scheibe; Veiga, Ana Maria. (orgs.) Resistências, Gênero e Feminismos contra as ditaduras no Cone Sul. Florianópolis, Ed. Mulheres, 2011. [ Links ]
Pedro, Joana Maria; Wolff, Cristina Scheibe, (orgs.) Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul. Florianópolis, Ed. Mulheres, 2010. [ Links ]
Notas
1 Em 2010 as jornadas alcançaram sua terceira edição.
2 Essas questões são trabalhadas no Brasil por pesquisadoras/es do chamado Projeto Cone Sul, do Laboratório de Estudos de Gênero e História na Universidade Federal de Santa Catarina, que acabaram de editar o livro Resistências, Gênero e Feminismos contra as ditaduras no Cone Sul (Pedro, Wolff, Veiga, 2011), com estudos realizados nos países situados nesse espaço geopolítico, também sob a perspectiva do gênero. Antes dele, uma primeira compilação de textos elaborados a partir do colóquio “Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul” (realizado na UFSC em maio de 2009) também foi publicada, reunindo autoras/es da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia e Brasil, que problematizam os períodos de ditaduras militares em seus países, imbricados às relações de gênero que os permearam (Pedro e Wolff, 2010). Ligado à Universidade de Campinas, um grupo coordenado pela socióloga Maria Lygia Quartim de Moraes também tematiza as ditaduras militares e as relações de gênero nesse período. Ainda sobre ditaduras, encontramos o trabalho da equipe de pesquisa de Carlos Fico, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Ana Maria Veiga – Doutoranda em História na Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista da CAPES, Atualmente pesquisa sobre realizadoras de cinema do Brasil e da Argentina durante as ditaduras militares nos dois países, E-mail: E-mail: [email protected].
[MLPDB]
Undoing gender – BUTLER (RF)
BUTLER, Judith. Undoing gender. New York; London: Routledge, 2004. 273p. Resenha de: DORNELLES, Priscila Gomes. Revista FACED, Salvador, n.19, p.131-132, jan./jun. 2011.
Judiht Butler é estadunidense, filósofa e professora da Universidade da Califórnia/EUA, localizada em Berkeley. A autora apresenta a problematização dos movimentos teórico-políticos do feminismo como um dos focos principais das suas produções.
Para isso, assume uma posição pós-estruturalista e ligada à teoria queer para conceituar o sujeito como produto normativo generificado.
Após algumas publicações tratando de circunscrever o gênero como uma norma cultural que governa a materialização dos corpos, tais como Gender trouble: feminism and the subversion of identity (1990) e Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (1993), em Undoing gender, Judith Butler reúne ensaios reelaborados e versões alargadas de produções já apresentadas publicamente, as quais, agora, estão compiladas para problematizar o plano normativo do gênero a partir, segundo a autora, das experiências de tornar-se desfeito. Nesta obra, o movimento analítico sela o sujeito como produto normativo e volta-se para tratar da produção do gênero de forma articulada e implicada com a problematização da vida e das noções de humano.
Capitaneado pelas discussões de gênero e sexualidade, Undoing gender propõe certa “rasura” aos movimentos de feministas centrados na promoção do debate de gênero restrito às questões/ demandas sociais de mulheres, inclusive reforçando o dimorfismo sexual a partir de concepções que operam essencializando o que é um corpo feminino. Os ensaios deste livro estão engajados com Novas Políticas de Gênero, as quais, segundo Butler, configurariam “um caldo” epistemológico e político de discussões em torno de transgêneros, transexuais e intersex de forma (des)articulada com as teorias feministas e queer. Nesse sentido, a autora dedica os capítulos Gender regulations, doing justice to someone: sex reassignment and allegories of transsexuality e undiagnosing gender para descrever, no âmbito do discurso médico, o processo vivido por sujeitos transexuais para a realização das cirurgias de resignação de sexo, bem como as justificativas produzidas, também no âmbito científico, para as cirurgias de “adequação” de sujeitos intersex.
Butler aponta que esse universo de “(re)construção” dos corpos através das tecnologias, bem como as formas de violências e violações aos sujeitos avessos aos padrões normativos do gênero são trazidos para destacar como as normas de gênero funcionam para fazer/desfazer os sujeitos, inclusive questionando a noção de autonomia. Importa para a autora argumentar e articular, a partir de bases hegelianas, a relação entre as normas de reconhecimento e a produção diferencial do humano ao “destrinchar” analiticamente as situações apresentadas no decorrer do livro.
Além dessa base argumentativa, nos diferentes capítulos, a autora posiciona as possibilidades de movimentação do sujeito em relação à constituição normativa que o precede e o externa. Para isso, o conceito de agência circula como um lugar, distribuído de forma diferencial entre os gêneros, de fazer-se a partir da crítica – vale ressaltar que este termo é tratado ao largo de concepções de sujeito crítico possíveis, apenas, através da consciência dos jogos de poder e, consequente, construção de formas de emancipação.
Nesta obra e em outras produções, a crítica refere-se ao questionamento dos processos e dos termos que restringem a vida, com isso, ampliando o reconhecimento das formas de humano.
Ao fim e ao cabo, isto significa que o exercício individual da agência está atrelado à crítica/transformação social.
Ademais, interessa mencionar que a autora trata do conceito de humano como algo contingente. Nesse sentido, o seu questionamento é proposto considerando as bases normativas generificadas, racializadas e sexualizadas que constituem graus diferenciados de humanidade. Judith Butler provoca-nos a pensar que o que está em jogo no questionamento das normas é a definição parcial/futura do humano. Para isso, falar do lugar do irreconhecível torna-se uma possibilidade de tensionar os caminhos normativos ao alargamento.
Priscila Gomes Dornelles – E-mail:[email protected]
Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary – DAS (CP)
DAS, Veena. Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary. Berkeley, University of California Press, 2007, 281p. Resenha de: PEREIRA, Pedro Paulo Gomes. Violência, gênero e cotidiano: o trabalho de Veena Das. Cadernos Pagu, Campinas, n. 35, Dez. 2010.
A antropologia e a teoria feminista têm como espaço privilegiado de reflexão a intersecção gênero, violência e subjetividade. Algumas abordagens nessa intersecção acabam por pensar violência como algo apenas eventual, olvidando-se frequentemente de assinalar suas íntimas conexões com o cotidiano. É comum também, e consubstancial a essa visão de violência como extra-ordinário, pensar o campo que envolve a violência em oposições rígidas, tais como: vítima e agressor, agência e opressão – existindo mesmo uma habitual associação entre agência e transgressão, como se a voz das vítimas só pudesse se manifestar transgredindo e enfrentado a Lei. Dessa maneira, como algo esporádico e fortuito, que se irrompe aqui ou acolá, a violência não desce ao cotidiano, e o trabalho diário na lida contra a violência é obnubilado em favor de certo tipo de violência acidental e de certo tipo heróico de resistência. É à busca de pensar as relações entre gênero, violência e subjetividade para além da oposição ordinário e extra-ordinário, evitando as ciladas dessa oposição, que a antropóloga indiana Veena Das vem se dedicando na última década e, como fruto dessa inquietação, publicou o livro Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary.
Veena Das iniciou suas investigações em Gujarat, um Estado da Índia que faz fronteira com o Paquistão. Encontrou ali famílias que haviam imigrado à Índia refugiadas de diversas regiões do Punyab – famílias que por décadas compartilharam com a antropóloga suas memórias e seus testemunhos da violência da Partição (divisão territorial efetuada pela Índia e Paquistão em 1947, pouco tempo após suas independências político-administrativas do império britânico). Esse “evento crítico” caracterizou-se pela violência entre mulçumanos, hindus, sikh e diversos grupos étnicos e religiosos que acabou por desalojar 14 milhões de pessoas e vitimar pelo menos um milhão. Uma das histórias recorrentes na Partição foi o rapto e a violação das mulheres. Das efetuou uma paciente aproximação etnográfica, na qual os relatos de violação, as reestruturações familiares, os testemunhos de violência se encontravam também com uma memória que, simultaneamente, se silenciava sobre o acontecido e se manifestava nas relações sociais, transformando as relações de parentesco. Uma década após, em 1984, Das se deparou com a violência contra os Sikh em Delhi, quando do assassinato de Indira Gandhi, então Primeira-Ministra da Índia. Às memórias dos eventos violentos de 1947, presentes mesmo que sob forma de um “conhecimento venenoso”, somavam-se violências súbitas, dirigidas contra os Sikh, organizadas com a conivência do Estado, mas praticada por grupos ilegais, geralmente em forma de motins.
Das vem pesquisando esse contexto desde o início da década de setenta – como se pode acompanhar pelos seus trabalhos (1990, 2003, 2005), alguns já resenhados e relativamente conhecidos no Brasil (Das, 1995; Peirano, 1997). A busca geral da antropóloga é verificar como se estabelecem as relações sociais nesses eventos críticos (1995), de que forma o gênero é acionado como uma gramática que autoriza a violência (2007), qual o papel desempenhado pelo Estado (Das e Poole, 2004), qual o status das vítimas e sua capacidade de resistência, em que condições ocorrem os testemunhos e o que podem revelar (1995; 2007), entre outros. Life and Words persiste nessas indagações, propondo, no entanto, um novo e importante foco: averiguar como a violência desce ao cotidiano.
No prefácio ao livro, Stanley Cavell (2007:ix-xiv) sustenta que Das dialoga com Wittgenstein ao fazer sua análise girar em torno da dor. De fato, o diálogo existe e Life and Words é uma contribuição significativa aos estudos de violência, sofrimento e dor. Das utiliza o conceito de Wittgenstein de “formas de vida” para averiguar como a violência expõe os limites dos critérios de vida e se apresenta como fracasso da gramática cultural no estabelecimento e interpretação de formas de vida. Mas a importância desse livro – aquilo que a autora avança e acentua se comparado a seus trabalhos anteriores – reside, vale insistir, no lugar privilegiado atribuído ao cotidiano. Opção que enseja diversas indagações: de que forma esses eventos violentos, que se irrompem na vida social, descem ao dia-a-dia? que tipos de personagens atuam nessa descida? como agem? em quais gramáticas atuam e sob quais jogos? como operam os rumores? como as mulheres, que surgem como os principais atores desse processo, reconstroem o cotidiano como forma de resistir à violência?
*
O livro é dividido em duas partes. A primeira (capítulos 2 ao 5) aborda a Partição da Índia, em 1947, e os processos pelos quais a violência desse evento crítico é construída no dia-a-dia da Índia contemporânea. Nessa parte, tendo como interlocutores as vítimas da Partição, Das demonstra que os sujeitos enfrentam essa violência não com um acento excessivo numa memória paralisada, mas como forma de reabitar o cotidiano. Na segunda parte (capítulos 7 ao 11), Das reflete sobre a violência coletiva que se seguiu ao assassinato de Indira Gandhi, caracterizada pelos motins anti-Sikh. A abordagem se centra numa política de afetos que se transforma em atos de violência e conforma “comunidades de ressentimento”.
Nas análises sobre a Partição, uma das questões principais abordadas pela autora é o rapto e a violação das mulheres. Durante a Partição, os Estados da Índia e do Paquistão adotaram normas que vinculavam a castidade da mulher à dignidade da nação. O corpo da mulher se transformou, então, num signo de comunicação entre homens, uma violenta linguagem da masculinidade. As mulheres violadas pelos raptores eram ora assassinadas, ora se suicidavam como condição de reentrar “honradas” na imaginação da nação; as sobreviventes eram marginalizadas e enfrentavam contínuas e árduas dificuldades para refazerem suas vidas. Segundo a autora, as mulheres raptadas circulavam nos debates políticos e permitiam ao Estado estabelecer um estado de exceção que sinalizava uma alteração do fluxo na troca de mulheres. Esse acontecimento permitiu um “contrato social” entre homens, fundamentado num “contrato sexual”, que reivindicava os direitos dos homens sobre as mulheres. A violência infligida às mulheres não se referia apenas ao silenciamento de suas vozes, mas à transformação das mulheres em testemunhas da violência brutal, testemunhas silenciadas, mas que tinham em seus corpos os signos da violência – corpos apropriados numa disputa pela soberania que operava por uma gramática violenta de gênero.
Essas mulheres, cujos corpos são signos dessa gramática violenta de gênero, expressavam-se numa zona de silêncio. Das utiliza a metáfora de “conhecimento venenoso” para falar como as mulheres atuam sobre o sofrimento a elas infligindo. Quando conversava com as mulheres raptadas e violadas durante a Partição, indagando sobre suas experiências, Das percebeu uma zona de silêncio, principalmente sobre os fatos mais brutais. Surgia ali uma linguagem metafórica que se valia de figuras de linguagem para escapar de narrar diretamente a violação. As mulheres utilizavam a metáfora de uma mulher que bebia veneno e o mantinha dentro de si. Esse conhecimento manifestava-se no cotidiano e nas formas de perceber a vida, construindo um mapa das relações sociais, permitindo-lhes operar as experiências violentas no cotidiano, na reconstrução do dia-a-dia. Testemunhas silenciosas atuam – valendo-se do “trabalho do tempo” – sobre os relacionamentos familiares, num processo contínuo de reescrita. As mulheres parecem se valer de um tipo específico de compreensão: o tempo também possui agência, e trabalha. Saber lidar com o tempo significa atuar diretamente na reconstrução das relações e permite reabitar o mundo. O trabalho do tempo possibilita colocar essas mulheres na condição de sujeitos, no processo de reconstrução de suas relações familiares.
Para falar sobre o “trabalho do tempo”, Das descreve a história de Manjit, uma das mulheres raptadas durante a Partição e resgatada pelo exército indiano. A narrativa acompanha Manjit do arranjo apressado de seu casamento (devido aos tumultos da Partição e seus efeitos nas famílias), à violência rotineira desferida por seu marido contra ela e, posteriormente, contra o primogênito do casal; aproxima-se das complexas negociações do casamento do filho de Manjit e mostra o deslocamento da violência de seu marido para a jovem esposa; assinala como essa violência faz com que se contrariem todas as convenções culturais, forçando o primogênito e sua esposa a se mudarem de casa; e finaliza retratando o esposo de Manjit adoecido e necessitando de cuidados, o filho de Manjit retornando à sua casa, onde a protagonista da narrativa consegue finalmente tranqüilidade para viver ao lado de seus netos. A história, muito mais rica do que pude descrever, conta-nos como o tempo não é algo simplesmente representado, mas um agente que trabalha nas relações, permitindo que sejam reinterpretadas e rescritas no embate dos agentes na construção de suas histórias.
Semelhanças entre essa poderosa história e O vento, filme de Victor Sjöström (1928), poderiam ser traçadas. No filme, uma jovem sulista vai ao Texas para se casar, mas é violentada no trem por um desconhecido. A jovem, entretanto, mata o agressor e enlouquece, em meio à tempestade de areia provocada pelo vento incessante. Embora ambos abordem a violência de gênero, a trama da narrativa é diferente: Manjit não enlouquece como a jovem Letty do filme, e sabe utilizar o trabalho do tempo a seu favor. Contudo, nas duas narrativas temos a forte presença de outros protagonistas: na obra de Sjöström, o vento; no texto de Das, o tempo – ambos são agentes que aparecem como personagens principais da história.
O trabalho do tempo também se manifesta nas relações entre a Partição e os eventos que se sucederam após 1984 (a invasão do Templo Dourado de Amritsar, o assassinato de Indira Gandhi por seus guardas Sikh, a violência contra os Sikh). A localização e a atualização da violência contra os Sikh devem ser compreendidas como uma mescla de memórias dos sobreviventes da Partição, de uma gramática de gênero violenta – caracterizada por uma masculinidade que auto-proclama sua superioridade sobre um outro-inferior-feminino ou feminilizado –, de um Estado conivente e, de certa forma, fomentador da violência. As relações do cotidiano processam sentimentos de raiva e ódio e permitem, ao mesmo tempo, um trabalho de reconstrução da sociabilidade, mas também possibilitam o incremento desses sentimentos de ódio que podem ser traduzidos em atos de violência, como o assassinato dos Sikh.
O passado tem um caráter indeterminado. O presente se converte no lugar onde elementos do passado que foram rejeitados podem assediar o mundo. O acontecimento sobrevive em versões diversas dentro da memória social dos diferentes grupos sociais. Das sustenta, então, que o rumor ocupa uma região da linguagem que pode fazer experimentar acontecimentos e, mais do que se apresentar como um ato externo, termina por produzir no mesmo ato em que enuncia. Os processos de tradução e rotação funcionam para atualizar certas regiões do passado e criam um sentido de continuidade entre os acontecimentos, conectando-os entre si. No caso dos acontecimentos pós-assassinato de Indira Gandhi, Das assinala como diversas correntes de rumores se combinaram para criar uma sensação de vulnerabilidade entre os hindus e fazer supor que os Sikh seriam desprovidos de subjetividade humana. O rumor acabou por fazer os hindus se pensarem como uma coletividade instável e em perigo – o que autorizou a violência contra o outro desprovido de subjetividade.
O rumor ressalta a dimensão do impessoal na vida social. Os rumores exercem um “campo de força” que atrai as pessoas para agirem de determinada maneira. Trata-se, portanto, de um tipo de violência que nubla as distinções claras entre agressores e vítimas. A impessoalidade e esse campo de forças propiciam atos morais que não seriam executados em condições diferentes, e pessoas comuns são arrastadas para cometer atrocidades (Das, 2010). O rumor, enfim, embaralha e complexifica as categorias convencionais que temos para pensar a violência e se constitui num modelo para complexificarmos as definições de agência. A força perlocucionária do rumor mostra a fragilidade do mundo, e como as imagens de desconfiança, que podem ser apenas virtuais, tomam uma forma volátil, e a ordem social se vê ameaçada por um acontecimento crítico.
A análise do rumor, além de focalizar o poder do impessoal (Das 2010:137), apresenta também a agência de determinados atores que não se encaixam naquilo que geralmente se imagina como “agência”. Por exemplo, noções como paciência e paixão são mais vinculadas à passividade do que à resistência. A descida ao cotidiano, entretanto, abala nossos modelos pré-estabelecidos de resistência ou, pelo menos, apresenta outras possibilidades de pensá-los. Das encontra uma forma de lidar com a violência que se distancia dos modelos de resistência heróica, tal como os percebidos no modelo clássico de Antígona. A antropóloga indiana conta, então, a história de Asha, uma mulher punjab, que vivia com a família de seu esposo na fronteira do Paquistão no período da Partição. Depois do conflito, teve que abandonar sua “família política” por diversos motivos relacionados à sua condição de mulher e de viúva. Ela se casa com um comerciante bem estabelecido. Depois de muito tempo e de uma insistente ação de Asha e de sua cunhada, termina por reatar os laços com sua família política. Das contrasta as ações de Asha às de Antígona. Para a antropóloga, se a figura de Antígona oferecia uma maneira de pensarmos voz e agência, a figura de Asha mostra um sujeito genereficado que possui um “conhecimento venenoso”, mas que constrói um trabalho cotidiano de reparação. Diferentemente de Antígona, a agência não está no heróico e no extra-ordinário, mas na descida ao cotidiano, no preparo diário da alimentação, na arrumação e organização dos afazeres, no cuidado e cultivo persistente das relações familiares. São essas ações cotidianas que possibilitam a criação de um discurso de reparação. Ao justapor o modo “menos dramático” de discurso utilizado por Asha ao discurso de Antígona, Das sugere que mulheres como Asha ocuparam uma zona diferente ao descer ao cotidiano em lugar de ascender a um “plano superior” (Das, 2007; 2010). Se nos dois casos percebemos mulheres como testemunhas – no sentido de se encontrarem no marco dos acontecimentos e de serem por eles afetadas –, Asha fala da zona do cotidiano, ocupando os signos das feridas que a afetaram e estabelecendo uma continuidade no espaço da devastação.
**
Estes breves comentários nem de longe dão conta da argúcia dos argumentos, da riqueza das histórias descritas e do impecável estilo de Veena Das. Tentei apenas desenhar em traços largos os movimentos principais da obra. E, para finalizar, com objetivo apenas de ressaltar alguns aspectos, faço algumas considerações mais gerais sobre Life and Words.
Bronislaw Malinowski (1935) revelou em suas “confissões de ignorância e falha”, no apêndice de Coral Gardens and Their Magic, que uma fonte geral da inadequação de seu material consiste no fato ter sido seduzido pelo dramático e excepcional e ter negligenciado o dia-a-dia (ver Martin, 2007). Porém, acompanhar o dia-a-dia de nossos interlocutores demanda tempo e uma pesquisa de campo prolongada (nem sempre possível, se pensarmos, por exemplo, na realidade brasileira). Sem uma interação cuidadosa, por anos a fio, muito do cotidiano se perde e o antropólogo acaba seduzido pelo “dramático e excepcional”. Se isso vale mesmo para antropólogos que tiveram a oportunidade de ficar por muito tempo em campo, como Malinowski, há que se conjecturar as dificuldades de, em períodos curtos, se conseguir uma aproximação razoável às práticas cotidianas. Life and Words é interessante para refletirmos sobre o assunto. Ao analisar o trabalho de restabelecimento da sociabilidade após experiências de ruptura proporcionadas pela violência, assinala Das a persistência de zonas de silêncio nas quais a emergência da voz feminina se dava nem sempre pelo dizer, mas pelo mostrar. O mostrar não é algo que surge apenas de narrativas ou de reivindicações, mas no fabrico diário de modos de viver. Donde a necessidade de uma laboriosa prática etnográfica que se volte para o dia-a-dia. Das parece sugerir que somente um trabalho de campo que saiba manejar o “trabalho do tempo” conseguirá ouvir o que se tem a dizer, perceber os dizeres do silêncio e compreender o que os interlocutores desejam mostrar. Afinal, é a intensidade e persistência na investigação que possibilitam um vínculo com os interlocutores.
Todavia, não é estranha à história da antropologia a figura do “nativo” convertido simplesmente num vetor de informações (o informante), destituído de nome e sem traços que o singularize. A despeito desse movimento, e justamente pela intensidade do empreendimento etnográfico que, em maior ou menor grau, propicia vínculos com os interlocutores, alguns nomes ficaram marcados: Ahuia de Malinowski, Tuhami de Crapanzano, Ogotemmeli de Griaule, Muchona de Victor Turner, Pa Fenuatara de Raymond Firth, Adamu Jenitongo de Stoller. Das nos apresenta outros personagens. No decorrer do livro, a antropóloga se envolve e é interpelada pelos seus interlocutores, enredando-se no drama de suas vidas, estabelecendo vínculos que, em alguns casos, perduram por décadas. Certamente as mulheres desses eventos críticos narrados por Das, como Manjit e Asha, ficarão na história da disciplina. Ademais, a antropóloga lhes confere um lugar privilegiado, reivindicando uma equiparação às heroínas das tragédias gregas: Asha é igualada à não menos que Antígona.
Em Life and Words, as protagonistas são os interlocutoras da antropóloga, que não apenas narram suas histórias, mas formulam sofisticadas teorias sobre tempo, dor, sofrimento, adoecer; teorias sobre formas de relação. A antropóloga procura alçar a teoria de seus interlocutores ou, para falar em termos mais filosóficos, alçar suas práticas de conhecimento. O que não significa um abandono das discussões teóricas e dos conceitos antropológicos; antes, trata-se de intensificar as conexões entre os saberes. Daí, por exemplo, o intenso diálogo estabelecido com Wittgenstein (cf. Das, 1998) – diálogo ancorado numa longa experiência etnográfica, e numa lida cuidadosa com as teorias, sejam elas de mulheres punjab ou de filósofos austríacos. Apesar desse cuidado, teço duas pequenas observações.
1) Das lembra que a relação da formação do sujeito e a experiência de subjugação foi compreendida por Foucault, em sua análise da disciplina do corpo, por intermédio da metáfora da prisão: “a alma é a prisão do corpo”. Entretanto, ressalta a antropóloga, ao tentar compreender as complexas conexões existentes entre violência e relações de parentesco, percebeu que os modelos de poder-resistência ou a metáfora da prisão são excessivamente grosseiros como ferramentas para entender o “delicado trabalho de criação do sujeito” (2007:78). Pelo contrário, continua a autora, ao explorar a profundidade temporal propiciada pelos momentos originários de violência, e o caráter fundamental da vida cotidiana, em vez de utilizarmos metáforas de prisão para significar as relações entre critérios externos e estados internos (corpo e alma), devemos pensar que eles se recobrem um ao outro, compreendidos sempre em união. A ressalva que faço – reconhecendo, evidentemente, a importância do achado etnográfico de Das – é que o autor de Vigiar e Punir é também autor de História da Sexualidade, e as exegeses da obra de Foucault vêm revelando em sua trajetória uma complexificação crescente do enfoque sobre a formação do sujeito e da subjetivação (ver Goldman, 1999). Qualquer análise que se concentre apenas na abordagem de Vigiar e Punir será necessariamente parcial, não alcançado a complexidade da abordagem de Foucault. Judith Butler (1997), por exemplo, em sua obra sobre a vida psíquica do poder (ou seja, sobre as relações entre “sujeição” e “tornar-se sujeito”), revela um Foucault atento às sutilezas daquilo que Das denominou de “delicado trabalho de criação do sujeito”. A busca de compreender as práticas de conhecimento de nossos interlocutores não nos autoriza a simplificar as teorias que manejamos, quaisquer que sejam, e mesmo sob a justificativa de priorizar o conhecimento nativo. Ainda que se argumente que a utilização de Foucault em Das foi pontual, há que se indagar sobre o porquê de tal uso, já que o autor poderia atuar positivamente no desenvolvimento da autora e não apenas como algo tosco (“crude”) a ser evitado.
2) Outra questão que me intriga na composição geral de Life and Words é que a autora, talvez pela inércia constitutiva da linguagem, parece demasiadamente colada aos significantes “homem” e “mulher” na sua concepção de gênero. Das está refletindo sobre um quadro em que a gramática de gênero parece girar quase exclusivamente em torno da heterossexualidade. Mas, ainda assim, sinto a falta de uma maior problematização sobre a concepção de gênero e da violência da própria gramática cultural heteronormativa. Quando Butler (1990) redefiniu gênero como performance, interrogou-se sobre a produção e reprodução do sistema sexo/gênero normativo e binário, concluindo que, da mesma maneira que sexo e sexualidade não são a expressão de si ou de uma identidade, mas o efeito do discurso sobre o sexo – um dispositivo disciplinar, portanto –, o gênero também não é uma expressão do sexo. Se a feminilidade não deve ser necessária e naturalmente a construção cultural de um corpo feminino; se a masculinidade não deve ser necessária e naturalmente a construção cultural do corpo masculino; se a masculinidade não é colada aos homens e se não é privilégio dos homens biologicamente definidos; é porque o sexo não limita o gênero, e o gênero pode exceder os limites do binarismo sexo feminino/sexo masculino. Todo gênero é uma performance de gênero, ou seja, uma paródia sem original. Sem querer me estender nessa questão, cabe aqui uma indagação sobre a pressuposição de gênero nos marcos estritamente heterossexuais ou numa gramática em torno de significantes hetero e também de uma possível homogeneização das mulheres que acabaria por criar um universalismo mascarado. Sobre esse último ponto, quem sabe não seja mais interessante perceber as mulheres não como um grupo explorado, mas uma coalizão política a construir, e que não se define unicamente pelo gênero ou pela opressão de gênero – posição esta, inclusive, que se aproxima ao próprio movimento teórico empreendido por Das. Essa questão precisa ser mais bem observada. De qualquer forma, um diálogo mais intenso com teóricas como Judith Butler, Teresa de Lauretis e Marilyn Strathern numa discussão conceitual da categoria gênero, poderá ser frutífero para futuros trabalhos de Veena Das.
Independentemente dessas observações, Life and Words consegue, de forma convincente, abordar a intersecção gênero, violência e subjetividade, demonstrando que a vida cotidiana é, para repetir Stanley Cavell, ao mesmo tempo, uma busca e uma pesquisa [a quest and an inquest]. Veena Das destaca, com persistência e delicadeza, os ensinamentos do poeta Rainer Maria Rilke ao aprendiz Franz Kappus, em famosa missiva que acabou por ser publicada em Cartas a um jovem poeta: “Se o cotidiano lhe parece pobre, não o acuse: acuse-se a si próprio de não ser muito poeta para extrair as suas riquezas”.
Referências
Butler, Judith. The psychic life of power: theories in subjection. California, Stanford University Press, 1997. [ Links ]
__________. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York, Routledge, 1990. [ Links ]
Cavell, Stanley. Foreword. In: Das, Veena. Life and Words. Violence and the descent into the ordinary. Berkeley, University of California Press, 2007, pp.ix-xiv. [ Links ]
Das, Veena. Listening to Voices. An interview with Veena Das. (interview by DiFruscia, Kim Turcot). Alterités, vol. 7, nº 1, 2010, pp.136-145. [ Links ]
__________. Life and Words. Violence and the descent into the ordinary. Berkeley, University of California Press, 2007. [ Links ]
__________. Sexual violence, discursive formations and the state. In: Coronil, F. e Skurski, J. (eds.) States of Violence. Michigan, Univ. Mich. Press, 2005, pp.323-425. [ Links ]
__________. Trauma and testimony. Implications for political community. Anthropological Theory, vol. 3, nº 3, 2003, pp.293-307. [ Links ]
__________. Wittgenstein and anthropology. Annual Review of Anthropology, vol. 27, 1998, pp.171-195. [ Links ]
__________. Critical events. An anthropological perspective on contemporary India. Delhi, Oxford University Press. 1995. [ Links ]
__________. Our Work to Cry: Your Work to Listen. In: Das, Veena. (ed.) Mirrors of Violence: Communities, Riots and Survivors in South Asia. Delhi, Oxford University Press, 1990, pp.345-99. [ Links ]
__________ e Poole, Deborah. (eds.) Anthropology in the margins of the State. New Delhi, Oxford University Press. 2004. [ Links ]
Goldman, Márcio. Objetificação e subjetificação no último Foucault. In: Alguma Antropologia. Relume Dumará, Rio de Janeiro, pp.65-76. [ Links ]
Malinowski, Bronislaw. Coral Gardens and Their Magic: a Study of the Methods of Tilling the Soiland of Agricultural Rites in the Trobriand Islands. New York, American Book, 1935. [ Links ]
Martin, Emily. Violence, language and everyday life. American ethnologist, vol. 34, nº 4, pp.741-745. [ Links ]
Peirano, Mariza. Onde está a antropologia. Mana, vol. 3, nº 2, 1997, pp.67-102. [ Links ]
Pedro Paulo Gomes Pereira – Antropólogo, Professor Adjunto da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp. E-mail: [email protected].
[MLPDB]
Performing gender at work. Great Britain – KELLAN (CP)
KELAN, Elisabeth. Performing gender at work. Great Britain, Palgrave Macmillan, 2009. Resenha de: CASTRO, Bárbara. Performing gender at work. Cadernos Pagu, Campinas, n. 35, Dez. 2010.
A chamada nova economia, que tem como base a produção de riqueza amparada pela tecnologia da informação e comunicação1, exige que os potenciais candidatos às vagas de trabalho possuam, além da competência técnica em programação de computadores, habilidades flexíveis, interpessoais e de comunicação, como se diz no jargão das empresas de recursos humanos. A indústria de tecnologia da informação (TI), focada na venda de soluções e no fornecimento de serviços, busca pessoas que se comuniquem bem com o cliente e saibam trabalhar em equipe. Não basta saber liderar. É preciso ceder, negociar as diferentes perspectivas que cada membro de uma equipe possui sobre o projeto de trabalho, ser hábil para negociar novos prazos ou especificações com os clientes, modificando o projeto na medida em que mudam as diretrizes. Além disso, é preciso estar disponível para a realização de projetos em tempo curto e estar sempre atualizado, posto que a inovação é uma das características principais do setor. É preciso, pois, ser flexível.
Essa flexibilidade aparece na literatura sociológica associada ao universo feminino. Ulrich Beck (1994), por exemplo, atribui ao feminino os padrões de flexibilidade que o mundo do trabalho parece copiar. Richard Sennett (2004), por sua vez, elegeu as mulheres como o grupo que pressionou para a existência dessa flexibilidade. Partindo dessas afirmações, o trabalho em TI parecia ser um campo de oportunidades promissor para as mulheres. Um espaço no qual elas poderiam ingressar sem enfrentar os preconceitos e as desigualdades de gênero presentes no mercado de trabalho. Um lugar onde seria possível trabalhar sem sair de casa, sem abrir mão de cuidar dos filhos, fazendo seu próprio horário. As limitações da chamada velha economia não existiriam mais.
Há evidências, porém, de que a realidade é muito diferente do que dizem o discurso empresarial e a literatura. No Canadá, as mulheres não chegam a 1/3 da força de trabalho na indústria de TI (Scott-Dixon, 2009). Na Europa, esse dado não é muito diferente: elas são uma entre cada cinco trabalhadores do setor.2 No Brasil, do total de trabalhadores de TI, apenas 16% são mulheres.3 Estudos sobre o teletrabalho (trabalho à distância) mostram que, além de essa modalidade reificar a divisão sexual do trabalho, reafirmando a posição das mulheres no espaço doméstico e na esfera do cuidado, ele pouco modifica as possibilidades de crescimento profissional. Apesar de diferentes mulheres possuírem experiências diversas com o trabalho em TI, a tendência, como mostra Scott-Dixon (2004), é de que a falta de tempo livre para investir em cursos de atualização, causada pela sobreposição do trabalho pago e não-pago, as levaria a ficar sempre em posições subordinadas.
Esse abismo, quantitativo e qualitativo, entre homens e mulheres na área de tecnologia despertou o interesse da academia no final da década de 1970. Diferentes orientações teóricas buscaram compreendê-lo e elaborar saídas para essa inequidade. Entre elas, destacou-se e tornou-se referência a perspectiva histórico-cultural, que mostrou como diferentes ocupações que envolvem ciência e tecnologia foram construídas a partir de um ideário masculino e, por essa razão, fecharam-se às mulheres (Cockburn, 1992; Kirkup e Keller, 1992; Wajcman, 1991 e Webster, 1989).
Suas propostas políticas de desconstrução da associação entre tecnologia e masculinidade, no entanto, retomavam o modelo binário de gênero e o essencialismo da relação entre tecnologia e sociedade. De uma maneira geral, havia um entendimento de que se mais mulheres produzissem tecnologia, mais os produtos teriam uma linguagem, design e funcionalidade femininos, aproximando-as de seu uso e diminuindo, assim, a distância entre as mulheres e a tecnologia. Gill e Grint (1995) identificaram esse problema e propuseram que passássemos a pensar em como gênero, trabalho e tecnologia são co-produzidos a partir da interação, como são negociados no dia-a-dia.
Cockburn e Ormrod (1993) já haviam produzido um estudo empírico clássico sobre gênero, tecnologia e trabalho enfocando a relação das mulheres nas etapas da produção, venda e consumo de tecnologia. Mas ele não se preocupava em mostrar as mudanças, apenas as permanências nas relações de gênero. Com isso, podemos entender que a crítica de Gill e Grint (1995) não se resume apenas às diferenças de tratamento dedicadas à relação entre gênero e tecnologia no momento da análise e no momento da política – mesmo porque a ciência não é neutra à política. Ela se dirigia, também, ao foco desses estudos na estrutura social, mesmo quando havia um esforço em compreendê-la a partir das práticas.
Em Performing Gender at Work, Elisabeth Kelan elabora uma alternativa metodológica que dialoga com a proposta de Gill e Grint (1995), buscando superar as limitações dos estudos de gênero, tecnologia e trabalho. Ela une o conceito de performance, de Judith Butler, à etnometodologia de Candance West e Don H. Zimmerman, dizendo que, assim, podemos superar as limitações de uma e outra teorias. Se os últimos deixam pouco espaço disponível para a mudança, porque a norma de gênero tem que ser obrigatoriamente praticada pelos atores sociais, Butler lhes oferece esse espaço, porque podemos incorporar o discurso de maneira transformadora. O problema, segundo Kelan, é que ela não explicaria como isso acontece no dia-a-dia. Aí reside a vantagem da perspectiva etnometodológica, pois eles mostram como as pessoas se referem às normas de gênero todos os dias.
Para costurar as duas teorias, Kelan propõe que utilizemos a análise do discurso sem tratá-lo como o grande discurso da estrutura, mas como todas as formas de interação falada, formais ou informais, bem como textos escritos de todos os tipos. Considera que o texto e a fala estão sempre em ação e, por isso, são localizados e contextualmente específicos. Não nega, no entanto, que há um repertório interpretativo a partir do qual os indivíduos se guiam. Nesse sentido, o discurso produz e é produzido. Fazer gênero é, ao mesmo tempo, estar influenciado e estar produzindo grandes quadros de significados. Sua proposta é a de analisar os recursos que as pessoas têm disponíveis bem como os dilemas ideológicos que elas enfrentam. Esses dilemas são centrais para entendermos as mudanças e continuidades quando pensamos em gênero e trabalho.
Com uma pesquisa empírica realizada em duas indústrias de software na Suíça, Kelan busca entender como ficaram as relações de gênero no trabalho em um espaço (setor de tecnologia) e tempo em que novas relações foram estabelecidas. Os padrões de trabalho fordista foram substituídos por um modelo de flexibilização das relações de trabalho e insegurança. Ao mesmo tempo, não podemos negar que houve um avanço no tratamento das relações de gênero no espaço de trabalho. Apesar dessas transformações, há elementos que permanecem. Gênero, raça, classe e idade, entre outros marcadores, continuam tendo uma importância fundamental para a análise social. A diferença, ela alerta, é que eles estão sendo utilizados de outras maneiras.
Isso fica mais claro quando ela assume que uma das principais mudanças ocorridas nas relações entre gênero e trabalho na nova economia foi a valorização de características associadas ao feminino. Ela mostra como essas características são negociadas por homens e mulheres no espaço de trabalho de maneira a não desmasculinizar os homens. Ou seja, demonstra que a despeito da feminização das competências e, apesar de esse fenômeno parecer desafiar a organização hierárquica da binaridade de gênero, o trabalhador ideal da indústria de software é um homem. Para entender como isso é possível, ela mostra como essas competências são performadas e negociadas.
O melhor exemplo de como essa dinâmica se realiza é a maneira como os entrevistados e entrevistadas definiram o trabalhador ideal do setor e se posicionaram em relação a ele. A maioria respondeu que as competências técnica e social são essenciais para o desempenho do trabalho. A primeira é definida como flexibilidade. É a capacidade de constante atualização do conhecimento técnico e o estado mental flexível e aberto às novidades. A habilidade social é traduzida como comunicação e marketing. É vista como a capacidade de traduzir a demanda do cliente em um software. Para vender o produto, é preciso convencer o cliente e atender às suas expectativas, traduzindo essas expectativas por meio da técnica.
Apesar de serem apresentadas como categorias diferentes, Kelan entende que a habilidade de interação social assume, algumas vezes, o papel de outra habilidade técnica – embora não seja. A grande maioria dos entrevistados diz desempenhá-la melhor e a apresenta como o diferencial da profissão. É essa característica, em detrimento do conhecimento técnico, que eles invocam quando tentam se aproximar do trabalhador ideal.
A problemática que a autora enfrenta é que o trabalhador ideal é construído no discurso localizado e contextualizado como neutro para a categoria de gênero. Mas, na realidade, tanto a flexibilidade quanto a sociabilidade são categorias altamente generificadas. A flexibilidade é tomada como uma característica feminina pelo grande discurso porque, com ela, seria possível conciliar o trabalho da empresa com o trabalho do cuidado da casa e da família. O nó da questão é que os trabalhadores homens que têm filhos dizem preferir trabalhar no escritório, pois as crianças atrapalhariam seu desempenho. Essa escolha supõe que alguém fique em casa cuidando dos filhos – geralmente a esposa ou a babá. Além disso, também atesta que realizar teletrabalho e ter uma família são atividades incompatíveis. A flexibilidade é utilizada de maneiras diferentes por homens e mulheres. Eles a utilizam para ganhar mais dinheiro, acumulando diferentes projetos de trabalho. Elas, para conciliar trabalho pago e não pago. O cuidado não entra na construção da flexibilidade estabelecida para o trabalhador ideal. Por essa razão, esse trabalhador ideal não é neutro para a categoria de gênero. Antes, ele é masculino.
Além disso, apesar de a habilidade social ser associada a uma característica feminina, ela não é construída dessa mesma maneira quando se trata do trabalhador ideal. A sociabilidade como característica feminina e a sociabilidade como qualidade profissional eram mantidas separadas discursivamente e apareciam em momentos distintos nas entrevistas. Um dos casos emblemáticos é o da miss review, assim apelidada porque revisava os códigos dos colegas e era vista como prestativa, simpática e não-ameaçadora. Quando as mulheres desempenhavam tarefas colaborativas, sua feminilidade era reforçada. Quando eram os homens que realizavam tais tarefas, não eram vistos como fazendo o gênero feminino, mas como desempenhando uma tarefa que todo trabalhador de TI deve desempenhar. Por meio dessa separação discursiva entre uma característica considerada essencialmente feminina e uma habilidade profissional é que os homens podiam reivindicar essa característica sem prejudicar sua identidade masculina. Como a competência social sempre aparecia como neutra para a categoria de gênero, quando os trabalhadores e trabalhadoras respondiam perguntas sobre o trabalhador ideal, ela podia ser reivindicada igualmente por homens e mulheres.
A maneira como as pessoas acionam ou rejeitam a categoria de gênero para se construírem como trabalhadores ideais pode ser vista, também, nas narrativas dos entrevistados e entrevistadas sobre o seu passado e futuro profissional. Enquanto o gênero era invocado para justificar as escolhas e dificuldades do passado – os homens geralmente dizem que sempre gostaram de tecnologia e as mulheres afirmam que foram parar nessa profissão por acaso –, ele não era levado em conta, ou destacado, quando Kelan os questionava sobre seu futuro profissional. O grande achado de Kelan talvez esteja aqui: ela associa a maneira como o gênero é acionado ou desativado com o que ela chama de subjetividade neoliberal. É isso, aliás, o que causa o dilema ideológico enfrentado por esses sujeitos ao performarem gênero no trabalho.
Com “subjetividade neoliberal” ela quer dizer que a narrativa do empreendedor de si mesmo deixa pouco espaço para que qualquer coisa exista além do indivíduo. O trabalhador – neutro para o gênero – é construído como um valor de mercado e ele mesmo é responsável por sua própria valorização, seja por estar à disposição das empresas em horários e contratos de trabalho flexíveis, seja por ter que se atualizar constantemente. O sucesso depende cada vez mais da competência da pessoa do que de constrangimentos econômicos, políticos ou sociais. Situação semelhante acontece com a redundância do trabalhador, que é atribuída a um fracasso pessoal e a um erro de performance, e não ao funcionamento do capitalismo. A vida se torna uma empresa e a pessoa passa a agir como um agente racional no mercado, atuando com o sentimento egoísta de alcançar sucesso individual.
Assim, o conflito entre o que foi vivido (passado), onde há uma narrativa forte de gênero, e o que não foi vivido (futuro), não é um problema de ideologia. As pessoas só introduzem o gênero em suas biografias quando falam do que foi experimentado, dos conflitos que se apresentaram na prática. Isso não quer dizer que o dilema ideológico desapareça, pois as pessoas performam o gênero, mas são pedidas para não fazê-lo, pois são atores racionais e egoístas. “O trabalhador auto-empreendedor é construído como neutro para a categoria de gênero, mas vivencia a experiência de trabalhador como generificada” (p. 144).
Em suma, a tese de Kelan é que o discurso que constrói o trabalhador ideal de TI adiciona a ele as características do auto-empreendedor. Ele é neutro para o gênero porque as pessoas, independentemente de serem homens ou mulheres, são responsáveis pelo seu próprio sucesso. Acontece que esse sucesso esbarra no gênero, pois, na experiência real, o trabalhador ideal é geralmente um homem. É ele quem pode oferecer seu tempo livre e dedicar-se totalmente ao trabalho, sem se preocupar com as tarefas que envolvem o cuidado da casa ou da família. É ele quem tem a possibilidade de exercer a flexibilidade exigida pelo setor. Os atributos associados ao universo feminino no grande discurso são, na prática, performados pelos homens. Mas Kelan só consegue chegar a essa conclusão investigando os discursos localizados e contextualizados dos trabalhadores e trabalhadoras da indústria de software.
Além de apresentar uma metodologia inovadora para os estudos de gênero, trabalho e tecnologia, o livro de Kelan contribui para a desconstrução do discurso empresarial ao contrastá-lo com a realidade. A flexibilização das relações de trabalho e a figura do auto-empreendedor possuem o efeito perverso de colocar os trabalhadores e trabalhadoras em uma situação de constante insegurança, como defende Sennett. Mas essa perversidade atua de maneira ainda profunda quando inserimos a categoria de gênero na análise. A promessa do paraíso do trabalho em TI não se realiza para a grande maioria das mulheres. Elas continuam submetidas a constrangimentos estruturais, como a associação das mulheres com o cuidado da casa e da família, por exemplo, relatado por muitas mulheres em suas trajetórias profissionais.
A pesquisa possui, no entanto, algumas limitações. Ela não alcança nem a diversidade existente no campo de TI, já que se dedica a levantar dados apenas da indústria de software, nem a existente entre as mulheres. Os marcadores de raça, idade, sexualidade e classe não são levados em consideração – limitação, aliás, que Kelan reconhece.
De qualquer maneira, sua pesquisa marca um avanço na área de gênero, trabalho e tecnologia. Ela foi muito bem-sucedida ao tratar da categoria de gênero como flexível e dinâmica. Os homens e as mulheres de Kelan não obedecem à normatividade das regras hegemônicas de gênero e performam o trabalhador ideal de TI sem reclamar privilégios pelo fato de a flexibilidade, a sociabilidade ou o conhecimento técnico serem mais associados a uma identidade do que a outra. É um avanço, ainda mais, porque trata de mulheres que trabalham no setor de tecnologia e não de mulheres cujo trabalho classicamente associado ao universo feminino (caso das secretárias) foi afetado pela implementação dessa tecnologia. A pesquisadora estuda um universo do trabalho já modificado em relação aos padrões fordistas e em constante transformação. A vantagem é que ela não busca entender apenas as permanências (apesar de apontar para elas), mas busca entender também em que medida a entrada de mais mulheres em um mercado de trabalho tipicamente associado ao universo masculino pode ter afetado as relações de gênero dentro desse espaço.
As mudanças são tímidas, como ela aponta, porque o trabalho não é a única unidade de formação dos sujeitos. Interessante talvez fosse investigar se os novos arranjos familiares (tanto os que rompem com as normas da divisão sexual do trabalho, com o cuidado compartilhado dos filhos e das tarefas domésticas, por exemplo, quanto os que rompem com a heteronormatividade) interferem nas escolhas e trajetórias profissionais de homens e mulheres. Esse duplo enfoque, trabalhado a partir da perspectiva de que homens e mulheres estão performando gênero a partir de novas posições discursivas, não tradicionais, nos permitiria entender em que medida as diferenças e semelhanças são construídas nesses novos contextos. Além disso, nos permitiria entender como a binaridade de gênero é acionada – se é que o é – quando a equidade é a nova norma.
Referências
Beck, U.; Giddens, A. and Lash, S. Reflexive modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the modern social order. Cambridge, Polits, 1994. [ Links ]
Cockburn, C. and Ormrod, S. Gender and Technology in the Making. SAGE Publications Ltd., 1993. [ Links ]
Cockburn, C. Technology, Production and Power. In: Kirkup, Gill and Keller, Smith Laurie. Inventing Women:Sscience, Technology and Gender. Cambridge/Oxford, Polity Press/Basil Blackwell and The Open University, 1992, pp. 196-211. [ Links ]
Gill, R. and Grint, K. (orgs.) The Gender-Technology Relation: Contemporary Theory and Research. London, Taylor & Francis Ltd., 1995. [ Links ]
Ibge. O setor de tecnologia da informação e comunicação no Brasil: 2003-2006. In: Estudos e Pesquisas, Informação Econômica. Rio de Janeiro, nº 11, 2009. [ Links ]
Kirkup, G. and Keller, S. L. Inventing Women: Science, Technology and Gender. Cambridge/Oxford, Polity Press/Basil Blackwell and The Open University, 1992. [ Links ]
Scott-Dixon, K. Doing IT: Women Working in Information Technology. Toronto, Canada, Sumach Press, 2004. [ Links ]
Sennett, R. A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro, Record, 2004. [ Links ]
Wajcman, J. Feminism Confronts Technology. U.S., The Pennsylvania State University Press, 1991. [ Links ]
Webster, J. Gender, Paid Work and Information Technology. University of Edinburgh, Working Paper Series, Programme on information & communication technologies. Working Paper nº12, 1989, pp.1-12. [ Links ]
Notas
1 “O setor TIC pode ser considerado como a combinação de atividades industriais, comerciais e de serviços, que capturam eletronicamente, transmitem e disseminam dados e informação e comercializam equipamentos e produtos intrinsecamente vinculados a esse processo” (IBGE, 2009:12).
2 Segundo relatório da Comissão Européia para a sociedade da informação. [http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/doc/women_ict_report1.pdf, consulta em 20 de julho de 2010]
3 O dado é de pesquisa realizada em 2006 pelo site APInfo (http://apinfo.com), dedicado aos profissionais de TI no Brasil.
Bárbara Castro – Doutoranda em Ciências Sociais, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp (com período sanduíche na The Open University, Inglaterra). E-mail: [email protected].
[MLPDB]
Antropólogas, politólogas y sociólogas (género, biografia y cc. sociales) – LEÓN; FÍGARES (REF)
LEÓN, María Antonia García de; FÍGARES, María Dolores Fernández. Antropólogas, politólogas y sociólogas (género, biografia y cc. sociales). Madrid (España): Plaza y Valdés S. L., 2008. 256 p. Resenha de PAULILO, Maria Ignez. Feminismo e disputas pela memória na Espanha. Revista Estudos Feministas v.18 n.3 Florianópolis Sept./Dec. 2010.
As últimas décadas do século XX colocaram em pauta o instante, o presente em contraposição ao “império do passado”. Contudo, as mesmas décadas que evidenciaram a dissolução do passado e sua celebração também trouxeram com força a expansão memorialística, com suas museificações e institucionalização de passados-espetáculos,1 e, no campo das relações sociais, as disputas pelas memórias. O passado e seus usos, bem como a construção dos acontecimentos e a institucionalização de algumas memórias em detrimento de outras passaram a ser importantes para diferentes grupos. Sobre isso Pierre Nora já chamava a atenção em 1978, dando conta de que o esfacelamento, a mundialização, o aceleramento e sua democratização, chaves para o entendimento do “breve século XX”, multiplicaram as memórias coletivas, os grupos sociais preocupados em preservar ou recuperar seus próprios passados.2 Essa preocupação com o passado, com a construção de uma memória para as mulheres feministas espanholas, parece ser o eixo central por onde se distribuem as questões e as discussões do livro Antropólogas, politólogas y sociólogas (género, biografia y cc. sociales), das autoras espanholas María Antonia García de León e María Dolores Fernández Fígares.
E esse, a nosso ver, constitui um dos principais motivos para apresentarmos esta obra às feministas brasileiras (e também aos feministas, convém não esquecer). É que esse tipo de preocupação não é comum no Brasil, ou seja, ver a importância heurística que tem a biografia das estudiosas feministas para compreendermos sua própria obra e o contexto em que foi escrita. Mas há uma importância mais primária: fazê-las aparecer como protagonistas na história da humanidade, pois, se dependêssemos da história e da imprensa oficiais, elas seriam esquecidas. Como diz Marina Subirats, autora do prólogo,3 poder e memória são inseparáveis e sem poder não se pode criar e legitimar um novo relato, uma nova maneira de ver a posição das mulheres no mundo. E sem memória fica difícil cumprir uma das principais etapas do pensamento científico crítico “a reflexividade”, à qual as autoras dão grande importância na medida em que sentem falta, na Espanha, de mentores que façam esse trabalho de apreciação, avaliação e ancoragem do conhecimento que está sendo produzido. Leia Mais
A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário – LINEBAUGH; REDIKER (A)
LINEBAUGH, Peter; REDIKER, Marcus. A hidra de muitas cabeças: marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. Resenha de: GONZÁLEZ, Martín P. Antítese, v. 3, n. 6, jul./dez. 2010.
Si bien tanto Peter Linebaugh como Markus Rediker realizaron otras publicaciones antes y después de La Hidra de la Revolución, 1 nunca lograron alcanzar el reconocimiento que les valió este libro. En la presente reseña crítica nos proponemos, entonces, recuperar las diversas dimensiones que hacen del presente trabajo una innovación dentro de un escenario historiográfico un tanto hostil a los nuevos abordajes y las propuestas analíticas novedosas. Para facilitar la lectura, estructuraremos nuestro análisis en seis apartados diferenciados, para así dar cuenta de la riqueza y los matices que posee el libro. El primero estará centrado en analizar los debates historiográficos, metodológicos y teóricos en los cuales La Hidra se posiciona, buscando así establecer vínculos y relaciones con otros autores. Los siguientes cuatro apartados se centrarán en comentar el libro a partir de su propia estructura, buscando ir más allá de una mera enumeración de capítulos, indagando en las aristas problemáticas que pueda presentar el abordaje de los autores. Finalmente, el último apartado presentará una conclusión crítica. Existe también una publicación en español La Hidra de la Revolución. Marineros, esclavos y campesinos en la historia oculta del Atlántico, publicada por Crítica en Barcelona durante 2005.
Galardonado con el “International Labor History Association Book Prize”, el presente trabajo de Linebaugh y Rediker generó grandes controversias en los círculos académicos, a partir no sólo de su novedosa interpretación de la historia atlántica entre los siglos XVII y XIX, sino también de la forma en que utilizan ciertas categorías de la tradición analítica propia de la historiografía marxista inglesa, estableciendo diálogos con la teoría antropológica y sociológica. Así, si bien el libro está claramente orientado hacia problemáticas analizadas por historiadores de la talla de Rodney Hilton, Edward Palmer Thompson o Christopher Hill2 –como por ejemplo las resistencias campesinas y esclavas, las ideologías radicales de las multitudes sin voz, los conflictos y resistencias en el proceso de trabajo, o la constitución de clases sociales a partir de la experiencia de los sujetos–, podemos notar en el análisis de Linebaugh y Rediker la intención de trascender los límites nacionales –específicamente ingleses– de esos procesos. En este sentido, La Hidra retoma algunas de las hipótesis que guiaron los trabajos tempranos de George Rudé y Eric Hobsbawm,3 quienes buscaron traspasar las barreras de la historia inglesa, analizando ideologías y movimientos populares más allá de los límites geográficos de los Estados nacionales. Nos encontramos entonces con una propuesta temática y un recorte espacial, cronológico y temático más amplio: el espacio del Atlántico, cuyas corrientes y mareas determinaron una serie de experiencias comunes a un proletariado atlántico compuesto de marineros, labradores, criminales, mujeres, radicales religiosos y esclavos africanos, desde el comienzo de la expansión colonial inglesa en el siglo XVII hasta la industrialización metropolitana de inicios del XIX. En este sentido, “los gobernadores recurrieron al mito de Hércules y la hidra para simbolizar la dificultad de imponer orden en unos sistemas laborales cada vez más globales” (p. 16): es precisamente sobre el origen, características, accionar y devenir de las múltiples cabezas de esa hidra, que está centrado el análisis de Linebaugh y Rediker. Entonces, en lugar de centrarse en analizar la constitución de una clase obrera industrial, las características de los piratas, el tráfico esclavista o las ideologías religiosas radicales como elementos independientes, los autores buscan rescatar –a partir de una mirada “desde abajo”- esta multiplicidad de experiencias de opresión, violencia y dominación en función de un abordaje holístico que recupere las conexiones existentes entre estos fenómenos aparentemente dispersos. Así, si bien estos conflictos tendrán diversos escenarios (principalmente los terrenos comunales, la plantación, el barco y la fábrica), el eje de análisis pasa por las relaciones, los quiebres, y las continuidades entre esta diversidad de espacios. Como los procedimientos de análisis de los autores presentan variaciones de capítulo en capítulo, consideramos oportuno abordar a continuación una descripción de los mismos, en función del recorte temático-temporal que realizan, estructurado en cuatro momentos en el desarrollo de este conflicto entre la globalización capitalista hercúlea y las resistencias planteadas por esa compleja hidra policéfala. Los dos primeros capítulos del libro se ocupan de la primera fase de este proceso de dominación hercúleo, que ocurre en los años de 1600 a 1640, signado por el crecimiento y desarrollo del capitalismo comercial inglés y la colonización del espacio atlántico. Estos años de expropiación serían fundamentales, entonces, para la conformación de una estructura económica de exclusión y transformación de las relaciones sociales existentes hasta el momento. El primer capítulo, “El naufragio del Sea-Venture”, sienta las bases de la metodología analítica de los autores. La misma parte de reconstruir casos concretos –como en este caso, el del naufragio de un barco inglés– para indagar en cuestiones estructurales de la época. Así, a partir de este suceso, se abordan cuestiones esenciales del naciente capitalismo atlántico de principios del siglo XVII: la expropiación –mediante la reconstrucción del contexto de competencia imperialista y desarrollo capitalista del cuál la Virginia Company fue uno de sus motores esenciales, a partir de las estrategias de colonización de tierras americanas trasladando poblaciones campesinas–, la lucha por crear modos de vida alternativos a esa expropiación –retomando así la tradición de uso de terrenos comunales, que llegó al territorio americano de la mano de los marineros–, las formas de cooperación y resistencia –fundamentalmente entre los mismos marineros, que, ante los peligros de altamar, iban más allá de sus condiciones de artesanos, proscriptos, campesinos pauperizados, o peones, uniéndose en pos de lograr objetivos comunes– y la imposición de una disciplina clasista –a partir de la respuesta que los funcionarios de la Virginia Company tuvieron frente a esas resistencias, imponiendo el terror de la horca y una disciplina laboral estricta. Este primer capítulo es también representativo en términos de los procedimientos de análisis que los autores realizan de los documentos. En este punto podemos observar un claro interés por hacer dialogar la teoría marxista – especialmente La ideología alemana y el capítulo veinticuatro (sobre la acumulación originaria) de El Capital de Marx–, con la historiografía inglesa – si bien el interlocutor privilegiado lo constituye el marxismo británico de Hill y Thompson, también se cuestionan otras interpretaciones, como podría ser la Hugh Trevor Ropper– y un extenso y detallado corpus documental del período, compuesto principalmente por relatos de viajes, documentos administrativos de la Virginia Company y obras literarias como La Tempestad de Shakespeare. Así, en el segundo capítulo, “Leñadores y aguadores”, los autores retoman los argumentos de algunos de los principales intelectuales de la primer parte del siglo XVII inglés, como Francis Bacon o Walter Raleigh, y cómo caracterizaban a los enemigos de ese Hércules explorador, colonizador y comerciante, a partir de la monstruosidad de esas multitudes variopintas. Centrándose entonces en los leñadores y aguadores, que desempeñaron funciones esenciales para el avance de este proceso globalizante –a saber, realizaron las tareas de expropiación mediante la tala de bosques y destrucción del hábitat de los terrenos comunales, construían los puertos y barcos, y desarrollaban las actividades domésticas cotidianas–, los autores reconstruyen el proceso de constitución de la “infraestructura” necesaria para la expansión del capitalismo comercial, así como la consolidación de un aparato represivo orientado a controlar estas poblaciones: el terror, la prisión, los correccionales, la horca, las campañas militares y los trabajos forzados en ultramar. Sin embargo, a partir de los vínculos de solidaridad y resistencia, estos grupos de “leñadores y aguadores” comenzaron a formar iglesias, regimientos politizados al interior del ejército y comunas rurales y urbanas. “La hidra, formada por marineros, obreros, aguadores, aprendices, es decir, las clases humildes y más bajas –o, por decirlo de otra manera, el proletariado urbano revolucionario– estaba emprendiendo acciones de un modo independiente” (p. 87). Estas cuestiones constituyen el transfondo de la segunda fase de este proceso. Los siguientes dos capítulos están centrados en la segunda fase de este proceso, que iría de 1640 a 1680, y que estaría signada por los levantamientos de esas múltiples cabezas de la hidra, mediante la revolución en la metrópolis y los levantamientos en las colonias. El interlocutor privilegiado de estos capítulos es Christopher Hill, ya que el contenido de los mismos está orientado hacia los mismos problemas y tópicos teóricos tratados por él, aunque con ciertas variaciones que enriquecen el análisis. El tercer capítulo, “Una ‘morita negra’ llamada Francis” constituye acaso la forma más acabada de aplicación de la metodología de estos autores. Como decíamos más arriba, Linebaugh y Rediker parten de casos concretos para reflexionar sobre la totalidad de un proceso, explotando los documentos al máximo e indagando en las condiciones estructurales a partir de coyunturas específicas. Pues bien, en este caso los autores analizan un único documento, un informe de Edward Terrill, dirigente eclesiástico de la Iglesia de Broadmead, en Bristol, sobre “una criada morita y negra llamada Francis”. Lo interesante es cómo, a partir de esta somera descripción de una carilla, los autores analizan la confluencia entre dinámicas sociales como la raza, la clase y el género en el contexto de la revolución puritana inglesa. Así, la reconstrucción de la posible trayectoria de Francis, lejos de centrarse en un abordaje biográfico, da cuenta de las diversas problemáticas del período. “La bifurcación de los debates de Putney”, el cuarto capítulo, está centrado específicamente en las ramificaciones que dichas polémicas tuvieron. Durante el otoño de 1647 tuvieron lugar, en el pequeño pueblo de Putney, una serie de debates de radical importancia para el futuro de Inglaterra –y del capitalismo.
Notas
1 Entre los numerosos trabajos realizados pos los autores, vale la pena resaltar: Marcus Rediker. Between the devil and the deep blue sea: merchant seamen, pirates, and the AngloAmerican maritime world, 1670-1750. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Peter Linebaugh. The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth-Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; y Douglas Hay, Peter Linebaugh, John G. Rule, Edward P. Thompson y Cal (eds.) Albion’s Fatal Tree. Crime and Society in Eighteenth-Century England. London: Penguin Books, 1988. Martín P. González Peter Linebaugh e Marcus Rediker.
2 Entre la numerosísima bibliografía de estos autores, resaltamos: Christopher Hill. Antichrist in Seventeenth-century England. Londres: Verso, 1990; El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución inglesa del siglo XVII. Madrid: Siglo XXI España, 1983; y Los orígenes intelectuales de la revolución inglesa, Crítica, Madrid, 1996; de Edgard P. Thompson. Costumbres en común. Barcelona: Crítica, 1984 y Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios de la crisis de la sociedad industrial. Barcelona: Crítica, 1984; y Rodney Hilton. (ed.) La transición del feudalismo al capitalismo. Barcelona: Crítica, 1982; y Hilton, Rodney. Siervos liberados. Madrid: Siglo XXI, 1978.
3 Hacemos referencia, principalmente, a trabajos como: George Rudé. La multitud en la historia. Madrid: Siglo XXI, 1971; y Eric Hobsbawm. Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing. Madrid: Siglo XXI, 1978; y Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Madrid: Crítica, 2001.
Martín P. González – Professor da Universidad de Buenos Aires (UBA) / Argentina.
Nunca você sem mim – TEIXEIRA (REF)
TEIXEIRA, Analba Brazão. Nunca você sem mim: homicidas-suicidas nas relações afetivo-conjugais. São Paulo: Annablume, 2009. 192 p. Resenha de: COSTA, Patrícia Rosalba Salvador Moura; GROSSI, Miriam Pillar. Violências de gênero: assassinos/as impiedosos/as ou enlouquecidos/as pela dor do amor? Revista Estudos Feministas v.18 n.2 Florianópolis May/Aug. 2010.
Em tempos de Lei Maria da Penha, a violência de gênero ganha maior visibilidade junto à sociedade civil e reconhecimento, por parte do Estado brasileiro, dos diversos problemas que são gerados em consequência de tais atos.
Há muito que pesquisadoras e a militância feminista se debruçam sobre o tema para mostrar as faces e interfaces das variadas violências que atingem as mulheres, e para marcar um espaço de luta em busca de proteção dos direitos humanos, direitos das mulheres. Várias foram as conquistas no campo das políticas públicas: criação das delegacias das mulheres, em 1985; promulgação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340), em 2006;1 e, em 2009, promulgação da nova Lei do crime de estupro (Lei 12.015),2 que altera a redação de alguns crimes sexuais previstos no Código Penal Brasileiro. Essas e outras alterações têm contribuído para que a violência perpetrada contra as mulheres saia do espaço privado e se insurja na tela dos espaços públicos com tonalidades de indignação e cores de esperança. Esperança de que essas práticas deixem de fazer parte das estatísticas institucionais e que o reconhecimento dos direitos das mulheres esteja na pauta de toda a sociedade. Leia Mais
Cultura, gênero e infância: nos labirintos da história – NASCIMENTO; FARIA GRILLO (REF)
NASCIMENTO, Alcileide Cabral do; FARIA GRILLO, Maria Ângela de. Cultura, gênero e infância: nos labirintos da história. Recife: Editora Universitária UFPE, 2008. 282 p. Resenha de: SOARES, Ana Carolina Eiras Coelho. Ariadne da infância e do gênero: deslindando labirintos culturais. Revista Estudos Feministas v.18 n.2 Florianópolis May/Aug. 2010.
Publicar uma coletânea de artigos é amalgamar desejos e inquietações. Fruto de pesquisas e encontros do Grupo de Estudos em História Social e Cultural (GEHISC) sediado na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), o livro Cultura, gênero e infância: nos labirintos da história consolida a ideia de que pesquisas são necessariamente a combinação entre paixão, rigor teórico-metodológico e esforço coletivo de reflexão e debate. O livro composto de 14 artigos e dividido em três partes abarca diferentes aspectos e olhares sobre o universo da cultura, gênero e infância.
Na primeira parte, “Cultura e cidade”, três autores dão conta do entendimento dos espaços urbanos como lugares de experiências humanas e de grupos heterogêneos que disputam constantemente espaços e poder. As cidades são percebidas como invenções sociais, pois se constituem e se representam através das relações entre o homem e a natureza, a concretude do ambiente visível e as sensibilidades sutis que se constroem no trânsito dos sujeitos nos espaços.
O texto de Durval Albuquerque vem, em uma defesa apaixonada da Nova História Cultural, reiterar a necessidade de um novo olhar para os saberes e duplos do conhecimento histórico, as brechas na teia de Ariadne, que a História tradicional acreditava serem fiapos sem relevância na trama. Ao analisar o livro de José Saramago O homem duplicado,1 o autor tece uma série de considerações e questionamentos epistemológicos da Historiografia brasileira. As subjetividades, os novos métodos e as novas questões mostram que a renovação trazida pela História Cultural é fundamental para o escrutínio de novas e antigas fontes e para interpretações diversas, cujos duplos de si trarão sempre a possibilidade de novas investigações. No tom efervescente e conciso das palavras, o autor instiga e desafia o leitor a buscar na trama do passado respostas, que sempre serão novas perguntas, no desafio axiológico da pós-modernidade.
Os caminhos da Rua Nova no centro de Recife em 1920 e seus transeuntes peculiares surgem na escrita do artigo de Sylvia Costa Couceiro. O espaço urbano se revela como propõe Richard Sennet em Carne e pedra,2 constituído de cimento e sangue, singrando entre os muros e o asfalto. A Rua Nova de origem velha do século XVIII encarna o símbolo de uma população que almejava o progresso, a esperança e as mudanças da modernidade. À narrativa histórica mescla-se boa dose de lirismo e criatividade. Personagens são compostos e recompostos no cenário urbano, e o leitor embarca nas páginas de uma divertida narração/análise das figuras, hábitos e costumes que frequentavam a Rua Nova. No entanto, tal recurso narrativo não diminui o compromisso com o rigor teórico-metodológico e uma minuciosa pesquisa de diversas fontes. Na cena urbana moderna personagens circulam pelo espaço como num palco: querem observar e serem observados. A rua é, como bem sintetiza Walter Benjamin, “as vitrines da modernidade”.3
Para pensar essa modernização e seu caráter excludente e hierárquico, o artigo de Luís Manuel Domingues do Nascimento traz à baila os sacrifícios que a cidade de Recife sofre na década de 70 do século XX, ao custo de um discurso modernizador do espaço urbano. Para o autor, condensada ao discurso do progresso, Recife expandiu-se sob a égide de uma lógica que nega sua memória e suas experiências históricas. A crítica assume tom de denúncia ao analisar os problemas e deficiências consequentes dessa modernização, em especial com relação à burocratização e tecnocratização das autoridades e ao aumento das favelas e classes baixas dependentes de um sistema administrativo incapaz de solucionar as crises instaladas nas áreas públicas da saúde, moradia e educação.
Em “Representações, cultura política e sexualidade na seara dos gêneros” reverberam as imagens sociais e culturais de Pernambuco. Personagens e linguagens típicos consolidados no imaginário nacional – como a literatura de cordel e o cangaceiro – são perscrutinados em análises atentas às construções históricas de múltiplas representações, à diversidade de discursos e às possibilidades de interpenetrações na construção das narrativas históricas.
Maria Ângela de Faria Grillo apresenta de maneira bastante didática inicialmente uma breve retrospectiva historiográfica de importantes estudos realizados no campo de gênero, para então expor sua análise das representações construídas sobre o homem e a mulher, e suas relações na literatura de cordel na primeira metade do século XX.
A dificuldade em lidar com as transformações do mundo moderno tendem a cristalizar o papel da mulher dona de casa/mãe ao mesmo tempo que revelam as novas situações e valores sociais. Regras sobre casamento, imagens de Eva e Maria e lições de comportamento, preconceitos e ambiguidades da época transparecem no estudo historiográfico dos versos de cordel. Imagens e representações femininas como peças-chave para a compreensão de determinados modelos e costumes sociais, a literatura de cordel é o manancial de estudo fortemente pesquisado por Grillo.
Antonio Silvino é a figura explorada através dos jornais no artigo de Rômulo José F. de Oliveira Junior. Cangaceiro, prisioneiro a maior parte de sua vida, “macho nordestino”… as representações em torno do masculino constroem-se a partir de um personagem sólito e presente no imaginário popular pernambucano, ratificando modelos e convenções da sociedade. Homem fora da lei e ao mesmo tempo preocupado com a aparência e a elegância, Antonio Silvino foi alvo de intensos debates na imprensa, cujo discurso é esmiuçado e interpretado detalhadamente pelo autor.
As imagens de ser masculino do sertão nordestino são acompanhadas em seguida pela “Cultura da beleza: práticas e representações do embelezamento feminino”, de Natália Conceição Silva Barros. A autora levanta importantes questões, alicerçada em fontes valorizadas pela História Cultural, tais como revistas, jornais, memórias e obras literárias. Ao longo do texto busca compreender as maneiras como as recifenses e os recifenses reconheciam, controlavam e moldavam seus corpos entendidos aqui como um território “biocultural”, onde as relações de poder entre os gêneros feminino e masculino se explicitam em um campo de forças diferenciado nos discursos sobre a beleza e o embelezamento dos corpos.
O culto à beleza e o consumo de produtos que realçariam e/ou consertariam traços de fealdade fizeram parte das estratégias do mercado e da modernização dos hábitos e costumes da época.
Saindo dos anos 20, o leitor embarca em uma Recife feminina insurgente dos anos pré-golpe militar entre 1960 e 1964. Juliana Rodrigues de Lima Lucena investiga a intelectualidade feminina através de três eminentes figuras pouco ou nada lembradas pela historiografia tradicional: Anita Paes Barreto, do Movimento de Cultura Popular; Geninha da Rosa Borges e Diná de Oliveira, do Teatro de Amadores de Pernambuco. Os movimentos artísticos e intelectuais que surgiram na época, a partir das discussões sobre novas ideias e modelos sobre cidadania e sociedade, tinham o intuito tanto de atingir uma parcela marginalizada da população quanto de criar uma atmosfera propícia a uma remodelação social com a inclusão na vida política dessa parcela da população.
O último artigo dessa segunda parte da coletânea lida com uma questão da História do tempo “recentíssimo”: a violência e a intolerância contra mulheres, adolescentes e crianças exploradas sexualmente no município de Serra Talhada no século XXI. Os registros de estupro, de lesões corporais, deformações e homicídios na região entre 2004 e 2006 são uma marca que, embora alarmante, não mobilizou ainda o suficiente o poder público para criar na região, por exemplo, uma delegacia feminina. Esse artigo denuncia uma situação insustentável nos tempos atuais que demonstra a permanência de discursos sexistas, preconceituosos e homofóbicos, além de perigosas práticas de violência cuja legitimidade se encontra em representações incrustadas socialmente – dados vultosos de uma realidade violenta cuja luta por mudanças passa necessariamente pela denúncia, discussão e mobilização para o exercício da tolerância e do respeito ao Outro.
Na última parte do livro, “Infâncias, histórias e rebeldias em Pernambuco”, a atenção é voltada para a infância. Enjeitados, trabalho de rua e doméstico e o cotidiano infantil são os temas de pesquisa presentes. Através de uma Pernambuco criança, percebida no limiar entre a ordem e a transgressão, os artigos demonstram os espaços de inserção e de exclusão da criança bem como as diversas políticas sociais em torno da infância desenvolvidas no Estado. Ressalto que, nesse momento da coletânea, a presença de Alcileide Cabral do Nascimento pode ser amplamente observada. Dos seis artigos a autora assina a coautoria de mais quatro trabalhos, além de seu próprio trabalho que abre essa terceira parte. Apenas o último artigo, de Humberto Miranda, não conta com a colaboração de Alcileide. Tais trabalhos podem ser interpretados como desdobramentos de um esforço coletivo de pensar a temática da infância, violência, rejeição, abandono e estratégias do Estado e da sociedade, ao longo da história de Pernambuco, para conformar e disciplinar essa população pobre, órfã e marginalizada.
Intolerância, rejeição e abandono. O final da segunda parte da obra consegue se articular perfeitamente, e infelizmente – uma vez que as permanências de uma zona sombria e tortuosa de nossa história social e cultural se evidenciam -, com o primeiro artigo da terceira parte. “A Roda dos Enjeitados” é cenário do trabalho de Alcileide Cabral do Nascimento sobre as práticas de infanticídio e/ou esquecimento dos nascimentos não desejados. O discurso legitimador da roda encontra raízes na manutenção da ordem social, encobrindo, por exemplo, atitudes que depusessem contra a honra de “moças de famílias honestas ludibriadas” ou tentadas pelos “pecados da carne”; os casos de pobreza extrema; as doenças; a viuvez e seus impedimentos morais; a loucura e/ou a prisão e seus impedimentos sociais.
Quaisquer que fossem os motivos, a Roda dos Enjeitados chancelou os desvios do padrão social constituído na ordem colonial. Qual o destino dessas crianças? De que maneira inseri-las socialmente? São as questões do artigo de Rose Kelly Correia de Brito, que analisa os mecanismos pelos quais o Estado, entre 1831 e 1860, buscou disciplinar, controlar e conformar as meninas pobres enjeitadas e órfãs do Recife. A educação elementar e o trabalho doméstico são comumente vistos como caminhos possíveis de utilidade social dessa população cujo destino parecia preocupar as autoridades, dada sua potencialidade perigosa, caso permanecesse à margem da sociedade. Conformadas ao lar e aos trabalhos domésticos, as moças eram disciplinadas dentro dos parâmetros sociais aceitáveis ao mesmo tempo que isso lhes garantia um meio de sustento, o que desoneraria o Estado. Entre os obstáculos ressaltados sobre esse projeto estavam a própria lentidão e burocracia do Estado em criar condições efetivas para a educação dessas moças, além do preconceito e repúdio das famílias em pagar por serviços que poderiam explorar das escravas. A questão racial interferiu, inclusive, na condução dos mecanismos de controle em cercear a vida social, na qual mulheres brancas tiveram claras vantagens em relação ao tratamento dispensado às mulheres pardas e negras.
Os dois artigos subsequentes, de autorias respectivas de Hugo Coelho Vieira e Wandoberto Francisco, abordam as maneiras como o Arsenal de Guerra de Pernambuco e o Arsenal da Marinha do Recife serviram como espaço de serviços educacionais e militares para populações de órfãos, pobres e renegados em meados do século XIX. Remontando à genealogia desses locais, os autores seguem a trilha da expansão desses trens militares, que inicialmente serviriam apenas como aparatos burocráticos de armazenamento de materiais, e cujas funções e ofícios aumentaram historicamente, conforme a demanda de serviços da cidade e dos materiais de guerra. A formação, o tratamento dispensado no processo educativo e as interdições sociais compõem um cenário de lutas e contradições entre o discurso dessas instituições e a realidade dispensada a essas populações.
Wendell Rodrigues Costa preocupou-se com a formação e a inserção social de meninos e jovens pobres, enjeitados e escravos no mercado de trabalho urbano em Recife no século XIX. A prática de aprendiz aparece como uma estratégia política de combate à criminalidade. Aprender um ofício afastaria esses jovens da ociosidade e da possível marginalidade. A instrução desses moços era feita em espaços escolares permeados pela discriminação de cor e status social, onde, por exemplo, a cobrança de taxas de matrícula ou excluía as camadas mais pobres do acesso à educação, ou instituía a prática do “apadrinhamento”, o que reforçava a ordem social marcada por privilégios.
Através desses três artigos, pode-se perceber que estudar no Brasil dependia da condição social das famílias e que os estabelecimentos destinados a aprendizes pobres sofriam com um menor auxílio e aparato do governo.
Humberto Miranda fecha a terceira parte dessa coletânea pensando o cotidiano dos meninos confinados em instituições supostamente correcionais de Recife entre 1927 e 1937. Entre os abusos e transgressões cometidas pelos agentes penitenciários da Casa de Detenção e a modernização desse espaço no início do século XX com a criação, em 1932, do Instituto Profissional 5 de Julho, posteriormente chamado de Abrigo de Menores, buscou-se ressocializar e mesmo curar tais crianças através dos mesmos mecanismos vistos nos demais artigos dessa parte: estudos profissionalizantes, que seriam para o governo a resposta para a inserção social desse grupo marginal.
Há uma triste conclusão histórica ao final dessa leitura: a pobreza sofre duplamente, tanto pela sua condição cotidiana quanto pelo tratamento preconceituoso dispensado pelas autoridades encarregadas em lidar com as estratégias que deveriam diminuir e mesmo sanar essa questão social.
É preciso ressaltar que toda publicação possui as limitações da materialidade. O livro não inclui, por exemplo, questões sobre as representações da maternidade – fundamentais nas discussões de gênero e infância -, pois, se o fizesse, certamente o volume de páginas acabaria por inviabilizar sua publicação. A árdua tarefa de edição não pode prescindir de cortes e moldes. Cabe escolher e esculpir a obra com sentido e sentimento. Não obstante, apresentando ao público leitor a consistência e seriedade das pesquisas desenvolvidas pelo GEHISC, as organizadoras tranquilizam-no com a promessa de “gestação” de mais frutos dessa seara. E assim o primogênito desse grupo, Cultura, gênero e infância…, nasceu sob o prisma das interrelações entre cidades, representações femininas e masculinas e o mundo infantil.
Alcileide Cabral do Nascimento e Maria Ângela de Faria Grillo, organizadoras do livro, desejam que “o leitor se perca e se encontre nos labirintos da história e da beleza de compreender os duplos de si” (p. 9). Esse livro permite que os duplos se transformem em múltiplos significados nas possibilidades de compreensão de falas e silêncios, cujas marcas são sensíveis às narrativas das pesquisas contidas na obra.
Notas
1 SARAMAGO, 2002.
2 SENNET, 2001.
3 BENJAMIN, 1975.
Referências
BENJAMIN, Walter. A modernidade e os modernos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975. [ Links ]
SARAMAGO, José. O homem duplicado. São Paulo: Companhia das letras, 2002. [ Links ]
SENNET, Richard. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro: Record, 2001. [ Links ]
Ana Carolina Eiras Coelho Soares – Universidade Federal de Goiás.
Acessar publicação original
Mais ao sul – VIDAL (REF)
VIDAL, Paloma. Mais ao sul. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2008. 128 p. Resenha de: ARRUDA FILHO, Raul J. M. Paloma Vidal e as mulheres mais ao sul, mais próximas de si mesmas. Revista Estudos Feministas v.18 n.2 Florianópolis May/Aug. 2010.
Escrever qualquer um consegue. Raros são aqueles que produzem literatura de qualidade. Isto é, conseguem dominar a linguagem, obtêm a contenção exata no desenvolvimento do enredo e, sobretudo, o poder de impacto de um golpe bem encaixado no queixo do leitor. Cortázar comparava a literatura com o boxe: no romance, o escritor vence por pontos; no conto, por nocaute.
Paloma Vidal (nascida em Buenos Aires, em 1975, e vivendo no Brasil desde os dois anos de idade) é uma dessas raras exceções. Os excelentes contos de A duas mãos (Rio de Janeiro: 7Letras, 2003) mostraram um pouco do seu talento – confirmado agora com a publicação de Mais ao sul (Rio de Janeiro: Língua Geral, 2008).
Em A duas mãos, livro que recebeu boas resenhas de Beatriz Resende e Flávio Carneiro, as personagens femininas estão em destaque, mulheres que tentam sobreviver em um mundo adverso, quase sempre controlado por homens ausentes, pouco preocupados em compreendê-las. Como reação a esse abandono afetivo, a esse distanciamento, surge um mecanismo compensatório: a construção de um cenário que nunca se tornará real, mas que ameniza o desamparo (“Contradança”, “A ver navios”, “A duas mãos”).
Mais ao sul segue esse projeto, com vários acréscimos. Procurando retratar mulheres desenraizadas, habitantes de um mundo feérico e que, por inúmeros motivos, proclamam que a felicidade reside mais ao norte, Paloma Vidal, com coração pulsando mais ao sul, vai tecendo suas narrativas com tranquilidade, certa de que, no momento adequado, haverá de atingir o ponto exato, expor a fratura e a dor.
Na primeira parte do livro, o longo e dramático “Viagens” revela como esses temas estão à flor da pele, a sensação de que falta um chão para plantar raízes, as vidas estraçalhadas pelas complicações da política latino-americana: “Esse navio vai cruzar o Atlântico até Barcelona, onde nossa amiga vai morar, a milhares de quilômetros de distância de seu país, onde seu filho caçula foi seqüestrado e assassinado pelo regime militar”. A narradora, que procura conter a ansiedade entre tantos escombros, se ocupa em relatar a recuperação de parte da história familiar que nunca compartilhou. Ao mesmo tempo, com as entranhas corroídas pela tristeza, sabe que, independentemente do que possa descobrir, é preciso sobreviver no exílio constante, procurando por um lugar onde possa se sentir em casa.
Os outros contos são mais curtos, poucas páginas. Os mais significativos são três. Em “A aula de tango”, os vínculos não nomeados estabelecem, através do interdito, a sensação crescente de que é a falta que completa o destino dos personagens. “O retorno” relata/reata a vontade de preencher esses vazios (“Deu um passo adiante erguendo a mala e equilibrou-se na soleira da porta, num limiar entre dois mundos”), a luta sem quartel entre o desejado e o possível, o deslocamento entre os dois aeroportos construindo uma ponte entre o passado e o futuro. “Desassossego” é uma narrativa mais tensa, intensa, a história de uma mulher que põe “a mesa para o seu fantasma”, aceitando o embate contra as forças que a ameaçam e, ao mesmo tempo, a acariciam: “Andou por várias horas, sem vontade de se proteger, e só voltou para casa quando seus pés o exigiram. Naquela noite, esperaria seu fantasma como se espera um convidado, uma visita desejada”. Embalada pela nostalgia das delícias que deixou de provar, abre as portas da casa e derruba as fronteiras demarcadas pelo proibido.
Os contos de Mais ao sul, histórias repletas de aflição, relatos de mulheres que, de uma forma ou de outra, aguardam pelo tempo de partir ou de encontrar a si mesmas, constituem um daqueles momentos literários em que a voz feminina se pronuncia com clareza, sem reter sentimentos, sem fazer concessões. Ao mesmo tempo, como que a lembrar as duas faces da mesma moeda, em alguns momentos Paloma Vidal reatualiza o mito de Cassandra, vidente condenada a prever um futuro em que ninguém acredita.
Por último, cabe destacar uma característica da prosa de Paloma Vidal: a publicação de várias versões de seus contos, muitas vezes suprindo parágrafos, alterando pequenos detalhes, lapidando o texto. Exemplos desse “work-in-progress” são “Desassossego” que, ligeiramente modificado, foi publicado com outro título (“A espectadora”) na antologia A visita (São Paulo: Barracuda, 2005); “Viagens”, que sofreu grandes mudanças depois de publicado inicialmente em Paralelo – 17 contos da nova literatura brasileira (Rio de Janeiro: Agir, 2004); “Mundos paralelos”, publicado em 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (Rio de Janeiro: Record, 2004), que se transformou em “O retorno”.
Raul J. M. Arruda Filho – Universidade Federal de Santa Catarina.
The Feminine Matrix of Sex and Gender in Classical Athens | Kate Gilhuly
The Feminine Matrix of Sex and Gender in Classical Athens é o primeiro livro solo de Kate Gilhuly e resultado de uma pesquisa intitulada Landscapes of Desire: The Erotics of Place in Classical Athens, desenvolvida no Radcliffe Institute for the Advancement of the Humanities entre 2007 e 2008. A autora é professora assistente do Departamento de Estudos Clássicos do Wellesley College e especialista em gênero e história da sexualidade na Grécia Antiga, tendo como publicações como publicações prévias mais importantes os artigos The Phallic Lesbian: Philosophy, Comedy, and Social Inversion in Lucian’s “Dialogues of the Courtesans” (2006) e Bronze for Gold: Subjectivity in Lucian’s “Dialogues of the Courtesans” (2008).
O capítulo introdutório, que podemos considerar como o ápice da obra, apresenta as bases teóricas – da matriz feminina do título – que nortearão as análises de textos antigos ao longo do livro – e que fornecem um novo leque de possibilidades a futuros estudos acerca das temáticas de gênero e sexualidade na Atenas Clássica. Leia Mais
A construção social da masculinidade | Pedro Paulo de Oliveira
Focar a masculinidade enquanto objeto de reflexão de gênero, ainda pode ser considerada uma perspectiva inovadora. Esse conceito foi sistematicamente tangenciado na medida em que se fixava a idéia da existência de uma masculinidade hegemônica inquestionável, baseada na irrestrita dominação masculina. Os esforços para pôr em discussão esse conceito antes “despercebido” são bastante recentes na sociologia e ainda mais recentes na historiografia. É visto que uma das mais ricas formas de abordar a masculinidade é através do diálogo teórico-conceitual dentre os diversos campos das ciências humanas, em especial: História, Sociologia, Antropologia, Letras, Filosofia e Psicologia. No intuito de se transitar dentre essas diversas disciplinas se apresenta a obra de Pedro Paulo de Oliveira. Embora “A Construção Social da Masculinidade” (2004) seja fruto de sua tese de doutorado defendida no Departamento de Sociologia da USP, seus diálogos transcendem as fronteiras disciplinares ao passo que o autor realiza as mais diversas incursões teóricas, perpassando inclusive pela historiografia.
É nesse sentido que a presente resenha propõe uma leitura, também por parte de dos historiadores, dessa obra que trilha diversos caminhos das Ciências Humanas, criando um dos mais ricos panoramas teóricos acerca do assunto no Brasil.
Oliveira define, ainda que provisoriamente, masculinidade enquanto “um lugar simbólico\ imaginário de sentido estruturante nos processos de subjetivação […] que aponta para uma ordem de comportamentos socialmente sancionados” (2004, pp. 13). Partindo desse pressuposto, o autor passa a vasculhar os conhecimentos históricos, filosóficos, psicológicos, antropológicos e sociológicos em busca da “construção social da masculinidade”.
No primeiro capítulo intitulado “Macho divinizado” há um diálogo entre as pesquisas do historiador George Mosse e do sociólogo Norbert Elias que estabelece “uma sociogênese moderna” da masculinidade. Oliveira contrasta o ideal masculino do bravo, ousado, destemido, rude e passional cavaleiro da idade média com o comedido e autocontido cavalheiro burguês da idade moderna. Dessa relação eleva-se o ideal moderno de masculinidade, incentivada pelo estado nacional e por diversas instituições sociais, como as religiões, a família nuclear, as leis, os esportes, a psicanálise, a medicina e a própria ciência iluminista.
No segundo capítulo que o autor intitulou “Capitalismo cósmico”, podemos encontrar ampla discussão acerca dos paradigmas norteadores da pós-modernidade. Para Oliveira, a ascensão de tal pós-modernidade proporcionou instabilidade, incertezas e crises da maioria dos valores nacionais e burgueses que amparavam o discurso mitificador da masculinidade. A compreensão da fragmentação e das mudanças promovidas por essa nova configuração social, cultural e econômica seria fundamental para que se pense em uma “crise da masculinidade”, ou seja, uma decadência contemporânea dos fabulosos valores masculinos junto dos ideais modernos que os sustentavam.
Delineada essa suposta crise dos valores masculinos, possibilitou-se questionar ou reafirmar tais valores: destoantes discussões acadêmicas e políticas são delineadas no terceiro capítulo do livro. Os discursos dos conservadores, dos cristãos, do movimento Gay, dos “homens vitimizados”, são indiciados a fim de se mapear os contornos e proporções que essa suposta crise da masculinidade havia tomado. Oliveira tece suas “Críticas Teóricas à Visão Vitimaria” afirmando que as posições teóricas que sustentam a menção de uma crise nos valores masculinos estão baseadas em argumentos “psicologizantes”, desprovidos de uma base empírica sólida. A proposição do autor é a de relativizar ou até mesmo abandonar a perspectiva da crise da masculinidade, pois “Antes de ser vítima, o homem é beneficiário do sistema de gênero vigente” (OLIVEIRA, 2004, pp. 190). A hipótese de que a masculinidade não sofreu, necessariamente, uma crise estrutural desencadeia a arguição do quarto capítulo, no qual Oliveira aborda as permanências da masculinidade sobrevivente a todas as crises do século XX. O argumento é que a interação social é um elemento relativizador da concepção de masculinidade decadente, pois nos baixos estratos sociais mantêmse a visão valorativa dos elementos constitutivos do discurso masculino, diferentemente das crises presentes nos homens das classes médias e altas, freqüentadores de consultórios psicológicos. Oliveira se utiliza do conceito Deleuziano de “falocentrismo” ao argumentar que as relações de gênero apontam para uma cultura supervalorizadora da simbologia do falo e da virilidade, causando um desequilíbrio na balança do poder em que o sujeito enquadrado nas prescrições da masculinidade é beneficiado, em detrimento de todos os sujeitos alheios a tais prescrições.
No quinto e último capítulo, Oliveira dá seqüência à sua argumentação na medida em que traça as relações e vivências intersubjetivas masculinas. Isso abre espaço para a utilização de seu conceito de masculinidade enquanto um “lugar simbólico\imaginário de sentido estruturante” (OLIVEIRA, 2004, pp. 245). A identidade masculina passa a ser uma construção subjetiva baseada em signos de honra, prestígio e dominação, que se afirma através das vivências interacionais e intersubjetivas. Tais vivências são propiciadas através de condutas específicas, muitas vezes violentas, perigosas e excludentes. A legitimação da identidade masculina é reproduzida pela mídia, pelas “fofocas” e por diversas outras formas de comunicação, que por sua vez, funcionam como formas de controle social, a partir do momento em que estabelecem determinados códigos masculinos assumidos como legítimos e adequados. Trata-se de uma opinião compartilhada que deve ser reiterada por todos os agentes a serem considerados estabelecidos [87]. Isso possibilita a satisfação existencial desses, ao passo que categoriza os alheios a tais normas enquanto “outsiders”.
Consecutivamente, Oliveira defende a hipótese de um “inconsciente sexuado” em que todos os homens confiscam um valor positivo em relação aos próprios signos constitutivos da masculinidade, ainda que alguns desses homens não os defendam conscientemente. Isso dá vazão à convergência entre “masculinidade” e “poder simbólico”, reafirmando o argumento da “Dominação Masculina” de Bourdieu (1999).
O autor encerra seu livro discutindo sobre a necessidade de se fugir dos estereótipos e se estudar mais profundamente a masculinidade, enquanto uma perspectiva de gênero. Oliveira reitera sua posição de que há uma disparidade entre os gêneros que ainda não foi superada, sendo necessária ampla reflexão desses a fim de reduzir as disparidades sociais.
Há muitas contribuições apresentadas por essa obra, delimito duas: a primeira, e mais específica, é a argumentação teórica utilizada que proporciona instrumentalização às pesquisas que se pretendam focar no estudo da masculinidade. A segunda contribuição, essa mais ampla, é a própria abordagem acerca da “Construção Social da Masculinidade“, trazendo a compreensão de que a masculinidade não é uma edificação sólida ou um conceito a priori [88] , antes disso, é literalmente uma construção social, passível de questionamentos, de discursos, de desconstruções. Essa abordagem, problematizadora, transporta a masculinidade para o centro das discussões acadêmicas das ciências humanas, uma vez que traz à tona um importante e delicado debate que articula a masculinidade com as construções subjetivas e com as relações de poder intergêneros.
Notas
87 Uso o termo de acordo com a concepção de Norbert Elias (2000), ao passo que os estabelecidos, como o próprio nome já diz, é um grupo identitário que se auto-afirma através da utilização de significações sociais comuns. Tal auto-afirmação serve como uma ferramenta de exclusão dos outsiders, ou seja, dos que não compartilham dos mesmos códigos propostos pelos estabelecidos.
88 Uso o conceito “a priori” em stricto sensu como “independente de qualquer experiência empírica”.
Referências
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
ELIAS, Norbert e SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os Outsiders. Sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade, Rio de Janeiro: Zahar, 2000. pp.17-50.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala. 20.ed. Rio/Brasília: José Olympio/INL, 1980.
Fernando Bagiotto Botton86 – Bolsista PET\MEC-SESU e graduando do curso de História da Universidade Federal do Paraná.
OLIVEIRA, Pedro Paulo de. A construção social da masculinidade. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2004. Resenha de: BOTTON, Fernando Bagiotto. Cadernos de Clio. Curitiba, v.1, p.121-123, 2010. Acessar publicação original [DR]
Testo Yonqui – PRECIADO (CP)
PRECIADO, Beatriz. Testo Yonqui. Madrid, Editora Espasa Calpe, 2008, 324p. Resenha de: CAMARGO, Wagner Xavier de.; RIAL, Carmen Silvia de Moraes. Hormônios e micropolíticas de gênero na era farmacopornográfica. Cadernos Pagu, Campinas, n. 34, Jan./Jun. 2010.
Assalto à razão e delírio artístico, dois ingredientes que fazem de Testo Yonqui uma obra acadêmica à parte, de difícil classificação: Ensaio literário? Etnografia do/no corpo? Manual alternativo de sexualidade? Auto-ajuda para transgêneros mudarem seus corpos com o auxílio de drogas e hormônios? Talvez se possa ler o pujante escrito da (pós)feminista Beatriz Preciado como pós-moderno, com riscos de evocar conceito tão polêmico. Muito provavelmente, porém, ela se irritaria demasiado com a pecha da definição!
Definitivamente, BP – como se autodenomina na obra – não gosta de definições e classificações. Seu texto talvez seja uma etnografia antropológico-reflexiva, auto-ficção, ou “auto-teoria”, como prefere a autora, que usa o próprio corpo como plataforma de análise e experimentação subjetiva. O que fica dúbio para os leitores é saber onde começam e onde terminam a vida e a arte, e talvez essa seja a contribuição mais interessante de Preciado.
Rizomático1, seu livro divide-se em 13 capítulos, que podem ser lidos em qualquer ordem, não havendo uma cronologia ou interdependência entre eles. Não há fio condutor. Curiosamente os capítulos pares são teórico-conceituais e os ímpares registram relatos de experiências, histórias pessoais, encontros e desencontros da própria protagonista-autora-artista. Produto de uma nova estética literária nas produções bibliográficas dos estudos de gênero – ou para sermos mais precisos, nos estudos gays, lésbicos, queer e transexuais – o trabalho de Beatriz Preciado mescla ficção, narrativa, filosofia e arte. Os relatos autobiográficos que emergem (relações sexuais, aplicação de hormônios, humor sarcástico e inúmeras rotas de fuga sem saída), nos entreatos analíticos que a autora apresenta, não são mais do que recursos que exercitam nossas subjetividades contemporâneas e mostram como construí-las ou descontruí-las.
A ideia de Preciado é abrir, a partir de sua etnografia reflexiva, uma discussão mais profunda sobre nossos sexos, nossos desejos, nossas percepções da realidade, acerca de um regime que nos comanda e governa nossas atitudes (ou não-atitudes), em respeito a uma múltipla combinação de fatores. De uma antropologia do corpo a uma filosofia da existência, a autora confere-nos um texto instigante e inovador. O que é questionável, para Preciado, é até que ponto a gestão biomidiática da subjetividade atual está sob controle do indivíduo ou passa despercebida por ele: a sua adição consciente à testosterona é parte de um projeto de micromutação fisiológica, política e teórica.2
A auto-etnografia propõe-se a ler criticamente a realidade da sociedade contemporânea sob uma perspectiva sexopolítica, onde o sexo e a sexualidade convertem-se no centro da política e da economia. O que era, até então, considerado por alguns como uma “sociedade do controle”, para ela passa a se designar sociedade farmacopornográfica, na qual o controle emerge de dentro do próprio indivíduo. Nessa nova ecologia política não teríamos mais o controle frio, calculado, disciplinar e arquitetônico do panóptico de Jeremy Bentham, explicitado por Michel Foucault3, mas sim um “controle pop” implantado no próprio sujeito através de uma plataforma viva de órgãos, fluxos, neurotransmissores e formas de agenciamento, que seriam, ao mesmo tempo, suporte e partes de um programa político – novamente aqui encontramos influência deleuziana.
O regime farmacopornográfico, por sua vez, alimenta-se de dois pólos auto-sustentados, que funcionam mais em convergência do que em oposição: a farmacologia (tanto legal quanto ilegal) de um lado, e a pornografia, de outro. A produção farmacopornográfica não é um novo período da economia política mundial pelo volume com que se auto-produz ou pela presença massiva na vida das pessoas, mas pelo seu teor narcoticosexual.
Aqui cabe uma digressão: para Beatriz Preciado, o novo regime farmacopornográfico se anuncia na sociedade científica e colonial do século XIX a partir do duplo movimento de vigilância médico-jurídica em relação às práticas condenadas (aborto, pedofilia e afins) e da espetacularização midiática (de aberrações e anomalias genéticas). Ele tem suas bases hegemônicas constituídas no nascimento da modernidade capitalista, a partir das ruínas do sistema feudal. A constituição dos Estados nacionais europeus e a edificação dos regimes de saber científico-técnicos ocidentais estão nas origens da era farmacopornográfica. Contudo, sua efetivação é mais recente: data de fins da Segunda Guerra Mundial, no âmbito da corrida tecnológica espacial, e adquirirá seu atual perfil no desmantelamento da economia fordista dos anos 1970. Pós-industrial, terá um up grade a partir das técnicas informáticas e digitais de visão e difusão de informações.
Nesse contexto, o corpo farmacopornográfico do século XXI não é dócil. É, na verdade, uma interface tecnoorgânica, segmentada e habitada por distintos modelos políticos. Preciado aponta, assim, para um novo tipo de “governabilidade do ser vivo” e submete seu arcabouço feminista (e as próprias teorias feministas) ao solavanco que a aplicação de testosterona provocará em seu corpo durante 236 dias de auto-administração por adesivos cutâneos: há que se saber até que ponto as mutações que se passam nela não são transformações de uma época.4
Para a autora, o corpo polissexual vivo é o substrato da força orgásmica. Ele não é produto de um corpo pré-discursivo, como diria Judith Butler (2003), e nem teria seus limites contidos no envoltório da pele. O corpo não pode ser entendido hoje fora dos ditames da tecnociência e, portanto, essa entidade é entrecortada por milhares de fibras óticas, pixels e nanômetros. Trata-se, em realidade, de um tecnocorpo. Convocará Donna Haraway e a definição de tecnobiopoder para explicar porque essa nova tecnoecologia suplanta o biopoder de Foucault, justamente por exercer poder e controle de todo organismo tecnovivo interconectado.5 O que na leitura foucaultiana é biopoder, para Haraway é tecnopoder. E Preciado concorda. Assim, tanto a biopolítica (poder de controle e produção da vida) como a tanatopolítica (política de controle e gestão da morte) funcionam como farmacopornopolíticas, gestões planetárias de potentia gaudendi ou força orgásmica, potência (real ou virtual) de excitação total de um corpo.
Dessa forma, não só o sexo e a sexualidade poderiam ser pensados de modos diferentes, mas também o gênero. Por isso critica as primeiras teóricas do gênero (Margaret Mead, Mary Macintosh e Ann Oakley) por defini-lo na linha explicativa da “construção social e cultural da diferença sexual” (82). Isso gerou catastróficos efeitos que, em sua opinião, reverberam nas políticas atuais de gênero, de caráter estatal, empurrando o feminino para o beco binomial sem saída essencialismo/ construtivismo. Destaca que Teresa De Lauretis, Judith Butler e Denise Riley vão redesenhar os discursos feministas nos anos 1980.
Para ela, o gênero não nasceu da crítica feminista, mas foi gestado nos laboratórios de farmacopornismo da corrida tecnológica da Guerra Fria, ainda nos anos 40. Hoje não há como discutir o gênero. Há que se discutir as “tecnologias de gênero” (termos de Haraway), que codificam, descodificam, programam e desprogramam e são sintéticas, maleáveis, suscetíveis de serem transferidas, copiadas, produzidas e reproduzidas tecnicamente pelos sexos e gêneros dos “bio” e “tecno” sujeitos.6
É esse novo sujeito sexual farmacopornográfico que mantém e alimenta o farmacopoder. Lembrando o mecanismo disciplinar de controle do panóptico, seria como se agora esse fosse comestível e estivesse operando de dentro do sujeito e por ele próprio. Como exemplo, a autora lembra o caso das pílulas anticoncepcionais, inventadas e maciçamente divulgadas no meio do século XX com o que considera ser a fachada de controle de natalidade. A pílula feminina sempre funcionou, desde sua descoberta, não como uma técnica de controle da reprodução, mas de produção e controle de gênero, de acordo com Preciado. E mais: como foi elaborada para reproduzir tecnicamente os ritmos dos ciclos menstruais – ou seja, “imitar tecnicamente a natureza” – a autora sugere uma analogia: assim como as “drag queens” são homens biológicos que desempenham uma forma visível de feminilidade e as “drag kings” são mulheres biológicas que teatralizam uma forma de masculinidade, a pílula seria uma “bio-drag“, uma espécie de travestismo somático, ou ainda, “produção farmacopornográfica de ficções somáticas de feminilidade e de masculinidade” (130). O que se produz não é algo externo (estilo, vestimenta, comportamento social), mas um processo biológico.
A fonte última de produção e riqueza do regime econômico pós-industrial farmacopornográfico é a pornografia que se prolifera pelos suportes técnicos (TV, computador, etc.) em ondas óticas para todo o planisfério terrestre. É ela que, no limite, alimenta o pornopoder. Como dispositivo virtual (literário, audiovisual, cibernético) masturbatório, a pornografia é a sexualidade transformada em espetáculo. Nesse sentido, para a autora, ela estaria para a indústria cultural, assim como a indústria do tráfico de drogas estaria em estreita relação com a indústria farmacêutica. Na pornografia, o sexo é performance, isto é, uma representação pública e um processo de repetição continuada, politicamente regulada. Nem o corpo individual, nem a esfera privada e nem o espaço doméstico escapariam da regulação política. Dessa forma presenciamos, então, um processo de “pornificação do trabalho”, pois na economia farmacopornista, o trabalho é sexo. Como o termo “sexual” (no antigo conceito de divisão sexual do trabalho) silencia o aspecto normativamente heterossexual da reprodução, conferindo-lhe um caráter de única via natural, Preciado propõe reclassificar o conceito para “divisão gestacional do trabalho”, devido à ênfase na segmentação do corpo derivada da capacidade (ou não) de gestação em útero.
Contudo, destaca que presenciamos no regime farmacopornográfico um processo dialético entre fármaco e porno. Tal dialética estaria manifesta através de contradições de biocódigos (low tech ou high tech), que formam a subjetividade e que procedem de regimes diferentes de produção do corpo. Dessa maneira, assistiríamos a uma horizontalização das técnicas de produção do corpo, que não estabelece diferenças entre classes sociais, raça ou sexualidade, ou outras características. A partir dessa horizontalização que, de acordo com BP, se depreenderia que a heterossexualidade será tão somente uma estética farmacopornográfica como qualquer outra (ou muitas), que poderá ser imitada, exportada e apreciada, mas que já se apresentaria como modelo falido e decadente em nossas sociedades contemporâneas. Para ela, a heterossexualidade está fadada a desaparecer e em seu lugar haverá uma proliferação de produção de corpos e de prazeres desviantes, outrossim, igualmente submetidos às regulações farmacopornográficas.
Da radicalidade de Preciado em momentos de auto-experimentação, passando pelas densas argumentações teóricas e quedas livres que nos arremessam ao precipício, se não fossem ficções “somato-políticas”, como a própria autora destaca, elas provocariam em seus leitores insurreição contra uma ativista tão respeitada pelos estudos feministas. No entanto, Preciado não engana a quem está atento: apesar do tom catastrofista e do anúncio da auto-extinção imanente do ser humano, deixa possíveis saídas em seus capítulos finais7: aplicações maciças de testosterona e oficinas performáticas de drag king para bio-mulheres figurariam como propostas do que chama “micropolíticas de resistência” de gênero – aqui, novamente, a referência são as “micropolíticas do campo social” (Deleuze e Guattari, 2009:15).
Preciado anda às voltas com amigos e amigas em sua obra, sempre misturando propositalmente os gêneros e denominando-os por siglas (VD, V, GD). O protocolo de “intoxicação voluntária” que executa por rituais de administração de hormônio masculino, não significa mudança de sexo ou uma metamorfose transexual. É um processo de desnaturalização e de desidentificação. Mudam-se apenas os afetos e seu corpo.
O corpo é uma condição de perfeição e de ruína. Para ela, os corpos são recipientes inexoráveis de transporte de substâncias ilícitas e produtores de subjetividades adictas. São receptáculos produtores de excitação-frustração e circuito sob controle da gestão farmacopornográfica. O que importa, segundo ela, não é a produção de prazer, mas o controle do mecanismo cíclico excitação-frustração-excitação e de sua infinita repetição, que é justamente o motor do farmacopornismo em escala global. Está em cena, então, uma cooperação masturbatória entre corpos insatisfeitos, insaciáveis – que buscam hormônios, cocaína, pênis, vaginas, ânus – e novas formas de produção da repetição do mecanismo na contemporaneidade.
O legado de Beatriz Preciado com esta obra vai além de uma contribuição estilística e artística personalizada em estilo literário. Pode ser considerado uma nova luz-guia nas discussões acerca dos estudos de gênero e das produções das subjetividades dos (pós)corpos contemporâneos. Merece ser apreciado.
Referências
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003. [ Links ]
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia, vol. 1. 6ª ed. São Paulo, Ed. 34, 2009 [Tradução Aurélio Neto e Célia Costa] [ Links ].
FOUCAULT, Michel. O Panoptismo. In: FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 8ª ed. Rio de Janeiro, Vozes, 1991, pp.173-199. [ Links ]
HARAWAY, Donna. A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century. In: HARAWAY, D. Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York, Routledge, 1991, pp.149-181. [ Links ]
Notas
1 Conceito de Gilles Deleuze e Feliz Guattari (2009), o rizoma “conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a traços da mesma natureza (…). Põe em jogo regime de signos muito diferentes e não conduz ao uno, nem ao múltiplo (…). Não se compõe de unidades, mas de dimensões (ou direções movediças); não tem início, nem fim, mas sempre transborda; é feito somente de linhas: de segmentaridade, de estratificação, como dimensões, mas também linhas de fuga ou de desterritorialização, como dimensão máxima segundo a qual, em seguindo-a, a multiplicidade se metamorfoseia, mudando de natureza (Deleuze e Guattari, 2009:32 e ss).
2 É clara a influência de Deleuze e Guattari (2009) nos escritos de Preciado: ela faz o que os autores chamam de “micropolítica” no campo social.
3 Referência a “O Panoptismo” (Foucault, 1991, cap. 3, 3ª parte).
4 Aqui cabe destacar os capítulos mais personalistas acerca da administração hormonal: “Tu Muerte” (cap. 1:19-24) e “Testogel” (cap. 3:47-56).
5 Donna Haraway traz a discussão sobre a figura do “cyborg”, ou seja, do ser que descende das implosões de sujeitos e objetos, do natural e do artificial (Haraway, 1991).
6 Surgem as nomenclaturas bio e trans, como estatutos de gênero tecnicamente produzidos. Por um lado, os bio-homens e as bio-mulheres são aqueles que se identificaram com o sexo que lhes foi designado no nascimento e, por outro, os trans-homens e as trans-mulheres são os que contestaram tal designação e tentaram modificá-la com ajuda de procedimentos externos (técnicos, prostéticos, performativos e/ou legais). Tais designações não são melhores ou piores umas em relação às outras. Apenas dão conta do abismo que separa as pessoas bio das pessoas trans. Tal distinção, para a autora, tornar-se-á ultrapassada no futuro (Preciado, 2008:84 e ss).
7 Mais precisamente em “Micropolíticas de Gênero en la Era Farmacopornográfica. Experimentación, intoxicación voluntaria, mutación” (cap. 12:233-286).
CAMARGO, Wagner Xavier de.- Doutorando em Ciências Humanas na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em estágio sanduíche no Instituto Latinoamericano da “Freie Univesität von Berlin”, Alemanha. Bolsista CAPES. [email protected].
Carmen Silvia de Moraes Rial – Doutora e professora dos departamentos de Antropologia e Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pesquisadora CNPq. E-mail: [email protected].
[MLPDB]
Género y sexualidades en las tramas del saber. Revisiones y propuestas – ELIZALDE et al (CP)
ELIZALDE, Silvia; FELITTI, Karina; QUEIROLO, Graciela. (coords.) Género y sexualidades en las tramas del saber. Revisiones y propuestas. Buenos Aires, El Zorzal, 2009, 236p. Resenha de: PLESNICAR, Lorena Natalia. Género y sexualidades en las tramas del saber. Revisiones y propuestas. Cadernos Pagu, Campinas, n. 34, Jan./Jun. 2010.
El Prólogo del libro, a cargo de Dora Barrancos, no sólo oficia de presentación formal del texto sino que se constituye en una invitación al lector a recorrer en perspectiva histórica algunos de los condicionantes de las relaciones de género y sexualidad en la sociedad. Sus palabras muestran, una vez más, el continuo apoyo y compromiso con la formación de las jóvenes investigadoras que se interesan por estos temas de la agenda social.
Silvia Elizalde, Karina Felitti y Graciela Queirolo son las autoras de la Introducción. Allí, describen algunas de las discusiones principales que surgieron a partir de la sanción, en el año 2006, de la Ley 26.150 que estableció el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Asimismo, presentan una breve descripción de los diversos problemas que se suscitan no sólo en el terreno de las prácticas pedagógicas del sistema educativo nacional sino también en relación con la formación y la capacitación de los docentes. A su vez, dejan en claro el posicionamiento del libro ya que proponen “el género, las sexualidades y los derechos humanos como perspectivas transversales y políticamente emancipadoras de las prácticas y los saberes tradicionalmente constituidos” (20).
El primer capítulo se titula Historia. Cuerpos, género y sexualidades a través del tiempo y la autoría es de Karina Kelitti y Graciela Queirolo quienes argumentan la necesidad de pensar en clave de género y sexualidad la historia y su enseñanza. A partir de una revisión sobre el lugar de las mujeres y el género en el campo historiográfico, sostienen la importancia de analizar las maneras de acercarse al pasado y de trasmitirlo mediante el conocimiento histórico. El capítulo finaliza con dos apartados: uno presenta un recorrido descriptivo de algunos de los trabajos más difundidos sobre las sexualidades en la historia occidental, y el otro reseña los devenires de los aportes sobre historia, género y sexualidades en Argentina en su articulación con el desarrollo de la historiografía internacional. Vincular esta área de estudio – de formación reciente – con la práctica pedagógica es el gran desafío que queda como tarea pendiente para los interesados en estos temas.
Lucía Puppo inicia el segundo capítulo con la distinción conceptual entre lengua y discurso, y desde allí, describe algunos de los usos sexistas del lenguaje cotidiano. A continuación, y desde una perspectiva histórica, sintetiza algunos de los impedimentos sociales que desplazaban a las mujeres de la literatura en el contexto europeo del siglo XIX; situación que se replica con matices similares en Argentina y que explica, en cierto modo, la obliteración de los aportes de las mujeres al canon literario. En los siguientes apartados, Puppo revisa algunos de los principales aportes y discusiones de la teoría feminista internacional de los últimos años y los pone en diálogo con estudios literarios actuales y también de décadas anteriores. El capítulo termina con una serie de recomendaciones destinadas a los docentes para que puedan incorporar la educación sexual en la enseñanza de la lengua y de la literatura dado que su argumento principal es que pueden analizarse diferentes formas de discriminación hacia la diversidad sexual si se considera la dimensión discursiva de los textos.
Artes. Las/os invisibles a debate es el título que María Laura Rosa elige para presentar el tercer capítulo del libro. En él indaga algunos de los discursos dominantes de la historia del arte desde la perspectiva de género y de las sexualidades. Según Rosa, las revisiones sobre la historia del arte que datan de los años 1970 arguyen que la ausencia de las grandes artistas mujeres en la historiografía se debía a un conjunto de restricciones formativas – la confinación de la mujer a la producción de “géneros menores”, por ejemplo – y familiares – registrada en la dependencia de los padres y hermanos en las actividades de taller. En la década de los 1980 la insistencia del feminismo sobre la desigual situación de varones y mujeres en el campo artístico lleva a re-pensar el problema desde la construcción misma de la subjetividad desde los aportes psicoanalíticos más difundidos en la época. Las intrincadas relaciones entre el feminismo y el arte en la historia argentina es el eje que organiza los últimos apartados del capítulo y dan cuenta tanto del proceso de incorporación de las mujeres en sus espacios institucionales como de los diversos debates teóricos que ello acarrea – sobre el arte light, el arte guarango, el arte rosa o las diferencias entre el arte femenino y el arte de género, por citar algunos ejemplos.
Los debates sobre las especificidades de los estudios de la comunicación, de los estudios de género y de las sexualidades son la introducción al capítulo Comunicación. Genealogías e intervenciones en torno al género y la diversidad sexual escrito por Silvia Elizalde. A partir de allí Elizalde plantea los modos de actuación de la escuela y el saber pedagógico respecto a los contenidos de la industria cultural y los medios que pueden caracterizarse desde las posturas más herméticas hasta aquellas que reconocen la importancia estratégica de la inclusión de materiales mediáticos y de comunicación en el ámbito educativo. A continuación, la autora presenta una revisión del lugar del género y las sexualidades en las dos corrientes teóricas principales en el ámbito de la comunicación, cultura y medios: una, enraizada en el funcionalismo norteamericano y la otra, en la Escuela de Frankfurt. Los aportes de los estudios culturales y feministas y las principales líneas de investigación a las que estas contribuciones dieron lugar en el campo de la comunicación es otro de los puntos que conforma el escrito y que son retomados para describir la situación de los mismos en Argentina en su articulación con una perspectiva latinoamericana. Como cierre del capítulo, la autora resalta algunas de las estrategias que el activismo de género y la diversidad sexual han desplegado en los últimos años para sumar las discusiones sobre comunicación y medios en sus demandas políticas.
El libro finaliza con apartado denominado Propuestas de trabajo organizadas en función de los capítulos presentados – y más allá de algunas críticas que podrían esbozarse – se constituye en un aporte relevante para los educadores en tanto que brindan información sobre un conjunto de recursos (libros, películas, sitios de Internet) y permiten pensar en prácticas de enseñanza y de aprendizaje en las distintas áreas del curriculum desde la clave del género y la sexualidad en el marco del sistema educativo nacional. Sin dudas, este libro será una valiosa contribución para quienes trabajan en la educación y reconocen que su práctica es política y, por ello, ya no pueden desentenderse de los nuevos aportes que provienen de los estudios de género y de las sexualidades que ponen en jaque, entre otras cosas, los designios heteronormativos del paradigma patriarcal.
Lorena Natalia Pleniscar – Doctoranda en Ciencias Sociales (Flacso). Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Profesora Adjunta de la Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. E-mail: [email protected].
[MLPDB]
Rebeldes ilustradas (La otra transición) – GARCÍA DE LEÓN (REF)
GARCÍA DE LEÓN, María Antonia. Rebeldes ilustradas (La otra transición). Barcelona: Editorial Anthropos, 2008. 220 p. Resenha de: SUBIRATS, Marina. Socializadas bajo el franquismo, rebeldes en la transicion, feministas siempre (Reflexiones sobre una obra de actualidad). Revista Estudos Feministas v.17 n.3 Florianópolis Sept./Dec. 2009.
He aquí una original contribución para una Memoria de Género en la sociedad española actual. Con estas Rebeldes ilustradas que nos ofrece ahora María Antonia García de León, la autora avanza un paso más en lo que aparece ya como un proyecto intelectual consolidado: la construcción de la memoria colectiva de unas generaciones de mujeres españolas que rompieron los moldes de género e introdujeron en España una nueva manera de ser mujer. Herederas y heridas fue una primera indagación sobre la posibilidad y condición de este cambio, especialmente para las mujeres que dedicaron su vida a la Universidad y la investigación; su muy reciente Antropólogas, politólogas y sociólogas, de autoría compartida con María Dolores F. Figares, se plantea la indagación sobre qué ha ocurrido con las mujeres profesionales de las ciencias sociales, qué han hecho y qué han dejado en los ámbitos de sus especialidades. Y formula ya claramente una pregunta relevante ¿qué quedará de nosotras cuando hayamos muerto? Un interrogante que inquieta a María Antonia y que, a través de ella, se transmite como un eco a unos colectivos de mujeres que están llegando al tiempo de los balances.
Una inquietud y una pregunta totalmente pertinentes. Los indudables logros de las mujeres españolas que vivieron la transición política, la necesidad de afirmar las victorias para dejar atrás los tonos plañideros y comenzar a ser por derecho propio, han enmascarado, probablemente, muchas de las debilidades de la situación. Ser investigadoras, catedráticas, autoras reconocidas, profesoras en universidades prestigiosas, ostentar cargos políticos, son condiciones sociales que, detentadas por hombres, aseguran algún lugar en la memoria colectiva. Tal vez no un nombre propio o una estantería en las grandes bibliotecas; pero sí, por lo menos, un renglón en los registros de la impronta generacional. Atareadas en ser, en hacer, en vivir, dimos por descontada la inscripción automática en esta memoria, como algo inherente a los puestos conseguidos. Y hoy empezamos a ver que no es así, que sigue sin ser lo mismo ser autor que autora, y que la voz de las mujeres, sean quienes sean, no se inscribe automáticamente en la historia común. Porque la escritura de esta historia no fue nunca automática, sino selección desde el poder.
Un poder que seguimos sin lograr.
Así que, nos dice la autora, no hay que esperar a que los futuros cronistas nos rescaten del olvido, sino que, como siempre para las mujeres, ponte tu misma a tejer tu traje y deja de esperar en vano al hada madrina. Y he aquí un nuevo fruto de este empeño: con Rebeldes ilustradas María Antonia nos ofrece una nueva reflexión polifónica y multidimensional, y sigue abriendo caminos para la construcción de una memoria generacional.
Una reflexión polifónica: como suele hacer en la mayoría de sus obras, también aquí María Antonia García de León se acompaña de otras voces. En este caso, voces directas, no ya cortadas temáticamente o como ilustraciones de determinadas tesis. El relato personal de la propia vida nada tiene que ver con la exhibición: es parte de la historia, siempre, y en determinados casos, parte de una historia tan especial y atípica que debe ser conservada para que en el futuro puedan entenderse las trayectorias comunes a partir de estas huellas. Mujeres muy conocidas, indispensables en la historia española de los sesenta, los setenta, los ochenta, los noventa, los dos mil, que han explorado territorios, han derribado barreras, han colonizado espacios antes inaccesibles. Que lo siguen haciendo: Celia Amorós, Paloma Gascón, Isabel Morán, Pilar Pérez Fuentes. Perfiles obligados para entender una etapa del cambio, porque además de construirlo con sus vidas, tienen el don de la palabra y la capacidad de la reflexión, de la comprensión de los cómos y los porqués.
Tienen elaborada una narrativa que describe un mundo, una época, un antes y un después. Y nos muestran, paso a paso, día a día, cómo avanzaron en el difícil aprendizaje de ser mujeres tradicionales primero, de dejar de serlo después, de asumir perfiles, responsabilidades, tareas, que en su niñez nunca pudieron figurar en su horizonte vital, y a las que, en cambio, hubo que lanzarse, gozosas y temblando, sin apenas modelos, asumiendo riesgos, muchos riesgos.
Y también una voz propia, la de María Antonia, en una interesante autoentrevista, con la que sienta un precedente curioso, en la línea de la emergencia del sujeto como centro de la reflexión. Un precedente no exento de riesgos, una vez más, porque ¿cómo establecer la dualidad, el diálogo, la distancia necesaria para esquivar la autocomplacencia, el narcisismo, la autojustificación? ¿Por qué no escribir directamente unas memorias personales, género de reglas conocidas que no pretende más verdad que la personal? Mi impresión es que María Antonia no está interesada en contarnos su vida, sino en extraer de ella, como material que tiene a mano, la narración de una experiencia común y al mismo tiempo irrepetible. Y para ello, se desdobla en un diálogo consigo misma, en un alarde de duplicidad que nos hace olvidar que quien pregunta y quien responde es una misma persona. Sólo desde un hábito de distanciamiento largamente adquirido en la práctica de las ciencias sociales pueden tenerse ciertas garantías de objetividad en este tipo de ejercicio. Sólo desde el rigor de una mirada habituada a triturar la vida en la batidora de una metodología implacable es posible extraer de la propia experiencia categorías más universales que las del testimonio o la melancolía.
Polifonía, pues, pero también multidimensionalidad. Y es aquí donde Rebeldes ilustradas adquiere, en mi opinión, una amplitud de objetivos que la convierten en el libro más ambicioso de la autora.
He mencionado ya una primera dimensión: la de la voluntad de construcción de una memoria generacional en una etapa especialmente intensa. Para quienes la vivimos, todo suena a conocido. Pero vendrán otras, ya están aquí, que apenas pueden creerlo. “Me casaba en enero y no me dejaron salir en nochevieja”, cuenta Celia. Un ejemplo entre tantos. Y cada una de nosotras podría contar decenas de anécdotas parecidas, que configuran un mundo que ya no existe. Cuando alguna española, en el futuro, tenga la tentación de la nostalgia, que relea estas páginas, para celebrar con euforia su presente, que tantas, antes de nosotras, murieron sin alcanzar.
Pero hay más, hay más. La dimensión política recorre el libro, que no por azar lleva como subtítulo “La otra transición”. Efectivamente, la transición política española se ha considerado modélica, ha sido analizada, divulgada, ensalzada y hasta se ha intentado exportarla y copiarla. Pero ¿qué transición? Hubo tantas transiciones… Y la que ha sobrevivido, como siempre, fue la transición masculina, aquella a través de la cual una generación de hombres relevó a otra en el poder. Y, al realizar el relevo, no sólo cambiaron los nombres y las caras, sino las reglas de juego colectivas. ¿Quién va a negar su importancia?
Aquella transición, leída a menudo como una epopeya, fue posible porque culminó diversas transiciones. Que casi nunca fueron contadas. La transición de la clase trabajadora, por ejemplo, que pasó de clase en sí a clase para sí, para decir lo que quería y lo que no quería, y obligar así a cambiar las reglas de juego, porque había aprendido a usar en su favor las del franquismo y bloquear las fábricas cuando hiciera falta. O bloquear las escuelas, en un recuerdo para mí imborrable de miles de maestras en acción, utilizando incluso los sindicatos verticales cuando hizo falta. La transición de los partidos clandestinos, la transición de los estudiantes, la transición de los militares, la transición de los vencidos y de los exiliados, capaces de aceptar un paréntesis cuando hizo falta para pactar una nueva Constitución.
Y la transición de las mujeres, tal vez la más poderosa, tal vez la más olvidada. Como nos recuerda Anna Caballé en un magnífico prólogo, no había ninguna mujer entre los siete padres de la Constitución, y a nadie se le ocurrió sin embargo discutir su legitimidad. De hecho, todavía se está escribiendo una Constitución de la que formemos parte: las recientes leyes contra la violencia de género, por la igualdad, el proyecto que ahora mismo (invierno 2009) está en debate sobre la modificación de la ley del aborto, no son sino incorporaciones tardías a lo que debía haber sido una Constitución que contemplara la igualdad entre los dos sexos, la incorporación de las exigencias de los géneros y la desaparición de las barreras entre ellos. Porque esta transición se hizo, pero sin el suficiente reflejo en las leyes, en las normas colectivas. Como siempre, ello no era importante, podía esperar. Como ha sucedido en tantas transiciones, recordadas en este libro por Pamela Radcliff, Breny Mendoza y Amalia Rubio, en preciosas aportaciones que nos dan toda la dimensión política del tema.
En las grandes batallas, los hombres requieren el esfuerzo de las mujeres, su sacrificio, su tiempo y su energía, para lo que se presenta como una batalla para el bien común. Y dicen: “Tu causa es importante, pero debe esperar a que triunfe la mía. Después, todo se os dará por añadidura”. Lo oímos entonces: su transición era inaplazable, la nuestra podía esperar. Por suerte, muchas no lo creyeron ya, y las transiciones se hicieron en paralelo, sin pedir permiso, sin esperarlo. Pero ahora todo ello debe consolidarse para que nunca pueda producirse una vuelta atrás.
Consolidar la presencia de las mujeres en el ámbito público, en la historia, en las decisiones que se toman respecto a la vida colectiva como una exigencia inaplazable. Para que, en adelante, quien quiera contar con las mujeres tenga que incluirlas, o atenerse a las consecuencias: por ejemplo, no recibir su voto. Quien quiera escribir la historia tenga que incluirlas, o atenerse a las consecuencias: ser desautorizado como autor androcéntrico y parcial. Porque la huella de las que fueron antes ya sea tan imborrable que los olvidos no tengan justificación ni disculpa alguna.
Gracias de nuevo, María Antonia García de León, por seguir en la brecha de una tarea necesaria, en la que, esperemos, muchas otras y muchos otros te sigan.
Marina Subirats – Universitat Autònoma de Barcelona.
De volta ao Lago de Leite: gênero e transformação no Alto Rio Negro – LASMAR (CP)
LASMAR, Cristiane. De volta ao Lago de Leite: gênero e transformação no Alto Rio Negro. São Paulo/Rio de Janeiro, Editora UNESP-ISA/NUTI, 2005. Resenha de: FERREIRA, Carolina Branco de Castro. Virando “branca” e subvertendo a ordem? Gênero e transformação no Alto Rio Negro. Cadernos Pagu, Campinas, n. 32, Jul./Dez. 2009.
O livro De Volta ao Lago de Leite: gênero e transformação no Alto Rio Negro foi originalmente apresentado como tese de doutorado por Cristiane Lasmar no Programa de Pós Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, sob a orientação de Bruna Franchetto. Ao longo de suas 285 páginas somos levados pela autora a refletir sobre as transformações que ocorrem no modo de vida quando os/as indígenas deixam suas comunidades, situadas ao longo da faixa ribeirinha dos rios Uaupés e Negro, e passam a residir na cidade amazônica de São Gabriel da Cachoeira.
O olhar de Lasmar situa-se no pólo nativo e a partir de uma sociologia indígena, ela busca compreender as instituições e organizações sociais, a sócio-cosmologia dos grupos estudados e como a população indígena percebe e define, em seus próprios termos, a situação de contato. Em minha leitura, a pesquisa da autora está interessada em revelar, ao modo de Sahlins (1997), como os grupos ameríndios do Uapés vêm tentando incorporar o sistema tecnológico e de conhecimentos “dos brancos” a uma ordem ainda mais abrangente: seu próprio sistema de mundo.
O que motiva os índios em direção ao mundo dos brancos?1, pergunta a autora. Além disso, uma problemática de gênero permeia seus questionamentos, porque dentre as transformações que a autora investiga está a preferência das mulheres indígenas em se casar com homens brancos, o questionamento sobre o status dos filhos nascidos deste enlace e a violência de gênero.
Para organizar sua etnografia, Lasmar utiliza o recurso analítico de contrastar “comunidade” e “cidade”, pois segundo ela estas palavras remetem a modos de vida distintos no discurso indígena. Para a autora, o contraste entre “viver na cidade” e “viver na comunidade” permite compreender a diferença entre índios e brancos, bem como a experiência social dos índios que vivem em São Gabriel da Cachoeira, uma vez que a “comunidade” e seus padrões de sociabilidade ainda representam uma referência moral organizativa importante para estes sujeitos, porque na comunidade ainda se vive como índio.
Além da introdução e das considerações finais, o texto está dividido em duas partes, cada qual com um prólogo e um epílogo. O livro conta com dois cadernos de desenho de autoria de Feliciano Lana, um de seus colaboradores. Bem como, com dois mapas, um do Alto Rio Negro, onde é possível ter uma boa idéia da localização das comunidades ribeirinhas e da cidade de São Gabriel, e outro com a divisão dos bairros deste município, onde o leitor pode localizar os bairros da Praia e de Dabaru, que concentram a população indígena citadina. E ainda, se encontra uma tabela de convenções sobre segmentos fonêmicos e indicações de pronúncia em língua tukano. No anexo está na integra o mito de origem – A viagem na canoa da Fermentação, leitura imprescindível para compreender as sócio-cosmologias dos grupos referidos e também a proposta teórico-metodológica inovadora de Lasmar.
A metáfora espacial entre “comunidade” e “cidade”, ao invés de opor tradicional/moderno, nos permite perceber a translocalidade, para tomar emprestado um termo de Sahlins (1997), existente no “movimento dos índios em direção ao mundo dos brancos” (Lasmar, 2003:213). Assim, ao estabelecer esse modo de análise, a autora busca esse movimento e suas várias interfaces, privilegiando as narrativas das mulheres indígenas. Vale lembrar que os grupos do Uaupés organizam as relações de parentesco por um cálculo agnático, portanto, ao focar nas histórias de vida feminina, é possível perceber como esses deslocamentos, eu diria até subversões da “tradição” e da ideologia de gênero, são explicados, vividos e agenciados por estes sujeitos.
Antes de entrar na discussão sobre esses deslocamentos ou subversões da “tradição”, recupero alguns argumentos da autora sobre a organização social ribeirinha dos grupos do Uaupés. A bacia do rio Uaupés se localiza em território brasileiro e colombiano e abarca uma população de 9.300 indivíduos que se dividem em dezessete grupos étnicos, os quais se organizam exogâmicamente e falam línguas distintas.
A regra matrimonial é que um homem deve se casar com uma mulher que fale uma língua diferente da dele. A residência é virilocal, ou seja, é a mulher quem se muda para a comunidade do marido, e o sistema de descendência é patrilinear. As relações de parentesco são fundamentais para entender a cosmologia destes grupos, uma vez que o sistema de descendência não diz respeito apenas às regras de transmissão de bens e direitos, mas também à idéia de transmissão de uma “alma” e um nome indígena. Para ser índio é necessário estar ligado a um ancestral reconhecido pelo sib2 patrilinear. Essa forma de organizar o parentesco insere uma assimetria na posição das mulheres. São elas que personificam uma alteridade ameaçadora, e não raro são ligadas a um descompromisso com a harmonia coletiva. Com o passar do tempo e com as relações de comensalidade e co-residência essa alteridade vai se tornando menos marcada entre o casal.
Aqui, vale um comentário a respeito das relações de parentesco nas sociedades ameríndias. Lasmar é caudatária da reflexão de vários antropólogos (Carneiro da Cunha, 1978; Rivière, 1993; Viveiros de Castro, 2002; Overing, 1973, dentre muitos outros)3 a respeito da amerindianização da descendência e da afinidade. Esses autores rejeitaram o modelo africanista, que enfatizava a definição de grupos de descendência e a transmissão de bens/ofícios, e elaboraram explicações mais próximas aos princípios subjacentes à composição dos grupos de parentesco nativo das terras baixas sul-ameríndias.
Overing argumenta que para muitas sociedades os grupos locais são a base do parentesco e o casamento por aliança se torna a instituição crucial responsável pela coesão e perpetuação do grupo. Segundo ela:
Nós deveríamos distinguir entre aquelas sociedades que enfatizam a descendência, aquelas que enfatizam a descendência e a aliança, e finalmente aquelas que dão ênfase apenas na aliança como o princípio básico organizador das relações (Overing, 1973:556, tradução livre).
Nesse artigo, a autora está interessada em certos problemas de interpretação, especificamente em relação a sociedades que combinam a regra positiva de casamento, a pouca ênfase dada por elas ao princípio de descendência e o casamento endogâmico. Os dados etnográficos explorados pela autora são retirados de sua pesquisa de mais de 10 anos entre os Piaroa. Overing (1973) chama a atenção para o fato de que estamos diante de sociedades que não operam com o princípio da descendência unilinear, mas há uma regularidade que precisa ser entendida a partir de outro arcabouço teórico. Já nesse texto a autora aponta para a importância que a noção de diferença ocupa para a reprodução social neste grupo e também para outros das terras baixas da América do Sul.
Segundo Viveiros de Castro (2002a; 2002b), para os grupos ameríndios, a afinidade (ou a diferença/alteridade) é o “dado” e é na esfera da consangüinidade que a “energia social é despendida”. Na teoria nativa dos grupos ameríndios a afinidade é um valor que desempenha um papel fundamental como operador sociocosmológico. O autor distingue duas espécies de afinidade: a “afinidade atual”, na qual os afins são consanguinizados a partir da consubstanciação por meio da co-residência4, e a “afinidade potencial”, que extrapola as alianças matrimoniais e constitui-se como gramática de trocas simbólicas do interior para o exterior, da passagem do local para o global. Assim, a socialidade ameríndia não é marcada pela troca de esposas e de coisas, mas envolve trocas simbólicas, nas quais há lugar para a incorporação do desconhecido.
Nesse sentido, a noção de afinidade transcende as relações de parentesco. Iniciei essa digressão teórica ao discutir os dados etnográficos relacionados ao parentesco do livro de Lasmar. No entanto, após essa reflexão, é possível falar de parentesco indígena? Ou à maneira de Shneider (1980), o parentesco seria uma ideologia da sociedade ocidental ou euro-americana (para lembrar Strathern, 1992) que, às vezes, se aplica a outros grupos sociais? Segundo Viveiros de Castro a responda é sim. No entanto, ao falar de parentesco é possível colocar em perspectiva as matrizes sócio-cosmológicas e as ontologias ocidentais e também ameríndias (entendidas aqui fora de pressupostos identitários). Esse jogo semântico é fundamental para entender o empreendimento de Lasmar, que ao tomar como objeto de pesquisa as relações entre índios e brancos, se diferencia das perspectivas que rapidamente associam essas relações a exploração, submissão e aculturação.
A partir de um olhar feminista, privilegiando narrativas femininas, a autora complexifica o “movimento dos índios em direção ao mundo dos brancos” de modo crítico e inovador. No entanto, a reflexão sobre episódios de violência propriamente ditos até questões colocadas pelo cotidiano das mulheres, certamente marcadas por gênero, suscita algumas questões, subjacentes no texto e não retomadas.
Mesmo havendo uma inversão no sistema de descendência e na ideologia de gênero a partir do casamento de mulheres indígenas com brancos, segundo a autora, essa inversão é pautada pela socialidade ribeirinha, que tem na diferença seu operador/produtor social fundamental. Como aponta Lasmar, esta inversão não se dá sem conflitos.
A autora explora bem os conflitos entre irmãos e irmãs resultantes dessa inversão. No entanto, ela explora menos aqueles resultantes do casamento das mulheres indígenas com os brancos. É verdade que Lasmar mostra como depois de um tempo as mulheres se decepcionam com o comportamento de seus maridos, bem como os maridos muitas vezes se fartam com a presença contínua dos parentes da mulher em casa. No entanto, o texto mostra uma certa homogeneidade do conflito. Se a convivencialidade é fundamental para operacionalizar as cosmologias ameríndias, neste caso, ligada ao campo etnográfico da autora, cuja centralidade está na relação entre índios e brancos como produtora de identidade entre co-residentes, nem sempre essa convivencialidade acontece de modo homogêneo.5
Lasmar mostra como na visão dos parentes da mulher indígena, ela está se “tornando branca”, já que se casou com branco e mora na cidade. Esse processo atualiza a teoria nativa da socialidade, na qual são sempre seres que guardam diferenças que entram em relação – a mulher, antes filha, neta, ou seja, consangüínea, agora é “branca” e, por conseguinte, uma afim. Se não há uma ligação automática entre diferença e desigualdade ou entre diferença e violência, é necessário escrutinar, neste caso, onde e como essas relações acontecem.
Na segunda parte do livro, Lasmar busca compreender como nessa translocalidade entre comunidade e cidade, na qual a primeira é um ponto de referência simbólico importante para os indígenas, existem maneiras distintas de estar na cidade. Aqui, a autora é herdeira das reflexões de Seeger, DaMatta e Viveiros de Castro (1987) a respeito da noção de pessoa e corporalidade nas sociedades ameríndias. Esses autores buscaram compreender as cosmologias ameríndias a partir dos seus próprios termos e afirmam que elas apontam para a importância de pensar a pessoa e a corporalidade como elementos centrais da experiência vivida socialmente, pois a “produção física de indivíduos se insere em um contexto voltado para a produção social de pessoas” (Seeger, DaMatta e Viveiros de Castro, 1987:13).
Segundo Lasmar, há uma forma mais próxima do modo branco e outra mais próxima do modo indígena de se viver na cidade. Assim, é a partir da trajetória de três mulheres indígenas de gerações distintas em São Gabriel da Cachoeira que a autora mostra como são as práticas cotidianas, a idade e a corporalidade que informam e desenham essas posicionalidades – por exemplo, ter uma roça ou não, o tipo de alimento consumido, o jeito de andar, as roupas que se veste, dentre outros.
A partir dessas trajetórias e da etnografia podemos perceber uma preferência das mulheres indígenas em se casar com homens brancos, muitas vezes, influenciadas por suas mães. Segundo Lasmar, essa preferência pode ser explicada pelos benefícios econômicos que esse tipo de casamento permite a partir de um acesso facilitado ao “mundo de mercadorias dos brancos”, bem como pelo fato de ampliar a rede familiar, de reciprocidade e de circulação dos parentes. Por exemplo, ter uma filha casada com um branco, facilita o acesso ao mundo da cidade, do hospital, da escola, etc., ao mesmo tempo em que transforma o estilo de vida e a corporalidade dessa mulher.
A autora argumenta que há uma hierarquização entre índios e brancos na cidade de São Gabriel da Cachoeira, onde os brancos teriam acesso mais facilitado e legitimado a bens, serviços, empregos e posições sociais. Assim, a condição da esposa de um branco pode estar próxima a de algumas mulheres casadas com homens indígenas que conseguiram uma boa colocação no mercado de trabalho e possuem condições de prover os parentes e ampará-los materialmente ou em caso de necessidade e cuidados. No entanto, a autora argumenta que o casamento com brancos potencializa a capacidade de agência das mulheres no que se refere aos processos de construção de uma identidade no âmbito da família extensa a partir da subversão da ideologia de gênero. Além disso, esse tipo de casamento cria uma tensão e uma inversão da assimetria de valor nas relações entre irmãos e irmãs no Uaupés. Para entendê-la é necessário remeter à identidade das crianças nascidas das uniões com brancos.
Como mencionei acima, é a partir da descendência agnática que é transmitido a “alma indígena”, ou seja, é por onde a identidade indígena é constituída. Neste caso, se uma mulher casa-se com um branco, esta transmissão seria impossível. O que não aconteceria, por exemplo, se um homem indígena se casa com uma branca, uma vez que ele teria legitimidade dentro dos “cânones tradicionais” da descendência para dar o nome cerimonial à criança e por conseqüência o acesso a “alma indígena”.
Lasmar mostra que tem sido habitual os filhos/as das mulheres casadas com brancos receberem o nome cerimonial pela via do avô materno, que faz com que a criança seja identificada com a etnia da mãe. Embora os filhos/as nascidos do casamento entre índios e brancos sejam considerados “misturados”, a “parte indígena” desse corpo é dada pela linha materna, contrariando o princípio de descendência. Isso tem causado uma tensão com os tios maternos, pois segundo a tradição seriam eles os únicos a terem o direito da transmissão do sib. A preferência das mulheres pelos brancos também tem sido foco de tensão não só em relação ao irmão materno, mas de maneira geral, pois os homens indígenas se queixam que os brancos “roubam” suas mulheres, uma vez que o casamento entre um índio e uma mulher branca é escasso.
Para a autora, esse ponto ao redor da identidade dos filhos “misturados” reforça sua hipótese de que o enlace com um branco dá a mulher uma oportunidade de se recolocar no sistema indígena de relações sociais. Pois, além de dotá-la de recursos que a permitem ajudar os parentes, esse casamento cria uma situação favorável para que ela transmita aos filhos o nome de seus antepassados com a conivência de seu pai ou de outro homem de seu sib. Assim, o casamento com um homem branco permite a mulher indígena uma posição relevante em meio a ambigüidade social da cidade, pois ela indica a tensão entre a reprodução da identidade indígena e a apropriação das capacidades/conhecimentos e bens dos brancos.Para a autora essa pode ser uma explicação do porquê as mães fazem pressão para que as filhas se casem com brancos (Lasmar,2005:245).
Enquanto lia o livro de Lasmar, eu me lembrava do texto de Bourdieu (2006), no qual ele mostra como as transformações pelas quais passam as sociedades camponesas (neste caso, no Béarn, no sudoeste da França) levam a desvantagens dos homens no mercado matrimonial quando as categorias urbanas penetram no campo. Segundo sua análise, as mulheres assimilariam mais rapidamente as transformações culturais vindas da cidade do que os rapazes, nesse sentido, eles seriam desvalorizados diante da visão de suas potenciais esposas, pois não sabem lidar com os padrões valorizados por uma nova “economia política” do casamento, ficando solteiros.
Assim, fica a questão: a partir de uma imagética de gênero, seriam as mulheres em diferentes sistemas sociais, nos quais a reprodução social como reposição de hierarquias implica na produção da diferença sexual, os sujeitos mais propensos a redefini-los? Essa pergunta me remeteu a quão diferente seriam os resultados da pesquisa de Lasmar, se retomássemos o debate da antropologia feminista da década de 1970, no qual havia um certo consenso sobre a subordinação universal das mulheres. De maneira similar a Strathern (2006), Lasmar trabalha com gênero como metáfora de categorias socio-cosmológicas mais gerais, permitindo conhecer, dentro de um grupo específico, como se arranjam as práticas e as idéias em torno dos sexos e dos objetos sexuados.
Nesse sentido, a categoria gênero não seria de ordem analítica e sim empírica, como uma categoria de diferenciação que não se reduz à diferenciação sexual/corporal de pessoas e sim como motivação empírica para o engendramento de sistemas simbólicos. A escolha dessa noção de gênero permitiu à autora apreender como a diferença sexual dá significado ao vivido a partir de categorias coletivas e suas transformações.
Essa escolha teórico-metodológica permitiu a Lasmar investigar as transformações sociais a partir de cosmologias produzidas pelos grupos da região do Uaupés e possibilitou, ainda, descortinar as questões de gênero a partir da agência dos sujeitos. Ao desmitificar generalizações pouco explicativas sobre a subordinação feminina ou outras, como a suposta “fixidez” e “subordinação” das “sociedades tradicionais”, a pesquisa da autora abre perspectivas para entender a natureza dessas transformações. Porque embora as mulheres invertam a orientação sexual do sistema de descendência, elas o fazem a partir das bases da socialidade ribeirinha, que guarda proximidade com a discussão que fiz a respeito dos grupos ameríndios, ou seja, essa inversão está informada pela lógica da diferença como marcação social entre os grupos (entre índios e brancos), bem como a identidade entre co-residentes (as transformações no modo de vida).
Lasmar explora a experiência das mulheres indígenas na cidade e sua preferência pelos homens brancos, ressaltando as transformações no sistema de relações entre índios e brancos e a capacidade de agência das mulheres. No entanto, a questão da violência de gênero é retomada de maneira menos sistematizada. A autora aponta que uma de suas motivações para construir seu objeto de pesquisa foi o convite do Instituto Socioambiental (ISA) para realizar uma pesquisa entre as mulheres indígenas residentes em São Gabriel da Cachoeira vítimas de violência sexual praticada, em sua maioria, por militares brancos na cidade. Logo, ela percebeu que a relação entre homens brancos e mulheres indígenas não se explicava somente a partir de episódios de violência, mas também em encontros sexuais consentidos, namoro e casamento. Nesse sentido, seria preciso apreender a experiência feminina na cidade e suas relações com os brancos também como potenciais parceiros sexuais e/ou maridos dessas mulheres (Lasmar, 2004:25-26).
Se as mulheres são responsabilizadas na maioria das explicações sobre os episódios de violência, esse entendimento passa pela culpabilização ou punição dessas por relações sexuais ilícitas presentes no mito e no discurso dos índios. Bem como, pela visão das moças do bairro da Praia, sugerindo que o comportamento das jovens indígenas recém-chegadas à cidade as torna mais expostas a esse tipo de situação, pois ainda seriam ingênuas e não saberiam viver na cidade. Além disso, é recorrente a explicação de que grande parte das mulheres usa plantas afrodisíacas para deixar os homens de “cabeça fraca” fazendo-os agir como “loucos” (Id. ib.:204).
O/a leitor/a poderia ter uma visão ampliada sobre os episódios de violência, caso o texto disponibilizasse mais informações a respeito dos sujeitos envolvidos e como eles se envolvem neles. A partir da visão das moças do bairro da Praia, a autora afirma que as mulheres indígenas recém-chegadas à cidade (consideradas por aquelas “as meninas do sítio”) estão mais vulneráveis a esses acontecimentos, mas o que pensam as moças do sítio? Outras questões permearam minha leitura: caso as mulheres se casem, deixam de estar vulneráveis a situações de violência sexual/de gênero?As mulheres casadas estão vulneráveis? De que modo? Como são coletados os dados sobre violência sexual e de gênero? Há denúncias por parte das mulheres indígenas? Como entender a complexidade desses sofrimentos marcados por gênero?
O livro de Lasmar deve ser lido por antropólogos/as e estudantes de ciências sociais em geral, porque sem dúvida traz contribuições relevantes, além de ser leitura instigante e trazer ótimas sínteses teóricas sobre parentesco e grupos ameríndios. Para os/as profissionais e estudiosos/as da área de etnologia indígena brasileira e ameríndia a leitura é fundamental, pois a autora não é herdeira da antropologia feminista dos anos 1970, que ligou automaticamente o antagonismo sexual à dominação masculina, influenciando muitos americanistas. Para a área de teoria feminista e de gênero vale a pena conferir como a autora trabalhou com gênero de modo criativo e inovador.
Referências
BOURDIEU, Pierre. O camponês e seu corpo. Revista de Sociologia e Política, número 26, UFPR, 2006. [ Links ]
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Os mortos e os outros: uma análise do sistema funerário e da noção de pessoa entre os índios Krahó. São Paulo, Hucitec, 1978. [ Links ]
OVERING, Joana Kaplan. Endogamy and the marriage alliance: a note on continuity in kindred-based groups. Man, vol. 8, nº 4, dec. 1973. [ Links ]
RIVIÈRE, Peter. The amerindianization of descent and affinity. L’Homme, avril-décembre-XXXIII, 1993. [ Links ]
SCHNEIDER, David M. American kinship. A cultural account. 2ª ed. Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 1980. [ Links ]
SEEGER, Antony; DAMATTA, Roberto; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. In: OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. (org.) Sociedades indígenas e indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro, Marco Zero, 1987. [ Links ]
STRATHERN, Marilyn. After Nature. English Kinship in the late Twentieth Century. Cambridge, Cambridge University Press, 1992. [ Links ]
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O problema da afinidade na Amazônia. In: A inconstância da alma selvagem. São Paulo, Cosac Naify, 2002a. [ Links ]
__________. Atualização e contra-efetuação virtual: o processo do parentesco. In: A inconstância da alma selvagem. São Paulo, Cosac Naify, 2002b. [ Links ]
Notas
1 Na região do Alto Rio Negro podem ser encontradas mais de 17 etnias indígenas diferentes. No entanto, a autora opta por trabalhar com as categorias pan-étnicas de índio e branco, pois são estes os termos articulados no discurso nativo.
2 O sib é o termo norte-americano equivalente às linhagens dos grupos exógamos.
3 Esses antropólogos/as não têm uma produção homogênea – quero dizer que eles estabelecem diálogos críticos uns com os outros em busca de uma abordagem teórico-metodológica mais apropriada para tratar a relevância da afinidade nas terras baixas da América do Sul.
4 Overing (1973) também aponta a importância da convivencialidade como estratégia para consaguinizar os afins.
5 Agradeço ao professor Mauro Almeida por seus comentários inspiradores na disciplina de Parentesco e Redes Sociais.
Carolina Branco de Castro Ferreira – Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – área de gênero -, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unicamp. E-mail: [email protected].
[MLPDB]
História & gênero | Andréa Lisly Gonçalves
Debater gênero e história na contemporaneidade tem sido tema recorrente na historiografia. Levando em consideração a evidência do tema, a historiadora Andréa Lisly Gonçalves lançou em 2006 o livro História & gênero. Na obra a autora objetivou debater gênero com base numa perspectiva histórica das relações de gênero, como o próprio título denota. O livro divide-se em três capítulos, que são analisados nas na sequência.
Militância feminista
O primeiro capítulo adentra o século XVIII apontando a Convenção de Sêneca Falls como simbólica na militância feminista. A autora aponta o século XIX como um momento de mobilizações em relação às “questões femininas” quando da ocorrência da Revolução Francesa, que influenciou na prática da escrita, permitindo a emergência de mulheres escritoras. Leia Mais
Linguagem e gênero no trabalho, na mídia e em outros contextos – HEBERLE et al (CP)
HEBERLE, Viviane M.; OSTERMANN, Ana C.; FIGUEIREDO, Débora de C. (orgs.). Linguagem e gênero no trabalho, na mídia e em outros contextos. Florianópolis, Editora da UFSC, 2006. Resenha de: ANDRADE, Daniela. Linguagem e gênero. Cadernos Pagu, Campinas, n. 32, Jul./Dez. 2009.
Linguagem e gênero no trabalho, na mídia e em outros Contextos, organizado pelas pesquisadoras Viviane Maria Heberle, Ana Cristina Ostermann e Débora de Carvalho Figueiredo representa um passo importante em direção à sistematização dos estudos de gênero social no país. É visível o avanço do número de pesquisadores e pesquisadoras do meio acadêmico brasileiro interessados/as na complexidade das questões que envolvem esse assunto. Pode-se chegar a tal constatação, por exemplo, através de uma simples pesquisa ao Sistema de Currículos Lattes, disponível virtualmente na Internet. Periódicos especializados na publicação de artigos científicos nessa área (o próprio cadernos pagu), bem como a organização de encontros acadêmicos (o encontro bienal Fazendo Gênero, por exemplo) também servem de parâmetros para essas medidas.
Contudo, a certeza de que grandes esforços ainda devem ser feitos com vistas a consolidar a importância social das pesquisas científicas voltadas para os estudos de gênero, inclusive de forma a despertar o interesse dos órgãos reguladores de fomento à pesquisa no Brasil, é ponto pacífico entre os/as intelectuais da área. Embora as organizadoras do livro reconheçam a importância de estudos anteriores que abordam a questão da linguagem e gênero, o lançamento desse volume, segundo elas, vem “preencher uma lacuna” ao propor um trabalho específico de interface entre estudos linguísticos/ discursivos e de gênero social, que tem, inclusive, o anseio de se tornar o primeiro de uma série. Nesse sentido, a obra tem muito a dizer sobre as implicâncias que pesquisas dessa ordem podem representar, em termos de mudanças paradigmais, para a sociedade brasileira.
Tais mudanças estão perpassadas pela perspectiva de gênero adotada pelas autoras que compõem o livro. Se por um lado, a concepção de linguagem/discurso é variada e atende a diferentes abordagens teóricas, por outro, a concepção de gênero age como uma força centrífuga que faz com que leitores e leitoras tenham a sensação de estarem diante de uma unidade coesa de pensamentos. Nesse caso, gênero é entendido como uma “categoria socialmente construída, diferenciada da oposição biológica macho/fêmea” (p. 9).
Entretanto, ao afastarem-se da visão essencializada de gênero, segundo a qual, entre outras coisas, a fala de homens e mulheres está fadada à diferença, os autores e as autoras demonstram estarem atentos/as para o fato de que homens e mulheres, ao se construírem linguisticamente dentro de um gênero, aproximam-se ou afastam-se, em maior ou menor grau, dos padrões que se convencionaram como a fala masculina e a fala feminina. A orientação dos pesquisadores e pesquisadoras, tanto para o princípio flutuante que a categoria gênero social assume nos textos orais e escritos analisados, quanto para o entendimento de que a diversidade da fala/discurso de homens e mulheres em contextos socioculturais, algumas vezes, é “objeto de resistência ou de contestação” (p. 9), é o fio condutor dos artigos selecionados para esse volume, que está dividido em três partes: Parte I – Gênero, interação e trabalho, Parte II – Gênero e mídia e Parte III – Gênero em ambientes diversos.
Os estudos selecionados para a Parte I, embora plurais em suas abordagens, metodologias e formas de apresentação de resultados, propõem descrever, numa perspectiva de análise qualitativa, as construções lingüísticas das quais as participantes investigadas (nesse caso, os quatro artigos tratam de interações provenientes de mulheres) se valem para desempenhar suas funções profissionais ou para relatar suas trajetórias profissionais. Um dos estudos apresentados (“Comunidades de Prática: Gênero, Trabalho E Face”, Ana Cristina Ostermann) opera no sentido de desmistificar o conhecimento baseado no senso comum de que mulheres são mais adequadas para atenderem outras mulheres. Essa discussão parece ganhar ainda maior relevância quando se sabe que o trabalho apresenta resultados de análises de interações realizadas entre mulheres em uma unidade da Delegacia da Mulher. Outro estudo desse bloco (“Imigração e Trabalho: Revendo Estereótipos De Gênero”, Maria do Carmo Leite de Oliveira, Liliana Cabral Bastos e Elizabeth Barroso Lima) também apresenta resultados que apontam para a desconstrução do padrão hegemônico da fala feminina. A partir da análise do relato de uma mulher acerca da sua experiência profissional, as autoras demonstram que a categoria gênero social, longe de ser estática, é flexível e não atende, portanto, a estereótipos de gênero pré-concebidos e naturalizados.
Em direção contrária, os resultados de uma terceira pesquisa (“Ecologia Lingüística E Social De Uma Comunidade Multilíngüe: A Relevância Do Gênero Social”, Neiva Maria Jung) mostram como a linguagem pode ser usada para reforçar padrões de comportamento tidos como tipicamente masculino ou feminino dentro de uma comunidade multilíngüe. A pesquisa mostra, ainda, como o padrão mais ou menos urbano de fala reproduzido, diferenciadamente, por homens/meninos e mulheres/meninas da comunidade estudada tendem a direcioná-los/as para atividades de trabalho diversas. O último artigo da Parte I demonstra em que medida as estratégias discursivas de uma chefe em situação de passagem de cargo para um colega diante dos/as seus/suas antigos/as funcionários/as se aproxima ou se afasta do padrão de fala colaborativo pré-estabelecido como tipicamente feminino (“Estratégias De Manutenção Do Poder De Uma Ex-Chefe Em Uma Reunião Empresarial: Indiretividade E Diretividade Em Atos De Comando, Maria das Graças Dias Pereira).
Na mesma linha dos artigos da Parte I, os artigos que compõem a Parte II – Gênero e Mídia – também operam no sentido de discutir o quanto os discursos midiáticos que remetem à questão de gênero estão engessados em um padrão que enfatiza a hegemonização e não abre espaços para reflexões que estão para além das fronteiras do senso comum. Cada artigo desse bloco enfatiza uma faceta bastante peculiar da relação gênero social e mídia. Um dos estudos contribui para expor o quanto a utilização de recursos midiáticos está numa relação proporcionalmente inversa ao discurso jornalístico, que privilegia a pluralidade de gêneros passíveis de serem vivenciados socialmente – no sentido muito recurso, pouca pluralidade (“‘Falta Homem Até Pra Homem’: A Construção Da Masculinidade Hegemônica No Discurso Midiático, Luiz Paulo da Moita Lopes). Assuntos como a descrição de algumas das características dos discursos que aparecem nos Anúncios Pessoais (APs) de homossexuais nos ambientes impressos (jornais) e virtuais (Internet) (“Comodificação e Homoerotismo”, Leandro Lemes do Prado e Desiree Motta-Roth) e a investigação da recorrência do termo Politicamente Correto (PC) em interdependência com o termo sexismo a partir do banco de língua inglesa Cobuild (“Buscando Significado em um corpus: PC, sexismo e suas inflexões no Banco de Língua Inglesa do Cobuild”, Aleksandra Piasecks-Till) estão presentes nesse bloco. As agendas institucionais dos veículos de comunicação investigados parece ser o vetor que indica a direção desses três trabalhos. Os/as autores/as chamam a atenção para o papel da mídia como reprodutora da ditadura do gênero social e afirmam a necessidade da realização de pesquisas nessa área no sentido de trazer à tona o debate sobre os propósitos institucionais de quem controla o tipo de informação que é consumida, seja por leitores/as, telespectadores/as ou internautas.
O primeiro artigo da Parte III. (“Os discursos públicos sobre o estupro e a construção social de identidades de gênero”, Débora de Carvalho Figueiredo) apresenta uma reflexão sobre o discurso jurídico quando esse é chamado a prestar seu serviço em casos de estupro. A análise aponta para a padronização patriarcal que emerge do discurso jurídico ao demonstrar como as mulheres são, muitas vezes, convocadas a prestar contas de seus “bons ou maus” comportamentos sociais numa escala de valores baseada no senso comum de que “mulheres não direitas” são co-responsáveis pelo ato de violência que sofrem ou sofreram. O segundo artigo (“‘Fala, cachaça!’ Futebol e sociabilidade masculina em bares”, Édison Gastaldo) é resultado de um trabalho etnográfico que investiga a masculinidade compartilhada por consumidores do futebol midiatizado. Sob um viés interacionista, o estudo mostra de que formas a masculinidade é construída por homens que se encontram em bares para assistirem jogos de futebol em companhia uns dos outros. Embora distintos, os dois artigos fazem emergir, cada um a sua forma, as simbologias dos discursos masculinos que se tornam naturalizados.
Na prática, as pesquisas estão a serviço de produzir conhecimento que possa iluminar setores da sociedade, seja na esfera pública seja na esfera privada, em direção à multiplicidade de construções sociais de gênero circulantes na sociedade. Por essa razão, o livro contribui, sobremaneira, para a solidificação do papel dos trabalhos científicos dessa ordem e configura-se leitura obrigatória estudantes de graduação e pós-graduação nas diversas áreas do conhecimento, especialmente Letras e Lingüística.
Daniela Andrade – Mestranda em Linguística Aplicada, Unisinos-RS. E-mail: [email protected].
[MLPDB]
Gender, Discourse, and Desire in Twentieth-Century Brazilian Women’s Literature – FERREIRA-PINTO (REF)
FERREIRA-PINTO, Cristina. Gender, Discourse, and Desire in Twentieth-Century Brazilian Women’s Literature. West Lafayette: Purdue University Press, 2004. 208 p. Resenha de: FÉLIX, Regina R. Sexo-política na literatura brasileira por mulheres. Revista Estudos Feministas v.17 n.2 Florianópolis May/Aug. 2009.
É de fôlego o estudo sobre narrativas escritas por mulheres de Cristina Ferreira-Pinto, seu mais recente trabalho depois do marcante O “Bildungsroman” feminino: quatro exemplos brasileiros (1990). No estudo, a autora enfoca a resposta contraideológica de escritoras. Enfatiza sua contestação em relação aos mitos femininos do cânone literário brasileiro através dos quais o discurso e o desejo masculinista terminaram por desfigurar e silenciar as mulheres. Precedido por uma abrangente crolonogia da atuação da mulher na sociedade brasileira e situação da produção literária de escritoras de 1752 a 2000, o livro é composto de uma introdução, seis capítulos e conclusão. Com trabalhos selecionados de escritoras várias, como Gilka Machado (1893-1980), Lygia Fagundes Telles (1923- ), Helena Parente Cunha (1930- ), Marina Colasanti (1937- ), Lya Luft (1938- ), Sônia Coutinho (1939- ), Myriam Campello (1948- ), Márcia Denser (1949- ) e Marilene Felinto (1957- ), sem deixar de passar pelo crivo de um pertinente elenco de teóricas feministas, o livro trata de questões de gênero no âmbito da individualidade. O âmago do estudo localiza nos discursos da sexualidade e do desejo das mulheres o delinear de sua identidade, que se plasma como literatura.
Na introdução, “A literatura das mulheres como discurso contra-ideológico”, Ferreira-Pinto afirma que há de fato uma tradição de literatura escrita por mulheres, ainda que em maior volume a partir do século XIX e como profissão estabelecida apenas no século XX, embora escritoras que fizeram nome e carreira na linhagem literária brasileira a partir do século XX apareçam como “exceções isoladas e esporádicas”. Ferreira-Pinto credita a Zahidé Lupinacci Muzart e seu imprescíndivel projeto de recuperação da obra de escritoras dos séculos XIX e anteriores a recuperação de tal tradição.
Anterior aos anos 1960, quando a produção literária da mulher se torna contundente na oposição ao patriarcalismo cultural brasileiro, ou “discurso dominate”, a autora assinala, portanto, que já existiam obras que procuravam interferir na hegemonia dos mitos que aprisionaram as mulheres em papéis sociais, papéis estes que limitaram seu desejo em identidades e experiências enfatizadoras apenas da beleza, da juventude e da delicadeza como os atributos definidores da feminilidade. A autora propõe expor como a linguagem poética dos textos que analisa mostra-se expressão tanto de uma realidade que se altera como do discurso sobre esta.
Em “Corpo de mulher, desejo de homem”, do Capítulo 1, a autora ilustra, com a produção literária escrita por homens, aspectos do “discurso dominante” ao qual se refere e o qual parece nortear a resposta das escritoras que analisa. Munida de conhecimento crítico nacional, com Antonio Candido, Dante Moreira Leite e Affonso Romano de Sant’Anna, e internacional, com Doris Sommer, Terry Eagleton, Michel Foucault e David Foster, para citar uns poucos, Ferreira-Pinto expõe celebrados mitos da literatura romântica e realista através de análises aptas. Mostra, por exemplo, como Iracema reúne em si a carga de papéis femininos como Eva, Maria e Pietá, com suas conotações de sensualidade e submissão, porém etnicamente marcada por sua origem indígena. Nas tramas de Memórias de um sargento de milícias, a autora apresenta a ideologia heterossexual voltada ao casamento e à reprodução como normas e o comportamento desviante da personagem Vidinha – mulata sensual – como a baliza que sugere a ordem social como tal. Dialogando com a celebrada análise de Antonio Candido, que nos deu a “Dialética da malandragem” entre a ordem e a desordem, Ferreira-Pinto sugere a dialética que, de um lado, coloca a mulher doméstica e, de outro, a mulher pública, dicotomia esta formada por uma dialética conceitual entre raça e sexualidade que, enfim, nos legou aquilo que a autora ironicamente denomina como o mito da “mulata cordial”. Rita Baiana d’O cortiço, claro, é mencionada como outro exemplo desse tipo, ao lado de outros estereótipos que servem de contraponto entre si: a lésbica Pombinha, a prostituta Leónie, as ninfomaníacas Estela e Leocádia, as reprodutoras Augusta e Piedade. Finalmente, considera as personagens de Machado de Assis aparentes ideais de feminilidade, mas de uma complexidade ímpar na literatura da época. As personagens, ainda assim, em seu julgamento, seguem os ditames das normas da vida doméstica, dentro do casamento e da vida urbana burguesa cujo alvo é a ascensão social.
No Capítulo 2, Ferreira-Pinto inicia o contra-discurso das mulheres, como propõe o título “Escritoras brasileiras: a busca de um discurso erótico”. Após uma introdução que discute os trabalhos de escritoras do século XIX como pano de fundo, a autora mostra que Gilka Machado supera o comportamento “subserviente ao desejo masculino”, pois expressa, em seu texto, os anseios do corpo da mulher. Ferreira-Pinto comenta que grande parte da crítica que se debruça sobre os estudos de gênero na literatura considera a obra de Gilka Machado como aquela que inaugura a Erótica que a autora focaliza entre as escritoras selecionadas para seu estudo. Usando elementos teóricos de críticas como Hélène Cixous, Luce Irigaray e Teresa de Lauretis, a autora dá vivacidade à temática da escritora carioca e nos revela uma criadora forte e contemporânea. Uma discussão que procura situar o discurso erótico feminino – distinguindo-o do texto pornográfico e do eroticismo pronunciado por personagens mulheres em textos escritos por homens, que terminam por endossar a “ideologia dominante masculinista” – é seguida da análise do erotismo como uma forma de reestruturar a identidade das protagonistas em A mulher no espelho, de Helena Parente Cunha, e em As mulheres de Tijucopapo, de Marilene Felinto. A autora procede a uma análise minuciosa desses textos, tendo como ponto de vista fundamental o fato de que os trabalhos opõem a pulsão do desejo do macho adulto branco, que por muito tempo embasou as relações sociais no Brasil, ao menos no âmbito das elites.
As obras Quarto fechado, de Lya Luft, e As horas nuas, de Lygia Fagundes Telles, são enfocadas no Capítulo 3, “A representação do corpo feminino e o desejo: o gótico, o fantástico e o grotesco”. Nesse capítulo, Ferreira-Pinto envereda por uma visão inovadora das obras, quando considera os gêneros gótico, fantástico e grotesco como uma estratégia através da qual as escritoras comunicam o constrangimento e o deslocamento das protagonistas diante do ambiente patriarcal que as cerca e ainda cerceia. Outro tema crescentemente relevante, mas explorado há apenas poucas décadas, especialmente como atributo crucial da feminilidade, compõe o Capítulo 4, “O conto de Sônia Coutinho: o envelhecimento e o corpo da mulher”. A autora do estudo mostra como Coutinho expressa a decepção da protagonista quando esta verifica, surpresa, sua inabilidade de seduzir homens, quando percebe que os cosméticos não trarão de volta a beleza perdida com os anos e o fato consequente de que, para a mulher, o tornar-se idosa significa um progressivo descrédito como pessoa por causa da perda gradual de seu apelo sexual, também por não mais possuir a capacidade reprodutora. Ao mesmo tempo, o texto de Coutinho sugere que a fruição plena da sexualidade da mulher é possível apenas se ela transcender os mitos de feminilidade apresentados a ela como o curso natural das coisas pelo “discurso dominante”. Só assim pode a mulher se desvencilhar dos parâmetros de adequação, segundo os quais teria que “agir de acordo com sua idade”, e então ser livre para viver, sem as imposições que limitam sua existência a papéis prescritos por outrem.
No Capítulo 5, “O conto brasileiro contemporâneo escrito por mulheres: o desejo lésbico”, após oferecer um histórico que mostra o modo como a homossexualidade masculina e a feminina foram constituídas pelo discurso das instituições normativas, estando entre estas principalmente a Igreja, a autora mostra como diferentes teóricos (David Foster, Gloria Anzaldúa, Ronaldo Vainfas, Luís Mott, entre outros) trataram o assunto e como os temas queer foram expressos na literatura brasileira do século XX. Trabalhos de Edla Van Steen, Sônia Coutinho, Lygia Fagundes Telles, Myriam Campello e Márcia Denser são analisados tendo-se em conta a diversidade com que tratam do desejo lésbico, um espaço de transgressão e agência da mulher que desse modo se afirma livre como sujeito.
“Os trabalhos de Márcia Denser e Marina Colasanti: a agência feminina e a heterossexualidade” mostra que, mesmo apresentando protagonistas heterossexuais, as escritoras que o Capítulo 6 analisa assumem, muita vez, uma posição de confronto visà-vis ao patriarcalismo, o que as alinha politicamente com as escritoras que se expressam através do desejo lésbico. Com sua “ficção sexual”, para além da dicotomia entre erótico e pornográfico, Denser, segundo a autora, desestabiliza as convenções de gênero, assim promovendo a afirmação da sexualidade da protagonista, que demonstra um grande apetite sexual, o que não é comumente caracterizado como atributo de mulher “de bem” na literatura. Colasanti, por seu turno, se expressa através de um “erotismo do corpo” que afirma a mulher como tal – sem o costumeiro pejo com que somos ensinadas a disfarçar funções orgânicas. Ferreira-Pinto observa que, não se atendo ao lirismo e usando termos considerados de baixo calão, Colasanti se apodera das palavras usualmente pronunciadas pelos homens e, paradoxalmente, afirma a agência da mulher.
Na Conclusão, “Escritoras brasileiras no novo milênio”, Ferreira-Pinto reitera sua observação de que, sendo a sexualidade aquilo que define a identidade da pessoa, o desejo (erótico, homossexual, heterossexual etc.), que necessariamente expressa tal sexualidade, aborda de frente o princípio criativo das escritoras. Desse modo, o desejo que se faz texto expressa a identidade ou posição da escritora – poderíamos denominar tal posicionamento sua sexo–política -, seguindo a vereda aberta pelo importante estudo de Kate Millett, o clássico Sexual Politics?
Como fica claro, este é um estudo que, embora panorâmico, utiliza um bom arsenal teórico para examinar algumas de nossas melhores escritoras. Em inglês, é ao mesmo tempo uma imprescindível apresentação das escritoras no âmbito de Women’s Studies na literatura brasileira e um estudo bastante útil nas salas de aula no campo Brazilian Studies dos Estados Unidos, onde tais análises são escassas, mas muito necessárias. No sentido de instigar Brazilianistas ainda mais em relação ao assunto, no entanto, teria sido interessante ver esmiuçadas algumas generalizações no decorrer do texto (“o discurso dominante masculinista”, “a mulher”, “a sociedade brasileira patriarcal e eurocêntrica”, “algumas mudanças sociais e políticas importantes [a partir de 1970]” etc.) e ter obtido um tratamento mais complexo à relação, central no estudo, entre sexualidade, desejo, identidade e formação discursiva, pontos que, embora sejam apresentados como subentendidos a estudiosos do assunto, por isso mesmo detêm, na chance única que a publicação do livro apresenta, a consideração de novos prismas na revisitação de velhos problemas.
Regina R. Félix – University of North Carolina Wilmington.
Gênero e artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura material – São Paulo, 1870-1920 – CARVALHO (REF)
CARVALHO, Vânia Carneiro de. Gênero e artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura material – São Paulo, 1870-1920. São Paulo: Edusp; Fapesp, 2008. 368 p. Resenha de: MELLO, Soraia Carolina. Gênero, artefato e a constituição do lar: o caso paulistano. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v.17 n.1 Jan./Apr. 2009.
Não é novidade, nos estudos historiográficos, a utilização da cultura material como ferramenta para se acessar, observar, analisar e inferir o passado. Também não é novidade a preocupação das ciências humanas com o ambiente doméstico quando seu foco de análise é o cotidiano, e, com o boom dos estudos sobre mulheres e gênero, fica complicado ignorar a feminização dessas esferas, sugerida como natural.
Dialogando com esses aspectos, o trabalho de Vânia Carneiro de Carvalho nos traz, por meio de uma escrita leve e delicada – ainda que densa –, o que aparentemente seria uma história da formação e do estabelecimento do gosto por decoração e consumo da incipiente burguesia paulistana. De fato seu livro faz essa história, associando fortemente hábitos de consumo com esforços de distinção de uma classe que, ainda que possa ser enquadrada no que se entende como classe dominante, não é filha de fortes tradições de demonstrações públicas de status.1 Entretanto, durante a leitura percebemos que a escolha das fontes, da teoria e da metodologia no trabalho levar-nos-á por outros caminhos.
Adaptação de tese de doutorado defendida em 2001 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP), a obra faz uso da cultura material para além de análises clássicas dos artefatos: seja em seu aspecto puramente funcional, como reflexo de questões maiores alheias aos objetos, ou mesmo com relação à pura e simples representação de status. Acompanhando preocupações atuais no campo, a autora trabalha com o que pode ser chamada de “agência dos artefatos”, sua capacidade de produzir efeitos; de não apenas moldar as pessoas, mas ser parte integrante e necessária de sua constituição. E logo no prefácio se apresenta de forma clara o foco dessa análise: “o relacionamento simbiótico entre objetos domésticos e formação de identidades sociais diferenciadas pelo gênero”,2 lembrando que “tão-só existe objeto para um sujeito”.3
Ao mesmo tempo que a análise dialoga com teorias pós-estruturalistas ou pós-modernas, que podem ser observadas de forma mais marcada não apenas nas análises de gênero (sempre destacando seu aspecto relacional), mas também em preocupações com a corporalidade e a constituição do sujeito de forma mais ampla, a história social, tão forte no Departamento de História da USP, também mostra seu lugar na obra, que parece ser um resultado interessante de uma espécie de “meio-caminho” entre história cultural e social. Sua ampla gama de fontes assim como a interdisciplinaridade – fazendo uso principalmente do urbanismo – vêm nos lembrar disso em vários momentos da leitura, assim como a análise que muitas vezes parece oscilar entre um extremo e outro dessas vertentes.
Dividindo a obra em cinco capítulos, a autora lança um dos aportes de sua análise em “Ações centrípetas e centrífugas: individualidades sexuadas”. Nesse primeiro capítulo, ela diferencia as ações centrípetas masculinas das ações centrífugas femininas. As primeiras definiriam
objetos que “buscam” o centro, no qual se encontra a figura substantiva do homem. Há, portanto, uma hierarquia centralizadora entre pessoas e objetos, na qual os atributos dos objetos nunca sobrepujam o homem, ao contrário, eles servem para desenhar a personalidade de gênero de maneira individualizadora […] (p. 43).
Assim, a masculinidade estaria voltada para a máxima individualização, enquanto a feminilidade estaria no seu oposto, em um fenômeno de despersonalização feminina no qual a mulher estaria em harmonia, de alguma forma fundida, camuflada no ambiente – doméstico – que a rodeia. Nesse sentido, a ação centrífuga feminina significaria “uma forma abrangente e difusa de produção de representações femininas no espaço doméstico, [que] inclui ativamente o corpo na constituição de sua identidade. O resultado disso é uma continuidade entre corpo, objeto e espaço da casa […]” (p. 224).4 Dessa forma, a individualidade da mulher estaria limitada à individualidade da família que ela representa.
No segundo capítulo, “Espaços e representações de gênero: um campo operatório”, descrevem-se os diferentes cômodos de um sobrado ou palacete paulistano da virada do século XIX para o XX, de forma a mostrar, a partir de objetos, fotografias e recomendações de decoração em publicidade e artigos de revistas femininas, a generificação dos ambientes. Sóbrios e confortáveis, de tradição inglesa, os ambientes masculinos como a sala de jantar, o hall e em última instância o escritório se opõem aos ambientes femininos, que copiam a exuberância da decoração francesa, como a sala de visitas e o quarto feminino. A autora ressalta que essa espécie de divisão por gênero da casa não significava necessariamente a limitação de circulação das pessoas pelos espaços, estando muito mais ligada aos valores que se intentava associar a um ou outro ambiente.
Nesse momento da leitura nos surpreendemos com nosso olhar do presente, tão acostumado a buscar pela cozinha quando se fala em ambientes femininos. Diferentemente do que se podia observar nos lares norte-americanos, onde o emprego doméstico não era tão acessível, a cozinha era, no Brasil, um espaço da criadagem no qual não havia interesse em se investir. Isso inclusive devido à herança colonial de desvalorização do trabalho manual, a qual fazia com que as mulheres brasileiras abastadas se dedicassem a bordados e pinturas (além de filantropia, visitas a lojas e cafés, teatros; consumo de uma forma mais ampla), trabalhos considerados artísticos que não as associariam com ex-escravas ou mestiças empobrecidas. Assim, enquanto as mulheres burguesas norte-americanas já consumiam de forma ampla eletrodomésticos variados a fim de amenizar sua difícil função de cuidar de todo o trabalho doméstico sozinhas, a dita modernização da cozinha paulistana se deu muito mais por pressões médico-higienistas e, no caso específico do fogão a gás, por interesses econômicos de uma multinacional distribuidora de energia, como a autora vem tratar nos últimos capítulos.
A corporalidade e sua constituição voltada, reciprocamente, à cultura material são o foco expresso do Capítulo 3: “Representações e ações corporais: a ubiqüidade do gênero”. Por meio de vestígios de formas de descrever, olhar, comer ou sentar-se, a autora busca a construção de subjetividades e a concepção do sujeito dentro de uma visão de mundo muito embasada no romantismo. É o momento do livro em que a literatura como fonte histórica aparece com mais força, a partir de José de Alencar e Machado de Assis. É um momento interessante também para reparar como, na busca por representações e modos de vida fortemente calcados na simbologia, o cotidiano possa ser encontrado na formalidade, quer dizer, observando-se pessoas educadas segundo modos europeus, treinadas desde muito cedo pela etiqueta e envolvidas de forma profunda na autorreflexão, a pose para um retrato, por exemplo, não é uma representação absolutamente ímpar ao cotidiano, digamos assim, real, ainda que o acontecimento de se posar para o retrato não seja regular. Os modos de se mover, de agir, a postura, o olhar, treinados e educados, fortemente generificados, são parte constituinte do sujeito. O olhar da autora sobre o disciplinamento dos corpos no mundo urbano parece ser guiado por Richard Sennett5 e, principalmente, por Michel Foucault.6
Apesar de a pesquisa se concentrar em um grupo social específico, a burguesia paulistana em um recorte temporal também específico, de 1870 a 1920, os documentos mostram que as recomendações sobre moral e costumes, mesmo dentro dessa espécie de micro-cosmo, não eram unívocas. Em oposição à vida de vitrine das conquistas do provedor, fosse ele marido ou pai, levantam-se vozes que clamam pela necessidade de permanência da mulher na casa, onde seria seu lugar natural. Somente em casa ela seria capaz de desempenhar seu verdadeiro papel, muito mais importante que os compromissos sociais com filantropia, nos cafés ou jogos de tênis: zelar pela felicidade familiar. No Capítulo 4, “Casa VERSUS rua: a conspicuidade feminina e o trabalho doméstico”, a autora nos traz descrições da rotina doméstica das mulheres burguesas, percebendo variações no que seria um padrão de comportamento aceitável para essas mulheres.
Já no século XX parece que a racionalização da rotina doméstica ganha muita força em São Paulo, e a figura da esposa burguesa asseada em oposição à esposa colonial preguiçosa é marcante. A tradição colonial é desprezada como barbárie, e a higiene vira ponto forte de preocupação dentro dos lares. Seguindo toda a onda higienista, que tenta resolver os problemas de saúde dos grandes aglomerados urbanos, a decoração das casas começa a sofrer grandes modificações, uma vez que as cortinas pesadas, que não permitiam que o ar circulasse, e a grande quantidade de objetos de decoração dos mais variados, que facilitavam em muito o acúmulo de pó, não eram condizentes com as recomendações médicas. Nessa época, também a cozinha começa a ganhar alguma atenção, em comparação com consultórios médicos. Seu piso de terra batida é substituído por azulejos, assim como todas as superfícies que devem ser de fácil desinfecção; os panos agora são pendurados em ganchos; os alimentos são acondicionados segundo rígidas regras de higiene etc. A cozinha passa a ser entendida como o “laboratório da família”, e cuidados nesse ambiente são então indispensáveis para que a saúde e a felicidade possam estar presentes nos lares. Claro que as mudanças não ocorrem simultaneamente em todas as casas, que eram também diferentes entre si. Como todos os padrões de conduta, essas mudanças fazem parte de um padrão. Porém, é interessante observar como em revistas femininas encontram-se recomendações inclusive para as classes ditas remediadas e desfavorecidas, lembrando que o conforto de quem não tem luxo seriam a ordem e a limpeza.
No Capítulo 5, que finaliza o livro, “A felicidade como conforto: bem-estar, domesticidade e gênero”, a autora se volta para os lares não abastados com maior ênfase, e também insiste no que pode ser considerada uma das hipóteses centrais de sua pesquisa: a decoração, a criação de ambientes no lar que transmitam efeitos opostos à vida dura e competitiva na rua, existe para o homem, não para a mulher(!). Questionando o privado como reino da mulher, Vânia Carneiro de Carvalho nos lembra de que o homem não somente se socializa no lar, como a própria constituição do lar como espaço de conforto e paz, de santuário alheio ao competitivo e bruto “mundo lá fora”, existe para servir ao homem. Todo o esforço dessas mulheres abastadas para decorar suas casas, a fim de que nos mínimos detalhes o espaço transmita o que a autora chama de conforto visual, faz parte do papel social e culturalmente designado a essas mulheres como mediadoras.
Dessa forma, levanta-se outra questão de suma importância que é o fato de que a decoração, que faz parte de todo o empenho mediador das mulheres na busca pela produção de felicidade familiar, é parte do trabalho doméstico. E no caso das mulheres observadas nas fontes, é a principal parte. É importante ressaltar esse fator porque as análises muitas vezes não consideram as mulheres abastadas como responsáveis pelo trabalho doméstico, uma vez que são empregadas e empregados que executam esse trabalho em suas casas. Porém, a responsabilidade7 pelo bom andamento do trabalho, pelo perfeito funcionamento do lar, assim como a preparação de eventos importantes para seu meio social (como no caso dos jantares) recaem sobre essas mulheres, que ocupam todo o seu dia com a administração do trabalho dos outros, o consumo e o que hoje chamaríamos de decoração e artesanato.
Falando sobre como as classes médias consumiram mais rapidamente os modelos de decoração mais “limpos” importados dos EUA, por esses serem reproduzidos mais facilmente por seus preços reduzidos, a autora termina o livro nos lembrando do dilema da dona de casa moderna, que precisa se dividir entre os pesados afazeres exigidos pela casa e a boa aparência e delicadeza “necessárias e naturais ao seu sexo”. Apesar de descrições muito interessantes e minuciosas sobre o cotidiano dentro dos lares, alguns pontos de conflito ou dissonâncias como esse poderiam aparecer mais na análise. Não se comenta – ou talvez as referências escolhidas não levantem o tema – sobre mulheres endinheiradas que não se enquadravam muito bem nem como boas donas de casa, nem como consumidoras crônicas. Não se fala em mulheres mais envolvidas com a intelectualidade, ou preocupadas com os direitos civis femininos. Ainda que se comente um pouco sobre as mulheres que trabalhavam como criadas, e um pouco também sobre os lares empobrecidos, em nenhum momento as mulheres de classes ao menos remediadas que trabalhavam, como as que escreviam nas revistas femininas, são citadas (daí talvez o uso comum do termo “mulher” na obra, em vez de “mulheres”). Sua presença e sua relação com os artefatos poderiam enriquecer esse trabalho.
Ainda assim, à sua maneira o livro pode instigar discussões, inclusive atuais, sobre a questão do trabalho doméstico feminino e a associação das mulheres ao espaço privado. Ele também é importante pois nos chama a atenção para a associação das mulheres abastadas com o lar, que muitas vezes é negligenciada por elas não serem “as grandes vítimas dessa situação”, lugar dedicado às mulheres trabalhadoras de dupla ou tripla jornada.
As ricas e numerosas – são 157 – ilustrações do livro nos lembram do cargo ocupado pela autora no Museu Paulista da USP, remetendo-nos à sensação de visita ao museu. A leitura associada às fontes iconográficas parece nos imergir num mundo que, ainda que com referências próximas ao nosso e com preocupações contemporâneas – como é o caso da análise de gênero –, é outro mundo. É como se o livro oferecesse ao/à leitor/a um pouco dos prazeres do ofício de historiador/a, quando encontramos nas fontes uma espécie de pequena janela para espiar do nosso tempo, nunca permitindo anacronismos, mas de maneira apaixonante, esse mundo que deixou vestígios mas não existe mais. Característica comum aos bons livros de história.
Notas
1 Ainda que a questão da ‘falta de tradição’ da burguesia em oposição à aristocracia, nos momentos em que a primeira vem se estabelecendo como classe dominante hegemônica no mundo Ocidental, tenha aspectos profundamente diferenciados no que se refere ao Brasil em comparação à Europa industrializada ou à América do Norte, o fenômeno é de alguma forma comum (p. 220).
2 Ulpiano Toledo Bezerra de MENEZES, 2008, p. 13.
3 MENEZES, 2008, p. 13.
4 Ainda que apresentado no começo do livro, o termo é retomado durante a análise, e essa definição foi retirada do quarto capítulo.
5 Richard SENNETT, 1997.
6 Michel FOUCAULT, 1977.
7 Suely Gomes Costa comenta as responsabilidades das mulheres mais abastadas ao observar como parte dessas responsabilidades pode ser transferida a mulheres contratadas, o que ela chama de “maternidade transferida” (COSTA, 2002).
Referências
COSTA, Suely Gomes. “Proteção social, maternidade transferida e lutas pela saúde reprodutiva”. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 10, n. 2, p. 301-309, 2002. [ Links ]
FOUCAULT, Michel. “Os corpos dóceis”. In: ______. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Rio de Janeiro: Vozes, 1977. p. 125-152. [ Links ]
MENEZES, Ulpiano Toledo Bezerra de. “Prefácio”. In: CARVALHO, Vânia Carneiro de. Gênero e artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura material – São Paulo, 1870-1920. São Paulo: Edusp; Fapesp, 2008. p. 11-14. [ Links ]
SENNETT, Richard. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro: Record, 1997. [ Links ]
Soraia Carolina de Mello – Universidade Federal de Santa Catarina
Shamans of the Foye Tree: Gender, Power and Healing Among Chilean Mapuche – BACIGALUPO (C-RAC)
BACIGALUPO, Ana Mariella. Shamans of the Foye Tree: Gender, Power and Healing Among Chilean Mapuche. Austin: University of Texas Press, 2007. 21p. Resenha de: DILLEHAY, Tom D. Chungara – Revista de Antropología Chilena, Arica, v.40, n.1, p.103-104, jun. 2008.
Ana Mariella Bacigalupo’s Shamans of the Foye Tree: Gender, Power and Healing Among Chilean Mapuche is a descriptively rich and theoretically nuanced ethnographic analysis of Chilean Mapuche shamans or machis. Aimed at a wide audience of scholars and students, Bacigalupo raises critical theoretical questions relevant wherever religion, gender and body politics, spiritual power, and the identity of indigenous people in the nation-state intersect. At a time when the world is focused on efforts to understand religious manipulations of politics, political interpretations of religion, and clashes between political agendas and religions of the world, this book sheds light on the complexities and dynamics of these concerns from the viewpoint of indigenous gender structures and practices. Besides being an illuminating ethnography on Mapuche shamanism, Bacigalupo succeeds greatly in problematizing constructions of gender, spiritual power, health and healing, and race and culture, as politically strategic discourses invoked in discrete religious settings that both replicate and challenge modern formations of subjectivity, personhood, and performance. As indicated in the book’s title, a metaphoric centralizing theme is the foye or cinnamon tree, which serves as a source of symbolic healing and medicinal qualities, as well as a sacred emblem of shamanic authority and ritual performance.
Specifically, Bacigalupo hails the importance of examining the margins of indigenous shamanism in Chile to understand the subjective workings of the state apparatus as it affects the Mapuche and linkages between local and national ideologies. In using conceptual constructs drawn from anthropology and other social sciences, her ultimate objective is not just to understand shaman’s lives but also to understand what women’s and men’s shamanic lives can reveal about the cultural construction of self and about the workings of the wider religious and political system of the Mapuche within the Chilean nation-state. Herein lies an important lesson for anthropologists about the value and relevance of the discipline to understanding wider political processes and to processes of subject formation.
Anthropological attention to processes of subject formation has generated critical observations regarding how these processes change over time and space, doing much to ground and specify the theoretical insights of other fields as well. Scholars have demonstrated how groups of people make and remake themselves through the prisms of race, class, gender, occupation, and ethnicity-categories that have been linked to “culture” in different ways at different historical moments. Set in this context, Bacigalupo explores how the subject formation of biological sex can mask other important issues such as gendered constructions of sexuality and personhood and ruptures in shaman gendered and sexual identities. Bacigalupo’s theoretical departure draws on the works that examine both female and male shaman’s strategy responses to current circumstances within a changing Mapuche society, emphasizing both boundary crossing and production. The most vivid illustration of these dynamics is an examination of the significance of balanced, gender-salient power in traditional and contemporary healing practices based on ancestral worship and spirituality. Bacigalupo’s mapping of this particular case also illustrates how state-making apparatuses can be utilized by indigenous authorities to reinforce and transgress cultural and gender boundaries for achieving similar purposes: economic or political gain and the disruption or reinforcement of structures of traditional authority. In this regard, Bacigalupo is especially intuitive in seeing that the gender divisions of labor and the social position of both men and women have the potential to shape shamanism and its aesthetic and healing values.
Above all, the book is an effort informed by the complementary expertises of Bacigalupo as an ethnographer, ritual practitioner, and historian. The ethnography explores the complex ways in which indigenous cultural traditions interplay with the increased introduction of new and different non-ethnic ideologies, engaging state politics and leading, in some ways, to revitalized shaman renewal ceremonies that have invigorated gender political identities. Bacigalupo, as a historian, documents transformations as a religion oriented toward universal accessibility of shamanic teachings irrespective of gender and political status. And Bacigalupo, as an ethnographer practitioner brings vivid color and accuracy to the healing practices and spiritual beliefs of modern-day Mapuche machis. She demonstrates clearly how region wide patterns of healing authority, grounded already in a shared set of cultural resources, are shaped by responses to shared threats from both inside and outside the indigenous culture. Bacigalupo also points out that Mapuche shamans previously have either been examined in terms of spiritual labors and performers or not given much attention at all. When given attention, most studies have situated shamans within marginalized social settings that convey an artificial boundedness that does not always account for the real life-dynamics of the religious and political geography of shamans and their realistic identities within their own society.
Shamans of the Foye Tree stresses the importance of gendered power relations, which is a neglected topic in Mapuche ethnographies and in shaman studies in general. In this regard, this book represents a significant anthropological contribution to round out a picture of cross-gender shamanism in a modern world. Aside from gender identity and shaman’s sexualities, Bacigalupo deals with machi’s construction of authority in the Chilean neo-liberal state, in which machi are usually typed by the state as sorcerer’s and sexual deviants. But Mapuche healers are therapeutic and political entrepreneurs, often creating social hierarchies of both healing practices and institutionalized personhoods among themselves and others. Coming into view in this study are the new ways in which nationalist politics engage with Mapuche shaman renewal and its encounter with western religious sects, and the ways in which these encounters impact the effort to more strongly assert indigenous gender and occupational (shaman) identity. While not discounting traditionalist tendencies of resistance and revival, Bacigalupo is specifically interested in demonstrating how reaffirmation of practices of shamans has the means through which modernist forms can be adopted by local communities undergoing rapid change. Two of the several major contributions of this book are the insights that Bacigalupo provides into the thinking of some of the shamans who shape their society and into machi perceptions of themselves and of their place in the world. The result is a splendidly rendered ethnography that advances a wealth of informed analysis about specific renewal rituals and gendered power relations while suggesting many insights into the process of gendered shamanistic practices throughout the region.
All in all, this book provides plenty of new data, ideas, and questions for a wide range of scholars and students in studies of shamanism, gender, power and hierarchies, and identity politics. The book is destined to make a wide mark on the field, because of the broader intersection between gender, politics, and religious interaction that is at its core. Shamans of the Foye Tree is a must read for any scholar and student interested in these topics and in South American indigenous groups.
Tom D. Dillehay – Vanderbilt University, Nashville, USA. E-mail: [email protected]
[IF]
Justiça e gênero: uma história da Justiça de menores em Brasília (1960-1990) / Eleonora Z. C. Brito
Nos anos 60 e 70, Michel Foucault abriu uma perspectiva para a leitura das relações de poder, demonstrando que, a partir do século XVIII, uma rede de dispositivos disciplinares objetivou não apenas atuar sobre o sexo, colocando-o “em discurso”, mas também inventou novas formas de apropriação de sentido.
O trabalho de Brito articula a noção de poder do pensador francês não somente pela via da negação de poder como simples repressão; a essa via a autora contrapõe a afirmação de que o poder positiva, diz sim, induz formas de saber e produz discurso. Trata-se, portanto, de um conceito de poder que produz verdades, mais do que as oculta, que constitui regras para o verdadeiro, regras, entre outras, de produção de enunciados e de reconhecimento de seus sujeitos-autores.
Justiça e gênero tem como tônica central o modo como a categoria “menor de idade”, em especial “a menor de idade”, fora lida pela Justiça de Menores no Distrito Federal entre 1960 e 1996 (embora o título estabeleça 1990, a autora nos traz dados atualizados até os meados da década seguinte). Uma leitura que adotou de uma série de estratégias que refletem questões ligadas às relações de poder e gênero, evidenciadas e criticadas pela autora. O trabalho inscreve-se no grupo de estudos de gênero que possuem como ambição desnaturalizar as relações entre homens e mulheres, mostrando-as como construções sociais, históricas e culturais.
Ao analisar os casos indicados nos arquivos do antigo Juizado de Menores de Brasília – um total de cinco mil processos de um universo de cerca de trinta e dois mil –, a autora nos apresenta a história da constituição da justiça voltada ao “menor” infrator, por meio da configuração do Código de Menores, numa clivagem entre Direito e Ciências Médicas, além das teorias assistenciais em voga desde o final do século XIX. Dessa forma, o livro localiza o leitor pelas histórias normativas que procuraram regular a relação entre a infância, a juventude e a Justiça.
Nesse aspecto, Brito indica o caráter ambíguo do Código de Menores de 1927, na medida em que, para esse instrumento legal, o “menor” foi uma criação da tensão entre um sujeito ligado ao perigo, a ser detectado e disciplinado, e o sujeito cuja inocência deveria ser resguardada ou recuperada. A autora apresenta-nos esse “leitmotiv”, intimamente ligado à dimensão punitiva – marca do Direito Penal –, que matizou a questão até 1990, ano da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e mostra-nos como esse sujeito “menor” é destituído de sexo e sofre o apagamento regulador das tensões de gênero.
Enquanto a lei desconsidera o sexo do menor, anulando-o, na prática, por meio das aplicações do Juizado, recupera-se esse sexo “anulado” hierarquizando-o. Para a autora, “antes de ser ‘menor’, a menina é seu corpo, seu sexo de mulher”, como demonstra já de início, a partir da análise do caso de estupro avaliado pelo ministro do Supremo, em que a transgressão não está no ato, mas naquele que transgride – máxima da Escola Positiva de Direito Penal.
Os casos vão surgindo de modo a configurar ora a constituição de uma vítima, ora uma delinqüência, sempre julgada a partir do sexo. Nas questões em que a “menina/mulher” é vítima de crimes sexuais, o que importa é verificar sua índole e não o caso em si. Nesse aspecto, o que os discursos proferidos pelos curadores e juízes instauram é a justificativa da violência como punição social para a “má-conduta” da mulher “devassa”. Impressiona a recorrência de preconceitos tradicionais impostos às menores; constata-se, por exemplo, que, em relação à “menina/mulher”, o crime se associava irremediavelmente à prostituição ainda no final dos anos 80. Sua sexualidade era o foco para onde convergiam essas explicações.
O trabalho nos lembra de que, na lógica das fábulas processuais, não cabia à mulher um papel ativo. Sua defesa só poderia ser constituída diante da evidência de que seu papel de agente passivo do ato estava garantido, de tal modo – mostram-nos os casos narrados –, que, protegida e vigiada pela insígnia do perigo, o respeito à mulher e o crédito de seu relato passavam pelo testemunho do homem adulto. Não são raros, por exemplo, os pareceres que culpam as mães pelas “distrações” das filhas, enquanto ao pai nada cabia senão a vergonha.
O desvio infanto-juvenil, ou seja, sua punibilidade perante a lei, insere-se, portanto, no contexto de certa “estratégia de “governamentalidade” que, por um lado, buscava disciplinar os corpos, e, por outro, objetivava a regulação da população” (p.119). Sobre as questões dos corpos, Brito narra todo um jogo de poder na constituição de uma Medicina Legal, cara às determinações hierárquicas entre homem/mulher, adulto/criança e normal/anormal. Teorias como as divulgadas por Afrânio Peixoto e Nina Rodrigues foram as que deram os contornos do debate sobre a delinqüência no Brasil e, conseqüentemente, sobre a infância e a juventude a serem “protegidas”, objetos preferenciais do saber criminológico.
Tal saber é evidenciado pela autora por meio do estudo de dois laudos solicitados pela Justiça. Um proferido para uma menina e outro, para um menino (os casos de Alice e Mário, independentes, estão entre as comparações mais impressionantes do livro). Os laudos naturalizam os comportamentos, “fixando os que são normais num e noutro sexo e classificando-os no discurso médico” (p.190). O saber médico (legal) respaldava a criação do desvio – ação fora da norma qualificada na patologia clínica –, migrando-o da ordem moral para a clínica. A perícia médica funcionava como uma guardiã da higiene sexual, medicalizando e criminalizando o sexo desviado de sua função procriativa, saudável.
Brito nos mostra como a própria pré-seleção do delito era imposta pelas relações de gênero, na medida em que certas práticas desviantes, na verdade, eram cometidas por meninos e meninas, mas classificadas de modo diverso. O que os pareceres e as sentenças não estavam preparados a permitir eram meninas em situações tidas como preferencialmente masculinas.
Um exemplo é a modalidade “perturbação da ordem”, instituída como um domínio reservado ao masculino, uma vez que corriqueiramente a rua – o espaço público – estava “estabelecida” como tal, enquanto na modalidade “inadaptação familiar” o número de transgressões femininas está “naturalizado”, pois passa-se para a esfera privada. Enfim, analisados e delimitados por critérios específicos a cada época, crianças e adolescentes têm a complexidade de seu “ser no mundo” reduzida a traçados lineares.
Contudo, as regras a que tal linearidade obedecia sofreram mudanças entre os anos 60 e o início dos 90. A autora não comete o erro de planificar os valores nas décadas estudadas.
Está, antes, interessada em como, em momentos distintos, embora próximos, o aparato regulador da “infância” lida com o paradoxo entre uma Justiça que institui para si o peso da modernização moral, ao passo que continua a reconduzir valores tradicionais instituídos às mulheres.
É certo que Brito salienta que as mutações, em muitos aspectos, só renovam alguns padrões de conduta historicamente defendidos. Ignorar que as relações de gênero impõem hierarquizações que estão para além daquelas “admitidas” pela lei – essa mesma viciada em dissimular tais hierarquias, mesmo nos dias atuais – é um alerta premente desse livro. De tal monta que a polêmica que mesmo hoje divide grupos feministas em torno do uso do sistema penal na luta pela defesa e pelo reconhecimento de direitos às mulheres deve ser evidenciada à luz das questões tratadas aqui. A autora põe em questão a eficácia de se acionar o sistema legal em favor da defesa dos direitos das mulheres, discutindo se esta prática, ao contrário, não seria promovedora de um quadro de aprofundamento das relações hierarquizadas de gênero. Pela conduta de sua pesquisa, a autora parece não crer que tal sistema – como ele se apresenta atualmente – seja capaz de garantir equidade.
Em muitos casos, como os próprios processos indicavam, eram famílias interessadas em desvincular-se daquela menor que não mais se adequava ao regime de menina da casa.
Jovens, algumas vezes crianças, trazidas do interior do país para trabalhar como domésticas sem receber salário, num dúbio jogo de exploração e tutela que, em determinado momento, era considerado indesejável. Tal questão mostra que o livro não se presta a maniqueísmos, pois aqui a autora indica como foi importante o papel do Juizado para desvelar esse jogo.
Às mulheres se perdoava, ironia discriminatória que atingia também as jovens de classe média que furtavam no comércio local. Elas eram, geralmente, enquadradas no chamado ‘descuido’, ou seja, na capacidade de pegar e não pagar por mera falta de atenção.
Ao examinar extensa documentação, a autora tomou o cuidado de questionar as determinações de produção, enquadrando-as num contexto histórico localizado, e evidenciou os procedimentos representados pela instituição. Exemplo: nos anos 60 e 70, o juizado de Menores de Brasília não possuía o aparato interdisciplinar de profissionais, previsto em lei, os quais deveriam apoiar as decisões tomadas; nem mesmo contava com instituições “corretivas”. Fatos que influenciavam as decisões e que fizeram muitos processos percorrerem uma cansativa rede burocrática, na esperança de que os problemas externos à demanda judicial fossem resolvidos antes de uma possível sentença.
São todas questões cruciais para quem quer compreender, a partir dos exemplos de Brasília, as determinações legais frente às relações de gênero. A autora não se furta a contextualizar o ambiente em que os documentos são gerados: “Profusão de imagens, Brasília era representada, ao mesmo tempo, como o espaço propício para a manifestação de uma sociabilidade que a fazia mais humana que a maioria das outras cidades (…) e lócus de manifestação do ‘perigo’ representado pela infância e pela juventude ‘desviantes’.”(p.154).
Tal abordagem confere ao livro mais esse atrativo. Além de interessar a estudiosos em gênero, ligados à história ou ao direito, há na pesquisa de Brito uma sutil, mas determinante, consciência do papel que essa “urbe”, tão exótica por sua constituição e história, ocupa na problemática. Brasília e os brasileiros vindos de todas as partes serviram a Brito para o elementar exercício de compreensão daqueles “poderes” que Foucault nos apresentou.
Mateus de Andrade Pacheco – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, com apoio do CNPq.
BRITO, Eleonora Zicari Costa de. Justiça e gênero: uma história da Justiça de menores em Brasília (1960-1990). Brasília: Editora Universidade de Brasília: Finatec, 2007. Resenha de: PACHECO, Mateus de Andrade. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.11, p.172-176, 2007. Acessar publicação original. [IF].
Um outro olhar sobre a escravidão e o gênero no Brasil: Caetana diz não: história de mulheres da sociedade escravista brasileira – GRAHAM (RBH)
GRAHAM, Sandra Lauderdale. Um outro olhar sobre a escravidão e o gênero no Brasil: Caetana diz não: história de mulheres da sociedade escravista brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, 289p. Resenha de: GRAHAM, Sandra Lauderdale. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.26, n.52 , dec. 2006.
A história da cafeicultura no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, tem em Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, o Barão do Pati do Alferes, uma de suas figuras mais representativas. Amparado em sua experiência como proprietário de fazendas e escravos, serviu-se da pena para divulgar seus conhecimentos não apenas de administrador, mas, sobretudo, dos princípios a serem seguidos pelos senhores no governo de seus cativos.
Assim, a partir de junho de 1847, inicia a publicação, no Auxiliador da Indústria Nacional, periódico da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, da qual Werneck era membro destacado, da sua “Memória sobre a fundação de uma fazenda na Província do Rio de Janeiro, sua administração e épocas que se devem fazer as plantações, suas colheitas, etc. etc.”.
Fosse porque a imprevisibilidade da produção agrícola impusesse certa distância entre teoria e prática, fosse porque os tempos já eram outros, o fato é que quando se tratou da administração do legado deixado por sua comadre e tia, D. Inácia Delfina Werneck (1771-1858), o Barão do Pati do Alferes enfrentou uma série de dificuldades. É nesse ponto, muito mais do que na dinâmica dos laços de parentesco que uniam os dois personagens, que se baseia uma das duas histórias reconstituídas por Sandra Lauderdale Graham, em seu livro voltado ao estudo de casos de mulheres da sociedade escravista brasileira.
Solteira e analfabeta, D. Inácia Delfina possuía, por ocasião da feitura de seu testamento, sete escravos, dos quais dois africanos, e três escravas, todas nascidas no Brasil. Além dos cativos, reunia uma soma razoável de recursos em dinheiro e jóias. Nem mesmo o fato de D. Inácia não saber ler ou escrever parece ter surpreendido Sandra Graham, ocupada em reconstituir-lhe a história de vida. Afinal, tratava-se de situação comum a mulheres de igual condição social da mesma geração que D. Inácia, partilhada também por sua irmã, D. Francisca. Inusitado, porém, principalmente ao observador de hoje, foi o fato de a proprietária deixar todos os seus bens a Bernardina e seus cinco filhos. Bernardina fora escrava de D. Inácia, de quem recebera a alforria com a obrigação de servi-la enquanto fosse viva. Dentre outros bens com que era contemplada no testamento, coube a ela dois escravos que a deveriam servir pelo prazo de dois anos, findos os quais, estariam livres.
Seus cinco filhos foram alforriados na pia batismal, e, à época da confecção do testamento, alguns eram menores e outros já haviam alcançado a maioridade. Os bens foram distribuídos desigualmente entre a prole de Bernardina, cabendo, por exemplo, a uma das filhas, Maria, a quantia necessária para quitar o valor de uma escrava que já possuía, de nome Inês. Antes disso, fato incomum, já havia contemplado outra filha de Bernardina, Rosa, com uma escrava de nome Helena.
Dadas as peculiaridades do sistema de herança no Brasil — herdado de Portugal e mantido após a Independência —, que assegurava às mulheres participação na herança deixada pelos pais e maridos, e dada a vigência de relações eminentemente privadas entre senhores e escravos, deixando, pelo menos em princípio, ao arbítrio dos proprietários todas as decisões que dissessem respeito à sua propriedade sobre cativos, a história de D. Inácia não surpreenderia tanto, exceto por instituir como herdeira uma sua ex-escrava.
A decisão, no entanto, assumiu uma série de desdobramentos, decerto não previstos pela testadora, conforme nos mostra Sandra Graham, sendo o principal deles resultado do equívoco na avaliação do montante do espólio. Assim, feitas as doações aos legatários nomeados por D. Inácia, a maioria composta por familiares, o que restou para a liberta Bernardina foram apenas dívidas. Dívidas cuja administração caberia ao primeiro testamenteiro, o Barão do Pati do Alferes. E aqui, não lhe parece ter valido a larga experiência como administrador de terras e escravos, registrada para a posteridade nas páginas do Almanack Laemmert, uma vez que “agiu com discernimento questionável” ao impor à família de Bernardina um contrato de arrendamento de terras exauridas e a preços exorbitantes (p.193).
O leitor desta resenha deve estar se perguntando o que a história de D. Inácia tem em comum com a da escrava Caetana, cuja história, afinal, dá título ao livro, apesar de ocupar menos páginas do que as da filha da aristocracia cafeeira. Deixemos a autora falar: “São histórias diferentes, sem conexão uma com a outra, exceto no importante sentido de que pertenceram à mesma cultura, sociedade e economia gerais — e que as utilizo para iluminá-las” (p.11). E certamente, é nesse ponto que reside uma das principais qualidades da obra. Laura Graham procura, com sucesso, dar conseqüências à afirmação, inúmeras vezes repetida, mas nem sempre levada em conta, de que “história é contexto”. Por isso mesmo, reconstitui minuciosamente os aspectos econômicos, sociais e demográficos de duas importantes regiões cafeeiras, o Município de Vassouras, no Rio de Janeiro, e Rio Claro, em Paraibuna, na Província de São Paulo.
Rio Claro é, assim, o cenário da primeira história narrada, a da escrava crioula Caetana. Tendo como fio condutor da narrativa a recusa de Caetana a partilhar o leito conjugal com seu marido, o também escravo Custódio, Laura Graham aponta como foram complexos os arranjos societários e pessoais que se forjaram no contexto das grandes unidades plantacionistas — ainda que com o emprego do termo não se queira repetir o engano de supor que essas unidades constituíssem verdadeiras autarquias. Tais arranjos se expressavam desde as pretensões do marido legítimo de Caetana a reproduzir, com anuência da família da escrava, uma relação de tipo patriarcal, forçando-a a submeter-se, até as possibilidades encontradas por Caetana em manipular sua condição de escrava doméstica, de mucama das mulheres da família na casa-grande para convencer a seu senhor, Capitão Tolosa, o mesmo que a constrangeu ao casamento, a intermediar sua demanda pela anulação do enlace.
Decisão que o fazendeiro aceita, mas não sem antes consultar um de seus pares, hóspede ocasional em sua casa, Manuel da Cunha de Azeredo Souza Chichorro. Antigo Secretário de Governo de São Paulo que, no cargo, se ocupou de questões como a utilização de homens vadios, malfeitores e vagabundos para estabelecerem povoações no sertão, colaborador da Revista do IHGB, Manuel da Cunha Chichorro o aconselha a atender aos rogos da escrava, mostrando assim que se as decisões dos senhores se circunscreviam ao âmbito privado, elas não correspondiam apenas ao arbítrio ou aos caprichos do proprietário.
O desfecho do pleito de Caetana, intermediado por seu senhor, é conhecido: a Cúria Metropolitana da Bahia recusa-lhe a anulação uma vez que a seu caso não era aplicável nenhuma das disposições canônicas que previam a anulação. Esse resultado decepciona mais o leitor do que a impossibilidade, assumida pela autora, de explicar as razões íntimas ou as menos recônditas, como se queira, que levaram Caetana a rejeitar o “estado de casada”. Isso porque Laura Graham se preocupa o tempo todo — e essa é outra característica positiva do trabalho — em formular hipóteses consistentes, numa espécie de ‘maiêutica socrática’ muito mais esclarecedora do que se fossem dadas respostas definitivas.
Um outro aspecto a ressaltar é o de que a perspectiva adotada é a da história de gênero, o que justifica o fato de personagens masculinos ocuparem papel proeminente na reconstituição das tramas. A preocupação central, portanto — apesar de o subtítulo informar que se trata de “Histórias de mulheres da sociedade escravista” —, é com a análise relacional, realçando a instabilidade dos papéis sociais assumidos por homens e mulheres no Brasil escravista.
Em meio a temas abrangentes — como organização da Guarda Nacional, atuação dos juízes de Paz, laços de compadrio, família escrava, recolhimentos no Brasil, rebeliões de escravos, sistema de herança, alianças matrimoniais, ilegitimidade, irmandades religiosas, Revolução Liberal de 1842 e declínio da cafeicultura no Vale do Paraíba no Rio de Janeiro a partir da experiência concreta de um fazendeiro —, Laura Graham desvenda a interação entre as histórias de Caetana, Chichorro, Tolosa, D. Inácia, Bernardina e seus filhos e o Barão do Pati do Alferes.
Caetana diz não foi lançado nos Estados Unidos três anos antes de a tradução vir a público no Brasil (Caetana says no: women’s stories from a Brazilian slave society. New York: Cambridge Press, 2002) sendo objeto de resenhas em revistas especializadas como Hispanic American Historical Review e The Americas. O livro integra, naquele país, a coleção “New approaches to the Americas”, editada por Stuart Schwartz.
Trata-se de obra elaborada com base em uma extensa pesquisa primária, constituída de fontes censitárias, cartorárias e eclesiásticas, perscrutada de maneira original. Mas há um aspecto que realmente deve surpreender nosso leitor: a opção da autora por basear-se em obras produzidas sobre a escravidão brasileira por especialistas norte-americanos. É bem verdade que muitos deles sobejamente conhecidos no Brasil, como no caso dos trabalhos de Stuart Schwartz e outros aqui radicados — Robert Slenes, por exemplo — e contra os quais a autora não poupa críticas: ao primeiro, por defender a centralidade do trabalho para o entendimento da dinâmica da sociedade escravista em oposição a fatores como família, comunidade e religião (p.49); ao segundo, por exagerar na insistência com que os senhores estimulavam seus escravos a se casarem com o fim de controlá-los enquanto cativos (p.56).
Não que estejam ausentes algumas das mais representativas obras produzidas pela nossa academia, mas nesse aspecto, a pesquisa sobre os títulos que poderiam lançar luz sobre o tema abordado não é, nem de longe, exaustiva. Assim, talvez se encontre aí uma outra originalidade do trabalho, da qual o leitor deva extrair algumas conseqüências: a de que se trata de uma abordagem, em boa medida, construída a partir do olhar do especialista estrangeiro, certamente influenciado pela própria compreensão da dinâmica de um país também de passado escravista.
Tal opção, em determinadas passagens, permite que se estabeleçam comparações importantes, ainda que implícitas, com o contexto da América do Norte. Esse parece ser o caso em que a autora reconhece que a precária legitimidade dos senhores sobre seus escravos no Brasil baseou-se na reiteração do direito costumeiro, dispensando, ao contrário do que se observou no norte da América, a produção de um discurso baseado na inferioridade racial (ainda que, vale ressaltar, esse não estivesse de todo ausente, sobretudo no Brasil Imperial). Ou quando afirma que a cultura da sociedade brasileira, por sua herança ibérica, era essencialmente jurídica — no sentido de que a maioria das transações eram autenticadas por documentos legais — diferentemente do que se verificava nos domínios coloniais das metrópoles da Europa Central (p.117-8).
A obra de Laura Graham, por fim, cumpre bem o programa da micro-história, vertente à qual se filia, com o mérito de preencher os vazios entre o particular e o geral, entre as trajetórias individuais e as coletivas, ampliando a aplicação do método para além da história cultural e das mentalidades.
Andréa Lisly Gonçalves – UFOP
[IF]
Gênero, patriarcado, violência / Heleieth Saffioti
Publicado recentemente, em 2004, Gênero, Patriarcado, Violência parece ter sido concebido para ser uma espécie de “manual didático” que busca conceituar, sob a perspectiva de uma socióloga estudiosa das temáticas feministas, conceitos imbricados de paradoxos tais como gênero, patriarcado, poder, raça, etnia e a relação exploração-dominação.
A partir da utilização de conceitos formulados pela autora no correr de sua vida acadêmica, já que os temas em pauta fazem parte do universo de pesquisas de Saffioti desde os anos oitenta, a obra em análise se propõe a abrir novas perspectivas para o entendimento da violência contra as mulheres. Este tipo de violência, segundo a autora, consiste em um problema social cujo exame encontra-se entrelaçado aos estudos de gênero, raça/etnia, classes sociais e patriarcado.
Dividido em quatro seções de análises, a obra de Saffioti “destina-se a todos(as) aqueles(as) que desejam conhecer fenômenos sociais relativamente ocultos”(p.9), dentre os quais está a violência contra as mulheres, questão que perpassa todos os eixos de reflexão do livro em pauta.
As áreas da Saúde, Jurídicas, Ciências Sociais e Humanas têm se dedicado, mesmo que de forma tímida ou isolada, à compreensão dos mais diversos mecanismos de opressão das mulheres. Dada à diversidade e a multiplicidade de pesquisas que vem sendo realizadas em relação aos temas abarcados nesta obra, é possível observar que as articulações dos pensamentos da autora são perpassadas pela transversalidade de saberes. Assim, por meio de uma perspectiva reconhecidamente feminista e a partir do instrumental teórico do campo disciplinar no qual está inscrita é que partem suas pontuações. Com títulos de abertura dos capítulos considerados pouco comuns, tais como “a realidade nua e crua” e “descoberta da área das perfumarias”, a socióloga versa sobre temas específicos de forma a conceituar, em termos jurídicos e sociológicos, sobre os diversos tipos de violências (doméstica, de gênero, contra as mulheres, intra-familiar, urbana) existentes no caso brasileiro sob uma espécie de permissividade social.
Com essa profusão de novos conceitos, a releitura e a reinterpretação de teorias já existentes, acrescentando-se a instabilidade característica do fazer feminista, talvez não seja possível encontrarmos termos consensuais no contexto dos embates das correntes feministas.
A autora faz uma breve análise do cenário político-econômico brasileiro e constata que estes terrenos são, “certamente, a maior e mais importante fonte da instabilidade social no mundo globalizado”(p.14). Para ela, é sob a ordem patriarcal de gênero que devem ser feitas as análises sobre a violência contra as mulheres.
Recorrendo a referências obrigatórias no campo dos Estudos Feministas e de Gênero, tais como Carole Pateman, Gayle Rubin, Joan Scott, entre outras, Saffioti empreende uma escrita que varia entre pontuações extremamente coloquiais e outras passagens com reflexões importantes e densas para uma obra que pretende ser didática. Para o/a leitor/a desavisado/a, essas passagens requerem especial atenção, já que as análises da autora requerem uma leitura prévia dos conceitos discutidos. Exemplo disso é a utilização do conceito de poder formulado por Foucault que a socióloga utiliza sem maiores esclarecimentos acerca da perspectiva pósmoderna.
Influenciado pelas correntes do pensamento pós-moderno no qual estava inserido (construindo e desconstruindo suas perspectivas), ao refletir sobre outras maneiras de pensar, Foucault defende um amplo questionamento de conceitos caros a seu campo como a finalidade, a natureza, a verdade, os procedimentos tradicionais de produção do conhecimento histórico, as representações do passado com que operamos e os usos que fazemos de sua construção.
Outra questão que merece zelo na leitura são as discussões teóricas que Saffioti estabelece sobre diferentes perspectivas sobre os conceitos de gênero existentes. Vale destacar que, de natureza cultural e ideológica, os Estudos de Gênero introduziram a questão de gênero como categoria analítica e demonstraram como é ilusória a neutralidade dos valores ditos “universais”. Em sua prática interdisciplinar, articula – a partir de uma perspectiva “gendrada” – questões de raça, classe, etnia, bem como contribuições de vários eixos epistemológicos como a psicanálise, marxismo, antropologia, etc, buscando compreender a representação (histórico-cultural, literária) das mulheres, bem como sua contribuição neste processo.
Um ponto bastante interessante a ser ressaltado nesta obra, como se pode depreender da sua leitura, é que esta consiste no fruto de reflexões embasadas em dados empíricos e sobre pontos de referências a respeito das sobreposições parciais, as especificidades e diferenças entre as várias modalidades de violências existentes, fenômenos estes, demonstrados pela autora, que não são tão raros quanto o senso comum indica.
Consiste alvo de crítica da autora, em diversas passagens da obra, o uso político de uma diferença fundada nos argumentos do determinismo biológico e em normatizações feitas a partir de uma marca genital. Para ela, as pessoas são socializadas para manter o pensamento andrógino, machista, classista e sexista estabelecido pelo patriarcado como poder político organizado e legitimado pelo aparato estatal por meio da naturalização das diferenças sexuais.
Em relação à violência, tema que perpassa a maioria das reflexões da autora há que se considerar as sobreposições feitas por Saffioti sobre os conceitos e as especificidades de cada “fenômeno”, sua expressão para designar a violência. Ao mostrar os fatos em suas peculiaridades, a autora trabalha quadros teóricos de referência com vistas a orientar seu leitor. Assim, ela diferencia e explicita as características e os contextos em que ocorrem principalmente os seguintes tipos de violência: contra a mulher, de gênero, doméstica, intrafamiliar, entre outras. Nesse sentido, faz parte também das análises de Saffioti a ocorrência do “femicídio”, que, segundo ela, consiste na feminização da palavra homicídio e é um fenômeno infelizmente bastante recorrente, principalmente nos tempos atuais (p. 72-73).
No que tange ao significado da violência e todas as conseqüências que surgem da ocorrência deste fenômeno, a autora lembra que na sociedade patriarcal em que vivemos, existe uma forte banalização da violência de forma que há uma tolerância e até um certo incentivo da sociedade para que os homens possam exercer sua virilidade baseada na força/dominação com fulcro na organização social de gênero. Dessa forma, é “normal e natural que os homens maltratem suas mulheres, assim como que pais e mães maltratem seus filhos, ratificando, deste modo, a pedagogia da violência.” (p.74) Para Saffioti, a ruptura dos diferentes tipos de integridade, quais sejam, a física, a sexual, a emocional, a moral, faz com que se estabeleça a “ordem social das bicadas”, na qual o consentimento social para a conversão da agressividade masculina em agressão contra as mulheres, não é um fator que prejudica apenas as vítimas, mas também seus agressores e toda a teia social que convive ou é forçada, por inúmeros motivos, a suportar tal sujeição. como critério de avaliação de um ato como violento situa-se no terreno da individualidade e, dessa forma, cada mulher interpreta de forma singular esse mecanismo de sujeição aos homens. Segundo Saffioti, somente uma política de combate à violência (especialmente a doméstica) que se articule e opere em rede, de forma a englobar diferentes áreas (Ministério Público, juizes, polícia, hospitais, defensoria pública) pode ser capaz de ter eficácia no combate à violência.
As experiências da autora e a liberdade com que trata dos temas de forma a informar e/ou atualizar o leitor merecem atenção. Ao desvelar parte do processo de diferenciação sexuada, nas múltiplas configurações espaços-temporais, a autora expõe o caráter produtor e reiterador de imagens naturalizadas de mulheres e homens. Dessa forma, a obra pode ser considerada referência de leitura para as pessoas que se interessam pelas temáticas ligadas às questões de gênero, violência, patriarcado, e afins.
Uma vez que a literatura científica feminista tem sido constantemente obscurecida ou ignorada, este livro ressalta a importância no questionamento dos paradigmas científicos e da naturalização das formas de relações sociais que instituem o feminino e o masculino em uma escala de valores hierarquizada com vistas à desnaturalizar construções cristalizadas no imaginário e nas representações sociais sobre as desigualdades existentes nas relações entre homens e mulheres.
Trata-se de uma obra instigante, cuja leitura deve ser cuidadosa, que funda suas interpretações a partir do enfoque que entende o gênero como uma representação que produz e reproduz diferenças por meio da classificação dos indivíduos pelo sexo, os quais exigem abordagens e epistemologias específicas para suas análises.
Longe de ser um “manual didático” Gênero, Patriarcado, Violência apresenta conceitos já trabalhados pela autora em outros estudos, mas pode ser considerada uma referência bibliográfica atualizada para os/as interessados/as em estudos de Gênero e violências, já que apresenta importantes distinções das considerações anteriormente feitas aos deslocar o olhar do leitor para além do senso comum e das generalizações
Fabrícia F. Pimenta – Graduada em Direito, Mestre em Ciência Política pela UnB e doutoranda na UnB em História na linha de pesquisa “Estudos Feministas e de Gênero”. Apoio financeiro para a pesquisa: CNPq. E-mail: [email protected] / [email protected].
SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, 151p. Resenha de: PIMENTA, Fabrícia F. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.10, p.190-193, 2006. Acessar publicação original. [IF].
Power, Knowledge and Anti-Racism Education: A Critical Reader – SEFA DEI; CALLISTE (CSS)
SEFA DEI, George J. ; CALLISTE, Agnes (Eds.), with the assistance of Margarida Aguiar. Power, Knowledge and Anti-Racism Education: A Critical Reader. Fernwood Publishing, 2000. 188p. Resenha de: BECKETT, Gulbahar H. Canadian Social Studies, v.38, n.3, p., 2004.
Power, Knowledge and Anti-Racism Education: A Critical Reader is a volume edited by George J. Sefa Dei and Agnes Calliste. As the title suggests, this book is indeed a critical, informative, and thought provoking reader on power, race, gender, and education. The book includes eight chapters plus an introduction and conclusion that address questions of racism and schooling practices in a variety of educational settings in Canada, a country that practices multiculturalism and is considered to value and promote diversity. Most Canadians believe that the country’s multicultural policy was established with good intentions and has served the country and its people well. As such, we rarely ask ourselves questions such as: Who is benefiting from the policy and who is not? Why and why not? What are the strengths and limitations of the multicultural policy in empowering people of all origins? What more can be done to ensure equality in education and the larger society? This very well written book asks and answers these and many other very important questions.
Specifically, Power, Knowledge and Anti-Racism Education addresses critical issues such as multiculturalism, racism, equality, exclusion, and gender issues from theoretical as well as practical perspectives. It calls for a critical examination of and going beyond multiculturalism by challenging the status quo with critical anti-racist education. In Chapter 1, Dei contextualizes the book through his discussion of a critical anti-racist discursive theoretical framework that deals foremost with equity: the qualitative value of justice (p. 17). He is critical of multiculturalism arguing that it creates a public discourse of a colour-blind society and he calls for an acknowledgement of and confrontation with differences. According to Dei, confronting the dynamics and relational aspects of race, class, ethnic, and gender differences is essential to power sharing in colour-coded Euro-Canadian contexts.
In Chapter 2, Bedard continues the discussion of multiculturalism and anti-racist education through a deconstruction of Whiteness in relation to historical colonialism, imperialism, and capitalism. He reminds readers of the complexity of the race issue as we still live with the legacy of colonialism. He asserts that through their ideological and intellectual ruling of Canada, as well as many other parts of the world (e.g., Africa and Asia), white people enjoy more privileges that are not afforded to people from other racial backgrounds. In Chapter 3, Ibrahim revisits tensions surrounding curriculum relevance and demonstrates how popular culture, especially Black popular culture (e.g., Hip Hop and Rap), can be utilized to carry out anti-racism education as it relates to students identity formation, cultural and linguistics practices, and sense of alienation from or relation to everyday classroom practice. In Chapter 4, James and Mannette address issues related to visible minority students’ access to publicly funded post-secondary education. Through rich personal accounts from students, they illustrate how these students mediate systemic barriers, gain entry, and experience post-secondary education in Canada.
In Chapter 5, Henry presents a brief reflection of black teachers’ positionality in Canadian universities and schools through three vignettes: her personal experience, two teacher candidates’ experiences, and a veteran teacher’s experience. Through these vignettes, Henry makes a case that black women in Canadian universities and schools were isolated and bore the responsibility of raising the awareness and consciousness of the White people in their work environment (p. 97). She calls on all of us to reflect on every day acts of power and subordination and to use them to develop theories and workable strategies to end inequality (p. 97). In Chapter 6, Tastsoglou discusses various types of borders and the challenges and rewards of cultural, political, and pedagogical border crossing. As a transnational person who crosses various borders daily, I found the discussion to be particularly interesting. Among others, I like the points Tastsoglou makes about otherness (i.e., how all of us can be othered sometime or another) and the detailed illustration of border pedagogy (Giroux, 1991) that can enable us to engage in socially and historically constructed multiple cultural experiences.
In Chapter 7, Wright addresses issues of exclusion and engages in an anti-racist critique of progressive academic discourse in general rather than Canadian multiculturalism per se, using post-modernist, post-structuralist, post-colonialist, feminist, and Afrocentricist discourses. What I found particularly informative in this chapter is Wright’s discussion of what Afrocentricism and feminism are and how they can contribute to our understanding of inclusion and exclusion. In Chapter 8, Calliste presents and discusses some research studies on racism in Canadian universities. This chapter shows racism does exist in Canadian universities overtly as well as through hidden curriculum. As such, it supports Dei’s argument that Canada is a colour-coded society where racism and inequality exist and need to be addressed.
In summary, Power, Knowledge and Anti-Racism Education: A Critical Reader is a book that challenges us to be critical of the multiculturalism that has become part of Canadian social and public discourse. It reminds us that multiculturalism works with the notion of a basic humanness. As such, it downplays inequalities and differences by accentuating shared commonalities among peoples of various backgrounds. It advocates empathy for minorities on the basis of a common humanity, envisions a future assured by goodwill, tolerance, and understanding among all, but it also breeds complacency, creating the illusion that we live in a raceless, classless, and genderless society. For example, Dei points out that, while a raceless, classless, and genderless society is an ideal that we all aspire to and work towards, we must remember that, at present, such a society is a luxury that is only possible for people from a certain racial background, namely white people. He, therefore, urges us to acknowledge that while multiculturalism is an important first step in building an ideal nation, it is anti-racist education that seeks to challenge the status quo and aspires to excellence. According to Dei and Calliste, anti-racism education practice must lead to an understanding that excellence is equity and equity is excellence (p.164). I would recommend this book as a required text for undergraduate and graduate level sociology and educational foundations related courses.
References
Giroux, H. (1991). Post-modernism as border pedagogy: Redefining the boundaries of
race and ethnicity. In H. Giroux (Ed.). Postmodernism, feminism, and cultural
politics: Redrawing educational boundaries (pp. 217-56). Albany: State University of New York Press.
Gulbahar H. Beckett – College of Education, Criminal Justice, and Human Services. University of Cincinnati, Cincinnati, OH, USA.
[IF]
Contesting Canadian Citizenship: Historical Readings – ADAMOSKI et al (CSS)
ADAMOSKI, Robert; CHUNN, Dorothy E.; MENZIES, Robert (eds). Contesting Canadian Citizenship: Historical Readings. Peterborough, ON: Broadview Press, 2002. 429p. Resenha de: MITCHELL, Tom. Canadian Social Studies, v.39, n.1, p., 2004.
Citizenship lies at the heart of the liberal state and forms of political modernity. Defined variously as a relational practice, a set of personal rights and obligations, or as a cultural idiom unique to particular societies, citizenship is to a greater or lesser degree always fluid, plastic, and internally contested (Brubaker, 1992, p. 13; on citizenship see also T. H. Marshall T. Bottomore, (1992). Its analysis offers an opening to modern approaches to power and social control, to forms of modern nations and nationalities; conceptually, idioms of citizenship are deeply implicated in most debates of public policy in the liberal state. And, as Contesting Canadian Citizenship discloses, such has been the case since the beginning of modern Canadian history.
The various and diverse chapters contained in Contesting Canadian Citizenship tell us about how modernist discourses of class, gender, race and discursive idioms of human pathology have shaped how Canadians have imagined each other. Such discourse furnished the theory upon which forms of unequal citizenship have been cast, institutional life has been ordered, and relations of power and vulnerability have been forged. For some citizenship promised power and opportunity, full citizenship within the liberal state; for others liberal discourse on citizenship led to non-citizenship, shame, subordination, incarceration, even sterilization.
The readings open with a nicely tailored introduction to the contemporary debate and varied usages of citizenship as a practical – and almost always contested – political and social idiom. Here the Canadian debate is effectively placed within the context of a broader international literature. Janine Brodie’s contribution to the introduction Three Stories of Canadian Citizenship focuses on three approaches to the development of citizenship in Canada: the legal, rights based and governance approaches. Under these headings Brodie moves from an account of the juridical nature of Canadian citizenship, to a discussion of the evolution of Canadian citizenship within a critical appraised account of T.H. Marshall’s seminal theorization of citizenship, to a historical survey of citizenship under the general rubric of governance.
Beyond the introduction, Contesting Canadian Citizenship has five sections. Constituting the Canadian Citizen contains essays by Veronica Strong-Boag on the debate around citizenship central to the Canadian Franchise Act of 1885. Gender, race, and class are illuminated as central features of the construction of citizenship within the Canadian liberal state. Ronald Rubin tackles citizenship in the evolving cultural politics of Quebec sovereignty, while Claude Denis provides a thoughtful and provocative account of the Hobson’s choice at the heart of the history of indigenous citizenship in Canada.
Under the heading Domesticity, Industry and Nationhood Sean Purdy relates a fascinating story of the implication of idioms of citizenship within debates over housing policy, while Jennifer Stephen considers industrial citizenship within the context of an account of employment, industrial relations and the creation of an efficient labour force during the era of crisis and reconstruction from 1916-1921. Deyse Baillargeon employs data from interviews with Francophone women in Montreal to provide a contextually specific glimpse into how women in Quebec, who possessed only a partial juridical citizenship, nevertheless made an important contribution to the maintenance of social stability during the Great Depression. Finally, Shirley Tillotson takes up the question of citizenship and leisure rights in mid-twentieth century Canada. In a nicely theorized account of the development of leisure rights sensitive to the implications of class, gender, race and rurality, Tillotson makes the argument that the imperatives of a moral economy of democratic citizenship in which the right to the prerequisites of health and culture led the liberal state to provide all Canadians not just the elite with access to leisure in the form of statutory and paid holidays and recreational programs.
Education has always been central to the Canadian debate on citizenship. This theme is treated at length under the heading Pedagogies of Belonging and Exclusion. Lorna R. McLean links the literature of class and masculinity with emerging forms of Canadian citizenship through an account of the adult education program of Frontier College. Katherine Arnup provides an illuminating account of the links between modernist discourses implicating motherhood with the manufacture of citizens. Here experts in child development typically, members of the medical profession cast a shaft of enlightenment on the benighted mothers especially those of non-Anglo-Canadian stock of future citizens of the country. Mary Louise Adams relates how the construction of citizenship was and remains implicated in the definition and policing of sexual identity and an orthodox sexuality. Bernice Moreau provides an account of the junction of race and citizenship in Nova Scotia. Here the shameful story of how Black Nova Scotians struggled to gain educational rights and civic equality against a state and civil society that denied them full citizenship is related.
Finally, four chapters address the theme of Boundaries of Citizenship. Here, Robert Adamoski relates the passage of children as wards of the state to productive citizenship. Adamoski argues that the philanthropic and child rescue movements that emerged in the late nineteenth century dealt with their charges within the class, gender and racial expectations of the time. Working class girls and boys would become solid working class citizens; only through assimilation could Aboriginal children enter the ranks of citizenship. Joan Sangster discusses the rescue of delinquents for the liberal state. In a chapter that considers developments from 1920-1965, Sangster provides illustrations and analysis of the changing and unchanging strategies used by the state and social experts to re-create model citizens. Dorothy E. Chunn deals with race, sex and citizenship through an examination how the criminal law in British Columbia was employed normatively to disseminate and sustain dominant conceptions of appropriate and inappropriate sexual and social relations. Her account illustrates how law worked to reinforce hierarchical social relations within the new settler society of British Columbia. Robert Menzies relates the story of mental hygiene and citizenship in British Columbia during the formative 1920s, an era in which the long shadow of eugenics discourse threatened dire consequences for those who for any number of reasons were deemed unworthy of citizenship. He develops a useful historical context for his account: relating how developments elsewhere from Ontario to Britain, Alberta to California shaped the course of the debate in British Columbia, and contributed to the shaping of social policy for some of Canada’s most vulnerable citizens.
This is a very useful publication. It brings together a diverse body of literature that speaks to the complex and evolving ideological core of the Canadian liberal state: citizenship and prose rendered with a minimum of jargon. Of course, each reader of this book will find some chapters more literate, interesting and useful than others. Such is to be expected in a volume containing seventeen chapters and almost as many authors.
References
Brubaker, R. (1992). Citizenship and Nationhood in France and Germany, London: Harvard University Press.
Marshall, T.H. Bottomore, T. (1992). Citizenship and Social Class. London: Pluto Press.
Tom Mitchell – Brandon University. Brandon, Manitoba.
[IF]
Uma ciência da diferença: sexo e gênero na medicina da mulher | Fabíola Rohden
A construção social da sexualidade vem sendo inventariada pelos mais diversos campos de conhecimento, mas, sem dúvida, é no discurso médico que vai encontrar um dos seus filões mais ricos de análise. Na virada do século XIX para o XX, a onda transformadora advinda da aceleração do processo urbano industrial, entre as suas inúmeras conseqüências, propiciou o ingresso da mulher no mercado de trabalho e a elaboração do ideário feminista, descortinando-se, assim, novas possibilidades de relacionamento entre os gêneros.
Nesse cenário, tão profundamente marcado pelos ventos da mudança, impunha-se a necessidade de repensar e demarcar os papéis sociais. Leia Mais
Geschlechterperspektiven in der Fachdidaktik – HOPPE et al (JESSE)
HOPPE, Heidrun; KAMPSHOFF, Marita; NYSSEN, Elke, Hg. Geschlechterperspektiven in der Fachdidaktik. Weinheim, Basel: Beltz Wissenschaft Deutscher Studienbuch Verlag (Einführung in die pädagogische Frauenforschung; Bd. 5), 2001. 240 S. Resenha de: LIEBSCH, Katharina. Journal of Social Science Education, v.2, 2003.
Die Frauen- und Geschlechterforschung bemüht sich seit Jahren um die Verbreitung der Einsicht, dass “Geschlecht” sowohl eine grundlegende sozialstrukturelle Kategorie als auch eine zentrale Dimension im Prozess der sozialen Konstruktion von Gemeinschaften und Gesellschaft ist. Folgt man dieser Einschätzung, dann ist es geradezu zwangsläufig, dass auch die Reflexion von Lehren und Lernen sowie deren Planung und Steuerung ein Verständnis von “Geschlecht” braucht. Dazu gehört auch, so lautet die Ausgangsannahme des von Heidrun Hoppe, Elke Nyssen und Marita Kampshoff (alle Universität Essen) herausgegebenen Aufsatz-Bandes, eine Erweiterung der kritischen Betrachtung von Koedukation um Fragen der Allgemeinen Didaktik sowie der Fach-Didaktiken der sozialwissenschaftlichen und sprachlichen Unterrichtsfächer.
Unter dem Titel “Geschlechterperspektiven in der Fachdidaktik” veranschaulichen vierzehn Autorinnen, dass Gegenstände, Methoden und Gestaltungsformen schulischen Unterrichts in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Entwicklungen, der Veränderung von Lebenswelten und dem sich wandelnden Verständnis von Bildung in der Gesellschaft eingesetzt und bewertet werden. Eine theoretisch-systematische Reflexion von Fragen der Technikentwicklung, der Globalisierungsfolgen genauso wie der Veränderungen des gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisses gehört deshalb zu den Ausgangspunkten jeder didaktischen Überlegung. Darüber hinaus, so das Credo der Herausgeberinnen, sollte es – sowohl auf der Ebene der curricularen Inhalte als auch hinsichtlich der jeweils spezifischen Lernbedingungen von Schülerinnen und Schülern – ein zentrales Anliegen von Didaktik sein, “die Beziehung zwischen Inhalten und Subjekten wissenschaftlich differenziert zu untersuchen und in praxiswirksame Modelle zu integrieren” (S. 236). Diese doppelte Perspektive von Inhalten einerseits und Bedingungen und Möglichkeit der Inhaltsvermittlung andererseits suchen die Herausgeberinnen aus einer geschlechts- und subjektorientierten Perspektive systematisch zu stärken. Erst, so lautet ihre These, wenn Fachdidaktiken sich konsequent an den Subjekten von Schule und Unterricht, nämlich an den Schülerinnen und Schülern und die Lehrerinnen und Lehrern, orientiert, kann die didaktische Frage beantwortet werden, wie Fachunterricht arrangiert sein muss, damit seine Inhalte mit den Vorerfahrungen und Kompetenzen der Beteiligten zusammen gebracht werden kann. Dazu braucht es einerseits ein Curriculum, das das kulturelle und soziale System der Zweigeschlechtlichkeit reflektiert und die Reflexion und Überwindung ungleicher Machtkonstellationen zum (Lern-)Ziel macht. Andererseits müssen geschlechtsdifferente Interessen, Erfahrungen und Sozialisation in fachdidaktische Überlegungen miteinbezogen werden.
Dementsprechend reflektieren die zehn in dem Band versammelten Beiträge ihre jeweilige Fachdidaktik unter drei Fragestellungen: Zum einen wird unter Bezugnahme auf die spezifische Fachwissenschaft die Kritik der fachspezifischen Frauen- und Geschlechterforschung dargestellt.
Forschungsergebnisse beispielsweise der feministischen Theologie und Literaturwissenschaft werden herangezogen, um zu veranschaulichen, dass die jeweilige Fachwissenschaft selbst einem Geschlechter-bias dergestalt unterliegt, dass das Männliche in der Regel als die Norm und das Weibliche als die Abweichung von der Norm begriffen wird. Zum zweiten werden Befunde präsentiert, die auf der Ebene der Unterrichtsinhalte eine Geschlechterdifferenz wahrnehmen und sie zum Gegenstand des Nachdenkens machen. Dabei besteht sowohl die Möglichkeit, Geschlechterstereotypen neu zu produzieren und festzuschreiben als auch die Chance, sie aufzulösen und ihnen entgegen zu wirken. Drittens schließlich thematisieren alle Beiträge die Bedeutung von Sozialisation und fragen nach möglicherweise vorhandenen geschlechtsdifferenten Interessen, Erfahrungen und Lebenswelten und deren Auswirkungen auf den Schul-Unterricht und dessen Erfolge.
Konzentriert auf sozialwissenschaftlich und sprachlich ausgerichtete Disziplinen wird hier erstmalig ein Überblick präsentiert, der einen aktuellen Einblick in den Stand des Geschlechterthemas in ausgewählten Fachdidaktiken gewährt. Dies ist zum einen verdienstvoll, weil in dem vorliegenden Band eine in der Debatte lange Zeit dominierende Tendenz überwunden wird, fachdidaktische Überlegungen zum Thema “Geschlecht” am Beispiel naturwissenschaftlicher und technischer Unterrichtsfächer anzustellen und so erneut, ein geringeres Interesse von Mädchen an diesen Fächern zu einer Abweichung und Besonderung zu machen. Vielmehr kann durch eine Fokussierung auf Fächer, die Sprache und Soziales zum Gegenstand haben, die Frage neu gestellt werden, ob und inwieweit sich im Unterricht geschlechtliche Codierungen, Zuschreibungen oder auch Erfahrungen ausmachen lassen. Es kann deshalb als ein überraschendes Ergebnis dieses Sammelbands gelten, dass alle in dem Band versammelten Beiträge sichtbar machen, dass eine in der Fachwissenschaft etablierte Frauen- und Geschlechterforschung kein Garant dafür ist, dass auch die entsprechende Fachdidaktik sich mit Fragen der Geschlechterdifferenz auseinander setzt.
So theoretisch anspruchsvoll, innovativ und bedeutsam die feministischen Ansätze in z.B. der Germanistik, Anglistik, Geschichtswissenschaft, Soziologie und Politikwissenschaft auch gewesen sein mögen, die schulische Ausgestaltung dieser Disziplinen als Unterrichtsfächer haben sie nur am Rand beeinflussen können.
Dies ist ein weiteres Argument für ein Verständnis von Didaktik, welches die Orientierung an der Fachwissenschaft zwar als grundlegend aber keinesfalls als hinreichend begreift. Da die Geschlechterperspektive quer zu allen Fragen des schulischen Lehren und Lernens liegt und sich in Inhalten, Sozial-Beziehungen wie auch in Normierungen und Bewertungen aufzeigen lässt, kann sie nur dann Berücksichtigung in der Fachdidaktik erfahren, wenn die Fähigkeit zur Analyse der Bedingungen und der Situationsspezifik von Unterrichts wie auch der biografischen Besonderheiten der Beteiligten als eine zentrale pädagogische Qualifikation begriffen werden. Dazu ist Wissen über die Mechanismen einer allumfassenden “sozialen Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit” (Hagemann-White) genauso nötig wie der politische Wille, Mädchen und Jungen als gleichberechtigt zu begreifen wie auch die Fähigkeit, über die eigene persönliche Verstrickung mit der Thematik zu reflektieren. “Geschlechterperspektiven in der Fachdidaktik” umfassen demzufolge die Thematisierung der gesamten Palette der Wechselwirkungen zwischen Person und Rolle, Lehren und Lernen, Inhalt und Beziehung, Situation und Norm.
In dieser Hinsicht und mit diesem Anspruch beschreiben Rita Burrichter (Religion), Susanne Thurn (Geschichte), Gudrun Spitta (Deutsch), Heidrun Hoppe/Astrid Kaiser (Sachunterricht/Sozial- bzw.
Gemeinschaftskunde), Renate Haas (Englisch), Cornelia Niederdrenk-Felgner (Mathematik), Gertrud Pfister (Sport), Doris Lemmermöhle (Arbeitslehre/Berufsorientierung), Renate Luca (Medienpädagogik) und Petra Millhofer/Renate-Berenike Schmidt (Sexualpädagogik) den Stand der Reflexionen in der jeweiligen Fachdidaktik.
Dabei wird sichtbar, dass diejenigen Themen, die quer zu der herkömmlichen Einteilung in Schulfächern liegen, wie z.B. Medien, Sexualität, Berufsorientierung, sich für die Thematisierung der Geschlechterfrage leichter öffnen lassen. Da der Alltags- und Erfahrungsbezug bei diesen Themen unmittelbar gegeben ist, braucht es für die Plausibilisierung der Geschlechterfrage im berufsorientierenden, sexualpädagogischen oder medienpädagogischen Unterricht weniger argumentativen Aufwand als beispielsweise in den Fachdidaktiken für Englisch oder Politik.
Während sich, wie die Beiträge zeigen, in den Fächern die Macht der Tradition hartnäckig hält – beispielsweise als geschlechtsspezifische Stereotypen hinsichtlich Unterrichtsinteresse und hinsichtlich Arbeitsformen auftaucht und sich daran ablesen lässt, dass sogenannte Frauenthemen häufig als Ergänzung und als partikulares Wissen behandelt werden – haben Themen mit einem deutlichen lebensweltlichen Bezug den Vorteil, dass hier Bedeutung, Funktion und Wandelbarkeit der Kategorie Geschlecht unmittelbar als Thema aufgegriffen und werden kann. Beispielsweise kann im berufskundlichen Unterricht nicht unproblematisiert bleiben, dass die meisten weiblichen Auszubildenden unter den Friseurinnen und die meisten männlichen Auszubildenden unter den Kfz-Mechaniker zu finden sind, während dieser Sachverhalt im Gemeinschafts-. Politik- oder Sozialkundeunterricht im Rahmen einer Arbeitseinheit zum Thema “Arbeit und Beruf heute” durchaus unberücksichtigt bleiben könnte.
Die Fachdidaktiken stehen daher – und das macht dieser Band schlagend deutlich – vor einem doppelten Dilemma: Die fachspezifische Gegenstandsorientierung soll zum einen Bezüge zu den Lebenswelten und Erfahrungen der Lernenden herstellen. Zum zweiten soll sie sich an der Fachwissenschaft orientieren, die es im Singular, als einheitlichen Orientierungsrahmen schon längst nicht mehr gibt. Dieser Schwierigkeit begegnen die Fachdidaktiken, indem sie Prinzipien postulieren, z.B. das Prinzip der Wissenschaftsorientierung oder das der Handlungsorientierung.
Der vorliegende Band plädiert für Geschlechtergerechtigkeit als ein weiteres didaktisches Prinzip.
Darüber hinaus aber drängt sich nach der Lektüre dieses anregenden und gehaltvollen Buches die Frage auf, ob sich diese Prinzipien nicht viel besser jenseits der Fächer realisieren ließen, ob die Fachdidaktiken nicht einer curricularen Festlegung fächerübergreifender Themengebiete wie auch einer systematischen Reflexion situativer Lehr-/Lernbezüge weichen sollten.
“Geschlechterperspektiven” könnten darin als ein didaktisches Element enthalten sein. Dies würde den mühseligen fachinternem Kampf um Anerkennung des Geschlechterthemas zwar nicht überflüssig machen, könnte aber eine didaktische Sensibilität hinsichtlich sozialer Unterschiede und sozialen Unterscheidungen schaffen. Denn diese sind, das zeigen alle Aufsätze des Sammelbandes, stets geschlechtlich codiert.
Katharina Liebsch
[IF]
A Licentious Liberty in a Brazilian Gold-Mining Region. Slavery/ Gender and Social control in Eighteenth-Century Sabará/ Minas Gerais | Kathleen J. Higgins
Resenhista
Ernest Pijning – Historiador brazilianista em professor da Minor State University, Dakota do Norte (EUA).
Referências desta Resenha
HIGGINS, Kathleen J. A Licentious Liberty in a Brazilian Gold-Mining Region. Slavery, Gender and Social control in Eighteenth-Century Sabará, Minas Gerais. University Park, PA: University of Pennsylvania Press, 1999. Resenha de: PIJNING, Ernest. História Revista. Goiânia, v.6, n.1, p.223-225, jan./jun.2001. Acesso apenas pelo link original [DR]
Rioting in America – GILIE (CSS)
GILIE, Paul A. Rioting in America. Bloomington: Indiana University Press, 1996. 248p. JAMES, Joy. Resisting State Violence: Radicalism, Gender and Race in U.S. Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. 280p. Resenha de: LEWIS, Magda. Canadian Social Studies, v.35, n.4, 2001.
I have thought a lot about the two books under examination in this short review: Rioting in America by Paul A. Gilje and Resisting State Violence by Joy James. I have read both of them more than once and have used them in my teaching in graduate courses in Cultural Studies. The critical frameworks by which both Gilje and James approach their topic, the first through a critical historical reading and the second by way of critical race and feminist theory, is essential to the understanding of the possibilities, as well a the impossibilities, of popular movements for social transformation. This is a timely question not only from a global perspective but in the local Canadian context as well.
Both texts are eminently readable and compelling. Although they have significantly different agendas and purposes, I found each text to be an interesting and important contribution toward an understanding of, what I have come to call, the globalization of the impotence of popular political action and what one might do about it.
Rioting in America is a studied and well researched history of popular political action in the United States from its beginnings as a British Colony to the 1990s. Although its attention is focused entirely on the history of the United States, offered sometimes in great detail, I find the book useful in a Canadian context. This is particularly so in regard to my current interest in understanding the dissonance between those who are popularly called the people and those who, as a result of apparently democratic processes, claim to govern on our behalf.
Rioting is not a political form that has a significant history in contemporary Canadian popular politics. For example, when, in the fall of 1996, Mike Harris’ Conservative government began its systematic dismantling of Ontario’s public education system in preparation for what he is hoping, still, to achieve through the privatization of large segments of it, almost 300,000 people, many of them teachers, many of whom voted for Harris, marched on the Ontario Legislature. I was there. Intriguingly, the positively carnivalesque atmosphere of the event, including beclowned entertainers, had the effect of masking the seriousness of the consequences to the public education system of the proposed legislation, Bill 160.
That same fall, there were protests in the streets of Paris for similar reasons: the colonizing forces of economic globalization fuelled by neo-conservative ideologies revealed in the bureaucratic dismantling of public schooling; the pricing out of range, for the children of the disappearing average family, of post secondary education; the undermining of the health care system; and the destruction of the social infrastructure that had heretofore provided at least minimum levels of subsistence for the most economically and socially disadvantaged.
As I reflect on that day of protest and recall a carefully paced walk along the lovely boulevard avenue that leads to the seat of government, where, having arrived, we settled in for a picnic while we heard carefully worded speeches delivered from platforms erected the day before (because this was a planned for event), and which Mike Harris never heard because he wasn’t there that day (equally planned for). Police in riot gear were discreetly out of sight.
That same month, over-turned cars burned in the streets of Paris. University students, my daughter among them, and some of their professors blockaded the university buildings, angry protestors marched with fists clenched and raised, and police in Darth Vadaresque riot gear, forming a human chain complete with one-way-view face shields, blocked every side street for the entire route of the protest. Unlike my day of protest, for these demonstrators, there was no way out. Yet, ironically at the end of the day, whether in Paris or in Toronto, we all quietly went home.
Gilje’s historical accounting within a well analyzed context calls me to think about popular movements: riots, revolutions, demonstrations. What compelled me about this book is the way it raised questions for me, about the effectiveness of popular movements at a time, when, not politics, but the hidden structures of the global economy, drive political decisions and possibilities. Rioting in America makes me question the implications of the dissonance between how individuals in democratically elected governments come to occupy their positions of power, on the one hand, and, on the other hand, how these individuals come to articulate their loyalties (most often, it seems, in these days of the Multilateral Agreement on Investments (MAI) and global conservatism, not always in the best interests of those who elected them).
In Canada, the peculiarities of Euro-American democratic processes are well demonstrated at the level of the everyday where the hegemony of conservatism, also known as corporate interest, at all levels of public institution, takes precedence over the interests of individuals who, nonetheless, believe themselves to be participating in democratic processes, apparently guaranteed by the vote. Given such a peculiar turn of democratic events, it seems that history has not yet decided at what gruesome cost the fragile gains of American democracy have come (Gilje, p. xi).
In this regard, Resisting State Violence, Joy James’ brilliant, engagingly autobiographical volume, is a perfect companion piece. Through a conceptual examination of the processes of racism and sexism, she uncovers the invisible underside of democracy, as we know it. The transformation of Euro-American democracy into state violence is thus revealed. Drawing on the personal/political engagement of the intellectual/activist, James accomplishes her stated agenda: to draw together, on the one hand, critique of, and on the other hand, confrontation with state violence (James, p. 4). For the former, she provides complex conceptual frames and, for the latter, she offers suggestions for and examples of practice.
As with Gilje, what I value in James’ work is the questions she moves me to ask and the conceptual tools she offers for exploration of these questions. Ultimately I ask, what are the possibilities and impossibilities, at the turn of the millennium, of popular movements aimed at effecting collective/state practices that support the best interests of the people, set against the logic of a democratic process dependant for its success, on the participation of an uninformed or partially informed population? And what are the implications of this for what we are able or allowed to do in schools, Academic Freedom notwithstanding.
For me, as an intellectual in present day Ontario, these are not academic questions even as they are pedagogical ones. How I resolve some sense of these questions will ultimately guide strategies not only for political participation but for what we do with students at all levels of the schooling enterprise. For helping me ask these questions I thank Gilje and James.
Magda Lewis – Associate Professor, Queen’s University. Kingston, Ontario.
[IF]
Politische Bildung und Geschlechterverhältnis – OECHSLE; WETTERAU (JESSE)
OECHSLE, Mechtild; WETTERAU, Karin (Hrsg.). Politische Bildung und Geschlechterverhältnis. Opladen: (Verlag Leske + Budrich), 2000. Resenha de: OTTO, Karl A. Wie geschlechtsneutral kann politische Bildung sein? Journal of Social Science Education, n.1, 2000.
Das Buch ist eine “feministische Antwort” auf das – als Provokation empfundene – normativ gemeinte Diktum: “Politische Bildung ist geschlechtsneutral”. Dabei spricht ja doch einiges für dieses Postulat. Eine Orientierung der politischen Bildung an “wesenseigenen” Bedürfnissen und Interessen eines Geschlechts würde eine “naturhafte” (ontologische) Vorstellung von “Geschlechterdifferenz” voraussetzen, die inzwischen niemand mehr vertritt – schon gar nicht die VerfasserInnen dieses Bandes. Eine an fachwissenschaftlichen Kategorien wie Macht, Herrschaft, Interesse, Solidarität, Demokratie, Freiheit und Gleichheit ansetzende politische Bildung muß nicht per se “geschlechtsblind” sein, wenn sie nur hinreichend – d.h. im Hinblick auf reale Diskriminierung samt ihren Bedingungszusammenhängen – problembewußt ist. Der durchaus noch vorhandene “Geschlechterbias” (Auswahl der Inhalte entspricht eher dem Politikverständnis von Jungen, dem Politikverständnis von Mädchen und ihren Interaktionsformen wird nicht die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt) läßt sich auf der Grundlage einer universalistisch konzipierten politischen Bildung sowohl konzeptionell wie unterrichtspraktisch überwinden: Warum auch sollten Mädchen nicht lernen, was Jungen können (sollen)? Eine geschlechterbezogene Normierung könnte sogar eine sozial konstruierte Geschlechterdifferenz verfestigen, die gerade Gegenstand der Kritik ist.
Dennoch ist Anlaß zu kritischem Nachfragen gegeben. Die Zuweisung von ungleichen Chancen auf soziale und politische Teilhabe erfolgt immer noch in gesellschaftlichen Verhältnissen, die in erheblichem Maße durch Geschlechtszugehörigkeit strukturiert werden – und das hat, wie gezeigt wird, immer noch zu wenig bedachte Konsequenzen: Geschlechtsneutral konzipierte Bildungsangebote werden von Jungen und Mädchen nicht in gleicher Weise, sondern geschlechtsspezifisch unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet. Die qua “Geschlecht” vermittelte Selbstwahrnehmung und Identitätsbildung schafft subjektiv und objektiv unterschiedliche Betroffenheit. Eine geschlechtsneutral entfaltete Handlungskompetenz ist nicht unbedingt “verwendungsneutral” in geschlechtlich konnotierten und strukturierten politischen Handlungsfeldern. Analog zum “interkulturellen Verstehen” ist es offenbar notwendig, auch “geschlechtergerechtes Verstehen” zu lernen.
Diese mit zahlreichen Fakten belegten Befunde haben die Herausgeberinnen zu diesem Sammelband inspiriert, der aus einer Ringvorlesung an der Universität Bielefeld und dem dortigen Zentrum für Lehrerbildung hervorgegangen ist. Ihr Anliegen, die bislang vorliegenden geschlechtskritischen Ansätze in der politischen Bildung zu bündeln, weiterzuentwickeln und in den fachdidaktischen Diskurs zu integrieren, wurde auf drei Ebenen realisiert: In einer Zwischenbilanz zur Rezeption der Geschlechterforschung in der Fachdidaktik wird untersucht, welche Relevanz die Kategorien “Geschlecht” und “Geschlechterverhältnis” für die Theorie und Praxis der politischen Bildung haben (Wetterau/Oechsle). Viele Fragen, die sich aus der Defizitanalyse ergeben, werden in einem zweiten Teil aus soziologischer und politikwissenschaftlicher Sicht thematisiert. Umbrüche in den Geschlechterbeziehungen (Angelika Dietzinger), tieferliegende Ursachen der gegen Aufklärungsversuche oft resistenten Vorbehalte gegen die Thematisierung diskriminierender Geschlechterdifferenzen (Michael Meuser), die marginale Rolle von Frauen in der Politik (Beate Hoecker), didaktische Konsequenzen von Paradigmenwechseln in der Geschlechterforschung (Birgit Sauer) und das Geschlechterverhältnis im Spannungsfeld von politischer Regulierung und privater Lebensführung (Sabine Berghahn) werden ebenso untersucht wie – in einem dritten Teil – die daraus ableitbaren didaktischen und z.T. curricularen Konsequenzen (D. Richter, P. Henkenborg, H. Hoppe, B. v. Borries, M. Hempel und S. Arndt). Alles in allem ein Buch, das didaktisch aufschlußreich und weiterführend ist.
Karl A. Otto
[IF]
Politische Bildung und Geschlechterverhältnis – OECHSLE; WETTERAU (JSSE)
OECHSLE, Mechtild; WETTERAU, Karin (Hrsg.). Politische Bildung und Geschlechterverhältnis. Opladen: (Verlag Leske + Budrich), 2000. Resenha de: OTTO, Karl A. Wie geschlechtsneutral kann politische Bildung sein? Journal of Social Science Education, n.1, 2000.
Das Buch ist eine “feministische Antwort” auf das – als Provokation empfundene – normativ gemeinte Diktum: “Politische Bildung ist geschlechtsneutral”. Dabei spricht ja doch einiges für dieses Postulat. Eine Orientierung der politischen Bildung an “wesenseigenen” Bedürfnissen und Interessen eines Geschlechts würde eine “naturhafte” (ontologische) Vorstellung von “Geschlechterdifferenz” voraussetzen, die inzwischen niemand mehr vertritt – schon gar nicht die VerfasserInnen dieses Bandes. Eine an fachwissenschaftlichen Kategorien wie Macht, Herrschaft, Interesse, Solidarität, Demokratie, Freiheit und Gleichheit ansetzende politische Bildung muß nicht per se “geschlechtsblind” sein, wenn sie nur hinreichend – d.h. im Hinblick auf reale Diskriminierung samt ihren Bedingungszusammenhängen – problembewußt ist. Der durchaus noch vorhandene “Geschlechterbias” (Auswahl der Inhalte entspricht eher dem Politikverständnis von Jungen, dem Politikverständnis von Mädchen und ihren Interaktionsformen wird nicht die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt) läßt sich auf der Grundlage einer universalistisch konzipierten politischen Bildung sowohl konzeptionell wie unterrichtspraktisch überwinden: Warum auch sollten Mädchen nicht lernen, was Jungen können (sollen)? Eine geschlechterbezogene Normierung könnte sogar eine sozial konstruierte Geschlechterdifferenz verfestigen, die gerade Gegenstand der Kritik ist.
Dennoch ist Anlaß zu kritischem Nachfragen gegeben. Die Zuweisung von ungleichen Chancen auf soziale und politische Teilhabe erfolgt immer noch in gesellschaftlichen Verhältnissen, die in erheblichem Maße durch Geschlechtszugehörigkeit strukturiert werden – und das hat, wie gezeigt wird, immer noch zu wenig bedachte Konsequenzen: Geschlechtsneutral konzipierte Bildungsangebote werden von Jungen und Mädchen nicht in gleicher Weise, sondern geschlechtsspezifisch unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet. Die qua “Geschlecht” vermittelte Selbstwahrnehmung und Identitätsbildung schafft subjektiv und objektiv unterschiedliche Betroffenheit. Eine geschlechtsneutral entfaltete Handlungskompetenz ist nicht unbedingt “verwendungsneutral” in geschlechtlich konnotierten und strukturierten politischen Handlungsfeldern. Analog zum “interkulturellen Verstehen” ist es offenbar notwendig, auch “geschlechtergerechtes Verstehen” zu lernen.
Diese mit zahlreichen Fakten belegten Befunde haben die Herausgeberinnen zu diesem Sammelband inspiriert, der aus einer Ringvorlesung an der Universität Bielefeld und dem dortigen Zentrum für Lehrerbildung hervorgegangen ist. Ihr Anliegen, die bislang vorliegenden geschlechtskritischen Ansätze in der politischen Bildung zu bündeln, weiterzuentwickeln und in den fachdidaktischen Diskurs zu integrieren, wurde auf drei Ebenen realisiert: In einer Zwischenbilanz zur Rezeption der Geschlechterforschung in der Fachdidaktik wird untersucht, welche Relevanz die Kategorien “Geschlecht” und “Geschlechterverhältnis” für die Theorie und Praxis der politischen Bildung haben (Wetterau/Oechsle). Viele Fragen, die sich aus der Defizitanalyse ergeben, werden in einem zweiten Teil aus soziologischer und politikwissenschaftlicher Sicht thematisiert. Umbrüche in den Geschlechterbeziehungen (Angelika Dietzinger), tieferliegende Ursachen der gegen Aufklärungsversuche oft resistenten Vorbehalte gegen die Thematisierung diskriminierender Geschlechterdifferenzen (Michael Meuser), die marginale Rolle von Frauen in der Politik (Beate Hoecker), didaktische Konsequenzen von Paradigmenwechseln in der Geschlechterforschung (Birgit Sauer) und das Geschlechterverhältnis im Spannungsfeld von politischer Regulierung und privater Lebensführung (Sabine Berghahn) werden ebenso untersucht wie – in einem dritten Teil – die daraus ableitbaren didaktischen und z.T. curricularen Konsequenzen (D. Richter, P. Henkenborg, H. Hoppe, B. v. Borries, M. Hempel und S. Arndt). Alles in allem ein Buch, das didaktisch aufschlußreich und weiterführend ist.
Karl A. Otto
[IF]
Gênero em debate. Trajetórias e perspectivas na historiografia contemporânea – SAMARA et al (RBH)
SAMARA, Eni de Mesquita; SOHIET, Raquel e MATOS, M. Izilda S. de. Gênero em debate. Trajetórias e perspectivas na historiografia contemporânea. São Paulo, EDUC, 1997. Resenha de: MOREIRA, Maria de Fátima Salum. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.20 n.39, 2000.
Eni de Mesquita Samara, Rachel Sohiet e Maria Izilda S. de Matos são professoras universitárias, vinculadas aos Departamentos de História da USP, PUC-SP e UFF -RJ, respectivamente, cujas trajetórias junto à pesquisa em História têm sido marcadas pela preocupação com as investigações sobre as mulheres e, mais recentemente, também pelos estudos de gênero. Enquanto as análises de Samara e Sohiet denotam as suas preocupações mais marcadamente influenciadas pelos estudos e práticas feministas, Matos tem indicado em seus últimos trabalhos a necessidade de também se valorizar, em enfoques de gênero, as perspectivas de análise relacionadas às experiências vividas pelos homens e a construção das significações sociais relativas ao “ser masculino”. Autoras dos três textos que compõem o livro Gênero em Debate, Sohiet, Samara e Matos apresentam as suas abordagens teóricas particulares e também demarcam os temas e problemáticas aos quais têm dado primazia em seus trabalhos de pesquisadoras.
O que as reúne é o objetivo de discutir os referenciais teóricos de gênero que se fazem presentes na historiografia contemporânea e que têm nas mulheres o seu principal objeto de estudo. Para isto, discutem o contexto nos quais as pesquisas sobre a mulher e sobre gênero surgiram e foram originalmente pensadas, assim como a questão das influências recíprocas entre a produção historiográfica e o movimento feminista. Abordam a crise dos paradigmas e premissas conceituais da ciência moderna, bem como as diversas tendências e correntes teóricas presentes no campo da disciplina histórica contemporânea, situando, a partir daí, os seus pontos de vista quanto aos aspectos teóricos e metodológicos que priorizam na produção historiográfica.
As autoras ressaltam as análises que enfatizam a necessidade de crítica às noções abstratas e universais de homem e de mulher, apontando para a importância em se produzir interpretações que considerem a “diferença dentro da diferença”, isto é, a pluralidadade de masculinos e femininos que se constituem em cada situação histórica particular. Enquanto em seu texto “Outras Histórias: as Mulheres e Estudos dos Gêneros”, Matos ressalta a importância de se entrecruzar elementos como cultura, classe, etnia, geração e ocupação para se acompanhar a diversidade na construção social dos gêneros, em “O Discurso e a Construção da Identidade de Gênero na América Latina”, Mesquita aponta para a necessidade de atenção para as variáveis raça e classe, visando a “realizar estudos comparativos que vão nuançar as diferenças mas, ao mesmo tempo, realçar e permitir o entendimento dos pontos em comum das “identidades femininas”1.
Embora Sohiet, em “Enfoques Feministas e a História: desafios e perspectivas” também indique a crítica historiográfica que opôs as categorias históricas universais às idéias de diferença e de múltiplas identidades para as mulheres, a sua reflexão propõe um debate mais voltado para os pressupostos da história social que têm como eixo a investigação das relações de poder travadas nas lutas do viver cotidiano, com ênfase na análise das práticas e representações que constituem a experiência social e cultural dos sujeitos. Deste modo, a autora destaca a importância do trabalho com a categoria gênero nos estudos referentes aos interesses e jogos de poder relativos às políticas de Estado e demais instituições sociais. Porém, a sua ênfase é para a necessidade de um trabalho voltado para a história do cotidiano e das mulheres, de forma a garantir maior visibilidade aos processos sociais em que estas viveram “papéis informais, situações inéditas e atípicas”. Insistindo, portanto, no estudo das lutas e poderes das mulheres, inscritos em uma “experiência feminina”, a autora apresenta as suas ressalvas a uma historiografia sobre as mulheres que seja construída dentro dos mesmos pressupostos metodológicos e mesmos marcos políticos e cronológicos de uma história escrita pelos setores dominantes e do ponto de vista masculino.
Analisando a produção bibliográfica, principalmente a brasileira e européia ocidental, as discussões de Matos levantam questões em torno dos novos desafios colocados para o trabalho do historiador, a partir da “politização do privado e da privatização do público”, considerando-se a “pluralidade de possíveis vivências e interpretações em relação às diferentes dimensões da experiência social, inclusive, a da trama das relações cotidianas”2. Indica, ainda, para o campo de controvérsias que se encontra aberto e que requer a continuidade dos debates sobre o trabalho com o conceito de gênero em torno de problemas tais como os de “definição, fontes, método e explicação”. A sua crítica, entretanto, ressalta o quanto a produção historiográfica tem privilegiado “o enfoque das experiências femininas em detrimento de seu universo de relações com o mundo masculino”, sendo poucos os estudos que tratam da masculinidade ou da homossexualidade, “deixando de revelar a pluralidade dos masculinos e femininos”3.
Mesquita propõe uma discussão em torno da utilização das categorias gênero e identidade nos estudos sobre as mulheres na América Latina. A sua preocupação é discutir como a historiografia tem abordado a “condição feminina e as relações entre os sexos na América Latina” e para isto apresenta aos seus leitores uma discussão da ampla e variada produção bibliográfica mais recentemente publicada nos Estados Unidos e em vários países da América Latina. Conclui que, “apesar das tradições culturais comuns, é impossível traçar um perfil único para a mulher da América Latina”, sendo que a complexidade da vida destas mulheres deve ser remetida a uma reflexão sobre a diferença “nas práticas cotidianas, no discurso, no processo de socialização e na construção da identidade social de gênero”4. A autora realiza, ainda, uma discussão sobre o significado do “marianismo” e do “machismo” na construção dessas identidades de gênero.
Os textos indicam tanto para os impasses e tensões que permeiam a discussão do conceito de gênero diante da impossibilidade em se trabalhar com categorias definitivas ou precisas no campo da ciência atual, como para a carência de um aprofundamento da discussão teórica e interpretativa que fundamenta estudos sobre gênero, sugerindo a necessidade de adensar a bagagem conceitual e intelectual que envolve tal categoria. Sem dúvida, no campo geral dos estudos históricos, é necessário que se realizem e concretizem trabalhos que permitam avançar para além de meras descrições ou apresentações de determinados temas ou matérias. Ao invés disto, é preciso que se venha a propor novas configurações interpretativas e conceituais, as quais possam servir de suporte e de ferramentas para a descoberta de outras realidades históricas.
Constituindo-se em um importante referencial para a ampliação das reflexões propostas atualmente pelos estudos de gênero, este livro pode corresponder a um duplo interesse do leitor, tanto pela discussão teórica e bibliográfica proposta, como pelo diálogo com autores que são agentes do próprio processo de produção de conhecimento que se propuseram analisar e discutir. Em uma linguagem didática e acessível àqueles que se pretendem iniciar os estudos neste campo historiográfico, e sem incidir na simplicação dos conceitos, tal obra visa a situá-los nos debates teóricos e colocá-los a par da diversificada bibliografia recentemente publicada sobre o assunto.
Notas
1 SAMARA, Eni de Mesquita; SOHIET, Raquel e MATOS M. Izilda S. de. Gênero em Debate. Trajetórias e Perspectivas na Historiografia Contemporânea. São Paulo, EDUC, 1997,
pp. 45-46.
2 Idem, p. 105.
3 Idem. p. 106.
4 Idem, p. 13.
Maria de Fátima Salum Moreira – UNESP/Pres. Prudente.
[IF]
Género y Epistemología. Mujeres y disciplinas – MONTECINO; OBACH (RCA)
MONTECINO, Sonia; OBACH, Alejandra (Compiladoras). Género y Epistemología. Mujeres y disciplinas. Santiago: Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 1998. Resenha de: OSES, Darío. Revista Chilena de Antropologia, n.14, p.163-164, 1997/1998.
Darío Oses – Universidad de Chile Acesso apenas pelo link original
[IF]
Ao Sul do Corpo. Condição feminina, maternidades e mentalidade no Brasil Colônia / Mary Del Priori
A obra Ao Sul do Corpo. Condição feminina, matemidades e mentalidades no Brasil Colônia, de autoria da historiadora Mary DEL PRIORI, publicada por J o s é Olympio e EdUnB, em 1993, cobre uma enorme lacuna existente para o estudo da condição feminina na Colônia, povoada sobretudo por “mestiças” e marcada pelo entrecruzamento de etnias diversas, caracterizadas pela alteridade: brancas, negras e índias. Além de demonstrar grande trânsito com a bibliografia internacional, a autora realizou excelente pesquisa de documentos, muitos deles certamente inéditos: fontes manuscritas e impressas (Arquivo Nacional e do Estado de São Paulo e da Cúria Metropolitana de S ã o Paulo; Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e de Lisboa; Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
DEL PRIORI referencia sua reflexão no processo civilizatório europeu de normatização da mulher que atinge toda a cristandade ocidental, sobretudo a partir do Concilio de Trento (1545-1563), e que é elemento central do movimento de reorganização das funções do corpo, dos gestos e dos hábitos, traduzidos em condutas individuais, as quais deveriam refletir a pressão organizadora moderna dos jovens Estados burocráticos sobre toda a sociedade. Ou seja, tratava-se da privatização do eu e, simultaneamente, da apropriação privada dos meios de produção. Esta nascente ética sexual assentada no adestramento, sobretudo da mulher, fez-se, nos trópicos, a serviço do processo de colonização.
Tratava-se de organizar as gentes e o povoamento da Colônia marcada nos três primeiros séculos pelos fluxos e refluxos humanos, isto é, por uma convulsiva mobilidade, especialmente dos homens. Em lugar de condutas individuais (noção de privacidade do eu), identifica-se, no p e r í o d o , uma enorme disponibilidade sexual contaminada pela exploração sexual do escravismo, por um amolengamento moral e, como diria Caio Prado Jr. em Formação do Brasil Contemporâneo, por “falta de nexo moral” e “irregularidade de costumes”. Predomínio de ligações consensuais, chamadas de “tratos ilícitos”, de filhos gerados em amasiamento de brancos com í n d i a s e em concubinato (trazido pelos portugueses e amplamente divulgado nas classes subalternas) e de famílias matrifocais: a mãe integradora de seu fogo doméstico, ou seja, mantenedora, gestora e guardiã dos seus e de outros filhos ilegítimos.
A reflexão sobre o processo de normatização e adestramento da mulher na Colônia é feita, sobretudo, a partir da análise dos discursos e práticas da Igreja e dos médicos. A ação moralizante da Igreja após o século XVI, que teve como alvo o combate às sexualidades alternativas, o concubinato, as religiosidades desviantes e a valorização do casamento e da austeridade familiar, vai se erigir na Colônia por razões do Estado: necessidade de povoamento das capitanias, de segurança e de controle social. As mães, em sua função social e psicoafetiva, transformam-se no período em estudo, num projeto do Estado e principalmente a Igreja encarregarse- á de disciplinar as mulheres da Colônia, fazendo-as partícipes da cristianização das índias. Os filhos nascidos fora do casamento comprometiam a ordem do Estado Metropolitano, pois implicavam no incremento de “bastardos” e “mestiços”, colocados pelo p r ó p r i o sistema nas fímbrias da marginalidade social As mães, chefes da maioria das casas e das famílias – mantenedoras de seus fogos domésticos -, foram eleitas como responsáveis pela interiorização dos valores tridentinos. O casamento insolúvel, a estabilidade conjugai, a valorização da família legítima – espécie de fermento da cristandade -, apresentadas como recompensa e reconforto frente à generalizada situação de abandono por parte dos homens-maridos-companheiros- pais.
O modelo europeu é trasladado à Colônia, pois aqui, no “trópico dos pecados”, morava por excelência, o Diabo. Daí a maior necessidade de ordenação e de normatização. O alvo preferido foram as mães solteiras pois estas não conheciam as benesses do casamento.
A maternidade passa a ser a remissão das mulheres e o preço da segurança do casamento o “portar-se como casada”. A identidade da mulher que se constituía de uma gama de múltiplas funções (mãe de filhos ilegítimos, companheira de um bígamo, manceba de um padre, etc.), deveria passar a introjetarse apenas nas relações conjugais.
A Igreja contou, para a implantação de tal projeto, com a fabricação generalizada da culpa (Pastoral de culpabilização dos fiéis), do medo (Pedagogia do medo), da vitimidade e da intensificação da polaridade mãe-santinha X puta. Esta última tornou-se o bode e x p i a t ó r i o do projeto de normatização, enquadrável enquanto tal toda a mulher que não se “portasse como casada” e como “mãe-santinha”: ambigüidade dos papéis de lascívia e pobreza que confundiam a vida sexual irregular com prostitutas, identificadas ainda no século XIX pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro com “cancro”, “chaga”, “úlcera” e “gangrena”.
As não casadas e o aborto associados à luxúria, ao de mônio, ao inferno. O parto sem dor como parto sem pecado: maior devoção, melhor parto. O filho imperfeito, resultado da prática do sexo em dias proibidos ou com animais, ou então resultado da “imaginação feminina”. Os filhos gerados fora do casamento, comparados à “imperfeição da cristandade” e “aleijados da natureza”.
Destacam-se a eloqüência dos sermões difundindo a idéia de mulher como naturalmente sereia, diaba e perigosa e impondo a devoção a Nossa Senhora com vistas a comportamentos ascéticos, castos, pudibundos e severos, a l ém do culto à virgindade e o confessionário como instrumento potente de controle de intenções.
Por sua vez, o discurso normativo médico sobre o funcionamento do corpo feminino apoiava o discurso da Igreja na medida em que indicava como função natural da mulher, a procriação. Fora desta, restava-lhe o lugar da exclusão: a melancolia ou a luxúria. Ao estatuto biológico da mulher, o discurso médico procurava associar outro, moral e metafísico: esta tem um temperamento comumente melancólico, é um ser débil, frágil, de natureza imbecil e enfermiça.
O critério do útero como regulador da saúde física e mental da mulher irradiava-se da Europa do Antigo Regime, difundindo a mentalidade de que a mulher era física e mentalmente inferior ao homem. A concepção e a gravidez como rem é d i o para todos os “achaques femininos”. A medicina comprazia-se, ainda no século XVIII, em enxergar nos males físicos, sinais de transgressão sexual. Assim, histeria guardou o nome grego de ú t e r o (hyster) e um corpo h i s t é r i c o era denotativo de desordem moral.
A menstruação era associada à magia, transformações e veneno, atualizando as proposições de Santa Hildegarda de que aquela era um castigo decorrente do pecado original. Este sangue envenenado tinha o poder de estragar o leite, vinho, colheitas e metais: pelo excesso de secreções e odores a mulher devia se isolar em seu cotidiano.
Se menstruada a mulher era ameaçadora e grávida vulnerável, conclui-se pela urgência de novas matemidades. A autora localiza, inclusive, anotações médicas indicando o mal-estar dos homens diante das feiticeiras, capazes de adoecê-los, mas também de curá-los com seu sangue poderoso.
Só a partir de 1750 os médicos vão substituir o temor pelo cuidado. Apenas no final do século XVIII identificam-se modestos avanços da medicina no sentido de identificar outras razões para enfermidades femininas que não o clima ou a vida pecaminosa – os terríveis males da “madre”.
A importância da lactação passa a ser percebida tanto por doutores, quanto pela Igreja como um dever moral, desde o século XVI. A partir daí instaura-se o combate às amas-deleite: cada vez mais o aleitamento torna-se um dever e parte fundamental do processo de sacralização do papel da mãe.
Assim, no século XVIII localiza-se uma nova representação da Nossa Senhora do Bom Parto: uma mulher feliz com filhos nos braços e não mais grávida.
Por sua vez, se a puta era o bode expiatório do projeto de normatização, a partir do século XIX será o bode expiatório também do processo de higienização da sociedade. Tratava-se de higienizar a noção de sexualidade: exaltação da sexualidade conjugai, na medida em que o prazer em excesso e a ausência de finalidade reprodutora passam a ser condenados pela medicina como doença física e moral.
Fundamental no processo, localizar o papel do marido: cabeça da mulher, que cuida para que ela cumpra os encargos da profissão cristã. Para evitar as tentações ela devia ser obrigada a obedecê-lo por preceito divino, nem cabelo cortar sem sua autorização. As mulheres deveriam ser fiéis, submissas, recolhidas e sobretudo fecundas. O marido passava a ser o único elo de ligação com o mundo. Assim, aquele torna-se uma espécie de porta-voz das demandas de adestramento propostas pela Igreja, a l ém de ser motivo para um sutil processo de culpabilização, pois em torno dele se mostraria uma estratégia de gratidão escravizante. Os maridos deveriam ser dominadores, voluntariosos, insensíveis e egoístas no exercício da vontade patriarcal.
Assim, pode-se pensar que o processo de adestramento, ao colocar os maridos, os filhos e os pais ocupando determinadas posições em relação às mulheres, disciplina o próprio gênero masculino, construindo, conseqüentemente, uma nova identidade masculina. Por sua vez, ainda que a autora destaque o projeto matrimônio-maternidade enquanto concebido como espaço normatizador, n ã o aponta a sua contra face que é a ligação com a paternidade, matrimônio-paternidade. O silêncio das fontes sobre a paternidade é denunciador da própria incerteza e da dificuldade de naturalização da mesma. Isto se deve, em boa medida, pela sinonimização que é feita da categoria de g ê n e r o ora por sexo, ora por mulher. Neste sentido, o conceito é desvirtualizado, pois não se remete à dimensão relacionai, fundante do mesmo.
Outro aspecto a considerar é a questão da misoginia. Na verdade a autora atribui às mentalidades populares a missão “…de guardiã da misoginia” (pg.334). No entanto, no conjunto mesmo do texto, percebe-se que a misoginia é transversal a todos os segmentos sociais. Todos os saberes que as bruxas tinham sobre o corpo feminino causavam pânico, e foram responsáveis pela instauração da Caça às Bruxas. Obviamente a condenação das mesmas deveu-se à Igreja e à nobreza e n ão às classes populares. Ao contrário, estas recorriam, nas suas necessidades fundamentais, às feiticeiras, simultaneamente chamadas de fadas, quando seus conhecimentos e práticas davam resultados.
Assim, a misoginia n ã o pode ser atribuída fundamentalmente às mentalidades populares, conforme exprime a autora. Ao contrário, apesar de se referir inúmeras vezes ao Diabo, parece n ã o considerar que a T o l i t i z a ç ã o do Diabo” deu-se na Europa, simultaneamente, como mecanismo de resistência dos oprimidos e como mecanismo de dominação por parte da Igreja e das elites, processo de lutas que eclodirá na Caça às Bruxas, sobretudo nos séculos XVI e XVII. Assim, a proximidade da q u e s t ã o referida à misoginia, bem como do p r ó p r i o processo de normatização da mulher, com a questão das feitiçarias, do Diabo e da Caça às Bruxas é evidente. Porém disto a autora n ã o se ocupou.
Enquanto historiadora, poderia ter realizado uma excelente análise, ainda que para melhor referenciar-se, do próprio movimento desencadeado na Europa no p e r í o d o estudado: o Racionalismo, colocando todos os homens e mulheres como iguais e que seguirá convivendo com a misogina ancestral.
A mulher continuará pecadora, lasciva, demoníaca, etc, embora igual ao homem perante Deus e perante a Lei. O projeto de normatização e adestramento, objeto de estudo da pesquisadora, é o exemplo mais bem acabado desta ambigüidade.
Esta lacuna é de certa forma compreensível, quando a autora não se permite falar pela maioria: n ã o explicita os segmentos sociais a que se remete. Isso faz supor que fale por todos, mas é a partir do lugar das elites que sua fala é construída.
Pode-se exemplificar através da atribuição que Del Priori indi ca (p.37) às mães no que tocava à responsabilidade pelo ensino das primeiras letras aos filhos. N ã o se pode esquecer que a maioria da população, no p e r í o do considerado pelo estudo, era analfabeta.
Neste sentido, observa-se ainda que a autora, embora expresse conhecimento exaustivo da literatura francesa, e uma lógica narrativa enunciativa foucaultiana, não cita este autor (Foucault), em sua bibliografia, e ao mesmo tempo, n ã o consegue realizar, à semelhança do mesmo, o estudo processual da construção e da expansão nos diferentes segmentos sociais do projeto que trata de se tornar hegemônico.
A virtude mais frutífera da obra para a historiografia da mulher é a comprovação de “… que existiam, sim, fontes para a história da mulher no p e r í o do colonial…” (p.15). Essa comprovação implicou num volumoso trabalho de busca e organização de novas fontes, bem como uma originalidade expressiva no tratamento das fontes j á conhecidas.
Também descreve com agudez a rede de solidariedades e de micro poderes e saberes que as mulheres desenvolvem e se envolvem durante o p e r í o do colonial, mas não consegue perceber as tensões geradoras de resistências neste processo.
Desta forma, Del Priori reforça o pensamento tradicional, ainda dominante, do feminino e das mulheres incorporadas historicamente como objetos e não como sujeitos.
É lamentável, portanto, que o olhar que localiza e investiga as mulheres continue a ser o olhar que vê e fala pelas mulheres dando luz às suas passividades, n ã o visibilizando nem buscando (pg.335) suas opções, práticas, gritos e projetos.
Nesta direção, exemplificando, podemos lembrar que a pesquisadora não assume a promiscuidade e as relações não legítimas como projetos possíveis de resistência por parte de uma grande maioria de mulheres. Simultaneamente, não consegue explicitar como estas assumem o matrimonio-maternidade como projeto próprio, sendo que, segundo ainda a própria autora, o destino das mulheres-mães casadas era quase trágico (pg. 63).
A “irregularidade de costumes”, o fluxo contínuo, sobretudo de homens, as mulheres mantenedoras de seus fagos domésticos, mães de filhos de muitos pais, nunca deixou de ser uma constante, principalmente entre os pobres aqui e em outras colônias. Na atualidade, na América Latina, h á 25 milhões de lares chefiados por mulheres.
O fato do projeto normatizador ter se tornado hegemônico para as elites e as classes médias brasileiras com linhagens e/ou patrimônios a salvaguardarem não nos permite pensar que estes milhões de mulheres chefes de família foram “deixadas para trás” e a elas atribuir unilateralmente a solidão, a humilhação, o abandono e a violência (noções que transversalizam todo o texto).
E o olhar católico que parece não permitir o olhar e a análise críticos do dado destacado pela investigadora (pg. 51 e repetido na pg. 175), de que em Minas Gerais no século XIX ainda havia um predomínio de famílias matrifocais – cerca de 45% do total, sendo que 83% destas nunca haviam se casado.
A promiscuidade e o casamento não sacramentado podem ter sido e continuar a ser um projeto para muitas mulheres. Por que não? Por que olhá-las apenas a partir da vitimidade? Neste sentido, o olhar da autora coincide com o olhar do projeto normatizador da Igreja-Estado, apoiados pela j u r i s p r u d ê n c i a e pelo discurso médico. E que é, por excelência, o olhar masculino racional-universalizante. E um dos inú meros avanços possibilitados pela perspectiva de g ê n e r o é a construção de outros olhares e de outros lugares de fala, que rompam com aquele, ainda hegemônico no pensamento ocidental moderno.
Deis Siqueira – Doutora em Sociologia e professora na UnB, Lourdes Bandeira – Doutora em Sociologia e professora na UnB e Silvia Yannoulas – Mestre em Sociologia.
DEL PRIORI, Mary. Ao Sul do Corpo. Condição feminina, maternidades e mentalidade* no Brasil Colônia. Brasília, Rio de Janeiro: Editora da UnB, José Olímpio, 1993. Resenha de: SIQUEIRA, Deis; BANDEIRA, Lourdes; YANNOULAS, Silvia. Textos de História, Brasília, v.2, n.3, p.148-157, 1994. Acessar publicação original. [IF]