Posts com a Tag ‘Fotografia’
Historia de la fotografía en Mérida. Tomo I. | Gabriel Pilonieta Blanco
Gabriel Pilonieta Blanco es merideño, licenciado en Historia por la Universidad de Los Andes y fotógrafo desde su adolescencia. Esas dos pasiones: la historia y la fotografía, se unieron en un interés “obsesivo” por historiar el entorno más inmediato a su vida, y desde hace unos cuantos años, su querencia lejana: la memoria gráfica de su lar nativo. Leia Mais
Fotografía/ Estado y sentimiento patriótico en el Uruguay de Terra | Ana María Rodríguez Ayçaguer
Detalhe de capa de Fotografía, Estado y sentimiento patriótico en el Uruguay de Terra
Este libro es un ejemplo de cómo el trabajo de archivo y sus experiencias «erráticas» al decir de Lila Caimari (La vida en el archivo, 2017), producen frutos mucho más allá de los planes iniciales de quien investiga, abriendo puertas a agendas tan imprevistas como fructíferas.
En él se ofrece una descripción con relativo detalle de un proyecto cultural estratégico en un momento clave de la historia política uruguaya, el régimen terrista. En un trabajo organizado de acuerdo a varios ejes: el contexto político y las figuras de las que surge el proyecto, sus posibles antecedentes, su implementación en etapas y el análisis de lo que se conoce de su registro fotográfico, la autora nos acerca a las discusiones y prácticas políticas de la época en lo relacionado al lugar de la cultura y en particular al que la idea de «patria» tuvo en un modelo que se presentaba como alternativa al batllismo. Leia Mais
Colombia. Un viaje fotográfico: las colecciones de Stübel y Reiss (siglo XIX) | Sven Schuster, Jessica Alejandra Neva Oviedo
Este libro es el resultado de un convenio entre la Universidad del Rosario (Bogotá), el Museo Reiss-Engelhorn de Mannheim (REM) y el Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) para la adquisición y digitalización de varias fotografías compradas por los vulcanólogos alemanes Alphons Stübel y Wilhelm Reiss durante su inesperada expedición por Sudamérica entre 1868-1877. Más en concreto, es un trabajo que se enfoca en el análisis de unas 160 imágenes recolectadas por ambos científicos en su paso por los Estados Unidos de Colombia; 1 la primera de varias paradas en el subcontinente que los llevaron a consolidar una robusta colección de 2300 piezas en nueve años: a todas luces, las más completa de mediados del siglo XIX de acuerdo con los autores de la obra (p. 41). Leia Mais
Imaging Culture: Photography in Mali/West Africa | Candace Keller
Aqueles que se interessam por fotografia africana contemporânea, e mesmo os que gostam de fotografia contemporânea sem outro adjetivo, já devem ter tido contato com as obras de Seydou Keïta (1921- 2001) e Malick Sidibé (1936-2016). Ambos malineses, mestres da fotografia preto-e-branco em estúdio, foram “descobertos” por curadores e colecionadores europeus no início da década de 1990. Ao longo dos anos que se seguiram participaram de exposições, receberam prêmios e seus trabalhos se tornaram ícones no mercado internacional de arte. Leia Mais
Calçadas de Porto Alegre e Beijing | Airton Cattani, César Bastos de Mattos Vieira e Lu Ying
César Bastos de Mattos Vieira | Foto: PROPUR/UFRGS
 UM OLHAR ATENTO
UM OLHAR ATENTO
O livro foi editado para documentar a exposição fotográfica Projeto Calçadas: Porto Alegre-Beijing, que ocorreu nos últimos meses de 2019, no Campus Central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre e, quase simultaneamente (com uma diferença de dias), no Advertising Museum da Communication University of China (CUC), em Beijing. A exposição (e o livro) é o resultado de uma missão acadêmica, intermediada pelo Instituto Confúcio, que professores brasileiros da UFRGS realizaram junto à CUC, na China, em outubro de 2018. Embora a edição impressa esteja esgotada, a versão digital pode ser acedida no sítio web da editora.
Airton Cattani, um dos organizadores do livro e da exposição, arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, vem trabalhando com a temática das calçadas em Porto Alegre desde 2007, quando da exposição fotográfica Olhe por onde você anda: calçadas de Porto Alegre, que também foi documentada em livro. Essa obra ganhou versão em língua espanhola especialmente para a exposição Mira por donde andas: aceras de Porto Alegre, realizada no Centro de Estudos Brasileiros da Embaixada do Brasil no México, em 2008. Em sua trajetória, Cattani desenvolveu um olhar atento ao registrar a beleza e poesia das texturas, brilhos, formas, padrões e cores das calçadas urbanas, indo além de imagens com características turísticas. Este foi o motting passado aos estudantes dos cursos da Faculdade de Arquitetura da UFRGS e de Design da CUC e que vemos no livro: um registro fotográfico sensível das calçadas de Porto Alegre e Beijing que alimentam e formam um background estético e diferenciado para futuras aplicações tanto na arquitetura quanto no design. Leia Mais
Los “indios de la Pampa” a través de la mirada misionera: un relato fotográfico del “dilatado yermo pampeano” | Ana María T. Rodríguez
Esta publicación es un nuevo aporte a uno de los objetivos que desde hace más de una década se incorporó a las distintas líneas de investigación y de extensión universitaria en el Instituto de Estudios Socio-Históricos (FCH-UNLPam): la inclusión de un área transversal destinada a la recuperación de fuentes y documentación histórica. De ese modo, se pretende socializar documentación, imágenes y testimonios para futuros estudios y la consulta del público.
En la línea de lo que podríamos denominar genéricamente “estudios de la religión”, el equipo dirigido por Ana María T. Rodríguez (2008) publicó inicialmente la traducción al español de Nella Pampa Central, donde el padre inspector salesiano José Vespignani historiza la presencia de los salesianos entre 1895 a 1922. El manuscrito, precedido por tres textos que lo contextualizan, fue redactado para dar cuenta del accionar religioso de esa congregación en esta región. Leia Mais
Battista Venturello. Las huellas de un largo peregrinaje por territorios indígenas | Augusto Javier Gómez López
Este libro revela una cautivadora coleccion fotografica que se encontraba hasta hace poco resguardada en un pesado y viejo baul de la familia Venturello.
El libro, coeditado por la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, hace parte de la coleccion especial Sublimis, la cual, tal y como su nombre lo indica, tiene como objetivo la publicacion de obras eminentemente extraordinarias. Al abrir y pasar sus paginas, el lector atraviesa una galeria etnografica y al internarse en la lectura de los textos, poco a poco encuentra y comprende el trasfondo historico en el que Battista Venturello obtuvo estos registros. Venturello nacio en el canton de Piamonte italiano en 1900 y a sus 22 anos salio de Turin en busqueda de las selvas africanas, pero un cambio de rumbo lo llevo a America. Alli, recorrio varias regiones colombianas durante la primera mitad del siglo xx y, finalmente, se radico en la ciudad de Cali. En la decada de 1960 fue el fundador, de la mano de sus hijos, de la primera industria de antenas de television en el pais. Leia Mais
Los “indios de la Pampa” a través de la mirada misionera: un relato fotográfico del “dilatado yermo pampeano” | Ana María Teresa Rodríguez
La presente obra acerca a sus lectores un álbum fotográfico inédito hasta el momento. El mismo se encuentra en el Archivo Histórico Salesiano Argentina Sur (AHS-ARS) sede CABA, bajo el título de “La Pampa indios”/ Misiones de La Pampa” y cuenta con 402 imágenes exhibidas en 99 páginas. Sus compiladoras, Ana María T. Rodríguez y Rocío Guadalupe Sánchez, son docentes e investigadoras del Instituto de Estudios Socio-Históricos – Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y del Instituto de Estudios Históricos Sociales de La Pampa -CONICETUNLPam. A través de este trabajo, buscan recuperar y socializar fuentes que aportan al estudio de la historia regional.
El libro cuenta con una introducción realizada por las compiladoras, cuatro capítulos que contextualizan el material fotográfico y, por último, el álbum completo. En la introducción, las autoras exponen sus sospechas de que aquellas imágenes probablemente fueron tomadas en 1924, durante una excursión a las márgenes del río Salado realizada por los salesianos Juan Farinati, José Durando y Enrique Pozzoli -quien además habría sido el fotógrafo. La hipótesis está basada en el estudio de fuentes bibliográficas realizadas por miembros de la congregación, en las que se alude a dicho viaje relacionado a los 50 años de la Congregación Salesiana en la Argentina. Éste se orientó a misionar, recolectar información y sacar fotografías para ser enviadas a la Exposición Misionera de Turín. Leia Mais
Exposing Slavery. Photography/Human Bondage/and the Birth of Modern Visual Politics in America | Matthew Fox-Amato
O livro de Matthew Fox-Amato resulta da tese de doutorado defendida no Departamento de História da Universidade do Sul da Califórnia. Composto de introdução, quatro capítulos e um epílogo, possui 92 imagens e parte de duas questões iniciais, colocadas pelo autor: como a descoberta, e subsequente uso, da fotografia “influenciou a cultura e a política da escravidão na América?”. E como, por seu turno, “a escravidão influenciou o desenvolvimento da fotografia – esteticamente e como prática cultural?” (p. 2). Leia Mais
Paris and The Cliché of History: The City and Photographs, 1860-1970 – CLARK (THT)
Catherine Clarke. Foto: Comparative Media Studies – MIT /
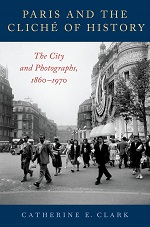 CLARK, Catherine E.. Paris and The Cliché of History: The City and Photographs, 1860-1970. New York: Oxford University Press, 2018. 328p. Resenha de: KERLEY, Lela F. The History Teacher, v.52, n.4, p.717-718, ago., 2019.
CLARK, Catherine E.. Paris and The Cliché of History: The City and Photographs, 1860-1970. New York: Oxford University Press, 2018. 328p. Resenha de: KERLEY, Lela F. The History Teacher, v.52, n.4, p.717-718, ago., 2019.
In this social history of photography, Catherine E. Clark demonstrates that the visual discourses and methodologies used to document the historical and urban landscape of France’s capital were constantly being reconceptualized over the course of the nineteenth and twentieth centuries. Journalists, curators, city officials, amateur and professional photographers, and societies contributed to a history of Paris that was inextricably linked with a history of photography. Woven into the book’s narrative is an institutional history of the Bibliothèque historique, the Musée Carnavalet, the Fédération nationale d’achats des cadres (FNAC), and the Vidéothèque de Paris vis-à-vis the local/national initiatives and photography contests they sponsored that punctuated, but also commemorated, larger historical shifts such as Haussmannization, the Occupation and Liberation of Paris, Americanization, and “les trente glorieuses.” By examining photographic collections spawned by these events, Clark presents a colorful portrait of how the French, but also foreign tourists, saw the city and interpreted its past, present, and future amid urban transformation.
The book begins with the overarching question: What is the history of preserving, writing, exhibiting, theorizing, and imagining the history of Paris photographically? (p. 1). These concerns are deftly addressed together in each of the five chapters, tracing the way in which understandings of the photographic image—its purpose, function, and the history it purported to communicate— shaped and were shaped by commercial and non-commercial interests. Building on earlier scholarship produced by cultural theorists such as Guy DeBord, Roland Barthes, and Susan Sontag, who view visual spectacle as a metaphor for changing relationships within the city, Clark adds her own original interpretation, arguing that the production, preservation, and use of photographs influenced, informed, and determined how people thought about Paris as a museum city and engaged with it physically (p. 216).
Chapter 1 focuses on Haussmannization, a city works project that precipitated the first major effort to document the destruction of “Vieux Paris.” Through the process of modernization, municipal authorities, archivists, and museum directors slowly shifted their reliance on more traditional forms of visual historical documentation (e.g., maps, paintings, and sketches) to the photograph as they discovered its inherent value as a piece of “objective” historical evidence. A method of scientific visual history, as Chapter 2 illustrates, came to the fore and introduced new “modes of seeing history” by the turn of the century (p. 2). Now considered “an objective eyewitness to history,” the photograph gave rise to photo-histories that were more didactic in their narration of historic events, providing explanations to viewers of how they should interpret the image.
Chapter 3 shows how the Occupation and Liberation of Paris engendered different “mode[s] of reading the photo” (p. 3). Through the practice of repicturing, heavily censored yet seemingly innocent photo-histories of famous Parisian landmarks kept the French revolutionary tradition alive by including a combination of visual forms that would recall acts of resistance embedded in viewers’ historical imagination. Seven years later, the Bimillénaire de Paris of 1951 reduced the photographic image to a visual cliché, and the subjects who figured in those pictures to typologies. Celebrating the last 2,000 years of French history, the Bimillénaire assumed a political bent and “appealed to those who sought to promote Paris as the commercial capital of Europe, backed by centuries of culture and history, not as an intellectual capital of revolutionary political thought” (p. 132). Chapter 4’s discussion of the city’s attempt to promote Paris as modern and futuristic in promotional posters, traveling exhibits, and magazines depended upon older models of seeing history and reading representations that attested to both change and continuity. Chapter 5 examines “C’était Paris en 1970,” a photo contest commissioned by the store FNAC that involved over 15,000 amateur photographers photographing everyday life within Paris (p. 174). Yet the very title of the contest underscored more of what had changed in the last 110 years of photographic documentation and collection rather than what remained the same. Whereas the historical value of a nineteenth-century photograph had taken decades to appreciate, historical value was immediately conferred the moment the photo was taken by the last third of the twentieth century.
This well-researched book will be of interest for those studying urban history, the history of Modern France, visual culture, and archival management. With over eighty illustrations, there is no lack of material with which to engage students. Its slim size and readily accessible prose is appropriate for both upperlevel undergraduates and graduate students, as it complements more in-depth theoretical discussions and debates on the politics of memory and the effects of technology in shaping national and local identities. Its interdisciplinary treatment of photography, publishing, the history of Paris, and the recording, preservation, and promotion of that history makes this an intriguing and indispensable text.
Lela F. Kerley – Ocala, Florida.
[IF]Série Verbetes Enciclopédicos | Angela Paiva Dionisio
Na contemporaneidade, é comum o aparecimento de novas formas de leitura que extrapolam recursos linguísticos. Os textos que circulam na escola, por exemplo, combinam imagens com palavras, dentre outras semioses, exigindo, assim, competências do aluno, além do domínio do código linguístico, de modo que seja possível dar sentidos aos textos lidos dentro e fora do contexto escolar.
Essa junção de modos semióticos distintos justifica o fenômeno da multimodalidade como ferramenta que subsidia os indivíduos na leitura/interpretação de textos multissemióticos (DIONISIO; VASCONCELOS, 2013), cabendo, portanto, à escola, enquanto instância privilegiada para a exploração de práticas de letramentos, propiciar eventos de leitura desses tipos de textos, a fim de que possa desenvolver uma aprendizagem mais eficiente. Leia Mais
Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina – MARTÍNEZ-PINZÓN; URIARTE (A-RAA)
MARTÍNEZ-PINZÓN, Felipe; URIARTE, Javier (Editores). Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2016. Resenha de: JARAMILLO, Camilo. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.27, jan./abr. 2017.
“En el principio fue la guerra y todo en América Latina tiene la marca de esa experiencia bélica fundacional, el big-bang que habría hecho posible la independencia, naciones, realidades políticas, [y] soberanías” (p. 88). Esta certera oración, escrita por Álvaro Kaempfer en la colección de ensayos que este texto reseña, es la idea estructural del reciente libro editado por Felipe Martínez-Pinzón y Javier Uriarte, Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina. Aunque informado por discusiones políticas e históricas, Entre el humo y la niebla busca reflexionar, sobre todo, y como su título lo dice, acerca del campo de las representaciones culturales y las maneras en las que estas han pensado y teorizado la guerra y, de paso, reforzado o desestabilizado lo que se entiende por ella. Al enfocarse en la literatura, la fotografía u otras formas de prácticas culturales, el libro llena un vacío en la producción académica latinoamericana, a la vez que extiende el diálogo con otras publicaciones de algunos de los autores también incluidos en la colección de ensayos, como los de Julieta Vitullo, Martín Kohan y Sebastián Díaz-Duhalde1. Uno de los hallazgos fundamentales del libro está en trascender la idea de la guerra como acto político e histórico y preguntar, como lo hacen los editores, “de qué hablamos cuando hablamos de guerra” (p. 24). Así, pensada a partir de sus representaciones culturales, la guerra se revela como una maquinaria cultural que moviliza las maneras en las que se entienden y construyen los espacios: la guerra, nos convence este libro, es un acto de espacialización. Estas representaciones permiten entender la guerra como una maquinaria y “epistemología estatal” (p. 11), y pensar las continuidades y similitudes entre los actos de hacer la guerra y constituir el Estado. Pero, sobre todo, y este es uno de los puntos neurálgicos del libro, se revela la guerra como laboratorio de representación y de ficción que lleva a los límites al lenguaje, a la forma y a sus significados: nos presenta la guerra como una “tecnología discursiva” (p. 5). Al hacer todo esto, Entre el humo y la niebla señala un corpus de representaciones culturales sobre la guerra y consolida un inicio para pensar el tema como eje de la cultura del continente.
El punto de partida es, más que la definición, la discusión de la indefinición del concepto de guerra y la delimitación de lo que se entiende por ella. Los editores parten de la idea de esta como “práctica militar y discursiva que da forma a la existencia/inexistencia del Estado-Nación moderno” (p. 12) y proponen “pensar la guerra como manera de entender las dinámicas de poder que constituyen el Estado, y que espacializan la geografía imaginada de las naciones y las regiones que componen América Latina” (p. 26). Este posicionamiento sobre lo que se entiende por guerra se amplía y complica a lo largo de los catorce ensayos mediante una reflexión sobre la cercanía de la guerra con la idea de la revolución (ver, por ejemplo, los ensayos de Juan Pablo Dabove y Wladimir Márquez-Jiménez incluidos en el libro), y se problematiza con reflexiones sobre esa nueva forma de hacer guerra como “condición permanente” (p. 10) entre Estados y sujetos en conflicto continuo, como es el ejemplo que expone el ensayo de João Camillo Penna sobre las favelas de Río de Janeiro. A través del recorrido de los ensayos presentes en la edición queda en evidencia la variedad de formas en las que la guerra se ha manifestado en Latinoamérica y, de ahí, su dificultad para teorizarla. A propósito de esto, Entre el humo y la niebla, aunque no la contesta, prepara el terreno para una pregunta por la transformación radical de la idea de guerra en los Estados neoliberales contemporáneos (y la transformación de la idea de Estado como tal) atravesados, en el caso particular de Colombia y México, por la guerra contra el narcotráfico.
Frente a la relación entre la guerra y el Estado, los editores se preguntan “si hacer estado es hacer la guerra” (p. 23) y señalan el acto bélico como una de las maneras más emblemáticas de visibilidad y praxis de este. Pensando en las maneras en las que se visibiliza y teoriza la guerra, cabe resaltar el ensayo de Álvaro Kaempfer, “El crimen de la guerra, de J. B. Alberdi: ‘Sólo en defensa de la vida se puede quitar la vida'”, que ofrece un análisis de cómo esta, constituida como excepción, termina, sin embargo, volviéndose la “matriz política, económica, social y cultural” del continente (p. 86). El ensayo, a través de un análisis del discurso político de Alberdi, identifica uno de los posibles precedentes para pensar la guerra desde y para Latinoamérica. Extendiendo la reflexión sobre el estado de excepción como categoría constitutiva del poder del Estado, aparece y reaparece a lo largo de los ensayos la teorización de la guerra alrededor de las teorías de biopolítica y excepcionalidad de Giorgio Agamben, resaltadas a partir de estudios sobre la animalidad y sobre criaturas umbrales que señalan los límites entre el ser social y el ser animal (ver, por ejemplo, los ensayos de Gabriel Giorgi y Fermín A. Rodríguez). Las reflexiones de Entre el humo y la niebla invitan a pensar la guerra como mecanismo para constituir, garantizar, manipular y abusar el pacto social entre el Estado y el ciudadano, y revelar así su contradictoria operación desde la normatividad y la prevalencia de sus, sólo en apariencia, momentos de excepción. La literatura se presenta entonces, ante esto, como índice de denuncia y reflexión sobre esta contradicción.
La guerra es también una cuestión de espacio: “Guerrear es […] reconocer, mirar, distinguir, ubicarse en el espacio, en ocasiones para apropiarlo, en otras para destruirlo, a veces para ‘liberarlo’, o para volverlo mapeable, legible” (p. 14). No en vano, la geografía es un conocimiento que resulta del ejercicio de “guerrear”, verbo que “crea el mismo espacio que quiere conquistar” (p. 15). En relación con esto, Martín Kohan analiza en su ensayo que la guerra -el texto sobre la guerra- se convierte, sobre todo, en una experiencia en y sobre el espacio; la guerra se transforma en un asunto inaudito de percepción, distancia, movilidad, visibilidad e invisibilidad, en donde la expresión de pronto encima articula la acción como experiencia y entendimiento del espacio y la (im)posibilidad de ver o no en él. En la lectura que hace Kohan de La guerra al malón (1907) y de Conquista a la Pampa (1935, póstumo) del comandante Manuel Prado, la guerra no es una experiencia bélica sino un factor que determina la representación de la Pampa y la negociación con esta. Por otra parte, en “La potencia bélica del clima: representaciones de la Amazonía en la Guerra con Perú (1932-1934)”, Felipe Martínez-Pinzón piensa la guerra como una práctica que se ejerce contra el espacio mismo. Así, la guerra aparece como mecanismo de integración de la selva al imaginario y a la economía de la nación, y como recuperación de un espacio-tiempo que amenaza con corroerlo todo. Guerrear es así, también, ordenar y rescatar. Del ensayo de Martínez-Pinzón hay que resaltar la inclusión y el análisis de una mirada poco frecuente en la literatura, aquella que se da desde el avión. También como maquinaria de guerra, el avión posibilita otra manera de relacionarse y dominar el espacio. Contrario al de pronto encima que analiza Kohen, el avión es una manera de hacer, de ver y de espaciar la guerra desde la distancia, una distancia que ayuda a obnubilar y desaparecer la ética que se pone en juego en la guerra. (Para más sobre la relación entre guerra y espacio, ver el ensayo de Kari Soriano Salkjelsvik incluido en el libro).
La guerra es también maquinaria de tiempo: aparece, por ejemplo, en la emergencia de las ruinas tras la guerra de Canudos, que analiza Javier Uriarte; en las fotografías que son índice de muerte, en el ensayo de Sebastián J. Díaz-Duhalde, o en el tiempo corroedor de la selva que se contrasta con el tiempo productivo de la nación, y hasta en el de pronto encima que trabaja Kohen. Pero si bien Entre el humo y la niebla deja claro que la guerra es cuestión de espacio, deja abiertas preguntas sobre la guerra como un mecanismo que impone, produce u oculta ciertas temporalidades. Cabría preguntarse, entonces, por cuál es la temporalidad de la guerra y por el tipo de temporalidades que impone. En el discurso de la nación, la guerra hace parte de la puntuación de la Historia, y, junto con sus formas de ejercitar poder y de crear espacios y geografías, impone una narrativa de tiempo en aquello que Benjamin llama “a homogeneous, empty time” (2014, 261). Visto así, la guerra produce y participa de una cierta idea (hegeliana) del tiempo como Historia, de la cual habría que generar una distancia crítica. Por otra parte, el trauma de la guerra se recuerda, no sólo en la conmemoración del museo, como lo analiza M. Consuelo Figueroa G. en su ensayo sobre la celebración de guerras en Chile, sino como memoria traumática que se personaliza, se revive, se recuenta, se negocia, y en su proceso se fragmenta en la temporalidad del yo.
Pero más allá de la reflexión sobre el Estado, el espacio o el tiempo, el epicentro del libro está en lo que, imitando las palabras de los editores, la guerra le hace al lenguaje. Uno de los más sólidos aportes del libro radica en la propuesta de la guerra como mecanismo de reflexión sobre la representación y como laboratorio de producción literaria. Como explican los editores, la guerra, “a la vez que produce lenguaje y es producida por el lenguaje, lo trastoca, lo cambia, transformando a quienes nombra o deja de nombrar” (p. 25). En otras palabras, la guerra nos acerca al límite del lenguaje y de la representación, a “su indecibilidad e inestabilidad” (p. 25). Es por eso que la guerra, como tal, casi no está. Está su antes, su después, su espera o su mientras tanto, pero no la guerra en su bulla y su acción. De ahí, entonces, que la guerra sea aquello que está entre el humo y la niebla, en esas zonas difusas que la guerra quiere aclarar, y entre esos humos que deja la batalla: “el Estado concibe la guerra como una disipación de zonas de niebla que distorsionan su mirada al permanecer impenetradas por ella” (p. 8). Pero a su vez, “el humo […] es también la huella, el trauma, el conjunto de los discursos que acompañan y suceden al conflicto” (p. 9).
A los límites del lenguaje y de lo indecible nos lleva el ensayo de Javier Uriarte sobre Os sertões (1902) de Euclides da Cunha, incluido en Entre el humo y la niebla. En su lectura sobre los acontecimientos de Canudos, en Brasil (1897), la guerra emerge como una lucha con el lenguaje y la imposibilidad de este de decir, de dar cuenta de. Dice el autor:
Creo que el logro más importante de Os sertões no radica en las férreas certezas del narrador, sino en el derrumbe de las mismas. Se trata de la textualización de una incomprensión: es el dejar de reconocerse o el reconocerse como otro, como incapaz de entender del todo, el desnudar la guerra como imposibilidad de la mirada. Al mismo tiempo que hace presente este límite y reconoce la insuficiencia de la mirada del narrador, Os sertões presenta la lucha de este último con su propia capacidad de decir. Es en gran medida un libro sobre el propio lenguaje llevado a sus límites máximos, en lucha consigo mismo. (p. 139)
En la narrativa cultural de Brasil, la guerra de Canudos marca un antes y un después. El texto de da Cunha desestabiliza y redefine la manera en la que la nación se piensa en el siglo XX. Es, se puede decir, el temprano antecedente sine qua non del modernismo brasilero y la redefinición de su identidad poscolonial moderna. Al identificar la guerra como un momento en el que el lenguaje entra en crisis, Uriarte apunta, aunque no lo diga, a la guerra como el momento en el que se forja la reinvención del lenguaje del Brasil moderno. Esto, más que organizar la historiografía literaria de Brasil, alerta sobre el poder de la guerra de desmantelar y reinventar un lenguaje para el Estado, la nación y su identidad. En otras palabras, la guerra es laboratorio de la nación y de su lenguaje. Esto también lo extiende el ensayo de Roberto Vechi incluido en el libro.
A los límites del lenguaje y de la voz también nos lleva el ensayo de Gabriel Giorgi, “La rebelión de los animales: cultura y biopolítica”. En su lectura de la voz animal -la voz y su sentido distinguen y conceden el reconocimiento político del cuerpo-, Giorgi nos lleva a un análisis del lenguaje en la guerra por partida doble. Por un lado, su enfoque vuelve al animal y a su voz para complicar las fronteras de la inscripción política y de la soberanía, y por otro, reflexiona sobre la cualidad del lenguaje en la guerra y los límites de su decibilidad. En otras palabras, nos lleva a pensar en el aullido de guerra y su in/constancia como lenguaje de la batalla y en la batalla. Dice Giorgi que:
[…] en los textos de las rebeliones animales, ese espacio de incertidumbre en torno a lo oral es una zona poblada de ruidos, aullidos, gruñidos, que marca el límite no ya entre el lenguaje y no lenguaje, sino el umbral de la virtualidad del sentido; del sentido como inmanencia, como pura potencialidad. La pregunta ahí no es ¿quién habla? o ¿quién tiene derecho a hablar? sino, más bien, ¿qué es hablar? o ¿qué constituye un enunciado? (p. 210)La guerra, pues, se presenta como momento de rearticulación de la voz, el lenguaje, y rearticulación de las políticas que determinan su legibilidad y sentido.
Me interesa resaltar el ensayo de Sebastián J. Díaz-Duhalde, “‘Cámara bélica’: escritura e imágenes fotográficas en las crónicas del Coronel Palleja sobre el Paraguay”. Este ensayo introduce la cultura visual como parte fundamental del corpus de representaciones culturales sobre la guerra. Como rastro de la muerte, la fotografía visibiliza la guerra sólo cuando esta ya no está; aparece, como dice el autor del ensayo, “como un resto” (p. 64). Es decir, aunque la hace visible, al registrar eso que ya no está presente, la ubica de nuevo en el humo y en una ambigua categoría temporal. Por otra parte, el ensayo de Díaz-Duhalde extiende la reflexión sobre los límites de la representación al proponer que en los escritos del coronel Pallejas, la fotografía entra a renovar y transformar el discurso narrativo, generando un “nuevo sistema representacional” (p. 74) en el que el lenguaje “echa mano de procedimientos fotográficos para ‘hacer visible’ la guerra” (p. 69); de nuevo, la guerra como laboratorio de una literatura que busca salirse de sus convenciones. En relación con la cultura visual y el campo de los estudios interdisciplinares, habría que notar la ausencia en el libro de estudios sobre la guerra en el cine. Películas como La hamaca paraguaya de Paz Encina (2008), sobre la guerra del Chaco; La sirga de William Vega (2013), sobre el conflicto armado colombiano, o incluso Tropa de élite de José Padilha (2007), sobre las favelas de Río de Janeiro, son algunos ejemplos de producciones fílmicas que en los últimos diez años han pensado la guerra, la violencia y la nación en formas similares a las que los ensayos de Entre el humo y la niebla elaboran críticas del tema. Queda la pregunta abierta: ¿cómo ha aparecido la guerra en el cine latinoamericano?
Los aciertos de Entre el humo y la niebla son muchos. El libro está informado por, y a la vez extiende, debates contemporáneos relacionados con la soberanía del Estado y sus límites, la biopolítica, los estudios animales y, en general, sus reflexiones sobre el rol de la literatura y los estudios literarios para darles continuación o interrupción a los aconteceres políticos del continente. La capacidad de la literatura como herramienta que obliga a generar una distancia crítica frente a la guerra, y de paso, también, frente a los discursos nacionalistas se ve con claridad en el ensayo de Julieta Vitullo sobre la guerra de las Malvinas (de 1982) incluido en Entre el humo y la niebla: “La guerra contenida: Malvinas en la literatura argentina más reciente”. Vitullo afirma, por ejemplo, que “la ficción se impuso como interrupción de los discursos sociales y mediáticos sobre la guerra, constituyéndose como saber específico, con estatuto y reglas propias” (p. 272). El libro, editado por Felipe Martínez-Pinzón y Javier Uriarte, identifica un corpus de producciones corporales y consolida un campo de estudio amplio, sólido y relevante. El libro expone y desarrolla aquello que indica Vitullo: las representaciones culturales se constituyen como un saber específico que nos obliga a generar una distancia crítica respecto al fenómeno de la guerra y sus consecuencias. El libro es, pues, un punto de partida clave para el campo de estudios que inaugura.
Notas
1Me refiero a los libros Islas imaginadas: la guerra de las Malvinas en la literatura y el cine argentinos (2012) de Julieta Vitullo, El país de la guerra (2015) de Martín Kohan y La última guerra: cultura visual de la guerra contra el Paraguay (2015) de Sebastián Díaz-Duhalde
Referencias
Benjamin, Walter. 2014. “Theses on the Philosophy of History”. En Illuminations: Essays and Reflections, 253-267. Nueva York: Schocken Books. [ Links ]
Díaz Duhalde-Sebastián. 2015. La Última Guerra. Cultura Visual de la Guerra contra Paraguay. Buenos Aires y Barcelona: Sans Soleil Ediciones. [ Links ]
Kohan,-Martín. 2014. El país de la guerra. Buenos Aires: Eterna Cadencia. [ Links ]
Martínez Pinzón -Felipe y Javier Uriarte, eds. 2016. Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. [ Links ]
Vitullo-Julieta. 2012. Islas imaginadasLa Guerra de Malvinas en la literatura y el cine argentinos. Buenos Aires: Corregidor [ Links ]
Camilo Jaramillo – Profesor de Spanish and Latin American Literature, Universidad de Wyoming. Entre sus últimas publicaciones están: “Green Hells: Monstrous Vegetations in 20th-Century Representations of Amazonia”. En Plant Horror: Approaches to the Monstrous Vegetal in Fiction and Film, editado por Angela Tenga y Dawn Keetley, 91-109. Palgrave Macmillan, 2017. camilojaramilloc@gmail.com
[IF]Depois da fotografia: uma literatura fora de si | Natalia Brizuela
Depois da fotografia: uma literatura fora de si, livro escrito na forma de ensaio, busca analisar e problematizar a questão das fronteiras entre as diferentes linguagens, notadamente a literatura e a fotografia. Natalia Brizuela, professora da Universidade da Califórnia, em Berkeley, já é conhecida no Brasil por sua publicação Fotografia e Império: paisagens para um Brasil Moderno (Cia das Letras, 2012), em que aborda questões atinentes à produção e circulação de fotografias no Brasil do século XIX.
Em Depois da fotografia, temos a proposta de pensar as fronteiras entre a literatura e as outras artes, fazendo-nos perceber como os limites entre elas, atualmente, podem ser entendidos como uma zona porosa, que permite diversas contaminações. A proposta de Brizuela leva-nos a conhecer o trabalho de diversos escritores latino-americanos (Mario Bellatin, Diamela Eltit, Nuno Ramos e Juan Rulfo) e como, em suas obras, a fotografia aparece em meio à escrita. Leia Mais
Las Mujeres de X’Oyep – TRONCOSO (RTF)
TRONCOSO, Alberto del Castillo. Las Mujeres de X’Oyep. México: Conaculta; Cenart; Centro de la Imagen, 2013. (Colección Ensayos sobre Fotografía). Resenha de: ALCÂNTARA, Mauro Henrique Miranda. Revista Territórios & Fronteiras, Cuiabá, v. 9, n. 2, jul.-dez., 2016.
Alberto Del Castillo Troncoso na obra Las Mujeres de X’Oyep, teve como principal objetivo realizar uma leitura histórica da fotografia tirada por Pedro Valtierra, na localidade de X’Oyep, no México, em 3 de janeiro de 1998. Região próxima ao cenário de uma chacina, ocasionada pela repressão do exército mexicano ao movimento zapatista. O evento ficou conhecido como La matanza de Acteal.
A prestigiada fotografia tirada por Valtierra, retrata o avanço de uma jovem e pequena mulher da etnia tzotzil, habitante de X’oyep, contra um militar armado com um fuzil AR-15, arma esta que, pela perspectiva da imagem, aparenta ser maior que a menina. O militar parece estar assustado com tal avanço. Ao fundo é possível ver outras mulheres e soldados, agitados, parecendo estarem também em confronto.
Essa fotografia, primeiramente publicada pelo Jornal La Jornada na manhã seguinte aos acontecimentos, posteriormente publicada em outros periódicos e revistas, tanto do México como de outros países, teve ampla repercussão e passou a ser ícone do movimento zapatista, e a partir daí um objeto aberto a disputas e interpretações. Ter ganho o prêmio de Jornalismo Rei da Espanha, potencializou o aspecto simbólico dessa imagem, e o seu poder de construção de um significado histórico.
Diante dessa repercussão, e das diversas leituras sobre essa fotografia, Alberto del Castillo Troncoso, enveredou-se na trajetória da produção, circulação, interpretação, significação e ressignificação dessa fotografia que se transformara em ícone de um período e de uma luta histórica.
Sua obra, portanto, busca apresentar uma leitura histórica dessa imagem, descrevendo a trajetória dos fotógrafos e jornalistas até o palco dos acontecimentos, realizando uma “leitura iconográfica” da fotografia, analisando o ponto de vista dos editores e a cobertura dos jornais, principalmente o La Jornada, da foto e do evento retratado por ela. Alberto del Castillo verificou também, os usos e recepções da imagem e a narrativa dos jornalistas, fotógrafos e editores envolvidos com a produção e publicação da fotografia.
O historiador mexicano utiliza-se de entrevistas realizadas com os envolvidos na trajetória da fotografia, para construção de sua obra. Importante frisar que os depoimentos recolhidos junto aos fotógrafos, jornalistas e outros envolvidos, são analisados e problematizados.
Além desse material, Troncoso utiliza de jornais e revistas que publicaram fotos sobre o episódio ou sobre os movimentos indígenas e zapatistas, para verificar a recepção e os usos dessa fotografia. Realiza também uma breve análise estética da fotografia protagonista e também de outras tiradas no evento ou em outros momentos. Por fim, Alberto de Castillo em uma atividade ao mesmo tempo de historiador e de antropólogo, vai até X’Oyep, e descreve o cenário que encontrou lá quinze anos depois, e a relação que os habitantes da localidade possuem com a famosa fotografia.
No primeiro capítulo da obra, La difusión del zapatismo y la masacre de Acteal, Alberto del Castillo Troncoso perfaz o caminho histórico para que a fotografia tirada por Pedro Valtierra pudesse ser produzida naquele lugar e data. Ele descreve, logo no início, que houvera um avanço do movimento zapatista na década de 1990, buscando conquistas sociais para os campesinos e para a cultura indígena. No entanto, essa movimentação gerou tensão entre as atividades zapatistas e o governo mexicano, resultando na militarização da região de atuação dos zapatistas.
O historiador insere diversas fotografias, manchetes e recortes de jornais, apresentando os diversos discursos e representações sobre essa situação vivida e vivenciada pelas comunidades indígenas no Estado de Chiapas. Utilizar essas fontes, foi uma forma encontrado por Troncoso para poder apresentar tanto o contexto histórico dos eventos presenciados pelos fotógrafos em X’Oyep, quanto apresentar as intencionalidades destes ao percorrerem árduos trajetos para cobrir jornalisticamente os acontecimentos.
Se o historiador tivesse apresentado uma contextualização historiográfica dos movimentos campesinos mexicanos na década de 1990, teria enriquecido a sua obra, favorecendo uma maior compreensão dos acontecimentos em janeiro de 1998 na localidade de X’Oyep.
No capítulo seguinte, Crónica de un registro fotográfico, Alberto del Castillo descreve o contexto imediato da produção fotográfica encabeçada por Pedro Valtierra. Descreve minuciosamente a região de X’Oyep, inclusive, apresentando um mapa para que o leitor se situe geograficamente. Assim como no capítulo anterior, várias fotografias são utilizadas para representar o ambiente encontrado e representado pelos jornalistas na localidade. Outra estratégia utilizada por Troncoso para narrar sobre a trajetória da famosa fotografia tirada por Pedro Valtierra, apresenta-se nesse capítulo: os relatos orais.
Através dos relatos dos jornalistas Juan Balboa e Pedro Valtierra, o historiador descreve o período anterior a chegada deles na localidade de X’Oyep, as atividades que eles estavam realizando até então, como foi o envio deles para a região, a dificuldade do caminho, os preparativos, as surpresas, os temores e até mesmo o papel que eles tiveram direta ou indiretamente no palco dos acontecimentos.
Ao final do capítulo, Alberto del Castillo descreve o que ele chama de algumas “pistas” para realizar a leitura das imagens. Sinteticamente, ele argumenta que vários fatores precisam ser levados em conta para compreender/entender o resultado do trabalho dos jornalistas: a dificuldade encontrada para a realização das fotos; o currículo profissional do Pedro Valtierra facilitou para que ele pudesse estar à frente dos acontecimentos, antes de outros meios de comunicação; a reciprocidade entre os jornalistas e os indígenas, pois estes tinham interesse em verem suas demandas circulando na imprensa, para pressionar o governo, e Valtierra tinha interesse na exclusividade, ou ao menos, no pioneirismo jornalístico dos eventos; e por fim, a presença dos jornalistas que inibiu as ações dos militares na localidade.1 O capítulo “Del revelado a la edición periodística” descreve o processo da revelação das fotografias, ou melhor, da fotografia, tirada por Valtierra e sua publicação no La Jornada. No entanto, não se trata de mera descrição do processo de revelação, escolha, envio, recebimento na edição do jornal, sua publicação e circulação. Troncoso, no final do capítulo, deixa claro que: A publicação da foto na primeira página do diário não se limita na tradução em imagens de uma informação jornalística, e sim na contribuição da construção de um relato que gerou o início de uma iconografia sempre sujeita a debate.2 Para o historiador mexicano, o processo pelo qual passou a imagem, desde a sua tirada até a sua publicação, apresentou uma interpretação dos fatos ocorridos na localidade de X’Oyep. E por isso, essa mesma imagem foi objeto de reinterpretações e ressignificações, tanto pela imprensa, quanto pelos atores envolvidos diretamente: os indígenas e até mesmo o governo mexicano.
Neste capítulo Alberto del Castillo realiza análises estéticas, tanto da foto, quanto dos negativos de Pedro Valtierra. Ele verifica que os negativos apresentam uma narrativa dos acontecimentos, apresentando-os de forma serial, quase em movimento. Também se atém na análise da fotografia mais famosa, escolhida para estampar a capa do jornal La Jornada no dia posterior ao evento ocorrido em X’Oyep. Ele detecta que a experiência profissional do fotógrafo, o favoreceu para capturar o melhor ângulo e melhor perspectiva da situação vivenciada na localidade. A análise sobre os negativos, permitiu Troncoso afirmar essa perspectiva. Porém, mais uma vez, o historiador reafirma que essa mesma experiência do fotógrafo o favoreceu a capturar tal imagem, por provocar diferentes reações, tanto dos militares, quanto dos indígenas, como também “peso para que a divulgação jornalística da imagem se realizasse nas melhores condições possíveis e contribuiu de maneira substancial para a construção de uma plataforma midiática para a foto”.3 O capítulo seguinte, Historia de un ícono, é destinado a apresentar a mudança da fotografia, de uma imagem reproduzida na capa de jornais e revistas, para a sua transformação em um ícone, sendo reinterpretada diversas vezes e representando muito mais que um momento vivido, experimentado, mas tomando dimensões históricas e memorialísticas sobre o episódio vivenciado em X’Oyep. A fotografia tomou dimensão de um ícone, que para Troncoso, se tornou no mais importante “da luta indígena e do movimento zapatista”.4 A imagem ganhou reconhecimento internacional, ao ser prestigiada com o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha, promovido pela Agência EFE e Agência Espanhola de Cooperação Internacional.
Novas entrevistas são apresentadas neste capítulo. Elas são utilizadas para apresentar as diferentes representações que foram realizadas da mesma imagem. Troncoso analisa também a publicação da fotografia em outros periódicos e constatou que de principal ícone de luta dos indígenas e do movimento zapatista, essa imagem ganhou até mesmo a interpretação de ser uma “prova documental da legitimidade do Estado e da tolerância e equanimidade do exército mexicano”.5 O historiador descreve que a foto passou a ser a síntese de um momento histórico vivido no México, sendo interpretada de diferentes maneiras, ou melhor, da maneira que os atores tinham interesse em interpretá-la. Mas o mais importante, ela não podia ser negligenciada, esquecida, pois se transformou em um ícone importante do momento vivido. Ela foi lida e relida no México e no mundo. Além da constatação da luta indígena, ou da prova da tolerância do exército, a imagem foi representada como a defesa da preservação ambiental, por parte dos indígenas e também interpretada como o avanço neoliberal, que acaba por não valorizar ou assegurar os direitos políticos, culturais e sociais dos habitantes da localidade. Até mesmo o subcomandante Marcos, líder do campesinato no México, apresenta uma interpretação da fotografia: ela seria a síntese do movimento zapatista. Como escreve Alberto del Castillo, essa imagem resulta em uma “rede de leituras e interpretações” quase infinita.6 No derradeiro capítulo, X’Oyep, a 15 años de distancia, Alberto del Castillo Troncoso, viaja até a localidade de X’Oyep e vai em busca de compreender as consequências das lutas travadas no momento em que foi tirada a famosa foto. Desde o início o historiador detectou a dificuldade de chegar até o local. Ainda hoje, de difícil acesso.
Ao chegar, constatou a árdua e pobre realidade dos poucos habitantes que ainda residem ali. Em X’Oyep, Troncoso entrevistou Antonio López, testemunhos dos conflitos entre o exército e a população indígena em janeiro de 1998. Apesar de frutífera, o que mais chamou atenção do historiador, foi um desenho que ele encontrou em uma pequena casa. Tratava-se da representação em um desenho de conotações infantis, da famosa fotografia tirada por Valtierra: A minha frente estava uma pintura, realizada com traços aparentemente infantis, que reproduzia, de maneira muito próxima, a famosa fotografia de Valtierra, embora tenha inserido elementos procedentes, talvez, do relato de Balboa, como a presença de um helicóptero no centro, e outros, sem dúvida, fruto da imaginação do próprio autor da obra, como um grupo de abelhas sobrevoando a cena e um monumento com uma cruz, representando talvez as almas de Acteal, e finalmente, na margem inferior direita e muito pouco visível, um grupo de zapatistas enfunados em suas casamatas e escondendo-se na selva. Ao lado, em uma pequena folha, se informava sobre os nomes do acampamento e as comunidades formadas pelas 1190 pessoas deslocadas que haviam vivido em X’Oyep.7 O espanto do historiador foi grande com essa representação. Neste momento ele constatou que a fotografia havia se transformado em um ícone, podemos afirmar, que um ícone mítico, que representa um período grandioso, vivenciado e vencido, e sempre relembrado, tal qual no desenho, como um momento único. Troncoso descreve que a fotografia se transformou, nessa localidade, em um ex-voto, uma fábula popular, com conotações mágico-religiosas.8 Por fim, Alberto del Castillo apresenta a importância da fotografia como documento histórico. Melhor seria dizer, que pare ele, as fotografias possuem uma grafia histórica, tão autêntica e carregada de valores e símbolos, como a escrita. O percurso que o historiador mexicano faz nesse livro, nos demonstra essa importância. Ele apresenta o quão importante é a fotografia para história, mas não somente suas características estéticas ou suas condições de produção, mas tudo que a envolve desde a chegada do fotógrafo no local até a circulação e representações que perfaz a trajetória de uma fotografia.
Por se tratar de um ensaio, como o próprio Troncoso descreve, não há maiores informações historiográficas sobre o episódio vivido em X’Oyep. Portanto, pensamos que essa obra possuí uma importante contribuição para os historiadores, se tomada como um exemplar riquíssimo em informações e metodologias, para se pesquisar e investigar a fotografia como documento histórico. Talvez essa seja a maior contribuição deixada por Alberto del Castillo Troncoso. E ainda podemos ler e compreender melhor a vida dos indígenas e dos campesinos no México e a suas históricas e importantes lutas.
Alberto del Castillo. Las Mujeres de X’Oyep. México
1 TRONCOSO, Alberto del Castillo. Las Mujeres de X’Oyep. México: Conaculta; Cenart; Centro de la Imagen, 2013. (Colección Ensayos sobre Fotografía).
2 Ibidem, p. 83. Todos os fragmentos citados diretamente da obra foram traduzidos para o português, livremente.
3 TRONCOSO, Alberto del Castillo. Las Mujeres de X’Oyep, Op. cit., p. 79.
4 Ibidem, p. 85.
5 Ibidem, p. 89
6 Ibidem, p. 101.
7 TRONCOSO, Alberto del Castillo. Las Mujeres de X’Oyep , Op. cit ., p. 108.
8 Ibidem.
Mauro Henrique Miranda de Alcântara – Mestre em História pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Professor do Instituto Federal de Rondônia. Correspondência: Rod. RO 399, km 5, Zona Rural Colorado do Oeste – Rondônia – Brasil. Caixa Postal 51. CEP: 76993-000 E-mail : alcantara.mauro@gmail.com.
Encontros com Moçambique / Regiane A. Mattos, Matheus S. Pereira e Carolina G. Morais
“Encontros com Moçambique” é um livro fruto de apresentações e debates realizados durante a II Semana da África: Encontros com Moçambique, na PUC do Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 23 de março de 2016. Se há uma década os colóquios e seminários reuniam pouco mais de uma dezena de pesquisadores interessados na grande área de História da África, abrangendo assim um amplo recorte temático e temporal de estudos, este livro é o retrato de como, hoje, encontramo-nos em um novo momento. Regiane Augusto de Mattos, Carolina Maíra Gomes Morais e Matheus Serva Pereira apostaram que seria possível organizar uma obra que reunisse pesquisas cujo tema principal fosse Moçambique. A investida não apenas se concretizou como é prova, como afirma Valdemir Zamparoni em seu prefácio à obra, de “um amadurecimento ímpar da área de estudos africanos”2 no Brasil.
Com a maioria dos trabalhos delimitados pelo período colonial ou que perpassam o período em sua análise, o livro conta com 10 artigos divididos em 3 unidades: Deslocamentos, conexões históricas e conflitos; Narrativas; e Agendas de um Moçambique contemporâneo. Na primeira parte, um ponto de união entre os textos são os fatores condicionantes e as consequências de deslocamentos, forçados ou não, em diferentes períodos históricos, além do uso de fontes oficiais, trabalho etnográfico ou registros de imprensa para as análises, com acurado rigor metodológico no uso da documentação.
O artigo de Regiane Mattos, “Aspectos translocais das relações políticas em Angoche no século XIX”, contempla as relações entre sociedades litorâneas e interioranas do norte de Moçambique, destacando os contatos não hierárquicos entre o sultanato de Angoche e as elites muçulmanas de outras localidades, em especial no Zanzibar. Mattos parte de um evento principal para orientar sua pesquisa e desafiar a interpretação tradicional da historiografia: a viagem do comandante militar de Angoche, Mussa Quanto, e seu parente sharif, em 1849. A autora, a partir desse deslocamento, avalia a formação de uma rede comercial e cultural no oceano Índico em consonância com o aumento da presença da religião muçulmana nesses territórios. Mais do que realizar a análise histórica de uma questão localmente específica, interessa a Mattos averiguar as conexões a partir da perspectiva da translocalidade, conceito desenvolvido pela historiadora Ulrike Freitag e central na abordagem proposta no artigo. Muito bem explicado no texto, o conceito ampara a pesquisa em seu objetivo de destacar as interconexões entre lugares e atores, abrindo espaços para ressignificações de aspectos globais em âmbito local.3
No artigo seguinte, “Algazarras ensurdecedoras: conflitos em torno da construção de um espaço urbano colonial (Lourenço Marques – 1900-1920)”, Matheus Serva Pereira aborda, a partir de notícias na imprensa local, a difícil relação entre o projeto urbano colonial português para Lourenço Marques, cuja área central de Maxaquene foi delimitada para a ocupação de famílias brancas europeias, e a insistência – e resistência – dos “batuques” da população local. O argumento de Serva Pereira é que, a despeito do projeto colonial urbano, do uso da violência física e simbólica no deslocamento forçado das comunidades para a periferia, as notícias veiculadas na imprensa da época põem em xeque o sucesso de tal empreitada. Pereira atesta que os batuques, como práticas culturais, revelam uma atuação “longe de passiva em relação as instituições criadas para regular e fiscalizar o perímetro urbano de Lourenço Marques”4, estabelecendo assim um diálogo estreito com as premissas teóricas de Frederick Cooper sobre a noção de resistência em espaços coloniais5. Do mesmo modo, o autor esforça-se em defender uma organização social não totalmente polarizada na cidade, ao recompor o espectro social dos batuques nas cantinas de Lourenço Marques, onde não era incomum a convivência, num mesmo espaço de diversão, de figuras oficialmente opostas na lógica colonial e urbana.6
Ainda sob a premissa dos deslocamentos e seus conflitos, o capítulo que encerra o primeiro conjunto de textos, “Saúde além das fronteiras: doenças, assistências e trabalho migratório ao sul de Moçambique (1930-1975)”, de Carolina Maíra Gomes Morais, analisa de que maneira a imigração de trabalhadores para a África do Sul, no período colonial, além de atender a uma demanda econômica, trouxe consequências sensíveis no âmbito da saúde e das relações pessoais em Moçambique. Para acessar as condições desse movimento migratório, Morais faz uso, sobretudo, de fontes oficiais de relatórios de inspetores administrativos e se questiona de que maneira se davam as relações entre medicina “oficial” e “tradicional”. Pela disponibilidade das fontes, há uma comprovação mais substancial em relação à atuação dos Serviços de Saúde do que ao recurso à medicina tradicional. Interessante é notar a fluidez de fronteiras entre Moçambique e África do Sul sugerida pela autora para os saberes e medicinas tradicionais, proporcionada pelo trabalho migratório, além da ampla modificação nas relações pessoais em Moçambique, quando do retorno dos trabalhadores.
Na segunda unidade do livro, composta por trabalhos de pesquisadores provindos de diferentes áreas do conhecimento, os artigos têm em comum o estudo de uma obra ou do conjunto da obra de moçambicanos. Nesta unidade, que traz fontes interessantes e pouco convencionais nas pesquisas sobre Moçambique, como a fotografia e o cinema, cumpre enfatizar como nota comum o superdimensionamento do contexto histórico nas abordagens. Nos trabalhos, o contexto é instrumentalizado de modo a legitimar as narrativas ficcional ou visual presentes na documentação, utilizada muitas vezes como mero exemplo comprobatório da realidade colonial. Não resta dúvida quanto ao esforço teórico de todos os textos da unidade, mas, de um modo geral, a metodologia utilizada para a análise da relação entre ficção e História, literatura e História e visualidade e História nesses trabalhos limitou o uso mais abrangente das fontes, negligenciando, em certa medida, as narrativas criativas das próprias obras como propositivas e autoras de discursos formadores do social.
Em “O cinema em Moçambique – história, memória e ideologia: análise dos filmes Chaimite, a queda do Império Vátua (1953) e Catembe: sete dias em Lourenço Marques (1965)”, Alex Santana França realiza uma interpretação sócio-histórica e comparativa entre os filmes Chamite… e Catembe…, ancorando-se na perspectiva teórica de Francis Vanoye. Com a análise sobre Chaimite, o autor demarca as principais características do cinema de propaganda portuguesa, que se dispunha a responder, na época, à crítica internacional sobre o colonialismo luso. Catembe…, ao mesmo tempo em que demonstra o empenho português em conformar uma imagem oficial das colônias, comprovado pelos diversos cortes impostos ao filme, é considerado pelo autor como um exemplo de crítica à colonização.
Em “Não Vamos Esquecer! A propósito da fotografia ‘Marca de gado em jovem pastor’ de Ricardo Rangel”, Isa Márcia Bandeira de Brito busca analisar uma imagem feita pelo fotógrafo moçambicano em 1973, na qual um menino havia sido ferido a ferro na testa por seu patrão, por ter deixado fugir um animal. O prisma da autora na interpretação da imagem, no entanto, não favorece uma análise aprofundada e complexa do objeto, já que toma a imagem como exemplo das relações de violência colonial de maneira generalizada e dicotomiza as relações colonizador/colonizado, enfoque do qual vem se distanciando a historiografia mais recente, amparada nos estudos pós-coloniais, como são exemplos trabalhos consagrados, como os de Frederick Cooper, Homi Bhabha e Mary Louise Pratt7. A autora, vale frisar, mobiliza uma bibliografia interessante para a teorização do objeto no campo das visualidades e o trabalho dimensiona possíveis significados simbólicos da fotografia.
Em “A poesia contestatória de Noémia de Sousa e a situação colonial em Moçambique (1948-1951)”, Gabriele de Novaes Santos se propõe a compreender como a imprensa se ofereceu como veículo para a poesia de contestação colonial da escritora moçambicana Noémia de Sousa. O trabalho de Gabriele Santos é ainda inicial e, portanto, muito promissor, uma vez que a autora abre, no próprio texto, possibilidades de pesquisa interessantes sobre a obra da moçambicana. Por fim, o texto que encerra Narrativas é de autoria de Fatime Samb, com o título “A mulher moçambicana e as práticas culturais”. Ainda no primeiro parágrafo, a autora atesta sua proposta de fazer uma análise sobre o livro Niketche: uma história de poligamia e sobre o papel da mulher na obra de Paulina Chiziane. Samb faz uma importante recapitulação sobre as relações de gênero em Moçambique e a posição social da mulher na “sociedade tradicional” moçambicana, além dos impactos da independência nas relações de gênero e atuação política feminina a partir do comando da Frelimo, um tema ainda pouco conhecido e abordado em pesquisas sobre Moçambique.
A terceira e última unidade do livro, Agendas de um Moçambique contemporâneo, é formada por três artigos, sendo que dois estão em profundo diálogo a respeito da inserção internacional moçambicana, e provêm de duas áreas de formação distintas: Administração e Antropologia. Elga Lessa de Almeida e Elsa Sousa Krayachete, em “Moçambique e a cooperação internacional para o desenvolvimento”, fazem um retrospecto sobre as relações bilaterais estabelecidas por Moçambique com seus parceiros internacionais, demarcando a diferença entre cooperações verticais e horizontais, estas firmadas por países em desenvolvimento, como África do Sul, China e Brasil. O estudo de Elsa de Almeida e Elga Krayachete e o de Fernanda Gallo, “(Des)encontros do Brasil com Moçambique: o caso da Vale em Moatize” complementam-se diante do leitor atento às investidas e consequências da presença brasileira no país. Com um interessantíssimo trabalho antropológico, Gallo busca a vivência da população diante das transformações provocadas pela chegada das empresas multinacionais, em especial a mineradora Vale, e pergunta-se se há alguma relação entre esses megaprojetos para o país e a retomada crescente dos conflitos com a Renamo e ataques a trens. A antropóloga, munindo-se das comprovações de seu trabalho de campo, torna evidente ao leitor o desrespeito das empresas sobre as relações das pessoas com seus locais de origem, ao decidirem, unilateralmente, os locais para reassentamento, por exemplo, e deixa às claras o descompasso entre o discurso oficial da solidariedade e a prática de maximização dos lucros das empresas estrangeiras no país.
O livro se encerra com o capítulo desafiador de Vera Fátima Gasparetto, no qual a autora se dispõe a discutir as possibilidades de uma pesquisa interdisciplinar feminista a partir de uma análise sobre a questão da veiculação da imagem feminina na mídia, comparando a atuação feminina sobre essa questão no Brasil e em Moçambique. A autora traz um panorama sobre a composição e atuação das mulheres em seus espaços de organização nos dois países, como o Fórum Mulher e a Rede Mulher e Mídia. De um ponto de vista feminista e das novas epistemologias no Sul, em diálogo com Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, Gasparetto faz ainda uma crítica interna a algumas teorias feministas que essencializam africanas, fazendo do trabalho acadêmico também um trabalho militante na investida de produzir “[…] uma investigação interessada em conhecer a partir das mulheres, conceituadas como sujeitas conhecedoras e conhecíveis.”8
O livro sem dúvida é uma referência importante e necessária para quem deseja se aprofundar em alguns temas moçambicanos e os trabalhos são, em conjunto, uma contribuição valiosa que demonstra um país repleto de possibilidades de pesquisa e com múltiplas fontes possíveis para análise. Mostra-se especialmente interessante nessa obra organizada o diálogo bibliográfico entre os trabalhos e, sobretudo, os diferentes exercícios teóricos e metodológicos que ultrapassam as barreiras temáticas e configuram-se como inspiração aos pesquisadores leitores. Assuntos e referências atravessam alguns capítulos do livro, como o conceito de colonialidade de Aníbal Quijano9, mais profundamente abordado no artigo de Vera Gasparetto, a discussão de gênero, de trabalho e a noção de resistências, no plural, ao longo da história moçambicana. Esse é um livro que, sem dúvida, deve ser consultado para se conhecer mais e melhor sobre Moçambique.
Taciana Almeida Garrido de Resende – Doutoranda em História Social – USP. São Paulo, SP-Brasil. E-mail: tacianagarrido@gmail.com.
MATTOS, Regiane A. de; PEREIRA, Matheus Serva; MORAIS, Carolina Gomes (Org.). Encontros com Moçambique. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2016. 286p. Resenha de: RESENTE, Taciana Almeida Garrido. Desafios metodológicos, interdisciplinaridade, História: Encontros com Moçambique. Outros Tempos, São Luís, v.13, n.22, p.238-243, 2016. Acessar publicação original. [IF].
Fotografía e historia en América Latina | John Mraz
Hacer Historia con fotografías e Historia de las fotografías son prácticas diferentes, pero que se enriquecen mutuamente si se realizan en conjunto. Fundamentar este punto y poner en circulación la producción de académicos latinoamericanos que vienen trabajando en esa línea es el objetivo de este libro, coordinado por John Mraz y Ana Maria Mauad y editado recientemente por el Centro de Fotografía de Montevideo.
El libro está compuesto por ocho artículos independientes entre sí, que abordan problemas de la historia y de la fotografía de México, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay y Argentina, a través de enfoques diversos -algunos monográficos, otros panorámicos o comparativos- que postulan a las fotografías como posibles ventanas hacia el pasado, pero que no desconocen -por el contrario, jerarquizan- la importancia de estudiar quienes, cómo y por qué se construyeron esas ventanas, así como también cómo se conformaron los marcos -los archivos- que nos permiten ver a través de ellas. Leia Mais
Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004) – DERRIDA (A-EN)
DERRIDA, Jacques. Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível (1979-2004). Organização de Ginette Michaud, Joana Masó e Javier Bassas. Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. Revisão técnica de João Camillo Penna. Florianópolis: Editora UFSC, 2012. Resenha de PIMENTEL, Davi Andrade, Alea, Rio de Janeiro, v.17 n.1, jan./june, 2015.
Gostaria de começar esta resenha pelo tom dado por Derrida a seus textos que compõem o livro Pensar em não ver. O tom é o modo pelo qual o escritor convida o leitor a participar de seu texto. O tom, por assim dizer, é um chamado que, segundo Derrida, ganha o contorno da palavra vem – é preciso dizer que essa palavra está desconstruída pelo escritor, está violentada, retomada, reprisada, maltratada para que possa significar o além-dela-mesma. No momento em que esses textos dizem vem, eles nos chamam a participar de uma experiência de escrita que retoma ou nos direciona a uma experiência sobre a arte visual em parceria com o escritor; experiência que se configura como um chamado que não nos diz vem por aqui ou por ali, que não nos garante nada e que nem mesmo nos faz uma promessa. É por nada prometer que cada momento de leitura desses textos se transforma em um acontecimento – ele próprio, o livro, é o acontecimento: “trata-se da viagem não programável, da viagem cuja cartografia não é desenhável, de uma viagem sem design, de uma viagem sem desígnio, sem meta e sem horizonte. A experiência, a meu ver, seria exatamente isso” (DERRIDA, 2012: 80). O vem é o tom de um chamado, é a experiência – esta, por sua vez, nos chega através da árdua tarefa do tradutor Marcelo Jacques de Moraes, com suas perdas e ganhos, tensionada entre a dívida e a criação, entre a língua a traduzir e a língua traduzida. Tarefa que faz ressoar o tom derridiano, um tom também a traduzir, já traduzido.
Desde o primeiro texto, “As artes espaciais: uma entrevista com Jacques Derrida”, o escritor expõe a importância do tom antes mesmo do conteúdo de seus textos, pois o tom é o que se apresenta primeiro no jogo de apostas da escritura, como também é a base para que esse jogo possa ser efetivamente jogado. O tom mantém com o texto e com o leitor uma relação de risco, de incitação, de excitação e de gozo, por isso a iniciativa de Derrida em pluralizar o tom, em escrever em vários tons, para que o seu texto não fique restrito a um só interlocutor: “Pergunto-me com quem estou falando, como vou jogar com o tom, o tom sendo precisamente o que informa e estabelece a relação” (DERRIDA, 2012: 42). Se não podemos negligenciar os suportes, os “debaixos” de uma obra de arte, como bem lembra Derrida no texto “Os debaixos da pintura, da escrita e do desenho: suporte, substância, sujeito, sequaz e suplício”, por ser o debaixo o suporte necessário para que a obra de arte possa ser tomada enquanto tal, não podemos negligenciar também o tom que age como suporte do texto apresentado pelo escritor, por todo e qualquer escritor: “qualquer que seja sua matéria, o corpo do suporte é uma parte indissociável da obra” (DERRIDA, 2012: 287).
Da composição dos textos derridianos de Pensar em não ver, o tom que se sobressai é o de uma certa familiaridade, ou melhor, de uma certa informalidade, no que essas duas palavras têm de um certo deixar-se à vontade, não apenas pelas entrevistas que recortam magistralmente o todo do livro, como costuras que reafirmam a relação entre escritor e leitor, mas, sobretudo, pelos textos corridos. Quando Derrida reflete sobre a pintura, a fotografia, o desenho, o teatro, a videoinstalação e o cinema, o tom dado a esses textos é o tom de uma familiaridade que rompe com a formalidade mais precisa que encontramos em outros textos seus. Tudo se passa como se o próprio Derrida estivesse em face do leitor para compartilhar com ele o seu pensamento sobre as artes do visível, sobre a sua potência impotente que a todo instante se faz presente quando lhe é pedido para falar/escrever sobre uma arte que não é a da escritura: “Estou muito feliz e honrado por me encontrar aqui, intimidado também porque, como os senhores verão, minha incompetência é real, e não é de modo algum por uma fórmula de polidez ou de modéstia que começo declarando-a, essa incompetência” (DERRIDA, 2012: 163).
Em Pensar em não ver, do convite do tom se passa ao convite em forma de pensamento que Derrida faz tão bem: “O pensamento é também pensável em um movimento pelo qual ele chama a vir, ele chama, ele nos chama” (DERRIDA, 2012: 75). Pensamento que convida a pensar a arte visual enquanto produto de uma invisibilidade que lhe é essencial. Derrida defende ao longo de seus 20 textos que a visibilidade tem como contraponto seu suporte invisível. Na verdade, o que nos é dado a ver é o invisível, não o visível. No texto “O Sacrifício”, dedicado ao teatro, Derrida diz: “Mas se, desde sempre, o invisível trabalha o visível, se, por exemplo, a visibilidade do visível – o que torna visível a coisa visível – não é visível, então uma certa noite vem cavar um abismo na própria apresentação do visível” (DERRIDA, 2012: 399). A própria luz que nos ilumina é invisível, a própria palavra que nos constitui homens é invisível, logo, somos todos feitos, desenhados, pintados, modelados, filmados a partir de nossa nudez invisível.
Do contorno invisível próprio a toda arte, Derrida elege a figura do cego como o modelo de sua concepção artística. No texto “Pensar em não ver”, o escritor compreende que, para existir o desenho, ou, de uma forma mais geral, para que a arte visual possa existir enquanto acontecimento singular e único, é preciso que metaforicamente o artista se cegue, é preciso que ele passe pelo processo do enceguecimento. Em uma das passagens mais brilhantes do livro, Derrida comenta que, por termos os olhos à frente de nossos rostos, temos o que chamamos de horizonte. Através do horizonte, vemos vir o que nos chega e, desse modo, podemos tanto afastar quanto acolher ou nos defender do que vem do fundo do horizonte. Se por um lado a visão nos protege, essa mesma visão faz com que o acontecimento, no sentido próprio do que surpreende, se neutralize, perca sua potencialidade enquanto violência, enquanto irrupção artística. Por essa razão, o acontecimento somente pode surgir quando não é mais possível ter o horizonte como perspectiva: “o movimento em que o desenho inventa, em que ele se inventa, é um momento em que o desenhista é de algum modo cego, em que ele não vê, ele não vê vir, ele é surpreendido pelo próprio traço que ele trilha, pela trilha do traço, ele está cego” (DERRIDA, 2012: 71).
É preciso estar cego, é preciso se entregar ao movimento estabelecido pelo lápis, pelo pincel ou pela câmera para que a arte possa surgir enquanto acontecimento. O gozo artístico provém dessa entrega, dessa suspensão da visão, dessa cegueira que aflora os demais sentidos, que aflora a sensibilidade do artista, que deixa por instantes os conceitos ou pré-conceitos que formulam o mundo visível para se entregar ao abismo de uma certa noite – entregar, palavra libidinosa que expõe o artista e nos expõe à arte desse artista. Em uma entrevista com Derrida, o artista Valerio Adami, no texto “Êxtase, crise. Entrevista com Roger Lesgards e Valerio Adami”, comenta o passo inicial de seu processo criador, que se assemelha em muitos aspectos ao processo de enceguecimento proposto por Derrida:
Apoio, então, o lápis no papel, faço um ponto e a mão se move: esse ponto se torna, portanto, linha, essa linha se torna o perfil de uma montanha… É um caminho para o maravilhamento, a descoberta, em relação direta com o instinto e a memória – a memória instintiva. A mão se move porque consigo realmente me esvaziar de tudo, deixando a ela a liberdade (DERRIDA, 2012: 239).
Poderíamos supor que, ao falar do desenho, Adami tocaria na questão da visão, mas o que lemos é exatamente a não-visão, a mão que se deixa livre, liberdade daqueles que somente têm a mão como suporte no mundo; nada mais intrínseco ao cego do que as mãos. Responde Adami a Derrida e Lesgards: “A mão sempre foi uma das minhas obsessões” (DERRIDA, 2012: 240). Da imagem dos cegos, somos direcionados por Derrida à imagem das palavras que constituem os textos de Pensar em não ver. As palavras, como disse acima, seguem um tom, elas próprias dão um tom particular aos textos presentes no livro.
As palavras deixam de ser meros transmissores para, elas também, se configurarem em objetos de arte. O modo como Derrida tece seu texto, o modo como ele trabalha a palavra, maltratando-a, violentando-a, faz dela um acontecimento: “O que faço com as palavras é fazê-las explodir para que o não verbal apareça no verbal” (DERRIDA, 2012: 39). Em muitos momentos, a relação que as palavras mantêm entre si faz delas imagem, elas produzem uma imagem, mas não no sentido corrente da relação do signo linguístico – a palavra derridiana vai além da reunião de morfemas para se desenhar em imagem, em palavra-imagem. Ao lermos determinadas passagens de Pensar em não ver, é como se estivéssemos diante de uma tela. Estamos, a bem da verdade, visualizando e não lendo, como nesta bela passagem do texto “Com o desígnio, o desenho”: “o desenhista, quando desenha um cego, quaisquer que sejam a variedade ou a complexidade da cena, está sempre desenhando a si mesmo, desenhando o que pode lhe acontecer, e, portanto, já está na dimensão alucinada do autorretrato” (DERRIDA, 2012: 174). Visualizo, antes de tudo, o autorretrato de um desenhista cego.
As palavras-imagens são retomadas por Derrida ao conversar sobre o filme em que participou, segundo ele, como ator: D’ailleurs, Derrida. No texto em que se discute sobre o filme, “Rastro e arquivo, imagem e arte. Diálogo”, o escritor comenta da participação da palavra, agora não mais a palavra escrita, mas sim a falada: “As falas estavam ali como imagens, feitas para serem, de algum modo, levadas pela necessidade do ritmo, do encadeamento, da consequência icônica […] Icônico quer dizer estruturado segundo a necessidade e a lei da imagem” (DERRIDA, 2012: 101). Semelhante com o que ocorre no filme, a palavra no texto derridiano destacado acima é tornada elemento icônico. Desse modo, ao refletir sobre o desenho, sobre o movimento do artista ao desenhar, Derrida comenta o desenho de Valerio Adami ou de François Loubrieu com um outro desenho – desenho provindo de sua escrita atravessada por palavras-imagens. Logo, o movimento que adquire o texto derridiano é de uma profusão de reflexos, de pinturas distendidas em palavras-imagens, desenhos que se assemelham a seus próprios desenhos de escrita, fotografias que recontam o negativo de sua escrita de imagem. Imagens e mais imagens, profusão de imagens en abyme.
O leitor provavelmente se demorará na leitura sobre as fotografias de Frédéric Brenner, não por ser o texto longo ou de difícil compreensão, não, não se trata disso. A dificuldade está na delicadeza a qual se expõe Derrida ao analisá-las. Fotografias de judeus, fotografias da memória. Diferente dos outros textos, o tom familiar, quase prosaico com o qual o escritor vai tecendo o seu pensamento sobre as questões da comunidade judaica, sobre suas próprias questões recalcadas ou veladas, produz um sentimento de falta, de perda, no leitor. Ao lermos o texto “[Revelações, e outros textos. Leituras das fotografias de Frédéric Brenner]”, quase que imediatamente nos colocamos no lugar do outro, do outro sem pátria, sem terra, do outro-sem, por assim dizer, quase esquecido e, por isso mesmo, afeito à memória, a velar a memória de um passado que ainda assombra, mas que, continuamente, se transforma em um passado esquecível, esquecido: “A melancolia do homem é visível. Será legível? Ela pode assinar a memória enlutada com aquilo que ele recorda e que ele ainda vela, mas ela pode também chorar a amnésia, o esquecimento daquilo mesmo que teria sido preciso velar para que se velasse – e que ameaça apagar-se no próximo sopro da história” (DERRIDA, 2012: 332).
O visível da fotografia dá a ver o invisível que se esconde por trás da figura conhecida de Jacques Derrida. Nesse texto, sabemos um pouco de sua infância, de seu prenome judeu, de sua mãe, de seu avô… estamos íntimos de Derrida, o que confere a familiaridade do tom. Do mesmo modo como nos identificamos com a falta judaica – “todos nós nos identificamos, universalmente, com uma minoria” (DERRIDA, 2012: 343) -, o escritor, sendo judeu, não poderia deixar de se identificar com as fotografias de Brenner: “Tento identificar, mas também me identificar, ao mesmo tempo em que persigo o limite de uma tentação tão irresistível, de uma compulsão como essa” (DERRIDA, 2012: 327). Identificação acordada com uma reflexão constante sobre a falta/perda que acomete(u) o povo judeu. Diáspora? Não significa somente a dispersão dos judeus pelo mundo – significa algo ainda mais profundo. Segundo Derrida, a diáspora afeta a partir do interior, “ela divide o corpo e a alma e a memória de cada comunidade” (DERRIDA, 2012: 323). É o sentimento de estar deslocado que afeta os judeus, nada lhes é mais autêntico. Mas não nos esqueçamos, como também os judeus não se esquecem, que nada nos é próprio, nem mesmo a nossa língua nos é própria:
Nós, nós todos, todos os seres vivos presentes, os seres vivos do passado e os espectros do futuro, nós todos, homens ou animais, não temos lugar próprio e terra bem-amada a não ser prometida, e prometida desde uma expropriação sem idade, mais velha do que todas as nossas memórias (DERRIDA, 2012: 341).
O visível fotográfico, ao trazer à tona o obscuro da memória de Derrida, dialoga com as perspectivas da invisibilidade com as quais o escritor trabalhou ao longo de seus textos de Pensar em não ver, não por acaso o título do livro carrega a marca da invisibilidade, ou, se quisermos, a marca da cegueira: não ver. A partir dos tons dos vários textos derridianos presentes neste livro, sobressai o pensamento de que a arte da visibilidade tem como suporte, base de sua contra-assinatura, a invisibilidade ou, como sugere Derrida, em “Aletheia“, a noite, o obscuro: “Nada é mais escuro do que a visibilidade da luz, nada é mais claro do que essa noite sem sol” (DERRIDA, 2012: 305). O que presenciamos ao ver uma obra é sua inscrição invisível. Em um desenho, em uma pintura, o que vemos é o traço diferencial que não mais existe, mas que persiste no rastro que se torna o desenho ou a pintura que observamos em um museu, em um livro, em qualquer lugar em que a arte esteja exposta. A arte visual é produzida a partir dos debaixos, de traços já inexistentes, do flash noturno que ilumina o invisível diante da máquina fotográfica. É nos debaixos que o efeito da arte é produzido – é lá, no debaixo, que se produz o desejo, a interdição, o gozo, a incitação, a excitação, a obra: “Quando se fica sem ar diante de um desenho ou de uma pintura, é porque não se vê nada; o que se vê essencialmente não é o que se vê, mas, imediatamente, a visibilidade. E, portanto, o invisível” (DERRIDA, 2012: 82).
Da leitura desses textos, o que resta para além da ideia da arte visual é o pensamento de que nós, seres humanos, somos constituídos de uma invisibilidade atordoante; não por menos, a arte, as artes do visível, tem como suporte a invisibilidade. A reflexão sobre as artes do visível é o grande mérito dos textos derridianos organizados com extrema precisão por Ginette Michaud, Joana Masó e Javier Bassas na elaboração do livro Pensar em não ver – mérito que a Editora UFSC considerou ao publicá-lo, oferecendo, assim, ao leitor brasileiro, a oportunidade de ter em mãos textos de Derrida raros sobre essas artes e somente agora traduzidos para o português.
Davi Andrade Pimentel – Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atua como pesquisador da obra do escritor francês Maurice Blanchot. É autor dos artigos: “Thomas – o primeiro blanchotiano” (Revista Letras Hoje, n. 48/ 2013), “O espectro de Kafka na narrativa Pena de Morte, de Maurice Blanchot” (Revista Gragoatá, n. 31/2011), “Rascunhos de um pensamento arrebatador: Maurice Blanchot” (Revista Todas as Letras, n. 12/2010), dentre outros. E-mail: davi_a_pimentel@yahoo.com.br. Endereço: Rua Leopoldo Miguez, n. 129, apto. 706, CEP.: 22060-020, Copacabana – Rio de Janeiro – RJ.
[IF]
BRIZUELA N. Fotografia e império (Topoi)
BRIZUELA, Natalia, Fotografia e império: paisagens para um Brasil moderno. Tradução de Marcos Bagno, São Paulo: Companhia das Letras; Instituto Moreira Salles, 2012. Resenha de: LOSADA, Janaina Zito. A figuração do longínquo: natureza, fotografia e sujeitos no Brasil nas fronteiras do século XIX. Topoi v.15 n.29 Rio de Janeiro July/Dec. 2014.
A obra Fotografia e império: paisagens para um Brasil moderno conta as histórias controversas da formação da nação, real ou imaginada, representadas nas visualidades e nas invisibilidades das fotografias imperiais e republicanas. Balizas de um longo e intenso processo de figuração e de invenção de um país, cuja complexa inserção na modernidade traz em si o índice das distâncias, do longínquo no tempo ou no espaço.
Como as fotografias que apresenta ao início de cada capítulo, a professora da Universidade de Berkeley, Natália Brizuela, natural da Argentina, realiza a arte mimética de registrar experiências históricas. Por meio de um texto elegante e bem elaborado, deixa na memória do leitor três grandes imagem-força: a floresta, a vendedora negra e o monge sertanejo morto. Seriam estas as três grandes imagens da constituição de nossa identidade nacional às avessas? Seriam elas as imagens que buscamos para entender nossa história? Ou seriam as imagens das quais fugimos na leitura da nação? Seriam elas parte de nosso desencantamento ou re-encantamento com o próprio passado e os seus fragmentos luminares? Essas questões feitas a partir da leitura da obra instigam ao questionamento do projeto da autora sobre a figuração dos territórios, dos espaços e dos sujeitos, objetos ao mesmo tempo da história da representação e da história da cultura.
A fotografia constitui para ela o elemento fundamental da nação. Ao fotografar a natureza, o indivíduo permitia um re-encantamento com o mundo natural, há muito perdido pelo sujeito moderno. Mas a fotografia constitui parte do arco de processos de construção das imagens da modernidade, onde figuram também litografias, gravuras, óleos, aquarelas etc.
Na apresentação da obra, escrita por Flora Sussekind, destaca-se o exercício deste re-encantamento através da seleção de Brizuela ao apresentar a análise da obra Zoophonia, de Hercule Florence. Como os pontos de fuga das telas da arte moderna, a autora acrescenta um elemento que, ao desconcertar o leitor, conduz o seu olhar. Em uma obra sobre imagens esse desconforto vem da exploração das representações dos sons da natureza. Tudo na obra é fotografia, mesmo quando é som!
Desde o desejo do grandioso e da imaginação poética do sublime até a real crueza da guerra e do assassinato, a autora apresenta um diorama no qual o leitor desavisado pode sentir a vertigem provocada pela sensação da fragmentação e da drástica mudança de cenário. Acostumados com as altas tecnologias televisivas e as realidades virtuais e holográficas, estamos a pensar as fotografias, no campo das ciências humanas, de forma geral e, da história, de forma particular, um desafio que tem sempre como marca a ideia da origem. Trata-se da origem de nossos desejos de imortalizar a nossa própria existência, de registrar o vivido, de divulgar um determinado enquadramento de nós mesmos, nossas experiências, nossas sociedades e nossos tempos. A história das fotografias é essencial para o entendimento dessas vontades que nos legaram os indivíduos do século XIX. Vontade de ver, emoldurar, enquadrar, registrar e expor.
A obra contrasta e sobrepõe a imaginação e as representações do espaço, do tempo e dos outros. Organizado em quatro capítulos, o livro versa sobre as experiências de homens e mulheres que viveram os limites dos séculos XIX e XX e as experiências com a jovem arte da fotografia. O seu arco temporal engloba o império de d. Pedro II (1840-1889) e a guerra de Canudos (1896/97). A linha explicativa adotada se dá pela autorrepresentação do império nas fotografias selecionadas. Esta história mescla fotografias de paisagem e de retratos, partituras musicais, mapas, descrições; falas sobre o mundo e os espaços vazios, os distantes territórios e as suas representações; apresenta os fotógrafos, os viajantes, os cientistas e o impacto neles causado pela luz e pelo calor dos trópicos. A iluminação excessiva privilegiava o olhar fotográfico; além dela havia o exótico na forma de homens e feras. O exótico que foi também o da fome e o da guerra. Aquele que se transformou em trágico na exposição da própria tragédia. As fotografias constituiriam os luminares de uma época, os objetos únicos de figuração de uma realidade distante que podem ser encontradas hoje em arquivos e museus, em exposição ou guardadas em baús ou em antigos álbuns. Aqui, as encontramos na trama do texto de Brizuela, que se destaca por trazer o trágico, muitas vezes silenciado pela historiografia.
No capítulo 1, “Para cada dia um mapa: d. Pedro II, os românticos, o IHGB e a visualização do Brasil”, a autora destaca a importância da imaginação geográfica, da arte cartográfica e do uso da fotografia de paisagem na constituição do Atlas do Brasil. Obra cujos enquadramentos e recortes da paisagem constituíram uma memória imagética do Brasil que muito fomentou os referenciais das identidades nacionais. Para tanto, a autora lança mão de fotografias e litografias de Vitor Frond e Marc Ferrez, que enquadram uma natureza idílica, descrevem montanhas e florestas, envoltas em névoas, mares que refletem as praias, jardins, baías e palmeiras que denotam grandiosidade, que colocam em tela o selvagem e o domesticado, o intocado, o reproduzido. A missão romântica muito difundida no interior dos quadros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro buscou dar à vista do segundo império um país através da sistematização e recuperação da memória. O pitoresco como forma de inscrição no mundo, essencial para a retórica histórica, comprovada pelos diários e fotografias, codificada nos registros das experiências, tornou visíveis o tropos da viagem, da saudade e do naturalista.
No capítulo 2, “O som da natureza, ou escrevendo com luz nos trópicos: Hercule Florence”, a autora versa sobre os elementos da tropicalidade, promovendo um inventário sonoro a partir do texto Zoophonia, de Florence. A natureza descrita com a requintada maestria dos sons que, bem inventariados, ajudariam a configurar as paisagens, registrando a vida, seus “sentimentos e emoções”, mas seria possível registrar os sentimentos dos animais traduzindo seus urros e pios em uma pauta musical? Seria o inventário de Florence mais que um empreendimento fracassado e um tanto pitoresco de um inventor diletante? A autora aponta que tal empreendimento possibilitou uma forma de reencantamento com a natureza. Ao registrar os sons emitidos pelos animais em escalas musicais, com seus muitos graves e agudos, Florence lhes dá sentimentos humanos – os cacarejares eram alegres, alguns pios eram melancólicos, a gaivota gritava ansiosa e o gorjeio do jaú ressaltava o silêncio das trevas. Publicado em 1876, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro como uma contribuição anônima, o documento não passou despercebido pela historiografia. Em Brizuela ele vem compor o quadro da cartografia simbólica e visual dos trópicos, o mapa de notas mínimas e semínimas em mi, fa, sol, si, dó pelo qual o império deixa ver os seus animais, os seus indivíduos e a si mesmo. A história dos trópicos impressa pelo som e pela luz, ou pela fotografia e pela música, faz lembrar a estética arquetípica de Goethe e os sons dos quadros da natureza de Humboldt que tanto marcaram o romantismo made in Brazil.
No terceiro capítulo, “Lembranças da raça”, a autora entra no mundo dos retratos e nas formas de visualização dos tipos locais, indígenas, negros, mestiços, crianças. Através das lentes obsessivas dos naturalistas europeus, entre eles Louis Agassiz, e do seu ímpeto científico pela coleção de exemplares do mundo, sejam cenas, crânios ou redes de pesca, as ciências naturais mesclavam-se ao missionarismo romântico. Desta forma conferiram certo sentido ao mundo, produzindo uma imensa gama de materiais pictóricos, aquarelas, óleos e, por fim, fotografias. Ora reproduzindo as tradições de visualidade existentes em seu tempo, ora criando novas formas de a sociedade se relacionar consigo mesma, a captura das imagens buscava realizar um mapeamento dos indivíduos, dos referenciais raciais, da tipificação das atividades e dos indivíduos, dos cidadãos e dos escravos, inventariando diferenças e estranhamentos, medos e saberes.
No último capítulo da obra, “A fotografia às margens da história: os sertões”, a autora explora as terras arruinadas pelas guerras e pelos massacres. As ruínas e as feras selvagens, o deserto de Canudos, o clima sufocante retratado no álbum do fotógrafo Flávio Barros, que acompanhou uma das expedições do exército àquelas terras sertanejas. Nele, o destaque é o vazio, é a imagem do campo de batalha, da natureza decaída, profanada, da morte em um território longínquo que se impõe à nação. Faz com que as imagens de mulheres e crianças sertanejas famélicas, à beira do assassinato, figurem de forma incômoda no panorama da modernidade brasílica. A recém-república se consolidou pela força de vencer em Canudos, a morte dos sertanejos foi o símbolo da morte da monarquia. Para a autora, a última batalha de Canudos foi o confronto final entre civilização e barbárie. As fotografias de Barros e o relato de Euclides da Cunha falam dessas mortes e do espetáculo trágico que ciência, artes e técnica registraram para a posteridade. A melancolia informada pela experiência com o território e com os eventos históricos é atravessada pelo terror, pelo assombro, pela catástrofe. Na leitura de Brizuela, fantasmas pré-modernos de vários tipos figuram no imaginário euclidiano.
As duas fotografias finais da obra exemplificam as duas tropicalidades presentes no pensamento oitocentista e novecentista nacional e em suas autorrepresentações. Antonio Conselheiro, morto em meio a ruínas de um chão agreste, e o velho d. Pedro II em estúdio, envolto por uma mata cenográfica, são exemplares; registram o que, em meados do século XX, já não existia mais. São a lembrança triste e, por vezes, trágica de um país no passado. Assim, a República marcava a sua originalidade, se construía das cinzas de uma modernidade imperial e esmagava todo o frescor que o passado pudesse ter tido.
A formulação literária e a composição dos ensaios trazem leveza à história contada. Mas, é a pertinência nas leituras sobre a construção da nação e sobre as ideias produzidas e veiculadas no império e no início da república que marca a obra. A autora estuda as visibilidades de uma época de transição, cenas de um país no passado, foco de disputas imagéticas e simbólicas que desde aqueles tempos atravessam os indivíduos, os poderes e as sociedades. No mundo contemporâneo, os possíveis simulacros das imagens já foram desvendados, mas as fotografias dos passados continuam a instigar reflexões sobre a pitoresca modernidade que essas gerações de homens legaram ao futuro.
Para Jacques Aumont (2004) a fotografia, ponto de encontro entre a pintura e o cinema, traz em si três aspectos que são comuns a essas três artes: o impalpável (luz), o irrepresentável (técnica) e o fugidio (tempo). Imposições e limites que delinearam as épocas nas quais as imagens foram produzidas. Resgato aqui esses elementos para ler a história das imagens de Brizuela. O impalpável, que pode ser percebido nos cartões de visita e na taxonomia dos indivíduos que esses artefatos promovem, imobilizando os sujeitos em suvenires turísticos. O irrepresentável, sugerido nos ruídos e nas memórias fragmentadas das tensões cotidianas e dos embates experimentados em uma sociedade tão desigual e violenta. O fugidio, que na fotografia é percebido no deslocamento do foco, que sugere imagens em borrões e manchas, que destacam o particular e único momento que já não existe e assim se deixa marcar no tempo que já não é.
O desejo pela coleção de imagens e as histórias das quais elas são artefatos mesclam esses universos e produzem uma exposição do país para si mesmo e para os outros. Tal exposição fixa-se nas leituras da história e das identidades nacionais. A apresentação das fotografias, ao final da obra, traz requinte e conta, por meio das imagens, a história que a autora narrou anteriormente por meio do texto. É uma obra que merece figurar nas estantes e bibliotecas dos amantes e estudiosos da fotografia e da história no Brasil.
Janaina Zito Losada – Doutora em História pela Universidade Federal do Paraná e professora da Universidade Federal de Uberlândia – campus Pontal. Ituiutaba, MG, Brasil. E-mail: janainalosada@pontal.ufu.br.
A fotografia amazônica de George Huebner | Andreas Valentin
O livro que temos em mãos, resultado de tese de doutorado defendida na UFRJ, é uma bem-vinda contribuição que interessará especialmente aos estudiosos da história da Amazônia e da fotografia brasileira. Seu autor, Andreas Valentin, persegue, desde uma abordagem da história social, os feitos de George Huebner. Tal era um exímio fotógrafo alemão que, nos últimos anos do século XIX, estabeleceu-se em Manaus, legando importante conjunto de imagens da Amazônia da era da borracha.
Antes de falar mais do fotógrafo, Valentin prepara o terreno, fornecendo elementos que contribuem para uma avaliação minuciosa da atuação de Huebner. O autor demonstra como na cidade natal desse personagem, Dresden, estabeleceu-se uma sólida indústria da fotografia. Tais empresas desenvolveram desde muito cedo atividades de ensino e pesquisa, estimulando assim a formação de profissionais e o aperfeiçoamento dos artefatos. De modo concomitante à popularização da imagem fotossensível, um grande número de fotógrafos partiu para todos os cantos do mundo, propagando assim retratos e vistas de povos e locais os mais longínquos da Europa. Desde a consolidação do Estado alemão os profissionais daquele país se lançaram à captura dessas imagens. As técnicas fotométricas – relacionadas intimamente à mentalidade racista, ao domínio colonial, e à formação de uma ciência nascente, a etnologia – foram a linguagem corrente na constituição dos retratos desses outros. Os de Huebner cujo foco é a população ameríndia que encontrou na Amazônia não escapariam, na maior parte das vezes, desse tipo de enquadramento. Leia Mais
Roberto Gerstmann. Fotografías, Paisajes y Territorios Latinoamericanos – ALVARADO (C-RAC)
ALVARADO, Margarita; MATTHEWS, Mariana; MÖLLER, Carla Möller. Roberto Gerstmann. Fotografías, Paisajes y Territorios Latinoamericanos. Santiago: Pehuén, 2009. 179p. Resenha de: MIRANDA, Pablo. Chungara – Revista de Antropología Chilena, Arica, v.41, n.2, p.317-318, dic. 2009.
La percepción de lo inalcanzable que pueden evocar las fotografías se suministra directamente a los sentimientos eróticos de quienes ven en la distancia un acicate del deseo… todos los usos talismánicos de la fotografía expresan una actitud sentimental y explícitamente mágica: son tentativas de alcanzar o apropiarse de otra realidad, Susan Sontag.
Roberto Gerstmann: El pasado en blanco y negro. Ver un álbum fotográfico es una labor arqueológica: hojeamos sus páginas una a una, avanzando cuidadosamente y a medida que avanzamos penetramos cada vez más en las profundidades de nuestra memoria, es decir, de nuestros recuerdos, de nuestros olvidos, de nuestra imaginación, abriendo lo representado, lo fotografiado, hacia nuevas dimensiones, ordenándolo para una lectura, porque siempre hay algo que decir sobre una imagen, sobre una serie de ellas. Siempre hay una realidad que construir, una historia que contar.
La emoción suscitada por este ritual será más profunda en la medida que aquello representado esté más íntimamente relacionado con la vida personal del observador; un extremo de la experiencia transforma al espectador en vidente, el otro, en turista, viajero en un mundo que no le pertenece.
Ciertos álbumes de viajes logran equilibrar ambas dimensiones: tiempos y espacios diversos que nos permiten configurar nuestro propio relato, entrever, interpretar. Vernos.
Acceder a un tiempo que no es el nuestro, pues “no existíamos”, pero paralelamente ingresar a espacios familiares, aunque transformados: hemos estado allí y a la vez nunca lo hemos hecho.
Porque ciertamente yo he estado y no he estado en esa quieta estación de trenes en Bolivia, en esas calles de un Santiago todavía provinciano; he visto y no he visto los ojos de ese niño chipaya que mira intrigado la cámara. He estado y no en el inmenso desierto.
A través de las imágenes de Gerstmann, el pasado irrumpe y transforma el presente, habitándolo de la nostalgia de un mundo que jamás conocimos, pero que tal vez al observarlo fijo por toda la eternidad, en su imposible quietud, lejos de generar una lectura única, nos instan a traducir, interpretar y traicionar estas fotografías, y en ese sentido se vuelven inagotables en su productividad, por lo que se desarrolla un fenómeno de creación y recreación permanente, elaborando nuevos sentidos, rutas y comprensiones.
Esto es justamente lo que transforma este recorrido visual en una experiencia siempre contingente y no en un mero ejercicio estético, ya que releer las fotografías y animarlas es también una de las rutas de la mirada humana: volver sobre la casa que ya no está, sobre el paisaje desaparecido y preguntarse cómo, quién o por qué es entrar en el juego del relato, pues así como las fotografías son fragmentos y jirones de historia, los hombres son también seres fragmentados que sólo hablan desde los límites de sus experiencias en un intento de constituirse como unidad.
Ver estos rostros, ver estos parajes es emocionarse viendo la propia historia. Lo que quedó sin habla logra voz desde la imagen de este álbum, penetrando la experiencia personal de cada observador y traspasándola con la memoria de lo propio (el acto fotográfico perfecto es esencialmente un ritual solitario, Gerstmann lo sabía).
Así, nos interpelan gentes que ya no existen, pueblos que han desaparecido, formas de vida que han caducado, paisajes que se han transformado; hablan para, por y con nosotros, desmintiendo de alguna manera su muerte a través de la imagen y la reflexión que ésta suscita, del recuerdo que revive.
Acicateado por el deseo, elijo una fotografía, una sola de todas aquellas que detienen mi mirada: la Iglesia de Los Dominicos, año 1924, levantándose solitaria a los pies de una Cordillera de los Andes seminevada con un cielo transparente de fondo; un carretero y su caballo dormitan al atardecer (eso lo dicen las sombras), ofreciendo una imagen al futuro que es imposible mirar desde el presente sin nostalgia.
Yo he estado ahí. Yo nunca he estado ni podré estar ahí. Hay cierto sentimiento ominoso en toda gran fotografía y el álbum de Gerstmann está repleto de ellas. Todos podrán tener la suya. En blanco y negro. Porque ese es el color de la memoria.
Pablo Miranda – Escuela de Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. E-mail: pmirandb@uc.cl
[IF]
8x Fotografia | Lorenzo Mammi e Lilia Moritz Schwarcz
Organizado por Lorenzo Mammì e Lília Moritz Schwarcz, o livro 8x Fotografia consiste numa coletânea de 8 ensaios realizados por sociólogos, antropólogos, fotógrafos, poetas e jornalistas, que selecionaram, cada um, uma fotografia diferente, (com exceção da Sylvia Caiuby que selecionou duas), para descrever e analisar aspectos teóricos, artísticos, sentimentais que a fotografia pode revelar.
Por sua variada função e por abranger várias áreas do conhecimento, esse livro tem como principal objetivo mostrar como a fotografia tem um amplo campo de estudos e como ela é suscetível a diversas interpretações, pois a visão de um fotógrafo profissional difere da de um crítico de arte, sociólogo ou historiador. Leia Mais
O Olhar Eterno de Chichico Alkmim – SOUZA; FRANÇA (VH)
SOUSA, Flander; FRANÇA, Verônica Alkmim (orgs.). O Olhar Eterno de Chichico Alkmim. Belo Horizonte: Editora. B, 2005. Resenha de: BORGES, Maria Eliza Linhares. Varia História, Belo Horizonte, v.22, n.35, p. 235-239, jan./jun., 2006.
Em fins de 2005 a Editora B lançou O Olhar Eterno de Chichico Alkmim/The eternal vision of Chichico Alkmim. Esta publicação bilingue divulga uma pequena e significativa amostra do trabalho de Francisco Augusto Alkmim: o Chichico Alkmim, fotógrafo mineiro que nos legou um acervo de 5.000 negativos em vidro produzido na cidade de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, na primeira metade do século XX.
Livros como este são muito cortejados pelo mercado editorial, inclusive internacional. Seu público-alvo é, em geral, formado por aficionados pela história da fotografia, bem como por aqueles que lançam mão da imagem fotográfica para analisar questões da vida social. Como veremos a seguir, esta modalidade de publicação tende a destacar o padrão técnico e estético seguido por fotógrafos dos anos oitocentos e das primeiras décadas do século XX, além de colocar o leitor diante de versões particulares de temas presentes no mundo da fotografia deste mesmo período.
A padronização e a reprodução dos signos fotográficos, bem como a análise de seus usos e suas funções sociais são questões recorrentes entre os estudiosos da história da fotografia. Apenas para exemplificar, lembremos: em 1931, Walter Benjamim (Pequena História da Fotografia) já chamara a atenção para o papel da fotografia na compreensão dos rumos da cultura moderna, mais especificamente da cultura oriunda do capitalismo industrial. Seis anos mais tarde, em 1937, um pesquisador do Museu de Arte Moderna de Nova York, Beaumont Newhall, lançava seu History of photographe. Em pouco tempo este livro viria a se tornar uma espécie de paradigma para se ver, pesquisar e pensar a história da fotografia, sobretudo no mundo ocidental. A partir dos anos de 1960, mais especificamente da década de 1980, o mercado editorial internacional e nacional foi inflacionado por uma série de publicações acerca da fotografia oitocentista e de inícios dos anos novecentos. Este fenômeno não é gratuito. Sinaliza, por um lado, um movimento de valorização da fotografia em outros campos, como a crescente presença da fotografia nas galerias de arte e nos museus; o papel relevante que esta imagem tem tido nos debates sobre a preservação da memória e o patrimônio histórico; o investimento dos arquivos, públicos e privados, na montagem de seus acervos fotográficos; etc. Por outro, ele é contemporâneo das reflexões que hoje se fazem em torno da crise teórico-metodológica que tem permeado o modelo da história da fotografia conforme sugerida por Beaumont Newhall.
No Brasil, instituições como a FUNARTE, o Instituto Moreira Salles, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, dentre outras, têm devotado grande atenção edição de livros sobre a história da fotografia aqui produzida por fotógrafos estrangeiros e nacionais. Simultaneamente, estudiosos independentes ou vinculados s Universidades têm alimentado o mercado editorial nacional com estudos onde a fotografia se constitui num objeto de pesquisa privilegiado. Muitos deles se detêm nos debates teórico-metodológicas relativos aos alcances e limites dos usos da fonte fotográfica para a análise de temas próprios das Ciências Sociais.
Mas o que tudo isso tem a ver com a resenha aqui proposta? Muito, sem dúvida. Os leitores de O Olhar Eterno de Chichico Alkmim/The eternal vision of Chichico Alkmim verªo que o fotógrafo Chichico Alkmim pertenceu linhagem de fotógrafos dos anos oitocentos e das primeiras décadas do século XX. Mais, ainda, a estrutura do livro e os textos que a alinhavam valorizam a fotografia de autoria, uma visão da história da fotografia muito afinada com o modelo proposto por B. Newhall.
Organizado em dez partes, das quais fazem parte uma apresentação, uma introdução e uma parte final com informações sobre a vida profissional do fotógrafo, o livro, propriamente dito, se inicia e se encerra com dois retratos do autor: o fotgrafo Chichico Alkmim. A primeira foto foi feita por sua esposa na década de 1920; a outra, clicada por seu filho, não tem data, mas certamente retrata o fotógrafo décadas depois. Entre uma e outra, os autores ordenaram as cinco partes do livro, cujos títulos já antecipam um pouco da trajetória temática percorrida por este fotografo nascido em 1886 na Fazenda do Sitio, no município de Bocaiuva/MG.
Em Silenciosa luminosidade, dos 13 retratos de adultos, individuais e em grupo, 12 mostram o trabalho de estúdio> Apenas um foi feito no local onde provavelmente viviam as retratadas: um convento de freiras. Para a parte intitulada Photografia, os autores privilegiaram a infância em suas faces religiosa e lúdica; em Eternidade, a fotografia mortuária-infantil exalta a dor da perda, celebra a memória do último ciclo da vida: a morte. Em Diamantina passava por Chichico, nossos olhos passeiam por representações de tipos físicos e sociais locais. Dentro ou fora do estúdio do fotógrafo, todas as poses foram meticulosamente estudadas e produzidas; ressaltam, cada uma delas, um aspecto específico do retratado: a virilidade, a posição social; a afinidade com alguns signos da modernidade, como a bicicleta, ou com a permanência da tradição, como o casamento, por exemplo. Paisagens humanas, paisagens urbanas, como o próprio título indica, foi composta a partir de vistas urbanas de Diamantina e de cenas de convívio social, as quais dão a ver “a alta sociedade diamantinense”; sua banda de música; seus jovens ilustrados; o aprendizado infantil da dilapidação de diamantes, o garimpo, o mercado central; as igrejas, as festas, a arquitetura colonial, etc. Após A mão que colhia rosas, que apenas contem o retrato do fotógrafo, clicado por seu filho, segue-se Um retrato retocado, como dito antes, ai o leitor se depara com informações sobre seu ofício de fotógrafo.
Á medida que passamos as páginas deste belíssimo livro e nos deparamos com cada uma de suas imagens, fica uma certeza: seus autores não mediram esforços para apresentar uma fração do que há de melhor deste fotógrafo cuja iniciação no mundo da fotografia parece datar de 1902, quando ele contava apenas com dezesseis anos de idade. Incentivado pelos mestres Padre Manuel González e Passig, ainda na fazendo do Caetermirim, o jovem Francisco Augusto Alkmim começou a aprender os mistérios da captação e criação dos fragmentos de vida refletidos nas lentes de sua máquina fotográfica. Como tantos outros fotógrafos de sua Época, Chichico Alkmim foi um autodidata. Juntamente com seus negativos de vidros, sua família localizou o Manual Prático de Photographia, de autoria de Adalberto Veiga, datado de 1910, e um livreto da Kodak brasileira: o Kodaks Graflex e acessórios, produzido no Rio de Janeiro e datado de 1926. Além de seguir suas instruções, sabe-se, também, que o fotógrafo frequentou o ateliê de Igino Bonfiolli que, nos idos de 1920, foi um dos espaços fotográficos mais respeitados da capital mineira. Depoimentos orais com membros da família Alkmim ainda nos informam: o fotógrafo de Diamantina era leitor voraz de revistas ilustradas como Careta, A Noite Ilustrada e Ilustração. Este conjunto de práticas, aliado ao seu talento pessoal, informou o manuseio que ele fazia de sua câmera de fole 13×18 com objetiva.
Uma vez radicado em Diamantina, por volta de 1917, Chichico Alkmim, manteve-se fiel a esta câmera até 1955, ano em que encerrou sua carreira de fotógrafo.
Tal fidelidade nos permite algumas provocações. Sabe-se, por exemplo, que em 1927 a Leica já se encontrava disponível no mercado; na década de 1930, sua venda chegou a mais de 100.000 exemplares. Por que será que o profissional Chichico Alkmim não abriu mão de sua câmera de fole 13×18 com objetiva? O que este dado que merece ser melhor pesquisado estaria sinalizando? Seu apego a uma tradição técnica e/ou estética? Um distintivo em relação a outros fotógrafos da região? Sabemos, por outras fontes, que Chichico Alkmim não foi o único fotógrafo de Diamantina. Por volta dos anos de 1920, viveu nesta cidade um outro fotógrafo: Francisco Manuel da Veiga.
Tendo conhecido outra parcela das fotografias deste fotógrafo, sabemos ser o esmero de Chichico Alkmim uma constante da maior parte de seus cenários e de suas poses. Contudo, como toda obra, a sua também é desigual. Explicar suas raízes, bem como tentar compreender os porquês de seu possível apego à tradição técnica e/ou estética dos anos oitocentos, é um convite e também um desafio a ser enfrentado por aqueles que certamente se dedicarão, no futuro próximo, ao estudo de seu acervo.
Não poderíamos encerrar as informações sobre este belo livro sem antes chamar a atenção para outro aspecto importante mas nem sempre considerado na avaliação de publicações como esta. Referimo-nos, em especial, às técnicas utilizadas tanto em sua composição, quanto na digitalização de suas imagens. Como lembram os teóricos da história do livro e da leitura, a análise das escolhas relativas impressão de um livro é um dos aspectos cruciais para se compreender os alvos pretendidos pelos editores. Segundo informações do fotógrafo e professor de fotografia, Tibério França, a impressão de O olhar eterno de Chichico Alkmim/The eternal vision of Chichico foi feita em papel couchê, em tritone, o que implicou em duas impressões do preto, para as áreas de sombras profundas e outra mais clara para os meios tons, cor escolhida da escala pantone, uma variação do branco, quase creme, com um tom um pouco mais quente na impressão. Para a digitalização das imagens foi utilizado o definition and resolution. Cada original de vidro foi escaneado três vezes, sendo uma para luzes, outra para sombras, e outra, ainda, para os tons médios. Outro software foi utilizado para recuperar os detalhes de luzes, sombras e meios tons.
Por fim, faz-se necessário informar alguns aspectos sobre a descoberta do fotógrafo Chichico Alkmim. Sabe-se que em 1978, data de seu falecimento, a família herdou um acervo de 5.000 negativos em vidro, minuciosamente organizado pelo próprio fotógrafo entre os anos de 1950 e 70. Segundo os autores de O olhar eterno de Chichico Alkmim/The eternal vision of Chichico, em 1980, a cidade pôde, por primeira vez, conhecer e avaliar uma fração do conjunto de seu trabalho. A exposição de algumas de suas imagens, no salão do Museu do Diamante, durante o 16o Festival de Inverno/UFMG, despertou o interesse, de pesquisadores e autoridades, para o trabalho de Chichico Alkmim. A partir da estavam criadas as condições para o início do trabalho de higienização, digitalização, indexação e identificação de seus negativos em vidros, a cargo da FEVALE (Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha). Em parte, pode-se dizer que esta atividade, iniciada em 1998, no Centro de Memória Cultural do Vale do Jequitinhonha, em Diamantina- mediante financiamento da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais) e apoio da Universidade do Estado de Minas Gerais, propiciou a confecção e a publicação do livro ora resenhado.
Muito provavelmente, sua circulação estimular a produção de estudos e análises tanto sobre seu acervo, quanto sobre sua obra propriamente dita. Ao pesquisador da história da fotografia e também dos diferentes campos do saber histórico, investigar este acervo equivaler a imiscuir-se no universo de problematizações sobre a cultura da fotografia de ateliê, praticada nos moldes da fotografia oitocentista e de primeiras décadas dos anos novecentos. Permitirá, quem sabe, compreender e avaliar seus alcances e limites, bem como sua inserção no sistema perceptivo da época.
A beleza das imagens que compõem este livro, as histórias e os mistérios que ele encerra e os desafios analíticos nele contidos são, por si sós, um convite à sua leitura.
Maria Eliza Linhares Borges – Doutora em Sociologia e Professora do Departamento de História/UFMG. E-mail: liliza@uai.com.br
[DR]
Fotografia e antropologia: olhares fora-dentro – ANDRADE (RIHGB)
ANDRADE, Rosane. Fotografia e antropologia: olhares fora-dentro. São Paulo: Estação Liberdade; Education, 2002. Resenha de: KNOX, Winifred. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v.166, n.429, p.233-234, out./dez., 2005.
Winifred Knox – doutoranda do Programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora da Universidade Potuguar em Natal, RN (UnP).
Acesso apenas pelo link original
[IF]
Images malgré tout / Georges Didi-Huberman
Meise Lucas – Universidade Federal do Ceará.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Images malgré tout. Paris: Les Éditions de Minuit, 2003. Resenha de: LUCAS, Meise. Revista Trajetos, Fortaleza, v.3, n.6, p.239-242, 2005. Acesso somente pelo link original. [IF].




