Posts com a Tag ‘Paco Editorial (E)’
Fernando de Azevedo em releituras – sobre lutas travadas/ investigações realizadas e documentos guardados | José Cláudio Sooma, Diana Gonçalves Vidal, Rachel Duarte Abdala
A reiterada presença de Fernando de Azevedo como fonte e objeto de investigação para a História da Educação é inquestionável. Todavia, uma nova publicação a seu respeito se propôs a revisitar sua atuação e obra, situando-a no debate historiográfico. Trata-se, pois, do livro “Fernando de Azevedo em releituras – sobre lutas travadas, investigações realizadas e documentos guardados”, de autoria de José Cláudio Sooma Silva, Diana Gonçalves Vidal e Rachel Duarte Abdala. A publicação organizou-se em três partes, sendo que cada uma delas operou com um recorte e objeto diferente sem perder de vista o sujeito estudado. Para além das análises apresentadas, todos os capítulos trazem como anexos transcrições, ferramentas de pesquisa, textos expositivos, dentre outros. Nesse sentido, faz o duplo esforço de tomar o professor e sua atuação como objeto sem deixar de olhar para o já consolidado compilado de pesquisas e documentos a seu respeito. Opera, portanto, como referência bibliográfica e como possível roteiro de pesquisa. Leia Mais
Do Glamour à Política: Janaína Dutra em meandros heteronormativos | Juciana Oliveira Sampaio
Detalhe de capa de Do Glamour à Política: Janaína Dutra em meandros heteronormativos
Do Glamour à Política: Janaína Dutra em meandros heteronormativos é uma edição conjunta da Editora da Universidade Federal do Maranhão com a Paco Editorial. Publicado em 2020, o livro, escrito por Juciana Oliveira Sampaio, professora do Instituto Federal do Maranhão, apresenta os resultados da pesquisa realizada durante o curso de doutorado, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, concluído em 2015, sob a orientação da professora Sandra Maria Nascimento Sousa. A pesquisa foi premiada na categoria Melhor Tese de Doutorado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, em 2016.
No livro, temos acesso a um registro detalhado sobre a trajetória da travesti Janaína Dutra, reconhecida como a primeira travesti advogada do Brasil. Abrangendo um período histórico que se concentra entre a década de 1980 e a primeira década deste século, a pesquisadora aborda um amplo espectro das relações sociais nas quais Janaína estava envolvida, seu processo de transição e produção de um corpo que refletia como ela desejava ser identificada, sua atividade como advogada, a atuação como militante de movimentos sociais pró-direitos de travestis, lésbicas e homossexuais, além de suas relações familiares e afetivas. Este registro fundamenta uma análise minuciosa sobre os processos de construção de si, e sobre a mobilização de identidades como instrumento político. Ao lermos a trajetória de Janaína Dutra, evidenciamos que,
por mais que o foco da pesquisa seja um sujeito específico, o olhar está voltado para a cultura, para as normas impostas, para as convenções a que o sujeito está assujeitado, entendendo que as identidades são socialmente construídas, disciplinando, normatizando e controlando os sujeitos (Juciana SAMPAIO, 2020, p. 113).
A densa revisão teórica e a atenção metodológica colaboram para a elaboração de uma análise que se estrutura a partir de identificação de categorias como memória, sexualidade, identidade e travestilidade em um cenário de emergência dos Estudos Queer no Brasil. Sob a forte influência das discussões promovidas por Michel Foucault e Judith Butler, o trabalho dedica importante atenção às relações de poder que perpassam os processos de construção dos sujeitos, bem como sobre o uso político e os limites da identidade como um elemento que sugere uma homogeneização de um grupo e que tende a apagar as especificidades dos sujeitos.
O grande número de depoimentos coletados com parentes, amigos, antigos namorados e colegas de militância, além das próprias impressões de Juciana, que conheceu Janaína, junto a diversas fontes documentais, às quais a pesquisadora teve acesso, são utilizados para reconstruir a trajetória de Janaína dando atenção às tensões que envolvem a produção de um ícone político, ação que se acentua após a morte da militante, em 2004. Ao apresentar todos esses elementos, em vez de reconhecer a excepcionalidade com que o título de primeira travesti advogada do Brasil envolvia Janaína, a pesquisa busca compreender os elementos que foram mobilizados para a produção de um ícone do movimento LGBTQIA+.
Ao descrever seu processo de transição de um homem gay para uma travesti, no contexto heteronormativo brasileiro e, especificamente, nordestino, que se inicia próximo aos trinta anos, após a conclusão do Curso de Direito em uma reconhecida universidade do estado do Ceará, é possível perceber que o fato de não ter vivenciado o processo de graduação como travesti, permitiu que Janaína não experimentasse as violências que costumam ser vividas por travestis que acessam ambientes de ensino durante a transição ou após transicionarem, cujo exemplo mais direto é a luta pelo direito ao uso do nome social e pelo acesso a banheiros públicos.
Durante a atuação em entidades como o Grupo de Resistência Asa Branca, a fundação da Associação de Travestis do Ceará, e a indicação para a atuação na Articulação Nacional de Travestis e Transexuais e na Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, Janaína lutava por temas que ainda estão longe de serem atendidos em sua totalidade, como o acesso à alteração do registro civil; acesso a técnicas de intervenção corporal pelo Sistema Único de Saúde; despatologização da transexualidade; combate à violência e à transfobia; inserção da temática da diversidade sexual nas escolas; políticas públicas de capacitação profissional e inserção de travestis no mercado de trabalho; cotas específicas para travestis em concursos e universidades; e linhas de crédito para empresários que empregassem travestis.
A conclusão de Juciana Sampaio remete à simbologia que envolve a produção de imagens positivadas, pois a participação de Janaína em eventos e diversas atividades em que ela representava a militante, politicamente envolvida com atividades que buscavam a profissionalização de travestis e o acesso destas a programas de saúde pública, juntamente com o trabalho em projetos, associações e órgãos públicos, quebrava a expectativa de que travestis só tinham espaço dentro da prostituição. Além disso, é destacada a relevância do contexto em que Janaína aparece, o final dos anos de 1990 e início dos anos 2000, período de consolidação de uma rede de organismos envolvidos na luta por direitos das travestis e transexuais.
Embora questione o discurso mobilizado por Janaína que identificava a atuação de travestis na prostituição como um problema, Sampaio reconhece que a contribuição que ela buscava, com a divulgação destes discursos, era a separação entre o termo prostituição e travestis. Nesse sentido, a intensa reprodução do título de primeira travesti advogada do Brasil colabora com a produção da travesti como sujeito que rompe com a designação de abjeto que a sociedade brasileira costuma atribuir a elas. Embora, recentemente, consigamos identificar travestis aprovadas em cursos de graduação e pós-graduação, no final dos anos 1990, encontrar uma travesti inserida no campo do Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil era algo inesperado. Nesse cenário, Janaína Dutra foi envolvida pelo sentido de representatividade que é associado a pioneiras como Jovanna Baby, pioneira no movimento social de travestis e transexuais; Katia Tapety, primeira vereadora travesti do Brasil; e Luma Andrade, reconhecida como a primeira travesti a obter um título de doutorado no Brasil, entre muitas outras.
Janaína foi um sujeito atravessado pela sua época, pelo contexto em que esteve inserida. Ela teve sua experiência marcada pelo afastamento da noção de inteligibilidade do gênero, nomeando sua subjetividade pela categoria de travesti, não porque entendia que aquela era sua essência, mas porque entendia como uma experiência que dizia algo sobre si. Longe de encarar a identidade travesti como um dado, Janaína a acionava, chegando a assumi-la estrategicamente. Isso a levou a estabelecer uma constante negociação com os outros, consigo mesma, com as instituições que a cercaram (SAMPAIO, 2020, p. 487).
Ao registrar os elementos que intermediam a negociação estabelecida por Janaína Dutra, Sampaio nos fornece um rico documento para pensarmos os processos de negociação/construção do gênero na produção de sujeitos e de identidades como instrumento político, acionadas para a conquista de direitos e consequente melhoria das condições de vida, sobretudo, para um segmento da população que segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais, no Brasil, tem uma expectativa de vida média de 35 anos, o que significa menos da metade da expectativa média da população brasileira (Bruna BENEVIDES; Sayonara NOGUEIRA, 2021).
Referências
SAMPAIO, Juciana Oliveira. Do Glamour à Política: Janaína Dutra em meandros heteronormativos Jundiaí: EDUFMA; Paco Editorial, 2020.
BENEVIDES, Bruna G.; NOGUEIRA, Sayonara Naider Bonfim (Orgs.). Assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2020 São Paulo: Expressão Popular, ANTRA, IBTE, 2021. Disponível em Disponível em https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf Acesso em 01/06/2021.
» https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf
Resenhista
Renato Kerly Marques Silva – Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Literatura, Florianópolis, SC, E-mail: [email protected] http://orcid.org/0000-0003-2250-929X
Referências desta Resenha
SAMPAIO, Juciana Oliveira. Do Glamour à Política: Janaína Dutra em meandros heteronormativos. Jundiaí: EDUFMA; Paco Editorial, 2020. Resenha de: SILVA, Renato Kerly Marques. Janaína Dutra, primeira travesti advogada do Brasil. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v. 30, n. 2, e84160, 2022. Acessar publicação original [DR]
O império das repúblicas: projetos políticos republicanos no Espírito Santo/ 1870-1908 | Karulliny Silverol Siqueira
Karulliny Silverol Siqueira | Imagem: Históriacapixaba.com
Os estudos acerca das identidades políticas no Império, do ingresso do republicanismo na cultura política nacional e do estabelecimento da República em solo brasileiro ganharam diversas nuances na historiografia, graças à crescente catalogação de documentos inéditos e a disponibilização digital de fontes históricas, assim como novas abordagens teóricas e metodológicas. Os avanços permitiram ultrapassar a percepção do Brasil desde o centro nacional, a dizer, no Rio de Janeiro, as novas percepções regionais trouxeram pluralidade à compreensão do Brasil no século XIX.
A obra O Império das Repúblicas, da historiadora Karulliny Siqueira, participa do movimento de renovação, especialmente, porque apresenta à historiografia nova percepção regional, identificando na província do Espírito Santo aspectos da transformação da cultura política imperial para o regime republicano. Buscou-se compreender os valores republicanos em circulação no país, abrindo a pesquisa à identificação das tendências políticas em diferentes localidades da província. O resultado do empreendimento apresenta um quadro do republicanismo mais plural e diversificado, se comparado às clássicas abordagens da historiografia. Karulliny Siqueira, utilizando-se dos parâmetros adotados por José Murilo de Carvalho em sua clássica obra A Construção da Ordem (1988), mapeia as características da elite provincial, através da prosopografia, para identificar a intervenção particular sobre as ideias de república em trânsito no país. Leia Mais
Uma viagem pelo Sertão: 200 anos de Saint-Hilaire em Goiás | Lenora Barbo
“Gosto deste velhinho”. Declarou o poeta Carlos Drummond de Andrade em uma crônica publicada em homenagem ao bicentenário do nascimento de Saint-Hilaire (1979, p. 5). Para o escritor mineiro era “um caso de simpatia pessoal e também de gratidão. Entre os viajantes estrangeiros do começo do século 19, ele me interessou mais do que qualquer outro, pelo que viu e contou de Minas. E não só de Minas: do Espírito Santo, de Goiás, de São Paulo, do Sul do Brasil. Graças a ele viajei por essas terras, conheci seus moradores, seus costumes, plantas, animais e minerais sem precisão de sair de casa.” Às suas palavras, o poeta viajou, imaginariamente, apoiado nas narrativas do naturalista.
Auguste François César Prouvençal de Saint-Hilaire nasceu na cidade francesa de Orleans em 4 de outubro de 1779. Sua biografia é conhecida: nascido de uma família nobre, teve uma formação inicial no Colégio Militar de Pontlevez. Após a Revolução Francesa esteve fora da França e retornou em 1802 onde estudou botânica no Museu de Ciências Naturais. Devido a um convite do então embaixador da França na Coroa Portuguesa veio para o Brasil em 1816. Leia Mais
O Sindicato que a Ditadura queria: o Ministério do Trabalho no governo Castelo Branco (1964-1967)
A autora de O Sindicato que a Ditadura queria é Heliene Nagasava. Servidora do Arquivo Nacional desde 2008, ela atua na organização e pesquisa dos acervos ligados à História do Brasil Republicano, destacando-se no trabalho com os arquivos da repressão. Sua atuação no Arquivo Nacional, somado ao engajamento no Laboratório de Estudos da História do Mundo do Trabalho (LEHMT/UFRJ) e em projetos ligados à Comissão Nacional da Verdade (2012-2014), traça o lugar social da investigação histórica aqui analisada. O livro é resultado de dissertação de mestrado, orientada por Paulo Fontes (UFRJ), e defendida no Centro de Pesquisa e Documentação de História do Brasil Contemporâneo (CPDOC-FGV).
A pesquisa articula a intenção de revelar e utilizar os acervos da história recente do país, a contraposição das memórias das elites políticas do governo Castelo Branco (1964-1967) com os arquivos da repressão, e a compreensão da história social dos trabalhadores na ditadura. A análise estrutura-se em três capítulos: o primeiro compreende passagem de Arnaldo Sussekind como ministro do trabalho (1964-1965) e os embates com os trabalhadores; o segundo analisa a repressão feita nos sindicatos a partir do Ato Institucional nº 1; o terceiro enfoca as medidas tomadas pelos ministros do trabalho Peraccchi Barcelos e Nascimento e Silva. No panorama da história política do Brasil República e da história social dos trabalhadores, o livro e pesquisa deslocam o enfoque dado ao Ministério do Trabalho nas décadas de 1930 e 1940 para o período da ditadura civil-militar. Leia Mais
1519. Circulação, conquistas e conexões na Primeira Modernidade | Luiz Estevam de Oliveira Fernandes e Luis Guilherme Assis Kalil
Pensar os impactos do colonialismo em porções do mundo como a América, a África e a Ásia têm movimentado os debates acadêmicos nos últimos anos. A queima e derrubada de estátuas de personagens das conquistas, tais como Cristóvão Colombo, reiteram a necessidade de uma reescrita da história do continente americano. A formação de impérios ultramarinos, pensada a partir dos grandes feitos e heróis, tem dado lugar a um conjunto de abordagens que Matthew Restall (2008) alcunhou de uma “Nova História da Conquista”.
É nesse conjunto de abordagens que a coletânea 1519. Circulação, conquistas e conexões na Primeira Modernidade foi lançada em 2021. A obra marca as efemérides de início da conquista de México-Tenochtitlan e da expedição de Fernão de Magalhães (1480 – 1521), a qual resultou na circum-navegação da Terra. Contudo, ela nos permite conhecer para além destas “datas comemorativas”, resultando em nove capítulos ensaísticos que procuraram dar conta dos sentidos conferidos ao conceito de Modernidade. Que modernidade era essa? A colonização de outros povos seria sinônimo ou marca do ser moderno? Seria moderno navegar pelo Atlântico ou estabelecer diálogos com o Oriente? Em que medida a viagem de Colombo resultou em um mundo mais moderno? O processo de mundialização e do contato entre as quatro partes do mundo seria a pedra de toque do livro, bem como a inscrição das Américas numa ideia de Primeira Modernidade (CAÑIZARES-ESGUERRA et al, 2017). Leia Mais
Guerras de papel: comunicação escrita, política e comércio na monarquia ultramarina portuguesa | Romulo Valle Salvino
O livro de Romulo Valle Salvino, adaptação de sua tese de doutorado (SALVINO, 2018), se propõe a analisar a história de um projeto fracassado: a tentativa de atuação de representantes do Correio-mor na América portuguesa entre os séculos XVII e XVIII. As guerras de papel, aludidas no título, se referem aos dissensos e disputas, políticas e judiciais, travadas em diferentes instâncias da monarquia portuguesa pelos grupos e indivíduos envolvidos nesse processo que se estendeu entre meados de 1650 até, aproximadamente, 1750.
A abordagem se estrutura ao redor de três eixos principais, com envergaduras cronológicas distintas e naturezas específicas. Primeiro, o deslocamento de uma concepção jurisdicionalista do poder e da administração da economia para uma economia política. Em segundo lugar, o ofício de Correio-mor é tomado como um indício da lógica patrimonial de gestão administrativa da monarquia que passa a receber profundas críticas. Por fim, o terceiro eixo consiste nas estratégias específicas das coletividades e agentes engajados na instalação, ou oposição, do Correio-mor nos domínios portugueses na América completando, assim, a unidade de análise esboçada pelo autor. Leia Mais
Fascismos (?): análises do integralismo lusitano e da ação integralista brasileira (1914-1937) | Felipe Cazetta
Fascismos… | Detalhe de capa |
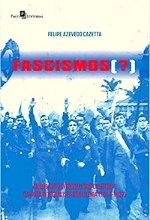
Una segunda razón para resaltar este trabajo es que el realizar esta comparación, permite iluminar con mayor intensidad determinados aspectos, que si solo se hiciera un examen nacional no saldrían a la luz. Una tercera razón es la coherencia y el rigor de este libro que es el resultado adaptado de una tesis presentada en el año 2016
El autor de este libro acierta con su título “Fascismos”, por cuanto como más se profundiza en el análisis del fascismo más se descubre que, sobre un fondo comùn, aparece su carácter heteróclito. Así cada vez está más claro que hubo variadas expresiones fascistas influenciadas por las evoluciones económicas, sociales, políticas y culturales de cada estado, que aun dentro de un mismo país, estas expresiones tenían connotaciones diversas y que fueron adaptando su discurso en las diferentes fases que vivieron. Este es el caso del integralismo lusitano y de su correspondiente brasileño. No solo hubo organizaciones diversas sino dentro de ellas, discursos relativamente heterogéneos, que de todos modos alimentaban un tronco común. Descubrir este tronco común y al mismo tiempo ser sensible a las diferencias no es tarea fácil. Esto es lo que hace esta publicación
Esta característica se pone de manifiesto en este libro por cuanto su principal óptica es la de hacer un análisis teórico doctrinario de los fascismos brasileño y portugués y ver cuales son sus principales similitudes y diferencias y sus mutuas influencias. Para concretar este objetivo, el autor recorre a explicar sintéticamente las biografías de los principales líderes, a estudiar detalladamente sus discursos y publicaciones y a rastrear las referencias que se hacían mutuamente, en sus periódicos y revistas, donde destacan Naçao Portuguesa y América Brasileira
Viajes, contactos, noticias, artículos compartidos y alabanzas mutuas prueban que el Integralismo Lusitano y el Nacional Sindicalismo de este país no estaban tan lejos de la Acçao Integralista Brasileira y aun de la Acçao Imperial Patrianovista Brasileira. Durante un cierto tiempo bebían unos de otros y encontraban una común inspiración en Maurras y el corporativismo que la Iglesia católica preconizaba desde la encíclica Rerum Novarum y que la Qudragesimo Anno de Pio XII reafirmó en 1931. También admiraban los avances de Mussolini en Italia. En cambio, no deja de ser sorprendente que casi no se encuentren referencias a los autores y líderes fascistas españoles o al rumano Manoilescu que fue uno de los divulgadores del corporativismo más conocido en Europa en los años treinta. Parece evidente que la lusofonia y un pasado comùn entre Brasil y Portugal debió jugar un positivo y contradictorio papel entre aquellos movimientos
Contradictorio, porque la afirmación nacionalista y su fijación por reconstruir la historia, propias de estas posiciones, les llevaban a ensalzar la época imperial de Portugal y su dominio sobre Brasil. De ahí que como Cazetta ilustra, algunos líderes brasileiros oscilasen entre la lusofilia y la lusofobia. Pudo más la primera y por lo que parece las relaciones fueron estrechas y positivas. Queda por ahora sin responder la pregunta de hasta que punto estas relaciones fueron favorecidas por los emigrantes portugueses en Brasil y por la propaganda que el Estado Novo hacía en este país [4]. De todos modos, ¿que tenían en común los integralismos brasileño y portugués y sus líderes? En primer lugar, según Cazetta, comparten un pasado literario y hasta cierto punto elitista. Hubiera sido interesante profundizar en el primero ya que el modernismo [5] artístico y literario fue predominante en aquella época y hubiera podido dar algunas claves para entender mejor los origenes culturales de aquellos líderes y de sus expresiones fascistas. No deja de ser curioso que algunos de ellos compartan estudios jurìdicos en las facultades de derecho de Coïmbra y de Recife y Sao Paulo y que allí se forme una identidad de grupo. En el caso portuguès no deja de ser sorprendente que autores tan diferentes como Herculano, Garrett y Antero de Quental sean los referentes anteriores del naciente integralismo
En segundo lugar, ambos movimientos comparten su crítica al liberalismo y a los regímenes parlamentarios a los que adjudican todos los males históricos y reaccionan contra el comunismo. Dios. Patria y Familia podría ser el lema que les une en una concepción tradicionalista que tratan de justificar con una visión histórica peculiar que ellos reconstruyen a su manera. Esta visión les lleva hasta la época medieval en la que florecían organicismo y corporativismo, que constituyen sus fundamentos organizativos para la sociedad que se proponen construir. Un estado fuerte, con ansias expansionistas y centralizado políticamente, pero que otorga poderes administrativos a los municipios les parece ser la mejor fórmula de gobierno. Monárquicos convencidos en su origen, algunos aceptan un cierto republicanismo que no caiga en los defectos de las denunciadas constituciones de 1891 en Brasil y del régimen republicano portugués de 1910
La descripción de estas características es una parte muy substantiva de este libro, que a veces se hace repetitiva como cuando se alarga la presentación del ideario Maurrasiano. Era casi inevitable, ya que, a pesar de pequeñas matizaciones ligadas a itinerarios personales, las expresiones doctrinarias de estas dos corrientes fascistas se parecen y no brillan por su originalidad. Quizás, hubiera sido útil dedicar más espacio a explicar su articulación con el contexto cronológico y politico de cada país. Esto hubiera facilitado la tarea de los potenciales lectores de los dos países. Los brasileños no conocen muy bien la evolución política de Portugal de después de la primera guerra mundial y al revés, no muchos portugueses saben las vicisitudes de la vida política brasileña
Igualmente, si se hubiesen caracterizado mejor a las organizaciones (fuerza, afiliados, modos de organización interna, actividades externas, …) se habría podido pasar a otros niveles de interpretación [6]. Pero esto se escapa a los objetivos del trabajo. El cual hace avanzar en el conocimiento de dos movimientos protofacistas en sus inicios y más declaradamente fascistas en sus respectivas maduraciones, en dos países, tan lejanos y cercanos, como Brasil Y Portugal
Igualmente contribuye a comprender mejor sus relaciones y mutuas influencias, Abre así un estimulante campo, relativamente inexplorado, que hay que esperar sea cultivado por otros investigadores. En cualquier caso, permite sugerir que las expresiones fascistas en Brasil, como en el caso de Mejico [7], no fueron meras copias o mimetismos de lo que sucedía en Europa
Tuvieron sus rasgos específicos. En este sentido, con esta publicación, se da un paso adelante con respecto a las consideraciones que formulaba Helgio Trindade [8] hace casi cuarenta años atrás
Por fin, para finalizar esta nota de lectura hay que constatar como lo hace Felipe Cazetta que en los últimos tiempos los movimientos y las posiciones de extrema derecha han aumentado no solo en su presencia en gobiernos y administraciones en todo el mundo sino también en las practicas cotidianas de muchos ciudadanos y compartir con el, su preocupación por este crecimiento. Conocer mejor sus origenes y despliegues ideológicos se convierte así en una manera de empezar a combatirlo. Es lo que hace este libro que ahora se recomienda
Notas
2. AA.VV. (1987) O estado Novo. Das origens ao fim da dictadura. 1926-1959. Lisboa Ed. Fragmentos. II Vol
3. Larsen, S.U. (Ed.) (2001). Fascism outside europe. N.Y. Columbia University Press7
4. Paulo.E. (2000 ) Aquí tambem é Portugal: a colónia portuguesa no Brasil e o Salazarismo. Coimbra, Quarteto
5. Griffin,R. (2003) Modernism anf fascism. The sense of a beguining under Mussolini and Hitler. N.Y. Palgrave Mac-Millan.
6. Para una interpretación comparativa de las politicas sociales de los fascismos en Portugal, Itàlia, España y Alemania ver Estivill. J. (2020) Europa nas trevas. As politicas sociais nos fascismos. Lisboa Universidad Nova de Lisboa
7. Meyer, J. (1977) Le sinarquisme: Un mouvement fasciste Mexicain. Paris. Ed. Hachette
8. Trindade, H.(1982) El tema del fascismo en America Latina, Revista de Estudios Politicos n. 50
Jordi Estivill – Universidade de Barcelona – Espanha. E-mail: [email protected]
CAZETTA, Felipe. Fascismos (?): análises do integralismo lusitano e da ação integralista brasileira (1914-1937). Jundiaí: Paco editorial, 2019. Resenha de: ESTEVILL, Jordi. Caminhos da História. Montes Claros, v.26, n.1, p.241-244, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [IF]
Escravidão urbana e abolicionismo no Grão-Pará/século XIX | José Maia Bezerra Neto, Luiz Carlos Laurindo Junior
Como salienta José Maia Bezerra Neto, um dos organizadores da coletânea, na sua contribuição inicial, “Do vazio africano à presença negra”, desconhece-se ainda hoje a importância da escravidão de origem africana na Amazônia. Essa ideia da Amazônia apenas indígena ou mestiça foi construída ao longo de mais de um século por uma historiografia brasileira que quis salientar a peculiaridade ou a situação periférica da região em relação ao resto do Brasil. A historiografia nacional sobre a Amazônia focou exclusivamente na atividade econômica do extrativismo, que usava a mão de obra indígena em oposição à agricultura escravista de plantation. Mesmo a historiografia paraense mais antiga quase não menciona a escravidão de origem africana (por exemplo, Arthur Vianna) ou apenas trata dela em estudos específicos, mas não lhe dando a devida importância em obras mais gerais (Arthur Cezar Ferreira Reis). As coisas começaram a mudar a partir dos trabalhos pioneiros de Napoleão Figueiredo, Anaíza Vergolino e sobretudo Vicente Salles, como destaca Bezerra Neto. Destarte, acaba surpreendendo o leitor tanto a antiguidade quanto o volume da produção historiográfica regional sobre escravidão africana no Pará, passada em revista nesse ensaio, que será de grande utilidade para qualquer estudioso do assunto, quer no Pará ou mesmo, de maneira geral, nas Américas. Apenas achei que poderia ter incluído autores estrangeiros, como a importante monografia sobre a cabanagem, de Mark Harris, Rebellion on the Amazon (2010), e o excelente estudo de Oscar De la Torre, The People of the River: Nature and Identity in Black Amazonia, 1835-1945 (2018). Leia Mais
“Manter sadia a criança sã”: as políticas públicas de saúde materno-infantil no Piauí de 1930 a 1945b| Joseanne Zingleara Soares Marinho
Joseanne Zingleara Soares Marinho é uma das mais notáveis historiadoras da historiografia piauiense recente. Realiza pesquisas em História da Saúde, das Doenças e das Ciências, Políticas Públicas, Gênero, História das Mulheres, Ensino de História e História da Educação. É professora Adjunta do Departamento de História da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) – Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina – Piauí. É Professora Permanente do Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória) UESPI/UFRJ. É uma das líderes do Grupo de Pesquisa em História das Ciências e da Saúde no Piauí (SANA), vinculado à Universidade Estadual do Piauí – UESPI e à Universidade Federal do Piauí – UFPI, cujas ações têm contribuído para o desenvolvimento de pesquisas e para a sistematização da História da Saúde e das Doenças no Piauí. Dentre uma vasta produção de pesquisas da autora, uma obra que ganha muita projeção é “Manter sadia a criança sã”: as políticas públicas de saúde materno-infantil no Piauí de 1930 a 1945. O livro foi publicado no ano de 2018 pela Paco Editorial, trata-se do resultado da sua tese de Doutorado, realizado no Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal do Paraná – UFPR. A relevância da obra e a sua importância podem ser notadas pela produção do Prefácio, da Apresentação, da orelha do livro e da contracapa, todos produzidos por historiadores renomados como Ana Paula Vosne Martins, Maria Martha de Luna Freire, Pedro Pio Fontineles Filho e Antônia Valtéria Melo Alvarenga. Leia Mais
Como será o passado? História, historiadores e a Comissão Nacional da Verdade
A obra Como será o passado? História, historiadores e a Comissão Nacional da Verdade é o resultado de um projeto de pesquisa da autora, Caroline Silveira Bauer, “Um estudo sobre os usos políticos do passado através dos debates em torno da Comissão Nacional da Verdade (Brasil, 2008-2014)”, sendo este apenas um dos muitos projetos envolvendo a ditadura civil-militar, os direitos humanos e a Comissão Nacional da Verdade nos quais a autora se envolveu. Antes da publicação deste livro, Bauer havia analisado comparativamente políticas de memória no Brasil e na Argentina, e mais recentemente integra um projeto de pesquisa sobre os usos políticos do passado. Além disso, entre 2011 e 2013 foi consultora na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Portanto, dado o domínio da autora sobre o tema e sua familiaridade com tantas questões que o tangenciam, não é de surpreender que se trate de uma leitura tão interessante e instigante.
Segundo afirmado pela historiadora na introdução do livro, seu objetivo era o de “fomentar o debate sobre fazeres e práticas dos historiadores comprometidos com uma escrita da história que fundamenta suas análises no pensaras possibilidades de intervenção no mundo”1 , que considero ser seguro afirmar, a obra cumpre com maestria, trazendo à luz questionamentos sobre o papel de organizações como a CNV no estudo de história, bem como o papel de historiadores e historiadoras no que diz respeito à estes órgãos. A autora admite, contudo, que o livro pode ser considerado “inoportuno, insistente ou rancoroso”2 por quem critica o anacronismo da Comissão da Verdade, que deveria ter existido em outro momento, mas é justamente este um dos pontos da obra: compreender se esta comissão foi capaz de apaziguar os ânimos no que diz respeito a memória da ditadura civil-militar. Leia Mais
Como será o passado? História, historiadores e Comissão Nacional da Verdade / Caroline S. Bauer
Uma linha do tempo em sentido crescente percorre a quarta capa em direção à capa, com início no ano do golpe, 1964, e fim no ano da publicação, 2017. Acima, a questão: Como será o passado? A pergunta incomoda pelo óbvio: como empregar um verbo no futuro para refletir sobre o que já foi? Interessa à autora, Caroline Silveira Bauer, investigar como um órgão de Estado, no caso a Comissão Nacional da Verdade (CNV), lançou uma narrativa capaz (ou não) de pacificar interpretações a respeito do complexo passado da ditadura, alvo de concepções opostas. Trata-se de um passado vivido, mas também relatado – o que, no futuro, entender-se-á sobre este passado? É dessa maneira que o debate proposto pela professora de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) chega a um considerável número de acadêmicos dedicados a estudar o momento pós-ditadura no Brasil. A publicação é fruto do projeto “Um estudo sobre os usos políticos do passado através dos debates em torno da Comissão Nacional da Verdade (Brasil 2008-2014)”, que esteve em atividade entre 2014 – ano da publicação do relatório da CNV – e 2017.
A obra localiza-se em um contexto de notório interesse da academia sobre a recente experiência brasileira de uma comissão da verdade e, assim como em outras obras, questiona as potencialidades e os limites desse recurso como política de Estado que visava a superação de um passado de exceção. Trata-se, nesse caso, de uma incursão profunda nas teorias que se dedicam a pensar o lugar da memória, da verdade e da narrativa em relação a eventos traumáticos, ao mesmo tempo em que localiza o caso brasileiro – suas disputas, imprecisões e críticas à CNV – em diálogo com a literatura nacional e estrangeira. Acima de tudo, o livro é um olhar a partir da historiografia, que mira para uma narrativa que mobiliza temporalidades e noções de história, mesmo sem se inscrever no campo da disciplina em questão. Desde essa perspepctiva, Bauer oferece uma análise sobre a CNV, que demonstra como o órgão se comprometeu a alicerçar em solo movediço, uma interpretação de caráter incontestável sobre o passado. Movediço, pois despreza a possibilidade de reinterpretação de fenômenos históricos, compreendendo tempo como categoria fixa (o que passou, passou e há uma verdade sobre o que ocorreu, da mesma maneira como o futuro parece ser controlável – nele seria possível imprimir uma narrativa socialmente aceita, pacificada, sobre o passado). No decorrer da obra, a autora adiciona elementos que complexificam as posições aparentemente ingênuas da Comissão em relação à maneira como percebe a história: volta-se às disputas de projetos, ao negacionismo, à continuidade do Estado violento e à múltipla dimensão temporal de um passado que não se sabe se passou e como se inscreverá no futuro.
Para defesa dessa tese, o livro divide-se em uma introdução e três capítulos e se inicia com a discussão sobre como a historiografia brasileira sobre a `ditadura civilmilitar` tem perdido sua “inocência epistêmica”, e, assim, promovido trabalhos com criticidade no que compete à dimensão ética e política da análise historiográfica.
Prepara-se, com isso, solo para pousar as questões principais do livro, centradas em indagar como será o passado, nas omissões e silêncios prováveis de serem encontrados na ideia da CNV sobre a ditadura, bem como nas percepções sobre história que emergem do relatório produzido pela Comissão. Ao tratar questões presentes, a historiadora visita acontecimentos fundantes da ótica política sobre o tema, com destaque à lei de anistia (1979) e à ideia de cordialidade e esquecimento que tangenciam o marco legal. Essas características são tratadas pela autora como fenômenos que não se encerraram, que se dirigem para o futuro e demarcam fundamentalmente o contexto em que a CNV se originou.
Analisar a atuação da CNV como marco inicial de um processo desde o olhar de uma historiadora significou, neste livro, pensar também sobre o envolvimento de profissionais da área no interior desta Comissão, com atenção ao aprofundamento de reflexões oriundas das tensões história versus justiça, apredizado versus pena, historiadores versus juízes e tempo da história versus tempo do direito. Em uma imersão no debate teórico, o primeiro capítulo, “História, historiadores e Comissão Nacional da Verdade”, percorre os últimos anos do Cone Sul, marcados pelas crescentes iniciativas no campo das políticas públicas de memória ensejadas em governos progressistas. O texto adentra também à esfera teórica e metodológica, passa pelo papel da história em relação a passados traumáticos – considerando as variadas concepções sobre o que se entende por história -, e questiona o papel da história dentro da lógica da necessidade de reparação da experiência-limite. Dessa forma, o capítulo inicial da obra é composto por uma carga de reflexão assentada na teoria da história, marcado pela mobilização de referências que vão desde clássicos dedicados a temas fundantes nas Humanidades, como Paul Ricoeur e Theodor Adorno, até expoentes da nova geração na literatura sobre memória, a exemplo de Berber Bevernage.
Na segunda parte do livro, são abordadas as noções de tempo, passado-presentefuturo, e de suas durabilidades para tratar o caráter plural das experiências brasileiras em relação ao seu passado traumático. “As múltiplas temporalidades nos debates sobre a criação da Comissão Nacional da Verdade” trabalha com a diferenciação entre o tempo do violador e o tempo da vítima (Bevernage), tensão na qual residiria, de um lado, um passado que passou e que deve ficar inerte e fechado e, de outro, um passado que não passa e que prescinde de ruptura. Sob a polaridade, coloca-se a “ideologia da reconciliação” e os obstáculos do silêncio e do esquecimento, presentes no caso brasileiro, frente a uma transição pactuada e limitante em relação às expectativas para o futuro.
Assim, quando o Estado assume a posição de mediar a reconciliação visa-se o futuro por meio de ações institucionais do presente. O caso da CNV é tratado a partir da ideia de “políticas de memória”, de onde nasce a reflexão sobre a vítima, seu sofrimento e seu direito, e sobre a instrumentalização do sofrimento e os eventuais abusos de memória.
É apenas no final do capítulo que se inicia, de fato, a análise de fontes relacionadas à Comissão, a partir dos discursos parlamentares durante as discussões para adoção de sua lei. Os debates são exibidos ancorados na ideia de disputa pela memória e suas nuances temporais: algumas olham para o futuro, enquanto outras, para o passado. Ao encarar o tom de oficialidade da CNV e sua expectativa em consagrar um relato e deslegitimar outros, aborda-se, ainda, “O que (não) pode ser dito”, momento em que se evidencia valores pacificados no âmbito do discurso – como a defesa da democracia – e valores em disputa – como a denúncia sobre práticas violentas no tempo presente.
O livro é finalizado com análise sobre “O relatório da CNV e o futuro da memória”, indagando o teor da narrativa oficial e sua expectativa de se fixar na memória futura sobre o tema. Para isso, Bauer voltou-se primeiramente para as grandes questões que atribuem identidade ao relatório: a narrativa que estabelceria a verdade ao tom ‘história como mestra da vida’, exemplar, mas sem confrontos, apaziguadora com base em critérios jurídicos, sobretudo, na lei de anistia. A expectativa é quebrada, no entanto, quando se mostra que o projeto de apaziguar não foi bem sucedido, já que tanto as Forças Armadas criticaram o relatório por seu perfil `revanchista` quanto familiares de desaparecidos o consideraram insuficiente. Com uso do artifício de réquiem, a autora finaliza o livro sem conclusão, com espaço para evidenciar que toda trajetória da CNV se comprometia principalmente com o futuro e com a pós-memória em seu potencial de transmissão geracional.
Como será o passado?, tal qual expresso inicialmente, volta-se justamente para intersecção passado-futuro e sobre as expectativas frustradas de um órgão que partia da premissa de irreversibilidade histórica. O livro possibilita, assim, que se questione em que medida essa expectativa restringiu-se ao Estado (ou, ao menos a um órgão estatal) ou foi compartilhada por um setor da academia dedicado à pesquisa sobre esse tema. A opção por não oferecer uma conclusão fechada a respeito do fenômeno e sim evidenciar fragilidades e características do processo, abre espaço para a necessidade de complementações e revisões das teses apresentadas no livro e, assim, pacifica-se com a crítica dirigida à CNV: nenhuma interpretação sobre nenhum fenômeno é irreversível, principalmente considerando as tensões políticas que o permeia. Eis a grande contribuição da historiografia nesta análise.
Notas
O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil.
Paula Franco – Doutoranda em História na UnB. E-mail: [email protected].
BAUER, Caroline Silveira. Como será o passado? História, historiadores e Comissão Nacional da Verdade. Jundiaí: Paco Editorial, 2017. Resenha de: FRANCO, Paula. A contribuição da História para o passado ou para o futuro. Em Tempo de História, Brasília, v.1, n.36, p.586-588, jan./jun., 2020. Acessar publicação original. [IF].
COWLLING Camillia (Aut), Concebendo a liberdade: mulheres de cor/ gênero e abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro (T), GEREMIAS Patrícia Ramos (Trad), PENNA Clemente Penna (Trad), Editora da Unicamp (E), REIS Laura Junqueira de Mello (Res), Gênero, Agência escrava, Negociação Abolição da escravidão, Cidade de Havana, Cidade do Rio de Janeiro, Brasil, Cuba, Século 19, Em Tempo de História (ETH), Século 19, América
Camillia Cowlling é uma historiadora inglesa formada na Universidade de Oxford, realizou seu doutorado no Instituto de Estudos Sobre Escravidão, na Universidade de Nottingham. Atualmente é professora de história latino-americana na Universidade de Warwick. O foco de sua pesquisa é a escravidão e abolição na América latina, especialmente em Cuba e no Brasil. Fruto de suas investigações, lançou em 2013 o livro Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro, sua obra foi traduzida para o português e publicado pela editora da Unicamp, em 2018.
A primazia do livro Concebendo a liberdade está, além de conferir um agenciamento social às mulheres escravizadas em Havana e no Rio de Janeiro, em realizar uma pesquisa partindo de uma perspectiva transnacional – ou podemos chamar também de transatlântica – entre duas das grandes cidades que, por meio da escravidão, cresceram e se desenvolveram ao longo do século XIX. Diante disso, apesar da autora utilizar fontes que já haviam sido investigadas, propõe uma obra pautada em um novo sentido. Dessa forma, o livro foi baseado a partir desses diversos aspectos referenciais que são explorados em sua narrativa.
O trabalho nos remete à perspectiva adotada por Sidney Chalhoub na obra Visões da Liberdade. Ambos os autores tomaram como aporte teórico a histórica social e buscaram resgatar a agência dos sujeitos e entendê-la a partir de suas experiências. A historiadora fez uso das mesmas fontes que Chalhoub, trabalhou em sentido próximo a este, no entanto, pensando a condição feminina. (CHALHOUB, 1990). Nesse sentido, a obra de Cowlling trabalha com diversos aspectos referentes à escravidão e a condição das mulheres negras nesse período, como: agência escrava, ação dos sujeitos, maternidade, feminilidade, gênero, entre outros.
O conceito de transnacionalidade, atualmente em pauta na historiografia é explorado pela historiadora inglesa, uma vez que ela pensa a emancipação gradual repensando o conceito de maternidade no Brasil e em Cuba. Ao analisar os dois países de forma comparativa, [1] investiga como a mesma situação ocasionou respostas parecidas em lugares diferentes.
Destacamos que a escolha por esses dois países não foi arbitrária. Cuba e Brasil foram os dois últimos países a abolir a escravidão e agiram de modo semelhante nos processos que resultaram na abolição, [2] a exemplo da Lei Moret, em Cuba, sancionada em 1870, e a chamada Lei Rio Branco, mais conhecida como Lei do Ventre Livre, no Brasil, em 1871. Ambas as leis determinavam a liberdade do ventre, ou seja, a partir dessas leis os filhos das escravas nasceriam livres; mas as mães permaneceriam escravas.
Nessas condições, Camillia Cowlling indica que tanto as escravas brasileiras como as cubanas se utilizavam de estratégias previstas no sistema legislativo para conseguirem a liberdade de seus filhos, portanto, sabiam usar as leis a seu favor. Além disso, a autora percebeu que as mães escravas passavam a agenciar sua própria liberdade utilizando-se da retórica da maternidade [3], a fim de que tivessem suas vozes escutadas, contando dessa forma com a piedade e a caridade dos que as ouviam. Tal retórica era uma estratégia de discurso. Assim, a partir da promulgação de tais leis, as mulheres negras passaram ao centro da discussão a respeito da abolição. A gestação tornou-se então um campo de disputas, e as mulheres souberam utilizar dos argumentos expostos em tais processos com o intuito de conseguirem a almejada liberdade.
Logo, podemos compreender que o processo de abolição não pode ser encarado como um projeto desenvolvido a partir de uma concessão dos Senhores, mas sim como uma consequência de diversas reivindicações elaboradas por mulheres escravizadas que, buscando argumentos e meios legais, fizeram uso de algumas alternativas cabíveis, estabelecendo assim, novas formas de alcançar a liberdade. No mais, a autora evidencia ainda que as disputas legais enfrentadas pelas mulheres negras eram travadas na dimensão cotidiana da vida e que não eram ações apenas individuais, ou seja, tais movimentos de luta pela liberdade eram fruto de redes de apoio e comunicação entre essas mulheres.
Para chegar a essa conclusão, Cowlling empreendeu uma série de buscas em muitos arquivos, principalmente, brasileiros e cubanos a fim de identificar a ação, experiência e agência dessas mulheres. Com o domínio do idioma espanhol e da língua portuguesa, a autora analisou várias fontes, como: jornais, inventários, relatórios consulares, poemas, novelas, registros de sociedades abolicionistas, relatos de viajantes, censos populacionais e ações criminais.
Na análise da documentação oficial relacionados a processos judiciais, as então chamadas “ações de liberdade”, Cowlling percebeu que a maioria das requerentes que buscavam justiça no processo de emancipação gradual eram as mulheres. Constatou também que estas sabiam utilizar de preceitos estabelecidos em lei e, além de usarem estrategicamente dos mesmos, negociavam suas liberdades com seus Senhores.
Portanto, segundo a autora, o movimento de algumas mulheres escravizadas em Cuba e no Brasil foi fundamental para o processo final da abolição, que ocorreu em 1886 e 1888, respectivamente.
Outra característica do livro é o uso das narrativas dos próprios atores históricos. Por exemplo, elaborando um texto mais fluído, já no início da obra, Cowlling traz a história de duas mulheres: Ramona Oliva e Josepha Gonçalves de Moraes. As trajetórias delas se assemelham no que se refere a tipos de iniciativas, objetivos e circunstâncias experimentadas por ambas, apesar de viverem em lugares diferentes – uma em Havana e a outra no Rio de Janeiro. Ao longo do livro, a autora vai descrevendo o caminho percorrido por essas mulheres e, ao final, apresenta a conclusão dos processos judiciais: as duas mulheres não conseguiram vitória na justiça, mas representam a dinâmica e ação das mulheres negras no Brasil e em Cuba, ao final do século XIX, e a relação das mesmas com o processo de abolição.
A diferença entre a feminilidade branca e a feminilidade negra também é um ponto fundamental destacado na obra. Às mulheres oitocentistas caberia o papel de mãe, mas até que ponto esse papel também se encaixava na condição das mulheres negras? Josepha de Moraes, por exemplo, ao solicitar a liberdade para sua filha, nascida após a Lei do Ventre Livre – mas ainda servindo ao antigo dono de sua mãe, conforme explicitado na lei, – teve seu pedido negado em prol do fazendeiro. Nesse caso, a justiça alegou que o Senhor teria mais condições de sustentar e dar educação à filha de Josepha do que a mãe, considerando a pouca instrução que as escravas normalmente recebiam. Assim, para as mulheres negras, nem sempre a função concernente à maternidade era permitida. Portanto, como destaca a autora, as mulheres negras pertenciam a um lugar de não-mulher construído pela sociedade paternalista vigente no Oitocentos.
Na última parte da obra, a historiadora explorou o tema da cidadania e escravidão. Cowlling levantou o questionamento: os escravos, uma vez livres, poderiam usufruir de direitos de cidadania e participar da vida política? Sabemos que, enquanto livres, a condição de vida desses sujeitos foi modificada, no entanto, mesmo após o processo de abolição, os “ex-escravos” não adquiriram cidadania plena no Brasil, uma incorporação foi mais formal do que real.” (CARVALHO, 2001, 13). Ou seja, mesmo usufruindo de uma liberdade formal, não lhes era garantido uma participação efetiva em situações cujo o direito à cidadania era capital.
Ainda sobre o último capítulo, apresentando pontos referentes ao pós abolição, a autora deixa evidente que as ações elaboradas por essas mulheres eram fundamentais para que elas se sentissem cidadãs: “apesar das mulheres estarem excluídas de outros atributos da cidadania, como o direito ao voto ou ao serviço militar, o direito de peticionar ganharia uma importância política relevante em suas mãos.” (COWLLING, 2018, n.p). Tal discussão concernente a cidadania e escravidão, presente no último trecho do livro, da margem para que novas pesquisas sejam elaboradas tomando como base essa perspectiva de análise.
O que Cowlling conclui com esse livro, para além da agência escrava feminina no século XIX, é que a escravidão como conceito foi, assim como diversos acontecimentos, atravessado pelas relações de gênero: “a escravidão ajudou a moldar ativamente as relações de poder e gênero tanto na sociedade escravista como na sociedade livre.” (COWLLING, 2018, n.p).
Isto foi evidenciado nas teorias tomadas a partir dessa temática, assim como na prática, na vida cotidiana analisada por meio da documentação. Logo, a obra nos permite perceber que é possível (e é preciso) levar o gênero e as mulheres em consideração ao fazer análise das mais diversas fontes históricas, uma vez que a escravidão também foi atravessada por relações de poder determinadas pelo gênero.
Notas
- Apesar de analisá-los de forma comparativa, a autora firma que não faz uso de uma metodologia comparativa.
- Os dois países, juntamente com o Sul dos Estados Unidos, integraram aquilo que foi chamado de Segunda Escravidão, teoria que afirma que após uma série de abolições, a escravidão foi tomando um novo formato e poucos países ainda eram escravistas, apenas: Brasil, Cuba e Estados Unidos. (TOMICH, 2011).
- O texto de José Murilo de Carvalho sobre retórica nos auxilia a compreender esse termo. Se encaramos a retórica a partir do exposto no artigo de Carvalho, conseguimos compreender uma certa autoridade que esse conceito buscava transmitir, logo, as mulheres se utilizavam de tais noções para se mostrarem aptas a criarem seus filhos. No entanto, na sociedade patriarcal Oitocentista, por vezes, apenas a retórica da maternidade e as brechas nas leis, não eram suficientes. (CARVALHO, 2000).
Referências
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
CARVALHO, José Murilo de. História intelectual no Brasil: a retórica como chave de leitura. Revista Topoi. Rio de Janeiro, nº01, p.123-152, jan-dez. 2000.
CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: Uma história das últimas décadas de escravidão na Corte. São Paulo, Cia. das Letras, 1990.
COWLING, Camillia. Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e a abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro. Trad. Patrícia Ramos Geremias e Clemente Penna. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2018.
TOMICH, Dale. Pelo prisma da escravidão: trabalho, capital e economia mundial.
Trad. Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Edusp, 2011.
Laura Junqueira de Mello Reis – Doutoranda em História na UERJ. E-mail: [email protected].
COWLLING, Camillia. Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro. Trad. Patrícia Ramos Geremias e Clemente Penna. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2018. Resenha de: REIS, Laura Junqueira de Mello. Gênero, agência escrava e estratégias de negociação: processos de abolição em Havana e Rio de Janeiro, século XIX. Em Tempo de História, Brasília, v.1, n.36, p.582-585, 2020. Acessar publicação original. [IF].
NOGUEIRA Natania Aparecida da Silva (Aut), As histórias em quadrinhos e a escola: práticas que ultrapassam fronteiras (T), ASPAS (E), MENEZES NETO, Geraldo Magella de (Res), Em Tempo de História (ETH), História em Quadrinhos, Escola, França, Japão, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ensino de História
Século 20, Século 21, América, Ásia, Europa
As histórias em quadrinhos (HQs), surgidas no final do século XIX com a publicação de The Yellow Kid nos jornais norte-americanos, teve inicialmente grande rejeição por parte de pais e educadores ao longo do século XX. Um marco importante dessa rejeição foi a publicação, em 1954, de A sedução dos inocentes, do psiquiatra alemão radicado nos Estados Unidos, Fredric Wertham, que denunciava os quadrinhos como uma grande ameaça à juventude norte-americana tentando provar “como as crianças que recebiam influências dos quadrinhos apresentavam as mais variadas anomalias de comportamento, tornando-se cidadãos desajustados na sociedade. Essa rejeição felizmente foi diminuindo com tempo. Os quadrinhos passaram a ser vistos com grande potencial pedagógico nas escolas, contribuindo, por exemplo, na formação de novos leitores. No Brasil, várias obras foram publicadas a partir da virada do século XXI, discutindo formas de utilização dos quadrinhos na escola e também no ensino de História.2 “As histórias em quadrinhos e a escola: práticas que ultrapassam fronteiras”, de Natania Aparecida da Silva Nogueira, é mais uma obra que vem somar nessa discussão sobre as potencialidades das HQ’s no ensino. A autora possui Mestrado em História pela Universidade Salgado de Oliveira (2015), sendo atualmente doutoranda em História pela mesma instituição. É professora do Ensino Fundamental no município de Leopoldina, Minas Gerais; sócia fundadora da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial (ASPAS), onde atualmente ocupa o cargo de Coordenadora; e membro da Academia Leopoldinense de Letras e Artes (ALLA).3 O livro possui cinco capítulos. Segundo Nogueira, a obra é voltada para o professor e “prioriza a prática da educação, a partir da experiência docente”, refletindo sobre a capacidade criativa dos professores que podem “transformar uma HQ num instrumento de ensino capaz de mudar alguns antigos paradigmas da educação.” (NOGUEIRA, 2017, 15). A autora dialoga com vários pesquisadores dos quadrinhos como Valéria Bari, Waldomiro Vergueiro, Flávio Calazans, Gonçalo Júnior, Edgar Franco, Nobu Chinen, etc.
Os dois primeiros capítulos são uma revisão do panorama das pesquisas e dos usos dos quadrinhos no contexto internacional e brasileiro. No contexto internacional, a autora dialoga com os casos da França, Japão, Estados Unidos e Canadá. No caso brasileiro, a autora aponta que, apesar de haver publicações que remontam ao início do século XX, como Tico-Tico, e da coleção produzida pela Editora Brasil-América (EBAL), fundada em 1945, que foi pioneira na produção e edição das HQs dedicadas a temas educacionais, só foram “nos últimos dez anos que as HQs conquistaram um espaço expressivo nos debates acadêmicos e na prática escolar.” (NOGUEIRA, 2017, 50). As HQs foram introduzidas na lista de obras do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) do Ministério da Educação (MEC) a partir de 2006.
No terceiro capítulo, “Usando quadrinhos na sala de aula”, a autora observa que é equivocada a visão que considera a leitura das HQs como uma “leitura fácil”. Ao contrário, segundo Nogueira, “é um leitura que envolve uma série de processos mentais e exige domínio de códigos complexos”, sendo “aconselhável que o leitor de quadrinhos comece a ser formado ainda bem jovem.” (NOGUEIRA, 2017, 63-64). Outro equívoco mencionado é o estereótipo que taxa os quadrinhos como “coisa de criança”. Nogueira indica que “existem quadrinhos para todas as idades, sobre todos os assuntos, de gêneros tão variados quanto qualquer outra forma de leitura”, sendo possível, assim, trabalhar com HQs desde “uma classe de educação infantil quanto uma turma de estudantes universitários.” (NOGUEIRA, 2017, 69).
Ainda neste terceiro capítulo, a autora faz cinco sugestões para utilizar os quadrinhos em sala de aula. A primeira sugestão que a autora faz é trabalhar a linguagem dos quadrinhos, conhecendo alguns elementos básicos das HQs, tais como: requadro ou vinheta4; calha ou sarjeta5; recordatório6; balões de fala7; metáforas visuais8; linhas cinéticas ou de movimento9; e onomatopeias10. A segunda sugestão é usar quadrinhos para introduzir temas que serão trabalhados em sala de aula. A autora dá o seguinte exemplo: assim, numa aula de ciências, sobre doenças, por exemplo, o professor pode desejar enfatizar a dengue, por estar presente no cotidiano dos alunos ou por ser um problema grave local. Ele tem em mente selecionar determinada HQ que trata do tema. Se o professor possui quadrinhos suficientes para toda a turma, ele pode promover uma leitura coletiva ou individual. Se ele tem apenas um exemplar, pode selecionar algumas partes, montar uma apostila ou um texto simplificado e trabalhar com os alunos (NOGUEIRA, 2017, 76).
A terceira sugestão é utilizar quadrinhos em atividades (exercícios). Nesta proposta, a autora aconselha o uso de fragmentos de HQs devidamente contextualizados com o enunciado da questão, além do uso de tirinhas. O interessante nesta parte é que a autora comenta casos em que, segundo ela, há mal-uso dos quadrinhos na elaboração de questões, a exemplo de uma questão sobre totalitarismo e Segunda Guerra Mundial na prova de História do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2012, que utilizava a capa da revista do Capitão América de março de 1941. Nogueira questiona o uso da imagem, pois a questão não explora a leitura visual da capa da revista, ignorando seus elementos semânticos. (NOGUEIRA, 2017: 80).
A quarta sugestão é propor a criação de HQs pelos estudantes. Essa atividade é o “coroamento de todo um processo de preparação que começa com a introdução do gênero, o incentivo da leitura e o domínio dos códigos dos quadrinhos pelos alunos” (NOGUEIRA, 2017, 87). A autora chama a atenção que o trabalho deve ser essencialmente realizado sob a supervisão do professor, que deve participar por meio de sugestões e demonstrando interesse pela produção. Por fim, a quinta sugestão de atividade é trabalhar com os alunos o gênero jornalismo em quadrinhos, mais recomendada para alunos do ensino médio e superior. Os professores podem desafiar os alunos a produzirem blogs onde eles desenvolvam matérias no formato de jornal em quadrinhos com temas como política, economia, meio ambiente, violência, etc. Outra proposta dentro do jornal em quadrinhos é a criação de fanzines, um tipo de publicação de caráter amador, sem intenção de lucro, feito pelo simples desejo de fazer circular uma determinada produção literária e/ou artística (NOGUEIRA, 2017, 95).
Nos dois últimos capítulos, “As gibitecas no Brasil” e “Relato de experiência: projeto Gibiteca Escolar”, a autora aborda a iniciativa de criação de gibitecas pelo Brasil, dando ênfase a sua própria experiência como uma das responsáveis pela gibiteca escolar da Escola Municipal Judith Lintz Guedes Machado, em Leopoldina, Minas Gerais. O projeto ganhou do MEC o 3º Prêmio Professores do Brasil no ano de 2008.
Nogueira faz um relato das dificuldades iniciais da formação da gibiteca, mas que com o tempo foi ganhando apoio dos alunos e professores, além da secretaria de educação. A gibiteca também é levada para eventos de rua no sentido de envolver a comunidade, além de realizar eventos acadêmicos com pesquisadores e professores, contribuindo para uma formação continuada. A autora cita depoimentos de professores da escola que veem o projeto da gibiteca escolar como sendo uma experiência positiva no processo de ensino-aprendizagem e envolvimento dos alunos.
Como ressalva em “As histórias em quadrinhos e a escola: práticas que ultrapassam fronteiras”, podemos apontar a falta de propostas especificando HQs que podem ser trabalhadas em sala de aula. Durante os capítulos do livro, a autora aborda as HQs de forma geral, não citando exemplos. Uma comparação que podemos fazer é com o livro, bastante conhecido, “Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula”, organizado por Angela Rama e Waldomiro Vergueiro. Neste livro, os autores dos capítulos trazem vários quadrinhos e dizem como o professor pode utilizá-los. Por exemplo, no capítulo “Os quadrinhos nas aulas de História”, Túlio Vilela cita, dentre outras, as HQs de Asterix e Obelix, que podem ser lidas “como um registro da época em que foram criadas, porque, para efeito de humor, são atribuídos aos povos e lugares do passado as características que eles têm nos dias de hoje” (VILELA, 2012, 111). Já Nogueira, embora faça referência à vários estudos e experiências com HQs, não direciona aos professores os quadrinhos que podem servir para determinados conteúdos.
Na sugestão de trabalhar as linguagens dos quadrinhos, ficaria mais claro ao leitor se o livro trouxesse ilustrações de HQs indicando o que é um requadro, um recordatório, os balões de fala, etc. O livro apenas traz as definições de cada um, criando dificuldades de entendimento e visualização de cada um desses elementos básicos dos quadrinhos que, afinal, são essencialmente visuais.
Outra ressalva diz respeito às referências bibliográficas. A maioria dos sites consultados pela autora não estão disponíveis, quando digitamos da forma como o livro indica somos direcionados ao site zipmail. Entendemos que houve um equívoco na forma de referenciar os sites, pois na maioria aparecem como zip.net, não com a sua referência original.
Entretanto, nada disso desabona a obra, que é mais uma contribuição importante para o campo que estuda as relações entre quadrinhos e educação. O grande mérito da obra é o fato da autora trazer a experiência concreta de formação de uma gibiteca em escola pública, demonstrando o papel social de um espaço que estimula a formação de novos leitores. A maioria dos trabalhos publicados sobre quadrinhos na educação, por paradoxal que seja, abordam a questão de forma teórica e não prática, haja vista que em sua maioria são produzidas por professores universitários que não tem a vivência na educação básica. Dessa forma, o leitor, seja professor, aluno, pesquisador ou simplesmente um admirador das histórias em quadrinhos será recompensado com a leitura de uma obra importante que representa o engajamento da autora pelo seu objeto de estudo.
Notas
- Doutorando em História pela Universidade Federal do Pará. [email protected]
- Ver por exemplo: CALAZANS, Flávio Márcio de Alcântara. História em quadrinhos na escola. São Paulo: Paulus, 2004; RAMA, Angela; VERGUEIRO, Waldomiro. (Orgs.). Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2004; VERGUEIRO, Waldomiro; RAMOS, Paulo. (Orgs.). Quadrinhos na educação: da rejeição à prática. São Paulo: Contexto, 2009; SANTOS NETO, Elydio dos; SILVA, Marta Regina Paulo da. Histórias em quadrinhos e práticas educativas, volume I: o trabalho com universos ficcionais e fanzines. São Paulo: Criativo, 2013; SANTOS NETO, Elydio dos; SILVA, Marta Regina Paulo da. (Orgs.) Histórias em quadrinhos e práticas educativas, volume II: os gibis estão na escola, e agora? São Paulo: Criativo, 2015.
- Informações sobre a trajetória acadêmica e profissional de Natania Aparecida da Silva Nogueira consultadas na Plataforma Lattes. Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4509802D6 Acesso em: 31 out. 2018.
- É a moldura que envolve a cena retratada em cada quadrinho. (NOGUEIRA, 2017: 72).
- É o espaço que existe entre dois quadrinhos e que muitas vezes precisa ser preenchido pelo leitor por meio do raciocínio. (NOGUEIRA, 2017: 73).
- É o pequeno painel, algumas vezes de tamanho retangular que aparece no canto do requadro e que faz uma breve narrativa como forma de introduzir ou complementar a cena. (NOGUEIRA, 2017: 73).
- Simbolizam o ato da fala dos personagens. (NOGUEIRA, 2017: 73).
- São uma espécie de figuras de linguagem que funcionam como palavras, sintetizando conceitos epnas por meio de uma simples imagem. (NOGUEIRA, 2017: 74).
- São aqueles riscos que indicam movimento. (NOGUEIRA, 2017: 74).
- São palavras que representam sons. (NOGUEIRA, 2017: 74).
Referências
VERGUEIRO, Waldomiro. Uso das HQs no ensino. In: RAMA, Angela; VERGUEIRO, Waldomiro. (Orgs.). Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2012.
VILELA, Túlio. Os quadrinhos na aula de História. In: RAMA, Angela; VERGUEIRO, Waldomiro. (Orgs.). Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2012.
Geraldo Magella de Menezes Neto –Doutorando em História pela Universidade Federal do Pará. [email protected].
NOGUEIRA, Natania Aparecida da Silva. As histórias em quadrinhos e a escola: práticas que ultrapassam fronteiras. Leopoldina: ASPAS, 2017. 148p. Resenha de: Em Tempo de História, Brasília, v.1, n.34, p.122-127, jan./jul., 2019. Acessar publicação original. [IF].
SILVA Pedro Ferreira da (Aut), Cooperativa sem lucros: uma experiência anarquista dentro da sociedade capitalista (T), Editora Entremares (E), FELIPE Cláudia Tolentino Gonçalves (Res), Em Tempo de Histórias (ETH), Cooperativa, Anarquismo, Sociedade capitalista, Pedro Ferreira da Silva, Portugal, França, Brasil, Século 20 Século 20, América, Europa
O título do livro de Pedro Ferreira da Silva pode parecer equivocado: como conceber a existência de uma cooperativa sem finalidades lucrativas? O subtítulo, no entanto, desfaz o equívoco ao precisar o conteúdo da obra: uma experiência anarquista no interior da sociedade capitalista. É no mínimo intrigante a possibilidade de coexistência entre capitalismo e anarquismo, especialmente para quem encara a experiência libertária de forma banal e preconceituosa. Resenhar Cooperativa sem lucros, portanto, mostra-se uma tarefa necessária por duas razões: poderia apontar os nexos entre cooperativismo e anarquia e ajudar-nos a entender o que motivou a republicação de um livro anarquista de 1958 quase sessenta anos depois.
Perseguido pelo governo salazarista, o anarco-sindicalista português Pedro Ferreira da Silva refugiou-se na França em 1926 e, logo em seguida, mudou-se para o Brasil. Em Portugal, ele foi um dos responsáveis pela publicação do semanário A Comuna, editado na cidade do Porto. Convém mencionar que é o mesmo periódico do qual participava o militante anarquista português Roberto das Neves, antes de sua vinda para o Brasil no início dos anos 1940. No Brasil, Pedro Ferreira associou-se aos anarquistas cariocas e paulistas e, ao final da ditadura varguista, começou a participar efetivamente do periódico Ação Direta (1946-1959), publicado no Rio de Janeiro. Aproveitou o espaço que lhe foi destinado para escrever textos críticos sobre o salazarismo, o sindicalismo e o cooperativismo.
Apesar de desempenhar a função de contador, Pedro Ferreira dedicou-se ao jornalismo e escreveu poemas e livros nas áreas de literatura, crítica social e economia. Dentre suas principais obras, destacam-se: Eu creio na Humanidade (1949); Três enganos sociais: férias, previdência e lucro (1953); Cooperativa sem lucros: uma experiência anarquista dentro da sociedade capitalista (1958). Interessa-nos, particularmente, a última obra mencionada, que edifica um projeto revolucionário cujo veículo seria a cooperativa, entendida como uma arma de luta contra a exploração capitalista e como um caminho para a construção de uma sociedade libertária. Para tanto, o autor reuniu uma série de discussões realizadas no Ação Direta entre os anos de 1947 a 1958.
A linguagem adotada no livro é acessível, abrindo mão das figuras de linguagem desfiladas em outros textos de sua autoria, como em Eu creio na humanidade. A disposição de seus artigos assume claramente ares de “projeto”, uma vez que instrui sobre o funcionamento do que seria uma sociedade libertária estruturada por cooperativas sem lucros. Convém mencionar que o autor acredita que a anarquia não se desenvolveria de imediato, carecendo de estratégias intermediárias que pudessem educar os homens, tornando os princípios libertários atrativos e cativantes. A questão a se perguntar é: de que maneira a cooperativa atenderia esse propósito?
Não nos parece conveniente retomar minuciosamente as particularidades de cada um dos 32 artigos do livro escritos pelo autor, mas esboçar a ideia geral que confere ares de unidade ao conjunto. O cooperativismo pensado por Pedro Ferreira remete a uma experiência anárquica dentro da sociedade capitalista e dependeria da iniciativa do indivíduo e de seu esforço associativo. No entanto, o sistema cooperativo corrente deveria passar por mudanças significativas, para se ver livre dos vícios capitalistas. A princípio, o autor declara que não acredita na violência e retoma o conceito de ação direta, definido como ato de perseguir uma finalidade trilhando “caminhos iluminados, pelos meios limpos, isentos de colaboração suspeita” (p. 17). As cooperativas seriam uma alternativa intermediária, contanto que se livrasse do lucro e se baseasse em preços justos e acessíveis.
Pedro Ferreira insiste na necessidade de uma cooperação ampliada, multiplicada, que eliminaria a especulação, os salários e concentrar-se-ia no benefício dos consumidores. Note-se que, sem se confundir com a anarquia, o cooperativismo reproduz alguns de seus postulados, já que efetua “a melhoria econômica da classe proletária, a assimilação social e o enfraquecimento dos preconceitos de classe” (p. 27). O autor ressalta a necessidade de a sociedade se livrar dos “intermediários”, dos comerciantes que lucram às custas do consumidor: são eles que, “na indústria como no comércio, o cooperativismo combate, dispensa e destrói” (p. 31). Parece-nos que uma das lutas mais recorrentes nos escritos de Pedro Ferreira é direcionada contra a ideia de o salário ser a finalidade última do trabalhador, e não a produção. Afinal, ele “é um elemento econômico decorrente do trabalho e não um objetivo a conquistar por meio do trabalho” (p. 35). Por outras palavras, se a intenção do trabalho industrializado é o lucro, no caso do trabalho cooperativista, o intuito é a produção. O problema, portanto, é associado à sociedade, pensada como “edifício formado de material ruim”. Uma vez que “matéria ruim não pode fazer edifício bom”, é preciso transformá-la, mas de forma não abrupta, já que a retirada do homem de um edifício ruim e sua introdução num edifício bom não mudaria, de imediato, o próprio homem.
O autor pensa o cooperativismo como estágio necessário para a reformulação do “processo mental” capaz de “fazer com que o homem crie, em volta de si, o ambiente anarquista” (p. 46). Através dele, seria possível desenvolver um “espírito associativo”, a solidariedade e a ajuda mútua. Trata-se de uma “arma revolucionária”, imunizada contra “o contágio da cobiça”, mas que, inicialmente, estaria associada ao capital: só com o tempo o cordão umbilical seria rompido. Para sua administração, seria necessário um “fundo social”, que reuniria um montante indispensável para garantir as instalações, móveis, imóveis etc. Quanto maior fosse a participação, mais eficaz se tornaria a cooperativa. Além do fundo social, haveria um fundo de manutenção e desenvolvimento, para ampliação das operações sociais através de materiais que permitissem sua administração. Não há lugar para os juros. O autor afirma que “o sonho pode estar dentro de nós, mas em torno de nós há a realidade e nela se movem nossas vidas, nela se animam os nossos gestos e se realizam as nossas obras” (p. 73). É por essa razão que seria preciso reter um excedente quando da definição dos preços dos produtos e de sua distribuição, para “cobrir possíveis erros de cálculo, desgastes ou perecimentos imprevistos de mercadorias” (p. 74). Pedro Ferreira afirma que a cooperativa não pretende conferir lucro a seus associados, pois não alimenta finalidades mercantilistas. Isso não exclui, no entanto, “a margem necessária ao funcionamento da organização e convenientes reservas” (p. 75).
De um lado, o autor pensa as cooperativas de produção, que tentam conferir aos operários a possibilidade de “trabalhar por sua conta”, sem submeter-se à exploração patronal. As cooperativas de consumo, por sua vez, tendem à universalidade, já que buscam contemplar os consumidores de forma geral. Sendo assim, elas têm o mérito não apenas de eliminar o “intermediário no comércio improdutivo” (p. 100), mas também de aproximar os consumidores de diversas classes, “num movimento comum de defesa econômica, que por sua vez lhes há de inspirar outras formas de cooperação social” (p. 100). Há, portanto, um efeito pedagógico a subsidiar as cooperativas, como o autor admite na passagem abaixo:
O cooperativismo é, pois, um sistema econômico-social de função altamente educativa, e como tal merece maior atenção dos anarquistas, que não o sejam apenas de modo passivamente platônico ou furiosamente arrasador. A ação das cooperativas sem lucros, no terreno industrial ou nas redes distribuidoras dos produtos, leva à emancipação do trabalhador e ao fim do parasitismo comercial; faz converter maior número de braços às tarefas produtivas e semeia o espírito de ajuda, a união e o entendimento comum. Na sua prática, isenta de egoísmo, pode alimentar-se largamente o ideal anarquista e exercitar-se com progressivo êxito mais de um preceito da sociedade livre (pp. 100-101).
Interessa-nos, por agora, retomar a noção de intercooperativismo, que ajuda a compreender a diferença entre liberdade e arbítrio. A liberdade das cooperativas não implica ausência de obrigações que elas devem manter entre si. O homem é livre, mas seu arbítrio “tem de obedecer ao interesse comum” (p. 107). Para Pedro Ferreira, o homem apresenta tendências e impulsos naturais que o levam à sociabilidade, ou seja, há uma “necessidade de cooperação”:
Firmada a mentalidade cooperativista, cada sociedade incorporará esse espírito e passará a representa-lo em relação às sociedades congêneres. Então se estabelecerá o ponto de partida para o intercooperativismo, ou seja, a cooperação entre as sociedades, segundo sua natureza, espécie de atividade ou região onde se desenvolve a influência de seu funcionamento (p. 108).
Criar-se-á, portanto, “federações de cooperativas”, não para circunscrever a liberdade de cada uma delas, mas para atribuir-lhes a mesma liberdade conferida aos indivíduos. Eis porque a cooperativa pode ser encarada como um instrumento de preparo psicológico e prático e como uma etapa que conduziria à sociedade libertária. No terreno econômico, ela possibilitaria preços mais baixos; no âmbito educacional, ensinaria normas de respeito ao interesse coletivo e combateria a guerra dos preços e a concorrência capitalista; no domínio da moral, incitaria o respeito pelo semelhante; em termos sociais, incentivaria troca de ideias e projetos de aperfeiçoamento comuns, alimentando as relações humanas; já no que se refere ao âmbito profissional, estimularia a técnica e o aperfeiçoamento pessoal, e não a intensificação do volume de trabalho.
Não poderia faltar o incentivo à arte: uma vez vencido o sistema do patronato, a arte poderia ser valorizada não a partir de seus rendimentos financeiros, mas como veículo de estudo e de promoção da cultura. Poder-se-ia estruturar uma cooperativa artística, com programas independentes dos quais participariam artistas e o público.
Por fim, Pedro Ferreira trata da família, uma “comuna dentro da sociedade que condena o comunismo” (p. 123). Ele a encara como um “núcleo social”, como “ponto de partida da associação humana” (p. 127). A família, portanto, seria uma “cooperativa isolada”, que poderia deixar de sê-lo caso se unisse a outras famílias em associações cooperativas. É o que, posteriormente, daria ensejo à “policooperativa”:
A policooperativa é o organismo social completo. É o indivíduo na constituição da sociedade. Dentro dela estão as peças todas indispensáveis à satisfação das necessidades sociais. Se a cooperativa geral compreender seções de todas as atividades humanas, ou pelo menos de todas as atividades necessárias aos indivíduos que a compõem, é naturalmente muito mais fácil a federação das cooperativas e o intercâmbio de suas ações, conforme as conveniências não nacionais, mas regionais (p. 134).
Como se pode ver, o livro de Pedro Ferreira apresenta um encadeamento lógico ao sugerir a cooperativa como uma ferramenta eficaz no combate ao lucro e ao comércio, como estágio necessário à consecução da anarquia. No entanto, é preciso problematizar o lugar que essa obra poderia ocupar no atual cenário histórico a ponto de ter sido reeditada em julho de 2017. Seria uma indicação da fragilidade das cooperativas do século XXI? Uma forma de sugerir a necessidade de cooperação e apoio mútuo na atualidade? Uma tentativa de inspirar o leitor, convencendo-o da necessidade de se pensar alternativas que contrariem a modernidade líquida? A tomar pelo critério da verossimilhança, essas hipóteses parecem válidas, o que torna louvável a iniciativa da editora Entremares e imperativa a leitura o livro, que combate o individualismo pós-moderno com palavras libertárias de um autor que, há mais de 50 anos, fez da escrita um instrumento contra o egoísmo. Será possível que continua eficaz? Há somente um meio de descobrir: boa leitura!
Cláudia Tolentino Gonçalves Felipe – Doutoranda em História pela Universidade Estadual de Campinas. E-mail: [email protected].
SILVA, Pedro Ferreira da. Cooperativa sem lucros: uma experiência anarquista dentro da sociedade capitalista. São Paulo: Editora Entremares, 2017. Resenha de: FELIPE, Cláudia Tolentino Gonçalves. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.33, p.295-300, ago./dez., 2018. Acessar publicação original. [IF].
NAVARRO-SWAIN Tania (Aut), O que é lesbianismo (T), Brasiliense (E), LESSA Patrícia (Res), Em Tempo de Histórias (ETH), Lesbianidade, Estudos feministas, História das Mulheres Século 19, Século 20 O livro, O que é lesbianismo, editado pela Brasiliense em 2000, é uma edição de bolso da coleção ‘primeiros passos’, por isso, demonstra uma visão muito particular da autora com um posicionamento intelectual específico ao tema em pauta.
A autora inicia seu livro fazendo uma pequena advertência aos possíveis leitores: “quem estiver vestido no cimento de suas certezas não mergulhe nestas águas” (p. 9), pois a “arrogância dos paradigmas” e o “totalitarismo do senso comum” já tentaram petrificar o tema aqui em debate. O Discurso da autora transita pelas teorizações feministas e foucaultianas fazendo uma divisão do livro em três capítulos. O primeiro capítulo discute os indícios e interpretações da historiografia recuperando as discussões da epistemologia feminista para demonstrar a ‘desordem’ que o sujeito lesbiano causa ao conhecimento comum e científico, por isso, sua ocultação na historiografia tradicional. Com o título: ‘Nosso nome é legião: o espaço vivido’ o segundo capítulo demonstra a presença do sujeito lesbiano na literatura, nas teorizações e nas representações diversas. O último capítulo trata dos ‘Perfis Identitários’, ou seja, trata das atuais discussões sobre identidade empreendidas pelas teorias feministas e foucaultianas, discussões que não aceitam a identidade presa ao sexo e sexualidade e, propositivamente, a autora sugere o nomadismo identitário como contrapartida.
O que a história não diz não existiu é o título que inicia a discussão dos indícios e interpretações em história no primeiro capítulo, onde é problematizado o estatuto histórico, que apegado em modelos fixos, anulou a aparição das lesbianas por representarem uma contradição à “ordem natural da heterossexualidade dominada pelo masculino” (p.13). Cabe ao atual fazer histórico questionar, problematizar, na tentativa de buscar os significados e os valores das condutas humanas esquecidas pelas certezas da história-ciência do século XIX: “a história, dona do tempo, esqueceu que tempo significa transformação, esqueceu a própria história para traçar um só perfil das relações humanas” (p.14). Daí decorre que os indícios da história podem apontar outras culturas e civilizações onde as mulheres amavam-se umas às outras, pois masculino e feminino nem sempre tiveram a mesma conotação (p.16), embora o imaginário ocidental esteja marcado por Adão e Eva, representantes de dois pólos: a imagem de deus e a submissão, a sexualidade naturalizada, binária, formada por relações assimétricas, é também histórica (p.17).
Trabalha com uma concepção de História não-linear onde o papel de historiador é importante, pois seus olhos estão impregnados de valores e crenças atuais, seu papel não é desvendar algo que estava oculto, mas, interpretar os indícios, nos quais os fragmentos do passado atestam o real, segundo interpretações possíveis e as representações que constroem o mundo. A História é, então, mais um discurso, dentre tantos outros, onde os historiadores são mediadores entre o passado e a construção do conhecimento histórico atual. O papel da História é o de questionar, tentar apreender os significados e valores que orientam atos e gestos (p.14).
A heterossexualidade compulsória como regra universal determina os papéis sexuais do verdadeiro masculino e feminino, assim a tolerância quanto às práticas sexuais diversas depende do grau de hegemonia da heterossexualidade (p.17). Os filósofos da Antiguidade Grega são citados como marco entre razão e mito, mas, as práticas sexuais dos mesmos nem sempre são incorporadas aos seus discursos, ocultando-se os sentimentos elevados entre homens. E quanto às mulheres na antiguidade? O silêncio paira sobre a vida das mulheres atenienses, embora o confinamento delas em casa não signifique sua inexistência. A vida das mulheres em Atenas diferencia-se de Esparta, lugar onde elas viviam separadas dos homens.
Em Esparta, Tebas e Siracusa, sabe-se indiretamente, pelos atenienses, que as mulheres tinham maior liberdade, porém, no ocidente cristão a homossexualidade feminina “desaparece da ordem do discurso”, “não se fala, logo não existe” (p.19), pois ao nomeá-las cria-se uma imagem, cria-se uma personagem no imaginário social. Durante o período da Inquisição criase o termo “Sodomitas” para definir as mulheres que viviam ou estabeleciam algum tipo de relação afetiva ou sexual com o mesmo sexo, não possuem um nome nem mesmo direito à existência.
Serão os indícios da História capazes de recuperar essas vidas ocultadas? A oposição entre a representação normativa do feminino e as guerreiras, vistas como mito, por alguns dos grandes nomes da Historiografia, são tomadas como exemplo do apagamento daquilo que é tido como incomum (p. 21-22). O discurso transforma a mulher guerreira em ilusão, embora descreva eventos, datas e em alguns casos até nomes. Florestan Fernandes e Sérgio Buarque de Holanda descrevem as amazonas como paródias do homem e o homem como referente da força, do combate, do ataque, da independência. A historiografia como memória social pode naturalizar comportamentos? E quanto à homossexualidade feminina? Porque a história oculta povos matriarcais e comunidades de mulheres guerreiras relegando-as a paródias do masculino? A história colabora na construção de um modelo de feminino, tipo frágil e submisso, naturalizando os comportamentos e criando representações sociais regidas pela ordem patriarcal, como o discurso ideológico dos museus que colabora no ideário da evolução histórica na passagem do primitivo para o civilizado, do matriarcado para o patriarcado. A poeta Safo de Lesbos serve como exemplo das regras da heteronormatividade, ou seja, é necessário enquadrá-la nos parâmetros do binário homem/mulher para caracterizá-la, mesmo sabendo da beleza de sua poesia, é necessário discursar sobre sua sexualidade: Horácio dirá que Safo era máscula, Ovídio relata seu suicídio após ter sido abandonada por um homem (p.30-32).
Na discussão da identidade atrelada ao sexo Foucault mostra como a taxionomia imprime-se às coisas e modela os seres conforme a divisão binária e hierárquica da sociedade.
Mas a autora pergunta: a reprodução sempre ordenou o mundo? Sempre ordenou as relações? (p.35). Para lembrar que os discursos são construídos em suas “condições de saber”, Navarro- Swain cita Hadcliff Hall, que escreveu sobre o amor trágico entre mulheres (p.40) e Nathalie Clifford Barney, escritora norte-americana, que viveu na França, amou exclusivamente inúmeras mulheres e morreu aos 95 anos, publicou muitos livros, organizou a Academi dês Femmes.
Para Navarro-Swain a história das mulheres está por ser desvendada: “o que a realidade social não retêm perde a espessura da realidade” (p.50). Simone De Beauvoir mostra-se indecisa quanto ao lesbianismo, mas por fim toma-o como escolha existencial. Para a autora ela é arauto do feminismo, fundadora das teorizações e ainda assim cai em contradição quanto ao tema do lesbianismo. Algumas falas de Beauvoir demonstram o poder da representação social no discurso e no imaginário quando a autora reafirma a natureza feminina em oposição à virilidade lésbica e recai no modelo binário.
Mas enfim, se na idade média a sexualidade está associada ao silêncio, a repressão e a procriação na modernidade a homossexualidade será tratada como doença ou crime. A ciência e a jurisdição irão separar a boa da má sexualidade. E para tal a psicanálise torna-se um dos mecanismos para elucidar a evolução sexual e demonstrar que o sexo natural é a heterossexualidade.
Mathieu, Monique Wittig, Nicholson, Gayle Rubin são algumas das teóricas feministas citadas que discutem o lesbianismo na tentativa de ancorá-lo para além do binário. As representações do mundo são duplas: vida/morte, bela/feia, assim “a verdadeira mulher é diferente da prostituta e da lésbica”, a segunda é preservada na ordem do sistema e a última apagada dos discursos. Para a autora: “a inversão da ordem não representa revolução dos costumes” (p.66), hoje as revistas, o cinema, os direitos demonstram uma maior proximidade entre os homossexuais, mas, o homem ainda quer manter o lugar dominante. Por isso o livro O que é Lesbianismo vem abrir um caminho para pensarmos o tão temido tema da homossexualidade feminina, quem sabe sacudindo as evidências e modificando as representações, sem emitir uma resposta uniformizante ao que seja uma lesbiana.
Patrícia Lessa – * Patrícia Lessa – Mestrado em Filosofia da Educação (UNICAMP/SP), doutoranda em Estudos Feministas (UnB/DF). Professora na Universidade Estadual de Maringá/UEM – PR.
NAVARRO-SWAIN, Tania. O que é lesbianismo. São Paulo: Brasiliense, 2000. 101p. Resenha de: LESSA, Patrícia. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.9, p.150-153, 2005. Acessar publicação original. [IF].
SAFFIOTI Heleieth I B (Aut), Gênero/ patriarcado/ violência (T), Fundação Perseu Abramo (E), PIMENTA Fabrícia F (Res), Em Tempo de Histórias (ETH), Gênero, Patriarcado, Violência, Mulheres Publicado recentemente, em 2004, Gênero, Patriarcado, Violência parece ter sido concebido para ser uma espécie de “manual didático” que busca conceituar, sob a perspectiva de uma socióloga estudiosa das temáticas feministas, conceitos imbricados de paradoxos tais como gênero, patriarcado, poder, raça, etnia e a relação exploração-dominação.
A partir da utilização de conceitos formulados pela autora no correr de sua vida acadêmica, já que os temas em pauta fazem parte do universo de pesquisas de Saffioti desde os anos oitenta, a obra em análise se propõe a abrir novas perspectivas para o entendimento da violência contra as mulheres. Este tipo de violência, segundo a autora, consiste em um problema social cujo exame encontra-se entrelaçado aos estudos de gênero, raça/etnia, classes sociais e patriarcado.
Dividido em quatro seções de análises, a obra de Saffioti “destina-se a todos(as) aqueles(as) que desejam conhecer fenômenos sociais relativamente ocultos”(p.9), dentre os quais está a violência contra as mulheres, questão que perpassa todos os eixos de reflexão do livro em pauta.
As áreas da Saúde, Jurídicas, Ciências Sociais e Humanas têm se dedicado, mesmo que de forma tímida ou isolada, à compreensão dos mais diversos mecanismos de opressão das mulheres. Dada à diversidade e a multiplicidade de pesquisas que vem sendo realizadas em relação aos temas abarcados nesta obra, é possível observar que as articulações dos pensamentos da autora são perpassadas pela transversalidade de saberes. Assim, por meio de uma perspectiva reconhecidamente feminista e a partir do instrumental teórico do campo disciplinar no qual está inscrita é que partem suas pontuações. Com títulos de abertura dos capítulos considerados pouco comuns, tais como “a realidade nua e crua” e “descoberta da área das perfumarias”, a socióloga versa sobre temas específicos de forma a conceituar, em termos jurídicos e sociológicos, sobre os diversos tipos de violências (doméstica, de gênero, contra as mulheres, intra-familiar, urbana) existentes no caso brasileiro sob uma espécie de permissividade social.
Com essa profusão de novos conceitos, a releitura e a reinterpretação de teorias já existentes, acrescentando-se a instabilidade característica do fazer feminista, talvez não seja possível encontrarmos termos consensuais no contexto dos embates das correntes feministas.
A autora faz uma breve análise do cenário político-econômico brasileiro e constata que estes terrenos são, “certamente, a maior e mais importante fonte da instabilidade social no mundo globalizado”(p.14). Para ela, é sob a ordem patriarcal de gênero que devem ser feitas as análises sobre a violência contra as mulheres.
Recorrendo a referências obrigatórias no campo dos Estudos Feministas e de Gênero, tais como Carole Pateman, Gayle Rubin, Joan Scott, entre outras, Saffioti empreende uma escrita que varia entre pontuações extremamente coloquiais e outras passagens com reflexões importantes e densas para uma obra que pretende ser didática. Para o/a leitor/a desavisado/a, essas passagens requerem especial atenção, já que as análises da autora requerem uma leitura prévia dos conceitos discutidos. Exemplo disso é a utilização do conceito de poder formulado por Foucault que a socióloga utiliza sem maiores esclarecimentos acerca da perspectiva pósmoderna.
Influenciado pelas correntes do pensamento pós-moderno no qual estava inserido (construindo e desconstruindo suas perspectivas), ao refletir sobre outras maneiras de pensar, Foucault defende um amplo questionamento de conceitos caros a seu campo como a finalidade, a natureza, a verdade, os procedimentos tradicionais de produção do conhecimento histórico, as representações do passado com que operamos e os usos que fazemos de sua construção.
Outra questão que merece zelo na leitura são as discussões teóricas que Saffioti estabelece sobre diferentes perspectivas sobre os conceitos de gênero existentes. Vale destacar que, de natureza cultural e ideológica, os Estudos de Gênero introduziram a questão de gênero como categoria analítica e demonstraram como é ilusória a neutralidade dos valores ditos “universais”. Em sua prática interdisciplinar, articula – a partir de uma perspectiva “gendrada” – questões de raça, classe, etnia, bem como contribuições de vários eixos epistemológicos como a psicanálise, marxismo, antropologia, etc, buscando compreender a representação (histórico-cultural, literária) das mulheres, bem como sua contribuição neste processo.
Um ponto bastante interessante a ser ressaltado nesta obra, como se pode depreender da sua leitura, é que esta consiste no fruto de reflexões embasadas em dados empíricos e sobre pontos de referências a respeito das sobreposições parciais, as especificidades e diferenças entre as várias modalidades de violências existentes, fenômenos estes, demonstrados pela autora, que não são tão raros quanto o senso comum indica.
Consiste alvo de crítica da autora, em diversas passagens da obra, o uso político de uma diferença fundada nos argumentos do determinismo biológico e em normatizações feitas a partir de uma marca genital. Para ela, as pessoas são socializadas para manter o pensamento andrógino, machista, classista e sexista estabelecido pelo patriarcado como poder político organizado e legitimado pelo aparato estatal por meio da naturalização das diferenças sexuais.
Em relação à violência, tema que perpassa a maioria das reflexões da autora há que se considerar as sobreposições feitas por Saffioti sobre os conceitos e as especificidades de cada “fenômeno”, sua expressão para designar a violência. Ao mostrar os fatos em suas peculiaridades, a autora trabalha quadros teóricos de referência com vistas a orientar seu leitor. Assim, ela diferencia e explicita as características e os contextos em que ocorrem principalmente os seguintes tipos de violência: contra a mulher, de gênero, doméstica, intrafamiliar, entre outras. Nesse sentido, faz parte também das análises de Saffioti a ocorrência do “femicídio”, que, segundo ela, consiste na feminização da palavra homicídio e é um fenômeno infelizmente bastante recorrente, principalmente nos tempos atuais (p. 72-73).
No que tange ao significado da violência e todas as conseqüências que surgem da ocorrência deste fenômeno, a autora lembra que na sociedade patriarcal em que vivemos, existe uma forte banalização da violência de forma que há uma tolerância e até um certo incentivo da sociedade para que os homens possam exercer sua virilidade baseada na força/dominação com fulcro na organização social de gênero. Dessa forma, é “normal e natural que os homens maltratem suas mulheres, assim como que pais e mães maltratem seus filhos, ratificando, deste modo, a pedagogia da violência.” (p.74) Para Saffioti, a ruptura dos diferentes tipos de integridade, quais sejam, a física, a sexual, a emocional, a moral, faz com que se estabeleça a “ordem social das bicadas”, na qual o consentimento social para a conversão da agressividade masculina em agressão contra as mulheres, não é um fator que prejudica apenas as vítimas, mas também seus agressores e toda a teia social que convive ou é forçada, por inúmeros motivos, a suportar tal sujeição. como critério de avaliação de um ato como violento situa-se no terreno da individualidade e, dessa forma, cada mulher interpreta de forma singular esse mecanismo de sujeição aos homens. Segundo Saffioti, somente uma política de combate à violência (especialmente a doméstica) que se articule e opere em rede, de forma a englobar diferentes áreas (Ministério Público, juizes, polícia, hospitais, defensoria pública) pode ser capaz de ter eficácia no combate à violência.
As experiências da autora e a liberdade com que trata dos temas de forma a informar e/ou atualizar o leitor merecem atenção. Ao desvelar parte do processo de diferenciação sexuada, nas múltiplas configurações espaços-temporais, a autora expõe o caráter produtor e reiterador de imagens naturalizadas de mulheres e homens. Dessa forma, a obra pode ser considerada referência de leitura para as pessoas que se interessam pelas temáticas ligadas às questões de gênero, violência, patriarcado, e afins.
Uma vez que a literatura científica feminista tem sido constantemente obscurecida ou ignorada, este livro ressalta a importância no questionamento dos paradigmas científicos e da naturalização das formas de relações sociais que instituem o feminino e o masculino em uma escala de valores hierarquizada com vistas à desnaturalizar construções cristalizadas no imaginário e nas representações sociais sobre as desigualdades existentes nas relações entre homens e mulheres.
Trata-se de uma obra instigante, cuja leitura deve ser cuidadosa, que funda suas interpretações a partir do enfoque que entende o gênero como uma representação que produz e reproduz diferenças por meio da classificação dos indivíduos pelo sexo, os quais exigem abordagens e epistemologias específicas para suas análises.
Longe de ser um “manual didático” Gênero, Patriarcado, Violência apresenta conceitos já trabalhados pela autora em outros estudos, mas pode ser considerada uma referência bibliográfica atualizada para os/as interessados/as em estudos de Gênero e violências, já que apresenta importantes distinções das considerações anteriormente feitas aos deslocar o olhar do leitor para além do senso comum e das generalizações
Fabrícia F. Pimenta – Graduada em Direito, Mestre em Ciência Política pela UnB e doutoranda na UnB em História na linha de pesquisa “Estudos Feministas e de Gênero”. Apoio financeiro para a pesquisa: CNPq. E-mail: [email protected] / [email protected].
SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, 151p. Resenha de: PIMENTA, Fabrícia F. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.10, p.190193, 2006. Acessar publicação original. [IF].
DOLHNIKOFF Miriam (Aut), O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX (T), Globo (E), IAMSHITA Léa Maria Carrer (Res), Em Tempo de Histórias (ETH), Império, Brasil, Federalismo Século 19, América, Professora de História e Relações Internacionais da USP e pesquisadora do CEBRAP, Miriam Dolnikoff publica livro que contraria interpretações consagradas sobre a história política do Brasil imperial.
Inserida na questão maior da organização política do Brasil Imperial, a obra busca entender a longevidade da influência das elites no Brasil, investigando a maneira pela qual estas estiveram presentes no processo de construção do Estado brasileiro, de modo a contribuir na determinação de seu perfil.
Podemos melhor avaliar a pesquisa da autora e sua posição de embate frontal à historiografia estabelecida, por breve análise da idéia cristalizada da “história da construção do Estado brasileiro na primeira metade do XIX como a história da tensão entre unidade e autonomia”.
Sabemos que a interpretação do Período Regencial como a fase do jogo político entre centralização e descentralização de poder surgiu ainda no século XIX. A pesquisa de Augustin Wernet rastreou o início desta interpretação e o localiza na obra de H. G.
Handelmann, de 1860.1 Nesta visão assiste-se ao revezamento de homens no cenário político nacional, sem as profundas mudanças (revolução) das estruturas herdadas do período colonial, tendo a primeira metade das Regências sido caracterizada pelo avanço liberal (descentralização), e a segunda pelo regresso conservador (centralização). A historiografia a seguir vai articulando a descentralização às forças provinciais e à desordem, e o Regresso, ao retorno da ordem.
Por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda considerou as forças provinciais, defensoras de um projeto federalista, expressão das forças localistas arcaicas, apegadas aos privilégios coloniais, enquanto a centralização seria o projeto que trazia no seu bojo a possibilidade de modernização, já que ela seria a condição de construir o Estado e a unidade nacional. A defesa dos interesses regionais se limitaria, deste ponto de vista, à tentativa de preservar a herança colonial. Para Buarque, o federalismo não passava de um lema para sustentar o estado das coisas vindas da vida colonial.
Outros autores como Maria Odila Dias e Ilmar de Mattos, também atribuem a vitória sobre as forças centrífugas herdadas do período colonial à capacidade da elite articulada em torno do aparato estatal do Rio de Janeiro de se impor a todo o território nacional. Para eles, o acordo pela unidade, pela centralização política e direção administrativa nas mãos do Rio de Janeiro, teria sido resultado do movimento conservador de 1840, conhecido como “Regresso”, indicando o abandono da experiência de descentralização da Regência.
Entre as interpretações mais consagradas está a de Jose Murilo de Carvalho, segundo a qual, a unidade sob um único governo, teria sido obra de uma elite da Corte, cuja perspectiva ideológica a diferenciava das elites provinciais, comprometidas com seus interesses materiais e locais. A vitória da primeira teria significado a submissão dos grupos provinciais, que ficavam desta forma, isolados em suas províncias. Essa vitória se materializou na imposição de um regime centralizado que neutralizava as demandas localistas das elites provinciais.
Discordando desses autores, e particularmente, de José Murilo, para Míriam Dolhnikoff, a unidade sob hegemonia do Rio de Janeiro foi possível não pela neutralização das elites provinciais e centralização, mas sim à implementação de um arranjo institucional por meio do qual as elites se acomodaram, ao contar com autonomia significativa para administrar suas províncias e, ao mesmo tempo, obter garantias de participação no governo central por meio dos seus representantes na Câmara dos Deputados. Através do parlamento, as elites nele representadas participavam não só do orçamento, mas também das questões relevantes para a definição dos rumos do país como a escravidão, a propriedade de terras e para organização do Estado, como a legislação eleitoral. (p.14) A autora discorda da idéia de que foi o retorno à centralização – “projeto vencedor” do Regresso- o responsável pela unidade do Império e pela definição do modelo de estabilidade deste; ou seja, para ela, o projeto federalista não morreu em 1824, nem em 1840, ele foi o vencedor, embora tenha feito, no bojo da negociação política, algumas concessões.
Dolnikoff entende que o “Regresso” foi uma revisão centralizadora que se restringiu ao aparelho judiciário, sem alterar pontos centrais do arranjo liberal, que tinham caráter descentralizador. (p.130) Ao invés de destacar a atuação da elite da Corte, a autora conclui que foi a participação das elites provinciais a propiciadora das condições para inserção de toda a América Lusitana no novo Estado, atuação decisiva, que inclusive marcou a dinâmica do Estado brasileiro.
Para a defesa desta posição, a autora recorta para pesquisa três unidades da federação: as províncias de Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. Examina o exercício da autonomia dos governos provinciais inclusive em fase posterior ao Regresso. Justifica sua seleção por serem essas províncias diversas entre si, nos aspectos regionais, nos distintos passados, e nas diferentes demandas e interesses. Busca demonstrar que os diferentes conflitos encontravam espaço de negociação dentro da organização institucional organizada.
Desse modo, as elites provinciais tiveram papel decisivo na construção do novo Estado e na definição da sua natureza. Participaram ativamente das decisões políticas, fosse na sua província, fosse no governo central. E, ao fazê-lo, constituíram-se como elites políticas.
O que a autora quer mostrar mais especificamente é que as elites provinciais (com raízes no período colonial, que defendiam a ordem escravista, a exclusão social e as franquias provinciais) estavam também atreladas ao projeto de construção do Estado nacional e não excluídas. Justamente porque conseguiram articular-se a um arranjo institucional consagrado nas reformas de 1830 e na revisão de 1840 é que a fragmentação da nação foi evitada.
O “preço pago” por esta unidade conseguida teria sido o fortalecimento dos grupos provinciais no interior do próprio aparato estatal, com o conseqüente estabelecimento das poderosas forças oligárquicas, que ao final do século XIX, reivindicaram mais autonomia.
A autora conclui que foi a participação destas elites no interior do Estado, com fortes vínculos com os interesses de sua região de origem e ao mesmo tempo comprometidas com uma determinada política nacional, pautada pela negociação destes interesses e pela manutenção da exclusão social, que marcou o século XIX e também o XX. (p. 285) Mesmo considerando o levantamento feito pela autora entre o número de medidas centralizadoras e descentralizadoras, concluindo pelo predomínio das segundas, ainda pensamos que o fundamental foi a direção e a finalidade da acomodação centro/províncias no momento considerado: – que foi justamente o sentido da centralização, da negociação em torno de “um sentido”, que garantisse a permanência da sociedade escravocrata e excludente.
Notas 1 Historiador alemão, H G Handelmann, Geschicht von Brasilien. Berlim: Springer, 1860, p. 935, conforme Augustin Wernet, Sociedades políticas (1831-1832). São Paulo: Cultrix, 1978, p 15.
Léa Maria Carrer Iamashita – Doutoranda em História Social-UnB.
DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX. São Paulo: Globo, 2005. Resenha de: IAMSHITA, Léa Maria Carrer. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.11, p.177-180, 2007. Acessar publicação original. [IF].
BRITO Eleonora Zicari Costa de (Aut), Justiça e gênero: uma história da Justiça de menores em Brasília (1960-1990) (T), Editora da UnB, Finatec (E), PACHECO Mateus de Andrade (Res), Em Tempo de Histórias (ETH), Justiça, Gênero, Menor de idade, Distrito Federal (Brasília), Século 20 Século 20, América
Nos anos 60 e 70, Michel Foucault abriu uma perspectiva para a leitura das relações de poder, demonstrando que, a partir do século XVIII, uma rede de dispositivos disciplinares objetivou não apenas atuar sobre o sexo, colocando-o “em discurso”, mas também inventou novas formas de apropriação de sentido.
O trabalho de Brito articula a noção de poder do pensador francês não somente pela via da negação de poder como simples repressão; a essa via a autora contrapõe a afirmação de que o poder positiva, diz sim, induz formas de saber e produz discurso. Trata-se, portanto, de um conceito de poder que produz verdades, mais do que as oculta, que constitui regras para o verdadeiro, regras, entre outras, de produção de enunciados e de reconhecimento de seus sujeitos-autores.
Justiça e gênero tem como tônica central o modo como a categoria “menor de idade”, em especial “a menor de idade”, fora lida pela Justiça de Menores no Distrito Federal entre 1960 e 1996 (embora o título estabeleça 1990, a autora nos traz dados atualizados até os meados da década seguinte). Uma leitura que adotou de uma série de estratégias que refletem questões ligadas às relações de poder e gênero, evidenciadas e criticadas pela autora. O trabalho inscreve-se no grupo de estudos de gênero que possuem como ambição desnaturalizar as relações entre homens e mulheres, mostrando-as como construções sociais, históricas e culturais.
Ao analisar os casos indicados nos arquivos do antigo Juizado de Menores de Brasília – um total de cinco mil processos de um universo de cerca de trinta e dois mil –, a autora nos apresenta a história da constituição da justiça voltada ao “menor” infrator, por meio da configuração do Código de Menores, numa clivagem entre Direito e Ciências Médicas, além das teorias assistenciais em voga desde o final do século XIX. Dessa forma, o livro localiza o leitor pelas histórias normativas que procuraram regular a relação entre a infância, a juventude e a Justiça.
Nesse aspecto, Brito indica o caráter ambíguo do Código de Menores de 1927, na medida em que, para esse instrumento legal, o “menor” foi uma criação da tensão entre um sujeito ligado ao perigo, a ser detectado e disciplinado, e o sujeito cuja inocência deveria ser resguardada ou recuperada. A autora apresenta-nos esse “leitmotiv”, intimamente ligado à dimensão punitiva – marca do Direito Penal –, que matizou a questão até 1990, ano da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e mostra-nos como esse sujeito “menor” é destituído de sexo e sofre o apagamento regulador das tensões de gênero.
Enquanto a lei desconsidera o sexo do menor, anulando-o, na prática, por meio das aplicações do Juizado, recupera-se esse sexo “anulado” hierarquizando-o. Para a autora, “antes de ser ‘menor’, a menina é seu corpo, seu sexo de mulher”, como demonstra já de início, a partir da análise do caso de estupro avaliado pelo ministro do Supremo, em que a transgressão não está no ato, mas naquele que transgride – máxima da Escola Positiva de Direito Penal.
Os casos vão surgindo de modo a configurar ora a constituição de uma vítima, ora uma delinqüência, sempre julgada a partir do sexo. Nas questões em que a “menina/mulher” é vítima de crimes sexuais, o que importa é verificar sua índole e não o caso em si. Nesse aspecto, o que os discursos proferidos pelos curadores e juízes instauram é a justificativa da violência como punição social para a “má-conduta” da mulher “devassa”. Impressiona a recorrência de preconceitos tradicionais impostos às menores; constata-se, por exemplo, que, em relação à “menina/mulher”, o crime se associava irremediavelmente à prostituição ainda no final dos anos 80. Sua sexualidade era o foco para onde convergiam essas explicações.
O trabalho nos lembra de que, na lógica das fábulas processuais, não cabia à mulher um papel ativo. Sua defesa só poderia ser constituída diante da evidência de que seu papel de agente passivo do ato estava garantido, de tal modo – mostram-nos os casos narrados –, que, protegida e vigiada pela insígnia do perigo, o respeito à mulher e o crédito de seu relato passavam pelo testemunho do homem adulto. Não são raros, por exemplo, os pareceres que culpam as mães pelas “distrações” das filhas, enquanto ao pai nada cabia senão a vergonha.
O desvio infanto-juvenil, ou seja, sua punibilidade perante a lei, insere-se, portanto, no contexto de certa “estratégia de “governamentalidade” que, por um lado, buscava disciplinar os corpos, e, por outro, objetivava a regulação da população” (p.119). Sobre as questões dos corpos, Brito narra todo um jogo de poder na constituição de uma Medicina Legal, cara às determinações hierárquicas entre homem/mulher, adulto/criança e normal/anormal. Teorias como as divulgadas por Afrânio Peixoto e Nina Rodrigues foram as que deram os contornos do debate sobre a delinqüência no Brasil e, conseqüentemente, sobre a infância e a juventude a serem “protegidas”, objetos preferenciais do saber criminológico.
Tal saber é evidenciado pela autora por meio do estudo de dois laudos solicitados pela Justiça. Um proferido para uma menina e outro, para um menino (os casos de Alice e Mário, independentes, estão entre as comparações mais impressionantes do livro). Os laudos naturalizam os comportamentos, “fixando os que são normais num e noutro sexo e classificando-os no discurso médico” (p.190). O saber médico (legal) respaldava a criação do desvio – ação fora da norma qualificada na patologia clínica –, migrando-o da ordem moral para a clínica. A perícia médica funcionava como uma guardiã da higiene sexual, medicalizando e criminalizando o sexo desviado de sua função procriativa, saudável.
Brito nos mostra como a própria pré-seleção do delito era imposta pelas relações de gênero, na medida em que certas práticas desviantes, na verdade, eram cometidas por meninos e meninas, mas classificadas de modo diverso. O que os pareceres e as sentenças não estavam preparados a permitir eram meninas em situações tidas como preferencialmente masculinas.
Um exemplo é a modalidade “perturbação da ordem”, instituída como um domínio reservado ao masculino, uma vez que corriqueiramente a rua – o espaço público – estava “estabelecida” como tal, enquanto na modalidade “inadaptação familiar” o número de transgressões femininas está “naturalizado”, pois passa-se para a esfera privada. Enfim, analisados e delimitados por critérios específicos a cada época, crianças e adolescentes têm a complexidade de seu “ser no mundo” reduzida a traçados lineares.
Contudo, as regras a que tal linearidade obedecia sofreram mudanças entre os anos 60 e o início dos 90. A autora não comete o erro de planificar os valores nas décadas estudadas.
Está, antes, interessada em como, em momentos distintos, embora próximos, o aparato regulador da “infância” lida com o paradoxo entre uma Justiça que institui para si o peso da modernização moral, ao passo que continua a reconduzir valores tradicionais instituídos às mulheres.
É certo que Brito salienta que as mutações, em muitos aspectos, só renovam alguns padrões de conduta historicamente defendidos. Ignorar que as relações de gênero impõem hierarquizações que estão para além daquelas “admitidas” pela lei – essa mesma viciada em dissimular tais hierarquias, mesmo nos dias atuais – é um alerta premente desse livro. De tal monta que a polêmica que mesmo hoje divide grupos feministas em torno do uso do sistema penal na luta pela defesa e pelo reconhecimento de direitos às mulheres deve ser evidenciada à luz das questões tratadas aqui. A autora põe em questão a eficácia de se acionar o sistema legal em favor da defesa dos direitos das mulheres, discutindo se esta prática, ao contrário, não seria promovedora de um quadro de aprofundamento das relações hierarquizadas de gênero. Pela conduta de sua pesquisa, a autora parece não crer que tal sistema – como ele se apresenta atualmente – seja capaz de garantir equidade.
Em muitos casos, como os próprios processos indicavam, eram famílias interessadas em desvincular-se daquela menor que não mais se adequava ao regime de menina da casa.
Jovens, algumas vezes crianças, trazidas do interior do país para trabalhar como domésticas sem receber salário, num dúbio jogo de exploração e tutela que, em determinado momento, era considerado indesejável. Tal questão mostra que o livro não se presta a maniqueísmos, pois aqui a autora indica como foi importante o papel do Juizado para desvelar esse jogo.
Às mulheres se perdoava, ironia discriminatória que atingia também as jovens de classe média que furtavam no comércio local. Elas eram, geralmente, enquadradas no chamado ‘descuido’, ou seja, na capacidade de pegar e não pagar por mera falta de atenção.
Ao examinar extensa documentação, a autora tomou o cuidado de questionar as determinações de produção, enquadrando-as num contexto histórico localizado, e evidenciou os procedimentos representados pela instituição. Exemplo: nos anos 60 e 70, o juizado de Menores de Brasília não possuía o aparato interdisciplinar de profissionais, previsto em lei, os quais deveriam apoiar as decisões tomadas; nem mesmo contava com instituições “corretivas”. Fatos que influenciavam as decisões e que fizeram muitos processos percorrerem uma cansativa rede burocrática, na esperança de que os problemas externos à demanda judicial fossem resolvidos antes de uma possível sentença.
São todas questões cruciais para quem quer compreender, a partir dos exemplos de Brasília, as determinações legais frente às relações de gênero. A autora não se furta a contextualizar o ambiente em que os documentos são gerados: “Profusão de imagens, Brasília era representada, ao mesmo tempo, como o espaço propício para a manifestação de uma sociabilidade que a fazia mais humana que a maioria das outras cidades (…) e lócus de manifestação do ‘perigo’ representado pela infância e pela juventude ‘desviantes’.”(p.154).
Tal abordagem confere ao livro mais esse atrativo. Além de interessar a estudiosos em gênero, ligados à história ou ao direito, há na pesquisa de Brito uma sutil, mas determinante, consciência do papel que essa “urbe”, tão exótica por sua constituição e história, ocupa na problemática. Brasília e os brasileiros vindos de todas as partes serviram a Brito para o elementar exercício de compreensão daqueles “poderes” que Foucault nos apresentou.
Mateus de Andrade Pacheco – Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, com apoio do CNPq.
BRITO, Eleonora Zicari Costa de. Justiça e gênero: uma história da Justiça de menores em Brasília (1960-1990). Brasília: Editora Universidade de Brasília: Finatec, 2007. Resenha de: PACHECO, Mateus de Andrade. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.11, p.172-176, 2007. Acessar publicação original. [IF].
MARTINS Estevão C de Rezende (Aut), Cultura e poder (T), Saraiva (E), SALES Eric de (Res), Em Tempo de Histórias (ETH), Conceito de Cultura, Conceito de Ideia, Conceito de Poder, Conceito de Ideologia, Identidades, Organizações sociais, Estado Professor de teoria da história e de história contemporânea na Universidade de Brasília – UnB, Estevão C. de Rezende Martins dedica-se aos estudos nos campos da teoria, filosofia e metodologia da história, história cultural moderna e contemporânea, e das relações internacionais, em particular da Europa ocidental. Publica em 2007, Cultura e poder, livro que busca situar o leitor em questões referentes à formação e organização dos Estados modernos e de suas relações externas. Nas palavras do autor, o livro segue uma “perspectiva teórico analítica em que são coordenados a preocupação filosófica com a engenharia conceitual e o prisma historiográfico, penhor de inserção empírica dos temas tratados” (p. 01).
O livro está dividido em sete capítulos que buscam apresentar ao leitor, inicialmente, os conceitos que o autor utiliza (como poder, idéias, cultura e ideologia), para em seguida, demonstrar como estes são utilizados para a construção das identidades e, conseqüentemente, das organizações sociais que originam os Estados. Durante a leitura da obra capítulos, nota-se que há quatro seções de análise que direcionam o livro. Essas podem ser divididas em: seção de conceituação (capítulos 1, 2 e 3), nos quais são apresentados os conceitos usados em todo o livro; análise da União Européia (capítulos 4 e 5), onde as idéias apresentadas pelo autor já foram trabalhadas e postas em prática, com relativo sucesso; e análise da América Latina (capítulo 6), utilizando-se de todo o escorço conceitual apresentando. O capítulo 7 tratará das perspectivas sobre o uso das idéias e o poder que exercerão no contexto da “mundialização”.1 Diversos são os campos de estudos e pesquisas que se dedicam à formação dos Estados e sua relação com as identidades sócio-culturais. Dentre esses, há de se destacar o campo da ciência Jurídica, da Ciência Política e das Relações Internacionais. E é por meio dos conceitos fornecidos por estas áreas do saber que Martins articula seus pensamentos utilizando uma perspectiva que se afasta da ciência da história e se aproxima da filosofia, do direito e das relações internacionais. Por meio de tais perspectivas e com base no instrumental teórico dos campos citados é que o autor inicia suas pontuações.
O que são idéias e como são capazes de mover sociedades, isto é, sua concepção e sua função, são as bases para os debates do primeiro capítulo. O autor trata as idéias com uma perspectiva do papel que desempenham no “contexto de redes culturais cuja resultante são as formas de poder na sociedade e no Estado que interferem na formulação e na prática de condutas individuais e sociais”. (p. 7) As idéias são apresentadas como uma forma de orientação do agir, destacando-se em três dimensões distintas: passado (interpretação), presente (explicação) e futuro (projeção). Tais dimensões orientam o pensar humano e a formação não apenas de idéias, mas de identidades – outro discussão que perspassa o livro todo. O debate sobre as idéias de poder é o que conclui o primeiro capítulo. Neste ponto, Martins apresenta diversos posicionamentos sobre as idéias de poder – Foucault, Carl Schmitt, Jean Bodin, etc. – mas deixa claro seu alinhamento com a concepção de Niklas Luhmann, que concebe o poder “como um jogo social de ações, que causam a partir de pressupostos não causais, que efetuam trocas com base em fundamentos não permutáveis, que jogam utilizando regras não colocáveis em jogo”. (p. 25) O poder da cultura e a cultura do poder são o mote do segundo capítulo. O autor emprega o termo cultura, no livro, de forma ampla, “diretamente vinculada à ação racional do homem” (p. 2), um fator dinâmico de ação, formação e transformação. O fundamento da cultura está no fato de que o homem precisa agir para poder viver.
Utilizando-se das concepções de Gordon Mathews, para Martins, a cultura está mergulhada em um “sistema de circulação de idéias e de produtos chamado mercado” (p. 30), e segue três vertentes: a individual, a coletiva (família, colegas de trabalho, torcedores de um time, etc.) e a pública ou estatal (sistemas de educação e de comunicação em massa). Por estas vertentes, o autor explicita a importância do conhecimento histórico, ou “cultura histórica”, pois esse é formador de identidades e está inserido em um mundo de signos, elementos distintivos pertencentes a uma “cultura”. “A cultura histórica é, então, a articulação de percepção, interpretação, orientação e teleologia, na qual o tempo é um fator determinante da vida humana”. (p. 33) Ao nascer, qualquer pessoa já está inserida em um mundo pleno de histórias, de signos e conceitos pré-concebidos, mas isso não significa precisar aceitá-los passivamente; ao contrário, ao adquirir consciência, conquista a capacidade de transformar estas idéias dadas em idéias e conceitos próprios. O indivíduo, grupo ou nação demonstram, desta forma, o poder da cultura. A construção e formação das identidades tomam boa parte desse segundo capítulo, pois para Martins, é o entendimento de si e de quem é o outro que propiciará a criação de laços entre os países, superando questões seculares, como ocorreu com a União Européia (UE). Ponto interessante, pois o autor toma a UE como um exemplo, guardadas as devidas proporções, que a América Latina deve seguir para superar desavenças e se impor de forma organizada.
O terceiro capítulo trata da ideologia. Neste ponto, o autor explicita que o entendimento de ideologia como “receita pronta” para uso rápido, simples e imediato, independente do conteúdo ou dos fins – colocadas de forma maniqueísta muitas vezes – deve ser superado. Atualmente deve-se observar a amplitude e abrangência das idéias, que escapam do simplismo das ideologias clássicas. É algo que pode estar em qualquer contexto, desde que nele haja a questão de ser, pensar e agir, que pode ser entendida como ideologia. Martins expressa que ideologia “é um instrumento prático polivalente, socialmente relevante e particularmente eficaz – embora de contornos difusos, quando ‘vivida’ de forma concreta pelas pessoas”. (p. 67) Após apresentar suas impressões sobre os conceitos elencados Martins passa a questionar essas concepções, o autor vai se lançar a questionar o poder da cultura na história européia e, conseqüentemente, como se pode buscar um fio condutor para a formação das identidades da Europa ocidental, o que facilitaria a convivência e formação de um bloco de países.
O capítulo quatro é dedicado a apresentar a história da Europa ocidental e como a formação das identidades foi diferente em relação aos europeus orientais. Para tal, lança mão das idéias sobre a expansão da fronteira na formação das identidades e do conceito de “grande fronteira” – teorias de Frederick Tuner e Walter Prescott Webb, respectivamente. Para Martins, “A percepção ou ‘estranhamento’ cultural entre diversos ‘outros’ que conviveram – e convivem – no espaço da(s) Europa(s) é um elemento importante na organização extrínseca (…) e intrínseca da identidade cultural européia…” (p. 83).
As questões do multiculturalismo e das identidades nacionais no conjunto Europeu é o tema do capítulo cinco. Nesse momento da obra é debatido o conceito de “linguagem da nação”, isto é, o discurso político nacional que integra três grandes dimensões: a razão modernizadora, a vontade mobilizadora e a justiça igualitária. Por meio desta “linguagem da nação”, deste discurso político nacional é que as nações modernas se organizaram. Para Martins a nação não é uma ideologia, mas um “produto, dentro de um território particular, das relações entre uma economia, uma cultura e um Estado dominados pelo princípio da racionalidade instrumental”. (p. 99) Por essa linguagem é que uma sociedade pode construir o passado como tempo ultrapassado (dimensão interpretativa), de modo a se distanciar e poder explicar o passado e ter perspectivas de futuro (projeção). Contudo, no decorrer da leitura, nota-se que essa linguagem, com bases muito mais históricas, perdeu sua força. A busca de uma nova linguagem deverá, segundo Martins, passar por uma (re)construção das consciências nacionais (no âmbito europeu), devendo se reorientar em busca de uma síntese democrática, o que evitaria os elementos contraditórios de nossa modernidade.
O sexto capítulo do livro volta-se para os debates sobre a formação de uma identidade cultural latino-americana. São expostas quais são as dificuldades para se fomentar uma identidade comum na América Latina. O primeiro passo é compreender que as sociedades européias são “sociedades originárias”, ou seja, foram criadas, originadas da vontade mobilizadora de um grupo, enquanto as sociedades americanas são “sociedades implantadas”, isto é, não foram originadas de uma vontade de um grupo, mas sim impostas por um grupo sobre outro. A partir desse pressuposto, Martins vai discorrer sobre a situação na América Latina e das dificuldades de uma articulação histórica, que contribua para uma identidade comum.
A parte final da obra é dedicada a uma discussão de possíveis perspectivas sobre os movimentos de “mundialização”, o uso e poder das idéias nesse contexto “A multipolaridade política e cultural apresenta-se como contraponto consolidável para viabilizar uma alternativa à unipolaridade econômica norte-americana ainda remanescente”. (p. 137) Com tal perspectiva, propõe que o mundo social deve se voltar para um entendimento da diversificação cultural interna, encarceradas nos Estados nacionais, pois a cultura serve como referência do agir humano, podendo influenciar na modificação das estruturas sociais vigentes.
O historiador convencional ao ler, Cultura e poder não encontrará uma obra nos moldes da ciência da história. Mesmo hoje, onde as fronteiras entre as disciplinas como filosofia, história, sociologia e relações internacionais, não possuem um limite claro – pois todas se utilizam de conceitos comuns, mas com usos específicos – pode-se dizer que o livro é direcionado para o campo das relações internacionais, como o próprio nome da coleção, Coleção Relações Internacionais, já mostra – e dos estudos que debatem a formação dos Estados nacionais e das relações de poder que emergem no interior dessas sociedades, através de uma perspectiva cultura.
Centra-se no contexto europeu, mas segue esse caminho para demonstrar como as idéias e os conceitos apresentados foram aplicados na Europa, suas conseqüências e os possíveis que a América Latina pode seguir para formar uma macro-identidade regional, respeitando as diferenças culturais – o que não ocorreu no velho continente, segundo Martins, pois os Estados foram criados, como que ignorando tais diferenças culturais, criando situações de conflito nos dias atuais, como nos Bálcãs ou na região basca. Contudo, sem se aprofundar no debate, o livro pode introduzir e situar o leitor no debate sobre cultura e poder.
A obra de Martins é extremamente interessante, já que ao introduzir e situar o leitor no debate sobre cultura e poder, centra-se no contexto europeu e segue essa trilha para demonstrar como as idéias e os conceitos apresentados foram aplicados na Europa, suas conseqüências e os possíveis caminhos que a América Latina pode seguir para formar uma macro-identidade regional, desde que respeitadas as diferenças culturais.
Notas 1 O autor usa o termo “mundialização”, expressão do universo da língua francesa, no sentido de “globalização”, mas com ênfase aos aspectos mentais, ideais e culturais.
Eric de Sales – Graduado em História pela Universidade de Brasília – UnB e mestrando pela UnB em História na Área de Concentração História Social. E-mail para contato: [email protected].
MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura e poder. 2 ed. Revisada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2007. Resenha de: SALES, Eric de. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.11, p.167-171, 2007. Acessar publicação original. [IF].
MORAES Letícia Nunes de (Aut), Leituras da revista Realidade (1966-1968) (T), Alameda Editora (E), OLVEIRA Emerson Dionisio Gomes de (Res), Em Tempo de Histórias (ETH), Revista Realidade, New journalism, História do jornalismo, Brasil Século 20, América Retrospectivamente, tem-se a impressão de que a revista Realidade nasceu para causar polêmica. No seu primeiro número (abril de 1966), a revista abordava o tema da sexualidade entre os jovens; dois meses depois, a principal matéria questionava o divórcio (dez anos antes de sua legalização). Nos números seguintes, temas como o celibato entre sacerdotes católicos ou a controvertida capa de dezembro de 1966 “Deus está morrendo?” causaram discussões em todo o País. Apesar de todas as controvérsias geradas nos primeiros meses da revista, a história desse veículo guardou para janeiro de 1967, com “A mulher brasileira, hoje”, o momento em que segmentos censores da sociedade passaram a agir contra a sua publicação de modo agressivo. Contudo, uma leitura atenta da seção de cartas da revista desmistifica qualquer possível surpresa em relação aos eventos daquele janeiro.
Na análise de Letícia Nunes Moraes, a revista pertencente ao grupo empresarial Abril de São Paulo resistiu em seus dois primeiros anos porque matinha uma relação amistosa com os governos militares, que, desde 1964, controlavam o País. Isso graças a matérias “simpáticas” e perfis de ministros e presidentes publicados com freqüência, embora tal relacionamento tenha lenta e gradativamente se deteriorado a partir de 1968, algo que pode ser verificado com o número de leitores que passaram a “atacar” a publicação.
Realidade foi um marco na história do jornalismo brasileiro ao abordar temas pouco costumeiros nos periódicos voltados à classe média urbana e por incentivar uma linguagem jornalística próxima aos efeitos estilísticos da literatura, naquilo que se denominou genericamente como “new journalism”. A revista foi publicada entre 1966 e 1976, e Moraes debruça-se sobre os três primeiros anos (1966-1968), cerca de 36 números, em especial sobre as cartas enviadas aos editores, numa forma consciente de compreender como o periódico decodificava as opiniões de seus leitores. Nesse aspecto a revista também inovou ao produzir as primeiras pesquisas para definir seu público leitor.
Ao definir seu objetivo, Moraes produz o primeiro ruído quando identifica, no confronto entre os missivistas e as matérias publicadas, uma possibilidade de entender “como a revista queria ser lida e como de fato era lida”, sem lembrar-se , contudo, de que sua fonte única é a própria revista e que mesmo aquelas cartas eram passíveis de seleção e edição.
Enfim, o que a autora nos oferece é um detalhado estudo de duas “esferas” editorias de uma publicação: aquela preocupada com os “fatos” e outra, dedicada a selecionar as interpretações dos “fatos” pelos leitores. É nesse ponto que a sagacidade da autora traz elementos novos, desvios que necessitaram de elementos comparativos para expor certas nuances expressas nas cartas que podem não ter chamado a atenção dos editores naqueles anos, mas que, aos olhos dos estudiosos, hoje não apenas denotam as estratégias dos meios de comunicação da época – imersos num regime hostil à liberdade de expressão – como também nos dão pistas sobre os assuntos debatidos.
Em outro aspecto, a autora adverte que a seção de cartas naquele universo midiático controlado é muitas vezes utilizada para expressar aquilo que não se permite mais nos editoriais, utilizando as opiniões de “leitores” como forma de “desviar” o sentido de autoria.
Infelizmente o trabalho não levou adiante a desconfiança de que cartas podem ter sido criadas pelos editores, como ela mesma conjectura, apresentando-nos como contra-argumento o fato de que não havia tal necessidade mediante a quantidade de cartas recebidas pela revista.
Argumento que em si não está necessariamente ligado ao problema.
Num outro hemisfério, uma prática chamou sua atenção: o fato de que algumas cartas eram respondidas, e as respostas publicadas, quando os editores (Paulo Patarra e Woile Guimarães) percebiam que as questões apresentadas poderiam interessar a outros leitores.
Essas respostas foram bem exploradas pela autora e nelas podemos ver um certo “diálogo” na seção de cartas com “alguns” leitores selecionados. O exemplo que nos parece atual é o número recorrente de leitores que reclamavam da elevada quantidade de anúncios publicados e de uma das respostas ofertadas: “Sem publicidade, imprensa não vive. O importante não é quantos anúncios uma revista contém, mas sim qual a qualidade e a quantidade das matérias que oferece ao leitor” (p.86).
Muitas respostas da revista continham a idéia de que a sugestão para uma nova matéria já havia sido considerada dentro da própria redação. Havia uma preocupação dos jornalistas em explicitar que estavam à frente dos leitores, que suas sugestões apenas reforçavam pautas. Essa tática discursiva era importante na construção da identidade de Realidade, que deveria ser lida como um veículo de comunicação que antecipava discussões e tendências críticas. Apesar desse expediente, a autora mostra que, com o passar dos anos, as respostas tornaram-se cada vez mais raras e eram destinadas a cartas contrárias às opiniões da revista.
Por meio de um banco de dados construído a partir da análise de 686 cartas publicadas, Moraes tenta configurar o perfil dos leitores que escreviam para Realidade. Mas o esforço é decepcionante; a maioria era formada por homens (73%) e oriundos da região sudeste (70%); as únicas informações possíveis, pois raramente aqueles que escreviam identificavam-se de modo preciso. As conjecturas quanto à idade, à profissão, à escolaridade ou a quaisquer índices, mesmo ofertados pela autora, parecem estatisticamente irrelevantes.
Em depoimentos à autora, os editores explicitaram que, nos primeiros números de Realidade, os leitores enviavam cartas cujo teor era mais genérico e as referências às reportagens da revista eram secundárias. Raramente essas cartas eram publicadas; optava-se por relatos diretos ligados à publicação anterior. Com o tempo, as cartas já seguiam essa receita, ou seja, ensinava-se ao leitor que desejava ter sua carta publicada como ela deveria ser escrita. Essa pedagogia da acessibilidade era conscientemente seguida e coloca em suspense qualquer ilusão de uma interatividade irrestrita, tão advogada na época.
Outro aspecto era o incansável desejo de uniformizar as leituras de matérias da revista propostas pelas cartas, numa clara manipulação daquilo que era entendido – publicado – como opinião pública. Nesse tocante, Moraes explora o que Patarra chamou de “jogar um leitor contra o outro” (p.112), uma forma de legitimar a opinião da revista diante de cartas desfavoráveis por meio da publicação cartas de leitores oportunos, conferindo à publicação uma falsa imparcialidade. Um procedimento ainda muito em voga nas publicações atuais.
As cartas mostram que a revista também foi considerada perigosa quando um número considerável de missivistas acusou a revista de defender uma nova organização familiar representativa de uma “revolução moral”. Alguns leitores escreveram à Realidade afirmando que seus filhos estavam proibidos de ler a publicação. Na contrapartida, a revista utiliza cartas de pais que se manifestaram de modo oposto: elogiavam a publicação por criar um ambiente mais confortável entre eles e seus filhos em relação a questões sobre sexualidade e drogas.
Os temas mais comentados eram os de comportamento. Três publicações de 1967 merecem destaque: “A mulher brasileira hoje”, de janeiro; “A juventude brasileira hoje”, de setembro; e “Existe preconceito de cor no Brasil”, de outubro. Temas explosivos que fizeram com que todas essas abordagens sofressem com proibições, ataques e debates acalorados dentro e fora da seção de cartas da revista. Mas nenhum tema foi mais combatido pelos leitores que o “Homossexualismo”, matéria publicada em maio de 1968 (uma data nada neutra), cuja repercussão negativa a revista ratificou, “talvez por ter o mesmo ponto de vista desses leitores” (p.116). Mas há reveses.
Estudiosos acostumados com os vieses da história da recepção sabem que leitores são freqüentemente praticantes de táticas que enviesam sentidos “programados”. Um exemplo ressaltado pela autora diz respeito à surpresa dos editores ao descobrirem que “prováveis” jovens estavam menos preocupados com a “revolução sexual” e as novas posturas comportamentais que com questões mais práticas como o acesso à educação de qualidade e desemprego. Essa conclusão nasceu dos resultados de questionários enviados aos leitores em julho de 1967 com perguntas sobre o divórcio, virgindade da mulher, cabelo comprido dos rapazes, mini-saia das moças etc. O resultado, publicado na edição de setembro (“A juventude brasileira hoje”), mesmo que longo, merece ser reproduzido: “Os jovens acreditam ao mesmo tempo em Deus e no socialismo, não pensam em revolução, acham que há alguma coisa errada no Brasil, mas a maioria prefere não protestar contra os abusos e erros. Julgam que seu papel é estudar, trabalhar e preparar-se para o futuro. Estão mais a favor do que contra o governo, embora muitos nem se preocupem com isso. Pregam a fidelidade para marido e mulher, os rapazes exigem a virgindade feminina, e muitas moças a masculina. Muitos defendem o controle da natalidade e se inclinam pela separação quando o casamento fracassa” (p.187, grifo da autora). Num mundo às vésperas de 1968, cada trecho desse pequeno resumo rendeu diferentes conclusões, exploradas no livro.
O debate político não está ausente do trabalho de Moraes; o número de cartas dedicadas ao assunto é menor que aquele direcionado aos costumes. Mas lidas de modo mais cuidadoso pela autora, mostram que temas como sexo ou matrimônio eram álibis para acusar a revista de ser “francamente antiamericana”, de “usar disfarces esquerdistas” ou para culpá-la de traição à pátria ou de ser “a favor de uma nação estrangeira” (p.140). O que, por efeito, alerta aos historiadores para o fato de que certas categorias estanques, tão arduamente elaboradas para nossas pesquisas, raramente resistem à complexidade dos “problemas” analisados.
Leituras da revista Realidade tem o mérito inegável de apresentar uma visão criativa daquela que foi a revista com maior credibilidade dentro da classe média brasileira no final dos anos 60, superando ícones do jornalismo como O Cruzeiro e Manchete. A autora ensina- nos a perquirir os detalhes de um “documento” que parece, a principio, demasiado óbvio ou já muito explorado. Seu trabalho confirma a suspeita, há anos difundida, de que novas fontes não são apenas encontradas, também podem ser construídas onde muitos já passaram.
Emerson Dionisio Gomes de Oliveira – * Doutorando do Programa de Pós-graduação em História da Universidade de Brasília, sob orientação da Profa. Dra. Eleonora Zicari Costa de Brito, com apoio do CNPq.
MORAES, Letícia Nunes de. Leituras da revista Realidade (1966-1968). São Paulo: Alameda Editora, 2007, 253p. Resenha de: OLVEIRA, Emerson Dionisio Gomes de. Em Tempo de Histórias, Brasília, n.12, p.115-119, 2008. Acessar publicação original. [IF].
1989: história da primeira eleição presidencial pós-ditadura | Cássio Augusto Guilherme
O livro intitulado “1989 história da primeira eleição presidencial pós-ditadura”, de Cássio Augusto Guilherme narra os acontecimentos políticos ocorridos no ano de 1989. Inicialmente a obra busca mostrar alguns episódios que a Europa enfrentava, especificamente, a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, o que representava uma nova reconfiguração geopolítica entre os países do Leste europeu e uma reorganização deles, gradualmente em nações capitalistas “livre agora, do perigo comunista” os Estados Unidos passam a ter as Américas central e do Sul como área de influência mais direta impondo o seu modelo neoliberal de política econômica. Isso é o que veremos no livro ora resenhado que apresenta pelas páginas do jornal O Estado de S. Paulo (OESP) a defesa desse tipo político e econômico para o Brasil.
A obra estuda como foi possível um presidente civil, José Sarney, permitir que a abertura política brasileira tenha sido tutelada pelos militares; intelectuais, trabalhadores, artistas, mas também à classe política. Revela que o ex-presidente José Sarney “ganha” a presidência da República dos militares para aos poucos implementar algo como uma democracia, mas sempre vigiada e coercitiva com os tanques às portas dos quartéis e os generais ameaçando a nova ordem. Sarney cumpre seu papel histórico de passar a faixa presidencial a Fernando Collor de Mello, o candidato do jornal OESP. Leia Mais
A monarquia no cinema brasileiro: Metodologia e análise de filmes históricos | Vitória Azevedo da Fonseca
A monarquia no cinema brasileiro: Metodologia e análise de filmes históricos. Jundiaí: Paco Editorial, 2017. A monarquia no cinema brasileiro: metodologia e análise de filmes históricos é um livro de autoria da historiadora brasileira Vitória Azevedo da Fonseca. Proveniente de sua dissertação de mestrado desenvolvida pela Universidade de Campinas, se propõe analisar dois filmes que tratam, sob diferentes perspectivas, o período monárquico brasileiro e o processo de independência do país. São eles: Independência ou Morte, de 1972, dirigido por Carlos Coimbra, e Carlota Joaquina, a princesa do Brasil, lançado em 1995, sob a direção de Carla Camurati.
A obra é dividida em quatro capítulos precedidos por uma apresentação assinada por Leandro Karnal, e encerrado com as considerações finais da autora e as referências. Inicialmente, Fonseca apresenta alguns métodos que devem ser levados em consideração ao propor uma análise de filmes históricos, destacando autores como Ismail Xavier, Jacques Aumont, Jean-Claude Bernadet, Marcel Martin, Marc Ferro e Marc Vernet, sem estabelecer um específico para seguir e optando pela mescla de metodologias. Seguindo a ideia proposta por Vanoye, a autora argumenta que a primeira medida a se fazer ao analisar uma película é descompô-la em partes, estabelecendo relações em seguida, para, dessa forma, compreender a estrutura narrativa construída (p. 10). Leia Mais
A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito / Marco Morel
Fruto de mais de quinze anos de pesquisa, o novo livro de Marco Morel busca tratar das repercussões da Revolução do Haiti no Império do Brasil. Com as lentes voltadas aos setores livres, e não aos escravizados da sociedade brasileira, Morel demonstra aos leitores que em pleno Brasil escravista também floresceram visões positivas ou, ao menos, não completamente negativas acerca dos eventos ocorridos na antiga colônia francesa. Para tanto, o historiador postula a existência de um “modelo de repercussões não hostis”, composto de quatro elementos: “soberania nacional”, “soberania popular”, “antirracismo” e “crítica à escravidão”.
O estudo cobre o intervalo de 1791 a 1840, dividido em dois momentos. O primeiro inicia-se em 1791, isto é, com o começo da revolução escrava em Saint-Domingue, e finaliza-se em 1825, ano considerado por Morel como o marco final do processo revolucionário, pois foi quando a França reconheceu a independência do Haiti. Já o segundo percorre o intervalo c.1800-c.1840 e refere-se especificamente à formação e consolidação do Estado nacional brasileiro. No que diz respeito às fontes, o autor valeu-se de uma gama variada: documentação oficial, folhetos, periódicos e livros brasileiros, franceses e haitianos escritos e publicados coetaneamente ao período analisado.
O livro é dividido em três partes bem delimitadas. Na primeira, o historiador traça um balanço dos eventos que tomaram a ilha de São Domingos em 1791, destaca os principais personagens e suas ações, mas igualmente os conflitos internos entre os revolucionários, oferecendo ainda um levantamento resumido das cinco primeiras constituições haitianas (elaboradas entre 1801 e 1816) que, apesar de suas diferenças, tinham em comum o “repúdio à escravidão […] a defesa da propriedade e da agricultura”. O enorme esforço de síntese dessa parte originou-se da preocupação específica em situar o leitor não especializado no tema, fornecendo-lhe as balizas referenciais para a compreensão do restante do livro, onde, efetivamente, cumpre-se o objetivo anunciado da obra.
Na segunda parte, “Entre batinas e revoluções”, Marco Morel apresenta então as reflexões de Raynal, Grégoire e De Pradt, três abades franceses, que viveram a Revolução em seu país e acompanharam cuidadosamente os eventos em São Domingos. Antes mesmo da insurreição dos escravos, Raynal sugeriu que um Spartacus negro poderia levantar-se na massa dos escravizados (Toussaint L’Ouverture, um dos líderes icônicos da Revolução do Haiti, chegou a declarar que era essa personagem). Gregóire, o mais radical entre eles, figura atuante na Revolução Francesa, apoiou abertamente o movimento dos cativos e reconheceu publicamente a independência do Haiti antes mesmo do Estado francês. Para o último, se a escravidão fosse a termo, o processo não deveria ser controlado pelos escravos. As ações que culminaram na criação do Haiti foram vistas por De Pradt como um “não-exemplo”. Não à toa ele foi o mais conhecido entre os historiadores do Brasil oitocentista. Embora houvesse diferenças marcantes entre eles, o que os ligava era tanto a percepção de que a escravidão “caminhava inexoravelmente para a extinção” quanto o fato de participarem “da fundação de linhas interpretativas” sobre a Revolução do Haiti. Suas formulações chegaram aos mais diversos quadrantes, pois “havia um campo político e intelectual com áreas de interseção de ambos os lados do Atlântico”, que contribuiu para que alguns clérigos brasileiros concebessem interpretações sobre os eventos haitianos.
O relacionamento das “experiências históricas tão disparares como a unitária monarquia escravista brasileira e a república construída por ex-escravos” efetiva-se no campo da história das ideias. Ao analisar as manifestações de cinco clérigos brasileiros, elaboradas nas três primeiras décadas dos oitocentos, Morel constatou notável semelhança entre elas e os trabalhos de Grégoire, isto é, havia a condenação da escravidão e o apoio à revolução escrava em curso, na medida em que ela destruía a dominação senhorial. Os religiosos também se posicionavam contra as diferenciações raciais que a instituição originava; no entanto, não se perfilhavam ao abolicionismo ou muito menos à violência da prática revolucionária cativa tal como ocorreu em Saint-Domingue. No “modelo de repercussões”, claro está, esse grupo manifestou a crítica da escravidão e o sentimento antirracista. Entre os casos, vale citar o do monsenhor Miranda, sem dúvida, o mais emblemático. O clérigo manteve correspondências tanto com De Pradt como com Grégoire. Em 1816, Grégoire chegou a enviar a Miranda, por intermédio de Joachim Le Breton, chefe da Missão Artística Francesa, livros de sua autoria que continham claro apoio à Revolução Haitiana e recebeu na França publicações do monsenhor Miranda. Essa troca de cartas, nas palavras de Morel, demonstrava que “os caminhos da Revolução do Haiti no Brasil poderiam ser intermediados, sinuosos e surpreendentes”.
É na terceira parte do livro que o historiador apresenta as demais faces do “modelo de repercussões” dos eventos de Saint-Domingue em terras brasileiras. A Revolução do Haiti, ao conquistar a segunda independência do jugo colonial na América, foi valorizada enquanto exemplo de soberania nacional. Por esta razão, chegou a aparecer como recurso discursivo nas falas dos deputados brasileiros tanto nas Cortes de Lisboa (1821-1822) quanto nas primeiras legislaturas nacionais. Na mesma senda, a experiência da independência haitiana foi louvada nas páginas do Correio Braziliense, da Gazeta do Rio de Janeiro e do Reverbero Constitucional Fluminense, periódicos de orientações políticas diversas. Se a independência era elogiada, consoante ao momento político de separação com Portugal que o Brasil vivia, a abolição da escravidão não recebia a mesma apreciação dos contemporâneos e, na maior parte das vezes, sequer era discutida.
Esse ímpeto coube a uma figura pouco conhecida na historiografia: Emiliano Mundurucu, pardo, republicano, antiescravista e comandante do Batalhão dos Pardos. A ele é atribuída a autoria das quadras cantadas nas ruas de Recife, em 22 de junho de 1824, que evocavam a figura de um heroico Henri Christophe e conclamava a população na defesa da Confederação do Equador e na luta contra o branco opressor. A tentativa de levante, que previa a participação dos setores subalternos não-escravizados, malogrou, mas representou, segundo Morel, uma genuína repercussão do caráter da soberania popular presente entre os rebeldes de São Domingos.
Assim concebido e estruturado, é possível afirmar que o livro foge às linhas gerais da historiografia sobre o tema, que, ao tratar das repercussões do fim da escravidão e da formação do Haiti independente no Império do Brasil, sempre salientou o receio contemporâneo a respeito do haitianismo, isto é, de que uma ação escrava tão intensa quanto aquela ocorrida no Caribe francês se reproduzisse nos trópicos. [2] O trabalho de Marco Morel, portanto, inova e avança consideravelmente na compreensão do objeto, demonstrando a sua complexidade. Assim, “o que não deve ser dito”, subtítulo do livro, é aquilo que foi historicamente silenciado na sociedade brasileira. [3]
No entanto, nesse caso em específico, para que se possa adequadamente compreender o não dito é necessário atentar ao seu inter-relacionamento com as forças políticas, sociais e econômicas que construíram o Estado imperial brasileiro. O enorme esforço em lançar luz sobre as percepções positivas acerca dos eventos haitianos fez com que o autor deixasse na obscuridade as condições materiais mais amplas nas quais essas percepções erigiram-se. O Estado brasileiro formou-se na primeira metade do século XIX em inter-relação estreita com os interesses agrário-escravistas que, notadamente no Centro-Sul do Império, a partir dos complexos cafeicultores com ampla utilização do braço escravo, agigantaram-se em importância justamente devido ao vácuo produtivo aberto no mercado mundial de café na esteira da ação dos escravos de Saint-Domingue. [4] A par dessas condições materiais que ligaram Brasil e Haiti no alvorecer do século XIX, é possível compreender os motivos pelos quais as visões positivas sobre a Revolução Haitiana, mesmo aquelas que evocavam a soberania nacional, terem sido elididas na história e, posteriormente, na historiografia: assimilá-las organicamente poderia implicar na contestação sistêmica ou mesmo na erosão da ordem escravista que começava a se fundar em bases nacionais.
Notas
- Veja-se, dentre outros: REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos Malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003; SOARES, Carlos Eugênio; GOMES, Flávio. Sedições, haitianismo e conexões no Brasil e escravista: outras margens do Atlântico negro. Novos Estudos, n. 63, p.131-144, 2002; MOTA, Carlos Guilherme. Nordeste 1817: estruturas e argumentos. São Paulo: Perspectiva, 1972. O haitianismo também foi utilizado como recurso retórico nos debates travados na imprensa brasileira entre os grupos políticos adversários nos anos da Regência. Cf. EL YOUSSEF, Alain. Imprensa e escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil (Rio de Janeiro, 1822-1850). São Paulo: Intermeios, 2016, p.144-150 e p.173-177.
- Nesse sentido, valem as reflexões de Michel-Rolph Trouillot, uma inspiração imediata para o livro de Morel: An Unthinkable History: The Haitian Revolution as a Non-event. In: TROUILLOT, Michel-Rolph. Silencing the Past: power and the production of history. Boston: Beacon Press, 1995. p.70-107.
- Sobre a mútua formação do Estado nacional brasileiro e da classe senhorial escravista: MATOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema: formação do Estado Imperial. São Paulo: Hucitec, 1987. Sobre as possibilidades abertas no mercado mundial do café em virtude da revolução dos escravos: MARQUESE, Rafael; TOMICH, Dale. O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do café no século XIX. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil Imperial, v. 2: 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. p.339-383. Nos anos subsequentes (1823-1839) o volume da produção cafeeira do Brasil era tamanho que foi capaz de criar uma baixa internacional nos preços da rubiácea, popularizando em demasia seu consumo, sobretudo no mercado norte-americano, de longe, o principal comprador do café brasileiro. Cf. PARRON, Tâmis Peixoto. A política da escravidão na era da liberdade: Estados Unidos, Brasil e Cuba, 1781-1846. 2015. Tese (Doutorado em História Social)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. p. 323-327.
Bruno da Fonseca Miranda – Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, SP, Brasil. [email protected].
MOREL, Marco. A Revolução do Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.Resenha de: MIRANDA, Bruno da Fonseca. Os ecos elididos da Revolução do Haiti no Brasil. Outros Tempos, São Luís, v.16, n.27, p.358-361, 2019. Acessar publicação original. [IF].
Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano (1750-1890) – NEVES et. al (LH)
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das; MELO FERREIRA, Fátima Sá; NEVES, Guilherme Pereira das (org). Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano (1750-1890). Jundiaí: Paco Editorial, 2018, 322 pp. Resenha de: ARAÚJO, Ana Cristina. Ler História, v. 75, p. 284-288, 2019.
1 Este livro resulta do projeto internacional “Linguagens da identidade e da diferença no mundo ibero-americano : classes, corporações, castas e raças, 1750-1870”, coordenado atualmente por Fátima Sá e Melo Ferreira e por Lúcia Bastos. Procura identificar, na linguagem e nos conceitos dos personagens históricos, traços constantes que vinculam ideias, expectativas, convenções, práticas e representações comuns, ou seja, expressões coletivas e atuantes de modos de ser, pensar e dizer a realidade no mundo ibero-americano, no período compreendido entre 1750 e 1890. A cronologia de longa duração evidencia permanências estruturais e diferentes fenómenos de contágio político que encontram eco em linguagens e conceitos partilhados. Os marcadores de identidade e alteridade de que nos falam os organizadores do livro são precisamente os conceitos e as linguagens usados, nos planos territorial, étnico, político e social, para exprimir laços de pertença e desatar nós diferenciadores de formas de nomeação coletiva, como sejam, “brasileiros” versus “portugueses”, “pueblos orientales” versus “cisplatinos”, no processo de independência e união da região do Rio da Prata, “bascos” e “espanhóis”, na revista Euskal-Erria de San Sebastián (1880-1918).
2 Nos campos em que se buscam agregações convergentes ou divergentes de sentido – território, raça, formações nacionais ou transnacionais – os conceitos são encarados não como entidades estáticas ou atemporais mas como ferramentas de temporalização histórica. Daqui advém o potencial hermenêutico da linguagem para nomear o social. Existe, todavia, uma brecha entre os acontecimentos históricos e a linguagem utilizada para os dizer ou representar. A consciência da historicidade do intérprete, neste caso, do historiador, afasta a compreensão do passado do tradicional objetivismo factualista, centrado na pretensa evidência do facto. Por outro lado, na relação com as linguagens do passado, a noção de historicidade previne um outro perigo, o das extrapolações conceptuais fundadas na atualidade, fonte de anacronismos e de todo o tipo de “presentismos” deformantes e esvaziadores da memória histórica. Neste contexto, é aconselhável aliar a História analítica à História conceptual para responder às questões centrais colocadas por Reinhart Koselleck e pela tradição da Begriffsgeschichte.
3 Para simplificar, talvez se possam formular assim algumas das questões levantadas neste livro : qual é a natureza da relação temporal entre os chamados conceitos históricos e as situações ou circunstâncias que ditaram a sua utilização ? Os conceitos e especialmente os conceitos estruturantes, a que Koselleck chama “conceitos históricos fundamentais” (como, por exemplo, o moderno conceito de revolução), permaneceram na semântica histórica para lá do tempo em que foram formulados ? Será que cada conceito fundamental contém vários estratos profundos, ou várias camadas de significados passados unidos por um mesmo “horizonte de expectativa” ? Na resposta a estas questões, Koselleck assinala, no processo de construção da semântica histórica da modernidade, quatro exigências básicas de novo vocabulário, social, político e histórico : a temporalização, a ideologização, a politização e a democratização. Porém, como bem sublinham os organizadores deste livro, nem sempre são sincronamente documentáveis estas quatro condições nos processos analisados na era das revoluções no mundo ibero-americano.
4 A mudança conceptual no campo da história intelectual e das ideias é também valorizada tendo em atenção o contributo de Quentin Skinner que aponta para uma linha mais analítica e contextualista nos usos da linguagem, partindo da fixação lexicográfica consagrada nos dicionários. Ao estudar as técnicas, os motivos e o impacto das mudanças conceptuais valoriza também a utensilagem retórica, aquilo a que chama rethorical redescription, que consiste em usar relatos diferentes para descrever uma mesma situação, recorrendo a certas palavras e a certos conceitos que, pelo seu impacto social, instauram novas interpretações e se impõem como guias de compreensão de outros discursos. A ideia de um léxico cultural de base conceptual ilumina, numa outra perspetiva, o horizonte compreensivo da história intelectual, dado que os usos da linguagem não são desligados da intencionalidade dos autores e dos efeitos que os seus discursos produzem.
5 Neste livro, as questões relacionadas com a classificação e a nomeação preenchem a primeira parte da obra. Os três ensaios, da autoria, respetivamente, de Fátima Sá e Melo, Guilherme Pereira das Neves e Javier Fernández Sebastián, revestem-se de um carácter problematizador e sinalizam bem a abrangência do conceito mutável de identidade que, como explica Fátima Sá e Melo, começa por conotar, no século XVIII, aquilo que é similar, por exclusão do que é diferente, para, cem anos mais tarde, e segundo o Dicionário de Moraes Silva (1881), traduzir uma forma de autorrepresentação. A este respeito, Fátima Sá e Melo salienta que esta definição de identidade começa por ser fixada primeiro num dicionário espanhol de 1855, acabando por ser consagrada pela lexicografia portuguesa em 1881. Logo a seguir, coloca o problema da formulação do conceito de identidade na primeira pessoa e na terceira pessoa.
6 Na ausência de uma perspetiva individualista, fundada no autorreconhecimento do poder e vontade dos indivíduos, valiam as categorias jurídicas do Antigo Regime que fixavam, numa base particularista e corporativa, a visão do todo social (A. M. Hespanha). Nos umbrais das revoluções liberais o nós identitário forjado no mundo ibero-americano não se desfaz de um dia para o outro dos traços orgânicos e particularistas do passado colonial. Estes traços são bem evidentes no estudo de Ana Frega sobre a revolução artiguista de 1810-1820 e no ensaio de Lúcia Bastos Pereira das Neves que analisa “antigas aversões” reconstruídas no decurso do processo de independência entre ser português e ser brasileiro ou ter direito a ser brasileiro, por lei de 1823. A autora sublinha que apesar das persistências sociais e culturais, o discurso político da independência e em defesa da Constituição contribuiu para reconfigurar a sociedade brasileira pós-independência apontando para uma vaga identidade, forjada na variedade de povos e raças que compunham a população brasileira. Estes traços de autorreconhecimento foram objeto da retórica antibrasileira do jornal baiano Espreitador Constitucional, favorável à causa portuguesa, que lamentava, em 1822, que “os netos de Portugal – estabelecidos no Brasil – abandonassem os sobrenomes dos seus antepassados para adotarem orgulhosos os de Caramurus, Tupinambás, Congo, Angola, Assuá e outros” (p. 139).
7 Sobre a questão da adequação das classificações e marcas de linguagens pretéritas às classificações e conceitos do historiador, Javier Fernández Sebastián assina um esclarecedor capítulo, de cunho teórico. Segundo este historiador, o problema das classificações conceptuais reside em saber se é razoável usar retrospetivamente conceitos e categorias atuais que não existiam numa determinada época para classificar e dar sentido às linguagens do passado. Considera que o conceito de identidade forma com outros conceitos uma espécie de galáxia significante. O seu campo semântico convoca distinções jurídicas, étnicas, políticas, socioeconómicas e ideológicas. Assim, e apreciando cada contexto histórico focado neste livro, é razoável o uso do conceito de identidade associado a classes, etnias e territórios. Dois estudos documentam este ponto de vista. O primeiro remete para o enfrentamento da escravatura negra e da emigração branca em Cuba ao longo do século XIX. Como explica Naranjo Orovio, o ideal de cubanidade condensa elementos culturais e étnicos patentes nas linguagens de identidade insular, nas quais o estigma negativo e o medo do negro se combinam com a atração pelo discurso civilizacional dos reformistas criollos (1830-1860).
8 O binómio civilização versus barbárie aparece também associado à forma como são percecionados os afrodescendentes em Buenos Aires até 1853-1860. Segundo Magdalena Candioti, num primeiro momento, as diferenças físicas, morais e culturais atribuídas aos afrodescendentes limitam a sua participação política. Os negros e pardos são definidos como os “outros” do novo corpo soberano e excluídos da cidadania instaurada pela nova república, porque a abstração requerida pelo conceito de cidadania igualitária ou tendencialmente igualitária colidia com as marcas impressas pela natureza e pela cultura herdadas da colonização espanhola. Formalmente, a partir dos anos 20 do século XIX, os textos legais não estabelecem reservas especiais ao sufrágio dos negros libertos, contudo persistem as representações estigmatizadas sobre a negritude, impedindo, na prática, a consagração plena da cidadania política. Este tipo de exclusão viria a ser ideologicamente suportado pelas linguagens cientificistas da segunda metade do século XIX, inspiradas no positivismo e no darwinismo social. A visão evolucionista da sociedade, assente na constituição física, na hierarquia das raças e, consequentemente, na superioridade do homem branco, acabou por complementar, com outros argumentos, o binómio civilização/barbárie constitutivo das identidades em construção na Ibero-América. A mesma visão antinómica caracteriza as distinções gentílicas da nova entidade política e cultural nascida com a revolução Bolivariana, ajudando a forjar o mito da nação mista criolla na Venezuela, conforme salienta Roraima Estaba Amaiz.
9 A uma escala transnacional – e este é também um dado a destacar neste livro –, o desenvolvimento do conceito de raça no mundo latino-americano associa-se ao aparecimento do pan-hispanismo, que, de certo modo, retomou, numa perspetiva expansionista, a autoperceção etnocêntrica e neocolonial dos países de matriz hispânica da América do Sul, conforme detalha David Marcilhacy. Este tópico tem ressonâncias fortes e remete, a cada passo, para a porosidade entre discursos, ideologias e linguagens vulgares ou de uso corrente. Como sublinha Ana Maria Pina, o conceito de raça, entendido em termos biológicos, é tardio. Antes do século XIX andava associado à pecuária e era também usado para identificar linhagens, nações ou povos. No século XIX ganha uma conotação biologista e essencialista, porque se aplica à classificação de tipos humanos, distinguidos pela sua origem, cor de pele e características físicas. Para esta mutação muito contribuíram as teses racistas e poligenistas de Gobineau, bastante divulgadas na época, os tratados de Darwin e também as teses antropométricas de Paul Broca, fundador da Sociedade Antropológica de Paris.
10 O eco destas influências em Portugal é percetível em autores como Teófilo Braga, Júlio Vilhena e outros nomes menos conhecidos. Subtilmente, insinua-se na linguagem artística e na literatura, nomeadamente em Eça de Queirós e Ramalho Ortigão. E se, antes deles, Almeida Garrett e Alexandre Herculano haviam sinalizado as idiossincrasias da raça portuguesa, foi, porém, Oliveira Martins quem melhor exprimiu a ideia da miscigenação de raças na raiz do ser português. Oliveira Martins estava genuinamente interessado em compreender a originalidade dos povos ibéricos e a originalidade da civilização que se desenvolveu, ao longo de séculos, na Península Ibérica, conforme assinala Sérgio Campos Matos. A História da Civilização Ibérica, título de uma obra de Oliveira Martins, engloba, num “nós transnacional”, portugueses, espanhóis e outros povos de descendência hispânica. Temos assim um conceito totalizante que fixa uma conceção de história, uma visão antropológica territorializada e uma unidade de experiência com sentido político, social, económico, cultural e moral para ele, Oliveira Martins, e para os seus contemporâneos portugueses e espanhóis.
11 O capítulo final de Sérgio Campos Matos convoca a atenção do leitor para a reflexão em torno da “história como instrumento de identidade”, tema também tratado por Guilherme Pereira das Neves. Este autor realça a ideia de que a história funcionou, desde o século XIX, no Brasil, como instância compensadora e conservadora de aspirações sociais e políticas das elites brasileiras, referindo a formação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o contributo da metanarrativa de Varnhagen. Questiona não só a ideia de história mas também o lugar do historiador, dos curricula liceais e das universidades brasileiras, desde os anos 30 do século XX em diante. Refere que com os governos de Getúlio Vargas se assiste à criação da Universidade de São Paulo, em 1934, e se institucionaliza a formação estadual de professores diplomados em história. Por fim, salienta que os maiores sucessos editoriais no campo da história no Brasil pouco devem à historiografia académica. Entre a ação e o discurso, entre a história que se faz e a linguagem que dela se apropria para uso público parece haver espaço para uma espécie de imaginário alternativo, fantasiado, é certo, envolvendo numa trama insignificante episódios históricos narrados livremente mas não totalmente desprovidos de marcas de identidade.
12 Em síntese, a leitura desta obra é fundamental pelo enfoque transnacional dos seus capítulos e pela perspetiva de história conceptual comparada que preside à reavaliação dos processos e linguagens de identidade e alteridade forjados no espaço ibero-americano, especialmente no decurso do século XIX. Sendo tributário dos caminhos de pesquisa abertos pelo Diccionario político y social del mundo ibero-americano, dirigido por Javier Fernández Sebastián, este livro concita também outros estudos, quiçá diferentes, mas igualmente indispensáveis para a compreensão das ideias e dos nexos sociais e culturais que presidiram à constituição e à renovação política dos territórios independentes ibero-americanos.
Ana Cristina Araújo – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal. E-mail: [email protected].
Marx e o fetiche da mercadoria: contribuição à crítica da metafísica – ANTUNES (EL)
ANTUNES, Jadir. Marx e o fetiche da mercadoria: contribuição à crítica da metafísica. Jundiaí: Paco Editorial, 2018. Resenha de: PRADO, Carlos. Eleuthería, Campo Grande, v. 3, n. 5, p. 115 – 118, dez. 2018/mai., 2019.
O Capital de Karl Marx é ainda hoje uma obra atual e necessária para interpretação e crítica da sociedade capitalista. Não obstante, trata-se de um texto longo e denso. A obra é composta por três livros divididos em cinco volumes. Vale lembrar ainda que apenas o Primeiro Livro foi publicado por Marx, em 1867, os demais foram editados por Engels e publicados em 1885 e 1894, respectivamente.
Esta é reconhecidamente a obra fundamental de Marx, a qual ele dedicou a maior parte de sua vida para elaboração e a que melhor representa o seu pensamento maduro. Porém, é preciso destacar que não se trata de uma leitura rápida e simples. Sua interpretação exige dedicação e esforço que podem se arrastar por meses, anos e décadas. Por conseguinte, não são muitos os pesquisadores que se arriscam nessa difícil empreitada.
Uma das grandes dificuldades, reconhecida por diversos interpretes e pelo próprio Marx, reside na exposição abstrata da Primeira Seção, intitulada “Mercadoria e dinheiro”, e que compreende os três primeiros capítulos. Esta é considerada a parte mais difícil. Prova disto é que Marx a reelaborou sucessivas vezes. A exposição sobre o problema da interpretação teórica do dinheiro aparece em Contribuição à crítica da Economia Política de 1859, nos Grundrisse, e em O Capital. Na 2ª edição desta última, de 1872, edição revisada, Marx apresentou um posfácio, no qual demonstrou seu descontentamento com o texto original de 1867 e o modificou, suprimiu passagens, sempre buscando aprimorar a exposição, tornando-a mais acessível e compreensível. Todavia, as dificuldades persistiram.
É justamente sobre essa difícil e espinhosa Primeira Seção que o livro de Jadir Antunes se debruça. O autor vem estudando O Capital de Marx desde a sua graduação em Economia, concluída em 1999, passando por mestrado (2002) e doutorado (2005) em Filosofia. O livro Marx e o fetiche da mercadoria: contribuição à crítica da Metafísica é resultado destes 20 anos de estudos e pesquisas dedicados ao pensamento econômico e filosófico.
A proposta do livro de Antunes é desvendar o problema em torno da mercadoria dinheiro e, nessa empreitada, apresenta uma interpretação filosófica d´O Capital, demonstrando que a crítica de Marx não é apenas à Economia Política, mas, fundamentalmente, uma crítica à Metafísica. Como salienta o autor: “A crítica de Marx à Economia Política deve ser interpretada de maneira mais crítica, mais radical, mais ampla e filosófica como crítica da Metafísica Moderna, da Metafísica agora encarnada no mercado, na mercadoria e no dinheiro”. (2018, p. 17).
Ao longo de cinco capítulos, a interpretação de Antunes evidencia que a crítica que Marx apresenta em O Capital é uma crítica à Metafísica, ou melhor, aos poderes metafísicos que as relações capitalistas adquirem e se revelam desde a análise da mercadoria. A concepção de que o mundo industrial, racional e científico teria fechado as portas para as especulações metafísicas é rejeitada por Marx. No mundo em que a riqueza aparece na forma de mercadorias e dinheiro, a Metafísica não foi liquidada. Pelo contrário, a Metafísica apenas abandonou o terreno da religião e do pensamento para, sob o domínio da sociedade capitalista, reaparecer pela ação humana sob novas formas. Dessa forma, Antunes nos apresenta uma interpretação original e audaciosa.
Já no início da exposição, ao se discutir o duplo caráter da mercadoria, revela-se a realidade metafisicamente duplicada, invertida e cindida da mercadoria. Para além dos seus aspectos econômicos, materiais, sensíveis e concretos, a investigação sobre a Teoria do valor, apresenta as “tramoias Metafísicas” da mercadoria que arranca o pensamento do mundo visível e concreto, levando-o ao mundo de categorias abstratas e misteriosas. O valor é a realidade destituída de qualquer visibilidade, sensibilidade e naturalidade.
O valor de uso revela um o mundo sensível, material, concreto, da natureza perceptível. O valor de troca e o valor revelam o mundo inteligível, suprassensível, não natural, abstrato e não sensível. A Metafísica duplica essa realidade e a inverte, transformando o além e todos os conceitos suprassensíveis em princípios da realidade que explicam a realidade concreta. A Metafísica ainda autonomiza o mundo inteligível. Cria a ideia de que há um ente abstrato que governa toda a realidade concreta e material.
E assim, desde o duplo caráter da mercadoria, avançando pelo duplo caráter do trabalho, revelando a forma do valor, Antunes, seguindo a letra de Marx e cotejando as duas primeiras edições d´O Capital, avança até a forma dinheiro. Este é entendido como a superação das formas equivalente menos desenvolvidas, como aquele que deu ao mundo das formas relativas da riqueza a sua forma mais acabada.
O dinheiro, enquanto mercadoria das mercadorias, adquiriu poderes misteriosos e fantásticos. De acordo com Antunes: “O ente dinheiro instaura um cosmos no mundo do ente mercadoria, aparentemente ausente na forma geral e desdobrada de valor. O ente dinheiro instaura a vitória completa da Metafísica sobre o vivido, a phisis, a arte e o sensível”. (2018, p. 208). Antunes busca revelar que para Marx, o dinheiro é a expressão mais desenvolvida da Metafísica do capital.
Ao discutir o problema do fetiche, Marx, de acordo com Antunes, busca evidenciar que os homens têm uma relação dupla com o mundo. Ao longo de toda a exposição, o autor elucida que a realidade capitalista está divida sob uma dupla dimensão: a dimensão sensível e natural e a suprassensível e social. A mercadoria e o trabalho apresentam esta dupla e contraditória determinação. Com efeito, é deste caráter duplo, relativo, metafísico e contraditório que surge o fetiche.
O grande objetivo de Antunes em seu livro é demonstrar que O Capital de Marx é um estudo lógico, conceitual, abstrato e filosófico e, em certo sentido, Metafísico. Desta maneira, Marx não estaria interessado em apresentar um estudo empírico sobre o desenvolvimento do capitalismo, mas sim, em investigar e expor sua gênese lógica, ontológico e conceitual. Antunes busca demonstrar que para Marx, o dinheiro surge como resultado necessário e racional da própria mercadoria, como uma forma desenvolvida do ente mercadoria, como forma sensível e desdobrada da antítese entre valor de uso e valor contida no interior da forma mercadoria. O dinheiro aparece então como figura autonomizada e reificada do valor.
Na perspectiva apresentada por Antunes, a análise de Marx não pode ser inteiramente compreendida se resumida aos seus aspectos econômicos. É preciso trazer à superfície o seu conteúdo filosófico. Trata-se de desvendar o enigma da mercadoria e do dinheiro a partir do seu sentido filosófico e metafísico. Assim, a crítica à Economia Política é também uma crítica à Filosofia Metafísica. O livro se destaca por trazer à luz o problema filosófico que, muitas vezes, parece ser menosprezado. Nessa perspectiva, a obra apresentada por Antunes merece a atenção dos estudiosos de Marx. Trata-se de um livro que merece ser lido, discutido e comentado.
Carlos Prado – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Professor do curso de História da UFMS/FACH.
[DR]Mulheres/ Violência e Justiça no século XIX | Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues
Mulheres, Violência e Justiça no século XIX (2016) tem como objetivo introduzir os leitores a uma temática histórica inovadora e complexa. Resultado da tese de doutorado da historiadora Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues, o livro trabalha com questões de violências e justiça no cotidiano imperial, numa província pouco explorada pela economia na época e também pela historiografia, o Mato Grosso (1830-1889). A historiadora aborda em sua tese as convivências sociais e os múltiplos fatores que levavam essas violências (físicas e simbólicas) aos gêneros femininos e masculinos na região do sul do Mato Grosso durante o segundo período imperial. Para isso, Rodrigues utilizou de fontes diversas, incluindo inventários, documentos jurídicos e de viajantes para tentar compreender a complexidade cultural e social que a região possuía na época.
Como metodologia de análise histórica, a historiadora recorre à interdisciplinaridade acerca do conhecimento empírico e noções teórico/metodológicas de outras ciências (medicina legal, legislação) para compreensão, por exemplo, de violências sexuais. Ademais, enfatiza as relações de gêneros enquanto relações de poder exercidas pelas dominações masculinas, resistências e das próprias instituições legais como produtoras de formas específicas de poder (2016, p. 26). Leia Mais
rajetória educacional dos imigrantes alemães no interior do Estado de São Paulo – VAROLO (HE)
VAROLO, Flávia Renata da Silva; RIBEIRO, Arilda Ines Miranda; FELIX, José Luís. Trajetória educacional dos imigrantes alemães no interior do Estado de São Paulo. Uma escola alemã na colônia Riograndense: 1922-1938 (Maracaí/Cruzália-SP). Jundiaí: Paco Editorial, 2015. Resenha de: SAMPAIO, Thiago Henrique. Terra, educação e imigração: uma escola na colônia de alemães no interior do Estado de São Paulo. História & Ensino, Londrina, v. 23, n. 2, p. 243-247, jul./dez. 2017.
VAROLO Flávia Renata da Silva (Aut), RIBEIRO Arilda Ines Miranda ([Apres]), FELIX José Luís (Apres), Trajetória educacional dos imigrantes alemães no interior do Estado de São Paulo (T), Imigrantes alemães, SAMPAIO Thiago Henrique (Res), Colônia alemã riograndense, Escola alemã, Paco Editorial (E)
Quando estudamos movimentos migratórios, temos que entender as tentativas de implantação de uma cultura de imigrantes, em seus novos espaços de convívio, como uma forma de continuação das experiências de sua terra de origem. Dentro dessa perspectiva, a obra Trajetória educacional dos imigrantes alemães no interior do Estado de São Paulo apresentou um panorama da colônia Riograndense e sua escola alemã.
Na apresentação José Luís Felix, professor da Faculdade de Ciências e Letras (UNESP/Assis), salientou a importância do papel de um sistema escolar dentro da comunidade de imigrantes alemães no Brasil. Dessa forma, a história da escola da colônia Riograndense confunde-se com a trajetória da própria localidade. O recorte temporal apresentado na obra é de 1922 a 1938, na região dos municípios de Cruzália e Maracaí. O ano final da escolha da pesquisa deve-se à deterioração da Escola Alemã, durante o Estado Novo com suas medidas educacionais.
Na introdução, Flavia Renata da Silva Varolo, apresentou suas motivações ao escrever a obra e seu contato com a cultura e língua alemã durante sua trajetória de formação. Seu livro usou como metodologia a História Oral, articulando-se com a História Cultural, durante toda a obra. Suas fontes são fotografias, textos, e narrativas, dos moradores da colônia e pessoas que passaram pela Escola Alemã.
O livro é resultado de sua dissertação de Mestrado em Educação, A educação alemã na colônia Riograndense: 1922-1938 (Maracaí/Cruzália-SP) defendida, em 2010, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente (UNESP/Presidente Prudente).
No primeiro capítulo, O imigrante alemão no solo brasileiro, a autora mostrou o início da vinda dos alemães em território nacional. Isso era desencadeado por motivos como má distribuição de terras, problemas econômicos, e altos impostos, em suas localidades. Para a pesquisadora, o início do movimento migratório alemão para o Brasil começou com a vinda da família real portuguesa, em 1808, que trouxe alguns alemães em sua comitiva.
O aumento do fluxo da população alemã ao Brasil iniciou-se em 1820, com um decreto de D. João VI para incentivar a entrada de indivíduos europeus, com a finalidade de gerar o branqueamento da população do território. Entre 1822 a 1826, a vinda de alemães ganhou força com a Imperatriz Leopoldina, filha do imperador da Áustria, Francisco I.
No caso do Estado de São Paulo, a imigração alemã pode ser dividida em quatro fases: a primeira, de 1827 a 1849, devido a políticas imperiais adotadas no país; a segunda, de 1850 a 1870, acarretado às agitações sociais nos territórios alemães; a terceira, de 1870 a 1945, motivada por parcerias entre as administrações do estado com companhias; e a quarta, de 1945 aos dias de hoje. Na década de 1930, o fluxo de alemães se intensificou para o Estado devido a política de branqueamento adotado durante o Estado Novo.
Nas décadas de 1920 a 1930, a educação brasileira não penetrava nas grandes camadas populares, isso incluiu os imigrantes em território nacional. A educação pública era essencialmente aristocrática e patriarcal. Com o movimento da Escola Nova, buscou-se uma renovação escolar através do discurso progressista e liberal.
Durante a Era Vargas, aconteceram mudanças formais e substanciais na educação através de algumas medidas como a criação do Ministério da Educação e Saúde (1930), a Reforma Francisco Campos (1931), e a Reforma Gustavo Capanema (1942). Com uma pasta própria para assuntos educacionais, ocorreram a formação do Conselho Nacional de Educação, que buscou a organização do ensino superior, secundário e comercial; a organização da Universidade do Rio de Janeiro, e a adoção de medidas no regime universitário.
No capítulo seguinte, Uma colônia de alemães no interior do Estado de São Paulo, a autora tratou da formação da Colônia Riograndense, em 1922. A população da localidade era originária da Alemanha, Áustria, Suíça e de alemães que já estavam no Brasil e se mudaram para a região. Para escrever sobre a história da colônia foi utilizada documentação oficial, depoimentos e diários de habitantes. O nome da região origina-se da influência de colonos do Rio Grande do Sul.
Durante o início da colônia aconteceu propaganda para a vinda de alemães a área. Esse marketing era enganoso, pois divulgava terras planas e próprias para a agricultura. Ao chegarem na localidade, os colonos deveriam abrir matas para a construção de casas e cultivos. Além disso, a viagem da Alemanha para o Brasil era extremamente cansativa e penosa, principalmente para crianças e idosos. Muitos, que tentaram vir, morreram devido a problemas na viagem e causadas por tifo.
A colônia Riograndense passou por três núcleos de colonização: em 1922, na região central da localidade; em 1924, começou um segundo núcleo, formado por habitantes de maioria católica e com grandes propriedades; e em 1929, uma região de população majoritária de gaúchos em torno da Fazenda Galvão.
As mulheres e crianças ajudavam na derrubada de matas para a criação de áreas cultiváveis e habitacionais na colônia. A agricultura era de produtos de subsistência: mandioca, milho e feijão. Entretanto, a economia da colônia ganhou força com a comercialização de alfafa, produto ficou em alta até a década de 1950. Na década de 1960, a alfafa foi substituída pelo cultivo de trigo e soja. A localização da área colonial era de fácil acesso à estrada de ferro (Sorocabana), possibilitando um rápido escoamento de sua produção.
Católicos e luteranos conviviam na localidade. Desde o início do processo de colonização as igrejas eram construídas. Desta forma, fé e religião eram uma força para os colonos superarem as dificuldades das mudanças.
No último capítulo, A educação alemã na colônia rio-grandense: escolas, clubes e práticas culturais, a autora buscou demonstrar o papel primordial desempenhado pela educação no processo de inserção dos imigrantes alemães. A educação nas colônias, na maioria das vezes, era responsabilidade dos seus próprios moradores, que construíram escolas e contratavam professores devido à ausência de investimentos do Estado nas localidades. Na colônia Riograndense não foi diferente.
A Escola Alemã da colônia Riograndense era no meio rural e mista (meninos e meninas frequentavam). A primeira escola foi construída em madeira e após um incêndio, em 1926, uma nova escola foi inaugurada. No currículo escolar estavam presentes o catecismo, a bíblia, a escrita e a aritmética. O material didático era de língua alemã adaptada à realidade brasileira. Seu programa curricular era flexível e diversificado para o momento.
O professor possuía responsabilidades além da escola, como o desenvolvimento de atividades culturais e religiosas, além da importância econômica para a localidade. A manutenção do colégio ficou a cargo dos colonos (prédio e salário de professor).
Os espaços educacionais não se restringiram apenas à escola, pois os autores do livro demonstram que outros espaços sociais, como os clubes e igrejas, tinham importância na formação educacional das crianças e jovens, principalmente após a perseguição e preconceito a alemães, desencadeados após a Segunda Guerra Mundial.
Com a Reforma de Gustavo Capanema teve início o fim da escola, pois houve a implementação de escolas públicas na colônia Riograndense. Esta reforma colocou como obrigatória o ensino do português nas escolas públicas. O número de alunos da Escola Alemã diminuiu com o início das reformas educacionais do período do Estado Novo
Durante a Segunda Guerra Mundial, os habitantes da colônia sofreram com associação ao nazismo. Muitos imigrantes alemães foram perseguidos pela polícia, tiveram suas casas invadidas e alguns bens confiscados.
Com o passar do tempo, aprender alemão perdeu importância entre os colonos, pois começaram a se considerar integrados à sociedade brasileira. Este processo de aculturação da colônia foi movido por vários fatores, entre eles a Segunda Guerra Mundial, nacionalização do ensino e casamento de seus habitantes com pessoas de fora da colônia. Entretanto, micro-resistências dos habitantes se mantinham, como a preservação da língua dentro dos espaços do lar.
Em suas considerações finais, a autora salientou a relação construída dos imigrantes com a sociedade brasileira, como eram vistos por nós e como entendiam o Brasil. A colônia alicerceava-se na escola e na igreja, sendo o colégio um lugar de construção da cultura, da língua e cidadania.
Com a mudança de hábitos na colônia, ocorreram alterações também na Escola Alemã. Ela ficou responsável pela formação dos filhos dos colonos para a obtenção de postos de trabalho melhores que de seus pais. Entretanto, na medida em que se exportou mão de obra qualificada, se impôs um fim lento e gradual da colônia e, com isso, de sua escola.
A obra Trajetória educacional dos imigrantes alemães no Estado de São Paulo é ímpar ao mostrar o papel da educação como sinônimo de oportunidades a imigrantes em uma localidade nova. O livro aborda a coesão de um povo para a manutenção da sua cultura e de suas práticas sociais, distantes de sua pátria mãe. Com uma escrita agradável e esclarecedora, a autora faz o leitor analisar o papel da educação como algo fortalecedor de uma comunidade em prol da prosperidade coletiva e manutenção de suas raízes histórico-culturais.
Thiago Henrique Sampaio – Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História pela Faculdade de Ciências e Letras (UNESP/Assis).
Ritos da Oralidade: a tradição messiânica de protestantes no Regime Militar Brasileiro | Leandro A. Seawright
Desde 2016 os pesquisadores do protestantismo e dos protestantes no Brasil têm acesso à obra de Leandro Seawright, lançada poucos meses após a defesa de sua Tese no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo – USP. Ritos da Oralidade: a tradição messiânica de protestantes no Regime Militar Brasileiro, publicada pela Paco Editorial, é fruto de vasta pesquisa produzida por um estudioso profundamente envolvido com o campo da temática. Seawright é um historiador dedicado aos estudos sobre a História das Religiões, ao Brasil República e à Teoria da História, bem como é um oralista. Desde as suas graduações se dedicou, portanto, à história do protestantismo brasileiro.
Resultado de trabalho intenso (a tese original tem mais de 800 páginas!), a presente obra se constituiu como fonte de muito aprendizado, principalmente por suas extensas e cuidadosas reflexões metodológicas e teóricas – proporcionando muitas informações sobre as relações entre os setores do protestantismo brasileiro com o Regime Militar. Leia Mais
A Morte da Tradição. A Ordem do Carmo e os Escravos da Santa contra o Império do Brasil (1850-1889) | Sandra Rita Molina
Ao longo das últimas três décadas, historiadores trataram o tema da escravidão com perspectivas que rediscutiram a atuação dos cativos dentro do regime escravista brasileiro, lançando luz sobre os diversos episódios em que a agência escrava se revelou crucial para entender o cotidiano, as formas de resistência e as vitórias (ou derrotas) desses personagens nos processos históricos do período colonial ou do Império do Brasil. Além do próprio ineditismo de tal abordagem, essa nova visão historiográfica desconstruiu a visão de que os escravos eram personagens sem vontade e totalmente submissos às vontades senhoriais.
Dentro dessa abordagem, autores como Maria Helena Machado, Sidney Chalhoub, Silvia Hunold Lara, Robert Slenes, Jaime Rodrigues, Beatriz Mamigonian, Keila Grinberg e Ricardo Salles, entre outros, descrevem como personagens subalternos atuavam em suas realidades, demonstrando um grande conhecimento de sua condição, abrindo a possibilidade de confrontá-la e, em muitos casos, reconstruí-la conforme suas vontades. Estamos falando de marinheiros, cativos urbanos, escravos de ganho, forros e famílias que ao longo de suas vidas construíram sua própria história. É dentro desse grupo de autores que Sandra Rita Molina se insere com uma obra baseada em extensa pesquisa.
Ao contrário dos outros autores citados, Sandra Rita Molina nos apresenta um mundo diferente e, até aqui, pouquíssimo analisado pela historiografia brasileira, que é a realidade dos escravos das ordens regulares, mais especificamente, dos escravos pertencentes aos Carmelitas Calçados. Esse novo mundo é explorado através das “relações desenvolvidas entre os frades e seus escravos em meio a um contexto de repressão legislativa empreendida pelo Estado Imperial” (p. 22). Dessa forma, a autora apresenta ao longo de seu trabalho uma tentativa de aproximação dos debates historiográficos sobre o abolicionismo e o debate em torno das relações entre Estado e Igreja, examinando qual é o lugar do clero regular dentro da esfera política e quais foram as alianças realizadas nesse processo.
Como não poderia deixar de ser, além do forte diálogo com a historiografia em torno da condição escrava e do abolicionismo, Molina apresenta grande contribuição para o debate em torno da questão da Igreja no Brasil ao contradizer a visão de que a Igreja era um espaço homogêneo e sem rupturas, uma instituição pura e injustiçada pelos desmandos do poder temporal. Molina também apresenta uma leitura alternativa às interpretações historiográficas do CEHILA (Centro de Estudos da História da Igreja na América Latina) e até mesmo com de pesquisas acadêmicas recentes. Ao contrário da maioria dos estudos disponíveis, a autora reconstitui o mundo das ordens regulares focando não apenas na perseguição da igreja pelo Estado e a consequente submissão eclesiástica aos decretos imperiais, mas sim nas relações, barganhas e atitudes cotidianas dos frades da Ordem com as diversas instâncias do Império, da própria Igreja e com a comunidade leiga.
Molina apresenta seu argumento em quatro capítulos bem estruturados e que impressionam pelo minucioso trabalho de pesquisa. O primeiro capítulo (“O mundo entre os muros do convento”) nos apresenta um importante panorama da vida dentro do claustro e da vivência com a sociedade que orbitava em torno desses prédios. O panorama permite que o leitor apreenda as estratégias religiosas para construir resistência às pressões externas, manter privilégios e governar a ordem como um todo. A relação das ordens regulares com o Estado Imperial sobressai no capítulo. Molina faz todo um percurso expositivo para que o leitor entenda a situação dessas ordens no século 19, apontando as diversas medidas que a Coroa tomou para a supressão das instituições religiosas, com um interesse especial para as que detinham grandes patrimônios, como o caso dos próprios Carmelitas Calçados e dos Beneditinos. Apesar da perseguição, são notórias as estratégias das ordens para fugir à investida, utilizando algumas vezes a própria estrutura e o discurso do Estado Imperial a seu favor (p. 88).
O capítulo 2 (“Uma Gomorra na Corte. Como o Estado imperial deveria agir com o clero regular?”) apresenta o outro lado da história, a perspectiva do Império no processo de supressão das ordens. Ao longo desse capítulo, o leitor se depara constantemente com as diversas revisões da legislação e das decisões políticas do Estado para conseguir seu objetivo máximo, que é a tomada do patrimônio das ordens regulares. As estratégias são as mais variadas. Incluem denúncias de desmoralização do clero, visto que para o Governo Imperial “a decadência e a ineficiência testemunharam que as Ordens traíram um pacto tradicional entre o Estado e estas Corporações, que previa atuação de benevolência e educação religiosa da população” (p. 120); e até medidas de controle dos bens dessas instituições, através de listagens, censos e regras para a celebração de contratos sobre esses bens. O capítulo também permite que o leitor tenha visão ampla sobre os bens eclesiásticos. Além dos imóveis conventuais e dos imóveis dentro dos centros urbanos, os maiores bens carmelitas eram as fazendas e os escravos sob sua tutela. Para protegê-los, garantindo que o Império não os incorporassem, os religiosos empregavam estratagemas como a realização de contratos de arrendamento das propriedades rurais e dos respectivos escravos.
O capítulo 3 (“Honestas estratégias: o Carmo reorganizando seu patrimônio em função da sua sobrevivência”) nos faz mergulhar ainda mais nas ações dos religiosos para conseguir a manutenção dos bens da ordem, seus privilégios e, consequentemente, a sobrevivência de um modo de viver. Nesse capítulo, aparece um elemento crucial na resistência dos religiosos às investidas do Estado imperial: a comunidade leiga. Desde o período colonial, as ordens religiosas gozaram de grande prestígio frente à comunidade leiga, não sendo incomum o fato de Câmaras Municipais solicitarem a instalação de conventos de franciscanos, carmelitas ou beneditinos em suas respectivas cidades. O cenário não muda ao longo do 19. Mesmo perante todos os problemas relacionados às medidas restritivas do Império e, em alguns setores, as constantes críticas à moralidade do clero regular, a cumplicidade entre leigos e clérigos é ferramenta poderosa para os frades. As relações, porém, eram de via dupla. No jogo de apoio recíproco, proprietários leigos acabavam recebendo o benefício de celebrar contratos com as ordens e usufruir das propriedades ou dos cativos da Santa.
O capítulo 4 (“Frades feitores e os escravos da Santa”) centra a sua discussão na relação dos frades com os cativos. Os momentos de convivência pacífica entre uns e outros eram frutos de várias concessões aos cativos por meio de práticas cotidianas que chegavam a ignorar os ordenamentos do Capítulo Provincial (p. 265). Um exemplo notável do espaço de autonomia concedido aos escravos é o caso de fazendas como a de Capão Alto em Castro no Paraná. Referências apontam que “essa fazenda ficou mais de setenta anos sob a administração direta e livre dos escravos” (p. 272/273). Obviamente, a autonomia se dava após “longos períodos de construção de cumplicidade em um mesmo espaço” (p. 266).
A autonomia dos cativos podia ser afetada com arrendamentos, cada vez mais comuns, devido a contexto de repressão à Ordem somada à carência de braços na lavoura depois do fim do tráfico negreiro transatlântico. Nesse contexto, a autora traz outra importante contribuição para a historiografia acerca da escravidão, especificamente ao pensarmos nas estratégias empreendidas pelos cativos para conseguirem fazer valer seus interesses. Alguns autores, como Lucilene Reginaldo e Antônia Aparecida Quintão, que tratam sobre a religiosidade negra e abordam em suas obras a questão da relação com os santos patronos das irmandades religiosas, apontam que eram comuns os irmãos dessas associações criarem uma aproximação ao nível de parentesco com o patrono. No caso dos escravos da Santa, essa lógica reaparece, mas transformada devido aos interesses dos cativos. Dentro de suas experiências, “incorporaram a ideia de que os frades eram apenas uma espécie de feitores e de qualquer decisão afetando seu cotidiano, deveria partir diretamente de sua senhora, que, no caso, era uma Santa” (p. 277), conseguindo dessa forma um forte argumento frente à opinião pública para conseguir seus objetivos. Do outro lado desse jogo, os frades detinham interesse em manter uma relação amistosa com seus cativos, pois essa era uma forma consistente de fruir seus privilégios tanto dentro como fora dos conventos. “Este processo colocou em muitos momentos escravos e senhores do mesmo lado, procurando impedir o fim do mundo que conheciam”, observa Molina nas considerações finais de seu trabalho.
A morte da tradição traz elementos complexos que contribuem para as diversas correntes da historiografia brasileira sobre a escravidão e igreja no Império do Brasil. O livro não apenas se soma à narrativa da história social que entende os escravos como personagens cujas lutas são peça-chave no quebra-cabeça que é o escravismo no Brasil. Explorando tópicos como autonomia escrava, estratégias clericais para manutenção de privilégios e ramificações das relações sociais de ambos os grupos, A morte da tradição ilumina o mundo clerical de uma maneira que as macro-análises da relação Estado-Igreja não conseguem capturar.
Rafael José Barbi – Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Guarulhos – SP, Brasil. E-mail: [email protected]
MOLINA, Sandra Rita. A Morte da Tradição. A Ordem do Carmo e os Escravos da Santa contra o Império do Brasil (1850-1889). Jundiaí/SP: Paco Editorial, 2016. Resenha de: BARBI, Rafael José. Catolicismo, escravidão e a resistência ao Império: Um outro olhar. Almanack, Guarulhos, n.15, p. 366-370, jan./abr., 2017.
Acessar publicação original [DR]
O problema da crise capitalista em O Capital de Marx – BENOIT; ANTUNES (EL)
BENOIT, Hector; ANTUNES, Jadir. O problema da crise capitalista em O Capital de Marx. Jundiaí: Paco Editorial, 2016. Resenha de: PRADO, Carlos. Eleuthería, Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 88-90, dez. 2016/mai. 2017.
Em meados de 2008, as contradições da produção capitalista, muitas vezes escondidas e camufladas pela fumaça do crescimento econômico, vieram à tona com o pedido de concordata do Lehman Brothers. A notícia da quebra de um dos bancos mais importante do mundo abalou as estruturas do mercado. A crise que sempre parecia atingir apenas os países periféricos se instalou no centro do capitalismo mundial. A crise chegou em Wall Street. A quebra do Lehman Brothers foi apenas o estopim de uma crise que ainda se arrasta. Mais uma vez, as ilusões liberais que defendem o livre mercado e o Estado mínimo se desmanchavam no ar.
As esperanças liberais de que a economia se recuperaria rapidamente não se concretizaram. Pelo contrário, diante de medidas provisórias que não alteram a lógica produtiva capitalista, a crise persiste. A economia mundial segue apresentando baixos níveis de crescimento e a desaceleração da economia chinesa é um fator determinante nesse processo. O receituário burguês para a aceleração econômica continua sendo a implantação de políticas de austeridade, que culminam no aumento do desemprego, no arrocho salarial, no prolongamento da jornada de trabalho e no corte de programas sociais. Enfim, na busca de salvar a “economia”, os trabalhadores são os primeiros a sofrer com a ofensiva do capitalismo em crise.
É nesse cenário incerto e de questionamentos à lógica da produção capitalista que a obra de Marx mostra mais uma vez sua vitalidade e atualidade. A crítica à economia política realizada em O Capital é indispensável para se pensar a realidade capitalista, suas contradições e sua superação. E é justamente esse o objetivo do livro de Hector Benoit e Jadir Antunes: O problema da crise capitalista em O Capital de Marx. Em primeiro lugar, temos que dizer que o conceito de crise é um dos principais problemas tratado pelos marxistas ao longo do século XX. E mesmo diante de uma vastíssima produção acerca da questão, o texto de Benoit e Antunes consegue apresentar uma análise original, realmente inovadora e inspiradora, pois lança luz em uma problemática cada dia mais atual e urgente, principalmente para pensarmos a transformação da atual sociedade.
O livro que é o objeto dessa resenha foi lançado pela primeira vez em 2009, no rastro do surgimento da crise. O título era O movimento dialético do conceito de crise em O capital de Karl Marx. Mas não foi apenas o título que se alterou, segundo os autores, o texto passou por uma revisão e ampliação, tornando-se mais sintético e assumindo uma forma definitiva. Nessa nova edição, o livro também conta com um prefácio escrito por Benoit que apresenta o cenário no qual essa problemática foi pensada e também com uma apresentação assinada pelo professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, do Instituto de Economia da Unicamp. Esses dois textos contribuem para enriquecer ainda mais essa nova edição.
O problema em torno das crises já foi objeto de investigação de diversos estudiosos marxistas. Contudo, a questão permanece sem uma conceituação que seja amplamente aceita. Não se chegou a um veredicto sobre esse tema. Muitos autores investigam esse conceito buscando encontrar uma passagem na obra de Marx onde ele apresentasse a “causa” das crises. É por meio dessa noção de causalidade de base empirista que autores clássicos como Kaustky, Luxemburgo, Hilferding, Grossman, Sweezy, Mandel, entre outros, apresentam a questão. Assim, a chave para entender a crise seria identificar a sua causa primeira. Nesse debate, alguns defendem que a causa seria a desproporção entre o departamento produtor de meios de produção e o departamento de meios de subsistência, outros falam da lei da queda tendencial da taxa de lucro e outros ainda lançam a ideia de que a causa é a superprodução.
Mandel foi um dos autores que se dedicou a essa problemática e lançou uma nova luz à questão quando questionou essas teorias monocausais, apresentando uma concepção multicausal, ou seja, apresentando uma teoria que englobava as diversas causas em um único movimento, estabelecendo assim, um encadeamento multicausal. A contribuição de Mandel foi relevante, mas ele também permaneceu preso à noção empirista de “causa”. E é aqui que podemos destacar a produção de Benoit e Antunes, pois a teoria lançada por eles rompe com essa concepção empírico-factual da crise. A proposta de ambos busca expor o conceito de crise a partir da dialética expositiva de O Capital, a partir do seu modo de exposição (die Darstellungsweise).
Essa leitura também rompe com a tese defendida por Rosdolsky, de que Marx não deixou uma teoria sobre as crises, de que essa seria uma lacuna em sua obra. Para Benoit e Antunes, Marx deixou sim uma teoria sobre as crises. A questão é que ela não se desenvolve em um capítulo determinado ou passagem específica de O Capital, pois é desenvolvida ao longo de todos os três tomos desta obra, exposta juntamente com o conceito de capital. Os autores defendem que Marx não abandonou a ideia de elaborar o conceito de crise, ele o fez em todo o percurso dialético-expositivo de O Capital. Nessa concepção, tal conceito aparece enquanto possibilidade ainda no Livro Primeiro, desde o primeiro capítulo, quando se trata da mercadoria e da contradição entre valor de uso e valor. A crise já está ali enquanto pressuposto.
Os autores não estão buscando as manifestações empíricas da crise, mas o seu conceito. E tal desenvolvimento conceitual é encontrado a partir da dialética. Abandona-se a noção de causalidade e se apresenta a noção de modo de exposição. Não se trata de uma visão fragmentada, mas de conjunto, pois o conceito de crise é apresentado ao lado do próprio conceito de capital, a partir da própria mercadoria.
O livro está dividido em três capítulos que representam os três tomos de O Capital e os três grandes momentos da exposição dialética. O primeiro capítulo apresenta uma análise das contradições potenciais e abstratas do capital na esfera da produção de mais-valia. No segundo capítulo se investiga essas contradições na esfera da circulação. Somente no terceiro capítulo, quando se avança para o livro terceiro, é que se realiza a conversão das possibilidades formais e abstratas de crise em realidade.
Vale destacar que a perspectiva apresentada por Benoit e Antunes não é apenas dialética, mas, também, revolucionária. Compreendem que junto com o desenvolvimento dos conceitos de capital e de crise também está o desenvolvimento das classes em luta. Os autores não se esquecem do permanente conflito irreconciliável entre capital e trabalho. Ele não está ausente, mas presente, desde o início. Assim, abre-se um caminho para o desenvolvimento de um projeto político de superação do capital, justamente a partir do conceito de crise. Afinal, a crise é o momento em que as contradições encobertas do capital se revelam e a luta de classes emerge na cena política de forma mais clara. A crise significa a abertura de um novo caminho para a construção de uma alternativa para além da sociedade produtora de mercadorias.
A partir dessa análise surge uma mudança substancial na interpretação do problema das crises em Marx. Ao deixar de lado a perspectiva empirista e causal e desenvolver o conceito de crise a partir do modo de exposição, a obra de Benoit e Antunes se mostra extremamente original e significa uma importante inovação na investigação dessa problemática. Trata-se, sem dúvida, de uma contribuição original e que merece ser discutida e analisada por todos os interessados no trabalho de superação do estado de coisas dado.
Carlos Prado – Universidade Federal Fluminense (UFF).
[DR]
Colonialismo, território e territorialidade: a luta pela terra dos Guarani e Kaiowa em Mato Grosso do Sul | Thiago Leandro Cavalcante
Sem deixar de dialogar com outros campos do saber, Thiago Leandro Vieira Cavalcante construiu sua formação acadêmica essencialmente dentro da disciplina de História. Paranaense radicado em Dourados (MS) desde o início de seu mestrado em 2006, seus estudos abarcam as áreas de História e Antropologia, com ênfase em História Indígena e Etnologia Indígena. Atualmente é professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e pesquisador da Cátedra UNESCO “Diversidade Cultural” na mesma instituição.
Cavalcante faz parte de um rol de novos pesquisadores que, com o auxílio da perspectiva metodológica da etno-história, têm produzido trabalhos que se somam na composição da historiografia Guarani e Kaiowa2 de Mato Grosso do Sul. O seu engajamento fica visível em seu texto. Contudo, os argumentos que apresenta estão fundamentados em uma vasta documentação e na pesquisa etnográfica, o que permite perceber que engajamento e a pesquisa acadêmica não são excludentes per si. Algo particularmente importante no contexto sul-mato-grossense, estado onde as tensões entre as populações guarani e kaiowa e os grupos ligados ao agronegócio tem se intensificado nos últimos anos. Leia Mais
A cosmologia construída de fora: a relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII – FELIPPE (RBH)
FELIPPE, Guilherme Galhegos. A cosmologia construída de fora: a relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2014. 376p. Resenha de: BASQUES JÚNIOR, Messias Moreira. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.36,, n.71, jan./abr. 2016.
O livro A cosmologia construída de fora foi originalmente escrito como tese de doutorado e recebeu o Prêmio Capes na área de História em 2014. Trata-se de uma importante contribuição à história e à etnologia indígena das Terras Baixas da América do Sul, pois se baseia em uma aproximação bem-sucedida entre pesquisas antropológicas e um extenso corpo documental referente às práticas e concepções de povos chaquenhos e às suas relações com o outro no século XVIII: afins e inimigos, missionários e invasores europeus. O livro tem o mérito de abordar uma região pouco estudada pela antropologia brasileira: o Grande Chaco, uma das principais regiões geográficas da América do Sul e que constitui zona de transição entre a planície da bacia amazônica, a planície argentina e a zona subandina.2 A análise de registros produzidos por observadores civis e religiosos ao longo do século XVIII evidencia o contraste entre o discurso europeu, centrado na denúncia da barbárie e da inconstância que caracterizariam os nativos, e o modo propriamente indígena de responder ao avanço colonial. Felippe examina três aspectos da cosmologia chaquenha: a guerra, a reciprocidade, e o regime de produção e consumo alimentar. O fio condutor da análise é a mitologia desses povos, aqui entendida como fonte de conhecimento sobre o pensamento ameríndio.
Desde o título até suas páginas finais, o livro demonstra a fertilidade da proposição levistraussiana a respeito da importância da “abertura ao outro” no pensamento ameríndio e nos modos pelos quais esses povos costumam se situar diante da alteridade. Segundo Anne-Christine (Taylor, 2011), essa característica foi desde cedo detectada por Claude Lévi-Strauss, como mostram os dois artigos por ele publicados no ano de 1943 e que estabeleciam “o aspecto sociologicamente produtivo da guerra vista como forma de vínculo … e a primazia da afinidade no universo social dos índios, a primazia da relação com o não-idêntico sobre as ligações de consanguinidade ou, mais exatamente, de identidade” (Taylor, 2011, p.83). O tema da “abertura ao outro” inspirou profundamente os autores mobilizados por Felippe em seu diálogo com a antropologia e, sobretudo, com a etnologia amazonista. Inserindo-se nessa tradição, Felippe apresenta uma descrição histórica e etnográfica que corrobora uma tendência recente da antropologia chaquenha de acentuar as ressonâncias entre os povos da região e aqueles da Amazônia. Retomando o clássico artigo de (Seeger et al., 1979), alguns autores têm defendido a existência de um “pacote amazônico” (Londoño Sulkin, 2012, p.10) cujos componentes também estariam presentes no Grande Chaco e dentre os quais se destacam: o foco no corpo humano e seus elementos como matriz primária de significado social e a existência de um cosmos perspectivista que se encontraria mediado por relações com alteridades perigosas e potencialmente fecundas (Echeverri, 2013, p.41).
O primeiro capítulo trata dos mitos indígenas como construção da realidade, partindo de uma reflexão teórica acerca das diferenças entre o conhecimento objetivo e subjetivo, bem como das concepções de natureza e cultura que fundamentavam o cotidiano e os conhecimentos dos povos chaquenhos no século XVIII. Apesar da grande variedade de versões registradas nas fontes documentais, pode-se notar que, quando tomadas em conjunto, as narrativas míticas refletem problemas similares, como o tema da origem da humanidade e dos animais a partir de uma mesma constituição ontológica, de um fundo comum marcado pela comunicação interespecífica e pela partilha de subjetividade e da capacidade de agência. Felippe descreve como a absorção de ele- mentos exógenos era o eixo do pensamento indígena e, nesse sentido, as transformações criativas que se podem observar na mitologia desses povos revelariam a sua forma de refletir e de responder aos “brancos”, ora incorporando, ora recusando elementos do cristianismo, bem como os objetos, animais, atividades e tecnologias trazidos pelos europeus.
No segundo capítulo, a guerra aparece como meio por excelência para a internalização do outro e como produtora de relações entre diferentes sociedades e no interior de cada uma delas. Nas palavras do autor, a guerra chaquenha era diametralmente oposta à guerra praticada pelos europeus, pois “não se fundamentava na extinção do inimigo, nem na busca pela paz. Era, em realidade, o método mais eficaz de estabelecer relações e, consequentemente, movimentar o meio social” (Felippe, 2014, p.121). O modelo utilizado na análise da guerra chaquenha é “amazônico” e se apoia nas teorias da “economia simbólica da alteridade” (Viveiros de Castro, 1993) e da “predação familiarizante” (Fausto, 1997). A hipótese, em suma, é a de que em ambas as regiões encontraríamos “economias que predam e se apropriam de algo fora dos limites do grupo para produzir pessoas dentro dele” (Fausto, 1999, p.266-267).
Esse capítulo oferece um sólido contraponto às teses que defendem a ocorrência de escravidão – e o uso desse conceito na análise das práticas de apresamento – entre os ameríndios (cf. Santos-Granero, 2009), pois Felippe demonstra que “ao grupo vencedor interessava capturar pessoas e levá-las à sua aldeia como cativos de guerra, porém sem a intenção de mantê-los prisioneiros ou fazer deles escravos” (2014, p.175). Isto é, os cativos de guerra não eram con- vertidos em mercadorias e não viviam sob a lógica de uma objetificação de caráter utilitário: “se havia algum acúmulo era de relações sociais, e não de bens” (p.213). O mesmo pode ser dito acerca dos frequentes roubos e assaltos entre os povos da região e, sobretudo, contra reduções jesuíticas, cidades e vilarejos, práticas estas que lhes permitiam a obtenção de montaria, de armas e de bebidas alcoólicas, e que serviriam para intensificar uma lógica preexistente de captura do outro. Em suma, as reduções e as rotas de comércio “proporcionaram aos índios vantagens materiais e estratégicas que acrescentavam elementos à dinâmica relacional nativa – ao invés de substituí-la” (p.141).
A economia indígena é o tema da última parte do livro. No terceiro capítulo, retrata-se o avanço colonial por meio da implantação de relações comerciais e da integração dos povos nativos ao sistema mercantil. Sem menosprezar a violência e as suas consequências, o autor argumenta que os chaquenhos não foram meramente integrados ao mercantilismo, já que são abundantes os relatos acerca do protagonismo indígena no que concerne à potencialização das relações de reciprocidade com outros povos por intermédio de sua participação no comércio e na circulação de mercadorias não indígenas. Não obstante os esforços dos jesuítas para incutir entre os indígenas o sentido da falta e o desejo pela produção de excedentes, Felippe nos mostra que os missionários repetidamente testemunharam o fracasso dessa “conversão” para uma economia de acumulação. Segundo o autor, os Jesuítas não mediram esforços para “introduzir nos índios a insegurança que os modernos tinham em relação ao futuro” (Felippe, 2014, p.305-306). No entanto, se a inconstância era a resposta indígena diante da obrigatoriedade da crença, a prodigalidade parece ter sido a sua contrapartida às ideias de contrato e previdência.
O quarto capítulo apresenta as razões de outra recusa: a não incorporação de métodos e técnicas do sistema econômico moderno, em especial, da agricultura como forma de produção de excedente e da domesticação de animais para reprodução. Inspirando-se em (Sahlins, 1994, p.163), Felippe procura de- monstrar que as razões dessa recusa não se resumiam a uma divergência de percepções ou aos limites do entendimento dos povos nativos, conforme alegavam os missionários e agentes burocráticos ou coloniais, pois “o problema não era empírico, nem tampouco prático: era cosmológico”. Daí os índios que optaram por ou foram cooptados a viver nos povoados missioneiros não terem se dedicado à domesticação de animais, tampouco demonstrado interesse pela manutenção do “stock de subsistência” oferecido nas haciendas. A recusa à domesticação seria, desse modo, o “efeito de uma impossibilidade”, pois “tudo se passa como se entre o amansamento dos animais autóctones passíveis de ser caçados e sua domesticação verdadeira havia um passo que os ameríndios sempre se recusaram a dar” (Descola, 2002, p.103, 107). A resiliência indígena frustrava os missionários, que denunciavam o fato de consumirem “com desordem o rebanho destinado a sua manutenção” (Fernández, 1779 apud Felippe, 2014, p.315) e de sua economia de produção alimentar se limitar ao consumo imediato, mesmo nos casos de povos horticultores.
A invasão europeia no Chaco e o avanço da empresa colonizadora provocaram grande movimentação de povos indígenas, bem como o seu decréscimo populacional e o extermínio de tribos marginais à área chaquenha. Diante das transformações por que passaram, não podemos negligenciar a distância que se impõe entre os modos de vida indígena pré e pós-conquista. Entretanto, há um inegável “ar de familiaridade” (Fausto, 1992, p.381) entre os relatos sobre os chaquenhos dos Setecentos analisados por Guilherme Galhegos Felippe e os povos que hoje se encontram nessa região, o que torna o seu livro leitura obrigatória para antropólogos e historiadores interessados no Grande Chaco e em suas ressonâncias com a história e a cultura dos povos indígenas das Terras Baixas da América do Sul.
Referências
DESCOLA, Philippe. Genealogia dos objetos e antropologia da objetivação. Horizontes Antropológicos, v.8, n.18, p.93-112, 2002. [ Links ]
ECHEVERRI, Juan Álvaro. La etnografía del Gran Chaco es amazónica, In: TOLA, F. et al. Gran Chaco. Ontologías, poder, afectividad. Buenos Aires: Asociación Civil Rumbo Sur, 2013, p.41-43. [ Links ]
FAUSTO, Carlos. A dialética da predação e da familiarização entre os Parakanã da Amazônia oriental: por uma teoria da guerra ameríndia. Tese (Doutorado) – PPGAS-Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Rio de Janeiro, 1997. [ Links ]
FAUSTO, Carlos. Fragmentos de História e Cultura Tupinambá: da etnologia como instrumento crítico de conhecimento etno-histórico. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.) História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.381-396. [ Links ]
_____. Da inimizade: forma e simbolismo da guerra indígena. In: NOVAES, Adauto (Ed.) A outra margem do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p.251-282. [ Links ]
LONDOÑO SULKIN, Carlos David. People of Substance: An Ethnography of Morality in the Colombian Amazon. Toronto: University of Toronto Press, 2012. [ Links ]
MITCHELL, Peter. Horse nations: The Worldwide Impact of the Horse on Indigenous Societies Post-1492. Oxford: Oxford University Press, 2015. [ Links ]
SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. [ Links ]
SANTOS-GRANERO, Fernando. Vital Enemies: Slavery, Predation and the Amerindian Political Economy of Life. Austin: University of Texas Press, 2009. [ Links ]
SEEGER, Anthony; DA MATTA, Roberto; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. Boletim do Museu Nacional, Rio de Janeiro, n.32, p.2-19, 1979. [ Links ]
TAYLOR, Anne-Christine. Dom Quixote na América: Claude Lévi-Strauss e a antropologia americanista. Sociologia & Antropologia, v.1, n.2, p.77-90, 2011. [ Links ]
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Alguns Aspectos da Afinidade no Dravidianato Amazônico. In: _____.; CUNHA, Manuela C. da (Org.) Amazônia: Etnologia e História Indígena. São Paulo: NHII/USP-Fapesp. p.149-210, 1993. [ Links ]
Notas
2A palavra “chaco” deriva do Quechua e significa “grande território de caça” (MITCHELL, 2015, p.15).
Messias Moreira Basques Júnior – Doutorando em Antropologia Social, PPGAS/Museu Nacional/UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: [email protected].
[IF]A cosmologia construída de fora: a relação com o outro como forma de produção social entre os grupos chaquenhos no século XVIII | Guilherme Galhegos Felippe
O trabalho ora resenhado, de autoria de Guilherme Galhegos Felippe, é fruto de uma pesquisa de doutorado defendida em 2014 no Programa de Pós-graduação em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). A pesquisa ganhou o Prêmio Capes de Tese em 2014 na área de História e foi publicada pela editora Paco Editorial, de Jundiaí, em São Paulo.
A pesquisa insere-se no campo da História Indígena e promove um profícuo diálogo entre as disciplinas de Antropologia e História para compreender o processo de colonização da região do Chaco2 na perspectiva dos nativos que habitavam esta região. Assim, o trabalho desafia-se a analisar um conjunto de fontes sobre os nativos do Chaco escritas, em sua maioria, pelos colonizadores e, por isso, sobrecarregadas de preconceitos em relação às culturas que descreviam. Leia Mais
Sociedade Civil. Ensaios históricos – DE PAULA; MENDONÇA (HP)
DE PAULA, Dilma Andrade; MENDONÇA, Sônia Regina de (Org.). Sociedade Civil. Ensaios históricos. Jundiaí: Paco Editorial, 2013. Resenha de: CARDOSO, Heloísa Helena Pacheco. A atualidade do pensamento de Antônio Gramsci para a historiografia contemporânea. História & Perspectivas, Uberlândia, v. 27, n. 51, 4 fev. 2015.
Acesso apenas pelo link original
A noção de propaganda e sua aplicação nos estudos clássicos. O caso dos imperadores romanos Septímio Severo e Caracal | Ana T. M. Gonçalves
Ana Teresa Marques Gonçalves é natural do Rio de Janeiro, cidade na qual nasceu em 1969. É graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre em História Social e doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente, é professora associada de História Antiga e Medieval na Universidade Federal de Goiás (UFG) e uma das mais importantes historiadoras e pesquisadoras acerca do período Severiano (II e III d.C.).
O livro, publicado em 2013 e composto por três capítulos, além da apresentação da obra, do prefácio, escrito pelo Prof. Dr. Norberto Luiz Guarinello e das considerações finais, tem por título “A noção de propaganda e sua aplicação nos estudos clássicos. O caso dos imperadores romanos Septímio Severo e Caracala”, e resulta da tese de doutoramento, pela USP, em História Econômica da referida autora. Ela busca mostrar, aos interessados na área de História Antiga e aos que desejam se deleitar com uma leitura objetiva e explicativa no que tange à História da Roma dos séculos II e III d.C., mais especificamente, como se deu o processo de afirmação dos dois primeiros imperadores Severianos (Septímio e seu filho, Caracala). Leia Mais
Entre a cruz e a foice: Dom Pedro Casaldáliga e a significação religiosa do Araguaia | Mairon Escorsi Valério
Dom Pedro Casaldáliga é, sem dúvida, uma das personagens mais importantes da história da Igreja Católica brasileira e do conflito entre a instituição e o regime autoritário que se instaurou no Brasil em abril de 1964. Adepto à Teologia da Libertação, o bispo catalão se tornou a personificação de um novo ideal de cristão católico; este assumiria um compromisso ético com a justiça social e com a promoção humana, visto que os dois objetivos seriam a antecipação do Reino de Deus na terra. Diante da radicalização vivida pelo país nas décadas de 1960-1970, o projeto político-pastoral da prelazia mato-grossense entrou em conflito com o plano de integração nacional fomentado pelo governo militar que buscava, através do desenvolvimento das grandes fazendas agropecuárias, colocar a região Centro-Oeste no mapa do capitalismo brasileiro.
Nascido no ano de 1928 em Balsareny, pequena cidade da província de Barcelona, o jovem religioso Claretiano chegou à São Félix do Araguaia em julho de 1968. Em pouco tempo, Casaldáliga se tornou a mais importante figura na defesa dos camponeses e indígenas contra os grandes latifundiários e o empreendedor da solidificação da presença do catolicismo na região. Após sua sagração episcopal, em 1971, ganhou ainda mais destaque pela radicalidade com que denunciava as injustiças e pelas inúmeras vezes em que esteve em risco iminente de ser expulso do país ou assassinado por pistoleiros da região a mando de grandes fazendeiros. Leia Mais
Um patrimônio em contendas: os bens jesuíticos e a magna questão dos dízimos no estado do Maranhão e Grão-Pará (1650-1750) | Raimundo M. Neves Neto
No centro histórico de Belém (PA), situa-se ainda hoje o imponente complexo arquitetônico de Santo Alexandre, obra paulatinamente erigida entre os séculos XVII e XVIII pelos padres da Companhia de Jesus. Em dissertação recentemente defendida (LOPES, 2013), analisei a forma com esses prédios (colégio e igreja) foi conscientemente incorporado à paisagem de poder do bairro que, à época colonial, era o mais destacado politicamente na cidade. Localizado entre os edifícios síntese do poderio instituído, essas construções jesuíticas tornaram-se, elas mesmas, um conjunto discursivo de afirmação da presença inaciana na Amazônia. Foram, e são, nesse sentido, a síntese material da ação missionária, incorporada em termos espaciais, volumétricos e decorativos.
A opulência da arquitetura dos discípulos de Santo Inácio de Loyola, todavia, mantém relação imediata todo o articulado mecanismo econômico da Missão do Maranhão, essencial para manutenção dos colégios e residências desses padres. É justamente essa dinâmica de produção e gerenciamento do patrimônio jesuítico o alvo de estudo do livro de Raimundo Moreira das Neves Neto, “Um patrimônio em contendas: os bens jesuíticos e a magna questão dos dízimos no estado do Maranhão e Grão-Pará (1650-1750)”, fruto de sua dissertação de mestrado no Programa de PósGraduação em História Social da Amazônia da Universidade Federal do Pará.
Produto de pesquisa acadêmica iniciada ainda em sua graduação em História, o livro se insere no necessário debate acerca das práticas econômicas dos jesuítas, tema que há tempos carece de investigações sistematizadas, tal como já indicava Serafim Leite (1953), um dos estudiosos com maior domínio na documentação histórica relativa aos padres inacianos. Preocupação historiográfica, por certo, adivinha das repetidas alusões presentes nesses documentos, nos quais colonos e autoridades coloniais reclamavam do poderio financeiro dos filhos de Loyola em terras amazônicas e, quiçá, do estado do Brasil.
Dividido em três capítulos, a obra de Neves Neto dá conta de pormenores da articulação administrativa e política dos jesuítas para construírem seu patrimônio no Maranhão e Grão-Pará, entre os anos de 1650 e 1750. No primeiro desses capítulos, o autor estabelece os parâmetros do modo jesuítico de acúmulo de bens materiais, ainda no século XVII. Trata de evidenciar as medidas iniciais dos padres para aquisição e aumento das fazendas – os núcleos de produção na Missão –, doações de terras, criação de animais, plantações, tanto na capitania do Maranhão, quanto na do Grão-Pará. Nessa seção do trabalho, essas fazendas, bem como os engenhos, são detidamente descritos em seu aparato material e organizacional. Mais do que isso, Neves Neto nos informa da estrutura hierarquizada da organização administrativa jesuítica, na qual havia padres com cargos específicos ao gerenciamento do patrimônio, os procuradores e os reitores dos colégios. Eram esses agentes os conhecedores da legislação colonial e dos potenciais benfeitores da Ordem, notadamente os moradores abastados da Colônia.
No capítulo 2, o debate recai sobre as atividades temporais dos padres da Companhia de Jesus. Essencialmente, essa questão se liga às práticas produtivas e de comércio desenvolvidas com os itens produzidos nas fazendas ou advindos das coletas das drogas do sertão. Essas atividades, por outro lado, possuíam privilégios, espécies de subsídios traduzidos em controle da mão-de-obra indígena e isenção de impostos, então denominados dízimos. Neves Neto explicita os números brutos dos produtos saídos dos portos de Belém, fornecendo dados quantitativos da circulação de mercadorias dentro do império português. Singular neste capítulo é observar o alcance da produção inaciana no mundo colonial, não apenas do ponto de vista da articulação dentro do Maranhão e Grão-Pará com as trocas entre os Colégios de São Luis e de Belém, mas também do que era exportado. Vislumbra-se, desse modo, a imperiosa necessidade de observar a relação local-global que enseja a ação jesuítica no mundo colonial, como já indicou Dauril Alden (1996).
Na última parte do livro, o historiador discute um ponto chave em estudos da economia jesuítica: os dízimos. Uma “grave questão”, como reitera Neves Neto, que diz respeito à relação da Ordem com a Coroa portuguesa, necessariamente ligadas pelo padroado régio. Para além de localizar o leitor em todas as dimensões que essa política esteve envolvida, o autor lança olhar sobre as filigranas das argumentações inacianas para exercer seus privilégios, principalmente diante das constantes oposições dos colonos. Se no capítulo anterior Neves Neto consegue dá conta do exercício produtivo da Companhia de Jesus, mostrando como ela executava suas atividades econômicas, nessa seção é desvelada a articulação efetuada pelos padres no manejo da legislação, imprescindível à legitimação de suas atividades temporais. Tais argumentos focalizavam no imperativo dessas práticas para o desenvolvimento efetivo do cotidiano missionário, ou seja, da evangelização. Do mesmo modo, é relevante a inserção dos discursos dos outros agentes, não religiosos, acerca do império econômico jesuítico, o que garante ao leitor a percepção da complexidade das relações no mundo colonial. Devo mencionar que as menções a essa rede de interpretações legais por parte dos jesuítas e colonos é presente em todo o texto de Neves Neto.
O livro aqui resenhado já é leitura obrigatória a quem deseja conhecer uma das dimensões do mundo jesuítico, a do seu patrimônio, lacuna que gradativamente vem sendo preenchida por obras de referência como esta, inedita para a Amazônia colonial. A rica documentação, associada com o excelente diálogo com a historiografia, fornece voz ao emudecimento apontado por Paulo de Assunção (2004) quanto se refere às análises sobre as práticas econômicas jesuíticas, provadas, em verdade, pela dispersão das fontes pertinentes ao assunto. Além disso, a pesquisa de Neves Neto permite o debate de período ainda pouco visitado pela historiografia amazônica, o século XVII e primeira metade do XVIII.
A leitura do trabalho aqui resenhado, ainda em seu formato de dissertação, também propiciou à minha pesquisa de mestrado a observação das particularidades da produção dos bens materiais jesuíticos. O meu foco na conformação de suas edificações, analisadas em conjunto, no bairro central da Belém colonial, não poderia estar desvinculada do entendimento da dinâmica própria a essa Ordem religiosa no que diz respeito à conformação de seu patrimônio. A gama de cultura material produzida pelos inacianos, considerando o contexto apontado por Neves Neto, é inteligível dentro da perspectiva da relação ativa que há entre sociedade e objetos (LIMA, 2011). Sinteticamente, um dos esforços dos jesuítas estava na conformação de bases materiais para consolidação da ação expansionista de fé católica, associada à política mercantil, nesse caso portuguesa. Desse modo, as paredes do Colégio e Igreja dos inacianos em Belém, tal como em outras partes do mundo, são a dimensão concreta das relações sociais do mundo colonial (LIMA, 2011; LOPES, 2013).
Referências
ALDEN, Dauril. The Making of an Enterprise: The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750. Stanford: Stanford University Press, 1996.
ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios Jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.
LEITE, Serafim. Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil: 15000 a 1552. Lisboa/Rio de Janeiro: Edições Brotéria/Civilização Brasileira, 1953.
LIMA, Tânia Andade de. Cultura material: a dimensão concreta das relações sociais. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Humanas, v.6(1), p.11-23, 2011.
LOPES, Rhuan Carlos dos Santos. “Melhor sítio da terra”: Colégio e Igreja dos jesuítas e a paisagem da Belém do Grão-Pará, Um estudo de arqueologia da arquitetura. 2013. Dissertação de Mestrado (Antropologia) – Universidade Federal do Pará.
Rhuan Carlos dos Santos Lopes – Discente de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará (PPGA/UFPA). E-mail: [email protected]
NEVES NETO, Raimundo Moreira das. Um patrimônio em contendas: os bens jesuíticos e a magna questão dos dízimos no estado do Maranhão e Grão-Pará (1650-1750). Jundiaí: Paco Editorial, 2013. Resenha de: LOPES, Rhuan Carlos dos Santos. Aedos. Porto Alegre, v.6, n.14, p.151-154, jan./jul., 2014. Acessar publicação original [DR]
Linguagem, cultura e conhecimento histórico: ideias, movimentos, obras e autores | Diogo Roiz da Silva
Diogo da Silva Roiz é mestre em História pela Unesp de Franca- SP e Doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e tem se dedicado à produção de textos na área de Teoria da História e Historiografia, autor de diversos artigos e livros na área. Na obra intitulada “Linguagem, cultura e conhecimento histórico: ideias, movimentos, obras e autores”, Diogo Roiz nos apresenta seis capítulos, divididos em duas partes. Na primeira delas, intitulada “História e Literatura”, destaca os debates teóricos em torno de tal questão, sobretudo no que tange ao período pós-1960, posteriormente à denominada “virada linguística”, mostrando como os historiadores procuraram responder às críticas efetuadas pelas obras de Friedrich Nietzsche, Hayden White, entre outros. Na segunda parte da obra, “Literatura e História”, Roiz exibe algumas possibilidades de empreender um estudo utilizando fontes literárias, mostrando o quanto elas podem ser prósperas para a pesquisa histórica.
O que é instigante no trabalho é o fato de o autor fazer alguns importantes questionamentos, tais como, “De que maneira os historiadores se posicionaram, quando, a partir dos anos 1960, se tornou mais corriqueira a evidência de uma relação ambígua no campo dos estudos históricos, ao ser situado entre a ‘ciência histórica’ e a ‘arte narrativa’?”, ou então, “como as fontes literárias podem ser utilizadas na pesquisa histórica?” (ROIZ, 2012, p. 13). Leia Mais




