Posts com a Tag ‘BURKE Peter (Aut)’
A escola dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia | Peter Burke
O escritor Peter Burke é um historiador inglês, que trabalha com história cultural na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, é doutor pela Universidade de Oxford. Exerceu o cargo de docente na área de História das ideias na School of European Studies, na Universidade de Essex, lecionou ainda nas universidades Sussex (1962), Princeton (1967) e realizou trabalho como professor visitante no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA – USP) (1994- 1995). É autor de diversas obras, por exemplo, O que é história cultural? A escrita da história: novas perspectivas; Testemunha ocular: o uso de imagens como evidência histórica, entre outras produções. Leia Mais
O polímata: uma história cultural – De Leonardo da Vinci a Susan Sontag | Peter Burke
O polímata: uma história cultural de Leonardo da Vinci a Susan Sontag foi publicado, simultaneamente, no ano de 2020, em língua inglesa pela Yale University Press e em língua portuguesa pela Editora Unesp. Mais recente livro do historiador inglês Peter Burke – professor da Universidade de Cambridge e considerado um dos intelectuais mais conceituados a respeito da Idade Moderna europeia e da história cultural –, traz uma narrativa cativante que se destaca pela “erudição e clareza”, como descreveu o jornalista João Pombo Barile (2021), e por “seu caráter pedagógico”, como sugeriu a professora e escritora Carlota Boto (2021).
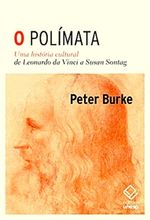
Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000 | Peter Burke
Em Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000, o historiador inglês Peter Burke retoma temáticas já aventadas em seus estudos anteriores, buscando discutir as contribuições de sujeitos exilados e expatriados para a história do conhecimento. Publicada em 2017 pela editora Unesp, a obra procura compreender os impactos sociais e culturais da migração em diferentes contextos, espaços e motivações. O autor – professor emérito da Universidade de Cambridge e autor de obras como Cultura popular na Idade Moderna: Europa, 1500-1800, A fabricação do rei: a construção da imagem pública de Luís XIV e Testemunha ocular – é reconhecido por suas pesquisas na área de História Moderna, História da Mídia e História Cultural. Em sua mais recente publicação no Brasil, o historiador parte de conceitos como trânsitos culturais, mediações, transculturação e hibridismo para compreender o local social desses sujeitos.
Apesar de reunir reflexões e conferências apresentadas pelo autor em diferentes momentos de sua carreira, o livro não é apenas uma obra motivada pela pesquisa acadêmica. Na apresentação da obra, o historiador destaca que muitas das questões levantadas e o foco nas noções de “exilados” e “expatriados” vieram de sua trajetória pessoal e de contatos durante a formação e atuação profissional com sujeitos que se identificavam com uma ou ambas as categorias. Apesar do recorte temporal e espacial bastante extenso – quase 500 anos de trajetórias de indivíduos migrantes –, a obra elenca temas centrais e algumas trajetórias em específico, focando nos sujeitos e em suas contribuições e/ou enfrentamentos muito mais do que na visão totalizante da história. Leia Mais
Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000 – BURKE (S-RH)
BURKE, Peter. Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, 1500-2000. São Paulo: Editora Unesp, 2017. Resenha de: SANTOS, Jair. O conhecimento sem pátria. SÆCULUM – Revista de História, João Pessoa, v. 25, n. 42, p. 222-226, jan./jun. 2020.
Todos os que acompanham a atualidade política sabem que um tema em particular está quase sempre presente no debate público, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos: a imigração. A polêmica discussão é animada não somente pelos jornalistas e atores políticos, com posicionamentos nem sempre apaziguadores, mas também pelos intelectuais. São inúmeros os acadêmicos – filósofos, historiadores, sociólogos, cientistas políticos, juristas – que tentam, através de uma análise mais serena e por meio dos instrumentos fornecidos pela ciência que professam, analisar a imigração como um fenômeno social complexo, com diferentes causas e diversas consequências para a sociedade. O último livro de Peter Burke, fruto de conferências proferidas na Historical Society of Israel em 2015, é um belo exemplo de como um historiador, de quem se costuma esperar apenas um olhar crítico sobre o passado, também pode enriquecer a reflexão acerca de problemas atuais. A obra Perdas e ganhos: exilados e expatriados na história do conhecimento na Europa e nas Américas, publicada em 2017, estuda um tipo específico de imigração: a dos intelectuais que deixaram seu país natal, de modo espontâneo ou forçado, e prosseguiram a sua produção intelectual em outras terras. A partir desse grupo seleto de imigrantes, o autor examina os efeitos do encontro – ou eventualmente do choque – entre duas culturas na produção e difusão do conhecimento. Este é o pressuposto central do livro: a imigração é um fato social de efeitos recíprocos, isto é, tanto os indivíduos que imigram quanto a sociedade estrangeira que os acolhe são de algum modo afetados e transformados pelo intercâmbio que se opera. Está claro, portanto, que o livro refuta o argumento, às vezes invocado em âmbito político, segundo o qual a influência estrangeira é necessariamente nociva para a cultura nacional. Leia Mais
Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico – AURELL et al (S-RH)
AURELL, Jaume; BALMACEDA, Catalina; BURKE, Peter; SOZA, Felipe. Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico. Madrid: Ediciones Akal, 2013, 494 p. SILVA, Wilton Carlos Lima da. Outras palavras: sobre manuais e historiografias¹. SÆCULUM – REVISTA DE HISTÓRIA [34]; João Pessoa, jan./jun. 2016.v
Entre minhas aventuras recentes se inclui uma tentativa de praticar exercícios e alongamentos através de aulas de Pilates, que resultaram ao mesmo tempo em uma rápida melhoria de minhas condições físicas de homem obeso e sedentário ao custo de algumas pequenas dores musculares e certas sequelas em minha autoestima – se a traição amorosa dói, no entanto pode ser relativizada pelas minhas particularidade e as do objeto do meu desejo, já a percepção de que seu próprio corpo está lhe traindo e que isso acontece porque somente você é o responsável dói o dobro. No entanto, em meio ao desconforto pela constatação de minhas limitações físicas e certo orgulho pela persistência estoica naquela atividade que expunha de forma inquestionável uma de minhas muitas limitações, uma sobrinha, que é fisioterapeuta, me consolou: “Pilates é assim. Se está fácil é porque você não está fazendo direito!”. Ensinar história, particularmente na universidade, é um desafio de mesma natureza e que poderia ser descrito de forma bastante semelhante – quando é feito de forma simples e fácil é porque não está sendo bem feito. A tensão entre as exigências de uma boa formação, as limitações de tempo e de recursos para a construção de um bom curso, os diferentes níveis de envolvimento e cognição dos alunos, a intensa e extensa produção historiográfica contemporânea, a acessibilidade limitada aos textos, as dificuldades de intercâmbios intelectuais, as tendências corporativas e de endogêneses teórico-metodológicas, a crescente especialização do trabalho docente, entre outros aspectos do ensino universitário, tornam o surgimento de bons manuais algo extremamente necessário e positivo. No caso brasileiro, o destaque confirmado pelas seguidas edições de Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia3, de 1997, e o surgimento de Novos domínios da História4, em 2012, ambos manuais organizados por Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas, entre outros exemplos possíveis, demonstra a importância desse tipo de publicação enquanto ferramenta de trabalho para professores e pesquisadores. Publicações semelhantes em outros idiomas oferecem uma vantagem a mais, além do mapeamento e da ordenação de natureza didática e expositiva de um campo amplo e múltiplo que qualquer historiografia dinâmica apresenta, a possibilidade do reconhecimento de convergências e divergências temáticas e teórico-metodológicas são um ganho difícil de desprezar. Nesse sentido, Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico é um livro com quatro autores, de três países distintos e diferentes especialidades, o que se traduz em um panorama historiográfico rico e diferenciado5. A ambição de se oferecer uma história da historiografia, pelo menos em língua inglesa, tem outros respeitáveis representantes recentes em distintas tradições intelectuais, como A History of Histories: epics, chronicles, romances and inquiries from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century (2007), um alentado volume de 553 páginas do historiador inglês John Burrow6, A global History of History (2011), outro volumoso livro, de 605 páginas, do professor anglo-canadense Daniel Woolf7, ou The Oxford History of historical writing (2011-2012) que é uma obra coletiva, em cinco volumes, que envolve uma infinidade de autores e editores distintos por volume8. Embora todas as três tenham méritos indiscutíveis nenhuma delas está livre de algumas críticas e questionamentos. O historiador inglês Keith Thomas fez uma elogiosa resenha do livro de Burrow, professor emérito de Oxford, na qual reconhece no autor, uma das maiores autoridades sobre a história intelectual dos séculos XVIII e XIX e, na obra, o resultado de um enorme esforço de erudição, com texto um muito agradável e repleto de observações agudas9.
Embora também assinale a existência de alguns pequenos equívocos só perceptíveis por especialistas, como por exemplo, a inclusão de somente duas mulheres entre os historiadores dignos de nota (Anna Commena, um princesa bizantina do século XII, e Natalie Zemon Davis, a autora norte-americana de O retorno de Martin Guerre10) ou seu escopo de análise limitado a historiadores da Europa e da América do Norte (particularmente os que escreveram em inglês ou estão disponíveis em tradução). Por sua vez o livro de Woolf, que já havia organizado A global Encyclopedia of historical writing11, de 1998, impressiona pela combinação de uma significativa erudição com um estilo agradável e didático, utilizando-se de mútuas referências entre textos e imagens, em um esforço de apresentação de uma abordagem claramente desvinculada da perspectiva eurocêntrica, e que em busca de uma perspectiva verdadeiramente global, ao longo de seus nove capítulos, valoriza escritos históricos da América do Sul, Coréia, Tailândia, Islândia, Tibete e Pérsia ao lado de outros da Antiguidade Greco-Romana, do Renascimento e do Iluminismo no Ocidente. Os dois últimos capítulos, inclusive, intitulados respectivamente “Clio’s empire: European historiography in Asia, the Americas and Africa” e “Babel’s tower: history in the Twentieth Century”, trazem duas questões extremamente interessantes: a questão da força e influência dos modelos intelectuais europeus na historiografia não europeia e a poliglosia do discurso historiográfico contemporâneo. Curiosamente, talvez como sintoma de nosso isolamento intelectual, quer pela questão idiomática quer por limitações da produção local, nas dezesseis páginas do índice onomástico da edição em inglês não existe nenhuma referência sobre a historiografia brasileira. Finalmente, a extensa obra financiada por Oxford tem uma clara preocupação em afirmar tanto a excelência acadêmica de sua equipe internacional de estudiosos quanto a ênfase na diversidade cultural. O volume 1, com 672 páginas, é organizado por Andrew Feldherr12 e Grant Hardy13, oferecendo ensaios de diversos autores sobre o desenvolvimento da escrita histórica a partir do antigo Oriente Próximo, da Grécia clássica, Roma, e do Leste e Sul da Ásia desde as suas origens até 600 d.C. O volume 2, também com 672 páginas, sob coordenação de Sarah Foot14 e Chase F. Robinson15 reúne vinte e oito especialistas que buscam apresentar a diversidade da escrita da história na Europa e na Ásia entre 400-1400, realçando tanto características regionais e culturais quanto abordagens temáticas e comparativas sobre gênero, guerra e religião, entre outros aspectos, que se fazem nos trabalhos de historiadores do período delimitado. O volume 3, com 752 páginas, é organizado por quatro especialistas, o argentino Jose Rabasa16, o japonês Masayuki Sato17, o italiano Edoardo Tortarolo18, e o canadense, já citado, Daniel Woolf19, abordando o período entre 1400 e 1800, em ordem geográfica de leste a oeste, da Ásia as Américas, com as principais contribuições da escrita da história no período. O volume 4, com 688 páginas e organizado pelo australiano Stuart MacIntyre20, Juan Maiguashca21 e Attila Pok22, apresenta ensaios sobre a historiografia no mundo entre 1800 e 1945, abordando um leque de culturas e países que se estende do pensamento histórico e da erudição europeia passando por Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, México, Brasil e América do Sul espanhola, além de China, Japão, Índia, Sudeste da Ásia, Turquia, o mundo árabe e da África Subsaariana. Finalmente, o último volume, de número 5, com 744 páginas e organizado pelo sinólogo Axel Schneider23 e pelo canadense Daniel Woolf, que também participou da organização de um dos volumes anteriores, apresenta um arco temporal que se estende de 1945 até os dias atuais, discutindo distintas abordagens teóricas e interdisciplinares para a história assim como buscando demarcar particularidades e similitudes entre historiografias nacionais e regionais. O diferencial de Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico, em contraste com as obras anteriormente citadas, segundo seus próprios autores, é que o time de quatro pesquisadores permite superar as limitações de formação de um único especialista (o caso dos trabalhos de Burrow e Woolf) ao mesmo tempo em que o número relativamente reduzido de colaboradores permite a articulação do texto enquanto um panorama mais articulado e menos semelhante a um jogral com temas estanques – o caso do manual de Oxford –, resultando em uma combinação específica de volume informacional e inteligibilidade do quadro panorâmico. A famosa frase de Gaston Bachelard, que compara o conhecimento a uma fraca lanterna que é utilizada para iluminar um grande sótão, de modo que iluminar um dos cantos do aposento é deixar boa parte dele na escuridão, é uma imagem recorrente para descrever toda obra de síntese. Assim como os três textos referenciados anteriormente apresentam problemas e soluções para o pesquisador ou docente interessado em ampliar ou compartilhar seus conhecimentos em uma perspectiva global da produção historiográfica, o mesmo se percebe no volume de Aurell, Balmaceda, Burke e Soza.
Esse trabalho, inclusive, apresenta mais duas particularidades, uma de dimensão geracional, pois Burke pode facilmente ser reconhecido como um autor consolidado em termos de tempo, extensão da obra e diversidade de temas, Aurell e Balmacera seriam autores de produção mais recente, com obras bem referenciadas, mas que ainda estão se constituindo, e Soza é um jovem pesquisador, e o foco linguístico cultural, pois o historiador inglês, casado com uma brasileira, tem tanto familiaridade com a tradição intelectual de língua inglesa e francesa, como também em português, e os demais autores, enquanto conhecem a historiografia europeia, também transitam pela produção de língua espanhola – entre outros aspectos isso permitiu, em contraste com algumas das obras citadas, que a produção espanhola e portuguesa aparecesse desde de a Idade Média e houvesse um capítulo específico sobre a América Latina (assim como outros dois sobre a historiografia chinesa e a árabe). O esforço em resgatar a prática da cultura historiográfica enquanto rede de relações que envolve produtores do conhecimento, seus receptores e os mecanismos de conservação e divulgação aproxima a estrutura do trabalho da obra clássica da história da literaturas Mimésis24 (1946), de Erich Auerbach, na qual a apresentação do cânone divide espaço com o incentivo a descoberta e a busca dos originais. Para isso, ao final de cada capítulo há um conjunto de indicações bibliográficas e comentários sobre as principais tendências teórico-metodológicas, os autores e as obras mais representativas de cada período. Em termos estruturais, os dois primeiros capítulos, sobre a antiguidade greco-romana (p. 09-94) ficam a cargo de Catalina Balmaceda; o terceiro capítulo, do período medieval (p. 95-142), é abordado por Jaume Aurell; os capítulos 4º, do Renascimento e a Ilustração (p. 143-182), e 5º, sobre historiografia islâmica e chinesa (p. 183-198), são escritos por Peter Burke; o 6º, sobre historicismo, romanticismo e positivismo (p. 199-236), o 7º, sobre a transição do século XIX ao XX (p. 237-286) e o 8º, sobre o giro linguístico e as histórias alternativas (p. 287- 340), são tratados por Jaume Aurell e Peter Burke; enquanto que o 9º e último capítulo (p. 341-437), sobre historiografia latino-americana, é assinado por Felipe Soza25. Além da oportunidade de entrar em contato com características das obras de autores pouco conhecidos na tradição intelectual brasileira, como os árabes Ibn Khaldun e Mustafa Naima, os chineses Sima Qian e Ouyang Xiu ou o indiano Ranajit Guha, o livro destaca-se pela síntese rica e ampla sobre a historiografia latino americana. Em geral os manuais enfrentam o desafio de equilibrarem-se entre a representação da extensão de um conhecimento sobre o qual se projetam e a síntese didática e acessível de um vasto campo de conhecimento, buscando oferecer um que o detalhismo do especialista. Com certeza todos os trabalhos aqui citados, e em especial, pelas particularidades anteriormente expressas, o livro Comprender el pasado: una historia de la escritura y el pensamiento histórico cumpre de forma exemplar tais ambições, merecendo inclusive uma tradução para o português. Quem ler, comprovará.
Notas
1 Este texto é resultado de um estágio de pesquisa realizado na Universidade de Sevilha, Espanha, entre janeiro e fevereiro de 2016, com bolsa do Programa de Movilidad de Profesores e Investigadores Brasil-España, da Fundación Carolina.
3 CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
4 CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Campus; Elsevier, 2012.
5 Jaume Aurell é Professor Titular de Historia Medieval e Teoria da História na Universidade de Navarra, Espanha; Catalina Balmaceda, professora de Historia Clássica do Instituto de Historia da Pontifícia Universidade Católica, Chile; Peter Burke, professor emérito da Universidade de Cambridge, Inglaterra; e Felipe Soza, professor adjunto do Instituto de Historia da Pontifícia Universidade Católica, Chile.
6 A obra foi traduzida para o português. Ver: BURROW, John. Uma História das Histórias: de Heródoto e Tucídides ao século XX. Tradução de Nana Vaz de Castro. Rio de Janeiro: Record, 2013.
7 A obra foi traduzida para o português. Ver: WOOLF, Daniel. Uma História global da História. Tradução de Caesar Souza. Petrópolis: Vozes, 2014.
8 FELDHERR, Andrew & HARDY, Grant (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 1: beginnings to AD 600. Oxford: Oxford University Press, 2011. FOOT, Sarah & ROBINSON, Chase F. (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 2: 400-1400. Oxford: Oxford University Press, 2011. RABASA, José; SATO, Masayuki; TORTAROLO, Edoardo & WOOLF, Daniel (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 3: 1400-1800. Oxford: Oxford University Press, 2011. MacINTYRE, Stuart; MAIGUASHCA, Juan & POK, Attila (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 4: 1800-1945. Oxford: Oxford University Press, 2011. SCHNEIDER, Axel & WOOLF, Daniel (orgs.). The Oxford History of historical writing – Volume 5: historical writing since 1945. Oxford: Oxford University Press, 2012.
9 THOMAS, Keith. “Mapping the world – a History of Histories: epics, chronicles, romances and inquiries, from Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century”. The Guardian, Londres, 15 dez. 2007. Disponível em: <http://www.theguardian.com/>. Acesso em: 20 out. 2015.
10 DAVIS, Natalie Zemon. O retorno de Martin Guerre. Tradução de Denise Bottmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
11 WOOLF, Daniel (org.). A global ecyclopedia of historical writing. Londres: Taylor & Francis; Nova York: Routledge, 1998.
12 Professor de Antiguidade Clássica na Universidade de Princenton, EUA.
13 Professor da História de Religiões na Universidade da Carolina do Norte, EUA.
14 Professora de História das Religiões na Universidade de Oxford, Reino Unido.
15 Professor da Universidade de Nova York, especializado em História islâmica.
16 Professor da Universidade de Harvard, EUA, especialista em literatura e estudos pós-coloniais. 17 Professor da área de Teoria da História e Historiografia da Universidade Yamanashi, Kyoto, Japão. 18 Professor de História Moderna e de Historiografia da Universidade de Turim, Itália. 19 Professor da Queen’s University, Kingston, Canadá. 20 Professor da Universidade de Melbourne, Austrália. 21 Professor especialista em História da América Latina da Universidade de York, Toronto, Canadá. 22 Professor da Academia Húngara de Ciências, Budapeste, Hungria. 23 Professor da Universidade de Gottingen, Alemanha.
24 AUERBACH, Erich. Mimésis: a representação da realidade na Literatura Ocidental. Tradução de G. B. Sperber. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015. 25 Sobre História e historiografia da/na América Latina, ver também: MAIGUASHCA, Juan. “História marxista latino-americana: nascimento, queda e ressurreição”. Almanack, São Paulo, UNIFESP, n. 7, mai. 2014, p. 95-116. Disponível em: <http://www.almanack.unifesp.br/>. Acesso em: 21 out. 2015.
Wilton Carlos Lima da Silva – Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Assis. Professor Livre-Docente do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP Assis. Coordenador do MEMENTO – Grupo de Pesquisa de Memórias, Trajetórias e Biografias (UNESP Assis/ Diretório CNPq). E-Mail: <wilton@ assis.unesp.br>.
https://periodicos.ufpb.br/index.php/srh/article/download/29242/15841
[MLPDB]Linguagens e comunidades nos primórdios da Idade Moderna – BURKE (Tempo)
BURKE, Peter. Linguagens e comunidades nos primórdios da Idade Moderna. São Paulo: Unesp, 2010. Resenha de: WEBER, Regina. Discussões preciosas, interlocutores ausentes. Tempo v.18 no.32 Niterói 2012.
Neste livro, que resulta de um conjunto de ensaios originados de palestras, publicado em inglês em 2004, mais uma vez Peter Burke desenvolve um tema com sua peculiar erudição, expondo inúmeras referências que embasam seus argumentos.1 O autor nos faz compreender, por exemplo, como o latim, a língua universal na época (cap. 2), mesmo sofrendo a competição dos vernáculos em cada país, teve uma sobrevida como língua dos círculos diplomáticos porque neutralizava a competição pela hegemonia cultural, principalmente por parte do italiano, do espanhol e do francês, até ser superado por este último como língua diplomática. Lançando mão de pesquisas linguísticas, ele situa o aumento do repertório dos vernáculos e ficamos sabendo das contribuições de Thomas More e Shakespeare para o inglês (cap. 3), e também que essa língua, até o século XVIII, possuía pouca expressão no mundo europeu continental (cap. 5), menor, em muitas regiões, que uma língua hoje desconhecida, o romanche. Se a contextualização da gênese de determinadas representações modernas não é a principal contribuição de Linguagens e comunidades, não deixa de ser importante conhecermos a origem da expressão “macarrônico”, designando modos de falar considerados grosseiros (p. 136 e 149).
A temática da linguagem não é nova na produção do autor, estando presente em várias coletâneas, a maior parte delas em parceria com Roy Porter e todas editadas no Brasil pela Editora da Unesp, não necessariamente na mesma ordem em que foram publicadas em inglês: História social da linguagem, Línguas e jargões: contribuições para uma história social da linguagem, e Linguagem, indivíduo e sociedade, acessível em português desde 1993. Recentemente, foi lançado e traduzido A tradução cultural, escrito em parceria com Ronnie Po-chia Hsia.
Burke tornou-se a principal referência em História Cultural, pelo menos para o público brasileiro, tendo mais obras publicadas em português que Roger Chartier, um dos autores que inspiraram as primeiras pesquisas em História Cultural em vários programas de pós-graduação em História do País.1 Burke tem demonstrado versatilidade, retomando temas que ele próprio já trabalhara e inserindo-os em discussões que se tornaram relevantes para os historiadores nas últimas décadas, tais como identidade coletiva, relações entre língua e política, unificação e pluralismo linguísticos. Antes dos acontecimentos do final do século XX, provavelmente não teriam muito significado para o leitor não especializado, particularmente aqui na América, termos frequentes nesse texto do autor, como “esloveno”, “eslavo”, “lituano”, “servo-croata”, Bósnia e Herzegovina. A referência à globalização era inevitável, permitindo a Burke afirmar que “a mistura de línguas em nível global começou séculos atrás” (p. 128).
Um importante debate contemporâneo, para o qual o autor encaminha a discussão, é o do nacionalismo, constituindo o último capítulo um epílogo sobre o tema “línguas e nações”, avançando no tema da “invenção” da nação e da “comunidade imaginada”, que, se não é tão novo (o livro de Benedict Anderson é de 1983), tem sofrido importantes desdobramentos. Participar de tais discussões parece ser o objetivo do autor, que, com seus “estudos sobre a história social da língua, com sua ênfase em múltiplas comunidades e identidades”, pretende questionar um “tipo de história nacional, ou até nacionalista” (p. 189). Não há dúvidas de que o livro traz importantes elementos para tais discussões, mas o que esta resenha tenta explorar é que Burke adentra o debate deixando de lado aprofundamentos críticos já em curso no campo dos estudos sobre o nacionalismo e em um campo que não comparece ao livro, o campo dos estudos étnicos, que tem estreita relação com o estudo de comunidades locais e regionais, sempre potenciais criadoras e veiculadores de falares específicos, o que é demonstrado com tanta riqueza em Linguagens e comunidades. Mas, considerandose as imensas contribuições de Peter Burke para o estudo do período denominado História Moderna, entende-se que, nessa obra, faltam interlocuções com as análises do processo de transição para a sociedade “moderna”.
Para a temática da formação dos Estados modernos, Burke agrega dados preciosos sobre o recuo de línguas que não foram padronizadas para uso administrativo e jurídico, destacando opapel das elites leigas e religiosas, de acadêmicos e de tipógrafos nesse processo (caps. 3 e 4). Ainda que aponte as relações entre “língua e política” (p. 91), só reconhece existir um processo de “nacionalização” da língua a partir do fim século XVIII (p. 183), no qual a escola, os exércitos e as ferrovias teriam seu papel. Nesse tema, seria oportuno um diálogo com as interpretações de Gellner, que demonstra que, na passagem da sociedade agrária para a sociedade industrial, tornou-se imprescindível um “meio de comunicação standartizado”,2 por meio de um sistema educacional nacional. Da mesma forma, interpretações como a de que “uma língua-padrão se adequava à lógica econômica da indústria da imprensa” (p. 108) poderiam vir acompanhadas de uma referência ao “capitalismo tipográfico” de Anderson.3 Tanto Gellner quanto Anderson interpretam o nacionalismo como um fenômeno da sociedade contemporânea, cuja emergência, por outro lado, deve ser buscada em um amplo período de tempo. Se os defensores da “purificação das línguas” contra a penetração dos termos estrangeiros (cap. 6) eram patrícios, professores e tipógrafos (p. 175), enquanto a elite era francófila, a xenofobia linguística dos séculos XVII e XVIII não poderia ser associada ao aparecimento de líderes de camadas médias com vocação nacionalista? A afirmação de Burke, de que não se tratava de um “nacionalismo linguístico no sentido moderno”, não exclui, em princípio, a hipótese de estarmos diante de manifestações precursoras de um nacionalismo.4
Na verdade, a análise dos fenômenos culturais desse período de transição poderia se beneficiar do diálogo com algumas interpretações do longo processo de transição para a moderna sociedade capitalista, especialmente do “absolutismo”. A leitura de Burke, de que estaria ocorrendo uma “defesa do território linguístico” (p. 172), não tem paralelo com a ideia de “Estado territoria“,5 processos políticos concomitantes ao processo cultural descrito em Linguagens e comunidades? Aqui também a resposta de Burke é negativa: ainda que considere “tentador” estabelecer um paralelo entre a centralização do governo e o controle da língua, prioriza fatores como “rivalidade entre França e Espanha no domínio linguístico” (p. 173) e motivos religiosos, chegando mesmo a cogitar uma interpretação psicanalítica para justificar a obsessão dos puristas com a pureza: eles se enquadrariam na categoria freudiana “anal-retentivos” (p. 174). Para criticar o emprego não apenas do termo “nacionalismo”, mas também de “protonacionalismo”, para a preocupação governamental com a língua, Burke (p. 180) opta pela expressão “estatismo”, traduzindo a preocupação dos governantes com um Estado forte (integração política), e não como uma nação unificada (integração cultural). Apoiados em vários autores, podemos questionar essa argumentação de Burke de que a integração política não implicava uma integração cultural.
Todo o livro Los inicios de la Europa moderna, de Van Dülmen segue uma argumentação da indissociabilidade dos empreendimentos políticos, econômicos e culturais na gestação do mundo moderno. A nova ordem estatal dos séculos XVI e XVII buscou regulamentar âmbitos diversos da sociedade, da economia ao mundo privado.6 Operou-se uma “revolução educativa”, mesmo que muitas escolas, particularmente da elite, continuassem a ensinar em latim. Para o autor, o crescente abandono do latim em favor do vernáculo, por parte dos literatos, revelava uma maior vinculação à “sociedade nacional”, à qual pertenciam e de onde extraíam os temas tratados.7 Ao se propor explicar a expulsão de judeus e mouros pela Espanha, entre os séculos XV e XVII, Braudel mostrou a religião ocupando uma função que seria da política no que tange à “unificação”: “A Espanha está no caminho da unidade política que só pode conceber, no século XVI, com uma unidade religiosa.”8 Compondo o conjunto de ações que Apostolidès denomina “projeto Colbert” para implantar uma nova imagem do soberano (Luís XIV), a Academia Francesa foi encarregada de oficializar a língua comum dos membros da nação,9 o que tem consonância com a interpretação de Mucheblend, de que o absolutismo não era apenas uma teoria do poder real prolongado por uma máquina administrativa, mas pretendia a criação de uma nova dinâmica cultural.10 Para Gellner, após um período de transição dominado pelo conflito, ocorre a unificação entre o Estado e a cultura, que caracteriza o nacionalismo.11
É oportuno lembrar que “estatismo” é o termo que Wallerstein emprega para descrever a ideologia do período de formação da economiamundo europeia baseada no modo de produção capitalista.12 As monarquias absolutistas, para se fortalecerem, além de burocratização, monopolização da força e criação de mecanismos de legitimação, promoveram a homogeneização cultural da população, o que explica a expulsão de judeus e estrangeiros de países onde florescia uma burguesia indígena.13 Operando-se com um enfoque de transição e incorporandose contribuições de vários campos históricos, argumentos que parecem contrapostos poderão ser vistos como complementares. Seria necessário, por outro lado, ter claro qual é esse “tipo” de “história nacional, ou até nacionalista”, que Burke entende estar contrapondo.
Quanto ao “problema da comunidade”, Burke o situa com clareza no Prólogo: o termo “parece implicar uma homogeneidade, uma fronteira e um consenso que simplesmente não são encontrados quando se realizam pesquisas básicas” (p. 21). Os estudiosos do tema da etnicidade, que apontam a complexidade das delimitações dos grupos étnicos, em contraposição à noção reificada de etnia ou raça para o senso comum, não teriam dificuldades em concordar com isso. Um dos grandes balizadores da moderna teoria da etnicidade, Fredrick Barth, destacou ocaráter móvel da fronteira étnica em texto de 1969.14 As distinções linguísticas às quais Burke se refere não dizem respeito unicamente a diferentes grupos étnicos, pois os “socioletos” (cap. 1) poderiam variar entre o campo e a cidade, entre homens e mulheres, conforme a hierarquia social, ou de acordo com grupos específicos dentro de uma mesma camada social (monges, acadêmicos ou nobres). Entretanto, os desenvolvimentos teóricos dos estudos étnicos auxiliariam a explicar muitos desses fenômenos.
Ao analisar como cada nação, região ou cidade elogiava sua própria língua e depreciava a dos vizinhos ou estrangeiros (cap. 3), Burke utiliza a expressão “narcisismo coletivo”, quando o fenômeno poderia ser interpretado como uma forma de “etnocentrismo”. Os recortes por bairros das “cidades poliglotas” (cap. 5) podiam ter uma configuração religiosa (huguenotes), mas também étnica (“Veneza com seus bairros gregos, judeus e eslavos”, p. 134).15 O emprego de uma teoria desenvolvida no estudo de fenômenos contemporâneos para interpretar manifestações de outras épocas, se, por um lado, acarreta o risco do anacronismo, por outro, na mão de um hábil historiador, pode transformar-se em um poderoso instrumento heurístico, como ocorre em História social da mídia, de Burke e Briggs.16 Ao chamar a atenção para a persistência das variedades linguísticas (p. 185), contrapondo-se a uma “história triunfalista”, Burke descreve inúmeros casos de resistências de linguagens regionais e locais, os quais permitem associações com estudos contemporâneos que mostram que identidades étnicas ora entram em conflito, ora convivem com as identidades nacionais, possibilitando aos indivíduos aquilo que os teóricos denominam “manipulação identitária”.17
O que se pode concluir é que Peter Burke realizou um esmerado trabalho de abordagem de um tema extremamente importante para várias áreas das ciências humanas, mas abriu pouco espaço a estudos que agregariam agudeza na interpretação do assunto. Contudo, é preciso ter claro que destacar essas ausências só faz sentido em um esforço de análise crítica, que, de resto, salienta alguns elementos de um conjunto amplo de sistematizações.
Ou seja, o que o leitor recebe do autor é bem mais vasto em relação àquilo que possa ser interpretado como uma falta. Por outro lado, esta resenha talvez esteja demandando mais diálogos com outros campos interdisciplinares (História Política, História Econômica, Antropologia) de um historiador que, justamente por seu trânsito por diversificados campos das ciências humanas, tem contribuído para renovar as frentes da pesquisa histórica.
1 Ronaldo Vaifas (História das mentalidades e história cultural. In: Domínios da história. Rio de Janeiro: Campus, 1997. p. 150), [ Links ] ao alinhar três correntes que tiveram influência na configuração da nova História Cultural, as vincula aos historiadores Carlo Ginzburg, Roger Chartier e Edward Thompson.
2 GELLNER, Ernest. Nações e nacionalismo. Lisboa: Gradiva, 1997. p. 58. [ Links ]
3 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 [1983]. p. 46. [ Links ] Burke faz uma breve menção à expressão no Epílogo (p. 183).
4 Analisando o cosmopolitismo na Prússia do século XVIII, René Pomeu mostra que, ao lado de uma corte francófona, foi se desenvolvendo em Berlim uma burguesia nacionalista, e, em várias cidades, foram fundadas sociedades de pensamento por uma classe média composta por pastores, médicos, livreiros, tudo contribuindo para o florescimento de um germanismo (POMEAU, René. La Europa de las luces. Cosmopolitismo y unidade europea en el siglo XVIII. México: Fondo de Cultura Económica, 1988 [1966] [ Links ]).
5 DÜLMEN, Richard Van. Los inicios de la Europa moderna 1550-1648. 4. ed. Madri: Siglo XXI, 1990 [1982] [ Links ].
6 Id. Ibid., p. 335.
7 Id. Ibid., p. 274 e 293.
8 BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrânico. Lisboa: Martins Fontes, 1984 [1966]. p. 187. [ Links ]
9 APOSTOLIDÈS, Jean-Marie. O rei-máquina: espetáculo e política no tempo de Luís XIV. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: EDUnB, 1993 [1981]. p. 30. [ Links ]
10 MUCHEMBLED, Robert. Société, cultures et mentalités dans la France moderne. XVe – XVIIIe siècle. 2. ed. Paris: Armand Colin, 1994 [1990]. p. 121. [ Links ]
11 GELLNER, Ernest. Op. cit., p. 66.
12 WALLERSTEIN, Immanuel. O sistema mun dial moderno. Porto: Afrontamento, [1974, ingl.]. v. 1. [ Links ]
13 Id. Ibid., p. 148.
14 BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2000. [ Links ]
15 Em um dos poucos momentos em que Burke se refere ao conceito, referindo-se à língua “etnicamente” pura (p. 158), o assunto não é desenvolvido.
16 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. [ Links ]
17 POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. São Paulo: Editora da Unesp, 1998. p. 168. [ Links ]
Regina Weber – Professora-doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
História y teoria social | Peter Burke
Historia y teoria social, de autoria de Peter Burke, é um livro que tem como objetivo principal discutir as aproximações e contribuições da teoria social para os historiadores, a utilidade da história para os teóricos sociais e as contribuições da história e da sociologia na produção do conhecimento do social.
A obra é dividida em seis capítulos. No primeiro encontram-se questões que perpassam as relações entre a história e a sociologia, as quais, segundo o autor, apesar do interesse comum – o estudo do social -, nem sempre foram boas vizinhas, pelo fato de que historiadores e sociólogos, dentro dos limites de suas concepções e do exercício de sua ciência, construíram visões estereotipadas. Historiadores questionam o caráter científico da prática dos sociólogos, alegando que estes não vão além de suposições genéricas, descontextualizadas no tempo e no espaço, apenas classificatórias dos indivíduos. Já os sociólogos falam do historiador como um profissional que coleta informações e faz uma exposição da história, sem embasamento em uma teoria ou método. Leia Mais
O que é história Cultural? | Peter Burke
O historiador Peter Burke é uma daquelas “figurinhas carimbadas” nas reflexões teóricas e historiográficas contemporâneas. Sua presença na academia brasileira é marcante e pode ser lembrada pela importância de sua produção intelectual quanto por sua freqüência em eventos acadêmicos no Brasil.
Interessa aqui recordar que os diversos trabalhos de Burke traduzidos para a língua portuguesa brasileira se constituem, via de regra, em sucessos editoriais. Neste “O que é História Cultural?”, aparecido na Inglaterra em 2004, Peter Burke trabalha para elaborar um texto de natureza introdutória a discussões já bem postas na historiografia brasileira: a história cultural, suas características e práticas. Leia Mais
O que é história cultural? | Peter Burke
O último livro de Peter Burke lançado no Brasil, O que é história cultural? (What is cultural history?, Cambridge: 2004), propõe uma pergunta que não é respondida, ao menos não conceitualmente como faria supor a natureza da interrogação que dá título ao livro. Apresenta, contudo, um vasto inventário de quanto se tem produzido sob a rubrica “história cultural” e descreve uma genealogia que principia com Burckhardt e chega aos primeiros anos do século XXI. Este é, certamente, um dos grandes valores do livro, que inclui no final do volume uma lista cronológica, de 1860 a 2003, de títulos e autores, a maioria dos quais é, ao menos sumariamente, resenhada ao longo dos seis capítulos do livro, que pretende, o mais possível, a exaustão inventariante de tudo que se possa unificar pela categoria “história cultural”. A exaustividade do ensaio é profícua, porque expõe uma série de estudos específicos que, além de indicar horizontes bibliográficos, consagrados ou não, pode abrir perspectivas e temas novos para não iniciados e estudantes de História. Leia Mais
Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot | Peter Burke
Resenhista
Raquel Ribeiro R. Castro – Mestranda em História pela Universidade Federal de Goiás. Professora de História no Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás e na Rede Municipal de Ensino de Goiânia.
Referências desta Resenha
BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. Resenha de: CASTRO, Raquel Ribeiro R. História social do conhecimento. História Revista. Goiânia, v.9, n.2, p. 341-344, jul./dez.2004. Acesso apenas pelo link original [DR]
O Renascimento italiano – cultura e sociedade na Itália | Peter Burke
Este livro observa as artes: pintura, escultura, arquitetura, música, literatura e conhecimento acadêmico da Itália, além de salientar aspectos gerais da cultura, dando denso embasamento teórico sobre o fenômeno para sua melhor compreensão. Dos aspectos culturais da época, ele se detém na economia; política; visões de mundo, do homem e da organização religiosa. Depois o autor faz uma breve comparação entre a Itália e os Países Baixos e Japão.
AS ARTES
O autor mostra que o Renascimento italiano tem como características básicas o realismo, o secularismo e o individualismo, além de um entusiasmo pela Antiguidade clássica. Os gêneros mais propagados na pintura eram os retratos, seguidos das paisagens e da natureza morta. Leia Mais
A escola dos Annales (1929-1989): A Revolução Francesa da historiografia – BURKE (VH)
BURKE, Peter. A escola dos Annales (1929-1989): A Revolução Francesa da historiografia. São Paulo: Editora da UNESP, 1992. REIS, José Carlos. Annales: a renovação da história. Ouro Preto: Editora da UFOP, 1996. Resenha de: LOPES, Marcos Antonio. Varia História, Belo Horizonte, v.14, n.19, p. 209-212, nov., 1998.
Dois livros tematicamente aparentados, e que quase se confundem pelo conteúdo de seus títulos. E as semelhanças não se esgotam nisso. A concepção geral das duas obras converge numa distribuição quase idêntica das matérias em análise. O período abordado e praticamente o mesmo. Os autores tencionam traçar um quadro amplo do desenvolvimento da chamada Escola dos Annales, desde os tempos de seus heréticos pais fundadores – pela explosão inovadora de suas idéias em meio a um ambiente intelectual conservador — Lucien Febvre e Marc Bloch, até o final da década de 80.
Na verdade, esta é a intenção maior de Burke e de Reis, que acabam por estender o que seria o projeto de uma história circunscrita dos Annales. Escrever uma história dos Annales partindo somente de seus fundadores seria fazer uma “história de pernas curtas”, como diria o próprio Lucien Febvre. Ao tentarem compreender o conteúdo “revolucionário” da história proposta por Febvre e Bloch, alargam o foco da pesquisa, descendo ao leito complexo do pensamento filosófico, da sociologia e da história, da forma corno eram concebidas estas disciplinas no século 19, o que Peter Burke chama – para esta última área – de “o Antigo Regime da historiografia”. Nesse percurso, Burke e Reis estabelecem as “genealogias”, febvriana e blochiana, identificando as raízes mais profundas das filiações teóricas e metodológicas dos fundadores, para explicar de que forma foram absorvidas e de que modo atuaram as influências recebidas em meio aos primeiros “debates e combates” travados na luta pela elaboração de uma história renovada.
Outra convergência dos textos: analisam as obras mais importantes, os maiores “monumentos” erguidos pelos Annales, como Os Reis Taumaturgos de Bloch, o problema da descrença (…) de Febvre, 0 Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo (…) de Braudel, Camponeses do Languedoc de Le Roy Ladurie, entre outros. Ambos percorrem as “três gerações” dos Annales, sendo que Reis pretende avançar este quadro, levando a pensar numa “Quarta geração” surgida do tournant critique de 1988.
Entretanto, apesar de algumas semelhanças de superfície, trata-se de textos acentuadamente distantes um do outro. Com efeito, as obras de Burke e Reis são ótimos exemplos de como pesquisadores que se debruçam sobre um mesmo objeto podem obter resultados desiguais, podem chegar a respostas convergentes ou divergentes, sem que necessariamente uma delas esteja incorreta ou deva ser refutada. Abandonadas as exageradas pretensões cientificistas na história, o que conta para um bom resultado da pesquisa é o seu “questionário”, ou seja, o programa do pesquisador, o grau de complexidade de suas perguntas, o amadurecirnento intelectual de seu projeto, como, a propósito, enfatiza Reis. Não que os dois trabalhos destoem quanto a qualidade e rigor, antes pelo contrário.
A diferença está em outra parte, isto é, no calibre da discussão, no fôlego e na disposição em discutir amplamente as matérias. Se os autores seguem um roteiro semelhante, corno foi ressaltado, existem sensíveis disparidades na estratégia de seu desenvolvimento. Não há dúvida de que o livro de Burke é mais leve, de leitura mais fácil, muito mais dinâmico e povoado de personagens que fizeram e ainda fazem a história da historiografia de nosso tempo. Por outro lado, o livro do professor Reis e mais te6rico, mais “sisudo”, e bem mais compacto. Acerca desse aspecto, vale ressaltar que aquilo que Burke discute em dois ou três parágrafos, de maneira quase alusiva, Reis desenvolve em diversas páginas. Para ficar em alguns poucos exemplos, basta comparar o tratamento que recebem as influências fecundas de Max Weber, Ernile Durkheirn, Frangois Simiand e Henri Berr. Em média, sete ou oito páginas de análise profunda de cada um!
Desse modo, seria o caso de indagar: em dois livros que têm propósito comum de informar sobre urna mesma questão, de onde vem o descompasso? A resposta para isso talvez possa ser encontrada no “espirito” de cada obra, na intenção de cada autor, naquilo que se refere ao público-alvo que eles tinham em mente corno destinatário de seus textos.
Ora, o livro de Peter Burke é quase urna obra de circunstancia, no sentido de se voltar claramente para o grande mercado editorial – no que, aliás, teve bastante êxito numa área em que, apesar da presença de alguns títulos consagrados, ainda há um considerável vazio de textos dessa natureza. Poder-se-ia objetar que o livro em questão foi publicado por urna editora universitária, preocupada em destinar obras de grande valor acadêmico para um público restrito. Contudo, a Editora da Unesp há anos já está inserida no circuito comercial das grandes editoras nacionais, desempenhando, diga-se de passagem, um papel brilhante.
Já o livro de Reis e extrato de tese, escrita para atender a uma rigorosa banca examinadora europeia, visto que seu trabalho foi defendido na Universidade Católica de Louvain, sem querer dizer com isto que as bancas nacionais sejam pouco rigorosas. E sobre este aspecto, o autor não se preocupou nem um pouco em “aliviar” o seu texto das necessárias mas sempre pouco agradáveis arestas acadêmicas, em destitui-lo de suas feições de tese, em esvazia-lo de pelo menos uma parte de sua densidade doutoral, premeditando atingir um público mais amplo, muito provavelmente desamparado de suficientes dados para digerir informações transmitidas num nível tão elevado. Limitou-se em nos conceder urna versão em português, incorporando as indigestas citações e refer8ncias bibliográficas no corpo do texto. Mas, pensando melhor, esta pode ser uma opção legitima do autor, que não faz concessões a certas “profanações”, igualmente legitimas, do grande mercado editorial. Se não conhecesse a história da obra, seus percalços e peripécias, teria sérias dúvidas de que editoras comerciais aceitassem publica-la, no formato corno se encontra pela Editora Universitária da UFOP.
Nesse ponto, a obra de Burke é mais feliz. Seu texto, sem a menor pretensão de desmerecer o livro, é material paradidático – com direito até a Glossário para aqueles que passaram por Francois Dosse, H. Coutau-Bergarie, Guy Bordé e Hervé Martin, sem esquecer o livro-dicionário organizado por Jacques Le Goff, Roger Chartier e Jacque Revel. Apesar de seu desenvolvimento quase telegráfico, ou melhor, o seu tratamento bastante ligeiro dos temas enfocados, o autor atinge seu principal objetivo: dar a conhecer o “regime” historiográfico que havia antes dos Annales, o impacto e a influência da obra de Febvre e de Bloch, a recepção internacional dos Annales, até fins dos anos 80, passando pelas “gerações” intermediarias em trajetórias breves mas muito bem tecidas, com destaque para a atuação e o lugar de Fernand Braudel.
E o que nos oferece o livro de Reis? o mesmo que a obra de Burke. Mas com analises mais extensas, o que não deixa de ser um importante diferencial. Um bom exemplo disso e o quadro que o autor traça sobre a “contaminação” da história pelas ciências sociais, e com vantagens sobre Burke, pois não se limita a estabelecer influencias e filiações te6ricas: explicita metódica e pormenorizadamente cada sistema teórico, para, ato continuo, identificar os seus pontos de enraizamento junto a história. Aí está com certeza, o seu maior mérito. Além de uma erudita exposição do desenvolvimento da historiografia francesa, o livro de Reis constitui-se ainda numa competente e bem informada aula de metodologia da história, posto que orienta sobre as especificidades da pesquisa histórica, suas dificuldades e riscos.
Apesar da identidade temática, de uma certa coincidência no desenvolvimento do texto, ‘bem como pela presença dos mesmos personagens e algumas referências bibliográficas cruzadas, as duas obras têm poucos traços em comum. Trata-se de pesquisas que chegam a resultados bem diferentes, porque desde seu ponto de partida perseguiram fins muito diversos. Acentua-se a disparidade principalmente porque são textos de níveis teóricos claramente distintos, o que para o leitor interessado nessa matéria e muito favorável: terá acesso a duas visões, a duas formas personalizadas de tratamento de um só problema. Mas, fora de qualquer dúvida, ao transformarem uma área importante da historiografia contemporânea em objeto de análise, tarefa sumamente espinhosa, cada trabalho desempenha com valor a sua meta: colaborar para a ampliação do conhecimento de um terna mais que relevante. Em síntese, dois livros inteligentes sobre uma questão a um só tempo complexa e fascinante.
Marcos Antonio Lopes – Departamento de História/ UNIOESTE-Pr.
[DR]


