Posts com a Tag ‘Cultura’
Existência e Resistências: História, Cultura e Sensibilidades/Cordis – Revista Eletrônica de História Social da Cidade/2023
A insurreição é da ordem da cólera e da alegria,
não da angústia ou do tédio.
Peter Pál Pelbart Leia Mais
Intrépidas entre Europa y Las Américas: Cultura/arte y política en equidade | Esmeralda Broullón Acuña
El libro editado y coordinado por la Dra. Esmeralda Broullón forma parte de un Proyecto de Investigación de la Red Internacional del CSIC sobre Cultura, arte y política: mujeres y naciones en el marco de conflictos políticos claves. Siglos XX y XXI. Asimismo ha sido desarrollado dentro del Grupo de Investigación denominado “Actores sociales, representaciones y prácticas políticas (ASOC)” de la Escuela de Estudios HispanoAmericanos (Instituto de Historia) de Sevilla. Se trata de un ingente trabajo de investigación que, en menos de 300 páginas, con un carácter interdisciplinar y universal, rescata del olvido a unas mujeres que, debido al androcentrismo imperante, han permanecido ocultas o en la sombra y ni siquiera en la letra chica (pequeña) de los manuales de Historia del Arte y de la Literatura. Pues siempre estudiamos a los “varones” de la generación del 27 u otras vanguardias, ninguneando a mujeres vanguardistas, intrépidas y rebeldes, por ejemplo el caso Concepción Méndez Cuesta, editora, escritora, nadadora, perseverante, intrépida y “viajera emancipada”, como ella escribía en una carta a Federico García Lorca, Concepción Méndez Cuesta, no tan conocida, al menos para mí, como su esposo el malagueño Manuel Altolaguirre. Por ello agradezco a la editora de este libro su excelente capítulo sobre el contexto socio-político y cultural en el que se movió esta polifacética mujer Leia Mais
Utopias latino-americanas: política, sociedade, cultura | Maria Ligia Coelho Prado
Maria Ligia Coelho Prado | Imagem: Revista Pesquisa
O livro Utopias latino-americanas: política, sociedade, cultura, publicado pela editora Contexto em 2021, constitui-se não apenas em uma valiosa contribuição aos estudos acadêmicos especializados, mas também em uma obra acessível a um público leitor mais amplo, interessado pela história da nossa região. É organizado pela historiadora Maria Ligia Coelho Prado, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.2 Prado, que iniciou a docência em História da América em 1975, é também uma das responsáveis por estruturar a área no Brasil, por meio da orientação de gerações de historiadores – hoje professores em diferentes instituições pelo país – e de sua participação na fundação e organização da Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de História das Américas (ANPHLAC), a qual presidiu entre 1998 e 2000.3 Foi coordenadora do Projeto Temático/Fapesp Cultura e Política nas Américas: Circulação de Ideias e Configuração de Identidades (séculos XIX e XX), cujas atividades se estenderam entre 2007 e 2011, e primeira coordenadora do Laboratório de Estudos de História das Américas (LEHA) do Departamento de História da USP, entre 2009 e 2012.4 É autora e coautora de diversos trabalhos, que se tornaram referência dentro da produção historiográfica brasileira acerca das Américas, aos quais se soma esta nova contribuição, idealizada para comemorar seu aniversário de 80 anos.
Percorrendo o sumário do livro, dois aspectos nos surpreendem. Em primeiro lugar, o grande número de pesquisadores que Maria Ligia Prado conseguiu reunir, espalhados por universidades brasileiras e estrangeiras. Em segundo lugar, a variedade de “utopias latino-americanas” contempladas na obra, distribuídas em cinco diferentes seções e em 22 capítulos, que fazem jus ao título escrito no plural. A preocupação com os projetos utópicos que tiveram lugar na América Latina articula os capítulos do livro, dando-lhe um fio condutor que percorre as suas páginas. As múltiplas utopias exploradas nas cinco seções colocam em cena numerosos personagens, conectando espaços e temporalidades, desde o século XIX até o nosso tempo presente. O Brasil aparece em diversos capítulos, seja em perspectiva comparada com outros países, seja dentro das reflexões a respeito dos projetos de integração da região. Leia Mais
Disputar la cultura: Arte y transformación social | Julieta Infantino
Julieta Infantino | Imagem: Scoopnest
Esta reseña realiza un recorrido por el texto “Disputar la cultura: Arte y transformación social en la Ciudad de Buenos Aires” publicado en el año 2019. El mismo está editado por Julieta Infantino y cuenta con ocho capítulos con aportes de ella misma y de Josefina Cingolani, Camila Mercado, Mariana Moyano, Verónica Tallelis, Maia Berzel y Ana Echeverría. Estas autoras tienen distintas inscripciones académicas en universidades de la ciudad de Buenos Aires y en sus cercanías y también cuentan con trayectorias de investigación en distintos espacios artísticos.
Este libro presenta algunas de las preguntas que, según la editora, se vienen dando en el campo de las artes y la transformación social. En ese sentido, los interrogantes de quienes trabajan en esos ámbitos se encuentran reflexionando sobre las posibilidades, limitaciones, disputas, conflictos y entramados políticos del arte como herramienta de transformación social. Leia Mais
80 anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial: aspectos políticos, econômicos, culturais e regionais | Revista Maracanan | 2022
Destroços de baleeira no litoral de Estância (SE), próximo ao local do ataque ao Baependi pelos submarinos alemães (1942) | Imagem: Agência O Globo
O ano de 2022 demarca oito décadas de uma importante efeméride da história do Brasil contemporâneo: a entrada do país na Segunda Guerra Mundial, em 22 de agosto de 1942, com a declaração de guerra aos países do Eixo. Embora tal participação tenha sido modesta quando comparada à empreendida pelas potências beligerantes daquele conflito mundial, ela foi, sem dúvida, relevante. A princípio, a política externa brasileira, durante os anos 1930, caracterizouse por uma “equidistância pragmática”, conforme definida por Gerson Moura. Significava que o governo Vargas havia evitado estabelecer alianças comerciais rígidas com qualquer uma das potências internacionais, em busca de, com isso, obter vantagens comerciais. Assim, poderia explorar as oportunidades econômicas trazidas pela disputa entre Alemanha e Estados Unidos por influência na América do Sul (MOURA, 1986, p. 28).
Esse direcionamento foi seguido mesmo após o início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, quando a nação brasileira optou pela neutralidade em relação a tal conflito. Contudo, o ataque japonês à base de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, e a consequente declaração de guerra dos Estados Unidos ao Eixo provocaram uma pressão norte-americana para que o Brasil estreitasse mais as relações com tal país e alterasse a linha de política externa que vinha então adotando. A partir daí, estabeleceram-se negociações entre as duas nações, que não foram fáceis, pois muitos dos integrantes do governo Vargas simpatizavam com o Eixo, como Góis Monteiro, chefe do Estado Maior, e Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra. Leia Mais
El tiempo domesticado/ Chile 1900-1950. Trabajo cultura y tiempo libre en la configuración de las identidades laborales. | Juan Carlos Yáñez Andrade
El tiempo domesticado, Chile 1900-1950. Trabajo, cultura y tiempo libre en la configuración de las identidades laborales posee como principal objetivo reconstruir aquellas experiencias ocurridas en la primera mitad del siglo XX chileno en torno al trabajo, sus formas, su organización y los diversos procesos del uso del tiempo de los trabajadores dentro y fuera de la fábrica. El libro advierte prontamente: “una nueva historia del trabajo no puede reducir lo social a lo popular o que conciba lo laboral restringido a las prácticas productivas y luchas sindicales. Los aspectos socioculturales, asociados a las luchas en torno al tiempo de trabajo y dimensiones afines, son un buen ejemplo de las opciones que se abren para una historia renovadora” (p. 23). Organizado en siete capítulos con propuestas diferentes pero en función de una lógica argumental, el texto tiene mérito desde el momento que enfoca el interés por retratar las identidades laborales desde un prisma y una perspectiva que no siempre han merecido consideración en la reconstrucción del pasado. Así, posa la mirada sobre las vivencias y subalternidades de un conjunto de sujetos entre quienes brota aquello que Geoff Eley ha llamado el espíritu insurgente. En simultáneo, la investigación cuenta con un eje transversal representado por el supuesto teórico que permite anteponer la indagación de la cultura como un escenario no prioritariamente de resistencias, sendero habilitado por la apropiación de ciertas premisas introducidas hace más de medio siglo por Denys Cuche en la etnología francesa. Leia Mais
Hablando de historia. Lo cotidiano/ las costumbres y la cultura | Pilar Gonzalbo Aizpuro
En esta ocasión, desde una postura didáctica, Pilar Gonzalbo Aizpuru decidió hablarnos sobre cómo estudiar la historia de la vida cotidiana y las muchas formas y caminos para hacerlo. Desde un inicio advierte claramente que no existe un solo método para llevar esta tarea a cabo. Lejos de dictar una cátedra o una serie de clases, la autora busca entablar un diálogo con el lector.
Es necesario destacar el origen de este volumen, que responde a su compromiso asumido en enero de 2018, como directora del seminario de Historia de la Vida Cotidiana, en un coloquio en el que se propuso mostrar las distintas formas en que se puede hacer historia de lo cotidiano. Como era previsible, estos espacios y tiempos fueron insuficientes ante la curiosidad de los asistentes y lectores, y, al concluir el encuentro, muchas preguntas quedaron sin responder. La respuesta a esas preguntas, clasificadas según su criterio, sirve para generar nuevas dudas e inquietudes que aviven la perspicacia y el interés por investigar, pues formulando preguntas es como se lleva a cabo una investigación en todos los ámbitos del conocimiento, y, en concreto, en la Historia. Leia Mais
Colour Matters: Essays on the Experiences/ Education/ and Pursuits of Black Youth | Carl E. James
Carl E. James | Imagem: Tweeter
Dr. Carl E. James (FRSC) is currently the Jean Augustine Chair in Education, Community and Diaspora in the Faculty of Education at York University. Over the past three decades, his scholarship has focused on the intersections of race, ethnicity, culture, language, and identity in the Canadian context. Dr. James’ essay collection entitled Colour Matters: Essays on the Experiences, Education, and Pursuits of Black Youth is a culmination of his research about Black Canadian youth.
A key feature of this collection is that James structures the chapters with a “Call and Response” style, a linguistic form originating in sub-Saharan Africa. James describes this as a conversation that is meant to provoke larger critical dialogues. Each chapter begins with a “Call” that is, an essay drawn on primary and secondary research conducted by James over the past two decades. The second part of the chapter is a “Response” from one of ten internationally recognized scholars from the United Kingdom, Canada, and the United States. This structure allows the reader to integrate new perspectives about each topic. Leia Mais
Press, power and culture in imperial Brazil | Hendrik Kraay, Celso Thomas Castilho e Teresa Cribelli
Teresa Cribelli | Imagem: University of Alabama
De forma bem-humorada, os organizadores deste livro incluíram no prefácio o comentário de um historiador-blogueiro ironizando o título que deram ao painel que deu origem à obra. O título era, em tradução livre para o português: “A hemeroteca digital brasileira e a pesquisa histórica: contexto, conteúdo e pesquisa em arquivos digitais”. Disse o maldoso comentarista que seria difícil até mesmo para um historiador ficar excitado diante da expectativa de assistir a três ou quatro apresentações sob esse título.
Talvez para o expectador de um país em que os recursos digitais estão avançadíssimos, a existência de uma hemeroteca como a da Biblioteca Nacional não seja um fato notável. Mas, quem, como a autora destas linhas, trabalhou com os periódicos da Independência usando aquelas carroças que são as máquinas de ler microfilme, sacrificando a vista diante das idas e vindas dos olhos da tela negra do filme para o papel branco em que fazia suas anotações, ergue a todo momento graças e louvores à hemeroteca da Biblioteca Nacional, cuja pane que a deixou fora do ar há poucos meses, apavorou o meio acadêmico. Leia Mais
América Latina no século XIX: cultura, política e sociedade | Revista Eletrônica da ANPHLAC | 2022
Vivemos um tempo em que as inquietações e demandas do presente parecem nos consumir, ou mesmo, nos devorar. Enfrentamos a maior pandemia dos últimos cem anos, aliada a um quadro de crise política em que imperam ameaças antidemocráticas e que está marcado por um crescente processo de destruição ambiental, pelo aumento visível da miséria e das desigualdades, pelos ataques constantes aos debates sobre as questões de gênero e pelo desmonte do investimento público em áreas tão fundamentais como a saúde, a educação, a cultura, a ciência e a tecnologia. Assim, voltar-se para o século XIX latinoamericano seria, então, algo demasiadamente distante e pouco atrativo?
A História, entretanto, nos ajuda a refletir com mais pertinência sobre esse presente por vezes tão complexo e incompreensível. Mesmo não sendo necessariamente a “mestra da vida”, como defendia o célebre orador romano Cícero, a História caminha conosco, de mãos dadas, nos apontando uma série de caminhos perigosos já percorridos por muitos que nos precederam, mas deixando também evidente que é possível ter esperança e seguir alentando alguma utopia. Quem estuda História sabe que ela é prenhe de rupturas, mudanças e transformações, mesmo que estas se deem, como dissera Marx em um de seus textos mais inspirados, não da maneira como querem os indivíduos. Não por acaso, é sempre vista com desconfiança pelos defensores do status quo e, mais que isso, como um perigo para os que acalentam projetos autoritários. Leia Mais
Na transversal do tempo: natureza e cultura à prova da história | Ana Carolina Barbosa Pereira
Na transversal do tempo: natureza e cultura à prova da história encara “o desafio de propor um diálogo entre a teoria da história e a etnologia” (Pereira, 2019, p. 24). Ana Carolina Barbosa Pereira, professora na Universidade Federal da Bahia, aponta de saída que “se a etnologia fala exclusivamente aos(às), etnólogos(as), a teoria da história tampouco apresenta disposição para ouvi-los(as)” (Pereira, 2019, p. 24). E se o diálogo entre esses campos já é inusual, as vozes que a autora convoca para travar a conversação não parecem menos estranhas umas às outras: de um lado, o perspectivismo ameríndio; do outro, o historicismo alemão.
A rigor, o que a obra enseja não é bem uma conversa, mas um jogo (de cartas); ou ainda, como sugere a autora, “uma séria e desafiadora brincadeira” (Pereira, 2019, p. 24). Não há melhor modo de compreender um jogo do que jogando-o; de experimentar a seriedade de uma brincadeira do que brincando-a. Pois bem: valendo!
Como colocar-se na transversal do tempo? Em relação a que tempo uma determinada história se poria na transversal? Ou, ao revés, em relação a que história um tempo determinado estaria na transversal? Como dar conta desses atravessamentos recíprocos? E o que se diz através dessa operação?
Antes de abordar essas questões – e como em qualquer jogo -, é preciso aceitar o conjunto de regras proposto. Elas são poucas, relativamente simples e têm o fito de seguir lance a lance o argumento do livro, que é dividido em três grandes partes. Na primeira, as cartas serão dispostas segundo seus naipes e viradas para cima, de modo a explicitarem quais delas conferem vantagem desleal (porque não relacional) a quem as mobiliza(r). A despeito dessa propriedade distintiva, do ponto de vista formal, não se distinguem das demais. Daí o título do capítulo: “Um jogo de cartas conceituais (não) marcadas”.
Isso feito, na segunda parte acompanhamos a autora “Embaralhando as cartas conceituais”. O propósito aqui é deixar manifesta que vantagem posicional permanente não é contingente, mas arbitrária e, do ponto de vista conceitual, uma impostura. Na língua dos jogos – e no jogo das línguas – dir-se-ia que se trata de mera convenção. Como tal, em tese e sem nenhum prejuízo à natureza da atividade, poderia ser repactuada pelos participantes.
A terceira e última parte é, por assim dizer, um pseudoamistoso: uma tentativa de demonstrar como poderia se dar a dinâmica do jogo – entre as categorias “cultura”, “tempo”, “natureza” e “história” – se a interação entre elas fosse conduzida segundo o design conceitual esboçado a partir de uma redistribuição das cartas conceituais, orientado pelo conjunto de reflexões elaboradas ao longo do livro.
CARTAS CONCEITUAIS (NÃO) MARCADAS: TELEOLOGIA FORMALISTA
A História como discurso acadêmico profissional repousa sobre um consenso disciplinar acerca da obsolescência conceitual de abordagens teórico-metodológicas à moda teleológica das chamadas “velhas filosofias da história”. No lugar delas, a historiografia desenvolveu um campo próprio de reflexões e o batizou com o substantivo mais afeito ao propósito de constituir a História como ciência social dotada de critérios específicos de positividade: teoria.
Nesse sentido, uma das tarefas fundantes da teoria da história é, efetivamente e como argumenta a autora, “esvaziar o conteúdo das filosofias da história” (Pereira, 2019, p. 21). O primeiro giro de pensamento exigido para pôr-se na transversal do tempo é depreender em que medida, apesar de ter seu conteúdo esvaziado na e pela teoria da história, o cerne conceitual das filosofias da história – a saber, seu caráter teleológico – segue formalmente ativo, ou seja, atua na forma da forma.
Repare: não se trata de dizer, como de hábito, que há discrepância ou desconformidade entre conteúdo e forma. Muito menos se trata de delinear aspectos que comprovariam quanto a forma escamoteia o conteúdo que traz a efeito. Ou, pior do que isso, de construir esse escamoteamento como condição sine qua non da própria relação entre forma e conteúdo da história. Não se trata, em suma, de supor que a teoria da história não pareça, não tenha a forma, não se apresente como teleológica, mas, na verdade, o seja. Na transversal do tempo, a teoria da história parece, tem a forma, se apresenta como teleológica… e o é.
Uma empreitada conceitual empenhada em demonstrar que algo não é outra coisa senão precisamente o que parece ser pode ver-se obrigada, ao menos provisoriamente, a conceder que alguma noção deve estar sendo empregada de maneira “controversa”. No caso de Na transversal do tempo, a “controvérsia” se dá com a noção de teleologia. Pereira (2019, p. 21) explica que “por teleologia se entende aqui o descompasso entre o desenvolvimento e a consciência deste mesmo desenvolvimento”.
O exercício desse descompasso é, sem tirar nem pôr, a marca patente do que – o mais tardar desde a célebre formulação de Jürgen Habermas (1988) – veio a ser batizado como “discurso filosófico da modernidade”. O inaugurador deste discurso? Hegel. “Controverso” é, pois, o inverso do adjetivo mais apropriado para insinuar a homologia entre os modos de pensar filosoficamente a modernidade e a inclinação às teleologias à la Hegel, isto é, indelevelmente finalistas, mas, dado seu assentamento no contingente, à prova da acusação de determinismos tacanhos.
Na transversal do tempo traça um dos percursos possíveis para entender essa trama no campo da teoria da história. Aqui, assinala dois pontos de inflexão. O primeiro, em Newton e sua mecânica clássica, responsável pela noção de espaço e tempo absolutos e verdadeiros em si mesmos (Pereira, 2019, p. 30). O segundo, na “revolução copernicana” de Kant, que atribuiu uma dupla natureza a esses pressupostos, de sorte a transmutá-los em “grandezas ontológicas e transcendentais” também do espírito: espaço e tempo transmutados em “formas puras da intuição sensível”, que se constituem como condição de possibilidade do conhecer e, nesse sentido, “conteriam, anteriormente a toda experiência, os princípios de suas relações” (Pereira, 2019, p. 31-32).
O caráter absoluto, contínuo e homogêneo do “tempo em si”, herdado das acepções newtoniana e kantiana, operará por dentro do discurso filosófico da modernidade até ganhar a forma do que Na transversal do tempo (se) apresenta como “continuum temporal.”
Aceitando a tese de que o germe filosófico que inaugura a modernidade é o pensar teleológico que deriva do investimento incessante em suprimir o descompasso entre o que já é (ou seria) e o que se é capaz de pensar que ainda é (ou venha a ser), pode-se dizer, acompanhando o argumento de Pereira, que, a partir dessa matriz, tudo quanto viermos a chamar de interpretação histórica “moderna” (a despeito de assumir a forma de teoria da história ou de historiografia) consistirá na diferenciação desse continuum através de um processo que ela denomina “dinâmica da insciência/consciência do tempo” (Pereira, 2019, p. 65).
A teoria da história de extração alemã será o campo de prova desta hipótese. Aqui, pensando com Manuela Carneiro da Cunha, a autora efetua uma “recuperação das cosmologias ocidentais como objeto de estudo antropológico” (Pereira, 2019, p. 208) e empreende uma densa análise cujo fito é delinear afinidades conceituais. Tais afinidades, para usar uma metáfora antropológica afim, funcionam como um verdadeiro deslinde das estruturas elementares de parentesco de dois dos mais importantes expoentes contemporâneos da teoria da história, Reinhart Koselleck e Jörn Rüsen – entre si e com seus conterrâneos e antecessores, a saber, Wilhelm Dilthey e Gustav Droysen -, num primeiro galho genealógico; e, em passado ainda mais recuado, os vínculos de todos com a filosofia de Kant, de Herder e de Hegel.
Visto nessa perspectiva, e parafraseando Lévi-Strauss ([1958] 2008, pp. 32 e 39), o “continuum temporal” faz as vezes da natureza enquanto a “consciência histórica”, tal qual a proibição do incesto, se apresenta como o ponto de passagem (ou mecanismo de articulação) entre natureza e cultura. Ou ainda, na mesma chave, o “continuum temporal”, do qual a etnóloga tentar se aproximar através da consideração de suas expressões mais ou menos conscientes, equivale a uma “condição inconsciente” (da teoria da história).
A partir de uma engenhosa reconstrução do arcabouço analítico de Reinhart Koselleck, cuja formulação mais célebre é a díade espaço de experiência/horizonte de expectativa, “arriscando uma síntese”, Pereira (2019, p. 78) conclui que “o conceito de ‘tempo histórico’ participa da Historik de Koselleck, ora como condição transcendental das histórias, ora como indicador do processo de tomada de consciência do tempo em si mesmo”. Submetendo o pensamento de Jörn Rüsen a escrutínio semelhante, a autora diagnostica, em sua “razão histórica”, outra variante deste movimento que vai da insciência à consciência do tempo.
Em suma, tanto um como o outro “concordam em relação ao essencial”, isto é, mantêm a prerrogativa de um continuum temporal “natural” que, diferenciado pela ação da consciência, faz emergir o tempo propriamente histórico. É esse o arranjo que Na transversal do tempo (se) apresenta correta e peremptoriamente como uma “teleologia formalista” (Pereira, 2019, p. 86): um tempo que faz as vezes de natureza (o continuum temporal), espécie de unidade originária ainda indiferenciada, é submetido à ação reflexiva do pensamento humano e, nesse processo, que pode ser também descrito como “desenvolvimento da consciência do tempo em si mesmo”, se transmuta em algo intencionalmente diferenciado e, nesse sentido, histórico. E é nessa forma que “consciência histórica” e “tempo histórico” passaram a ocupar um lugar irremovível não apenas na teoria, mas na ciência da história.
Por essa razão, como sugere Pedro Caldas (2004, p. 11), ao se considerar que “pensar historicamente é pensar teleologicamente”, não se está “ressuscitando um cadáver” conceitual. Muito pelo contrário. Vista Na transversal do tempo, esse tipo de “teleologia formalista” – constituída pela relação mimética entre tempo natural e tempo histórico ou consciência histórica – oferece régua e compasso para “esclarecer qual a finalidade do saber histórico, ou seja, […] explicitar seu método, seus limites, funções, normas” e, nesse sentido, representa “o esforço para o estabelecimento de uma autonomia do conhecimento histórico” (Caldas, 2004, p. 11).
“Teleologizar” pressuporia, portanto, manter a excepcionalidade relacional de categorias desenvolvidas a partir de uma experiência particular da consciência do tempo que, em sua própria consecução como cânone de um campo de saber, se projetou como imprescindível à “interpretação humana do tempo e consequente construção histórica de sentido” (Pereira, 2019, p. 21).
EMBARALHANDO AS CARTAS: FUTURO SEM DEVIR HISTÓRICO
O embaralhar de cartas tem como objetivo expandir a superfície de contato da contingência e, assim, aumentar o nível de dificuldade de controle de um jogo. Parte fundamental da arte de jogar cartas, aliás, consiste em dominar as formas de embaralhamento e, não menos, torná-las objeto de admiração e fascínio. Quem nunca terá visto algo do tipo nas apologias hollywoodianas dos cassinos e da jogatina? A propósito e não por acaso, a prática é também uma modalidade distintiva no mundo da mágica.
Vão longe as analogias possíveis entre o que a magia faz com os sentidos, sobretudo o da visão, e o que a teoria faz com o sentido das palavras e das coisas. Com isso em mente, consideremos que o embaralhamento conceitual que Na transversal realizará pretende nos fazer compreender que, “alheia e indiferente ao princípio da insciência/consciência do tempo, a consciência histórica ameríndia não é um devir histórico” (Pereira, 2019, p. 156). Para chegar à tese, a autora nos conduz por um longo percurso conceitual. Sintetizo-o em duas manobras.
Primeiro, ela mobiliza o perspectivismo ameríndio para replicar, dentro da teoria da história, a “inversão multinaturalista” que produz um tipo específico de deslocamento da disposição relacional entre natureza e cultura, a saber, “a cultura ou o sujeito seriam aqui a forma do universal; a natureza ou o objeto, a forma do particular” (Viveiros de Castro, [2002] 2017, p. 303). Assim, fica neutralizada de saída aquela “carta marcada” da ontologia da modernidade, isto é, a persistente oposição entre natureza e cultura, e produz-se algum desarranjo na correspondência entre seus correlatos simétricos universal/dado/objetivo/fato versus particular/construído/subjetivo/valor (Viveiros de Castro, 2017, p. 303).
O segundo movimento consiste em produzir um tipo análogo de deslocamento relacional no que diz respeito à noção de indivíduo em sua relação com a sociedade. Aqui, Pereira (2019, p. 98) lança mão da noção do conceito de “personitude fractal”, termo desenvolvido por José Luciani para estabelecer o “fio da relacionalidade, isto é, a constituição relacional de pessoas e contextos” através da descrição do processo pelo qual se dá “tanto o encerramento de pessoas inteiras em partes de pessoas quanto a replicação de relações entre Eus [selves] e Outros [alters] em diferentes escalas (intrapessoal, interpessoal e intergrupal)” nas sociedades indígenas (Luciani, 2001, p. 97).
O primeiro deslocamento, entre natureza e cultura, é fundamental para que se entenda que qualquer ente pode participar da configuração de um campo relacional: um animal, um objeto, um espírito e, claro, pessoas, mesmo as completamente estranhas a um dado grupo. Aqui, a natureza do vínculo não decorre nem depende da identificação com o semelhante (na forma de corpo humano) e sim do estabelecimento de uma relação de afinidade na qual o corpo não é, em primeira linha, compleição material, traço físico, mas, antes, “feixe de afecções” – um conjunto de capacidades e comportamentos típicos de um ser (Viveiros de Castro, 2017, p. 128). Instituída nesses termos, a afinidade assume, portanto, “a função de matriz relacional cósmica” e “constitui-se, virtualmente, como o modo genérico da relação social” ou, usando o conceito de Viveiros de Castro (2017, p. 108) Na transversal, constitui-se como “afinidade potencial”.
Um exemplo de caráter intergrupal pode ser bem elucidativo para entender o modo como a categoria tempo entra – via personitude fractal – nesse arranjo conceitual e fecha o nó do ser e do tempo que nós chamamos de história. Falando dos tupinambás, Viveiros de Castro (1992, p. 291 apud Luciani, 2001, p. 105) analisa o modo como se estabelece um “momento crucial de mútua identificação” entre cativo e captor/matador, de sorte que “o cativo representa o futuro do matador (ser executado pelo inimigo) e o matador representa o passado do cativo (que foi um matador)”.
Em trabalho de campo etnográfico conduzido junto aos Yamináwa, Pereira reconhece traços desses mesmos princípios – afinidade potencial e personitude fractal – na relação entre tempo e pessoa. As estratégias de reprodução de nomes e dos termos entre os Yamináwa, ela explica, na medida em que tendem à replicação entre eus e outros em escala temporal, criam uma estrutura dinâmica e propriamente fractal do tempo (Pereira, 2019, p. 151). A partir dessa conclusão, ela convida: “especulemos por conta própria”.
Se é possível instalar-se no passado e/ou futuro conforme o princípio da reversibilidade, isso se deve, ao que parece, à existência de um fundo virtual de temporalidade não-marcada. A própria dinâmica da fractalidade é indicativa dessa relação de dependência. Aqui, é a simultaneidade (potencial) que impõe a não simultaneidade de “antes” e “depois”. Passado, presente e futuro correspondem justamente àquela dimensão não marcada da história que, por isso, deve ser atualizada (Pereira, 2019, p. 151).
A história assim atualizada é, portanto, ela também potencial, e seu traço fundamental, por conseguinte, é a relacionalidade: “Se o tempo histórico ameríndio é o tempo do parentesco e este é fabricado a partir da afinidade potencial, o mesmo se dá com o tempo como atualização de uma história potencial (Pereira, 2019, p. 153).
E assim, para fechar esta seção retomando o fio do raciocínio, compreende-se o que significa dizer que a “história potencial ameríndia” não pressupõe nenhum vínculo apriorístico “entre passado, presente e futuro que deva ser diferenciado por meio da consciência histórica”; ou seja, que “não é um devir histórico”.
REDISTRIBUIR AS CARTAS: HISTÓRIA MULTIVERSAL DA DIFERENÇA
Tendo, primeiro, deslocado as noções de “tempo histórico” e “consciência histórica” de sua posição não marcada e, em seguida, aguçado nossa compreensão da história rumo a uma relacionalidade radical via perspectivismo ameríndio, Pereira volta aos alemães na terceira (e última) parte do livro, mais precisamente ao projeto de história intercultural – ou humanismo moderno – de Jörn Rüsen.
Para que cheguemos a esse ponto bem equipados, um importante contorno epistemológico é feito: estabelecer a posição relacional da própria história Yamináwa, isto é, da história dos povos indígenas, em um quadro que tem o Acre como pano de fundo, mas que é bastante ampliado. Se usarmos aqui a própria noção de fractal – no que ela serve como recurso visual para imaginar o padrão de repetição de um fenômeno em diferentes escalas -, veremos a história do Acre como uma iteração ampliada da narrativa mestra que estrutura também, a um só tempo, o “paradigma da formação” da nação (no Brasil) e a evolução da modernidade (no Ocidente). Em síntese, produz-se uma epopeia acreana como capítulo particular da marcha universal e inexorável do progresso e da civilização, na qual os povos indígenas ou não figuram ou apenas aparecem para confirmar uma suposta incapacidade inata de oferecer qualquer resistência à ação colonizadora (Pereira, 2019, p. 175).
Isto é feito para que entendamos o excurso político que Na Transversal nos propõe quando traz a ideia de “florestania”. Fusão de “floresta” e “cidadania”, o termo pretendia, historicamente, enfatizar o protagonismo dos povos indígenas e, politicamente, sintetizar um caminho para a superação do antropocentrismo, preconizando um regime de igualdade de direitos entre todos os elementos da natureza, inclusive, naturalmente, os seres humanos. No fim, degenerou em “mero slogan”, de todo desvinculado da ambição originária, calcada numa mudança radical de paradigma (Pereira, 2019, p. 182).
Nessa altura, somos reconduzidos ao que Jörn Rüsen preconiza ao falar de um conceito de história intercultural que “deve vencer o próprio etnocentrismo e contribuir para uma nova cultura do reconhecimento mútuo das diferenças” (Pereira, 2019, p. 185).
Como Na Transversal apresenta essa aspiração em seus pressupostos, entendemos também em que medida a “cultura do reconhecimento mútuo das diferenças”, como critério normativo de validade universal na teoria da história de Rüsen, acaba desempenhando um papel análogo ao da “florestania” como princípio orientador da política, ou seja, o de “mero slogan”. Ambas, cada qual em sua seara, não apenas não operam o giro paradigmático que anunciam, mas, ao revés, atuam como vetor da primazia do moderno.
À luz do que essa modernidade tem sido até aqui para os povos indígenas, a saber, um processo contínuo de reprodução do genocídio como cerne da dinâmica de interação, Pereira (2019, p. 203) conclui que o argumento da “razão inclusiva” subjacente ao humanismo moderno de Rüsen “soa no mínimo ofensivo”. Mas, se não a nobre e bem-intencionada “inclusão”, então o quê? Hora de, finalmente, redistribuir as cartas conceituais.
As narrativas de contato dos Yamináwa – a exemplo da de outros povos indígenas, como os Arara e Manchineri – são dispostas de maneira tal que, embora os brancos sejam acomodados em lugares pré-marcados, isso não impede o surgimento de reordenações cosmológicas que derivam de uma “constante reelaboração do contingente como experiência inédita de algo conhecido de antemão”. Orientada pela “afinidade potencial”, a incorporação do outro se dá, via de regra, “em sua e pela sua diferença”. A história que assim se conta, portanto, “não é uma narrativa post festum, ela é o fundo virtual que prefigura toda a experiência, um veículo para a realização e simbolização de relações efetivas” (Pereira, 2019, pp. 143-144).
Em termos mais abstratos, dir-se-ia que o princípio de reconhecimento mútuo da diferença do qual Rüsen lança mão opera com base em uma lógica de diferenciação ancorada nas categorias tipológicas da semelhança, da oposição, da analogia e da identidade. Daí seus critérios de inclusão acabarem desandando sempre no taxonômico e classificatório, em um movimento que não cessa de repor as regulações hierárquicas que tenciona deslocar (Pereira, 2019, p. 203).
As matrizes de pensamento ameríndias, por sua vez, operam através de uma “síntese disjuntiva” cujo princípio de diferenciação é precisamente o não taxonômico e não substancial. Sua dinâmica relacional de individuação conduz, por isso, à constante “atualização do virtual”. Para retomar a metáfora geométrica, em vez de uma “ontologia plana”, corolária de uma lógica inclusiva da diferença, na qual existir pressupõe a identidade como causa ou como finalidade, poderíamos arriscar uma “‘ontologia fractal’ em que existir significa diferir: diferença intensiva, diferença das diferenças”. Assim, trocando em miúdos historiográficos, em vez de uma “história universal da identidade” construiríamos uma “história multiversal da diferença” (Pereira, 2019, pp. 204 e 207).
AFINIDADE (TEÓRICA) POTENCIAL
“Conhecemos a história de um autômato construído de tal modo que podia responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contralance, que lhe assegurava a vitória.” (Benjamin, 1996, p. 222). É assim, imaginando um jogo, que Walter Benjamin principia seu célebre “Sobre o conceito de história”.
O alvo declarado da crítica de Benjamin é um historicismo composto por dois traços fundantes: 1) a aspiração de representar o passado como “ele de fato foi” e que, como tal, 2) “culmina legitimamente na história universal” (Benjamin, 1996, pp. 224 e 231). No limite, Benjamin (1996, p. 231) provoca, o historicismo possibilita o paradoxo de apresentar uma “imagem ‘eterna’ do passado”, o que só é possível porque ele “faz da história objeto de uma construção cujo lugar é um tempo homogêneo e vazio” que se manifesta como “o continuum da história” (Benjamin, 1996, p. 229).
O materialismo histórico benjaminiano desejava explodir esse continuum (Benjamin, 1996, p. 230). Se seguirmos Na transversal do tempo, podemos fazer algo afim. Há (parece) uma afinidade potencial entre o jogo do tempo e da história de Ana Carolina B. Pereira e de Walter Benjamin.
Não obstante, é a diferença que os vincula: o tempo de Benjamin é monológico, intrassubjetivo e messiânico; está impregnado de um salvacionismo cuja virtuosidade parece imanente e, mormente, dado a “revolucionário”. O de Pereira é dialógico, intersubjetivo e contingente; de saída, desconfiado da própria virtude e avesso às epifanias da salvação.
Entre Pereira e Benjamim, a metáfora do jogo interpõe um elo dissonante. Na imagem que Benjamin (2020, p. 66) constrói há um elemento fundamental: “através de um sistema de espelhos criava-se a ilusão de que a mesa era transparente por todos os lados” e, assim, ocultava o espírito que animava o jogo (o anão corcunda da teologia). O truque, portanto, não consiste unicamente em ser guiado pela mente do mestre (de xadrez), mas garantir que – por intermédio da transparência – sua onipresente efetividade na condução dos eventos transcorra na forma da ausência e iluda quem entrar na contenda. Pereira, por sua vez, não quer parecer transparente, não aposta no logro do outro; seu jogo não demanda repor a consciência alheia a partir de uma posição declaradamente misteriosa.
O caso é que, e eis o nó, ao acenar com o estratagema da consciência escondida como guia – a transparência como opacidade -, Benjamin parece adotar prumo mais afeito à assimetria de poder, pois pretende equipar melhor quem joga em franca desvantagem. No que concerne à Pereira, ao revés, quem joga limitado por injustiças dadas de saída segue algo exposto, precisando contar, antes, com a abertura (ou transparência) de um outro que agora – não mais a despeito, mas dada a sua opacidade finalmente declarada – encerraria uma virtuosidade intrínseca e, mormente, capaz de engendrar uma dinâmica de supressão gradual de assimetrias que poderia ser tomada como o início de um tímido processo de reparação.
Que jogo teríamos se o corcunda de Benjamin aprendesse a jogar com as cartas ora embaralhadas e redistribuídas por Ana Carolina B. Pereira?
Referências
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: Obras Escolhidas. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1996. pp. 222-243.
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história: edição crítica. São Paulo: Alameda, 2020.
CALDAS, Pedro Spinola Pereira. Que significa pensar historicamente: uma interpretação da teoria da história de Johann Gustav Droysen. Tese (Doutorado em História) – Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2004. 215 f.
HABERMAS, Jürgen. Der Philosophische Diskurse der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. São Paulo: Cosac Naify, 2008 [1958].
LUCIANI, José Antônio Kelly. Fractalidade e troca de perspectivas. Mana, v. 7, n. 2, pp. 95-132, 2001.
PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Na transversal do tempo: natureza e cultura à prova da história. Salvador: EDUFBA, 2019.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem. São Paulo: Ubu Editora, 2017 [2002].
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. From the Enemy’s Point of View: Humanity and Divinity in an Amazonian Society. Chicago: Chicago University Press, 1992.
Resenhista
Fernando Baldraia – Freie Universität Berlin, Berlim, Alemanha. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-0140-757X
Referências desta Resenha
PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Na transversal do tempo: natureza e cultura à prova da história. Salvador: EDUFBA, 2019. Resenha de: BALDRAIA, Fernando. O jogo da afinidade. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 42, n. 89, 2022. Acessar publicação original [DR]
Economia e cultura dos comuns amazônidas | Escritas | 2021
Renatão (2015), do Guilombo Grotão | Foto: Fábio Guimarães/Extra
O tema dos comuns emergiu, nas últimas décadas, no debate político como uma parte das lutas de emancipação social. Diversos atores sociais como movimentos e comunidades do Sul Global ou da periferia do Norte vêm no comum – ou nos comuns – um caminho de lutas contra a prevalência agressiva do capitalismo, neoliberalismo e globalização.
Nas ciências humanas e sociais, diversos estudos têm sido realizados no sentido de conhecer o giro para o comum dos movimentos sociais e comunidades. Esses estudos procuram delimitar o conceito (comuns, comum) e trazer à tona a diversidade institucional a partir da qual o fenômeno concreto (comuns, comum) se manifesta na prática de diversos grupos em contextos e espaços sociais específicos. Leia Mais
Sociedade e cultura na África romana: oito ensaios e duas traduçõe | Júlio César Magalhães de Oliveira
Júlio César Magalhães de Oliveira, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP), apresenta uma original coletânea de ensaios sobre a sociedade e a cultura na África romana, após sua tese já clássica Potestas populi: participation populaire et action collective dans les villes de l’Afrique romaine tardive (vers 300-430 apr. J.-C.), de 2012, coincidindo com a publicação de Late antiquity: the age of crowds?, um artigo que, apesar de recém-divulgado – 2020 – no periódico Past & Present, já repercute. O aparecimento do volume em português deve ser saudado por permitir o acesso de um público mais amplo ao tema, em particular de estudantes ávidos de leituras recentes, inovadoras e produzidas aqui mesmo, no Brasil. Neste aspecto, convém enfatizar a clareza e a facilidade da leitura, assim como o seu estilo envolvente. Mapas, plantas, imagens de época e fotos completam a preocupação de Oliveira com a fácil compreensão do leitor, assim como o uso de notas de pé de página, que apresentam referências e comentários de aprofundamento, mas podemos ler o texto principal de forma direta para melhor aprendermos os argumentos. Tais recursos incentivam a tão necessária segunda leitura, que possibilita o aproveitamento pleno das informações e discussões trabalhadas pelo autor.
Em termos teóricos ou de perspectiva, são discutidas seis polaridades, que estão disseminadas por todo o volume:
- Resistência/integração;
- Estudo da tradição textual/cultura material (Arqueologia);
- Modelos normativos/teoria pós-colonial (conflitos);
- Restrição às elites/subalternos vistos de baixo;
- Historiografia: produção mais antiga/recente;
- Modelos baseados em dicotomias/ênfase na interação.
La desmesura revolucionaria. Cultura y política en los orígenes del PARA | Martín Bergel
En los últimos años, la producción académica del historiador Martín Bergel, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín, se concentró en una particular mirada sobre protagonistas latinoamericanos. En ella, y sin que implique una contradicción con esa idea de concentración, se articularon de modo heterogéneo y amplio textos sobre la recepción de hechos o problemáticas internacionales, la circulación de ideas por los países del sur de América, las percepciones en América Latina de fenómenos extra o intrarregionales. Estos temas hicieron juego con su producción previa sobre el orientalismo y el tercermundismo, convergiendo en un cruce de prensa periódica y revistas culturales, intelectuales y políticos, donde términos como revolución, populismo, latinoamericanismo aparecieron en sitios clave y donde el caso de la peruana Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) tuvo un lugar destacado. Leia Mais
La Reforma Protestante desde el margen. A 500 años del evento banal que revolucionó la cultura de Occidente | S. F. Peña, C. Cavallero, I. Del Olmo, C. Losada
La Reforma Protestante desde el Margen es una obra dividida en tres partes que recopila diez trabajos presentados en las jornadas de octubre de 2017 en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, donde destacados académicos conmemoraron el acto que dio inicio a una revolución cultural sin precedentes en la historia de Occidente: la difusión de Las noventa y cinco tesis de Wittenberg. Los propósitos de este libro son entrever las raíces del movimiento reformado; debatir sobre la múltiple fractura del cristianismo moderno y el posible legado de idearios radicales en la actualidad; examinar los instrumentos empleados para la difusión sociopolítica y el disciplinamiento religioso en torno al proceso de confesionalización; y comprender las bases legitimadoras de la violencia entre los distintos grupos religiosos. Leia Mais
Imaging Culture: Photography in Mali/West Africa | Candace Keller
Aqueles que se interessam por fotografia africana contemporânea, e mesmo os que gostam de fotografia contemporânea sem outro adjetivo, já devem ter tido contato com as obras de Seydou Keïta (1921- 2001) e Malick Sidibé (1936-2016). Ambos malineses, mestres da fotografia preto-e-branco em estúdio, foram “descobertos” por curadores e colecionadores europeus no início da década de 1990. Ao longo dos anos que se seguiram participaram de exposições, receberam prêmios e seus trabalhos se tornaram ícones no mercado internacional de arte. Leia Mais
Utopias latino-americanas: políticas, sociedade e cultura | Maria Ligia Prado
A obra organizada por uma das maiores referências nos estudos de História da América Latina, a Profª Dra. Maria Ligia Prado, é a celebração de uma carreira exitosa e comprometida com a educação e a pesquisa histórica, que tem no continente americano seu objeto de investigação, afeto e também de militância.
Ainda que pareça desnecessária a apresentação de Maria Ligia Prado a muitos (as) estudiosos (as) de História das Américas, sua trajetória merece destaque, sobretudo no contexto de lançamento do livro em tela: a comemoração do seu octogésimo aniversário. Prado desenvolveu os seus estudos de graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e ali atuou como professora e pesquisadora por mais de quatro décadas. Sua dedicação pode ser medida pela dimensão da sua produção intelectual – foram dezenas de artigos científicos, capítulos de livros, organização e autoria de livros e obras coletivas (como essa), entre outras dezenas de produções bibliográficas e técnicas. Leia Mais
Historia de Cali en el siglo 20: sociedad, economía, cultura y espacio | Edgar Vásquez Benítez
Es un gusto y honor participar en este homenaje al profesor Edgar Vásquez Benítez, economista, historiador urbano e intelectual caleño, quien habitó gran parte de su vida en esta ciudad poco dada a reconocer y homenajear a sus intelectuales. En este sentido felicito la iniciativa del Archivo histórico de Cali por organizar este evento. Ojalá continúen los homenajes a otros profesores y profesoras que lo merecen; sugiero rápidamente al profesor Lenin Flórez, a quien guardo un especial afecto, para continuar con otros colegas que han construido lo que podemos empezar a reconocer como un campo de la historia en el suroccidente colombiano.
Tengo que iniciar diciendo que no conocí personalmente al profesor Vásquez, aunque puede decirse que a través de la lectura de un libro podemos los lectores llegar a conocer a sus autores. Por esta razón sólo hablaré de mi encuentro particular con el profesor Vásquez a través de su libro más difundido, Historia de Cali en el siglo 20: sociedad, economía, cultura y espacio. Fue publicado en el 2001, año en que yo ingresaba a realizar mis estudios de historia en la Universidad del Valle, institución en la que él trabajaba. Más adelante mencionaré algunos puntos sobre lo que pienso es la contribución de este libro a la historiografía de la ciudad. Por ahora destacar lo influyente que fue este libro para mí, y creo no equivocarme también para las cohortes de estudiantes de historia que pasamos por la universidad en la década del 2000. Esta generación se formó leyendo, referenciando y ojeando su libro; a través de sus páginas nos comenzamos a interesar por la historia de la ciudad. En retrospectiva, creo que hoy en día es posible hablar de una historia de Cali gracias a la obra del profesor Vásquez -porque como decía Nietzsche sólo existe la Historia sí alguien la escribe o la recuerda-, y gracias también a esa generación que partiendo de este libro está satisfaciendo la necesidad de entender y explicar el pasado urbano de la ciudad. Leia Mais
Una herencia que perdura. Petróleo, cultura y sociedad en Venezuela | Miguel Tinker Salas
El autor Miguel Tinker Salas es un venezolano nacido en Caripito, estado Monagas. Su niñez, adolescencia y parte de su juventud transcurrió en un campo petrolero residencial, dado que sus padres trabajaban para una empresa de este ramo, por lo que llegó a conocer de primera mano cómo se vivía en un campo petrolero residencial, qué valores culturales existían y qué conductas eran promovidas y ejecutadas allí. Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Historia y Estudios Latinoamericanos del Pomona College, en Claremont (California). Doctor en Historia por la Universidad de California en San Diego, es especialista en temas sobre Venezuela, México y la diáspora latinoamericana en Estados Unidos. Ha publicado libros, ensayos y artículos diversos de su especialidad. Es también analista político y conferencista en temas nacionales e internacionales.
Su obra que reseñamos fue motivada en su investigación y escritura por los sucesos socio-políticos acaecidos en Venezuela entre los años 2002 y 2004: es decir, por las masivas movilizaciones a favor o en contra del gobierno del entonces presidente de la república, comandante Hugo Rafael Chávez Frías (1999-2013); un fallido golpe de Estado en abril de 2002; actos esporádicos de violencia socio-política, cuyo fin era promover la ingobernabilidad; un cierre patronal y una huelga general promovida por los gerentes de la empresa estatal de hidrocarburos (Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima., mejor conocida por sus siglas PDVSA) y las fuerzas sociales y políticas de oposición entre diciembre de 2002 y febrero de 2003; un referéndum revocatorio del mandato presidencial en 2004 y el clima de incertidumbre y polarización que promovieron varios sectores de la sociedad. Todo lo cual puso al descubierto las profundas divisiones que existen al interior de la sociedad venezolana. Leia Mais
Cultura y violencia: hacia una ética social del reconocimiento | Myriam Jimeno
Myriam Jimeno (terceira, da esquerda à direita) | Foto: Agência de Notícias UNAL |
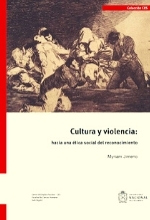
En lo metodológico, se destacan dos consideraciones, una inductiva y otra deductiva. Sobre la primera, Jimeno subraya que la compilación de artículos retoma la tradición antropológica de entender los fenómenos sociales a partir de la comprensión que sobre ellos tienen los propios actores sociales. Luego de tamizar estos relatos un investigador haría evidentes las regularidades detectadas. En la deductiva, se identifican algunos trabajos que han procurado relacionar el análisis sobre subjetividad y violencia con los macroprocesos políticos o históricos. En este mismo enfoque se ubican los artículos de la tercera parte, destacando entre ellos uno sobre el partido radical del siglo xix . Leia Mais
Formação social do Brasil. Etnia, cultura e poder | Erivaldo Fagundes Neves (R)
Desde a superação da fase ensaísta do pensamento social brasileiro e sua substituição por uma fase acadêmica, disciplinar, aumentou muito a exigência para uma síntese de história do Brasil que fosse, ao mesmo tempo, interessante para o debate público e que contemplasse a produção crescente de especialidade de áreas e sub-áreas. Conhecimento de fontes de períodos distintos da história do Brasil, especialmente colônia e império, trânsito em diferentes campos de pesquisa como história econômica, história da escravidão, história cultural, história territorial e historiografia, são atendidos por Formação social do Brasil do historiador baiano Erivaldo Fagundes Neves, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana.
Neves é uma referência em campos como história agrária, história da escravidão e história regional e local dos sertões da Bahia. Mobilizando sua experiência, produziu uma interpretação da história do Brasil à partir das categorias de etnia, cultura e poder. A obra serve ao estudioso, por seu embasamento teórico e empírico, ao mesmo tempo em que interessa ao debate público pois discute hierarquias raciais, desigualdade, estrutura do Estado e persistência de instituições de privilégio. Mesclando narrativa e análise objetiva, Neves defende a tese de que o Brasil conserva do antigo regime português comportamentos e relações de poder marcadas pelo regime de mercês e privilégios, ao mesmo tempo em que possuiria uma cultura popular exuberante marcada pela diversidade e autonomia. Essa resenha do livro Formação social do Brasil descreve seu conteúdo e destaca lacunas e pontos de força.
Nos quatro primeiros capítulos, o autor trata de temas que podem ser considerados os “antecedentes” do país. Trata de história pré-colonial do Brasil, faz uma ampla revisão das teses arqueológicas sobre povoamento do Brasil, relativizando a teoria de migração via estreito de Bering e afirmando a plausibilidade da hipótese das múltiplas migrações, via África, Polinésia e Extremo Oriente, para a América, bem como das grandes migrações internas no continente sul-americano. Trata de sambaquis litorâneos, aldeias de pescadores, ceramistas e agricultores ribeirinhos no interior do país. Analisa a formação das nações indígenas no período colonial. Discute a formação de Portugal, desde a hegemonia mourisca do território, do Estado português no medievo e do contexto de tensões políticas entre estados cristãos e muçulmanos no Mediterrâneo ocidental, analisa a presença de povos roms, chamados callí na península ibérica. Debate a história dos povos africanos que tinham relação mais próxima com a história do Brasil pelas mediações do tráfico humano e do comércio. Há estatísticas do tráfico e discussão das construção das nações coloniais africanas, como banto, haussá, nagô, jeje ou mina, a serviço do colonizador ibérico.
Não faltam os temas clássicos de presença francesa e flamenga na colônia, o pacto colonial-mercantil e as resistências indígenas e quilombolas. A novidade é a incorporação de uma tendência da historiografia colonial que destaca o caráter não-linear e efêmero da conquista, recuos e resistências, especialmente nos dois primeiros séculos. Neves destaca que a história do século XVII não é só da destruição de Palmares, mas também das 37 vitórias que o quilombo obteve frente às expedições da Coroa. Há uma análise densa dos dispositivos jurídicos-políticos e socioculturais da colonização, a adaptação no transplante para a América, descrições do aparato administrativo da colonização, as instâncias judiciárias e o aparelho militar. Um dos pontos fortes do livro que enriqueceria as atuais discussões públicas sobre direitos e privilégios no país é o tratamento da economia de mercês, com privilégios e suas hierarquizações complexas no modo de organizar a república no Antigo Regime e sua transplantação. Sobre a dimensão cultural, Neves debate o Barroco como um gênero que se apropriou das inovações técnicas do Renascimento e as extrapolou para criar alegorias à partir de signos, o papel da religião na vida cultural e artística da colônia, as academias literárias surgidas no século XVIII como expressão da ilustração colonial e a completa autonomia da música, que conservou o cantochão nos templos, não desenvolveu a música de câmara europeia e promoveu uma imensa riqueza em termos de música popular de rua. Também trata dos aspectos econômicos. Para Neves, é insuficiente compreender a colônia brasileira apenas como exportadora de gêneros para o comércio mundial, mas também perceber o mercado interno. Destaca o papel da pecuária na ocupação dos sertões, da mineração do adensamento demográfico do interior e na mudança de gravidade econômica da colônia e o mito do bandeirante é analisado em sua construção no final do século XIX. O autor destaca os aspectos ideológicos dos protestos anticoloniais, o iluminismo entre os grupos sociais abastados e médios e o haitianismo dos setores subalternos, além dos aspectos políticos da transferência da corte para o Brasil em 1808.
Entre os capítulos 10 e 13, o autor trata da formação do Estado pós-independente. Aborda o papel dos poderes oligárquicos regionais, as continuidades do absolutismo português no poder moderador da constituição outorgada, a formação da burocracia, das forças armadas e de uma elite aristocrática homogênea em torno de Pedro II como estratégia de governança. Para o autor houve duas grandes tendências nas tensões políticas do país, a de centralização do poder e o federalismo das oligarquias rurais, comerciantes e mineradoras regionais. Essa dualidade foi investigada no capítulo sobre as regências, com análise da configuração política partidária do país, dos conflitos federalistas e das guerras civis generalizadas, inclusive as de recorte social e racial. Com o golpe da maioridade, Neves narra a construção da estabilidade monárquica, o reformismo que perpetuava o escravismo e o projeto de embranquecimento do país com a imigração. O segundo reinado, para Neves, é marcado por conservadorismo, resquícios do absolutismo, reformas realizadas quando havia grande pressão, manutenção da estrutura de latifúndio e das características econômicas rurais do país.
Neves analisa a exclusão da quase totalidade da população do letramento e consequentemente uma minúscula elite letrada. Oito em cada 10 brasileiros eram analfabetos no século XIX. Os alfabetizados em geral possuíam rudimentos de leitura e escrita, as quatro operações básicas de aritmética e noção de juros simples e compostos, o suficiente para assinar documentos, não possuir o estigma de analfabeto, negociar, votar, talvez ler livros religiosos, livros agrícolas e, depois de 1890, folhetos com romances em versos. Isso se refletiu em uma literatura brasileira que mimetizava estilos europeus, como o neoclassicismo, o romantismo, o simbolismo e o parnasianismo. A ruptura ocorreu com a industrialização, urbanização e formação de uma sociedade dividida em classes. Neves também trata da formação de uma identidade nacional à partir da historiografia no século XIX, quando o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil estabeleceu uma história pátria na qual a nação se desdobrava da história colonial, com protagonismo português, sendo indígenas e africanos coadjuvantes. As expressões dessa historiografia eram von Martius, Como se deve escrever a história do Brasil e os volumes de Vanhargen.
Nos capítulos 13 e 14 Neves trata da transição para a modernidade nos aspectos econômicos, políticos e urbanos. A nova infraestrutura de transportes a vapor e a crescente urbanização, especialmente em Rio de Janeiro e São Paulo, se identificavam com um modelo de civilidade que excluía os mais pobres e pretos. Neves narra a exaustão do escravismo e o colapso da monarquia, derrubada por uma parada militar, após uma longa crise política, sucedida por uma ditadura de marechais até a transição para os governos civis que representavam as oligarquias regionais mais poderosas. A república foi seguida de decepção, manifesta furiosamente em lutas sociais como as revoltas da armada, da vacina e da chibata, o tenentismo, o cangaço e os movimentos milenaristas. Trata do processo de consolidação territorial e dos tratados sobre as fronteiras do país, destacando os conflitos com Paraguai e Bolívia. A seguir, o autor discute o colapso da república oligárquica e o processo de modernização pós-revolução de 30. Além da narrativa dos principais acontecimentos que levaram ao fim do regime liberal, destacando o colapso do modelo agroexportador e a recomposição política construída à partir do declínio da hegemonia ruralista, Neves analisa as condições mais estruturais da modernidade e a sua implantação no Brasil, uma sociedade herdeira do escravismo que continuava as formas mais perversas de racismo, exclusão sócio-racial, analfabetismo generalizado e permanência das estruturas de mercê e privilégios. Em que pesem as rupturas em termos de estética, moda e expressão cultural, a moderna sociedade conservava uma série de suas características e mazelas, nos sertões e nas capitais.
No capítulo 15, Neves apresenta vários pensadores do Brasil, desde Antonil, seguido por von Martius, Vanhargen, chegando a Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Manoel Bomfim, Oliveira Lima, Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Para Neves, o Brasil se caracterizaria por sua alegria, sociabilidade e generosidade, com aspectos do burlesco, do chistoso e do manhoso. Manifestos por uma minoria, haveria a astúcia, a vadiagem e a ilicitude, já destacadas por intérpretes do país como uma das características do brasileiro, mas segundo Neves, seriam aspectos marginais da população e expressão de suas estruturas perversas de concentração de terra, propriedade e poder. A escravidão, o genocídio, o latifúndio, a política baseada na mercê e nos privilégios, característica do antigo regime ibérico, teriam engendrado estruturas que persistem na organização do país. A história brasileira se caracterizaria, assim, por tendências opostas, como o centralismo e o federalismo, o latifúndio e a minifundização da propriedade, a opressão na forma de escravismo, jaguncismo, coronelismo e políticas excludentes dos oligarcas e a adaptação, burla, resistência e revolta permanentes.
Formação Social do Brasil mescla análise estrutural de longa duração, com destaque para aspectos econômicos, étnicos e políticos, mas há momentos narrativos, especialmente após a independência. O recorte cronológico vai até a revolução de 30. A ditadura civil-militar de 1964 está ausente, mas é tentador para o leitor pensar o período recente da história do país à partir das teses do autor de persistência de elementos do antigo regime na modernidade brasileira, como o sistema de mercês e privilégios e as reformas feitas sob pressão por regimes autocráticos. Algumas lacunas são as lutas sociais do movimento operário, já com destaque nas cidades nos anos 1910, e o banditismo rural, exceto por um tratamento mais atencioso ao cangaço. Como ficam os conflitos armados do império e da república de grande escala, como os que envolveram Militão Plácido da França Antunes nos anos 1840 e Horácio de Matos nos anos 1910, ainda ausentes em livros síntese de história do Brasil, dentro das das teses do autor sobre oligarquias fardadas? Formação é mais um livro de história econômica do que de história social, trata mais de estrutura que de conflito, embora destaque que a tensão e a revolta são permanentes.
O leitor que desejar conhecer com mais vagar os aspectos étnicos da formação do povo brasileiro, encontrará uma material amplo que trata de Portugal, África e América, pré-colonial e colonial, que permite uma visão panorâmica dos povos que formaram o Brasil. Além da diversidade étnica de indígenas e africanos traficados para a América, há destaque à diversidade étnica de Portugal, onde mouros, judeus e ciganos faziam parte da população que atravessou o Atlântico.
Uma última observação é que sua estruturação em capítulos pode ser desmontada e remontada. É possível fazer a leitura dos capítulos sobre etnia ou sobre economia, como também há capítulos de temas de cultura ou de política. Outras ordens podem ser feitas pelo leitor, sem prejuízo de sentido, devido à riqueza bibliográfica com qual cada tópico é construído. Nesse sentido, a profusão da bibliografia pode servir de guia de leituras para entender o Brasil. Em outros sentidos, o livro oferece ao leitor bastante autonomia, já que ele pode usá-lo como guia de leituras de aprofundamento, graças à bibliografia ampla e como cardápio de hipóteses extraídas do período colonial, imperial e primo-republicano para pensar questões recentes do país.
A novidade do livro é a proposta de uma história das estruturas econômicas e políticas do país que, não sendo concentrada no sudeste, seja territorialista. As obras escritas por Neves sobre os sertões baianos, tendo por objeto a conquista, o escravismo, a estrutura fundiária, a rede comercial e a cultura, permitiram que ele diferenciasse o território da sociedade, tentação em que caem muitos dos historiadores que pretendem se afastar de uma história dos centros administrativos do litoral. Não há “um sertão do Brasil”, mas sociedades, economias e oligarquias sertanejas, fundamentais para a estruturação do Estado e das hierarquias, políticas, sociais e raciais. Num momento em que a regionalização apressada vem ganhando espaço nas análises sobre política do país, onde abundam expressões como “o eleitor nordestino”, o “o voto dos grotões”, a “divisão regional”, é valiosa uma obra que não reifica o sertão, ao mesmo tempo em que não cai no caminho mais óbvio da historiografia brasileira de síntese que pensa o Brasil, para além de seus centros urbanos de expressão econômica ou administrativa, como território.
Flávio Dantas Martins – Mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Atualmente é doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás e professor do Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5275-5761.
NEVES, Erivaldo Fagundes. Formação social do Brasil. Etnia, cultura e poder. Rio de Janeiro: Vozes, 2019. Resenha de: MARTINS, Flávio Dantas. A persistência do privilégio: uma história das estruturas e das hierarquias do Brasil. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.39, n.1, p.508-513, jan./jun. 2021. Acessar publicação original [DR]
La desmesura revolucionaria. Cultura y política en los orígenes del APRA | Martín Bergel
El libro de Martín Bergel La desmesura revolucionaria es un hito fundamental en la historiografía sobre el APRA y un aporte ineludible para la historia latinoamericana del período de entreguerras.
La obra, conformada por once ensayos, redescubre el movimiento político asociado al liderazgo de Víctor Raúl Haya de la Torre a partir de algunos desplazamientos respecto de abordajes anteriores sobre el tema. Las preocupaciones que lo recorren no buscan saldar discusiones sobre la “verdadera expresión del APRA”, o dictaminar sobre sus contribuciones a la política peruana, tal el registro predominante en numerosas obras previas, sino indagar en experiencias vinculadas con la construcción de una cultura política. El libro de Bergel aporta nuevas preguntas, hipótesis, fuentes, protagonistas y escenarios para indagar en las características singulares del aprismo. La originalidad del enfoque radica en las posibilidades que ofrece para revisitar la historia latinoamericana del período de entreguerras a través de los aportes de la historia intelectual y de la cultura impresa. Leia Mais
Historia y justicia. Cultura/ política y sociedad en el Río de la Plata (Siglos XVI-XIX) | Darío Barriera
Darío Barriera escribió un libro sobre historia y justicia de los siglos modernos en tierras extensamente rioplatenses, y lo hizo tanto desde la objetividad científica como desde la subjetividad del investigador; un lujo que no cualquiera puede darse, solo quien esté en condiciones de respaldar cada palabra expresada.
La objetividad científica no está definida por un tema sino por un método. Como si fuera un científico decimonónico, de aquellos que tomaban diferentes puntos de abordaje porque el parroquialismo disciplinar todavía no existía, Barriera no se limitó a un recorrido o a una sola trama epistemológica sino que puso a prueba su objeto de estudio, abordándolo desde todos los ángulos posibles, formulando preguntas, desde las más -aparentemente- sencillas a las historiográficamente más complejas. Complejas, porque están construidas por sucesivas capas aluvionales de indagaciones dialógicas, en las que cada pregunta o cada formulación está atada a numerosos debates, trucos y retrucos de decenas de discusiones entre académicos de diferentes tiempos y latitudes. Sencillas, en apariencia, porque utiliza palabras corrientes con figurada candidez –¿cuánto es lejos?, ¿cuánto es cerca?– para poner a los discursos frente a sus propias contradicciones o, mejor dicho, frente a sus móviles no explicitados. El poder nunca muestra sus arcanos. Leia Mais
Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness
Laqueur covers the “work” of death, as Hannah Arendt defines “work” in The Human Condition, more oblique than the costly “work” of the undertaker as this redounds to the unsparing insights of Jessica Mitford’s The American Way of Death,2 or the many resuscitations of such treatments including Susan Jacoby, Never Say Die.3 Such texts are serious treatments in contrast to more salacious treatments of death‐as‐entertainment, such as the American television series dedicated to serial murder, featuring the manufacture of corpses on a seemingly industrial scale, which the coroner‐hero of Dexter (2006–2013) manages to produce by night and process by day. Like the friendly vampire and fairy series True Blood (2006–2014), the Florida‐based Dexter is a humanizing take on dark themes, echoing the more northerly funeral home sitcom, Six Feet Under (2001–2005).
In the genre of popular reading, there is also anatomy and medical science in F. Gonzalez‐Crussi’s The Day of the Dead4 or else in Sherwin Nuland’s How We Die: Reflections on Life’s Final Chapter,5 a medical insider’s take on the matter of dying. This last is not altogether unlike Ivan Illich’s Medical Nemesis,6 as Nuland argues that, although modern medicine can hardly stave off death, it can prolong its eventuation, fixing it to the day and the hour (useful for harvesting organs). Nuland’s book inspired a genre of “truth to death” reports from the hospital front, including Seamus O’Mahony’s recent update, The Way We Die Now.7
Ruin tells us about bones—their excavation, curation, memorialization as cemeteries and in museums, archaeological gravesites, “roots” of historical consciousness—in a chapter dedicated to “Ossuary Hermeneutics.” Alphonso Lingis’s musings on archaeology8 differ from Ruin’s “The Necropolitical Sites of Archaeology.” Yet there is a convergence, and Lingis invokes the same “modern academic discipline of archaeology” (115) Ruin engages as he reads practical illustrations from archaeology together with physical anthropology. For the current reader, originally trained in the life sciences, such tacks involve analogies with quite contemporaneous living beings, an always unremarked detail that engenders conceptual solecism—as in the case of chimpanzees who are not antecedent beings from the past but quite as evolved as any other being on this earth—in Ruin’s discussion of the Japanese primatologist Tetsuro Matsuzawa (122f.).
The interlocutor for Ruin in his discussion is Lewis Binford’s “New Archaeology” (128f.).9 The “new” includes the New World, the Americas, North and South, and to be sure the aggressions against American Indians with their own cast of archaeological claimants. Thus Ruin cites the 1906 Antiquities Act that transformed “the skeletons of Native Americans … into ‘historical artifacts’” (137). A parallel might have been made with John Gray’s discussion of Tasmanian cultural appropriation and genocide in his Straw Dogs,10 but Ruin foregrounds the 1989 World Archaeological Congress in South Dakota on “Archaeological Ethics and the Treatment of the Dead” (138).
From “unreal city” to the uncanny
“Studious and charitable, tender as I am for the dead of the world … thus I roamed, from age to age, always young and never tired, for thousands of years.”
— Michelet, in Certeau11
Ruin’s Being with the Dead is uncanny and cannot but be so. This is not simply a result of the theme, nor of Ruin’s beautiful writing style. As ethnography, it is directed to others as to ourselves, crossing several disciplines. Not all ethnography is like this, and most ethnography, as Bruno Latour has told us,12 is not: we Western scholars tend either to count ourselves out of the picture by attending to obscure folk group practices (first communion rites, say) or by retracing collective myths of past consciousness to do our self‐ethnography.
Ruin’s book is more than a phenomenology of death/the dead. It has seven chapters, an introduction, and a coda. The first chapter, “Thinking after Life: Historicity and Having‐Been,” is the most Heideggerian, and perhaps, given that Ruin has already published a great deal on Heidegger, this is a light chapter. At the same time, this lightness softens Ruin’s focus, shared as it is with most of today’s approaches to phenomenological questions, as the phenomenologist of the chapter is Hegel, fitting Ruin’s discussion of Heidegger on Antigone and Hölderlin.
Hegel continues as spirit guide in the next chapter, “Thanatologies: On the Social Meaning of Burial.” In addition to Garland and Ariès—and Laqueur—Ruin takes note of the sociolinguist Robert Hertz, who died in the First World War—yet another London Bridge event—along with many others. Ruin is particularly interested in the sociology of burial, of double burial, and the strange claims of ritual, which are—and this is Ruin’s overarching theme—the presence of and encounter with community. Hertz’s focus is the well‐studied Dayaks of Borneo, who, far more than most European communities, “live” with the dead, exhuming them, washing them, dressing them, sitting with them at table, all part of a complex ancestor cult involving the dead within the fabric of everyday life, and then, when “only the bones remain,” reburying them.13
Ruin draws upon Hertz’s research for comparisons and distinctions between the related practices of the followers of the Zend Avesta, as well as other traditions, including “Australian tribes” and Choctaw and Huron American Indians. The chapter includes a discussion of Marcel Mauss and Émile Durkheim and the reflection, important for the book, drawn from Mauss’s necrology for Durkheim: “Together with them beyond death.” This Ruin interprets as celebrating “the possibility of collective life over and beyond individual loss and a rebirth on the barren soil of death” (88).
A focus on ancestors leads in the next chapter to the primitive engagement with burial: “Ancestrality: Ghosts, Forefathers, and Other Dead.” Here, too, an Anglophone Hegel appears as spirit guide, permitting Ruin to catalogue the Western contribution of the triad array of ghosts, souls, and spirits (Gespenst, Seele, Geister) to the Hegelian language of Geist. In the grand scheme that is Hegel’s own imaginary, the “dark continent,” Africa, is the ghost world. In this locus, although Ruin does not cite this, Nietzsche’s quip, Ohne Hegel, kein Darwin, might have rewarded further reflection as would a parallel with Günther Anders and Theodor Adorno on race and the technologies of genocide.14
It is the putative or presumed primitive character of Africa for Hegel that enables Ruin’s reading of Hegel’s account of forbearance, whereby he can quote Hegel as suggesting that slavery should be gently eased away from Africa; Africans are not yet “evolved” enough for abrupt liberation.15 As Ruin goes on to say: “From the viewpoint of our question it is significant to note that Hegel’s depiction of Africa as the ‘dark’ and unconscious continent specifically involves his understanding of ancestor worship” (105). To this, Robert Bernasconi’s reminder of what is occluded here is recommended, elegantly argued in his “Hegel at the Court of the Ashanti.”16 This is the continually suppressed oppression inherent in Western philosophy, not simply of the other qua other, but via slavery. All this advertence is difficult; think of what remains unthought despite reflections on the logic of misogyny, as recently explored in Kate Manne’s Down Girl, itself revisiting without engaging Beauvoir’s The Second Sex. There is what we tend not to quite notice in the space, the wake, the aftermath of what we do notice.
Blood for the ghosts
A truly “historical” rendition would be ghostly speech before ghosts.—Nietzsche17
Ruin’s book approaches the past as other and as locus, as in his title: Being with the Dead. Reading Michel de Certeau’s The Writing of History, itself with an homage to Jules Michelet, Ruin cites Certeau’s observation that “the other is the phantasm of historiography, the object that it seeks, honors and buries” (161). Ruin reads this in terms of his own crucial recollection of the Homeric accounting of the rites of sacrifice in relation to the dead. The reference draws on a metaphor—blood—key for nineteenth‐century classical philology. Thus Ruin cites Erwin Rohde, author of two volumes on the soul in antiquity, Psyche, who characterized the ancient Greek dead as “being in need of sacrifices and rites” (see 111).
This is to the point of the crucial text Ruin invokes relating the rites performed by Odysseus in book XI of the Odyssey. Here we read Ruin himself glossing Homer:
On the spot indicated by Circe he digs a hole in the ground and performs the ordained sacrificial rites, the culmination of which is pouring of blood from slaughtered lambs into a pit. It is the blood that calls forth the demons, ghosts, or souls, the psychai of the dead, who when they drink it are permitted to leave their shadowy existence for a moment to see, sense, and speak to the living. As the souls of the dead, attracted by the blood, come forth in great numbers, Odysseus is first gripped by fear, and he draws his sword to keep them away from the pit and to hear them one by one … (224).
For his part, Ruin tracks the “Homer question” beginning with Erich Bethe’s 1935 study.18 Yet Ruin does not discuss the history of this question any more than he mentions the classicist Friedrich Nietzsche in this specific context, quite as if Nietzsche had never written on Homer, although Ruin does note Nietzsche’s distinction between the Apollonian and the Dionysian along with a brief discussion of Heidegger’s engagement with Nietzsche. Ruin thus overlooks both Nietzsche’s inaugural lecture in Basel (1869) on the relation between the Homer “question” and philology as such and the question of the role of the dead in Nietzsche. However, death is prominent in Nietzsche’s work beginning with The Birth of Tragedy and, most popularly, in Thus Spoke Zarathustra, starting with the death of god, the sudden fall of a tightrope dancer during Zarathustra’s speech in the marketplace, including the performer’s last words to Zarathustra, and Zarathustra carrying the resultant corpse long enough to “bury” him—good Parsi style, good Greek style—in the hollow of a tree, just to limit ourselves to Zarathustra’s “Prelude.”
Excluding Nietzsche from his original disciplinary field, Ruin does what others do. But in his first Basel lecture, Nietzsche sought to raise the question of the person of Homer, historiographically, historiologically, indeed: hermeneutically. This is the locus classicus, as Nietzsche concludes with the text Ruin glosses above, quoting Homer’s Nykia.19 Apostrophizing his own colleagues, Nietzsche parallels the “Homer question” with the fortunes of classical philology:
You indeed honour the immortal masterpieces of the Hellenic Spirit in word and image, and imagine yourselves that much richer and happier than the generations that lacked them: now, do not forget that this entire magical world once lay buried, overlain by mountain‐high prejudices, do not forget the blood and sweat and the most arduous intellectual work of countless devotees of our science were necessary to permit that world to rise up from its oblivion [Versenkung].20
Apart from the sunken past and risen voices, the blood reference may be tracked through Nietzsche, as Zarathustra tells us in a section entitled “Vom Lesen und Schreiben”: “Of all that is written, I only love what one has written with his own blood. Write with blood: and you will learn that blood is spirit.”21
As Ruin reminds us, we are told the tale of Odysseus’s “journey to the underworld,” to “the land of the dead” (222–223). Conversation with the dead is the sign of the hero and the mark of the seer in Homer. To bring the dead to life is the divine sign of a healer, characteristic of the philosopher in antiquity, an achievement associated with both Pythagoras and Empedocles. With respect to Empedocles, Diogenes Laërtius attributes a host of powers: controlling the winds and the rains, citing Empedocles’s promise to his acolytes: “And you shall bring [back] from Hades the strength of a dead man.”22
Such is an earmark of Orphism. Metonymically, too, quite as Saint Severus of Naples was said to have had the power to recall a man from death, J. K. Rowling seems to echo Empedocles in Professor Severus Snape’s promise: “I can tell you how to bottle fame, brew glory, and even put a stopper in death.”23
The task of what Michelet names “resurrectionism” (160) is accomplished, so we read Homer, if (and only so long as) there is blood. This is the promise of the mystery tradition and philosophy and classical philology, to cite the title of Hugh Lloyd‐Jones, Blood for the Ghosts: Classical Influences in the Nineteenth and Twentieth Centuries.24
As Nietzsche’s closing allusion in his first lecture as a professor of classics emphasizes, this is a metaphor for historical hermeneutics. In the same spirit, William J. Richardson prefaces his Heidegger book, “encouraging” his readers by pointing to his own struggles, “blood on the rocks,”25 as inspiration.
Homer’s Odysseus makes an animal sacrifice (some say lambs, though Nietzsche speaks of rams), pouring out blood so that the souls of the dead may be able to speak, with tragic—and fading—results. The dissonance of this constellation, part of the ancient Greek rites specified for such a sacrifice, inheres in its terrible logical coherence. The Greek death cult, the mystery rites, work as they do because the Greeks presupposed no more than an afterlife of shadows: lacking spirit or consciousness unless primed with blood or otherwise prepared for.
In what follows, I supplement the engaging discussions offered in Ruin’s book on “being with the dead” by adding a reference to death and to blood in Nietzsche, who frequently presses such references. Thus Nietzsche begins his 1878 Human, All Too Human, with a reference to death in the section entitled “Von den ersten und letzten Dingen”—On First and Last Things—as well as in the second volume, Assorted Opinions and Maxims (1879), before he turns to converse with his shadow in The Wanderer and His Shadow (1880), where he emphasizes the reanimating importance of blood sacrifices, as “active endeavours to help them to come repeatedly to life as it were.”26
The language of ghosts and shadows refers to the underworld and death, adumbrated by the title of Nietzsche’s aphorism §408, and recently translated as “The Trip to Hades,”27 but better rendered by R. J. Hollingdale as “Descent into Hades.”28
This Hadesfahrt, or Journey to Hell, echoes Lucian’s own Downward Journey, or Journey into Port, Κατάπλους ἢ Τύϱαννος (in German as Die Überfahrt oder der Tyrann), a dialogue set at the moment of death. This is the downward‐going cross‐over, or passage from death to the afterlife, with Hermes in attendance, a parodic illustration of the ancient cliché that is the Greek Stoic ideal of the best way to die (as we may recall Epictetus encouraging that one be quite ready to drop everything). Here, the cliché personified by the laughing shoemaker, Mycillus, who does come running, embarrassingly over‐eager to depart. Nietzsche borrows the image of his Übermensch, the Overhuman, from this dialogue.29
Lucian’s dialogue was also, as we know, David Hume’s death‐bed reading,30 and Nietzsche’s final section of his second volume of Human, All Too Human, concludes with a reflection on authorly life “after death.”31 We also encounter a series of death‐bound sections in Nietzsche’s The Gay Science: §278 On the Thought of Death (significant for Susan Sontag32), in addition to §281 Knowing How to End, §285 Excelsior, §315 On the Last Hour, and finally §340 The Dying Socrates and §341 The Greatest Heavy‐Weight.
In Human, All Too Human, §408, Nietzsche offers us an et in Arcadia variation: “I too have been in the underworld, like Odysseus, and will often be there again; and I have not sacrificed only rams to be able to talk with the dead but have not spared my own blood as well. There have been four pairs who did not refuse themselves to me, the sacrificer.”33 The rebuke of the historian implies that, by contrast with scholarly engagement with “those who seem so alive,” the living seem lifeless in their turn. Thus Nietzsche highlights “paying” with blood, for the sake of the kind of knowledge and style of writing to be learned by heart.
We noted above that the bloodlessness of the dead has, for the Greeks, a logical corollary. The insight yielded a cult of note‐taking as guide for what to do when your memory, your mind, your awareness of self no longer serves. By necropolitical contrast, Ruin’s concern is not with individual life, despite Heidegger and despite the Greeks themselves, but is instead and as Ruin explains, a concern with Alfred Schütz’s sociologically minded “world of predecessors,” providing the dead, historiologically speaking, with “a space in history” (106), for the sake of “an expanded theory of history as a space of life with the dead, as a life with those having‐been” (107). The “new” ethnography—“postprimitivistic” as Ruin writes, paralleling this with “posthumanism and the new materialism”—can now ascribe “‘agency’ to non‐living artifacts as well as to the dead” (108). The result is, as Ruin points out, not a little problematic, calling for care and sensitivity.
The fragmentary hints of the life of birds as one may read in the Derveni Papyrus may be less salient here than the broader Orphic tradition as such. In the same way, the Petelia golden tablets preserve a script to guide the mindless soul away from immediate disaster. If thirsty, the soul is told to avoid the first spring, where everyone else may be seen drinking their fill—a caution one can fear might never be read: will the soul remember to read or still be able to read?34 The souls of the dead given voice in the words of ghosts cannot be understood. In the Iliad, Homer relates the wailing ululation of Patroclus, an incoherent lament that does more to move Achilles than rational discourse. This is the destiny of heroes like Odysseus as Ruin glosses the rites that enable his encounter, his being‐with the thus‐summoned or risen dead. Things are different for the wise—note the difference from Oedipus, whose death and its sacrality Nietzsche details in his first book. Crucially, philosophy begins with Orphism. Thus for those mindful enough, philosophical enough to have practiced these Orphic rites, the next words are key: “I am parched with thirst and am dying; but quickly grant me cold water from the Lake of Memory to drink.”35
The focus here is Vergegenwärtigung, re‐presentation, reconstitution. This effects the work of sacrifice in Homer’s uncanny sense. Nietzsche tells us that if we mean to hear from the silent ghosts, we must give them blood. Odysseus, mantic as he was, sacrificed animal blood. By contrast, Empedocles cautions that this, given the unity of all with all, leads to what he calls “dining on oneself,” “Sichselbstverspeisen.”36 The blood we must give, Nietzsche says, is our own.
Zombie scholarship: on being “scientifically dead” – between usener and Nietzsche
… it is only if we bestow upon them our soul that they can continue to live: it is only our blood that constrains them to speak to us.—Nietzsche37
What I call “zombie scholarship” is commonplace. Books are written, but they are not read. A scholar stakes out a pathbreaking insight and others simply ignore it; they do not read it, or if they do, they are careful to avoid mentioning it. Thus I began this essay with a reflection on the sheer abundance of books on death and dying and on filmic allusions to the undead, or vampires, or to catastrophic futures, haunted by zombies. These are not necessarily the ghosts summoned by blood sacrifice, as Ruin writes, but films dedicated to ghosts, including the gently comic variation on “love stronger than death,” in the case of Alan Rickman’s dead cellist haunting his grieving lover in Truly, Madly, Deeply (1991), or Ghost (1990), featuring the frustrations of the ghosts as Patrick Swayze “saves” his living wife from his erstwhile murderer.38 To date, zombies themselves continue to thrive in the television series The Walking Dead (2010–).39
I note zombie scholarship via such pop references because Nietzsche is the zombie scholar of the Homer question as also of early Greek philosophy. Thus Heidegger begins his own reading of the Anaximander fragment by discounting, dead‐silencing, Nietzsche’s contribution. In his recently published Black Notebooks, Heidegger goes further: denouncing what he names the “fabulosity” of Nietzsche’s “supposed” rediscovery of the pre‐Platonic philosophers.40 Heidegger uses Nietzsche’s pre‐Platonics in place of Hermann Diels’s pre‐Socratics. It is no accident that Heidegger offers his own parallel rubric: pre‐Aristotelians. What Heidegger omits is any reference to Nietzsche’s extensive lecture courses on the topic.
To say that a scholar is scientifically “dead” is to say that the scholar is not cited and not that he never existed, not that his work was irrelevant. Normal science works, as Thomas Kuhn argues, by excluding certain paradigms, including entire traditions. If Nietzsche’s work on Diogenes Laërtius was indisputably foundational for his own field, this has not secured Nietzsche’s scholarly authority in that same field. Part of the reason for this overshadowing would be the general assessment of Diogenes Laërtius himself, declared “trivial” by Kirk, Raven, and Schofield while being “from our point of view important.”41 Thus Diogenes Laërtius is named “night‐porter to the history of Greek philosophy,” quoting Jonathan Barnes, who himself quotes Nietzsche: “no‐one can enter unless Diogenes has given him the key.”42 The distinction between Kirk, Raven, and Schofield’s “trivial” and Nietzsche’s “night porter” is a fine one. For today’s specialists in ancient history, including classics and ancient philosophy, Nietzsche is as dead to scholarship as Hermann Usener underlined the fact for his own students: anyone who writes in this way is “scientifically dead”—“wissenschaftlich todt.”43 The assertion holds to this day: scholars of ancient history, of ancient philosophy, of classical philology do not cite Nietzsche. There are rare exceptions, and even the exceptions carefully highlight academic reservations.
But how does one get to be “scientifically dead”? How does an accomplished scholar, called at an early age to an important professorial chair, whose work was recognized as being, as it would continue to be, influential for an entire discipline, nonetheless manage to become irrelevant in and to the working history of that same discipline? What happened? If few ask this question, answers are not lacking. Thus it is typically assumed that Nietzsche first missed his “true” calling as a famous philosopher and, in the course of a relatively short adult life, some three decades of productivity, simply whiled away two‐thirds of it on classical studies: ten years destroying his eyes to establish source scholarship as such (Thomas Brobjer’s work would provide support for this claim in its specificity),44 followed by a decade of teaching and writing as professor of classics in Basel. In this vision of Nietzsche’s personal becoming‐Nietzsche, Nietzsche’s twenty years of classical philology—Christian Benne counts twenty‐one years total in his monograph on this question45—was just a ‘wrong’ turn. Not only that, but experts will tell us that Nietzsche was lamentably bad at it—a junior classmate, Ulrich von Wilamowitz‐Möllendorff tells us so, and specialist scholars repeat the judgment—whereby, so the standard story goes, Nietzsche eventually came to his senses and proceeded to write Zarathustra and the Genealogy of Morals and so on.
All of this is myth.
What is not myth is personal attestation, as Nietzsche himself reports it, that Hermann Usener proposed a joint‐project with Nietzsche to prepare a scholarly source book of ancient Greek philosophers. Thus in a long letter written on June 16, 1869, from Nietzsche in Basel to Erwin Rohde in Rome, embedded in a paragraph musing on the likelihood of being “doch noch der futurus editor Laerti,” Nietzsche reports “in strictest confidence” that “Usener and I are planning a historical philosophical edition in which I participate with Laertius, he with Stobaeus, Pseudoplutarch etc. This sub sigillo.”46
On this account, what would ultimately come to be published as Diels’s Die Vorsokratiker was, at least at one stage, conceived jointly between Usener and Nietzsche. Nietzsche’s claim antedates while also according with Diels’s later report that Usener transferred his original role in this project to Diels, and Diels tells us that the project was one that was to have been shared between Nietzsche and Diels. Today’s established scholars cite Diels’s later report47 without noting Nietzsche’s report of his planned collaboration with Usener.
Apart from all this, Nietzsche’s contribution to modern “source scholarship” had already been established with his publications on Diogenes Laërtius in the Rheinisches Museum für Philologie, a leading classical journal.48 Thus Diels drew on Nietzsche’s research as a matter of course (he would not need to acknowledge this) for both his Doxographi Graeci (1879) and Fragmente der Vorsokratiker (1903).49
Death as History: personalities and succession theory
Who has ever put more water in their wine than the Greeks?—Nietzsche50
In his lectures on the pre‐Platonic philosophers, Nietzsche foregrounds philosophy as it appears in history.51 The first point is the sheer otherness of the Greek project.52 Framing his question in this historically hermeneutic fashion, Nietzsche underlines what Certeau emphasizes as a certain pathos, a “living solidarity with what has gone,” as Ruin cites The Writing of History (161). For Nietzsche, “What do we learn for the Greeks, we wish to ask, out of the history of their philosophy? Not, what do we learn for philosophy. We want to explain the fact that the Greeks practiced philosophy, something that is, given the ruling perspective on the Greeks, hardly self‐explanatory.”53 The question is hermeneutically minded (indebted to the concerns of his teacher Friedrich Ritschl), asking, first, how the Greeks moved “within themselves” toward philosophy, and, second, how the “philosopher” was present in and among the Greeks as such—this is for Nietzsche the question of the “person”—rather than merely how philosophy was specified—this is the question of philosophical doxa.54
The sole methodological access to such questions, so Nietzsche tells his students repeatedly, is and can only be the texts alone. Nietzsche reads his “pre‐Platonic philosophers” by foregrounding the initial need to first ascertain historical “facts,” for the sake of “doing” history as such, tracing alternate genealogies. The first lectures begin by emphasizing the importance of determining chronology, an emphasis that continues throughout. Herodotus reported Thales’s prediction of a datable solar eclipse, and Nietzsche cites then newly current astronomical research as decisive. There are, then, “fixed points” in Thales’s case.“55 For Anaximander, by contrast, the first datable event could only be “the conception and completion of his book πεϱὶ φύσεως.”56 The key for history is Anaximander qua author of the very first philosophical text, by contrast with Thales, who did not write. Nietzsche emphasizes the same point for Pythagoras and Socrates.57 In his Anaximenes lecture, Nietzsche details Apollodorus’s account of Anaximenes’s dates, foregrounding his “putative studentship” in received succession accounts: the Διαδοχαί.58
Teacher–student succession is a traditional means of asserting legitimacy whereby, as Nietzsche underlines, the motivation to establish it can lead to the suppression of contradictory chronologies. If one wants to argue succession, one will find it, just as Nietzsche will later tease that the Tübingen theologians go off into the bushes in search of, in their case: “faculties” [“Vermögen”].59 In this way, Plato argues on behalf of Socrates in his dialogues (thus Nietzsche includes Socrates as a pre‐Platonic philosopher), complete with various claims to studentship, including Parmenides and Anaxagoras. Conflicting claims for different teachers for the same thinker yield alternative genealogies of philosophy. The disparity between the views of teacher and student is as useless for clarifying matters in antiquity as it is for resolving disputes between thinkers today (think of Straussians but also Wittgensteinians and Cavellians, or Heideggerians, Derrideans, and such like).
Explicating both the givenness of authoritative dating and authoritative contradiction, skepticism will be required on rigorous historical grounds.60 Anaximenes cannot have been Anaximander’s student, by some two decades.61 Ancient accounts repeat an array of details already treated as idle at the time thus qua details “no one believes.” To this extent, “an sich,” Nietzsche argued, such accounts of teacherly succession would be “utterly unmethodical.”62 Tacking between such readings, Nietzsche foregrounds another account in Diogenes Laërtius whereby the twenty‐year‐old Anaximenes is claimed to have been Parmenides’s student (once again: two decades). Turning to the source for this testimony in Theophrastus, which sets Parmenides as a student of Anaximander, Nietzsche notes the dates of their flourishing for Anaximander at sixty‐four, giving Parmenides the studentship at twenty, such that forty‐four years later, likewise at the age of twenty, Anaximenes may be installed in the same lineage. The picture‐book chronology seems trustworthy yet by intercalating Parmenides on this “oldest” account, “thereby dies the διαδοχή Anaximander–Anaximenes.”63
Later chronologies shift the dates. Indeed, anyone who holds to the authoritative διαδοχή) is compelled, so Nietzsche writes, to date “retroactively,”64 following Simplicius, shifting both Anaxagoras and Anaximenes for the sake of the Ionian διαδοχή). Consequently Anaximander–Anaximenes become friends and contemporaries. Nietzsche encourages the student of ancient philology/ancient history to compare sources, by hermeneutic contrast. Here, we note Nietzsche’s thirteenth lecture on Anaxagoras, a lengthy lecture foregrounding chronology and “killed” by Nietzsche’s editors as reduplicative.65 Omitted from published versions of Nietzsche’s lecture courses for eighty‐two years, beginning with the 1913 Kroner edition,66 the editors, Otto Crusius and Wilhelm Nestle, refer the reader instead to Nietzsche’s thematization of Anaxagoras in his Philosophy in the Tragic Age of the Greeks. Obviously: Nietzsche speaks differently to his own students of philology than he does to a general public. The style and voice (and sometimes even the language of publication, not only German but also Latin) of Nietzsche’s source work (Diogenes Laërtius, Homer, Hesiod) differs from his more popular texts, such as his first book, The Birth of Tragedy out of the Spirit of Music. For the same reason, I noted pop culture examples above, as scholarly audiences differ from popular audiences while at the same time being included among them. And thus Nietzsche’s Philosophy in the Tragic Age of the Greeks omits the historical focus on chronology characteristic of the lecture courses.67
Nietzsche’s Anaxagoras lecture includes chronology and succession, emphasizing Anaxagoras’s primacy by contrast with doctrinal transmission, teacher to student, highlighting the personal account of Anaxagoras’s arrival in Athens. Not motivated in terms of studentship (given that there were no thinkers with whom Anaxagoras might have sought to study), there was, however, immediate bodily reason to flee Clazomenae in advance of the Persians.68 The Anaxagoras lecture remained unpublished until 1995, with inevitable losses for scholarship.69 Ruin’s book engages neither Nietzsche’s Homer nor Nietzsche’s pre‐Platonics nor Nietzsche’s repeated recourse to the metaphor of blood. Yet there is the working effect of what Ruin recalls for us as Michelet’s resurrectionism. On Nietzsche’s hermeneutic terms, we can only summon the voices of the dead past to limited life: we may call them to speak to us only on our terms and according to our taste. Thus Nietzsche reminds us of the danger of assuming that what we call the soul [die Seele—this would be Rohde’s Psyche] remains the same through all time. Per contra, the soul of the ancient master is ever and “yet another.” This otherness may perhaps be “greater,” Nietzsche argues, but it is at the same time “colder and distant from the allure of what is alive.”70 Here, I infuse the blood of current scholarship not simply for Nietzsche’s sake but in order to encourage others to bring the silent past to voice, as Heidegger wrote: re‐presenting it once again, “resurrected” in this Homeric sense, as Ruin reminds us via Certeau and Michelet—as there are so many ways of being with the dead.
1 Thomas W. Laqueur, The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains (Princeton: Princeton University Press, 2018). Cf., Hikaru Suzuki, The Price of Death: The Funeral Industry in Contemporary Japan (Stanford: Stanford University Press, 2002), and Sue Black, All That Remains: A Life in Death (London: Black Swan, 2019).
2 See the first chapter, “Not Selling,” in Jessica Mitford’s The American Way of Death Revisited [1963, 1998] (New York: Knopf, 2011).
3 Susan Jacoby, Never Say Die: The Myth and Marketing of the New Old Age (New York: Pantheon, 2011).
4 F. Gonzalez‐Crussi, The Day of the Dead and Other Mortal Reflections (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1993).
5 Sherwin B. Nuland, How We Die: Reflections on Life’s Final Chapter (New York: Penguin Random House, 1995).
6 See Ivan Illich, Limits to Medicine. Medical Nemesis: The Expropriation of Health [1995] (London: Marion Boyars, 2010). See further, Babette Babich, “Ivan Illich’s Medical Nemesis and the ‘Age of the Show’: On the Expropriation of Death,” Nursing Philosophy 19, no. 1 (2018), 1–14.
7 Seamus O’Mahony, The Way We Die Now (London: Head of Zeus, 2016). See also O’Mahony’s retrospective account: “Medical Nemesis Forty Years On: The Enduring Legacy of Ivan Illich,” Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh 46, no. 2 (2016), 134–139.
8 Alphonso Lingis, “The Return of Extinct Religions,” New Nietzsche Studies 4, nos. 3 and 4 (2000–2001), 15–28.
9 Lewis Binford, “New Perspectives in Archaeology,” ed. James Brown, in Memoirs of the Society for American Archaeology 25 (1971), 6–29.
10 John Gray, Straw Dogs: Thoughts on Humans and Other Animals (London: Granta, 2002).
11 This citation forms the first line of the introduction to Michel de Certeau, The Writing of History, transl. Tom Conley [1975] (New York: Columbia University Press, 1988), 1, citing Jules Michelet, “L’heroïsme de l’esprit.”
12 Ethnographers are not always happy with their own—this is a common characteristic across the disciplines—but Bruno Latour has long been critically, reflectively engaged with his own discipline, not unlike Nietzsche, who wrote Wir Philologen as an indictment of his own field. More on Nietzsche below, but see here, and note the subtitle, Latour’s An Inquiry into Modes of Existence: An Anthropology of the Moderns, transl. Catherine Porter (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013).
13 I am enlightened here by discussions with Annette Hornbacher over a number of years; see Hornbacher, “Contested Moksa in Balinese Agama Hindu: Balinese Death Rituals between Ancestor Worship and Modern Hinduism,” in Dynamics of Religion in Southeast Asia, ed. Volker Gottowik, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014), 237–260.
14 See Babich, “‘The Answer is False’: Archaeologies of Genocide,” in Adorno and the Concept of Genocide, ed. Ryan Crawford and Erik M. Vogt (Amsterdam: Brill, 2016), 1–17, as well as Babich, “Nietzsche and/or/vs. Darwin,” Common Knowledge 20, no. 3 (2014), 404–411.
15 As Ruin writes: “The last lines of this infamous passage read: ‘The gradual abolition of slavery is therefore wiser and more equitable than its sudden removal. At this point we leave Africa, not to mention it again’” (105).
16 Robert Bernasconi, “Hegel at the Court of the Ashanti,” in Hegel after Derrida, ed. Stuart Barnett (London: Routledge, 1998), 41–63.
17 “Der wirklich ‘historische’ Vortrag würde gespenstisch zu Gespenstern reden.” Nietzsche, Vermischte Meinungen und Sprüche. Menschliches, Allzumenschliches II, §126, in Kritische Studienausgabe, ed. Giorgio Colli and Mazzino Montinari, (Berlin: de Gruyter, 1980), 431. Hereafter KSA.
18 Erich Bethe, “Homerphilologie Heute und Künftig,” Hermes 70 (1935), 46–58.
19 Nietzsche, “Homer und die klassische Philologie. Ein Vortrag. Basel 1869,” in Frühe Schriften, ed. Carl Koch and Karl Schlechta (Munich: Beck, 1994), 283–306.
20 Ibid., 304.
21 Nietzsche, Also Sprach Zarathustra I, in KSA, 4, 48. Along with Hölderlin’s language of “Die Blume des Mundes,” I use Nietzsche’s language of both blood and flowers in Babich, Words in Blood, Like Flowers: Philosophy and Poetry, Music and Eros in Hölderlin, Nietzsche, and Heidegger (Albany: State University of New York Press, 2006).
22 I cite Diogenes Laërtius, Lives of Famous Philosophers, VIII, 59, after G. S. Kirk, J. E. Raven and M. Schofield, The Presocratic Philosophers [1983] (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1993), 286.
23 J. K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone (London: Bloomsbury), 137.
24 Hugh Lloyd‐Jones, Blood for the Ghosts: Classical Influences in the Nineteenth and Twentieth Centuries (London: Gerald Duckworth, 1982).
25 William J. Richardson, S. J., Heidegger from Phenomenology to Thought [1963] (The Hague: Nijhoff, 1974), xxviii.
26 Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, II §126; KSA 2.
27 Nietzsche, Human, All Too Human II, transl. Gary Handwerk (Stanford: Stanford University Press, 2013), 144.
28 Nietzsche, Human, All Too Human: A Book for Free Spirits, transl. R. J. Hollingdale (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1986), 299. [Assorted Opinions and Maxims].
29 I discuss this in several essays; for one example, see Babich, “Nietzsche’s Zarathustra and Parodic Style: On Lucian’s Hyperanthropos and Nietzsche’s Übermensch,” Diogenes 58, no. 4 (2013), 58–74.
30 See my introduction, “Signatures and Taste: Hume’s Mortal Leavings and Lucian,” in Reading David Hume’s “Of the Standard of Taste,” ed. Babette Babich (Berlin: de Gruyter, 2019), 3–22.
31 Nietzsche, Assorted Opinions and Maxims, §408.
32 See David Rieff, Swimming in a Sea of Death: A Son’s Memoir (New York: Simon & Schuster, 2008).
33 Nietzsche, Assorted Opinions and Maxims, §400.
34 Cf. Alberto Bernabé and Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, “Arrival in the Subterranean World,” in Bernabé and Cristóbal, Instructions for the Netherworld: The Orphic Gold Tablets (Leiden: Brill, 2008), 9–59.
35 Ibid., 9. See, with reference to Nietzsche, Benjamin Biebuyck et al., “Cults and Migrations: Nietzsche’s Meditations on Orphism, Pythagoreanism and the Greek Mysteries,” Philologos: Zeitschrift für Antike Literatur und Ihre Rezeption 149 (2005), 53–77ff.
36 See Nietzsche’s discussion in his fourteenth lecture (on Empedocles), Vorlesungs Aufzeichnungnen (WS 1871/72–WS 1874/75), Zweiter Abteilung, Vierter Band, ed. Fritz Bornmann and Mario Carpitella (Berlin: de Gruyter, 1995), here 317. Hereafter KGW.
37 “Denn nur dadurch, dass wir ihnen unser Seele geben, vermögen sie fortzuleben: erst unser Blut bringt sie dazu, zu uns zu reden.” Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches I, §126, “Aeltere Kunst und die Seele der Gegenwart,” KSA 2, 431.
38 Ghost is visually valuable for its hellish ghouls, in a Homeric‐Dantesque context, rising from steaming night‐time vapors, illuminated black and red, ascending to seize their victim in the dark arches beneath an elevated subway in New York City’s outer boroughs.
39 To this one may add reference to The Game of Thrones columbarium of faces dedicated to the God of Death, or, on another level, the Harry Potter film series based on Rowling’s popular novels, including Death Eaters and the dead‐named Lord Voldemort, complete with a redemptive death by Rickman’s Professor Snape, a salvation afforded by bodily fluids, in this case: tears, in Harry Potter and the Deathly Hallows 2 (2011). We can add Neil Gaiman’s purpose‐written American Gods (2001, cable broadcast 2017), including its references to the Egyptian Book of the Dead and a hastily constructed allusion to the death of the old gods in the world of the new. If American Indian deities are inevitably underrepresented, perhaps it is to leave room for Kali, the Hindu goddess of death.
40 Thereby Heidegger indicates a then‐current claim. See, for a discussion with specific reference to history, Babich, “Machenschaft and Seynsgeschichte in the Black Notebooks: Heidegger on Nietzsche’s ‘Rediscovery’ of the Greeks,” Journal of the British Society for Phenomenology 51, no. 2 (2020), 110–123.
41 The Presocratic Philosophers, ed. G. S. Kirk, J. Raven, and Malcolm Schofield (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1983), 2.
42 Ibid., 118. Here, Jonathan Barnes cites Nietzsche, Historisch‐Kritische Gesamtausgabe: Werke, 5 vols., ed. Joachim Mette (Munich: Beck, 1933–1943), V, 126.
43 James Porter reviews of Nietzsche’s contributions to the discipline of classics, with bleak results, noting that “any Nietzsche may have had in the field of Presocratic philosophy will have consisted in a misprision and a reduction of the views variously on offer in his published and unpublished writings.” Porter, Nietzsche and the Philology of the Future (Stanford: Stanford University Press, 2000), 391. Porter observes that Nietzsche’s work on his pre‐Platonics would not have been influential for Diels’s pre‐Socratics. This last is not in dispute as I argue that Nietzsche’s contribution would be his original source scholarship on Diogenes Laërtius: Nietzsche, “De Laertii Diogenis fontibus,” Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge, vols. 23 and 24 (Frankfurt am Main: Johann David Sauerländer, 1868–1869), 632–653; 181–228 [in Latin]; Nietzsche, “Analecta Laertiana,” Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge, vol. 25 (Frankfurt am Main: Sauerländer, 1870), 217–231 [in Latin] (and see note 45 below). This source scholarship was as useful for Diels’s work as it was similarly valuable for Usener’s Epicurea.
44 See Thomas Brobjer’s many publications and see, too, Christian Benne, cited below.
45 Christian Benne, Nietzsche und die historisch‐kritische Philologie (Berlin: de Gruyter, 2005), 1.
46 “Usener nämlich und ich beabsichtigen ein philosophie‐historisches corpus, an dem ich mit Laertius, er mit Stobaeus, Pseudoplutarch usw. Participire. Dies sub sigillo.” Nietzsche, Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe (Berlin: de Gruyter, 1986), III, 18.
47 Cf. the beginning pages of Jaap Mansfeld and David Runia, Aetiana: The Method and Intellectual Context of a Doxographer: The Sources (Philosophia Antiqua 73) (Leiden: E. J. Brill, 1997). Mansfeld and Runia do not cite Nietzsche’s 1869 letter to Rohde, and Glenn Most surprisingly, as editor of Nietzsche’s philological writings, omits any reference to this complicated historical context in his “Friedrich Nietzsche: Between Philology and Philosophy,” New Nietzsche Studies 4, no. 1/2 (2000), 163–170, originally published in German in 1994.
48 See, too, Nietzsche, “Beiträge zur Kritik der griechischen Lyriker,” Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge, vol. 23 (Frankfurt am Main: Sauerländer, 1868), 480–489 as well as Nietzsche, “Der Florentinische Tractat über Homer und Hesiod, ihr Geschlecht und ihren Wettkampf,” Rhenisches Museum für Philologie. Neue Folge, vols. 25 and 28 (Frankfurt am Main: Verlag von Johann David Sauerländer, 1870–1873), 528–540; 211–249.
49 Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin: Weidmann, 1903). That there are elements of a certain Wirkungsgeschichte may be evidenced by the publication of Diels, Doxographi Graeci (Berlin: Wiedemann, 1879). See Heidegger on this constellation—it is not the subject of his discussion but a prelude to his reading of Anaximander first published in 1950. Cf. Heidegger, Der Spruch des Anaximander, ed. Ingeborg Schüssler (Frankfurt am Main: Klostermann, 2010).
50 “Wer hat mehr Wasser in den Wein gegossen als die Griechen?” Nietzsche, Der Wanderer und sein Schatten, §336, KSA 2, 698.
51 Nietzsche, Vorlesung I in Nietzsche Werke. Kritische Gesammtausgabe, Vorlesungsaufzeichnungen, II, 2–5, ed. Fritz Bornmann and Mario Carpitella (Berlin: de Gruyter, 1995) [KGW] II4, 211. Nietzsche’s contrasting reference is to Hegel’s 1823 reflections on ancient philosophy from Thales to Aristotle. See G. W. F. Hegel, Einleitung in die Geschichte der Philosophie Hegel, ed. Johannes Hoffmeister (Leipzig: Felix Meiner, 1966).
52 Nietzsche, Vorlesung I. KGW II4, 211.
53 Thus Nietzsche continues, “Wer sie als klare, nüchterne harmonische Praktiker auffaßt, wird nicht erklären können, woher ihnen die Philosophie kam. Und wer sie wiederum nur als ästhetische, in Kunstschwärmereien aller Art schwelgende Menschen versteht, wird sich auch durch ihre Philosophie befremdet fühlen.” Nietzsche, KGW II4, 211.
54 Ibid., 212.
55 Ibid., 231.
56 Ibid., 239–240.
57 Historically methodological, Nietzsche proceeds to discuss Pythagoras, relaying his friend Rhodes’s epithet for Pythagoras as “grandmaster of superstition,” that is, ancient or primitive belief, noting that like Thales, Pythagoras left no writings (whereby to be sure “Pythagorean philosophy” is a different, later tradition linked with names other than Pythagoras and key to Greek mathematics and Greek music theory). Nietzsche, GW 4, 288; cf. KGW II4, 252.
58 See, again, Nietzsche, Die Διαδοχαί der vorplatonische Philosophen [1868–1869] (Philologische Niederschriften und Notizen aus der Leipziger Zeit), KGW II4. The editors date this lecture course as offered in 1874 and again in 1876.
59 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, §11.
60 Nietzsche, KGW II4, 247.
61 The contradiction counters the theory of succession on ancient authority: “thus Apollodorus denies studentship, he denies the διαδοχή.” Nietzsche, KGW II4, 247.
62 Ibid.
63 Ibid., 248.
64 Ibid., 249.
65 Ibid., 302–313.
66 See Nietzesche’s Werke. Philologica. Unveröffentliehtes zur antiken Religion und Philosophie, ed. Otto Crusius und Wilhelm Nestle (Leipzig: Alfred Kroner Verlag, 1913), specifically, beginning with the course given in 1875–76: Der Gotterdienst der Griechen.
67 Indeed, one may also find this dating replicated as Die Διαδοχαί der vorplatonische Philosophen (1873–74) KGW II4, 613–632. The lecture on succession, although omitted from the English translation, may be found in the French translation, Les philosophes préplatoniciens suivi de les διαδοχαί des philosophes. Texte établi à partir des manuscrits, transl. Nathalie Ferrand (Paris: Éditions de l’éclat, 1994).
68 Here to quote Xenophanes: “In winter, sprawled upon soft cushions, replete and warm, munching on chick‐peas and drinking sweet wine by the fire, that is the time to ask each other: As if to Odysseus: ‘Who, and from where, and why art thou?’—or, with a wink, ‘And how many years are on your back, Bold‐Heart?’—or quietly, ‘Had you yet reached man’s estate when the Persians came?’”
69 The exclusion was fateful for the history of philosophy, historically speaking, noting the difference that had to have been made by the omission of the Anaxagoras lecture for Francis MacDonald Cornford’s reading between Plato and Pythagoras. To unpack that would take more than just another paper, and Nietzsche’s lectures remain to be tapped for philosophical, historical, and philological scholarship. Cf., however, Cornford, From Religion to Philosophy: A Study in the Origins of Western Speculation (London: Longmans, Green and Co., 1912) in addition to Cornford’s discussion of Plato and Parmenides as well of Plato’s Cosmology and his The Unwritten Philosophy and Other Essays [1950] (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1967).
70 Nietzsche, KSA 2, 431.
Babette Babich
RUIN, Hans. Being with the Dead: Burial, Ancestral Politics, and the Roots of Historical Consciousness. Stanford: Stanford University Press, 2019. 272p. Resenha de: BABICH, Babette. Blood for the ghosts: reading Ruin’s Being With the dead with Nietzsche. History and Theory. Middletown, v.59, n. 2, p.255-269, jun. 2020. Acessar publicação original [IF].
Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930) | Ana Beatriz D. Barel e Wilma P. Costa
O livro Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930), organizado pelas historiadoras Ana Beatriz Demarchi Barel e Wilma Peres Costa, é uma coletânea de trabalhos que pesquisadores de diferentes instituições do país apresentaram durante o “Seminário Internacional de Estado, cultura e elites (1822-1930)”, na Fundação Casa de Rui Barbosa, em 2014. A obra tem como recorte cronológico o chamado “longo século XIX” no Brasil, que, segundo as próprias organizadoras, foi marcado pela “intensidade das transformações que atravessaram a experiência humana no Velho e no Novo Mundo” (p. 7).
Através da análise de objetos variados e trajetórias individuais, o livro apresenta as disputas travadas no interior do processo de definição da identidade nacional brasileira, um itinerário complexo marcado pela construção do Estado e pela consolidação da nação. Para a elite letrada brasileira, o desafio consistia em estabelecer símbolos que fossem importantes para o público interno letrado do país e para os leitores do velho continente. Seu objetivo era integrar o Brasil no sistema cultural das nações europeias, ao mesmo tempo que era necessário distingui-lo das demais nações do Novo Mundo.
Os projetos nacionais para o Brasil, a fundação de instituições culturais, a composição da sociedade letrada, a relação entre Estado e cultura, tudo isso está presente ao longo dos doze capítulos que compõem as duas partes da obra. Os da primeira parte abordam especialmente a propagação da cultura escrita no país, destacando-se algumas figuras importantes que conduziram os debates sobre a nação através da produção de obras, organizações literárias e disputas dentro das próprias instituições do país. Na segunda parte do livro, observamos a importância e o impacto da difusão da imagem, em particular dos retratos e da fotografia nas décadas que compreendem a segunda metade do século oitocentista até o início da república brasileira. Em ambas as partes, as disputas pela construção de narrativas para o país, bem como a relação tensa entre cultura e poder, constituem o eixo de análise dos capítulos.
O primeiro capítulo da obra, “Espaço público, homens de letras e revolução da leitura”, do historiador Roger Chartier, fornece a chave para compreender as tensões entre o Estado, as elites e a constituição da cultura nacional exploradas em diferentes momentos do livro. Chartier desenvolve aí a genealogia de três noções, a de espaço público, a de circulação de impressos e a de constituição do conceito de intelectual. Desenvolvidas durante o movimento iluminista, essas noções apresentaram variações no desenrolar do mundo contemporâneo e influíram decisivamente nas nações a surgir nas Américas, entre elas o Brasil.
A construção de um imaginário para a nação a partir do olhar estrangeiro do viajante, tema clássico mas sempre atual nas discussões sobre o Novo Mundo, é apresentado no segundo capítulo do livro, de Luiz Barros Montez Barros. O texto analisa os objetivos da produção dos relatos do alemão Johann Natterer a respeito de sua viagem ao Brasil entre os anos de 1817 a 1835. Como sugere Barros, conhecer novas terras possibilitava a elaboração reflexiva sobre a cultura dos países de origem dos próprios viajantes. Essa produção, além de prezar pela objetividade científica das informações, resultava em avaliações eurocêntricas que ressaltavam a “afirmação da supremacia do modelo civilizacional e técnico” dos países capitalistas emergentes (p. 49).
O estudo de Wilma Peres Costa sobre a figura de um dos intelectuais mais importantes do século XIX brasileiro, Alfredo d’Escragnolle Taunay (1843-1899), também explora a temática da construção da identidade nacional brasileira em sua complexa relação com o Velho Mundo. A autora observa a complexidade de um personagem que pertencia à linhagem francesa e vivenciava o contexto desafiador de criação de um campo literário e artístico no Brasil oitocentista. Através da análise do processo de mudança do próprio nome do literato, aponta que Taunay, em oposição à maioria dos intelectuais brasileiros, buscava se distanciar das referências francesas e se aproximar das de Portugal e do nativismo brasileiro. Assumindo a condição de uma “dupla cidadania intelectual”, o letrado revelava em suas obras, com destaque para A Floresta da Tijuca, o projeto de construção de uma memória e história vinculadas ao poder do Imperador e da monarquia no Brasil.
O esforço pela construção do Estado e pela busca da estabilidade política monárquica no Brasil também se materializou na fundação das instituições literárias na primeira metade do século XIX, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), criado em 1838. Naquele momento, a elite letrada do Brasil se inspirava nas instituições francesas – o Instituto Histórico de Paris havia sido fundado alguns anos antes (1834) e contava com a presença de representantes do Império brasileiro em suas sessões iniciais. A preocupação do homem do século XIX, dos dois lados do Atlântico, era com o registro histórico para a composição e conformação da memória nacional.
Dois capítulos do livro se ocupam dos temas relacionados à composição social dos membros do IHGB e às escolhas de temas nas publicações de sua Revista, na primeira metade do século XIX. A historiadora Lucia Maria Paschoal Guimarães analisa como a seleção de acontecimentos históricos e suas respectivas narrativas, junto à composição social dos membros do IHGB desde a sua fundação até o ano de 1850, apontam para o esforço considerável de construir um passado nacional legitimador do Estado monárquico. A defesa da monarquia e da figura do Imperador era necessária diante das conturbações e pressões vividas naquele momento. “O passado acabaria então por converter-se em ferramenta para legitimar as ações do presente.” (p. 62).
Tamanho esforço também poderia ser observado na busca pelo estabelecimento dos cânones literários brasileiros na Revista do IHGB, dado que os escritores nacionais a figurar entre as referências literárias também foram definidos no interior do próprio Instituto. Conforme nos indica Ana Beatriz Demarchi Barel, a seção da revista intitulada “Biographia dos Brasileiros Distintos por Letras, Armas, Virtudes, &” tinha a finalidade de apresentar ao público os nomes de personalidades nacionais (escritores, advogados, diplomatas, navegadores, inquisidores) dignas de elogios, e dentre elas é possível observar a indicação de quais nomes deveriam pertencer ao panteão dos escritores da literatura nacional, em diálogo com as referências europeias. Assim, “a RIHGB conforma-se como instrumento de propaganda da política alavancada pelas elites e do poder de um monarca ilustrado nos trópicos” (p. 83).
O historiador Avelino Romero Pereira abordou a música no Império como um campo de prospecção e definição de um projeto cultural nacional. Propondo refletir sobre suas características “aproximando-a da literatura e das artes visuais” (p. 100), o autor destaca que, a exemplo dos gêneros literários, a produção, a circulação e o consumo musical estiveram permeados de tensões. O mecenato exercido pelo imperador nessa área não reduziu a música a um caráter meramente oficialista do Império, como se os artistas fossem “marionetes a serviço do poder pessoal do Imperador e da construção de um projeto exótico de Império nos trópicos”. (p. 93) Araújo Porto Alegre seria um dos representantes da multiplicidade de ideias contrapostas à visão de unicidade nacional.
As trajetórias individuais iluminam as contradições, oposições e alianças estabelecidas no processo de formação de campos discursivos culturais no Brasil, como se pode ver no capítulo de Letícia Squeff. A autora nos apresenta o caso do pintor Estevão Silva, negro, que se indignou ao receber a medalha de prata como artista das mãos do Imperador, em 1879, Academia Imperial de Belas Artes. Squeff aponta a tensão que esse episódio gerou, intensificando, inclusive, o momento de crise vivido dentro da instituição e, também, acentuando ainda mais o descrédito público da figura do Imperador. “Foi percebido como atitude potencialmente revolucionária, numa monarquia que já vinha sendo sacudida por debates e discursos republicanos” (p. 294).
Ricardo Souza de Carvalho também traz à tona uma importante trajetória individual ao analisar a atuação do abolicionista e monarquista Joaquim Nabuco em duas instituições de peso, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Academia Brasileira de Letras. Como dito, o IHGB se vinculou, durante todo o período do Império, à figura do Imperador e à Monarquia, enquanto a Academia Brasileira de Letras, fundada na última década do século XIX, marcou as necessidades relacionadas aos dilemas da construção do início da República no Brasil. Carvalho estuda a presença de Nabuco nessas instituições para mapear as relações tensas entre instituições culturais e política no fim do Império.
A relevância social das imagens na segunda metade do século XIX aparece no capítulo de Heloisa Barbuy, dedicado à organização de uma galeria de retratos na Faculdade de Direito de São Paulo no século XIX. O retrato ganhava ares de prestígio no momento em que a fotografia ainda não era tão glorificada. Retratar significava eternizar uma memória, dando início a uma “cultura de exposições” na segunda metade do século XIX que se ligava à construção de narrativas nacionais e, também, ao estabelecimento de personalidades como figuras de referência. Barbuy indica a relação entre a formação do Estado Nacional, em particular o seu sistema jurídico, e a escolha de determinadas trajetórias de “homens públicos-estadistas e governantes” para figurar uma sala de retratos. “Homenagear alguém com o seu retrato em pintura, em telas de grandes dimensões, era a expressão máxima da admiração reverencial que se desejava marcar.” (p. 223).
O capítulo de Ana Luiza Martins aborda a importância da iconografia para demarcar a preponderância do café na economia imperial brasileira. A ideia de que o “café dava para tudo” é problematizada através da análise de inventários e das obras literárias sobre os cafeicultores do Vale do Paraíba. As dificuldades encontradas com o declínio do tráfico negreiro e as oscilações do mercado ficaram, durante muito tempo, submersas na imagem do poder que a economia cafeeira proporcionava, imagem construída em grande medida pela iconografia. Os casarões dos proprietários das fazendas de café estavam retratados em telas pintadas por artistas de renomes da corte, o que representava o “poderio econômico e político” dos cafeicultores mesmo no momento em que a produção da região já não estava em seu auge.
Analisando a arquitetura do Vale do Paraíba, Carlos Lemos aponta para as transformações da cultura material nas residências da região. Lemos salienta que o material para construção das residências não variava e que o Estado não teve influência na constituição de suas características. As questões estéticas das casas, ao longo do Paraíba no século XIX, não eram primordiais. O tamanho das casas era o fator que diferenciava a classe social e econômica e é nesse aspecto que podemos perceber o esforço de diferenciação social que ocorreu através da monumentalidade dos casarões dos cafeicultores. “O que interessava aos ricaços era unicamente o tamanho de suas casas de dezenas de janelas” (p. 168).
O simbolismo de poder existente nas construções grandiosas, nas imagens e em suas exposições também ganharam aspectos novos com o advento e difusão da fotografia no Brasil. A chegada de fotógrafos europeus, a partir da segunda metade do século, possibilitou que aspectos da nossa sociedade fossem retratados com base em uma nova materialidade. Ao analisar a trajetória do fotógrafo alemão judeu Alberto Henschel, Cláudia Heynemann observa que, no momento em que o retrato a óleo ainda se restringia a uma minoria economicamente favorecida, a fotografia, através do desenvolvimento do formato carte de visite, possibilitou que outros setores da sociedade também tivessem acesso ao consumo de suas próprias imagens. O álbum privado, que trazia imagens de “famílias brasileiras, abastadas, das camadas médias em ascensão, de libertos, de escravizados, gente de todas as origens”, se tornou uma febre social (p. 258). A respeito de Alberto Henschel, a autora ainda destaca a diversidade de seus trabalhos, inclusive inúmeras fotografias que retratava os negros brasileiros, marcando um novo momento da história visual do Império e da sociedade escravista.
A diversidade de abordagens apresentada nos capítulos que compõe Cultura e poder entre o Império e a República nos permite compreender, com mais acuidade, o panorama múltiplo das relações entre as elites brasileiras e o Estado Nacional ao longo de mais de cem anos. A leitura de cada capítulo dá densidade a esse relevante tema de investigação. À medida que nos detemos em um determinado personagem ou em algum contexto mais específico, nos aproximamos das mais variadas formas de produção e circulação de ideias que fizeram parte da construção do imaginário nacional de um país monárquico cercado de repúblicas e profundamente marcado pela herança da escravidão.
Referência
BAREL, Ana Beatriz Demarchi; COSTA, Wilma Peres. (Orgs). Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930). São Paulo: Alameda, 2018.
Lilian M. Silva – Universidade Federal de São Paulo. São Paulo – São Paulo – Brasil.
BAREL, Ana Beatriz Demarchi; COSTA, Wilma Peres. (Orgs). Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930). São Paulo: Alameda, 2018. Resenha de: SILVA, Lilian M. Relações de poder na cultura escrita e visual no “longo século XIX” brasileiro. Almanack, Guarulhos, n.24, 2020. Acessar publicação original [DR]
Explosão feminista: arte/cultura/política e universidade | Heloisa Buarque de Hollanda
Sou uma feminista da terceira onda. Minha militância foi feita na academia, a partir de um desejo enorme de mudar a universidade, de descolonizar a universidade, de usar, ainda que de forma marginal, o enorme capital que a universidade tem. Leia Mais
Shifting the Meaning of Democracy: Race, Politics/and Culture in the United States and Brazil | Jessica Lynn Graham
A atual ascensão da extrema-direita mostra contornos verdadeiramente globais. Com maior ou menor intensidade, ocorre em todos os continentes e ganha corpo em países de trajetórias históricas as mais distintas. Dada a natureza dos problemas que ele coloca às democracias mundo afora, o fenômeno tem tornado lugar-comum a comparação da presente conjuntura com o período de gestação do fascismo e do nazismo na Europa. A profunda recessão econômica, já esperada como decorrência da pandemia de coronavírus, que grassa o mundo no momento mesmo em que escrevo estas linhas, faz com a Crise de 1929 uma comparação cada vez mais atraente. Leia Mais
Hablando de historia. Lo cotidiano/las costumbres/la cultura | Pilar Gonzalbo Aizpuru
En enero de 2018 tuvo lugar, en El Colegio de México, el coloquio Hacia una NuevaHistoria de la Vida Cotidiana. En Donde Todos Tenemos Algo que Decir, organizado por elSeminario de Historia de la Vida Cotidiana que la misma institución alberga. Alencuentro concurrió una veintena de estudiosos de la cotidianidad: algunos, los más,habituales del seminario -y de sus publicaciones-; otros, los menos, participantesesporádicos en las actividades del grupo, estudiosos del pasado cuyos trabajos pueden,con cierta facilidad, englobarse en la temática general del seminario. Las conferenciasdictadas, repartidas en seis mesas, terminaron por integrarse en un volumen más de losque, desde hace tres décadas, edita el seminario;1 a la par, Pilar Gonzalbo -cabeza del grupo desde susprimeros momentos de existencia y coordinadora del coloquio- decidió tomar nota de laspreguntas formuladas por los asistentes, agregar las que, regularmente, llegaban a ellavía correo electrónico y redes sociales, y dar respuesta a todas a través de un librodonde, de paso, le permitiera presentar los conceptos que, en términos generales, rigensu quehacer historiográfico. El resultado de sus afanes es Hablando de historia.Lo cotidiano, las costumbres, la historia, al que se dedican estas breveslíneas. Leia Mais
La revista Criterio y el siglo XX argentino. Religión/cultura y política | Miranda Lida, Mariano Fabris
A principios del siglo XX, a contramano de los discursos que aún resonaban contra la modernidad, el catolicismo argentino se fue adaptando a los tiempos que corrían y lo hizo a través de la apropiación de diversos formatos de organización y de comunicación. La revista Criterio y el siglo XX argentino. Religión, cultura y política coordinado por Miranda Lida y Mariano Fabris recorta una serie de problemas que ofrecen una vía de ingreso para comprender históricamente el impacto de esta iniciativa. Desde diversas perspectivas y periodizaciones, se aborda la trayectoria de una revista central en la cultura católica argentina y en la historia política e intelectual del país. Leia Mais
La desmesura revolucionaria. Cultura y política en los orígenes del PARA | Martín Bergel
Durante la última década se ha incrementado el número de investigaciones sobre el APRA en su dimensión transnacional. La relación entre la experiencia del exilio aprista y los procesos políticos en Latinoamérica se ha convertido en el principal interés de quienes se dedican al estudio del movimiento peruano. Sin embargo, gran parte de las nuevas investigaciones se basaron en los artículos publicados por Martín Bergel, quien desde hace una década postulaba que el partido liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre fue un movimiento político fundado desde el exilio con base en el contacto epistolar, en las redes intelectuales y en el debate político transfronterizo. La desmesura revolucionaria es el resultado de una prolongada investigación que incluyó numerosos archivos públicos y privados, bibliografía actualizada y el análisis desde diversas perspectivas que refrescaron los estudios del APRA. Como señala Carlos Aguirre en el prólogo de este libro, la historiografía aprista se dividía entre quienes celebraban el sacrificio de Haya de la Torre y sus críticos; sin embargo, Bergel forma parte de las excepciones de estos estudios, entre quienes se encuentran, por ejemplo, Ricardo Melgar Bao, Iñigo García-Bryce, Myrna Wallace, Patricia Funes y Leandro Sessa, que mostraron nuevos aspectos sobre el APRA como la difusión del anticomunismo, el papel de las mujeres, la circulación de impresos y las actividades transnacionales. El libro se estructura en tres partes que responden a una agenda de investigación que se distancia de la historia hecha por sus militantes y críticos como Percy Murillo, Luis Alberto Sánchez o Nelson Manrique, y se engarza a actualizadas cuestiones metodológicas, problemáticas y preguntas. En la primera parte, “el APRA en espacios transnacionales”, los artículos reunidos en este apartado destacan por los matices entre presencia intelectual y circulación de ideas. Bergel advierte que figuras como Haya de la Torre, Carlos Manuel Cox, Manuel Seoane y otros, no sólo sellaron su presencia a través de discursos, entrevistas y conferencias, sino que desarrollan un proceso de difusión doctrinal basado en diferentes actividades como la colaboración editorial en revistas y periódicos, establecer relaciones de amistad y la participación en debates políticos nacionales e internacionales. Estas actividades fueron caracterizadas por el autor como “nomadismo proselitista”, un ejercicio que entremezclaba carisma y polémica en la discusión ideológica que se desarrollaba en el continente. De ese modo, resulta esencial analizar las prácticas políticas fuera de los marcos nacionales y como éstas transformaron los hábitos intelectuales. Leia Mais
Cultura e poder entre o Império e a República: estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930) | Ana Beatriz Demarchi Barel e Wilma Peres Costa
Os estudos em torno da Nova História Cultural têm proposto interessantes abordagens sob a perspectiva da mediação e circulação de ideias entre espaços culturais, simbólicos e nacionais, ao longo do século XIX. A partir desta ótica, as complexas transformações socioculturais, que ocorreram devido ao intenso desenvolvimento técnico, têm sido alvo de revisão historiográfica, sobretudo com grupos temáticos de pesquisa que visam responder às grandes questões em torno dos eventos ocorridos ao longo desta extensa centúria. Este é o exemplo do Seminário Internacional Estado, Cultura e Elites (1822-1930) realizado na Fundação Casa de Rui Barbosa em 2014 e que resultou na obra Cultura e Poder entre o Império e a República – Estudos sobre os imaginários brasileiros (1822-1930) organizada por Ana Beatriz Demarchi Barel (Universidade Estadual de Goiás) e por Wilma Peres Costa (Universidade Federal de São Paulo) e lançada em 2018 sob o selo da editora Alameda. Leia Mais
Projeto Político de um Território Negro: memória, cultura e identidade quilombola em Retiro, Santa Leopoldina – ES | Osvaldo M. Oliveira
A historiografia brasileira há algum tempo entende a formação do Brasil e a diáspora africana, entre os séculos XVI e XVII, como um mesmo processo histórico que uniu os dois lados do Atlântico Sul em um único sistema de exploração colonial. A colonização portuguesa na América, alicerçada no escravismo, integrou uma zona de produção escravista no litoral brasileiro a uma zona de reprodução de escravos situada em Angola. A especificidade desse processo de formação ainda impacta profundamente o Brasil.
A despeito da importância do negro na formação nacional, a realidade dos afrodescendentes continua marcada por resistência e luta pelo acesso à cidadania. Foram necessários cem anos após a abolição da escravidão, para que a Constituição Federal de 1988 introduzisse o direito de acesso aos bens materiais e imateriais dos remanescentes das comunidades de quilombos, entre os quais, o título definitivo da propriedade de suas terras, fruto da participação ativa das organizações do movimento negro. Leia Mais
Entorno, sociedad y cultura en Educación Infantil: Fundamentos, propuestas y aplicaciones – BONILLA MARTOS; GUASCH MARÍ
BONILLA MARTOS, A. L.; GUASCH MARÍ, Y. (coords.). Entorno, sociedad y cultura en Educación Infantil: Fundamentos, propuestas y aplicaciones. Madrid: Pirámide, 2018. Resenha de JIMÉNEZ, Miguel Angel Pallarés. Íber – Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.95, p.85-89, jul., 2019.
Para la elaboración de esta obra, Antonio Luis Bonilla y Yolanda Guasch han dirigido un equipo de autores que son, en su mayoría y como ellos, profesores del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. A ambos coordinadores les une su labor investigadora y difusora del patrimonio como recurso didáctico; a todos, su variada y complementaria formación disciplinar, lo que aporta nuevos enfoques y amplios matices a la manera de abordar ese tema tan relevante. Se pretende en todo momento sumar ideas y recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje del entorno social y cultural, siguiendo una metodología activa, con un tratamiento de las nuevas tecnologías que se ha preferido transversal.
Conscientes de que el entorno social y cultural constituye un pilar básico en el desarrollo de la persona, y de que los primeros años escolares son fundamentales para trabajar las relaciones de los niños y niñas con su ámbito más cercano, los valores que en él les son transmitidos y el patrimonio que atesora, la obra que reseñamos se ha conformado en una estructura pedagógica de tres bloques, perfectamente ensamblados y relacionados con las competencias que el alumnado debe adquirir: una fundamentación teórica; el entorno social y cultural, y su aplicación en el aula; y, por último, recursos en educación infantil. En todos hallamos un marco teórico reflexivo que casa con un corpus de material educativo, pleno de recursos que amplían la información, y una propuesta de actividades prácticas que buscan la innovación y mejorar la labor docente; todo esto, en un contexto social y cultural como el de hoy, cada vez más complejo, cambiante y plural.
En el primer bloque, se establece un marco desde el que conceptualizar la infancia, la educación infantil y su currículo, y donde se estudia la contribución de las ciencias sociales y su importancia; también se trata la escolarización, los espacios público y privado, y se orienta para introducir la perspectiva de género en los primeros años escolares; por último, se repasan los diferentes tipos de prácticas profesionales de los alumnos y alumnas de Magisterio, animando a las prácticas curriculares en instituciones no formales, muy enriquecedoras para adquirir competencias históricas y patrimoniales útiles en la futura labor docente de los maestros y maestras.
Ya en busca de la pertinente aplicación en el aula, se consideran los entornos socioculturales de referencia en educación infantil: los tradicionales de la familia (y sus diferentes tipos) y la escuela, y la importancia de la colaboración entre ambas; el espacio y el tiempo, conceptos fundamentales en las ciencias sociales; la educación patrimonial en infantil; el concepto de entorno social y cultural, con la actividad humana como agente socializador en dicho entorno; y la necesidad de educar para la paz, en busca de sentar las bases de una ciudadanía responsable y tolerante en el futuro. Finalmente, en el tercer bloque, se proponen recursos motivadores en educación infantil, algunos de ellos no exentos de novedad: el aprendizaje basado en proyectos, la arquitectura en los primeros años escolares y los cuentos como herramienta para trabajar el patrimonio; el cine y su didáctica, y el patrimonio arqueológico como recurso. Queda así articulado un libro de ciencias sociales esmeradamente didáctico, que ha nacido con vocación de ser una referencia útil tanto para los docentes de educación infantil como para el estudiantado de Magisterio en esta especialidad.
Miguel Ángel Pallarés Jiménez – E-mail: [email protected]
[IF]
Afrodescendencia, cultura y sociedad en el Cono Sur, 1760-1960 | Claves – Revista de Historia | 2019
La premisa de este dossier fue reunir artículos sobre la historia social y cultural de los afrodescendientes en el Cono Sur americano, sin dejar de lado perspectivas sobre la economía y la política, que pudieran incluir temas como la esclavitud y la abolición, el género, la participación militar y política; el asociacionismo y el movimiento afrodescendiente, la historia intelectual, la cultura popular y la cultura impresa. La temática de la mayoría de los artículos que aquí se presentan cruza las fronteras provinciales y nacionales por lo que contribuyen a un diálogo regional en el Cono Sur americano (Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, y Rio Grande do Sul en Brasil) y a extender el campo historiográfico sobre estos temas más allá de Buenos Aires, Montevideo y Porto Alegre, que han sido, generalmente, los focos regionales sobre estos estudios en los últimos veinte años.
Este dossier, además de reunir contribuciones sobre la historia afro en esas tres ciudades, presenta el resultado de grupos de investigación radicados en Santa Fe y Cuyo, en donde también ha comenzado, a partir de iniciativas colectivas, el desarrollo de la historia local de las poblaciones de origen africano y su relación no sólo con centros regionales como Buenos Aires, sino también con la historia de la diáspora africana del Atlántico y del Pacífico. La idea detrás de este dossier ha sido contribuir a la generación y difusión de conocimiento sobre la población africana y afrodescendiente en el Cono Sur, lo cual ha fructificado a través de iniciativas como el Encontro Escravidão e Liberdade No Brasil Meridional (reunido en forma bianual desde el año 2003), la fundación del Grupo de Estudios Afrolatinoamericano en la Universidad de Buenos Aires en 2010 que ha organizado conferencias anuales con participantes de toda la región, así como la renovación de los estudios afro-chilenos y afro-paraguayos en la última década. Leia Mais
Culture del consumo – CAPUZZO (BC)
CAPUZZO, Paolo. Culture del consumo. Bologna: Il Mulino, 2006. 334p. Resenha de: TIAZZOLDI, Livia. Il Bollettino di Clio, n.11/12, p.179-183, giu./nov., 2019.
Paolo Capuzzo, docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna, ricostruisce in questo libro la nascita, lo sviluppo della società dei consumi e le modificazioni culturali che ne accompagnano l’espansione in Europa tra il Seicento e l’inizio del Novecento. L’esperienza europea è collocata all’interno del processo che dalle prime conquiste coloniali ha portato alla formazione dell’economia mondiale.
Si mettono a fuoco da un lato la progressiva acquisizione di forza politico-economica della società europea, in particolare di quella dell’Europa urbana del Nord, dall’altro la sua capacità di democratizzarsi, nel momento in cui le classi subalterne si appropriano di beni inizialmente appartenenti alla sfera del lusso.
Il libro è suddiviso in 5 capitoli preceduti da un’Introduzione nella quale vengono delineate le linee di forza dell’intero percorso e le tematiche centrali: • il rapporto tra consumi europei e commercio mondiale • la dimensione etica del consumo • la costruzione della sfera privata • la regolazione dei rapporti di classe • la costruzione di uno spazio pubblico del consumo “Ricostruendo la storia della diffusione dello zucchero, del caffè, del tabacco, del tè, della cioccolata è possibile- scrive l’autore- mettere in evidenza i rapporti tra la domanda europea, la conquista di basi e monopoli commerciali, l’organizzazione della produzione di questi beni.
La diffusione delle nuove bevande mostra poi come, una volta approdate nei grandi porti commerciali europei, queste merci subissero un variegato processo di appropriazione da parte dei consumatori […]. Le nuove culture del consumo che si costruiscono in Europa attraverso queste bevande non sono, insomma, un epifenomeno dell’espansione coloniale, ma rispondono a un processo di produzione della quotidianità, nella quale agiscono soggetti che si appropriano di tali risorse.” (p. 10).
Nel momento in cui la ricchezza e il potere non derivano più dall’appartenenza ad un ceto sociale, ma dal successo del mercato sono i modi del consumo a decidere dell’inclusione o dell’esclusione da una determinata cerchia sociale.
Il lusso si popolarizza sovvertendo le tradizionali gerarchie sociali. E’ dunque evidente il legame tra la diffusione dei liberi consumi e il progresso della democrazia.
I processi di consumo appartengono ad una sfera dotata di autonomia, ma sono in stretta relazione con la definizione delle identità, con la costruzione dei rapporti sociali e di genere.
Il consumatore non è visto come un terminale passivo di un processo di manipolazione dei suoi desideri, ma come individuo capace di attribuire un significato al consumo, pur all’interno di un habitus, cioè di un insieme di principi legati all’estrazione sociale e interiorizzati fin dall’infanzia che ne orientano l’azione attribuendo un determinato valore alle cose.
Tale habitus viene progressivamente messo in crisi dal processo di commercializzazione, dalla logica del profitto, che utilizza la moda e la pubblicità come criterio di valore di una merce.
“La forza semiotica della commercializzazione contemporanea, scrive ancora l’autore, è certamente un carattere inedito nella creazione dell’immaginario, cosa che distingue la nostra società da quelle precedenti […] tuttavia i consumatori continuano a far udire la loro presenza […]”. (p. 15 ).
Ciascuno dei cinque capitoli in cui si articola il volume offre una sintesi ragionata degli studi prodotti dalla storiografia internazionale sui vari temi, corredata da un’ampia bibliografia.
Capitolo 1. Consumi europei e globalizzazione del commercio tra XVII e XVIII secolo
Si analizza in queste pagine l’espansione del commercio europeo all’inizio dell’Età moderna, la nascita di una prima globalizzazione collegata al colonialismo e ad una grande disponibilità di risorse materiali.
Si sottolinea il fatto che gli sviluppi e il rinnovamento dei consumi in Europa sono intimamente connessi ad un nuovo assetto del potere mondiale ottenuto con la disponibilità finanziaria, la superiorità tecnologica, con la forza delle armi e con la deportazione della manodopera africana impegnata nelle miniere di metalli preziosi e nelle piantagioni americane.
Le colonie sono luogo da cui prelevare materie prime come zucchero, caffè, legname, tabacco, cotone da trasformare e rivendere poi come prodotti finiti a prezzi ben più alti.
Sulle tavole europee arrivano nuovi prodotti (patate, pomodori, cacao, fagioli, frutta tropicale, mais, zucche) inizialmente utilizzati solo dalle classi sociali più alte, ma accessibili poi anche ad altre classi sociali, quando la produzione col sistema delle piantagioni e la commercializzazione su larga scala ne abbassano i prezzi.
Caffè, tè e tabacco (il primo dei prodotti esotici ad essere consumato dalle masse) vengono subito apprezzati per la loro capacità di garantire lucidità, al contrario del vino.
Il consumo di questi prodotti si associa anche a una specifica ritualità praticata in nuovi spazi pubblici come le coffee e le tea houses, fattori formidabili di “sociabilità”, o nelle case private, nell’ambito di un mondo soprattutto femminile.
I primi locali detti caffè, dal nome della bevanda che vi si consumava, nascono a Venezia alla metà del Seicento e diventano di moda nel secolo successivo in tutte le grandi città europee. Sono frequentati da un’ élite di uomini d’affari che leggono i giornali, discutono di politica. Vi si aggiungono poi artisti e scrittori.
Capitolo 2. Lusso, moda e ordine sociale tra XVIII e XIX secolo
Il capitolo è dedicato nella prima parte ad una riflessione sul lusso, alla sua funzione nella società di corte, in particolare quella francese, e alla sua progressiva “popolarizzazione”.
Nelle società di corte il consumo designa un modello particolare di sociabilità, quello dei cortigiani e delle cortigiane, che si afferma poi come modello anche nelle grandi città europee come Parigi, la capitale del gusto, soprattutto per le donne che frequentano i salotti dell’alta società. Quello dell’apparire, grazie all’uso di cosmetici, gioielli, abiti eleganti, diventa un valore sempre più ricercato dai nuovi ricchi, da esibire sia nella sfera privata che in quella pubblica dei teatri, delle sale da musica, dei ristoranti.
Nei contesti cittadini è lo stile del consumo a decretare l’inclusione o l’esclusione da una certa schiera di persone. La ricchezza derivante dal mercato ha sostituito la nobiltà di nascita nella costruzione della posizione sociale e pubblica, soppiantando anche qualunque codice etico nell’accumulazione del reddito.
Nasce in questi anni la categoria di “povertà” dove la miseria materiale è strettamente connessa a quella morale.
La questione dell’apparire contrapposto all’essere è al centro di molti dibattiti nel Settecento: c’è chi critica il lusso in nome di un ideale di uguaglianza sociale, chi lo considera un’opportunità per scardinare un rigido ordinamento sociale.
Molti autori concordano sul fatto che la grandezza delle nazioni si fonda sul lusso, sulla forza economica, non sulle virtù dei cittadini: è impossibile controllare e organizzare una società in base a dei valori condivisi che restano appannaggio della sfera privata.
Il dibattito proseguirà nei secoli successivi accanto al filone della critica moralistica del lusso considerato responsabile della decadenza culturale.
La seconda parte del capitolo affronta la questione della moda come nuova dimensione del consumo a partire dalla fine del Settecento. L’ostentazione del lusso cede il passo alla sobrietà, alla scelta di un abbigliamento regolato da specifici galatei, diversificato in base all’età, alle differenze di genere e ai vari contesti.
La diffusione della moda è legata agli spazi urbani delle città, alle vetrine dei negozi, alle illustrazioni colorate e alla pubblicità sui giornali.
Essere bella, elegante, consona alle varie situazioni sociali è una precisa missione sociale per la donna borghese dell’Ottocento: è occasione di legittimazione sociale e anche indiretta dimostrazione del successo economico maschile.
Le classi sociali inferiori subiscono il fascino della moda e sono spinte a imitare quelle superiori che, dal canto loro, cambiano spesso abbigliamento per mantenere la distinzione.
Si innesca così un meccanismo di continua emulazione. Lo sviluppo della moda in Inghilterra alla fine del Settecento può essere considerato come una delle cause della rivoluzione industriale favorita anche dall’importazione del cotone, usato per produrre tessuti meno costosi.
Nel corso dell’Ottocento la produzione del vestiario si diversifica in base a due segmenti di mercato: quella industriale di massa sia per i lavoratori delle grandi città che per le uniformi dell’esercito e quella dei laboratori di sartoria che, grazie all’uso delle macchine da cucire, confezionano abiti su misura per la clientela più ricca.
Il Novecento vede poi l’allargamento della classe media e la nascita dei grandi magazzini che propongono abiti colorati, in fibre sintetiche, standardizzati, ma anche diversificati in base alle varie esigenze della vita moderna.
Capitoli 3 e 4. Culture del consumo delle classi medie e della classe operaia
Questa parte del libro è centrata sull’analisi e sul confronto fra queste due classi sociali in un periodo che va dal 1700 all’inizio del 1900.
Le descrizioni sono declinate al plurale tenendo conto delle variabili geografiche, delle trasformazioni nel corso del tempo, delle dinamiche di distinzione, conflitto, emulazione.
Della classe media si sottolinea l’importante funzione di separare lo spazio pubblico da quello domestico, luogo della convivenza familiare, al riparo dalla corruzione della città.
Le famiglie borghesi in Olanda e in Inghilterra hanno il compito di ricostruire una sfera morale che l’economia e la politica non sono in grado di proporre.
Il lavoro femminile si sposta all’interno della casa dove la moglie si dedica all’amministrazione, all’arredamento, alla cucina e alla cura dei figli lasciando al marito il compito di provvedere alle necessità economiche della famiglia.
La classe operaia valorizza molto meno la sfera privata della casa, dove molte donne non possono inizialmente svolgere un ruolo simile a quelle della borghesia. Sono spesso costrette a lavorare in fabbrica assieme ai mariti e ai figli, con i quali condividono anche momenti di tempo libero fuori casa: in spazi pubblici, pub e taverne, luoghi di consumo di alcol, gioco e scommesse.
Le tipologie abitative delle due classi sociali sono ampiamente descritte e messe a confronto per quanto riguarda il numero di stanze, l’arredamento, le spese destinate ai consumi domestici.
Tra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento la classe media, fatta di commercianti, imprenditori, professionisti e funzionari statali, assume un ruolo sempre più importante nell’Europa nord-occidentale dove si affermano il capitalismo industriale e lo stato moderno.
Il processo di privatizzazione dello spazio abitativo diventa uno dei principi che regolano i consumi nel XX° secolo per quanto riguarda la tipologia delle case e l’arredamento: nasce l’industria di massa del mobile e dei beni durevoli.
La separazione fra spazio privato e pubblico è alla base anche dell’edilizia seriale del Novecento, secolo nel quale gli stili di consumo della classe operaia cominciano ad avvicinarsi a quelli della classe media.
La riduzione dei tempi di lavoro nelle fabbriche lascia spazio a partire dalla fine dell’Ottocento a momenti di divertimento: il gioco del calcio, le vacanze, favorite anche dai mezzi pubblici di trasporto come ferrovie e tram.
La Grande Guerra rappresenta un ulteriore momento di profonda trasformazione della società europea per quanto riguarda la massificazione degli stili di vita, trasformazione che si compie pienamente negli anni Cinquanta dello stesso secolo.
L’industria della cultura di massa è fondamentale nel Novecento: è strumento per regolare il tempo libero, ma anche terreno di eversione identitaria.
Capitolo 5. Lo spazio pubblico del consumo: geografia urbana e reincanto del mondo
Si affronta il tema del consumo come forma di evasione dalla quotidianità, momento da vivere in grandi città quali Londra e Parigi, negli spazi che allestiscono lo spettacolo delle merci dove è possibile sognare ad occhi aperti.
L’autore sottolinea in particolare le trasformazioni della geografia urbana e dei flussi di traffico provocati dalla nascita dei grandi magazzini, strutture sviluppate su più piani, dotate di grandi vetrine e insegne luminose. Questi nuovi spazi pubblici del consumo sono frequentati soprattutto dalle donne della classe media, libere di muoversi anche non accompagnate dagli uomini.
Interessanti le osservazioni a proposito della nuova figura delle commesse che anticipano stili di vita femminili del Novecento.
La commercializzazione dei prodotti riceve un grande impulso nella seconda metà dell’Ottocento dalle grandi esposizioni di Londra, Vienna, Parigi che nel 1900 totalizza quasi 50 milioni di visitatori.
Livia Tiazzoldi
[IF]The Age of Agade. Inventing empire in ancient Mesopotamia – FOSTER (PR)
Benjamin R. Foster and Karen Polinger Foster— 2011 Felicia A. Holton Book Award . www.archaeological.org/
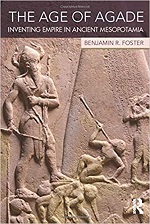
Profesor de Asiriología en la Universidad de Yale, Benjamin R. Foster es un gran especialista en estudios sobre el Próximo Oriente antiguo. De entre sus líneas de investigación están la Historia, general, económica y social de Mesopotamia así como también sus estudios sobre literatura mesopotámica contando con trabajos como el galardonado Civilizations of Ancient Iraq (2010) o la obra Before the Muses (última edición de 2005), una antología de la literatura acadia ya considerada una obra clave en los estudios sobre historia intelectual del Próximo Oriente antiguo.
En el presente trabajo, encuadrado en esa línea de investigación más centrada en los estudios históricos, la intención del autor es mostrar las características políticas sociales, económicas y culturales que se desarrollaron en la región de Mesopotamia durante el periodo de Akkad y por qué motivos este periodo fue visto como un referente a lo largo de la Historia posterior del Próximo Oriente durante la antigüedad.
El primer capítulo está dedicado a la historia política de Akkad. Este periodo comienza con la llegada al trono de Kish de Sargón y sus diferentes campañas de conquista, ganándose la fama de gran rey con la que se le recordará en periodos posteriores. No obstante, su hijo y sucesor, Rimush, tendrá que hacer frente a un conjunto de revueltas tras la muerte de su padre; incluso es posible que acabara sus días asesinado. Tras esto, su hermano Manishtushu alcanzó el trono iniciando un programa de conquistas y de consolidación de las mismas. Posteriormente, su hijo Naram-Sin toma las riendas del estado y su reinado constituirá el apogeo del Imperio. Al igual que antecesores suyos tuvo que hacer frente a levantamientos, por lo que es posible que el recuerdo de la represión ejercida contra los sublevados le valiera la fama posterior de rey soberbio. Durante el reinado de Naram-Sin se llevó a cabo un amplio programa constructivo y una serie de reformas administrativas y burocráticas. En política exterior, junto a las conquistas también se desarrolla la diplomacia, con matrimonios dinásticos con reinos fronterizos. Por último, el sucesor de Naram-Sin, Sharkalisharri será el último gran rey de Akkad. Finalmente, las sublevaciones e invasiones exteriores, en un contexto de crisis económica y descontrol territorial, provocarán la caída de este proyecto político.
El autor reserva el capítulo segundo a dar las claves de la sociedad durante el periodo acadio. Seguramente sea el régimen ecológico de la zona norte de Mesopotamia la que de coherencia al territorio original acadio frente a la llanura aluvial del sur, Sumer. Es en esta zona donde se desarrolla (pero no exclusivamente) un sustrato etno-lingüístico acadio. Si en términos jurídicos debemos hablar de dos grupos de población: libres y esclavos, vemos que en términos socioeconómicos estos se diversifican en relación a las propiedades y los medios con los que cuentan. Las relaciones entre los miembros de las distintas clases sociales se rigen por redes clientelares y de patronazgo. De esta forma, la administración se organiza como una red de patrones y clientes que tienen en su cúspide al propio rey, seguido por sus familiares más allegados, administradores centrales, provinciales, cultuales, militares y todo el personal administrativo dependiente de ellos.
En el capítulo tres, el autor hace una descripción de los asentamientos acadios y de aquellos centros constatados arqueológicamente desde donde el poder acadio ejercía su autoridad tanto en Mesopotamia como en la periferia. De los diferentes asentamientos se destaca la especial importancia dada por parte de la administración imperial a la explotación económica de sus territorios circundantes así como a su papel estratégico como centros de recepción de materias primas desde la periferia, como Tell Brak, Assur o Susa. Finalmente, el autor reflexiona sobre si se puede calificar al estado acadio como Imperio, afirmando que sí si atendemos al programa de conquistas y control del territorio y a la ideología real que se desarrolla de “dominio universal”. En relación al anterior, en el capítulo cuatro se explican el conjunto de bases económicas y las actividades y trabajos desarrollados en torno a ellas. Las principales actividad económica es la agricultura y la ganadería, donde era fundamental la explotación de la región del sur mesopotámico (Sumer). En cuanto al trabajo, éste estaba basado en trabajadores dependientes a tiempo completo y trabajadores reclutados en épocas muy específicas, todos retribuidos mediante sistemas de raciones. En relación a la ganadería, destacaba la oveja por su lana, la principal materia de transformación y exportación. En lo referente al comercio y transporte, el autor destaca los cursos fluviales como vía principal de comunicación, además de ser fuente de recursos pesqueros. La última parte del capítulo está dedicada al conjunto de actividades de transformación de materias primas en alimento, destacando la molienda y la producción de cerveza.
El siguiente capítulo versa sobre el conjunto de actividades de tipo artesanal/industrial que se desarrollaron en el periodo acadio. Muchas son herederas de épocas anteriores, pero durante ésta podemos apreciar una alta estandarización producto de una mayor concentración de artesanos en talleres reales y una mayor cantidad de bienes gracias a, por un lado, una mayor importación de materias primas y, por otro, una mayor demanda por parte de las élites. Así pues, el autor comienza analizando la producción cerámica; pero destaca sobre todo los trabajos en metal, piedra y madera. alcanzándose una gran maestría técnica en ellas. También hay que destacar los textiles en lana o en piel; así como las artesanías más selectas como la ebanistería o los aceites perfumados.
En lo que respecta al capítulo seis, dedicado a la religión, el autor destaca una serie de innovaciones pese a la gran continuidad en la evolución de la religiosidad mesopotámica. Las divinidades acadias que se incorporan al panteón mesopotámico destacan por ser divinidades celestiales: Shamash, Sin, Ishtar, etc. y por participar en una mitología guerrera. De entre las mayores innovaciones está la deificación de ciertos reyes en vida, como Naram-Sin, junto a la elevación de Ishtar a lo alto del panteón nacional y la política de integración de cultos y divinidades acadias con sumerias. Si bien podemos identificar ciertos templos particulares del periodo acadio, en la mayor parte de los santuarios reina la continuidad. En estos se aprecia la vinculación entre religión y política puesto que son los reyes los que llevan a cabo ritos y realizan ofrendas suntuosas. Entre las formas de piedad colectiva siguen estando las festividades, las cuales carecen de un calendario estandarizado para todo el imperio.
En cuanto al aspecto militar, tratado en el capítulo siete, vemos como los reyes acadios recogen una serie de tradiciones anteriores, como el denominarse elegidos por Enlil para reinar sobre Mesopotamia. Pero, por otra parte, fomentaron el aspecto guerrero del rey y sus capacidades personales como aptitudes necesarias para ejercer la realeza. En lo tocante a la composición y armamento del ejército, vemos que esto no cambia demasiado respecto a periodos anteriores, exceptuando la organización del mismo que es puesto bajo la autoridad de militares profesionales.
El corto capítulo ocho está dedicado al comercio y las diferentes formas de intercambio. Como ya se ha dicho, la llanura mesopotámica carece de una serie de materias primas fundamentales que debían importarse; en época acadia lo que se aprecia es un incremento en dichas importaciones. En torno a la naturaleza de este comercio, la existencia de mercaderes privados que podían estar también al servicio de las grandes instituciones, la existencia de medios de pago estandarizados como la plata y la cebada, así como también de tasas, impuestos y precios estipulados indican que la economía real del periodo era plenamente tributaria y no exclusivamente redistributiva.
El capítulo nueve viene a tratar todo lo referente a las artes y a la producción literaria. Aquí podemos apreciar una línea transversal en el arte acadio, la inclinación por representar la ideología real basada en el militarismo, la fuerza, la heroicidad y la especial relación del rey con los dioses. La escultura, el relieve e incluso la glíptica, desarrollan estos temas y en ellas se alcanza una alta perfección técnica considerándose el periodo clásico de la escultura en Mesopotamia. En literatura sobresale la princesa y sacerdotisa Enheduanna. Esta poetisa (primera de la literatura mundial) también sirvió con su obra a la ideología real a través de sus himnos a los dioses y a los reyes. En prosa destacan las inscripciones conmemorativas, y la epistolografía, que adquieren un importante valor literario. En esta producción literaria hay que destacar el uso paralelo del acadio y el sumerio como lenguas eruditas, junto al desarrollo de la música que acompañaba la representación de las composiciones literarias. Por último, la matemática y la cartografía cuentan con una importante presencia asociada a la administración.
Una vez señalada la identidad del arte y la producción intelectual, el autor centra el capítulo diez en definir los valores humanos acadios, en otras palabras, la identidad acadia. En primer lugar a través de ciertos aspectos de la vida cotidiana como el nacimiento, la niñez y la educación, la vida familiar y la casa y la muerte y el funeral. Pero el autor también analiza los sentimientos y las emociones; de las cuales solo tenemos testimonio de las experimentadas por las élites. Aquí el autor comenta como se entendía en el periodo acadio la felicidad y la tristeza, el amor y la sexualidad y el espíritu competitivo entre los miembros de la élite que pugnaban por ascender dentro de la administración imperial.
En el capítulo once, el autor reflexiona sobre la memoria de los reyes de Akkad en periodos posteriores de la historia de Mesopotamia. Si bien algunos de ellos siguieron siendo reverenciados e incluso se mantuvo su culto funerario, otros recibieron el castigo y la deshonra. Sin embargo, en su gran mayoría las estelas de los reyes acadios permanecieron en los santuarios en donde fueron erigidas, siendo copiadas por escribas y eruditos. De hecho, el autor traza una relación entre menciones a los reyes acadios en la literatura profética posterior y los hechos contados en las estelas, por lo que dichos presagios se inspiraban en estas narraciones. Las crónicas posteriores no se olvidaron tampoco de los reyes acadios generándose incluso en torno a ellos una rica literatura épica. Por su parte, el legado acadio se aprecia en los nombres y titulatura de muchos reyes posteriores, queriendo emular la fuerza y poder de sus antecesores.
El último capítulo de la obra consiste en una reflexión sobre los estudios en torno al periodo acadio. Así pues, su presencia en la historiografía sobre el próximo oriente antiguo comienza con el descubrimiento, entre mediados y finales del siglo XIX, de textos e inscripciones que hacían referencia a los reyes acadios. A partir de aquí se sucedieron durante la primera mitad del siglo XX los hallazgos y las interpretaciones sobre quiénes eran y de donde procedían. Y fue a partir de entonces cuando se empezaron a publicar las primeras síntesis. No obstante, no fue hasta el descubrimiento de los archivos de Ebla en 1975 cuando se empezó a contar con un volumen importante de información.
De este modo, Benjamin R. Foster nos ofrece una completa y detallada síntesis del periodo acadio. Podemos ver cómo el denominado Imperio de Akkad hereda una serie de procesos históricos, sociales y económicos que se iniciaron en etapas previas, así como también un conjunto de estructuras políticas e ideológicas que recogen los reyes acadios. Sin embargo, este conjunto de características heredadas se potencian en esta etapa a todos los niveles: una más alta concepción de la realeza, una burocracia estatal más sólida, una explotación de los recursos más intensiva, un deseo de compenetración de las identidades socioculturales que componían Mesopotamia. Una aceleración de procesos que alcanza el apogeo en durante el reinado de Naram-Sin. Se generó así un conjunto de características exclusivas sin las cuales no podríamos explicar la historia posterior. De esto se dieron cuenta incluso los propios antiguos, reteniendo en su memoria a los poderosos reyes acadios.
No obstante, el profesor Foster es demasiado optimista al calificar de “Imperio” al proyecto político de los reyes acadios. Esto va más allá de un simple calificativo, puesto que el concepto histórico de “imperio” encierra unas connotaciones ideológicas y unos desarrollos políticos, sociales, económicos y culturales mucho mayores que aquellas a las que llegaron los reyes de Akkad. Sin lugar a dudas este periodo marcó la historia posterior de Mesopotamia en particular y del Próximo Oriente en general, dejando una fuerte impronta en el imaginario colectivo de la región. No obstante, aquellos que defienden la naturaleza imperial del estado acadio, se dejan llevar por las fuentes posteriores que tanto veneraron la tradición de aquellos reyes. Si estudiamos la naturaleza del periodo en su contexto, vemos un alcance limitado del “Imperio” tanto en su plano ideológico como fáctico.
En este sentido, hay que decir que el debate no cosiste en preguntarse si Akkad fue o no un imperio, un error metodológico por el cual se pretende adscribir el hecho a un concepto historiográfico convirtiendo así el concepto y no el hecho en el objeto último de nuestra investigación, perdiendo por tanto el concepto su capacidad de ser herramienta explicativa del hecho histórico. Por este motivo, en primer lugar, debemos preguntarnos, ¿qué es un imperio? Si lo estudiamos desde una perspectiva más amplia, podemos ver que, a lo largo de la historia, el denominador común de todo imperio es su ideología, por lo tanto, no podemos disociar imperio de imperialismo. En este sentido, el profesor Mario Liverani hace una interesante reflexión sobre el concepto “misión imperial” en su recentísima obra, Assiria. La preistoria dell’imperialismo, Bari: Laterza, 2017. Según este concepto, la clave para poder calificar una estructura política de imperio es la necesidad de conquistar, unificar, ordenar y gobernar el mundo, generándose unas estructuras políticas e ideológicas que se derivan de este conjunto de intenciones.
Siguiendo esta norma, no podríamos calificar de imperio al estado que crean los reyes acadios. Para empezar, los afanes de dominio universal de los que hacen gala los reyes acadios no corresponden a una ideología imperialista, sino más bien a una propaganda real propia del periodo por la que desean legitimar su gobierno a través de sus propias cualidades guerreras, heroicas y, en ciertos casos, divinas. Esto se aprecia además en que los reyes de Akkad, una vez unificada Mesopotamia, no dirigen empresas de conquista más allá, sino más bien desarrollan una serie de campañas destinadas a mantener bajo control puntos estratégicos necesarios para el abastecimiento de materias primas. Esto igualmente lo vemos en la producción artística y literaria, encaminada a servir de canal de propaganda de la realeza y no a ser la muestra de la gloria y el poder el supuesto imperio.
En su vertiente más económica, la posición de vanguardia que toma la región de Akkad frente a Sumer no se debió tanto a la política económica activa de los reyes acadios, sino que responde a una dinámica ecológica por la cual los territorios aguas arriba de los dos grandes cauces fluviales tienen ventaja sobre las tierras que hay en la llanura aluvial, cuyas aguas tienden a la salinidad y el estancamiento. Si bien no podemos negar que el dominio acadio sobre toda Mesopotamia y ejercido desde esa región del norte (económicamente más favorable) pudiera acelerar el proceso, tampoco podemos afirmar de ninguna manera que fuera una política consciente de los reyes acadios. En primer lugar, porque es un proceso ecológico que se encuadra en un marco cronológico mucho más amplio, que se inició antes de las conquistas de Sargón de Akkad y que continuará tras la caída del dominio acadio, con la excepción del periodo de gobierno de la III dinastía de Ur y sólo gracias a los ingentes esfuerzos de sus gobernantes por revertir dicho proceso.
Igualmente, en su faceta socio-cultural, no podemos adscribir a los reyes acadios el que el elemento semítico de la sociedad se anteponga al elemento sumerio. Esto tiene un proceso paralelo al ecológico del que hemos hablado anteriormente. Se trata de un proceso etnolingüístico por el cual aquellas lenguas que encuentran facilidades de traducción y reproducción en otras del entorno tienden a perpetuarse. En este sentido, el sumerio, pese a haber sido la lengua en la que se escribieron los primeros textos y constituir la base cultural de los primeros estados de Mesopotamia, no deja de ser un grupo etnolingüístico aislado, sin paralelos en otras lenguas. Por el contrario, el acadio, como lengua perteneciente al tronco semítico, encuentra fácil traducción y perpetuación en otras lenguas del entorno, como el eblaíta; por lo tanto, la fluidez de información es mucho mejor entre distintos territorios. Así pues, de forma semejante a lo que se ha comentado sobre el proceso ecológico que se desarrolla en Mesopotamia, el proceso etnolingüístico que favorecía al elemento acadio sobre el sumerio pudo ser acelerado por los reyes acadios, pero no podemos adscribirles a ellos el mérito de tal hecho puesto que continuará en periodos posteriores cuando los reyes acadios ya eran tan sólo un recuerdo y el sumerio quede relegado por completo al papel de lengua erudita.
Así pues, calificar de “Imperio” al estado unificado de Mesopotamia bajo el gobierno de la dinastía de Akkad sería algo erróneo. Pese a esto, no podemos obviar el hecho de que no se trató de un estado territorial más, puesto que se implementan muchas de las estructuras políticas y económicas previas, así como se aceleran muchos de los procesos históricos sin los cuales no podríamos entender la Historia posterior del Próximo Oriente. Por este motivo, Mario Liverani, en la obra conjunta que él mismo edita, Akkad, the first world empire: structure, ideology, traditions, Padova: Sargon, 1993; recurre al término de “red imperial”. Según este concepto, el estado acadio no habría cambiado las estructuras políticas y económicas previas, sino que se habría asentado sobre ellas controlando exclusivamente las relaciones entre las mismas, convirtiéndose así el estado central en punto de intersección de dichas estructuras.
Juan Álvarez García – Universidad Autónoma de Madrid.
[IF]
De Satiricón a Hum®: risa, cultura y política en los años setenta | Mara Burkart
O golpe militar de março de 1976 inaugura um dos períodos mais violentos e repressivos da história argentina, consistindo em um dos temas centrais nos ciclos de produção e reflexão intelectuais sobre as experiências ditatoriais latino-americanas. De Satiricón a Hum®: risa, cultura y política en los años setenta, livro de Mara Burkart, publicado no ano de 2017, dedica-se justamente a abordar um tema relevante e ainda pouco visitado na produção historiográfica argentina envolvendo o período ditatorial: as relações entre imprensa gráfica de humor, cultura e política a partir da perspectiva de resistência cultural.
Com a queda da última ditadura militar argentina em 1983 e em meio ao clima de transição democrática, as análises produzidas no calor dos acontecimentos sobre o passado recente foram provenientes sobretudo dos campos da sociologia e da ciência política, tendo os historiadores se mantido inicialmente distantes desse processo. Somente em anos posteriores, devido ao processo de afirmação da ditadura militar como problema histórico e o desenvolvimento do campo e dos aportes trazidos pela história recente é que foi possível perceber um avanço mais consistente na produção que situa a ditadura militar como objeto de investigação e reflexão a partir de uma perspectiva histórica2. Leia Mais
Protesto: uma introdução aos movimentos sociais – JASPER (RTA)
JASPER, James M. Protesto: uma introdução aos movimentos sociais. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2016. Resenha de: ZANGELMI, Arnaldo José. Um olhar sobre a dimensão cultural dos protestos e os dilemas da mobilização. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.10, n.25, p.502-508, jul/set., 2018.
Publicada originalmente pela editora Polity em 2014, com o título Protest: a cultural Introduction to social movements, a obra aqui apresentada foi disponibilizada em português pela Zahar no ano de 2016, em edição que conta com prefácio e posfácio dedicados especialmente ao contexto brasileiro. James Macdonald Jasper, professor da City University of New York, busca compreender as dinâmicas de mobilização em diversos contextos, dando especial atenção à dimensão cultural dos protestos. Apesar do reconhecimento sobre a relevância das forças estruturais, a atenção do autor está direcionada principalmente para as significações, emoções, valores morais e estratégias de ação dos atores em interação nas diversas arenas.
O livro é formado por oito capítulos, cada um baseado na articulação entre as mobilizações de um determinado movimento e um dos aspectos centrais nas dinâmicas dos movimentos em geral. Ao longo da obra, o autor também relaciona reflexões sobre os movimentos mais recentes e processos históricos mais antigos, como o caso de John Wilkes, ator que desencadeou uma série de movimentos na Inglaterra do século XVIII.
O primeiro capítulo é voltado principalmente para as definições e abordagens sobre os movimentos sociais. Jasper traça um breve panorama das principais perspectivas, delimitando entre as teorias psicológicas (ressentimento, multidões, escolha racional etc.), estruturalistas (oportunidades políticas, mobilização de recursos etc.) e históricas (Marx, Touraine, Tilly etc.). O autor busca, então, demonstrar como essas várias tendências, quando isoladas, se mostraram incapazes de compreender a realidade social, problema que tem levado algumas delas a incorporar a dimensão cultural em suas análises. Um exemplo é o sociólogo estadunidense Charles Tilly, que incorporou a persuasão como elemento relevante em seus últimos trabalhos. Jasper embasa parte significativa de suas reflexões nas concepções conceituais e históricas de Tilly, especialmente sobre as mudanças nos repertórios de ação dos movimentos nos séculos XVIII e XIX, em países como França e Grã-Bretanha.
O segundo capítulo trata da construção e projeção de significados, utilizando o movimento feminista como principal referencial empírico. Jasper salienta como a feminilidade é uma construção cultural, não um imperativo biológico, sendo assim foco das mobilizações de diversos movimentos ao longo da história. O movimento feminista, por diversos meios físicos e figurativos, buscou transformar as significações vigentes, influenciar a sociedade e conquistar novos direitos.
No terceiro capítulo, o autor trata das infraestruturas (comunicações, transporte, redes sociais, organizações, profissionais etc.) nas quais os atores se mobilizam, espaços que influenciam no processo de criação e transmissão de significados culturais pelos movimentos. Tratando especialmente das mobilizações da direita cristã nos Estados Unidos, Jasper deixa entrever que sua perspectiva tem um forte caráter relacional, na medida em que argumenta que o surgimento e desenvolvimento dos movimentos se dão nas interações com outros atores em diversas arenas. Assim, o autor demonstra como as ações de religiosos conservadores tiveram como principais contrapontos o feminismo e o movimento LGBTQ, se constituindo, em grande medida, pelo contraste em seus enfrentamentos.
As análises de Jasper também têm um enfoque processual, pois abordam as continuidades e transformações nas formas de enfrentamento, demonstrando como antigos movimentos deram base para novas mobilizações. Nesse sentido, o autor explica como os conservadores da direita cristã tiveram influência do anticomunismo dos anos de 1950, assim como os movimentos de homossexuais se valeram das linguagens de direitos praticadas pelos movimentos de afro-americanos, mulheres, indígenas etc. da década de 1960.
A partir dessas análises, o autor critica o uso de diferentes teorias para explicar movimentos de esquerda e direita, uma das tendências entre os estudiosos dos movimentos sociais. Assim, Jasper enfatiza a necessidade de superarmos os relatos que apontam motivações psicológicas e patológicas para os movimentos de direita, sendo mais proveitoso buscar compreender as formas como esses atores significam suas ações.
A dinâmica de recrutamento de novos membros nos movimentos é discutida no quarto capítulo, que analisa o movimento LGBTQ. O autor destaca o relevante papel dos contatos pessoais, em redes formais e informais, como incentivos para o ingresso e permanência nas mobilizações. Assim, as relações de confiança pré-existentes, orientações afetivas e intuições morais são elementos fundamentais para a adesão aos movimentos. O desenvolvimento das mobilizações dos homossexuais nos EUA é um bom exemplo também para o que o autor denomina como “dilema da desobediência ou cordialidade”, no qual os atores se deparam com escolhas entre táticas aceitas, que geram simpatia de outros atores, ou ações temidas que podem alcançar maior orgulho pelo grupo e recuo dos adversários, porém com maior risco de repulsa e repressão. Quando surgiu a epidemia de AIDS no início dos anos de 1980, assim como sua conotação depreciativa pela direita cristã, a ascendente mobilização das comunidades gays se direcionou para cuidados com os moribundos e a busca por aparência de normalidade e amorosidade. No entanto, os crescentes avanços conservadores sobre as políticas públicas, ocasionaram duras formas de discriminação, causaram um “choque moral” e um crescente sentimento de indignação entre os gays a partir da segunda metade da década de 1980, atraindo milhares de militantes, muitos deles jovens.
O “choque moral” é uma reação emocional que gera sentido de urgência, ameaça, indignação e medo. Desencadeado por eventos dramáticos que quebram a rotina, ele abala o senso de realidade e normalidade, sendo forte motivador para a ação. Assim, houve uma guinada no sentido da desobediência, inconformidade, enfrentamento no movimento LGBTQ, que canalizou a culpa e a vergonha para o Estado, sistematicamente homofóbico, assim como para outras instituições conservadoras da sociedade.
A questão da manutenção dos membros em um movimento é discutida no quinto capítulo, que destaca as diversas satisfações e incentivos promovidos nos movimentos, como a identificação com o grupo, o sentimento de estar fazendo história, o senso de pertencimento etc. Jasper buscou demonstrar como as mobilizações dos dalits, na busca por direitos contra o hinduísmo bramânico dominante, caminharam no sentido da transformação da vergonha em orgulho para o grupo.
O sexto capítulo é voltado para a análise dos processos decisórios nos movimentos, tendo como base o movimento por justiça global. Mobilizando-se principalmente através de fóruns, entre os quais o Fórum Social Mundial tem maior expressão, esses atores têm formulado fortes críticas às políticas neoliberais de diversos países. Jasper analisa diversos mecanismos de tomada de decisão, como a formação de consensos, disputas pelo voto etc. O autor salienta as tensões entre as discussões horizontais, que demandam mais tempo, e as necessidades de tomada de decisão mais rápida e incisiva. Jasper demonstra como as rotinas organizacionais, ao cristalizarem certos procedimentos, diminuem a necessidade de muitas discussões, porém com prejuízo da criatividade e flexibilidade no processo decisório. O autor destaca também que as discordâncias entre facções, a respeito dos objetivos, estratégias etc., podem caminhar para a conciliação ou cismas nos grupos. Assim, mostra como as alianças são dinâmicas, influenciadas por uma multiplicidade de fatores, gerando grande incerteza nessas interações.
O sétimo capítulo trata da revolução egípcia, principalmente quanto às interações dos diversos grupos, entre os anos de 2011 e 2013. Jasper discute como outros atores se envolvem nas mobilizações, em complexas teias de alianças e disputas nas várias arenas. Assim, busca demonstrar como exército, governo norte-americano, grupos religiosos, partidos políticos etc. interagiram nesse processo, influenciando seus rumos. Dessa forma, o autor argumenta que os diversos grupos, cada qual com métodos e objetivos próprios, se envolvem numa mistura de cálculo e emoção, coerção e persuasão. A eficácia dos movimentos, em grande medida, depende de sua capacidade de envolver outros atores numa mesma causa.
No oitavo capítulo, Jasper discute as vitórias, derrotas e demais impactos dos movimentos sociais no mundo contemporâneo, tendo como referencial empírico central o movimento pelos direitos dos animais, principalmente na Grã-Bretanha e nos EUA. Esse movimento obteve várias conquistas, como leis que reduziram consideravelmente o sofrimento dos animas, mas enfrenta fortes obstáculos relacionados a hábitos arraigados, mercado, pesquisas científicas etc. Jasper argumenta que, além das conquistas concretas, vale atentar para os impactos nas visões de mundo, nas sensibilidades morais e interpretações históricas das sociedades. Os movimentos sociais transformam as maneiras de sentir e pensar, conduzindo, mesmo indiretamente, para novas práticas. Os integrantes dos movimentos sociais mudam também a si mesmos, desenvolvendo pensamento crítico, confiança e hábitos que os acompanham em suas trajetórias. Antigos movimentos inspiram os novos e também abrem espaços ao transformarem as regras das diversas arenas, potencializando as lutas futuras.
Jasper procura tecer algumas considerações sobre os movimentos no Brasil, principalmente no prefácio e posfácio à edição brasileira. O autor reflete sobre os protestos desencadeados a partir de 2013, enfatizando como as mobilizações contra o aumento das passagens, com proeminência do movimento Passe Livre, envolveram outros atores e catalisaram demandas mais amplas. Numa guinada para novos rumos, destoantes dos originais, esse processo culminou com a contundente queda presidencial, algo ainda efervescente em nossa sociedade. Retrocedendo um pouco mais em nossa história recente, Jasper também discute a importância do choque moral causado pelos massacres de Corumbiara e Eldorado dos Carajás que, ao gerarem indignação, impulsionaram o governo FHC no sentido das reivindicações do MST no final da década de 1990. Por fim, enfatiza como a tática das ocupações ajudou a inspirar outros movimentos pelo mundo, como se pode ver em vários movimentos da atualidade.
Apesar de parte significativa dos problemas tratados por Jasper nesse livro já terem sido discutidos por outros estudos1, sua abordagem traz contribuições relevantes, na medida em que enfatiza as dimensões mais subjetivas dos movimentos, como a produção de significados, estratégias, sentimentos, efeitos morais etc. Essa ênfase é concretizada principalmente na sua exposição de certas questões como “dilemas”2, delimitação original que direciona a atenção para a perspectiva dos atores em suas interações concretas e suas escolhas diante dos universos de possibilidades que vislumbram.
O livro apresenta tanto uma visão introdutória e abrangente quanto profundidade analítica sobre os movimentos sociais, o que o torna interessante para os estudos de iniciantes e especialistas no tema, assim como para que militantes possam revisitar e reinventar suas práticas. Também se trata de uma obra profundamente atual, dado o crescente impacto dos protestos na dinâmica política recente. Entender os movimentos sociais e os protestos é, cada vez mais, algo imprescindível e estimulante para aqueles que se dispõem a conhecer e buscar transformar o mundo de hoje. É sugestiva a aproximação entre o que Jasper denomina como “dilema de Jano” e a “lógica dual” retratada por Cohen & Arato (2000), assim como os dilemas da “mídia” e “da cordialidade e desobediência” encontram em Champagne (1996) questões comuns. Algumas discussões sobre as dinâmicas das organizações de movimentos sociais (Cefai, 2009. Neveu, 2005) também abordam problemas similares ao “dilema da organização” de Jasper que, no entanto, coloca essas questões noutras perspectivas. 2 Os principais dilemas analisados são: dilema de Jano, dilema das mãos sujas, dilema da caracterização dos personagens, dilema da inovação, dilema da mídia, dilema da organização, dilema da expansão, dilema da desobediência e cordialidade, dilema da identidade, dilema dos irmãos de sangue, dilema dos aliados poderosos, dilema da segregação do público e dilema da articulação.
Arnaldo José Zangelmi – Doutor em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Mariana – MG – Brasil. E-mail: [email protected].
Generare, partorire, nascere. Una storia dall’antichità alla provetta – FILIPPINI (BC)
FILIPPINI, Nadia Maria. Generare, partorire, nascere. Una storia dall’antichità alla provetta. Roma: Viella, 2017. 349p. Resenha de: TIAZZOLDI, Livia. Il Bollettino di Clio, n.9, p.75-78, feb., 2018.
Nadia Maria Filippini, già docente di Storia delle donne presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e socia fondatrice della Società Italiana delle Storiche, propone un’articolata analisi diacronica di lunga durata sul tema della maternità nella cultura occidentale, all’insegna della continuità nella trasformazione.
Ne sottolinea la complessità, evidenziandone le molteplici sfaccettature culturali, sociali, scientifiche che stanno alla base di rituali, pratiche terapeutiche, norme civili e religiose, forme di controllo e potere.
La storia del parto è un capitolo fondamentale della storia delle donne, sostiene l’autrice nell’introduzione, ed è strettamente legato alla codificazione del genere dato che, per secoli, l’essere donna ha coinciso con l’essere madre e l’essere madre è stato criterio di misura del valore femminile. “Su questa capacità si concentravano dunque aspettative individuali, familiari, sociali, ma anche forme di tutela, controllo, disciplinamento che avevano il loro epicentro nella famiglia (con le sue interne gerarchie), nell’istituzione ecclesiastica e in quella politica.” Luoghi, figure, rituali e pratiche terapeutiche riguardanti la gravidanza e il parto vengono proposti come osservatorio privilegiato per analizzare sia la storia delle donne che quella sociale e culturale con le sue trasformazioni: dalla progressiva costruzione del discorso medico-scientifico nel mondo antico, alle innovazioni del cristianesimo, all’affermarsi della figura del chirurgo-ostetricante nel Settecento, alla medicalizzazione del parto, fino alla rivoluzione delle tecnologie riproduttive del Novecento.
L’idea presente già nel titolo è quella di mettere a fuoco i vari soggetti coinvolti: alla capacità della donna di partorire è stata opposta per secoli quella maschile di generare, mentre il verbo nascere mette in evidenza il punto di vista del feto/neonato la cui importanza varia in base al modificarsi delle rappresentazioni che lo connotano nel tempo, condizionando di conseguenza pratiche e principi deontologici.
Grande centralità è data alla scena del parto che permette di analizzare i luoghi (la casa e poi l’ospedale), le pratiche adottate, i soggetti coinvolti (la madre, la levatrice, il medico) i cui ruoli cambiano nel tempo in un continuo confronto professionale e di genere fatto di collaborazione, ma anche di contrapposizione.
Il libro è suddiviso in quattro parti. La prima parte (Rappresentazioni culturali) mi sembra particolarmente interessante e spendibile sul piano didattico, nel caso si voglia attivare una riflessione su come sia cambiata nel corso del tempo l’idea di generazione e nascita.
Vi si analizzano le grandi rappresentazioni fondanti la differenza di genere nella cultura occidentale e che si ritrovano nei miti, nel linguaggio con le sue metafore e proverbi, nella filosofia, nelle raffigurazioni artistiche, nella religione pagana e cristiana.
Ci si rende subito conto della dicotomia maschile/femminile; di come esista una continuità di lunghissima durata dell’idea dell’uomo come seminatore, come principio attivo della generazione, e della donna come un campo da seminare, passivo, posseduto da un contadino-padrone che lo rende fertile.
Questa impostazione è alla base di una tradizione di pensiero che attraversa la cultura greca con Ippocrate e Aristotele, quella araba, il pensiero di Tommaso d’Aquino ripreso poi da Dante Alighieri, fino al Settecento.
La superiorità del maschile sul femminile è sottesa anche all’idea del “partorire con la mente” (Platone), appannaggio esclusivo dell’universo maschile. Socrate parla di maieutica e si paragona in quest’arte alla madre ostetrica, con la differenza che, mentre lei fa nascere i bambini, lui aiuta i suoi allievi a partorire i prodotti della mente (arte, letteratura, filosofia) che garantiscono fama immortale.
Il parto di Atena dalla testa di Zeus esemplifica come il mito e la religione abbiano attribuito ad un Dio maschile perfino la capacità di generare e di partorire. Le dee madri di antica tradizione vengono dimenticate e la coppia Zeus-Atena sostituisce quella preindoeuropea di Demetra-Core, provocando una forte rottura di identità e di alleanze nella storia delle donne.
La Medea di Euripide propone una stretta analogia fra parto e guerra, due prove dolorose da superare, ad alto rischio di morte, che si giocano in aree separate: gli uomini vanno in guerra, le donne partoriscono con l’aiuto di altre donne (levatrici, vicine di casa, familiari). Però, mentre la guerra dei maschi ha carattere fondativo di una civiltà, viene raccontata ed esaltata nella figura dell’eroe, la guerra delle donne (il parto) resta confinata nel chiuso delle pareti domestiche ed è esclusa dal racconto pubblico.
A differenza di quanto accadeva nel mondo antico, il cristianesimo pone al centro il momento della nascita, valorizzando il rapporto madre-figlio, ma, nel corso del tempo, priva sempre più la Vergine (anche nelle rappresentazioni artistiche) delle tracce di maternità corporea. La Madonna è una madre spirituale più che fisica, esente non solo dal peccato originale, ma dagli stessi dolori del parto (dogma dell’Immacolata Concezione del 1854).
La corporeità del parto, sinonimo di impurità, viene invece attribuita ad un’altra figura femminile: Eva, responsabile dell’introduzione della morte nel mondo e incaricata di espiare con le doglie il peccato originale.
L’idea cristiana del dolore come espiazione del peccato distoglierà per molto tempo la ricerca medico-scientifica dall’indagine sulle cause del dolore e sui farmaci per contrastarlo.
L’influenza del pensiero cristiano ha determinato nelle donne un vissuto molto contraddittorio in bilico tra orgoglio e vergogna, tra fierezza e silenzio: da un lato la maternità viene esaltata come realizzazione di un dovere e di un comandamento divino (il modello è la Madonna), dall’altra viene mortificata sul versante corporeo (oggetto di scandalo, segregazione in casa ed esonero dalla messa). Il parto è diventato un tabù, cancellato perfino dal linguaggio: si racconta che i bambini nascono sotto ai cavoli o li porta la cicogna.
Nella seconda parte (Partorire e venire al mondo dall’antichità al Settecento), utilizzabile sul piano didattico per ragionare sul potere declinato al femminile (subìto, agito, condiviso, invidiato), si descrive la gravidanza come esperienza peculiare della donna, il cui corpo è sottoposto a forme di controllo sociale con divieti e obblighi rituali, oggetti scaramantici. Interessante la questione introdotta dal cristianesimo relativa al momento in cui Dio infonde l’anima nel feto: il quarantesimo giorno se è maschio, l’ottantesimo se è femmina. Dopo la Controriforma la data si sposta al terzo giorno dal concepimento.
Varie pagine sono dedicate al parto, al puerperio, alla nascita, alle credenze ed ai rituali connessi prima nel mondo antico, poi nel mondo cristiano, quando la Chiesa impone il suo controllo sulla sfera della sessualità e della riproduzione.
Si evidenziano permanenze di lunga durata e rielaborazioni simili in tutta Europa (Francia, Germania e paesi anglosassoni con vari esempi di storia veneziana). A questo discorso si intreccia poi la descrizione della nascita del pensiero medico antico e della sua lunga continuità nell’occidente medievale e moderno.
Attenzione particolare è data alla figura della levatrice, presenza fondamentale sulla scena del parto sia nel mondo antico che nell’Occidente cristiano, ma anche figura di riferimento in caso di problemi legati al ciclo mestruale, all’allattamento, in casi di sterilità o stupro o per indurre un aborto attraverso pozioni particolari, incantesimi e amuleti. Per questa sua partecipazione sia alla sfera della vita che a quella della morte, questa donna appariva ambigua allo sguardo degli uomini, esclusi da quel mondo di conoscenze e pratiche. Alla levatrice si collega anche il concetto di nascita sociale che sancisce, attraverso un rituale, l’ingresso del nuovo nato nella famiglia e nella società. Essa infatti assiste alla nascita naturale, ma consegna poi il neonato al padre e lo affianca, assieme alla madrina, nel rito del battesimo, da cui la madre è esclusa. Talvolta è lei stessa a fare da madrina, diventando la madre spirituale del bimbo, ed è comunque autorizzata ad amministrare il battesimo “sotto condizione” in caso di pericolo di vita del neonato al momento della nascita.
La terza parte (Lo snodo del Settecento) si confronta col XVIII secolo, un periodo di profonda trasformazione nella storia della nascita per i cambiamenti che investono sia la scienza che il contesto socio-politico.
Si impongono nuove teorie sulla fecondazione e sullo sviluppo fetale e si afferma la figura del chirurgo-ostetricante che modifica la secolare tradizione di presenza esclusivamente femminile sulla scena del parto.
Emerge da parte degli Stati un interesse specifico per il controllo della popolazione e nasce il biopotere il cui fine è quello di potenziare e gestire la vita, il corpo stesso delle persone, controllando salute, natalità mortalità.
In linea con questa nuova concezione si colloca il processo di personificazione dell’embrione-feto e l’affermarsi dell’idea del feto-cittadino, che giustifica l’intervento pubblico nel settore della nascita. Vengono istituite le scuole ostetriche, nascono gli ospedali per partorienti.
L’ultima parte (Le molteplici rivoluzioni del Novecento) affronta l’età contemporanea quando il biopotere si afferma sempre di più fino ad arrivare alle politiche eugenetiche e demografiche dei regimi totalitari, in particolare del nazismo, e quando il parto diventa sempre più soggetto alla medicalizzazione e all’ospedalizzazione.
Si affermano nuove tecniche come l’ecografia, definita un “nuovo rito conoscitivo”, la psicoprofilassi e l’analgesia.
Dal punto di vista legale si arriva progressivamente, in un numero crescente di paesi, alla legalizzazione della contraccezione e dell’interruzione volontaria di gravidanza, al varo di leggi a tutela della maternità.
Si fa sempre più strada, sulla spinta delle rivendicazioni femministe, l’idea dell’autodeterminazione della donna e della maternità come libera scelta e viene messo in discussione l’automatismo del legame sessualità-procreazione. Anche la figura del padre acquista un ruolo più partecipe, sia durante la gravidanza che al momento della nascita.
La fecondazione artificiale infine apre nuovi orizzonti coniugando il termine di maternità con quello di diritto, mentre si diffondono nella società nuovi modelli genitoriali e familiari (famiglie arcobaleno).
La crioconservazione di ovuli e spermatozoi sembra assicurare una specie di immortalità biologica all’individuo, non più legata alla filiazione reale, ma già realizzata nell’idea di filiazione possibile.
Alle soglie del terzo millennio, l’autrice sottolinea la presenza di aspetti contraddittori: le gerarchie di genere alla nascita sono state scardinate nei paesi occidentali, ma l’applicazione della tecnologia ha portato all’alterazione del rapporto naturale tra i sessi in molte parti del mondo; l’applicazione di alcune leggi a favore della donna non è sempre praticata, la fecondazione assistita rimane un privilegio per gli alti costi; la maternità è certamente una scelta, non più un obbligo o un destino, ma la crisi economica e la precarietà dei contratti di lavoro compromettono a volte una effettiva libera scelta.
In estrema sintesi si può dire che queste stimolanti pagine evidenziano la continuità nel tempo di quattro nodi fondamentali: l’idea di impurità legata alla sessualità femminile; il carattere ambivalente sul piano sociale e culturale dell’esperienza del parto (sacro, ma anche indicibile); la connotazione culturale di parto e nascita, definiti dall’ambiente in cui avvengono, dai rapporti fra i generi, dalle conoscenze mediche e anatomiche; il corpo femminile al centro di continui scontri di potere.
Il libro, che si conclude con un’ampia bibliografia ragionata in cui si valorizzano gli studi femminili, fornisce agli insegnanti una grande ricchezza di elementi per un approccio didattico ampio e articolato anche sul piano interdisciplinare. Potrebbe essere interessante un percorso sul tema dei diritti umani (acquisiti in alcune parti del mondo, non ancora in altre dove sopravvivono situazioni simili a quelle descritte nel testo e riferite al passato dei paesi occidentali), con collegamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Livia Tiazzoldi
[IF]A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia – BENITO (RBHE)
BENITO, Augustin Escolano. A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia. Campinas: Alínea, 2017. Resenha de: MAGALHÃES, Justino. Revista Brasileira de História da Educação, n.18, 2018.
Este livro é uma tradução do título La escuela como cultura: experiencia, memoria, arqueologia, de Agustín Escolano Benito. A tradução foi feita por Heloísa Helena Pimenta Rocha (UNICAMP) e Vera Lucia Gaspar da Silva (UDESC). No Prefácio, Diana Vidal adverte o leitor que, pelo tema, pela escrita do autor e pelo enlevo da leitura, está perante um livro ‘inescapável’. Na Apresentação, as tradutoras previnem que, na migração entre as duas línguas, a tradução foi por elas pensada como interpretação e adaptação consciente, no esforço de “[…] compreender as reflexões do autor e torná-las compreensíveis” (Escolano Benito, 2017, p. 18).
O livro é composto por Introdução – A escola como cultura– e quatro capítulos: Aprender pela experiência; A práxis escolar como cultura; A escola como memória; Arqueologia da escola. Termina com Coda: cultura da escola, educação patrimonial e cidadania.
Qual é o objecto do livro que Agustín Escolano agora publica? Em face do título enunciado, através da comparação A escola como cultura, o que fica de facto resolvido no livro – o assunto escola ou o objecto cultura? E o que contém o subtítulo Experiência, memória e arqueologia, que relação há entre estes enunciados? Mais: Que relação entre o subtítulo e o título? O subtítulo reporta à escola ou à cultura? Ou aos dois termos, estabelecendo dialéctica através de ‘como’, ou seja, dando curso à comparação? Experiência, memória e arqueologia não são termos de igual natureza, nem de igual grandeza. Reportarão a um mesmo referente? A escola é parte da vida e foi experienciada ou mesmo experimentada pelos sujeitos, individuais ou colectivos. Daqui decorrem marcas que constituem memória – a experiência. A arqueologia reporta à materialidade e simbologia que ganham significado a partir de um olhar externo, deferido no tempo. A operação arqueológica permite a (re)significação de marcas que sejam apenas reminiscências.
A interpretação mais subtil para o título reside porventura na capacidade ardilosa e densa de Agustín Escolano em conciliar educação e história através da escola como cultura. A substância e o sentido da escola residem na cultura. Em cada geração, foi como cultura que a escola se substantivou, e foi como experiência que se tornou significativa. Para as gerações actuais, a escola é cultura e experiência, mas é também memória e arqueologia. Como refere o autor, a escola-instituição foi por diversas vezes questionada, mas a educação precisou (e precisa) da escola, como fica assinalado pela confluência de diferentes variações pedagógicas.
A história e a historiografia acautelaram essencialmente o institucional. Agustín Escolano entende, todavia, que é fundamental e significativo no plano educacionale de cidadania salvaguardar o cultural. A cultura escolar apresenta materialidade e historicidade, constituindo uma fenomenologia do educável e desafiando a uma hermenêutica como currículo e como representação. Dialogando com uma constelação de disciplinas é na etno-história que o autor encontra a ‘episteme’ e a matriz discursiva para o estudo que apresenta.
Pode aventar-se que este livro é um ensaio-manifesto. Agustín Escolano procura dar nota de uma genealogia e de uma evolução da cultura e da forma escolar, compostas por distintas dimensões processuais e orgânicas, e comportando descontinuidades, contextualizações, adaptações que não comprometeram o que frequentemente designa de ‘gramática da escola’ ou de ‘forma escolar’. Refere que esse historial está plasmado nas narrativas sobre experiências e modalidades orgânicas, nos restos materiais e arqueológicos sobre a realização escolar, nas memórias individuais e colectiva, enfim, na arqueologia como substância e método para a reconstituição e a interpretação do passado. Tal como a entende Escolano, a etno-história congrega estas distintas instâncias, devidamente apoiada na arqueologia, na fenomenologia e iluminada por um labor hermenêutico, aberto à complexidade e à interdisciplinaridade.
A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia contém uma história da escola, mas é sobretudo uma argumentação sobre a articulação entre escola e cultura e sobre a (re)significação da história-memória da escola como cidadania.
Na Introdução, o autor procura justificar o título do livro focando-se no enunciado ‘a escola como cultura’. Incide fundamentalmente sobre as práticas, posto que são inerentes ao escolar e, em seu entender, não têm sido objecto de um labor apurado por parte da teoria educativa e da história. Tal vazio constata-se no que reporta aos fundamentos, mas torna-se sobretudo notório no que respeita à recepção, seja esse vazio alocado às instituições ou à mediação e adaptação de conteúdos e práticas por parte dos professores, ou seja, por fim, às práticas incorporadas e apropriadas enquanto pragmática da educação. O autor chama a si o ensejo de dar a conhecer como a práxis escolar se constituiu em cultura.Inerente à práxis, sua evolução e sua conceitualização, está uma praxeologia resultante de uma depuração e de uma espécie de darwinismo que intriga o autor. Se em cada momento a pragmática educativa foi um habitus, há que analisar a evolução semântica desta constante.
No primeiro capítulo ‘Aprender pela experiência’, Agustín Escolano coloca a inevitabilidade da inscrição espacial e temporal das práticas, mas admite também a linha de continuidade, sem o que não será possível uma racionalidade inerente à prática. Partindo da figura do professor, reforça a noção de experiência como contraponto à focalização externa. Recorrendo a Michel de Certeau, refere que as circunstâncias não actuam fora de um racional. A constituição da práxis em cultura e da cultura em experiência são inerentes ao escolar – “Como instituição social, a escola abriga entre seus muros situações e ações de copresença, que resultam em interações dinâmicas” (Escolano Benito, 2017, p. 77). A cultura escolar congrega aspectos vários, incluindo a dimensão corporativa e a grande parte das práticas escolares integram um “[…] regime de instituição” (Escolano Benito, 2017, p. 88). A cultura empírica da escola constitui uma ‘coalizão’ nomeadamente entre ideais, reformas educativas, ritos e normas, práticas experiências profissionais.
No segundo capítulo ‘A práxis escolar como cultura’, o autor procura inquirir em que medida a pedagogia como ‘razão prática’ poderá explicar ou governar a esfera empírica da educação, pois que, como disciplina formal e académica, tem permanecido associada aos sectores político-institucional. Nesse sentido, a cultura empírica afigura-se como ingénua e não científica, e o seu valor etnográfico reside no plano descritivo, a que foi sendo contraposta uma racionalidade burocrática. Numa perspectiva sócio-histórica, a escola é uma construção cultural complexa que seleciona, transmite e recria saberes, discursos e práticas assegurando uma estabilidade estrutural e mantendo uma lógica institucional. Mas, para Agustín Escolano, em articulação com a cultura empírica da escola desenvolveram-se duas outras culturas: “[…] uma que ensaiou interpretá-la e modelá-la com base nos saberes (cultura académica) e outra que intentou governá-la e controlá-la por meio dos dispositivos da burocracia (cultura política)” (Escolano Benito, 2017, p. 119). Na sequência, retoma vários contributos que convergem na centralidade da cultura empírica associada ao ofício docente, seja referindo-se-lhe, entre outros aspectos, como arte e ‘tato’/ prhónesis, seja referindo-se à formalidade escolar como gramática e ao recôndito da sala de aula como ‘caixa-negra’. Centra-se, por fim, no binómio hermenêutica/ experiência, associado à narratividade dos sujeitos, para sistematizar o que designa de etno-história da escola, cujas orientações metódicas resume a: estranhamento, intersubjectividade, descrição densa, triangulação, intertextualidade.
O capítulo 3, ‘A escola como memória’, permite ao autor glosar o que designa de hermeneutização das memórias – assim as dos professores, quanto as dos alunos. São diferentes quadros em que o material e o simbólico se cruzam, permitindo sistematizar o que Agustín Escolano designa de ‘padrões da cultura escolar’: atitudes, gestos, formas retóricas, formas de expressão matemática. “A escola foi das instituições culturais de maior impacto no mundo moderno” (Escolano Benito, 2017, p. 202), pelo que a memória escolar é interpretação e pode ser terapia. Hermeneutizar as memórias escolares é retomar as pautas antropológicas de pertença e é valorizar uma fonte de civilização.
Se toda a obra vai remetendo para o CEINCE – Centro Internacional de la Cultura Escolar – do qual Agustín Escolano é fundador-director –, o quarto capítulo, ‘Arqueologia da escola’, é um modo sábio e fecundo de apresentar, justificar e conferir valor patrimonial e significado educativo a um Centro de Cultura e Memória da Escola, na sua materialidade e na profunda razão de ser como lugar de história e antropologização da história, e como fonte de subjectivação. Repegando a arqueologia como desígnio, são ilustradas de modo singular as virtualidades do CEINCE.
Em modo de epílogo, o autor escreve ‘Coda – cultura da escola, educação patrimonial e cidadania’, na qual dialoga com a moderna museologia, buscando lugar, sentido e significado para a preservação do passado. Que fazer com os testemunhos do passado? Agustín Escolano, com legitimidade e com a propriedade que lhe assiste, não hesita em contestar a estreiteza da memória oficiosa da escola, que poderá servir objectivos de governabilidade da educação e até alguns ensejos patrimoniais, mas o Museu investe-se de novo sentido na medida em que combine o racional e o emocional, tornando possível uma educação patrimonial. A memória escolar é pertença de todos e a todos respeita.
Por onde viajam o pensamento e a escrita de Agustín Escolano? Como constrói o discurso, alimenta o texto, fundamenta o argumento? Que unidade no diverso? Que dialéctica? Ensaio, manifesto, narrativa? Originalidade, glosa, réplica?
Este livro é formado por textos que têm um mesmo quadro de fundo. Há referências de assunto e de autores que se repetem, dando a cada capítulo uma unidade. Mas há uma trama, uma unidade de conjunto, uma sequência e uma ordem que consignam o livro. O argumento evolui para a arqueologia como materialidade-testemunho e como ciência-tese. Preservar e hermeneutizar – eis dois verbos-chave para (re)significar a memória escolar. A história da escola é formada por permanência e mudança.
Agustín Escolano dialoga antes de mais consigo próprio, gerando enigmas, esboçando uma trama, fazendo evoluir uma tese. Os autores que revisita (e são muitos – porventura todos os que, domínio a domínio, podem ser tomados como principais) são interlocutores cujos enunciados servem o texto do autor, sem prevalências nem rebates desnecessários. São personagens de uma peça maior, quiçá interdisciplinar, que é a cultura escolar, ou melhor, a escola como cultura. Agustín Escolano escreve sem reservas. Referenciou os principais autores e compendiou os assuntos nucleares. Mas, sobretudo, escreve com a propriedade que lhe advém de uma tão ampla como aprofundada cultura erudita e pedagógica. Escreve com a soberania que lhe assiste enquanto senhor de uma materialidade e de uma cartografia representativas do institucional escolar, tal como foi sendo constituído, concretizado, globalizado desde a Antiguidade Clássica.
A escola como cultura: experiência, memória e arqueologia é fundamental e disso se apercebe o leitor desde a primeira página. Não é necessariamente um livro consensual, mas um bom mestre é-o enquanto senhor de uma verdade que serena e fomenta novas questões. Agustín Escolano é mestre-exímio. Assim o presente livro seja acolhido com as virtualidades que lhe cabem.
Justino Magalhães – Historiador de Educação. Professor Catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Investigador Colaborador do Centro de História da Universidade de Lisboa. E-mail: [email protected].
África e Brasil. História e Cultura | Eduardo D’Amorim
Passados quinze anos da lei nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afrobrasileira, a questão ainda é tida como desafiadora por muitos professores e gestores escolares. Um dos principais motivos relatados pelos profissionais das áreas de educação é a ausência de materiais que abordem a temática com a qualidade esperada, e que privilegiem com correção as múltiplas dimensões socioculturais africanas, assim como as conexões entre esse continente e o Brasil.
O livro África e Brasil. História e Cultura, de Eduardo D’Amorim, está comprometido em suprir uma importante carência do mercado editorial brasileiro. A publicação, que recebeu a primeira colocação na 59º edição do Prêmio Jabuti, categoria Didático e Paradidático (2017), tem escrita clara, apurada organização dos capítulos e trabalho gráfico e editorial de altíssima qualidade. Tais elementos contribuem para uma leitura prazerosa e muito esclarecedora sobre a temática. Sendo útil para aos mais variados tipos de leitores que desejem debruçar-se sobre o assunto, e que tenha interesse em conhecer mais sobre a importância da história da África e da contribuição dos africanos na formação da cultura e da sociedade brasileira. Leia Mais
O socialismo de Oswald de Andrade: cultura/ política e tensões na modernidade de São Paulo na década de 1930 | Marcio Luiz Carreri
Obra originária de pesquisa para obtenção do título de doutor em história-social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP no ano de 2017. O livro “O socialismo de Oswald de Andrade: cultura, política e tensões na modernidade de São Paulo na década de 1930”, partindo da capa e seus contraste em preto e branco em que o autor destaca seus personagens principais que compõe sua narrativa histórica, como a Pagú, Mario de Andrade e sobretudo o Oswald tendo por base a foice e o martelo em vermelho, e acima de todos a figura emblemática de Marx.
Trata-se de escrita leve e fluente, sem o peso do academicismo que se exige para uma tese de doutorado em história, porém com o rigor metodológico dela. Marcio em seu trabalho consegue perfeitamente trafegar entre duas linhas tênues e belas que é a da confluência entre literatura e história, com o mérito de trafegar por essa zona quente sem se esquecer do metier, do construto da história. Dessa forma a literatura entra como pano de fundo para o fazer historiográfico de uma época de “tensões na modernidade de São Paulo” como diz o título. Leia Mais
O socialismo de Oswald de Andrade: cultura/ política e tensões na modernidade de São Paulo na década de 1930 | Marcio Luiz Carreri
Obra originária de pesquisa para obtenção do título de doutor em história-social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP no ano de 2017. O livro “O socialismo de Oswald de Andrade: cultura, política e tensões na modernidade de São Paulo na década de 1930”, partindo da capa e seus contraste em preto e branco em que o autor destaca seus personagens principais que compõe sua narrativa histórica, como a Pagú, Mario de Andrade e sobretudo o Oswald tendo por base a foice e o martelo em vermelho, e acima de todos a figura emblemática de Marx.
Trata-se de escrita leve e fluente, sem o peso do academicismo que se exige para uma tese de doutorado em história, porém com o rigor metodológico dela. Marcio em seu trabalho consegue perfeitamente trafegar entre duas linhas tênues e belas que é a da confluência entre literatura e história, com o mérito de trafegar por essa zona quente sem se esquecer do metier, do construto da história. Dessa forma a literatura entra como pano de fundo para o fazer historiográfico de uma época de “tensões na modernidade de São Paulo” como diz o título. Leia Mais
Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina – MARTÍNEZ-PINZÓN; URIARTE (A-RAA)
MARTÍNEZ-PINZÓN, Felipe; URIARTE, Javier (Editores). Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2016. Resenha de: JARAMILLO, Camilo. Antípoda – Revista de Antropolgía y Arqueología, Bogotá, n.27, jan./abr. 2017.
“En el principio fue la guerra y todo en América Latina tiene la marca de esa experiencia bélica fundacional, el big-bang que habría hecho posible la independencia, naciones, realidades políticas, [y] soberanías” (p. 88). Esta certera oración, escrita por Álvaro Kaempfer en la colección de ensayos que este texto reseña, es la idea estructural del reciente libro editado por Felipe Martínez-Pinzón y Javier Uriarte, Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina. Aunque informado por discusiones políticas e históricas, Entre el humo y la niebla busca reflexionar, sobre todo, y como su título lo dice, acerca del campo de las representaciones culturales y las maneras en las que estas han pensado y teorizado la guerra y, de paso, reforzado o desestabilizado lo que se entiende por ella. Al enfocarse en la literatura, la fotografía u otras formas de prácticas culturales, el libro llena un vacío en la producción académica latinoamericana, a la vez que extiende el diálogo con otras publicaciones de algunos de los autores también incluidos en la colección de ensayos, como los de Julieta Vitullo, Martín Kohan y Sebastián Díaz-Duhalde1. Uno de los hallazgos fundamentales del libro está en trascender la idea de la guerra como acto político e histórico y preguntar, como lo hacen los editores, “de qué hablamos cuando hablamos de guerra” (p. 24). Así, pensada a partir de sus representaciones culturales, la guerra se revela como una maquinaria cultural que moviliza las maneras en las que se entienden y construyen los espacios: la guerra, nos convence este libro, es un acto de espacialización. Estas representaciones permiten entender la guerra como una maquinaria y “epistemología estatal” (p. 11), y pensar las continuidades y similitudes entre los actos de hacer la guerra y constituir el Estado. Pero, sobre todo, y este es uno de los puntos neurálgicos del libro, se revela la guerra como laboratorio de representación y de ficción que lleva a los límites al lenguaje, a la forma y a sus significados: nos presenta la guerra como una “tecnología discursiva” (p. 5). Al hacer todo esto, Entre el humo y la niebla señala un corpus de representaciones culturales sobre la guerra y consolida un inicio para pensar el tema como eje de la cultura del continente.
El punto de partida es, más que la definición, la discusión de la indefinición del concepto de guerra y la delimitación de lo que se entiende por ella. Los editores parten de la idea de esta como “práctica militar y discursiva que da forma a la existencia/inexistencia del Estado-Nación moderno” (p. 12) y proponen “pensar la guerra como manera de entender las dinámicas de poder que constituyen el Estado, y que espacializan la geografía imaginada de las naciones y las regiones que componen América Latina” (p. 26). Este posicionamiento sobre lo que se entiende por guerra se amplía y complica a lo largo de los catorce ensayos mediante una reflexión sobre la cercanía de la guerra con la idea de la revolución (ver, por ejemplo, los ensayos de Juan Pablo Dabove y Wladimir Márquez-Jiménez incluidos en el libro), y se problematiza con reflexiones sobre esa nueva forma de hacer guerra como “condición permanente” (p. 10) entre Estados y sujetos en conflicto continuo, como es el ejemplo que expone el ensayo de João Camillo Penna sobre las favelas de Río de Janeiro. A través del recorrido de los ensayos presentes en la edición queda en evidencia la variedad de formas en las que la guerra se ha manifestado en Latinoamérica y, de ahí, su dificultad para teorizarla. A propósito de esto, Entre el humo y la niebla, aunque no la contesta, prepara el terreno para una pregunta por la transformación radical de la idea de guerra en los Estados neoliberales contemporáneos (y la transformación de la idea de Estado como tal) atravesados, en el caso particular de Colombia y México, por la guerra contra el narcotráfico.
Frente a la relación entre la guerra y el Estado, los editores se preguntan “si hacer estado es hacer la guerra” (p. 23) y señalan el acto bélico como una de las maneras más emblemáticas de visibilidad y praxis de este. Pensando en las maneras en las que se visibiliza y teoriza la guerra, cabe resaltar el ensayo de Álvaro Kaempfer, “El crimen de la guerra, de J. B. Alberdi: ‘Sólo en defensa de la vida se puede quitar la vida'”, que ofrece un análisis de cómo esta, constituida como excepción, termina, sin embargo, volviéndose la “matriz política, económica, social y cultural” del continente (p. 86). El ensayo, a través de un análisis del discurso político de Alberdi, identifica uno de los posibles precedentes para pensar la guerra desde y para Latinoamérica. Extendiendo la reflexión sobre el estado de excepción como categoría constitutiva del poder del Estado, aparece y reaparece a lo largo de los ensayos la teorización de la guerra alrededor de las teorías de biopolítica y excepcionalidad de Giorgio Agamben, resaltadas a partir de estudios sobre la animalidad y sobre criaturas umbrales que señalan los límites entre el ser social y el ser animal (ver, por ejemplo, los ensayos de Gabriel Giorgi y Fermín A. Rodríguez). Las reflexiones de Entre el humo y la niebla invitan a pensar la guerra como mecanismo para constituir, garantizar, manipular y abusar el pacto social entre el Estado y el ciudadano, y revelar así su contradictoria operación desde la normatividad y la prevalencia de sus, sólo en apariencia, momentos de excepción. La literatura se presenta entonces, ante esto, como índice de denuncia y reflexión sobre esta contradicción.
La guerra es también una cuestión de espacio: “Guerrear es […] reconocer, mirar, distinguir, ubicarse en el espacio, en ocasiones para apropiarlo, en otras para destruirlo, a veces para ‘liberarlo’, o para volverlo mapeable, legible” (p. 14). No en vano, la geografía es un conocimiento que resulta del ejercicio de “guerrear”, verbo que “crea el mismo espacio que quiere conquistar” (p. 15). En relación con esto, Martín Kohan analiza en su ensayo que la guerra -el texto sobre la guerra- se convierte, sobre todo, en una experiencia en y sobre el espacio; la guerra se transforma en un asunto inaudito de percepción, distancia, movilidad, visibilidad e invisibilidad, en donde la expresión de pronto encima articula la acción como experiencia y entendimiento del espacio y la (im)posibilidad de ver o no en él. En la lectura que hace Kohan de La guerra al malón (1907) y de Conquista a la Pampa (1935, póstumo) del comandante Manuel Prado, la guerra no es una experiencia bélica sino un factor que determina la representación de la Pampa y la negociación con esta. Por otra parte, en “La potencia bélica del clima: representaciones de la Amazonía en la Guerra con Perú (1932-1934)”, Felipe Martínez-Pinzón piensa la guerra como una práctica que se ejerce contra el espacio mismo. Así, la guerra aparece como mecanismo de integración de la selva al imaginario y a la economía de la nación, y como recuperación de un espacio-tiempo que amenaza con corroerlo todo. Guerrear es así, también, ordenar y rescatar. Del ensayo de Martínez-Pinzón hay que resaltar la inclusión y el análisis de una mirada poco frecuente en la literatura, aquella que se da desde el avión. También como maquinaria de guerra, el avión posibilita otra manera de relacionarse y dominar el espacio. Contrario al de pronto encima que analiza Kohen, el avión es una manera de hacer, de ver y de espaciar la guerra desde la distancia, una distancia que ayuda a obnubilar y desaparecer la ética que se pone en juego en la guerra. (Para más sobre la relación entre guerra y espacio, ver el ensayo de Kari Soriano Salkjelsvik incluido en el libro).
La guerra es también maquinaria de tiempo: aparece, por ejemplo, en la emergencia de las ruinas tras la guerra de Canudos, que analiza Javier Uriarte; en las fotografías que son índice de muerte, en el ensayo de Sebastián J. Díaz-Duhalde, o en el tiempo corroedor de la selva que se contrasta con el tiempo productivo de la nación, y hasta en el de pronto encima que trabaja Kohen. Pero si bien Entre el humo y la niebla deja claro que la guerra es cuestión de espacio, deja abiertas preguntas sobre la guerra como un mecanismo que impone, produce u oculta ciertas temporalidades. Cabría preguntarse, entonces, por cuál es la temporalidad de la guerra y por el tipo de temporalidades que impone. En el discurso de la nación, la guerra hace parte de la puntuación de la Historia, y, junto con sus formas de ejercitar poder y de crear espacios y geografías, impone una narrativa de tiempo en aquello que Benjamin llama “a homogeneous, empty time” (2014, 261). Visto así, la guerra produce y participa de una cierta idea (hegeliana) del tiempo como Historia, de la cual habría que generar una distancia crítica. Por otra parte, el trauma de la guerra se recuerda, no sólo en la conmemoración del museo, como lo analiza M. Consuelo Figueroa G. en su ensayo sobre la celebración de guerras en Chile, sino como memoria traumática que se personaliza, se revive, se recuenta, se negocia, y en su proceso se fragmenta en la temporalidad del yo.
Pero más allá de la reflexión sobre el Estado, el espacio o el tiempo, el epicentro del libro está en lo que, imitando las palabras de los editores, la guerra le hace al lenguaje. Uno de los más sólidos aportes del libro radica en la propuesta de la guerra como mecanismo de reflexión sobre la representación y como laboratorio de producción literaria. Como explican los editores, la guerra, “a la vez que produce lenguaje y es producida por el lenguaje, lo trastoca, lo cambia, transformando a quienes nombra o deja de nombrar” (p. 25). En otras palabras, la guerra nos acerca al límite del lenguaje y de la representación, a “su indecibilidad e inestabilidad” (p. 25). Es por eso que la guerra, como tal, casi no está. Está su antes, su después, su espera o su mientras tanto, pero no la guerra en su bulla y su acción. De ahí, entonces, que la guerra sea aquello que está entre el humo y la niebla, en esas zonas difusas que la guerra quiere aclarar, y entre esos humos que deja la batalla: “el Estado concibe la guerra como una disipación de zonas de niebla que distorsionan su mirada al permanecer impenetradas por ella” (p. 8). Pero a su vez, “el humo […] es también la huella, el trauma, el conjunto de los discursos que acompañan y suceden al conflicto” (p. 9).
A los límites del lenguaje y de lo indecible nos lleva el ensayo de Javier Uriarte sobre Os sertões (1902) de Euclides da Cunha, incluido en Entre el humo y la niebla. En su lectura sobre los acontecimientos de Canudos, en Brasil (1897), la guerra emerge como una lucha con el lenguaje y la imposibilidad de este de decir, de dar cuenta de. Dice el autor:
Creo que el logro más importante de Os sertões no radica en las férreas certezas del narrador, sino en el derrumbe de las mismas. Se trata de la textualización de una incomprensión: es el dejar de reconocerse o el reconocerse como otro, como incapaz de entender del todo, el desnudar la guerra como imposibilidad de la mirada. Al mismo tiempo que hace presente este límite y reconoce la insuficiencia de la mirada del narrador, Os sertões presenta la lucha de este último con su propia capacidad de decir. Es en gran medida un libro sobre el propio lenguaje llevado a sus límites máximos, en lucha consigo mismo. (p. 139)
En la narrativa cultural de Brasil, la guerra de Canudos marca un antes y un después. El texto de da Cunha desestabiliza y redefine la manera en la que la nación se piensa en el siglo XX. Es, se puede decir, el temprano antecedente sine qua non del modernismo brasilero y la redefinición de su identidad poscolonial moderna. Al identificar la guerra como un momento en el que el lenguaje entra en crisis, Uriarte apunta, aunque no lo diga, a la guerra como el momento en el que se forja la reinvención del lenguaje del Brasil moderno. Esto, más que organizar la historiografía literaria de Brasil, alerta sobre el poder de la guerra de desmantelar y reinventar un lenguaje para el Estado, la nación y su identidad. En otras palabras, la guerra es laboratorio de la nación y de su lenguaje. Esto también lo extiende el ensayo de Roberto Vechi incluido en el libro.
A los límites del lenguaje y de la voz también nos lleva el ensayo de Gabriel Giorgi, “La rebelión de los animales: cultura y biopolítica”. En su lectura de la voz animal -la voz y su sentido distinguen y conceden el reconocimiento político del cuerpo-, Giorgi nos lleva a un análisis del lenguaje en la guerra por partida doble. Por un lado, su enfoque vuelve al animal y a su voz para complicar las fronteras de la inscripción política y de la soberanía, y por otro, reflexiona sobre la cualidad del lenguaje en la guerra y los límites de su decibilidad. En otras palabras, nos lleva a pensar en el aullido de guerra y su in/constancia como lenguaje de la batalla y en la batalla. Dice Giorgi que:
[…] en los textos de las rebeliones animales, ese espacio de incertidumbre en torno a lo oral es una zona poblada de ruidos, aullidos, gruñidos, que marca el límite no ya entre el lenguaje y no lenguaje, sino el umbral de la virtualidad del sentido; del sentido como inmanencia, como pura potencialidad. La pregunta ahí no es ¿quién habla? o ¿quién tiene derecho a hablar? sino, más bien, ¿qué es hablar? o ¿qué constituye un enunciado? (p. 210)La guerra, pues, se presenta como momento de rearticulación de la voz, el lenguaje, y rearticulación de las políticas que determinan su legibilidad y sentido.
Me interesa resaltar el ensayo de Sebastián J. Díaz-Duhalde, “‘Cámara bélica’: escritura e imágenes fotográficas en las crónicas del Coronel Palleja sobre el Paraguay”. Este ensayo introduce la cultura visual como parte fundamental del corpus de representaciones culturales sobre la guerra. Como rastro de la muerte, la fotografía visibiliza la guerra sólo cuando esta ya no está; aparece, como dice el autor del ensayo, “como un resto” (p. 64). Es decir, aunque la hace visible, al registrar eso que ya no está presente, la ubica de nuevo en el humo y en una ambigua categoría temporal. Por otra parte, el ensayo de Díaz-Duhalde extiende la reflexión sobre los límites de la representación al proponer que en los escritos del coronel Pallejas, la fotografía entra a renovar y transformar el discurso narrativo, generando un “nuevo sistema representacional” (p. 74) en el que el lenguaje “echa mano de procedimientos fotográficos para ‘hacer visible’ la guerra” (p. 69); de nuevo, la guerra como laboratorio de una literatura que busca salirse de sus convenciones. En relación con la cultura visual y el campo de los estudios interdisciplinares, habría que notar la ausencia en el libro de estudios sobre la guerra en el cine. Películas como La hamaca paraguaya de Paz Encina (2008), sobre la guerra del Chaco; La sirga de William Vega (2013), sobre el conflicto armado colombiano, o incluso Tropa de élite de José Padilha (2007), sobre las favelas de Río de Janeiro, son algunos ejemplos de producciones fílmicas que en los últimos diez años han pensado la guerra, la violencia y la nación en formas similares a las que los ensayos de Entre el humo y la niebla elaboran críticas del tema. Queda la pregunta abierta: ¿cómo ha aparecido la guerra en el cine latinoamericano?
Los aciertos de Entre el humo y la niebla son muchos. El libro está informado por, y a la vez extiende, debates contemporáneos relacionados con la soberanía del Estado y sus límites, la biopolítica, los estudios animales y, en general, sus reflexiones sobre el rol de la literatura y los estudios literarios para darles continuación o interrupción a los aconteceres políticos del continente. La capacidad de la literatura como herramienta que obliga a generar una distancia crítica frente a la guerra, y de paso, también, frente a los discursos nacionalistas se ve con claridad en el ensayo de Julieta Vitullo sobre la guerra de las Malvinas (de 1982) incluido en Entre el humo y la niebla: “La guerra contenida: Malvinas en la literatura argentina más reciente”. Vitullo afirma, por ejemplo, que “la ficción se impuso como interrupción de los discursos sociales y mediáticos sobre la guerra, constituyéndose como saber específico, con estatuto y reglas propias” (p. 272). El libro, editado por Felipe Martínez-Pinzón y Javier Uriarte, identifica un corpus de producciones corporales y consolida un campo de estudio amplio, sólido y relevante. El libro expone y desarrolla aquello que indica Vitullo: las representaciones culturales se constituyen como un saber específico que nos obliga a generar una distancia crítica respecto al fenómeno de la guerra y sus consecuencias. El libro es, pues, un punto de partida clave para el campo de estudios que inaugura.
Notas
1Me refiero a los libros Islas imaginadas: la guerra de las Malvinas en la literatura y el cine argentinos (2012) de Julieta Vitullo, El país de la guerra (2015) de Martín Kohan y La última guerra: cultura visual de la guerra contra el Paraguay (2015) de Sebastián Díaz-Duhalde
Referencias
Benjamin, Walter. 2014. “Theses on the Philosophy of History”. En Illuminations: Essays and Reflections, 253-267. Nueva York: Schocken Books. [ Links ]
Díaz Duhalde-Sebastián. 2015. La Última Guerra. Cultura Visual de la Guerra contra Paraguay. Buenos Aires y Barcelona: Sans Soleil Ediciones. [ Links ]
Kohan,-Martín. 2014. El país de la guerra. Buenos Aires: Eterna Cadencia. [ Links ]
Martínez Pinzón -Felipe y Javier Uriarte, eds. 2016. Entre el humo y la niebla: guerra y cultura en América Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. [ Links ]
Vitullo-Julieta. 2012. Islas imaginadasLa Guerra de Malvinas en la literatura y el cine argentinos. Buenos Aires: Corregidor [ Links ]
Camilo Jaramillo – Profesor de Spanish and Latin American Literature, Universidad de Wyoming. Entre sus últimas publicaciones están: “Green Hells: Monstrous Vegetations in 20th-Century Representations of Amazonia”. En Plant Horror: Approaches to the Monstrous Vegetal in Fiction and Film, editado por Angela Tenga y Dawn Keetley, 91-109. Palgrave Macmillan, 2017. [email protected]
[IF]A Cultura no Mundo Líquido Moderno – BAUMAN (PL)
O autor Zygmunt Bauman (1925-2017) foi um importante pensador das dinâmicas sociais contemporâneas a partir da sua formação em sociologia e filosofia. Considerando-se um sociólogo crítico, seus estudos acerca da modernidade estiveram pautados no conceito – por ele cunhado – de liquidez, compreendendo que todas as relações no mundo contemporâneo são marcadas pela fluidez em contraponto à solidez presente anteriormente ao período do capitalismo industrial. De origem polonesa, o autor foi professor das universidades de Leeds e Varsóvia, tendo diversos livros publicados que visam explicitar e criticar a era da (pós-) modernidade e da globalização, tempo sinalizado pelo individualismo, a cultura do consumo, as relações líquidas e fluídas, entre outros aspectos. Leia Mais
Viagem a bordo das Comitivas Pantaneiras | Débora Alves Pereira
Débora Alves, jornalista, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Uniderp – Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal –, trabalha no SBT MS desde dezembro de 2001 exercendo a função de repórter desde outubro de 2013 e é editora e apresentadora do jornal SBT MS 1º Edição da mesma emissora. Dentre os seus principais destaques em premiações está o prêmio de Melhor Vídeo Étnico Social no II Festival Social Latino Americano de Cisne, Vídeo e TV com a produção do vídeo Conceição dos Bugres em 2001.
O livro intitulado Viagem a bordo das Comitivas Pantaneiras (2014) é resultado do desenvolvimento de sua pesquisa no Mestrado de Meio Ambiente da Uniderp (hoje pertencente ao grupo Anhanguera). Composto de 192 páginas intercaladas de textos e imagens que buscam retratar a realidade das comitivas pantaneiras e o meio ambiente em que estão inseridas. Leia Mais
Arqueologia Funerária: Corpo, Cultura e Sociedade. Ensaios sobre a interdisciplinaridade arqueológica no estudo das práticas mortuárias – SILVA (CA)
SILVA, Sérgio Francisco Serafim Monteiro da. Arqueologia Funerária: Corpo, Cultura e Sociedade. Ensaios sobre a interdisciplinaridade arqueológica no estudo das práticas mortuárias. Recife: Editora da Universidade Federal de Pernambuco, 2014, 133p. Resenha de: MAIOR, Paulo M. Souto. Clio Arqueológica, Recife, v.30, n.1, p. 154-159, 2015.
O livro reúne ensaios extraídos de artigos e monografias escritas pelo autor desde 2001 e representa a primeira obra dedicada à Arqueologia Funerária publicada pela UFPE. Os temas dedicados aos estudos da Antropologia Biológica e Arqueologia Funerária são relativamente escassos na bibliografia brasileira, isso porque os resultados das pesquisas são restritos a artigos, dissertações e teses do meio acadêmico.
O livro contém vinte capítulos, todos introdutórios aos temas da Bioarqueologia e da Arqueologia Funerária, com revisões de autores anglo-saxões clássicos, como L. Binford, Tainter, O´Shea, P. Ucko, J. Brown, C. S. Larsen, Saxe, R. Chapman, I. Hodder, Douglas Ubelaker, Don Brothwell, Simon Mays, John Hunter, Tim White, W. Bass, Hertz, Bendann, Margaret Cox, Jane Buikstra, Ian Morris, Parker Pearson e os franceses Louis Vincent Thomas, Henri Duday, Pettitt e Edgar Morin.
E de fato, no Nordeste do Brasil, realizaram-se vários estudos arqueológicos sobre cemitérios históricos e pré-históricos, entretanto, esses trabalhos não fizeram, em certa medida, interpretações arqueológicas dirigidas aos dados mortuários de natureza biológica, com reconstituições dos perfis biológicos em conjunto com os perfis socioculturais, tecnológicos e funerários.
Por outro lado, a proposta do autor recai em uma abordagem que retoma à importância da relação das Ciências Biológicas, da Antropologia, dos sistemas de registro dos contextos arqueológicos com os estudos mortuários na Arqueologia e que possibilita reconstituir as relações sistêmicas entre os indivíduos, nas suas sociedades e destes com o ambiente. É o caso, por exemplo, do cemitério do Pilar2, recentemente escavado pela Fundação Seridó, e os pré-históricos: abrigo Pedra do Alexandre, escavado por arqueólogos da UFPE; sítio Justino; Furna do Estrago; e Gruta do Padre, nos quais a abordagem da Bioarqueologia e dos estudos mortuários permitiram reconstituir parcelas dos contextos arqueológicos e das relações homem/homem, homem/sociedade e homem/ambiente.
Além da diversidade de assuntos tratados sobre o tema da morte na Arqueologia, como a conceituação de Arqueologia da morte, da Bioarqueologia e alguns dos seus alcances, entre outros aspectos, o livro apresenta uma bibliografia significativa sobre esses temas multidisciplinares. Isso significa que, nesse texto, as formas de abordagem dos registros arqueológicos de natureza mortuária e funerária demandam leituras em áreas do conhecimento nem sempre permeáveis entre si, como a Anatomia e a História ou a Biologia e a Antropologia.
Levando em consideração que os estudos sobre a morte e a reconstituição de estilos de vida do passado têm representado campos de interesse da Antropologia da morte e História da morte, no âmbito das Ciências Humanas e Sociais, e que o corpo humano faz parte dos remanescentes arqueológicos encontrados nos sítios cemitérios, o fator biológico nas análises torna-se imprescindível, resultando no auxílio necessário da Antropologia física ou biológica, desde o séc. XIX. Sobre essas e outras questões, o autor desenvolve os seus capítulos.
O problema do corpo em sua amplitude material, social, simbólica e fenomenológica está inserido no rol de interesses da Arqueologia de longa data. No livro, esse problema é revisitado, e o corpo, ora visto como biofato — objeto da Osteoarqueologia —, ora como objeto de cultura material — objeto da Arqueologia e da Antropologia —, guarda em si mesmo traços de comportamento, da cultura e da sociedade no qual estava inserido. Essa perspectiva valoriza o tipo de vestígio oferecido pelos remanescentes ósseos humanos e o seu potencial de análise e interpretação.
O autor enfatiza sobre o corpo e o seu estudo na Arqueologia e a necessidade de integração das ciências tradicionalmente vinculadas ao seu estudo, como a Medicina, a Odontologia, a Biologia e as Ciências Biomédicas. Também aparecem como recorrentes as contribuições da Antropologia, da Psicologia, da Sociologia, da Filosofia, da Semiótica e da História. O conceito de população, advindo da Biologia, se interpõe — e ora se sobrepõe — ao de sociedade ou grupo humano nos estudos dos sepultamentos arqueológicos. Com esse foco, o autor enfatiza a necessidade constante da interação entre as Ciências Biológicas e a Arqueologia na produção de conhecimento científico sobre as sociedades do passado, seus estilos de vida, suas práticas funerárias, suas formas de subsistência e sua interação com o ambiente, com as doenças, com os traumas, com as anomalias, com os estresses e com as características demográficas.
Adverte o autor que, como os sepultamentos contêm dados mortuários relativos aos objetos de cultura material eventualmente associados ao morto, a exemplo da cova — ou a estrutura de sepultamento — e o corpo — ou seus remanescentes —, o estudo deve ser multidisciplinar e também com a devida inclusão das ciências como a Metrologia arqueológica, a Química e a Física arqueológica, amenizando as explicações eventualmente infundadas das Ciências Humanas. Esse talvez seja o maior mérito do texto. E, de fato, com caráter eminentemente vestigial ou fragmentário, os remanescentes das práticas funerárias nos sítios arqueológicos devem ser estudados contextualizados, e a sua espacialização é absolutamente necessária a uma interpretação arqueológica eficaz sobre cada indivíduo e na sociedade na qual viveu.
As interpretações arqueológicas dos sítios cemitérios pré-históricos no Brasil ainda merecem coletâneas de grande porte, especialmente voltadas aos níveis de confiabilidade dessas abordagens interpretativas. Nesse aspecto, o autor procurou expor a necessidade de terminologias e classificações objetivas para a descrição inicial dos sepultamentos humanos; sobre a importância da escavação meticulosa, sempre enfatizando a importância dos sistemas de registro, como a fotografia e o desenho de Arqueologia, dentre outros recursos que demandem um adequado alfabetismo visual; o uso do conhecimento da Osteoarqueologia em campo; e a curadoria de curta, média e longa duração de coleções antropológicas que estão sob a guarda de instituições de pesquisa científica, valorizando a elaboração de catálogos sistemáticos de remanescentes funerários voltados aos estudos comparados entre populações com formas de subsistência, localização geográfica e cronologia diferentes. Em outros termos, para que exista a confiabilidade em qualquer interpretação, é necessário o fundamento factual que apresente o benefício da prova científica, oferecida por um registro adequado dos vestígios funerários inseridos no contexto arqueológico e pela sua decapagem e observação alfabetizadas em campo e no laboratório.
A formulação de descritores fiáveis, passíveis de verificabilidade e reprodutibilidade mínimas, aplicados aos dados mortuários, é fundamental para a reconstituição e comparação de perfis funerários — culturais — e de perfis biológicos ou bioculturais, e a consequente interpretação arqueológica, a partir de unidades de análise, é uma advertência que o autor faz em estudos sobre a morte na Arqueologia. E, segundo ele, esse tipo de dado é muitas vezes fragmentário e incompleto. O estilo de vida, as interações ambientais, as doenças e as características socioculturais e demográficas de cada indivíduo exumado em um cemitério pré-histórico, tanto quanto o seu papel no processo de ocupação do continente americano e as suas afinidades biológicas e culturais, são possíveis, conforme propõe o livro, apenas a partir da interdisciplinaridade de todas essas áreas do conhecimento.
Por fim, cabe ressaltar que o livro apresenta um panorama da complexidade de abordagens e possibilidades mais adequadas no estudo das práticas funerárias em sociedades humanas do passado, com uma perspectiva teórica dada pela interação entre as Ciências Sociais e Humanas e as Ciências Biomédicas e exatas, sem, contudo, aprovar as apropriações hegemônicas das Ciências Biológicas sobre as arqueologias.
Nota
2 PESSIS et al.. Evidências de um cemitério de época colonial no Pilar, Bairro do Recife, PE. Revista Clio Arqueológica. V. 28, n. 1, 2013.
Paulo M. Souto Maior – Departamento de Arqueologia, UFPE.
[MLPDB]Espaços da cultura e representações do espaço: entre o simbólico e o concreto / Revista Espacialidades / 2015
A Revista Espacialidades, por meio do dossiê intitulado Espaços da cultura e representações do espaço: entre o simbólico e o concreto – voltado às discussões, manifestações e problematizações das diversas matizes que envolvem a ideia e o conceito de cultura –, apresenta seu 8º volume. Organizar este dossiê, como todos os outros, não foi uma tarefa simples, mas é o resultado final que nos faz, ano após ano, perceber o quão importante é esta publicação. A certeza de que nossa publicação é fundamental à comunidade científica e demais leitores interessados nos fez decidir que esta tarefa se tornará mais prazerosa e onerosa, visto que é este o último volume anual da Espacialidades – que passará a ser semestral a partir do ano vindouro.
Agradecemos ao nosso quadro de pareceristas, formado por profissionais de destacado renome nacional e internacional, que com seu profissionalismo atua para que a qualidade desta publicação se mantenha com o passar dos anos. Outrossim, os articulistas que nos confiaram a missão de divulgar suas produções merecem também nosso profundo agradecimento. É para nós salutar expressar também os mais sinceros agradecimentos a Tyego Flankim da Silva, que exerceu a função de editor-gestor na edição passada, pela valorosa ajuda também neste volume, e a Adriel Silva, aluno do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), cujo talento nos brindou com a belíssima imagem que ilustra a capa desta edição.
Este volume, cujo dossiê é voltado à discussão cultural, é contemplado ainda com duas entrevistas, uma resenha e um resumo de dissertação, nova modalidade de publicação que resolvemos acolher. De maneira igualmente fundamental apresentamos os artigos da seção livre, cujas temáticas abordadas são múltiplas, sem as quais não seria possível a diversidade desta publicação.
Recebemos textos de articulistas de diversas universidades, e mantivemos em nossa publicação um artigo escrito por um aluno de nosso Programa de Mestrado, como tradicionalmente defende a Revista. Doravante, apresentaremos esses textos e contamos com a divulgação e apreciação por parte de vocês, leitores – a parte central da engrenagem que forma e que motiva a Espacialidades e sua equipe editorial.
Abrindo o 8º volume da Revista Espacialidades, Carolina Ferreira de Figueiredo e Nicoll Siqueira da Rosa, ambas mestrandas em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), apresentam o artigo “A eficiência cultural da forma: apontamentos sobre o uso de imagens nas áreas de história e antropologia visual”, e fazem uma discussão teórica acerca do uso das imagens como forma de produção do conhecimento, em um momento em que o debate acerca da cultura visual é relevante à compreensão do mundo contemporâneo.
Em seguida, Alicia Karina Valente, mestranda do Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano – Facultad de Bellas Artes, da Universidad Nacional de La Plata (UNLP – Argentina), apresenta seu texto, “Palimpsestos visuales en un espacio cultural autogestionado”, que traz a análise de uma forma estética marcada pela presença do graffiti e do sténcil no interior e exterior de um espaço cultural autogerido, o Centro Cultural y Social El Galpón de Tolosa, da cidade de La Plata, na Argentina.
Aguiomar Rodrigues Bruno, mestre pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), apresenta seu texto “Tractatus de arte et scientia bene moriendi: a literatura pedagógica da morte no interior Fluminense Oitocentista (Freguesia de Piraí)”, que busca evidenciar o alcance e a influência da literatura devocional da boa morte no imaginário e nas práticas populares mortuárias no interior do Vale do Paraíba Fluminense, especificamente na freguesia de Piraí, na primeira metade do século XIX.
Amanda Teixeira da Silva, professora da Universidade Federal do Cariri (UFCA), proporciona ao leitor o estudo intitulado “A fisionomia da pedra: um olhar sobre a escultura de Agostinho Balmes Odísio”, que aborda a influência da arte funerária sobre a escultura de Agostinho Balmes Odísio, escultor italiano que viveu em Juazeiro do Norte entre os anos de 1934 e 1940.
Alexandra Lis Alvim, mestranda em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), apresenta seu artigo, intitulado “‘Anos 70, não deu pra ti…’: considerações sobrea memória, juventude e período autoritário através do filme “Deu pra ti, anos 70…” (1981) e da peça teatral ‘Bailei na Curva’ (1983)”, no qual a autora se propõe a fazer uma análise das produções culturais surgidas nos anos finais da última ditadura brasileira: o longa-metragem em Super 8, lançado em 1981,“Deu pra ti, anos 70…”, de Nelson Nadotti e Giba Assis Brasil, e a peça teatral “Bailei na Curva”, que estreou em 1983, pelo grupo Do Jeito Que Dá – duas produções que discorriam em tom nostálgico e reflexivo sobre a experiência da geração que cresceu sob o período autoritário.
Henrique Masera Lopes, aluno do Programa de Pós-Graduação em História da UFRN, oferece ao leitor seu artigo “A linha de fronteira se rompeu: poéticas musicais de um nordeste psicodélico nos anos 70”, que se ocupa em problematizar a emergência de novas culturas espaciais a partir da segunda metade do século XX através do que se convencionou denominar por corrida espaço-sideral.
Partindo à segunda parte desta publicação, cujas temáticas são livres, Ada Raquel Teixeira Mourão, docente da Universidade Federal do Piauí (UFPI), José Elierson de Sousa Moura, mestrando pela UFPI, e Larice Íris Marinho Moura, licenciada em História pela UFPI, através do texto “Picos nas sombras do tempo: a cidade pré-reforma urbanística como espaço da saudade” analisam o estranhamento identificado em alguns moradores com relação à cidade de Picos (Estado do Piauí) da contemporaneidade, evocado através do sentimento de saudade da cidade associado à década de 1950, período de destaque da economia agrícola às margens do Rio Guaribas, e da década de 1960, quando a cidade oferecia uma variedade de espaços de lazer e convivência para os citadinos.
Francisco Ramon de Matos Maciel, mestre em História e professor do Projovem Campo Ceará, apresenta em seu texto, intitulado “Territórios da Seca: ordenamento e resistência na cidade de Mossoró na seca de 1877”, um estudo das formas de ordenamento e controlo espacial encontrado na cidade de Mossoró durante a seca de 1877.
Cristiano Luiz da Costa e Silva e Ludmila Pena Fuzzi, ambos do Instituto de Pesquisa Histórica e Ambiental Regional (IPHAR), em artigo intitulado “Identidade sustentável: espacialidade, identidade e memória nos estudos sobre comunidades quilombolas”, tratam da relação das comunidades quilombolas com seu território, buscando na Identidade Sustentável do Instituto de Pesquisa Histórica e Ambiental Regional (IPHAR) respaldos para a manutenção e perpetuação das Memórias Solidificadas, propiciando a legitimação destes espaços.
Carlos Alexandre Barros Trubiliano, docente da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), apresenta o texto “A fundação do homem público nos primórdios do coronelismo em Campo Grande – MT / MS (1905-1917)”, que trata do papel de Campo Grande enquanto principal centro econômico e político do sul de Mato Grosso. O artigo discute sobre a elite política formada por homens cuja principal fonte de riqueza provinha da criação de gado. Para esses coronéis, a administração pública era uma continuidade da sede da fazenda.
Edson Silva, mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no artigo “A produção do lazer na urbe: a construção do Estádio Municipal Francisco Rocha Pires (Jacobina – BA – 1955-1959)” promove uma análise da edificação do estádio municipal Francisco Rocha Pires, inserida dentro de um processo de modernização urbana, ocorrido na cidade de Jacobina em meados da década de 1950. O autor procura descrever e examinar a construção do campo esportivo na medida em que esse espaço instituía no mapa urbano um ambiente de lazer e prática de esportes.
Julio César dos Santos, docente do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e doutorando em História pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em parceria com Luciene Aparecida Castravechi, doutoranda em História pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), apresentam o texto “Alberto Torres: uma revisita historiográfica”. Os autores contextualizam os escritos de Alberto Torres dentro de um complexo processo de discussão acerca da identidade da nação brasileira, nos finais do século XIX e inícios do século XX, a partir de sua mais significativa publicação: “A Organização Nacional”, datada de 1914.
Elynaldo Gonçalves Dantas, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), apresenta no texto “Gustavo Barroso, um intérprete do Brasil: a nação na escrita integralista barrosiana” uma reflexão sobre a organização do espaço nacional no pensamento integralista de Gustavo Barroso, utilizando-se dos livros “O Integralismo em Marcha” e “O Integralismo de Norte a Sul” como fontes.
João Paulo França, mestre em História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), através do artigo “A Rua do Esquecimento: a memória dominante nos logradouros centrais de Campina GrandePB”, apresenta uma visão acerca do processo de nomeação e renomeação das ruas do núcleo central da cidade de Campina Grande, alertando que as mudanças pelas quais passaram a cidade ficaram registradas nos nomes que foram conferidos às Ruas, demonstrando assim, um processo de transformação espacial e cultural.
Francisco Antônio Zorzo, Leda Maria Fonseca Bazzo, professores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Lucian Conceição de Alcântara, discente da mesma universidade, apresentam seu texto “Território Urbano e Memória Coletiva – As Lavandeiras Comunitárias de Salvador e o caso do Alto das Pombas”, que trata de uma pesquisa em desenvolvimento em uma lavanderia pública estadual de Salvador, a saber, a lavanderia Nossa Senhora de Fátima. A pesquisa, além de levantar dados sobre o funcionamento do equipamento e da história das lavandeiras comunitárias mantidas pelo governo do Estado da Bahia, investiga as formas de resistência cultural empreendidas pelas lavadeiras para manter o seu modo de vida e garantir o seu espaço de moradia e de trabalho.
Rodrigo Pereira, doutorando pelo Museu Nacional (UFRJ), faz em seu texto “As transformações no matriarcado Nagô nos candomblés do estado do Rio de Janeiro (séculos XX e XXI): a figura do homem no comando dos axés”, a apresentação de uma amostragem de dados sobre candomblés fluminenses em que a quantidade de dirigentes do sexo masculino é maior que a feminina. O autor discute como o sexo masculino tem ganhado espaço em um processo histórico de aceitação destes na liderança dos axés.
Inaugurando a seção que engloba resumos de dissertações e teses, Rodrigo dos Santos apresenta as discussões realizadas em sua dissertação, intitulada “Discursos sobre imigração no jornal Folha do Oeste – Guarapuava, Paraná”, produzida na Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), sob orientação do Prof. Dr. Fernando Franco Netto. O objetivo principal de seu texto é analisar os discursos do jornal Folha do Oeste sobre imigrantes, no período de 1946 a 1960.
Roger Diniz Costa, mestrando em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOSTE), apresenta a resenha intitulada “A construção do engenho e a saudade na literatura de José Lins do Rego”, cujo livro é de autoria de Diego José Fernandes Freire e se intitula: “Contando o passado, tecendo a saudade: a construção simbólica do engenho açucareiro em José Lins do Rego (1919-1943)”.
O fechamento deste volume ocorre com duas entrevistas com os professores doutores Flavia Galli Tatsch, professora adjunta de História da Arte Medieval na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e Paulo Roberto Tonani do Patrocínio, professor do Departamento de Letras-Libras da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os professores nos presenteiam com duas entrevistas sobre suas trajetórias acadêmicas, suas produções recentes e sobre os desafios enfrentados pelo pesquisador diante dos seus objetos.
Boa leitura a todos!
Marcia Vasques – Doutora, editora-chefe; Aledson Manoel Silva Dantas; Flávia Emanuelly Lima Ribeiro Marinho; Francisca Kalidiany de Abrantes Lima; Keidy Narelly Costa Matias; Livia Brenda da Silva Barbosa e Raphael Alves da Costa Torres, membros da equipe editorial do corrente ano.
VASQUES, Marcia Severina; MARINHO, Flávia Emanuelly Lima Ribeiro; et al. Apresentação. Revista Espacialidades. Natal, v.8, n. 01, 2015. Acessar publicação original [DR]
A cultura no mundo líquido moderno / Zygmunt Bauman
Com seu livro intitulado A Cultura no Mundo Líquido Moderno, no original Culture in a Liquid Modern World, Zygmunt Bauman prossegue em 2013 suas análises sobre a modernidade, fazendo uma síntese das características que tomou a cultura desde a era “sólida” até a era “líquida”, bem como sua relação com o “multiculturalismo” e “globalização”.
No primeiro capítulo Bauman procura demonstrar que na atualidade não se firmam mais as antigas distinções entre a elite cultural e o chamado “grande público”, essa hierarquia cultural deu lugar a uma elite diversificada que aprecia tanto a “grande arte” quanto os programas populares de televisão e, “onivoramente”, consome diversas formas de arte, tanto populares quanto intelectualizadas, porém preocupada demais em celebrar o sucesso e outras formas festejadas ligadas a cultura. Descreve também “as peregrinações históricas do conceito de cultura”, desde o Renascimento, passando pela reviravolta causada por Pierre Bourdieu no século XX, chegando até os dias atuais, quando adentra a era “líquida”. Bauman mostra que o conceito de “cultura”, surgido no âmbito rural para incitar a ação agrícola, o arado e a semeadura, também esteve relacionado ao cultivo de almas (cultura animi), a interação entre protetores e protegidos, educadores e educados, e ainda esteve relacionado aos ideais iluministas e a construção de uma nação, de um Estado e de um Estado-nação, e ainda a aproximação entre as classes altas e o “povo”, ou seja, entre os que estão na base da sociedade e os que estão no topo. A perda de posição do conceito de “cultura” é resultado de uma série de processos de caracterizam a transformação da modernidade de seu estado “sólido” para seu estado “líquido”, o que Bauman denomina de “modernidade líquida”.
No segundo capítulo Bauman discorre sobre a “moda”, fenômeno social, segundo ele, em constante estado de “devir”. Para Bauman a “moda” funciona como uma válvula que se abre antes que se atinja a conformidade, ela multiplica e intensifica as distinções, diferenças, desigualdades, discriminações e diferenças. Um moto perpétuo que torna-se norma no momento em que se encontra no “mundo socializado”, um aniquilador de inércia. Segundo Bauman, “A moda coloca todo estilo de vida em estado de permanente e interminável revolução”, nesse sentido, “A moda é um dos principais motores do ‘progresso’”3. As pessoas, por sua vez, seriam caçadores em busca de uma contínua e ininterrupta variação do próprio self, por meio da mudança de costumes, e essa estrada vem a ser para os caçadores uma forma de utopia, uma vida na utopia.
Em seu terceiro capítulo o livro abarca desde a construção dos Estados-nação, em fase “sólida” na era moderna, até o mundo globalizado da atualidade. Primeiramente Bauman procura evidenciar que os Estados-nação tornaram-se menos inabaláveis a medida que começam a ser coagidos e encorajados a abandonar suas aspirações e esperanças. “A medida de ‘funcionalidade’ […] já não parecia tão inquestionável ou inegavelmente correta”4. O impulso da globalização teve papel preponderante no abandono das aspirações dos Estados-nação, que teve como efeito colateral a emergência da natureza inconsistente das fronteiras do sistema. O livro também chama a atenção para a importância da migração em massa durante o período da modernidade e da modernização, uma migração de pessoas em detrimento da migração de povos como o ocorrido em inícios da Idade Média. Bauman divide estas migrações em três fases: A primeira foi a migração de 60 milhões de pessoas da Europa para as “terras vagas”, onde as populações indígenas podiam ser desprezadas ou vistas como inexistentes ou irrelevantes. A segunda vem no sentido inverso, onde algumas das populações nativas, com variados graus de educação e “sofisticação cultural”, seguiram os colonialistas que retornavam à terra natal. A terceira fase das migrações modernas, em pleno curso, introduz a era das diásporas;
Trata-se de um arquipélago infinito de colônias étnicas, religiosas e linguísticas, sem preocupações com os caminhos assinalados e pavimentados pelo episódio imperial/colonial, mas, em vez disso, conduzido pela lógica da redistribuição global dos recursos vivos e das chances de sobrevivência peculiar ao antigo estágio da globalização5.
Segundo Bauman, a escala dos movimentos populacionais globais, hoje, é ampla e continua a crescer, entretanto, o que tem ocorrido é que os imigrantes tem se tornado “minorias étnicas”, e essas aglomerações “etnicamente estrangeiras” disseminam hábitos das populações locais, causando estranhamento e uma “guetificação” dos “elementos estrangeiros” que, por sua vez, se fecham em círculos próprios. Pari passu Bauman aponta uma nova indiferença a diferença, que mostra-se como uma aprovação do “pluralismo cultural”, segundo ele, “A prática política constituída e apoiada por essa teoria é definida pelo termo ‘multiculturalismo’”6.
Já no quarto capítulo, o livro inicia com uma discussão em torno da missão das “classes instruídas” (intelectuais avant la lettre, sendo que o conceito de intelectuais só tomou forma no século XX), iniciada ainda no Iluminismo e que consistia em duas tarefas: A primeira delas, tinha como meta “esclarecer” ou “cultivar” o “povo”, transformar as entidades desorientadas, desalentadas e perdidas em membros de uma nação moderna e cidadãos de um Estado Moderno, ou seja, a criação de um “novo homem”. Nesse sentido a “educação” foi a viga mestra desta transformação, “a educação era capaz de tudo” e o papel dos educadores era o da “cultura”, no sentido original de “cultivo”, tomando o termo de empréstimo à agricultura. A segunda tarefa consistia em planejar e construir novas e sólidas estruturas que dariam um novo ritmo de vida a massa momentaneamente “amorfa”, ainda não adaptada ao novo regime, ou seja, introduzir uma “ordem social”, “colocar a sociedade em ordem”. “As duas tarefas dependiam da combinação de todos os poderes do novo Estado-nação, econômicos, políticos e também espirituais, no esforço de remodelar corporal e espiritualmente o homem – o principal objetivo e o principal objeto da transformação em curso”7. A construção do Estado foi um esforço que exigiu o engajamento tanto de administradores quanto de administrados, o que segundo Bauman não ocorre hoje, onde não há mais um engajamento e o modelo pan-óptico de dominação dá lugar à supervisão e ao autocontrole pelos próprios objetos da dominação. “As colunas em marcha dão lugar aos enxames”8. Bauman ainda argumenta que tendo Deus criado o Homem e o feito andar sobre os dois pés, mandou-o achar o seu próprio caminho e segui-lo, dessa forma, “Em nossa época, foi a vez de a sociedade […] concordar que o homem fora equipado com ferramentas pessoais suficientes para enfrentar os desafios da vida e administrá-la sozinho – e logo desistir de impor as escolhas e administrar as ações humanas”9. Bauman também pondera sobre a aceitação e permanência culturais deixando claro que devemos aceitar todas as proposições como válidas e dignas de escolha, evidenciando ainda que se determinada cultura é tida como valiosa deve ser preservada para a posteridade independentemente de uma comunidade cultural ou da maioria de seus membros.
No seu quinto capítulo, o livro procura demonstrar que a globalização tem agido de forma a desfragmentar as identidades nacionais no contexto da União Europeia, quando desintegra seu antigo abrigo, os alicerces da independência territorial. Para Bauman, a União Europeia não somente preserva as identidades dos países que nela se unem, como procura neutralizar as poderosas pressões que a atingem através do ciberespaço. “Dessa maneira a união também salvaguarda as nações dos efeitos potencialmente destrutivos do longo e permanente processo […] de separar a trindade formada por nação, Estado e território, tão inseparáveis nos dois últimos centenários”10. Entretanto, Bauman destaca que a cultura no contexto da união tem sobrevivido mesmo sem o suporte da trindade nação-Estado-território. Não obstante, a construção nacional tinha por meta a concretização de “Um país, uma nação”, o nivelamento das diversidades étnicas dos cidadãos, por sua vez, os processos civilizadores garantiriam que a diversidade de línguas e o mosaico étnico e cultural não perdurassem por muito tempo, nesse sentido, dentro do Estado-nação culturalmente unido e unificado, “Tudo que fosse ‘local’ e ‘tribal’ era considerado ‘atraso’”11. “A prática da construção nacional tinha duas faces: a nacionalista e a liberal”12, a primeira era séria e enérgica, a segunda era amigável e benevolente. “As comunidades não viam diferença entre as faces nacionalista e liberal apresentadas pelos novos Estados-nação. Nacionalismo e liberalismo preferiam estratégias diferentes, mas miravam fins semelhantes”13. Sem dúvida a globalização tem mais proximidade com a face liberal do Estado-nação, pois o vácuo criado pela globalização oferece maior liberdade às iniciativas e às ações individuais, notadamente características do liberalismo.
Em seu sexto e último capítulo, o livro destaca o financiamento das artes por parte do Estado, tendo como precursores os franceses que, por sua vez, tinham na figura de Luis XIV um grande incentivador das artes e da educação dos artistas, fundador, em especial, do teatro real, a Comédie-Française. Bauman ressalta ainda que as primeiras ações, que seriam hoje chamadas de “política cultural”, surgem uns duzentos anos antes da emergência do termo “cultura”. O conceito francês de culture [tradução – do francês = cultura], estava relacionado a elite instruída e poderosa e também a promoção do aprendizado, da suavização das maneiras e do refino do gosto artístico. Durante o século XIX, surgem noções como “desenvolvimento e disseminação da cultura”, e “Também neste período, a tradição já estabelecida de responsabilidade do Estado pela cultura foi posta a serviço da construção nacional”14, o intuito era endossar o patriotismo e a lealdade a República. Segundo Bauman, “A cultura conferiria prestígio e glória, em âmbito mundial, ao país que patrocinasse seu florescimento”15. Através do pensamento de Theodor Adorno, o livro ainda procura estabelecer um paradoxo entre a inata atitude suspeitosa da administração diante da insubordinação e da imprevisibilidade naturais da arte e o desejo dos criadores de cultura de serem ouvidos, vistos e, tanto quanto possível, serem notados, paradoxo esse que para Bauman não tem solução, mas que tem mudado nas últimas décadas, em termos da situação da arte e de seus criadores. Bauman ainda demonstra que este paradoxo esta também relacionado a uma lógica de mercado, que, por sua, vez é uma tentativa de atingir o público, prática comum desde os tempos em que a arte era administrada pelo Estado e que, seguindo os critérios do mercado de consumo, preocupam-se com a iminência do consumo, da satisfação e do lucro.
Notas
3 BAUMAN, Zygmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2013. p.20.
4 Ibidem, p.28.
5 Ibidem, p.29.
6 Ibidem, p.37.
7 Ibidem, p.43.
8 Idem.
9 Ibidem, p.46.
10 Ibidem, p.56.
11 Idem.
12 Idem.
13 Ibidem, p.57.
José Fernando Saroba Monteiro – Mestrando em História do Império Português [e-learning] pela Universidade Nova de Lisboa (UNL). Licenciado em História pela Universidade de Pernambuco (UPE); Especialista em Teorias da Comunicação e da Imagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC); Licenciando em Música pela Universidade Federal do Ceará (UFC). E-mail: [email protected]. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5353852205190949.
BAUMAN, Zygmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2013. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Resenha de: MONTEIRO, José Fernando Saroba. Em Perspectiva. Fortaleza, v.1, n.1, p.214-218, 2015. Acessar publicação original [IF].
A cultura no mundo líquido moderno | Zygmunt Bauman
Com seu livro intitulado A Cultura no Mundo Líquido Moderno, no original Culture in a Liquid Modern World, Zygmunt Bauman prossegue em 2013 suas análises sobre a modernidade, fazendo uma síntese das características que tomou a cultura desde a era “sólida” até a era “líquida”, bem como sua relação com o “multiculturalismo” e “globalização”.
No primeiro capítulo Bauman procura demonstrar que na atualidade não se firmam mais as antigas distinções entre a elite cultural e o chamado “grande público”, essa hierarquia cultural deu lugar a uma elite diversificada que aprecia tanto a “grande arte” quanto os programas populares de televisão e, “onivoramente”, consome diversas formas de arte, tanto populares quanto intelectualizadas, porém preocupada demais em celebrar o sucesso e outras formas festejadas ligadas a cultura. Descreve também “as peregrinações históricas do conceito de cultura”, desde o Renascimento, passando pela reviravolta causada por Pierre Bourdieu no século XX, chegando até os dias atuais, quando adentra a era “líquida”. Bauman mostra que o conceito de “cultura”, surgido no âmbito rural para incitar a ação agrícola, o arado e a semeadura, também esteve relacionado ao cultivo de almas (cultura animi), a interação entre protetores e protegidos, educadores e educados, e ainda esteve relacionado aos ideais iluministas e a construção de uma nação, de um Estado e de um Estado-nação, e ainda a aproximação entre as classes altas e o “povo”, ou seja, entre os que estão na base da sociedade e os que estão no topo. A perda de posição do conceito de “cultura” é resultado de uma série de processos de caracterizam a transformação da modernidade de seu estado “sólido” para seu estado “líquido”, o que Bauman denomina de “modernidade líquida”. Leia Mais
Les Suisses – DIRLEWANGER (DH)
DIRLEWANGER, Dominique. Les Suisses. Paris: Ateliers Henry Dougier, 2014, 143p. Resenha de: MASUNGI, Nathalie. Didactica Historica – Revue Suisse pour l’Enseignement de l’Histoire, Neuchâtel, v.1, p.209, 2015.
Ce livre s’insère dans la collection « Lignes de vie d’un peuple », dont l’objectif est de présenter des populations en remettant en cause les stéréotypes (souvent tenaces) s’y attachant.
La dimension polymorphe de la Suisse et de ses habitants est mise en exergue par le biais de témoignages d’experts autour de thèmes politique, historique, économique et culturel. Chaque spécialiste propose, en plus de ses considérations scientifiques, son point de vue personnel quant à ce qui fonde l’identité des Suisses, hier et aujourd’hui. L’ouvrage intéressera les curieux avides de percer le secret d’un pays qui, lorsqu’il est évoqué de l’extérieur, est celui des clichés: la Suisse est décrite comme un paradis fiscal, comme une terre habitée par un peuple heureux, comme une nation située au « carrefour des cultures europeennes et avec quatre langues nationales […] ». Dominique Dirlewanger propose d’aller au-delà de ces images. Il montre ce qui fait ce pays, dont mythes et légendes jalonnent également la création de sa propre identité vis-àvis de l’étranger.
Ce livre permet aussi au lectorat suisse de trouver des réponses à une question récurrente qui hante le débat politique et l’espace public: celle de la définition d’une identité commune, matérialisée par un « qui sommes-nous? » qui n’appelle pas de réponse simple et définitive.
Les Suisses peut enfin être employé comme ressource réflexive à l’attention d’élèves du secondaire (14-18 ans), afin de mettre en perspective des thématiques abordées dans le cadre des cours d’histoire, de citoyenneté ou d’économie et droit.
Historien et enseignant, Dominique Dirlewanger est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Tell me. La Suisse racontee autrement (ISS-UNIL, 2010). Il collabore avec l’Interface sciences-société de l’Université de Lausanne pour la création d’ateliers de vulgarisation scientifique en histoire. Il a fondé l’association memorado.ch afin de promouvoir l’histoire suisse.
Nathalie Masungi – Établissement scolaire du Mont-sur-Lausanne et Haute École pédagogique, Lausanne.
[IF]
Maneiras de Ler Geografia e Cultura | A. L. Heidrich, B. P. da Costa e C. L. Z. Pirez
O estudo das representações abre caminhos para uma análise do mundo de interações que ocorrem no cotidiano. Esse categorial quebra paradigmas, pois ao invés de uma análise do ser no espaço, torna imprescindível a compreensão do ser enquanto espaço. É a chamada Geografia Cultural que surge nesse contexto, uma geografia dos sentidos, dos significados, das representações.
Para Gil Filho (2005, p. 54) “uma Geografia das Representações é uma Geografia do conhecimento simbólico”. Atualmente a Geografia acadêmica tem promovido ampla discussão, pautada em inúmeras pesquisas que entrelaçam por caminhos das distintas áreas do conhecimento. Leia Mais
Maneiras de Ler Geografia e Cultura | A. L. Heidrich, B. P. da Costa e C. L. Z. Pirez
O estudo das representações abre caminhos para uma análise do mundo de interações que ocorrem no cotidiano. Esse categorial quebra paradigmas, pois ao invés de uma análise do ser no espaço, torna imprescindível a compreensão do ser enquanto espaço. É a chamada Geografia Cultural que surge nesse contexto, uma geografia dos sentidos, dos significados, das representações.
Para Gil Filho (2005, p. 54) “uma Geografia das Representações é uma Geografia do conhecimento simbólico”. Atualmente a Geografia acadêmica tem promovido ampla discussão, pautada em inúmeras pesquisas que entrelaçam por caminhos das distintas áreas do conhecimento. Leia Mais
Tempos fraturados: cultura e sociedade no século XX | Eric Hobsbawm
Uma leva de acadêmicos brasileiros no século XX e interessados na produção inglesa sobre a História Social certamente se depararam com a comparação de que os integrantes da New Left e, em especial, Edward P. Thompson, estariam mais próximos da abordagem cultural do que Eric Hobsbawm que, graças a seu engajamento e continuidade no Partido Comunista pós-1956, priorizava uma vertente mais economicista e política em suas análises. As opções do mercado editorial brasileiro e as formas de difusão das obras no interior das instituições de ensino superior também contribuíram para essa visão. Acredito que a maioria de nossos pesquisadores pouco saiba dos escritos de Hobsbawm voltados à questão cultural, tendo o jazz como principal problemática de estudo. Talvez por isso, obras como Pessoas extraordinárias: resistência, rebelião e jazz e A história social do jazz não tiveram grande repercussão nos cursos e em trabalhos acadêmicos. Leia Mais
From Africa to Brazil: Culture, Identity, and an Atlantic Slave Trade, 1600-1830 – HAWTHORNE (RBH)
HAWTHORNE, Walter. From Africa to Brazil: Culture, Identity, and an Atlantic Slave Trade, 1600-1830. Cambridge (U.K.): Cambridge University Press, 2010. 254p. Resenha de: MACHADO, Maria Helena P. T. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.34 n.67, jan./jun. 2014.
Entre os povos do litoral da Alta Guiné, quando alguém cai doente ou morre, considera-se necessária a presença de um jambacous – palavra em crioulo para designar adivinhadores, curadores, médiuns e outras figuras sociais participantes do mundo do sagrado – capaz de curar o doente ou pelo menos restaurar o equilíbrio social perdido como consequência da ação maléfica de feiticeiros, causadores do mal. Utilizando-se de poções, amuletos ou grisgris, assoprando, declinando palavras sagradas e realizando outras performances, o jambacous, muitos deles mandinkas, assumia um importante papel na restauração do equilíbrio social das famílias, linhagens e comunidades. Nos séculos XVIII e inícios do XIX, para essas comunidades costeiras, era medida de grande importância detectar os feiticeiros maléficos para retirá-los da sociedade por meio da pena de morte ou da venda do indivíduo no circuito do tráfico transatlântico de escravos.
No Pará da década de 1760, o escravo mandinka José foi chamado para curar a escrava bijagó, Maria, que estava gravemente doente. Para tal, José preparou uma mistura de plantas e a administrou pronunciando palavras incompreensíveis, como parte de um ritual complexo que incluía tanto o conhecimento herbalista quanto o contato com o invisível. Nada sabemos da história pessoal de José. O fato, porém, de o tráfico entre a Alta Guiné e a Amazônia – como bem mostra o livro From Africa to Brazil – ter colocado em circulação um grande número de feiticeiros, pode lançar luz sobre aspectos ainda desconhecidos e insuspeitados da rica história atlântica que entrelaçou as sociedades costeiras e das terras altas da Alta Guiné com as da Amazônia colonial, mais particularmente o Maranhão da segunda metade do século XVIII e primeiras décadas do XIX.
Sintetizado em enxutas 254 páginas, o livro escrito por um dos maiores especialistas na história da Guiné, Walter Hawthorne, lança luz agora sobre diferentes aspectos que condicionaram a história da montagem de uma economia escravista atlântica no Estado do Grão-Pará e Maranhão.
Como mostra o autor, foi a dinâmica do tráfico transatlântico que promoveu a recuperação da economia da Amazônia, ocorrida a partir da fundação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, em 1755, e até as primeiras décadas do século XIX. Analisando temas amplos e variados, o livro aborda a montagem e declínio de uma economia escravista amazônica baseada na mão de obra indígena, a estruturação do tráfico transatlântico – que permitiu a concretização das políticas reformistas pombalinas relativa ao desenvolvimento da cultura do arroz, principalmente no Maranhão da segunda metade do XVIII – e, finalmente, a estruturação de uma economia e uma sociedade escravistas na Amazônia.
A economia da Amazônia baseava-se, sobretudo, no labor que os trabalhadores escravizados da Alta Guiné desenvolviam no cultivo do arroz, trabalhando de sol a sol no inclemente clima tropical da região, em uma agricultura que sugava gigantesco volume de trabalho escravo, da etapa de derrubada da floresta à incessante capinação, colheita e beneficiamento do arroz carolina, o qual, muito apreciado pelos portugueses, encontrava um mercado consumidor voraz no ultramar. Assim, insisto, os escravos oriundos da Alta Guiné tornaram-se a base da economia e sociedade amazônicas do período. Os dados e análises dispostos nesse livro são ricos e variados, salvo engano o mais completo estudo a respeito da constituição da sociedade escravista transatlântica na Amazônia.
Entre a miríade de assuntos abordados por Hawthorne, dois aspectos sobressaem. Em primeiro lugar, ressalto a análise a respeito do tráfico de escravos, por meio da qual o autor corrige os dados disponíveis no The Transatlantic Slave Trade Database (www.slavevoyages.org). Utilizando-se de variados documentos – relatórios sobre tráfico de escravos, cartas, inventários de proprietários de fazendas e documentos eclesiásticos, entre outros, provenientes de ambas as regiões ligadas pelo tráfico transatlântico – Hawthorne mostra que o tráfico de escravos entre a Alta Guiné e a Amazônia, da segunda metade do século XVIII até meados do XIX, se desenvolveu principalmente à custa das sociedades costeiras e não das localizadas nas terras altas. Se, de fato, o tráfico engolia tanto populações de terras altas como costeiras – mandinkas, bijagós, papeis, balantas etc. – circunstâncias ligadas ao sistema social que produzia cativos acabaram por sugar majoritariamente grupos litorâneos. De fato, o livro discute como as sociedades costeiras da Alta Guiné se achavam particularmente sensíveis ao tráfico devido tanto à necessidade de consumo de instrumentos de ferro para a manutenção dos sistemas de irrigação e drenagem de águas nas áreas produtoras de arroz, quanto à dinâmica do sistema social de sequestro de indivíduos de etnias vizinhas e de perseguição de feiticeiros. As vítimas, vendidas aos agentes do tráfico local, a maioria destes “lançados”. Assim, From Africa to Brazil comprova que eram as sociedades costeiras que, subjugadas por suas próprias dinâmicas e demandas, se tornaram as mais fragilizadas frente ao tráfico.
Seguindo a interpretação proposta por Sidney Mintz e Richard Price, o autor argumenta que, mais do que o pertencimento a grupos étnicos específicos, a travessia do Atlântico produzia uma identidade pan-regional, estabelecendo profundos laços entre pessoas que usufruíam do mesmo universo cultural mais amplo, mas que, em suas sociedades originais, haviam permanecido separadas por pertencimentos étnicos específicos.
O segundo aspecto especialmente rico desse trabalho se materializa na discussão do sistema de produção de arroz e, neste, o papel desempenhado pelo trabalhador escravizado da Alta Guiné. Opondo-se à tese do “arroz negro”, desenvolvida por Judith Carney no livro Black Rice, cujo argumento central gira em torno da continuidade dos métodos e técnicas da produção desse cereal entre a África e as colônias das Américas, este livro documenta a descontinuidade entre o tipo de cultivo de arroz praticado nas terras alagadas da região costeira da Alta Guiné, que exigia um importante conjunto de saberes detidos pelos homens, e a agricultura de queimada e derrubada – a coivara –, dominante no espaço colonial amazônico dedicado à rizicultura. O que sugere este livro é que o sistema de plantio de arroz desenvolvido na Amazônia seria fruto da conjugação de saberes variados, provenientes dos indígenas, portugueses e, certamente, também dos trabalhadores provenientes da Alta Guiné– sendo, por seu caráter multicultural, mais bem conceituado como “brown rice”, algo como “arroz pardo”, que em inglês produz um trocadilho com o termo usado para definir arroz integral.
Se os homens teriam seus saberes tradicionais quase excluídos do sistema de produção colonial, teria cabido às mulheres a tarefa de manter e transmitir conjuntos de práticas e saberes ligados aos hábitos de vida e costumes alimentares originários das terras costeiras da Alta Guiné, permitindo a manutenção de fortes laços entre as populações escravizadas na Amazônia e o pan-regionalismo das sociedades étnicas de Cacheu e Bissau.
Finalmente, em seus últimos capítulos, Hawthorne se volta para a discussão do cotidiano do escravo na sociedade maranhense, marcado por crenças e práticas espirituais originárias da Alta Guiné. Aqui o autor se dedica a traçar as continuidades e permanências de práticas, ritos e crenças que permitem o rastreamento das íntimas conexões existentes entre a Alta Guiné e a Amazônia, de ontem e de hoje. Embora, sem dúvida, ele aí apresente instigantes dados e análises, essa é a parte menos aprofundada do livro. Resumida em capítulos curtos e carecendo de um maior diálogo com a história social da escravidão na Amazônia e em outras regiões do Brasil, essa parte do livro contrasta com a riqueza encontrada nas outras, embora ofereça dados raramente encontrados em estudos nacionais sobre a região.
Em suma, o livro como um todo apresenta ampla e aprofundada análise de aspectos cruciais da montagem, desenvolvimento e declínio do sistema de escravidão africana na Amazônia e de suas conexões com povos, práticas e ritos de povos variados, mas sobretudo costeiros, da Alta Guiné. Por isso, From Africa to Brazil é um livro que merece ser lido por todos os interessados na história da África, do tráfico transatlântico, do sistema escravista e dos povos da Amazônia. Um livro que devia também ser traduzido para divulgar a história da escravidão numa região em que ela é ainda pouco desenvolvida.
Maria Helena P. T. Machado – Departamento de História, Universidade de São Paulo. E-mail: [email protected].
[IF]
Helikon | PUC-PR | 2014-2016
A Revista de História Helikon (Curitiba, 2014-2016) é uma publicação semestral da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), publicada pela primeira vez em 2014, com o objetivo de constituir-se como um meio de debate e divulgação de temas relativos à História com concentração na área História, Cultura e Relações de Poder e nas linhas de pesquisa Corpo, Alteridade e Identidade; e Política, Instituições e Subjetividade. Tem ainda como objetivo dialogar com pesquisadores nacionais e internacionais sobre as mais recentes pesquisas na área de História.
A revista é complementada por artigos acadêmicos originais e dossiês sobre assuntos de interesse e relevância para a área, com circulação nacional e internacional, o periódico adota o processo de revisão (double blind peer review) entre os membros do Conselho Científico em sistema duplo de revisão anônima, ou seja, tanto os nomes dos pareceristas quanto dos autores permanecerão em sigilo.
A missão da Revista é ser referência na comunidade científica sobre a temática História, Cultura e Relações de Poder e nas linhas de pesquisa Corpo, Alteridade e Identidade bem como Política, Instituições e Subjetividade, socializando a informação com qualidade e buscando contribuir para as discussões na área de História.
O objetivo da Revista é publicar trabalhos originais e inéditos que promovam a difusão de estudos, pesquisas e documentos relativos à área de História, com ênfase em Cultura e Relações de Poder.
Revista de História Helikon deseja se consolidar como referência para a área de História, Cultura e Relações de Poder.
Os temas abordados pela Revista de História Helikon estão vinculados à área História, Cultura e Relações de Poder e nas linhas de pesquisa Corpo, Alteridade e Identidade; e Política, Instituições e Subjetividade.
Acesso livre
Periodicidade semestral
ISSN 2357 9366
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos [Link quebrado desde 2022. https://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/helikon?dd99=actual]
São Paulo: Novos recursos e atores – Sociedade, cultura e política – KOWARICK; MARQUES (NE-C)
KOWARICK, Lúcio; MARQUES, Eduardo (Orgs.). São Paulo: Novos recursos e atores – Sociedade, cultura e política. São Paulo: Editora 34/Centro de Estudos da Metrópole, 2011. Resenha de: Goulart, Jefferson. Novos percursos e atores em São Paulo: indicativos para uma agenda de pesquisa. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n.97, Nov, 2013.
É conhecido o enigma da esfinge: decifra-me ou te devoro. A ideia fundamental consiste em que o ignorado é capaz de nos tragar precisamente pela dificuldade de compreendê-lo. Provavelmente a mais radical efetivação do enunciado tenha se materializado por ocasião da ruptura com o Ancien Régime e na invenção da modernidade, quando Saturno revelou sua fúria e devorou os próprios filhos – os rebentos da revolução. A pergunta indigesta permanece: mesmo em um novo mundo pautado pela razão, estaríamos condenados à ignorância?
Particularmente no que respeita aos estudos urbanos, nossa trajetória intelectual é valiosíssima. As pesquisas de diferentes áreas do conhecimento e mesmo aquelas de abordagem interdisciplinar produziram um extenso mosaico sobre a realidade urbana brasileira, notadamente das grandes cidades. Não por acaso, a obra organizada por Kowarick e Marques se inicia no olhar panorâmico e retrospectivo sobre essa produção.
O legado desse conhecimento influenciou gerações de estudos, demarcando a indissociável relação entre segregação socioespacial e dinâmica capitalista, ou seja, o urbano tratado como objeto privilegiado de reprodução do capital sob o impulso do Estado mediante a existência de um exército industrial de reserva. Pobreza e desigualdade tematizaram a literatura correspondente para depois se fragmentarem teórica e metodologicamente.1
Mesmo assumindo-a como uma escolha arbitrária, a síntese dessa tradição de pesquisa pode ser identificada no achado seminal de que a percepção de caos e a aparente ausência de ordem tinham, sim, uma lógica: a da espoliação urbana.2 Mais ainda: a acumulação foi operada por meio de mecanismos de dilapidação da força de trabalho (e nas formas perversas de sua reprodução), da primazia do capital financeiro-imobiliário que se manifestou em grandes ações das incorporadoras e da interrupção de direitos de cidadania mediante uma ação estatal autoritária. Enfim, uma urbanização anômica3 que se traduziu em uma desordem ordenada.
A multiplicidade de influências teóricas e de escolhas metodológicas dessa rica tradição – dentre as quais se destaca o prestígio da matriz estruturalista da sociologia marxista francesa – ensejou um consenso genérico sobre o processo de urbanização em geral e particularmente sobre sua maior cidade: “cidade multifacetada, plena de contrastes, conjugando dinamismo, coração econômico do país marcado por vastas extensões de pobreza”.4 São Paulo é isso e muito mais.
São Paulo: novos percursos e atores se debruça precisamente sobre esse “muito mais”, e oferece um largo panorama das mudanças recentes, das permanências e das rupturas que fizeram dessa megalópole um lugar paradoxal que provoca amor e ódio, e cujo magnetismo já não é mais o mesmo a ponto de atrair e fascinar os incautos. Assim desmistificam-se as previsões demográficas do século XX5, constatação inseparável da tendência à sobreposição de funções de estruturas econômicas industriais e terciárias.6 Mais ainda: as desigualdades do mercado de trabalho têm determinações anteriores ao acesso à ocupação, relacionadas aos atributos desses candidatos ao emprego e aos contextos nos quais estão inseridos.7
A chave do enigma foi anunciada no título da obra, na adoção de um adjetivo temporal no plural: novos. É em torno dessa escolha (menos semântica e mais conceitual e analítica) e de sua subjacente aspiração ao postulado de que, com efeito, emergiram novos personagens e engrenagens, que o livro deve ser compreendido. E a referência cronológica não deve ser ignorada: embora nem todos os autores a adotem como recorte específico, as últimas quadro décadas alteraram substantivamente as configurações socioeconômica e político-institucional da cidade. Dessa perspectiva, organizadores e autores não só são convincentes como remetem a problemas cuja complexidade ainda precisa ser analisada contínua e detidamente.
Nesses termos, São Paulo: novos percursos e atores ingressa na galeria das leituras obrigatórias sobre o urbano porque sintetiza uma guinada sutil nos estudos sobre a grande megalópole. E as razões dessa distinção são diversas.
Primeiro, naturalmente, porque é convincente na pretensão de demonstrar a originalidade de alguns desses novos atores e percursos. Vista de um ângulo genérico ou aparente , evidente que São Paulo permanece segregadora, desigual e paradoxal: opulência e riqueza de um lado, vulnerabilidade e miséria de outro. Mas o tempo e os subterrâneos da cidade abrigaram mudanças importantes de quantidade e qualidade que a tornaram efetivamente diferente sob vários aspectos, a ponto de a oposição centro-periferia não ser mais suficiente como modelo explicativo das desigualdades urbanas.
Alguns exemplos simbolizam bem essas mudanças. O primeiro deles reside no plano da identidade cultural e particularmente na emergência do rap como expressão periférica de ressignificação da vida pública fundada em uma “ordem moralista, onde não existe lugar para diferença”.8 Outro é a dificuldade de discernir linhas divisórias precisas entre o “correto” e o “ilegal, o informal e o ilícito”, afinal essas dimensões (como o negócio do comércio de drogas) são socialmente legitimadas, assim como “nesses pontos de fricção que homens e mulheres negociam a vida e os sentidos da vida. No fio da navalha. O fato é que os indivíduos e suas famílias transitam nessas tênues fronteiras do legal e do ilegal…”.9
Além da presença de novos atores (caso emblemático do pcc), “o mapa da violência em São Paulo revela o confinamento da violência letal nas periferias: as franjas da cidade concentram o maior numero de homicídios”.10
Antes cidade de portugueses, italianos, espanhóis, orientais, sírio-libaneses, ex-escravos e judeus que imprimiram suas marcas a bairros, costumes e à materialidade da urbe, a São Paulo contemporânea acolhe novos estrangeiros, cujo ingresso é útil para também compreender processos complementares como a produção de serviços urbanos, as relações capital-trabalho ou as interações culturais.11
Cidade de favelização tardia comparativamente ao Rio de Janeiro, São Paulo vem registrando uma expansão desse tipo de habitação precária que sintetiza um fenômeno indissociável de sua dinâmica econômica, com destaque para a precarização do trabalho como sintoma de um estado de vulnerabilidade social mais amplo. Essa trajetória, contudo, não é linear. Tal heterogeneidade autoriza a formulação de uma “tipologia das favelas”, cuja “análise comparativa permite sustentar a existência de uma razoável variabilidade entre núcleos favelados da cidade”.12 Ainda mais surpreendente (e perturbador) é que “em termos relativos, as favelas não apenas melhoraram, como se aproximaram da situação de outros moradores da cidade, sugerindo um processo de convergência, incompleto e talvez excessivamente lento, mas mesmo assim existente entre os indicadores médios de favelados e não favelados”.13
Outros exemplos se situam no plano das relações políticas. De um lado, há que se reconhecer o processo de institucionalização da participação, mas essa trajetória não prescindiu da permanência dos movimentos sociais. Pelo contrário, estes ainda são vigorosos, sobretudo, nas temáticas mais sensíveis das políticas públicas, caso notável da centralidade da habitação.14 Claro que as práticas de clientela não desapareceram, mas os atores também não são apenas os tradicionais, aos quais se juntaram as articuladoras do associativismo, “novo tipo de ator criado na última década [que] ganhou centralidade e posicionou-se ao lado dos movimentos pela sua capacidade de agregação de demandas e de coordenação da atuação de outros atores”.15
Nessa senda, a violência organizada não se confunde com os movimentos sociais, mas não deixa de exprimir um novo e importante protagonista na cena urbana. Se em tempos não tão remotos a ascensão socioeconômica transcorria por meio das teias de integração social do trabalho, agora o cenário é bem diferente, pois “abriu-se espaço para que o ‘mundo do crime’ disputasse legitimidade com toda essa série de instituições e atores tradicionalmente legítimos nas periferias da cidade”.16 Tais mudanças foram percebidas inclusive pelo cinema, que as retratou de maneira ora caricata, ora mais realista, através de registros que às vezes selam o abismo entre distintos universos sociais e a impossibilidade de convívio entre esses mundos diferentes ou que exaltam marcas identitárias da periferia.17
No plano estritamente político, a análise de Limongi e Mesquita18 demonstra a polarização entre direita e esquerda no comportamento do eleitorado paulistano desde o restabelecimento das eleições diretas para prefeito da capital, em 1985. Os autores observam a estabilidade do eleitorado e enfatizam que as disputas têm nos eleitores de educação média (no quesito socioeconômico) e de centro (no quesito ideológico) seu núcleo decisivo. Se tais postulados estiverem corretos – e há fortes razões para aceitá-los -, os resultados de 2012 marcam uma importante guinada rumo à esquerda, cuja inclinação do centro ainda está por ser analisada.
Mas há pelo menos duas omissões importantes nas abordagens políticas do livro. A primeira diz respeito não às estratégias eleitorais e ao comportamento (relativamente flutuante) do eleitorado, mas ao desempenho desses diferentes governos de direita e de esquerda, ou seja, como estes têm se comportado na gestão de políticas públicas e quais teriam sido as razões para as oscilações do eleitorado centrista.
Outra ausência é a escassez de análises de gestão urbana, isto é, as políticas públicas e os instrumentos através dos quais os diferentes governos municipais têm enfrentado a agenda urbana: a gestão do território, a aplicação da função social da propriedade, o tratamento das agudas questões da mobilidade urbana e da habitação social (dentre outras), enfim uma avaliação político-institucional do modelo de produção do espaço urbano. Nesse sentido, um balanço – mesmo que preliminar – sobre a aplicação do Estatuto da Cidade seria indispensável, afinal, trata-se de bandeira histórica do movimento pela reforma urbana que vigora desde 2001, regulamentou o capítulo da Política Urbana da Constituição cidadã e que tem suas marcas institucionais no Plano Diretor Estratégico de São Paulo.
A segunda razão do caráter original do livro diz respeito à sua pluralidade teórica e metodológica, mérito que corrobora a correção de abordagens interdisciplinares e multidisciplinares sobre um mesmo objeto.
Definitivamente não há hierarquia entre escolhas de ferramentas sociológicas, urbanísticas, etnográficas, demográficas, políticas, comunicacionais e quaisquer outras. Pelo contrário, seus usos simultâneos produzem modelos explicativos mais sólidos e análises mais críveis. Essa diversidade de olhares revela descobertas e resultados complementares. Tal virtude contrasta com a tendência tão em voga de fragmentação excessiva do conhecimento, inclinação absorvida pelas instituições científicas e respectivas agências cujo maior risco é o confinamento do saber. São Paulo: novos percursos e atores ousa ir contra a maré, e o faz de forma persuasiva.
A terceira virtude da obra é que, mesmo não tendo a pretensão de ser conclusiva, remete a uma agenda de pesquisa que, embora já se manifestasse de forma mais ou menos difusa, ainda não fora objeto de um esforço de sistematização.
Em boa medida, essa agenda está anunciada nos temas e nas abordagens dos autores – e até poderíamos aceitar o agrupamento apresentado pelos organizadores: “viver e habitar na cidade”; “trabalho e produção”; “política e representação”; e “sociabilidade, cotidiano e violência” -, mas a proposta ainda se revela incompleta. E este é um ponto delicado, pois também envolve escolhas éticas e alguns tabus no universo acadêmico.
Um exemplo provocativo: conhecemos razoavelmente a precariedade da infraestrutura urbana das periferias, das favelas e dos cortiços, estudamos as diferentes expressões da violência e suas determinações e impactos ou ainda sabemos dimensionar minimamente os efeitos da informalidade nas relações de trabalho, todas essas dimensões relativas aos pobres e miseráveis, mas são escassos os estudos sobre os “de cima” da pirâmide social, como se sua posição socioeconômica privilegiada fosse justificativa moral para ignorá-los.
Essa lacuna é reconhecida pelos próprios organizadores quando advertem que [o livro] “não analisa centralmente um outro lado da cidade, que envolve parcela significativa da riqueza nacional”.19
A propensão a dar as costas a esses atores gera prejuízos cognitivos à medida que desconhecemos como vivem, como se organizam e como atuam tais personagens. Ou seja, como suas escolhas (e percursos) interferem na dinâmica urbana. Claro que a “desumanidade da Cracolândia”20, por exemplo, é um grande tema de pesquisa, porém, é inegável que a solução dessa chaga – em suas múltiplas dimensões: da marginalização social per se, da generalização do consumo de drogas, da saúde pública ou da violência – implica conhecer o “outro lado”, qual seja, a banda dos concertos da Sala São Paulo e os interesses imobiliários que operam no Projeto Nova Luz (e que são característicos de quaisquer processos de gentrification). Ou ainda: que o conhecimento sobre a expansão da favelização é inseparável da ação dos interesses do capital imobiliário e da conduta empresarial nas relações trabalhistas. Assim sucessivamente poderiam ser invocados exemplos ad nauseam. Fato é que ainda conhecemos pouco os “de cima”, e como estes efetivamente interferem na cena urbana e nas decisões públicas.
Em seu primeiro pronunciamento após vencer as eleições de 2012, o novo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, declarou que a cidade foi inventada para proteger e promover a integração social, e que era seu compromisso resgatar tais ideais. Bom presságio, em que pese o sabido abismo que separa o discurso normativo da realidade. O enigma da esfinge permanece nos desafiando: ou compreendemos São Paulo ou ela nos devora. Nesses termos, seria mais do que oportuno – na verdade um imperativo – absorver a advertência de J. Jacobs de que cidades vivas têm em suas próprias crises os germes da regeneração.21 O próximo período poderá responder se esse otimismo contido é justificável.
Novos personagens e seus respectivos caminhos foram enunciados em 16 textos por 26 autores – baliza paradigmática na agenda de pesquisa sobre o urbano em geral e São Paulo em particular -, restando agora continuar a decifrá-los. Este é, simultaneamente, o mérito e o desafio de São Paulo: novos percursos e atores.
Notas
1 MOYA, Maria Encarnación. “Os estudos sobre a cidade: quarenta anos de mudança nos olhares sobre a cidade e o social”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (Orgs.). São Paulo: novos percursos e atores – sociedade, cultura e política. São Paulo: Editora 34/Centro de Estudos da Metrópole, 2011, pp. 25-50. [ Links ]
2 A esse respeito, ver: KOWARICK, Lúcio. A espoliação urbana. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. [ Links ]
3 KOWARICk e MARQUES (orgs.), op. cit., p. 15.
4 Ibidem, p. 9.
5 BAENINGER, Rosana. “Crescimento da população na Região Metropolitana de São Paulo: descontruindo mitos do século XX”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., pp. 53-78. [ Links ]
6 COMIN, Alvaro. “Cidades-regiões ou hiperconcentração do desenvolvimento? O debate visto do Sul”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., pp.157-177. [ Links ]
7 GUIMARÃES, Nadya; BRITO, Murillo de; SILVA, Paulo Henrique da. “Os mecanismos de acesso (desigual) ao trabalho em perspectiva comparada”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., pp. 179-204. [ Links ]
8 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. “O rap e a cidade: reconfigurando a desigualdade em São Paulo”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., p. 318. [ Links ]
9 TELLES, Vera da Silva; Hirata, Daniel. “Cidade e práticas urbanas: nas fronteiras incertas entre o ilegal, o informal e o ilícito”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., p. 391. [ Links ]
10 MIRAGLIA, Paula. “Homicídios: guias para a interpretação da violência na cidade”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., p. 334. [ Links ]
11 LEME, Maria Cristina da Silva; Feldman, Sarah. “A presença estrangeira: processos urbanos e escalas de atuação”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., pp. 131-154. [ Links ]
12 SARAIVA, Camila; Marques, Eduardo. “Favelas e periferias nos anos 2000”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., p. 119.
13 Ibidem, pp. 126-7.
14 TATAGIBA, Luciana. “Relação entre movimentos sociais e instituições políticas na cidade de São Paulo: o caso do movimento de moradia”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., pp. 233-252. [ Links ]
15 LAVALLE, Adrian Gurza; CASTELLO, Graziela; BICHIR, Renata. “Movimentos sociais e articuladoras no associativismo do século XXI”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., p. 260. [ Links ]
16 FELTRAN, Gabriel. “Transformações sociais e políticas nas periferias de São Paulo”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., p. 361. [ Links ]
17 HAMBURGUER, Esther; STÜCKER, Ananda; CARVALHO, Laura; Ramos, MIGUEL. “Cinema contemporâneo e políticas de representação da e na urbe paulistana”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., pp. 279-299. [ Links ]
18 LIMONGI, Fernando; Mesquita, Lara. “Estratégia partidária e clivagens eleitorais: as eleições municipais pós-redemocratização”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., pp. 207-232. [ Links ]
19 KOWARICK e MARQUES, op. cit., p. 16.
20 KOWARICK, Lúcio. “O centro e seus cortiços: dinâmicas socioeconômicas, pobreza e política”. In: KOWARICK, Lúcio e MARQUES, Eduardo (orgs.), op. cit., p.88. [ Links ]
21 JACOBS, Jane. Morte e Vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000. [ Links ]
Jefferson O Goulart – Professor do Departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e pesquisador do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec).
Ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura – FURTADO (NE-C)
FURTADO, Celso. Ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. Resenha de: KORNIS, George. A cultura no pensamento (e na ação) de Celso Furtado: desenvolvimento, criatividade, tradição e inovação. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n.96, Jul, .2013.
Ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura, organizado por Rosa Freire d’Aguiar Furtado, é o quinto volume da série Arquivos Celso Furtado e contém muitas informações sobre o pensamento de Celso Furtado (1920-2004), um intelectual que teve a ousadia de ultrapassar os limites disciplinares em favor da construção de uma dicção autoral. Furtado foi um homem de pensamento e ação que circulou por distintos territórios, da vida universitária a órgãos de governo, além de transitar por organismos internacionais e nacionais. Essa publicação, que reúne um conjunto bastante diversificado e pouco conhecido de textos (documentos, artigos e entrevistas), apresenta o autor como intelectual, homem público e um brasileiro de projeção internacional.
O foco do livro é (in)formar os leitores sobre o pensamento de Celso Furtado no campo da cultura — campo sobre o qual ele se debruçou ao longo de várias décadas. No entanto, essa reflexão ainda não é percebida, sobretudo no meio acadêmico, como um vetor importante de sua obra.
O pensamento desse intelectual tem hoje uma presença ainda limitada na universidade brasileira. De modo geral, restringe-se às (boas) faculdades de economia, que, do amplo espectro da obra do autor, utilizam pouco além do clássico Formação econômica do Brasil, publicado originalmente em 1959. Assim, para ter uma maior presença na universidade brasileira, o pensamento de Furtado — que está ainda muito circunscrito ao campo da história econômica e do desenvolvimento econômico — depende diretamente da percepção do seu caráter multidisciplinar.
Na introdução do livro aqui resenhado, Rosa Freire d’Aguiar Furtado delimita os quatro momentos da extensa reflexão de Furtado no campo da cultura. O primeiro deles data dos anos 1970 e sua obra síntese é o livro Criatividade e dependência na civilização industrial, publicado originalmente em 1978. O segundo momento situa-se no período compreendido entre 1986 e 1988, quando Furtado foi ministro da Cultura no governo Sarney. O terceiro diz respeito ao período compreendido entre os anos de 1992 e 1995, quando a Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento (CMCD) da onu/Unesco reuniu, além de Furtado, um conjunto de intelectuais do porte de Amartya Sen (Prêmio Nobel de Economia/1998) e Elie Wiesel (Prêmio Nobel da Paz/1986). O quarto e último momento se dá em 1997, quando Furtado ingressa na Academia Brasileira de Letras, instituição na qual profere um conjunto de conferências cujos textos integram a coletânea em análise.
O bloco “Documentos de Celso Furtado” é, sem dúvida, a parte mais consistente da publicação. Ele contém 23 textos subdivididos em quatro tópicos intitulados “Primeiras reflexões”, “O Ministério da Cultura”, “A Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento” e “Páginas acadêmicas”. Esse conjunto central é sucedido por dois outros blocos que lhe são complementares. O primeiro, intitulado “Artigos”, consiste em dois textos de autoria de dois importantes dirigentes culturais durante a gestão de Furtado do Ministério da Cultura (MinC): Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, chefe de gabinete do MinC, e Fábio Magalhães, secretário de Apoio à Produção Cultural do MinC e presidente da Funarte. Ambos são textos de caráter documental que podem legitimamente ser considerados complementares aos textos do tópico específico “O Ministério da Cultura”.
O bloco seguinte é composto de duas entrevistas com Celso Furtado: a primeira, realizada em 1987, foi conduzida por duas pesquisadoras francesas — Hélène Rivière d’Arc e Hélène Le Doaré — do Comité National de la Recherche Scientifique (CNRS) e do Centre de Recherche et Documentation sur L’Amérique Latine (CREDAL/Paris); a segunda, realizada no ano anterior, coube a Gabriela Marinho e foi publicada na revista Arquitetura e Urbanismo. Na primeira entrevista Celso Furtado retomou elementos centrais de seu pensamento tais como as categorias de desenvolvimento, de criatividade, de cultura (em especial de política cultural e de economia da cultura) e de identidade cultural e, nessa perspectiva, ela é ainda hoje um documento importante.
O bloco “Documentos de Celso Furtado” inicia-se com o tópico “Primeiras reflexões”, que reúne dois textos: o interessante “Que somos?” — no qual o autor aborda os temas da identidade e da cultura brasileira e ainda tangencia Schumpeter ao relacionar crise a criatividade — e o vigoroso “Criatividade cultural e desenvolvimento dependente” — um trabalho exploratório que, segundo a organizadora, é a “primeira versão de um dos ensaios de Criatividade e dependência na civilização industrial“, livro-chave da obra de Furtado.
O primeiro texto é a conferência proferida no I Encontro Nacional de Política Cultural, ocorrido em Belo Horizonte em abril de 1984. Nesse momento, o Brasil estava próximo de operar a passagem da mais longa ditadura militar da história do país (1964-1985) para uma restauração da ordem democrática sem a presença de eleições diretas para a presidência da República. A dificuldade dessa transição política ampliava-se no quadro de uma desaceleração do crescimento econômico em paralelo a uma intensificação inédita do processo inflacionário. Nesse contexto os secretários estaduais de Cultura, somados a vários dirigentes de instituições culturais das três esferas de governo e a um grande número de artistas e intelectuais, acreditavam que a criação do Ministério da Cultura — em substituição a uma Secretaria de Cultura vinculada ao Ministério da Educação e Cultura — seria um importante vetor da reconstrução democrática do país. Nessa perspectiva destaca-se a relevância da afirmação de Celso Furtado — proferida por um intelectual nacional-desenvolvimentista e ex-ministro do governo Goulart, deposto pelo golpe militar de 1964 — segundo a qual “uma reflexão sobre a nossa própria identidade terá de ser o ponto de partida do processo de reconstrução que temos pela frente, se desejamos que o desenvolvimento futuro se alimente da criatividade do nosso povo e contribua para a satisfação dos anseios mais legítimos desse”. O mesmo texto trouxe uma contribuição igualmente importante ao apresentar sete teses sobre a cultura brasileira, que consistem, na verdade, numa visão panorâmica e histórica do processo cultural brasileiro do século XVI até o final do século XX, quando a indústria da cultura passava a atuar como instrumento da modernização dependente do país. E não menos importante é a referência, ao final, de breve e precisa reflexão sobre política cultural, cujo centro é a afirmação de que “o objetivo central de uma política cultural deveria ser a liberação das forças criativas da sociedade”, as quais deveriam interagir com as forças produtivas. Furtado apontava assim para a necessária interação entre cultura enquanto sistema de valores (que definem os fins) e o desenvolvimento das forças produtivas (que definem os meios), ou, noutros termos, a necessária interação entre identidade (cultural) e potência (produtiva).
O segundo artigo, datado da segunda metade dos anos 1970, como foi dito, é uma versão preliminar de um ensaio que integra o livro Criatividade e dependência na civilização industrial, no qual Furtado demonstra sua singularidade como economista, ao introduzir, de modo inovador, a dimensão cultural na questão do desenvolvimento. Segundo Rosa Freire d’Aguiar Furtado, o desenvolvimento, para esse autor, “seria menos o resultado da acumulação material do que um processo de invenção de valores, comportamentos, estilos de vida, em suma, de criatividade”.
O tópico subsequente, “O Ministério da Cultura”, apresenta nove textos escritos entre fevereiro de 1986 e julho de 1988, período no qual Celso Furtado foi o titular da pasta da Cultura, sucedendo a José Aparecido de Oliveira — o primeiro ministro da Cultura, que permaneceu no cargo somente por dois meses, em 1985 — e a Aluísio Pimenta — que passou apenas pouco mais de oito meses no exercício da função. Sua permanência à frente do ministério, com duração de dois anos e cinco meses, foi das mais longevas da história dessa pasta, tendo sido superada apenas por Francisco Weffort (1995-2002) e Gilberto Gil (2003-2008). A alta rotatividade dos titulares de um Ministério da Cultura recém-criado é um dado contextual que não pode ser desconsiderado quando da leitura dos textos de Furtado, escritos quase sempre com brevidade e urgência para expressar seu pensamento e ação.
Um desses textos foi seu discurso de posse. Afirmava naquele momento que o desafio não era apenas preservar o passado, mas transformá-lo em fonte de criatividade no presente e no futuro. O então ministro se apresentava como consciente de que “a revolução nas tecnologias de comunicação está modificando profundamente a problemática da cultura” e que ela conduz à massificação e à hipertrofia do mercado. Assim, para ele e seus colaboradores, “a política cultural, em face da revolução das tecnologias de comunicação, terá de preocupar-se não apenas em democratizar o acesso aos bens culturais, mas também em defender a criatividade”.
No texto “Economia da cultura”, Furtado tratou brevemente de um tema tão importante quanto até hoje relativamente pouco elaborado no Brasil, apesar de objeto de reflexão de importantes economistas norte-americanos e europeus desde os anos 1960. Furtado, na década de 1980, estava consciente desse atraso bem como da necessidade de sua superação. Nesse sentido, é importante destacar que seu texto é uma breve introdução ao estudo “Economia e cultura: reflexões sobre as indústrias culturais no Brasil”, realizado pela Fundação João Pinheiro, em 1988. A despeito de todos os seus limites, “Economia da cultura” e o estudo acima citado foram iniciativas pioneiras na abordagem do processo de produção, distribuição e consumo de bens e serviços culturais no país.
Os vínculos existentes entre desenvolvimento econômico e social e política cultural são apontados no texto “Pressupostos da política cultural”. Aqui o pensamento de Furtado revela-se com clareza ao afirmar que “o que chamamos de política cultural não é senão um desdobramento e um aprofundamento da política social”. Demonstra aqui a preocupação em articular as políticas econômica (cuja tônica é a acumulação), social (cujo foco é a inserção) e cultural (cujo essencial é a criatividade e a consequente transformação), ou seja, estabelece os elos entre os meios e os fins do processo de desenvolvimento. Ao privilegiar as articulações políticas e institucionais, seu pensamento também destaca a ação do Estado que “longe de se substituir à sociedade aplica-se em criar as condições que propiciem a plenitude das iniciativas surgidas dessa sociedade […] concentrando esforços [na] preservação do patrimônio e da memória culturais, [no] estímulo à criatividade de nosso povo, [na] defesa da identidade cultural do país e [na] democratização do acesso aos valores culturais”.
Em outro texto intitulado “O IPC, cultura e desenvolvimento tecnológico”, Furtado revelava sua preocupação com a estruturação do próprio ministério. Trata-se de discurso proferido em 1986, na abertura de seminário interno do Instituto de Promoção Cultural, órgão criado com a missão de desenvolver um pensamento no campo da economia da cultura e com função estratégica durante sua gestão. Faz-se aqui presente o estrategista político, que centra seu pensamento de curto e longo prazo no Estado e na cultura enquanto um processo produtivo. Como expressão de um pensamento atento para o desenvolvimento tecnológico — e Furtado chega a mencionar a necessária articulação política com o Ministério da Ciência e Tecnologia —, o mercado e a indústria cultural assumem centralidade.
Um balanço das realizações da gestão Furtado à frente do ministério até fins de 1987 encontra-se no texto “A ação do Ministério da Cultura”. Estão ali apresentadas as quatro diretrizes que nortearam sua gestão: a preservação e o desenvolvimento do patrimônio cultural; o estímulo à produção cultural preservando a criatividade; o apoio à atividade cultural onde ela se apresenta como ruptura com respeito às correntes dominantes; e, finalmente, o estímulo à difusão e ao intercâmbio culturais visando democratizar o acesso ao nosso patrimônio e aos bens culturais no país e no exterior. Furtado expõe ainda as realizações de sua pasta, segundo cada uma dessas diretrizes, além das opções feitas por sua gestão. Destaca os programas constituídos por setor de atividade; os compromissos socioculturais são mencionados de modo sistemático; demonstra o empenho em redesenhar instituições com ênfase nas fundações e, finalmente, a Lei Sarney (Lei 7.505, de 2 de julho de 1986) é apresentada grandiosamente como “a grande contribuição prestada pelo atual governo ao desenvolvimento cultural do país”. Dedica-se especialmente a esse tema, ao destacar o pioneirismo da criação de uma legislação de incentivos fiscais à cultura, por acreditar que, a partir desse momento, a sociedade civil e, em particular, os empreendedores brasileiros assumiriam iniciativas no campo da produção cultural tendo em vista as limitações de recursos do Estado. Caberia ao Estado gerir tanto o cadastro das entidades às quais é conferido o incentivo, quanto o Fundo de Promoção Cultural. O foco dessa estratégia era “o fortalecimento das atividades empresariais de interesse cultural de origem e controle nacionais”. Ao supor adesões, Furtado possivelmente minimizou a oposição que conduziria à substituição da referida lei, já no governo Fernando Collor, pela Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, conhecida como Lei Rouanet.
No texto intitulado “Política cultural e criatividade”, fruto de pronunciamento na abertura do Fórum de Secretários de Cultura, realizado em abril de 1987, no qual reiterou a importância da preservação da força criativa do povo brasileiro como fator de identidade cultural, Furtado buscou — talvez com alguma ingenuidade — adesões das Secretarias de Cultura à Lei Sarney, “que tem sido interpretada apenas como um mecenato tradicional embora sua essência seja um convite para que a sociedade participe mais amplamente das iniciativas culturais”. No entanto, passado menos de um ano de existência da Lei Sarney, Furtado já identificava de modo arguto “um forte declínio na participação dos recursos destinados à cultura nos orçamentos de muitos estados da federação”.
Uma reflexão mais apurada é apresentada em “Política cultural e o Estado”, texto datado de fins de 1986, no qual Furtado articula a preservação do patrimônio com inovação e a identidade com democratização do acesso aos valores culturais. Com clareza, há ali uma síntese de seu pensamento: os papéis do Estado e da sociedade civil estão definidos, e temas tais como a descentralização e o desenvolvimento foram devidamente abordados. Trata-se de um documento que foge ao padrão dos discursos comemorativos e dos balanços de gestão para afirmar-se como um arcabouço de um projeto para o desenvolvimento fundado na cultura.
O terceiro tópico do bloco “Documentos de Celso Furtado”, denominado “A Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento”, compõe-se de dois textos que ajudam na compreensão de seu pensamento no campo da cultura, além de serem bastante consistentes e politicamente relevantes. O primeiro deles, datado de 1994, intitula-se “Economia e cultura” e foi preparado para o projeto preliminar do relatório da CMCD. Trata-se de um texto no qual o pensamento de Celso Furtado é apresentado a partir das seguintes proposições: “a cultura tem que ser observada a um só tempo como processo cumulativo e como sistema”; “se o objetivo fundamental da política de desenvolvimento é melhorar a vida dos homens e das mulheres, seu ponto de partida terá de ser a percepção dos fins, dos objetivos que se propõem alcançar os indivíduos e as coletividades”; “nas sociedades economicamente dependentes a política cultural se faz particularmente necessária [pois] é nela que se manifesta a importância do conceito de identidade cultural que traduz a ideia de manter com o nosso passado uma relação capaz de enriquecer o nosso presente”. O segundo texto, intitulado “Cultura e desenvolvimento” (1995), parte da necessidade de aprofundar as análises e discussões centradas na relação entre cultura e desenvolvimento, avança pela proposição de direitos culturais no desenvolvimento dos direitos humanos e, ao concluir, destaca a importância de princípios éticos e democráticos no curso desse processo.
Já o último tópico desse mesmo bloco, intitulado “Páginas acadêmicas”, apresenta um conjunto de dez pequenos textos sobre autores brasileiros que, no entanto, não expressam um vínculo maior com a obra de Furtado nem com as ideias contidas no seu projeto de desenvolvimento centrado na cultura. Uma exceção é o texto de seu discurso de posse, em 1997, na Academia Brasileira de Letras, no qual ele homenageia Darci Ribeiro, homem de pensamento e ação que, como ele próprio, tanto marcou o país. Ambos pertenceram à mesma geração de intelectuais brasileiros, e tiveram em comum o desejo de transformar o país com base em um projeto nacional de desenvolvimento autônomo. Com suas singularidades, Celso Furtado e Darci Ribeiro ocuparam a mesma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e suas obras, através do ensino e da pesquisa, podem alimentar novos processos de transformação fundados em projetos de desenvolvimento nacionais e autônomos.
Longe de ser uma compilação voltada para o passado, o livro Ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura é uma fonte contemporânea para reflexão e debate sobre cultura e desenvolvimento. Ademais, ele torna evidente a diversidade e a originalidade do pensamento de Furtado e seu compromisso com uma ação orientada para a mudança social.
George Kornis – Doutor em Economia, professor associado do ims/Uerj e autor de diversos trabalhos e pesquisas no campo da economia da cultura.
Linguagem, cultura e conhecimento histórico: ideias, movimentos, obras e autores | Diogo Roiz da Silva
Diogo da Silva Roiz é mestre em História pela Unesp de Franca- SP e Doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e tem se dedicado à produção de textos na área de Teoria da História e Historiografia, autor de diversos artigos e livros na área. Na obra intitulada “Linguagem, cultura e conhecimento histórico: ideias, movimentos, obras e autores”, Diogo Roiz nos apresenta seis capítulos, divididos em duas partes. Na primeira delas, intitulada “História e Literatura”, destaca os debates teóricos em torno de tal questão, sobretudo no que tange ao período pós-1960, posteriormente à denominada “virada linguística”, mostrando como os historiadores procuraram responder às críticas efetuadas pelas obras de Friedrich Nietzsche, Hayden White, entre outros. Na segunda parte da obra, “Literatura e História”, Roiz exibe algumas possibilidades de empreender um estudo utilizando fontes literárias, mostrando o quanto elas podem ser prósperas para a pesquisa histórica.
O que é instigante no trabalho é o fato de o autor fazer alguns importantes questionamentos, tais como, “De que maneira os historiadores se posicionaram, quando, a partir dos anos 1960, se tornou mais corriqueira a evidência de uma relação ambígua no campo dos estudos históricos, ao ser situado entre a ‘ciência histórica’ e a ‘arte narrativa’?”, ou então, “como as fontes literárias podem ser utilizadas na pesquisa histórica?” (ROIZ, 2012, p. 13). Leia Mais
Política, cultura e classe na Revolução Francesa | Lynn Hunt
Outros olhares acerca da Revolução Francesa [1]
A Revolução Francesa foi abordada, e ainda o é, por diversos trabalhos significativos na historiografia mundial. Lynn Hunt, entretanto, em seu livro Política, cultura e classe na Revolução Francesa nos traz uma nova maneira de abordá-la. A autora se encaixa em uma corrente historiográfica denominada como Nova História Cultural. Esta perspectiva propõe uma maneira diferente de compreendermos as relações entre os significados simbólicos e o mundo social (tanto comportamentos individuais como coletivos) a partir de suas representações, práticas e linguagens. É a partir desta perspectiva, portanto, que Hunt analisa o tema: busca compreender a cultura política da Revolução, isto é, as práticas e representações simbólicas daqueles indivíduos que levaram a uma reconstituição de novas relações sociais e políticas.
A pesquisa acerca do tema iniciou-se na década de 1970 e resultou na publicação do livro em 1984. Inicialmente, a autora buscava demonstrar a validade da interpretação marxista: a Revolução fora liderada pela burguesia capitalista, representada pelos comerciantes e manufatores. Os críticos desta abordagem, entretanto, afirmavam que tais líderes foram os advogados e altos funcionários públicos. Focando-se nestes aspectos, após um levantamento de dados feito a partir da pesquisa documental, Hunt percebeu que os locais mais industrializados, com maiores influências de comerciantes e manufatureiros, não foram, necessariamente, os mais revolucionários. Outros fatores deveriam então ser levados em consideração para explicar tal tendência revolucionária, não somente o da posição social dos revolucionários. Sendo assim, Hunt procurou evitar tal abordagem marxista, que coloca a estrutura econômica como base para as estruturas políticas e culturais. Desta maneira, a partir de uma mudança de olhar, tomou como objeto de estudo a cultura política da Revolução, que segundo a autora, propõe “uma análise dos padrões sociais e suposições culturais que moldaram a política revolucionária” (HUNT, 2007, p.11). Para ela, a cultura, a política e o social devem ser investigados em conjunto, e não um subordinado ou separado do outro.
Tais questões surgidas em sua pesquisa estão dentro de um contexto da década de 1980, quando os historiadores culturais procuravam demonstrar que a sociedade só poderia ser compreendida através de suas representações e práticas culturais. Na introdução de seu livro, a autora nos apresenta três influências principais: François Furet, que entendia a Revolução Francesa como uma luta pelo controle da linguagem e dos símbolos culturais e não somente como um conflito de classes sociais; Maurice Agulhon e Mona Ozouf, que demonstraram em seus estudos que as manifestações culturais moldaram a política revolucionária. Suas fontes foram documentos oficiais, como jornais, relatórios policiais, discursos parlamentares, declarações ficais, entre outros; contudo, a sua abordagem não poderia ignorar outras fontes como relatos biográficos, calendários, imagens, panfletos e estampas, que são produtos de manifestações e linguagens culturais da época.
Partindo de três vertentes interpretativas, a autora procura justificar a proposta de sua análise. Critica as abordagens marxista, revisionista e de Tocqueville por entenderem a Revolução centrando-se em suas origens e resultados, desconsiderando as práticas e intenções dos agentes revolucionários. Para Hunt,
A cultura política revolucionária não pode ser deduzida das estruturas sociais, dos conflitos sociais ou da identidade social dos revolucionários. As práticas políticas não foram simplesmente a expressão de interesses econômicos e sociais “subjacentes”. Por meio de sua linguagem, imagens e atividades políticas diárias, os revolucionários trabalharam para reconstituir a sociedade e as relações sociais. Procuraram conscientemente romper com o passado francês e estabelecer a base para uma nova comunidade nacional. (Ibid, p.33)
Mais do que uma luta de classes, uma mudança de poder ou uma modernização do Estado, Hunt enxerga como a principal realização da Revolução Francesa a instituição de uma nova relação do pensamento social com a ação política, uma vez que tal relação era uma problemática percebida pelos revolucionários e já posta por Rousseau no Contrato Social.
A partir de tais considerações, Hunt estruturou seu texto em dois capítulos: no primeiro, A poética do poder, a autora analisa como a ação política se manifestou simbolicamente, através de imagens e gestos; no segundo, A sociologia da política, apresenta o contexto social da Revolução e as possíveis divergências presentes nas experiências revolucionárias. Em todo o texto, a autora nos traz um debate historiográfico acerca de termos, conceitos e concepções das três perspectivas anteriormente citadas.
Hunt destaca a importância da linguagem na Revolução. A linguagem política passou a carregar significado emocional, uma vez que os revolucionários precisavam encontrar algo que substituísse o carisma simbólico do rei. A linguagem tornou-se, portanto, um instrumento de mudança política e social. Através da retórica, os revolucionários expressavam seus interesses e ideologias em nome do povo: “a linguagem do ritual e a linguagem ritualizada tinham a função de integrar a nação” (Ibid, p.46). Contudo, este instrumento deveria inovar nas palavras e atribuir diferentes significados a elas, já que se buscava romper com o passado de dominação aristocrática. Não é a toa que a denominação Ancien Régime foi inventada nesta época.
Nesta tentativa de se quebrar com um governo anterior dito tradicional foi que as imagens do radicalismo jacobino ficaram mais evidentes, afirma Hunt. O ato de representar-se através de uma ritualística foi questionado, descentralizando assim a figura do monarca e a base em que ele estava firmemente assentado: a ordem hierárquica católica. A imagem do rei sumiu do selo oficial do Estado; nele agora estava presente uma figura feminina que representava a Liberdade. Os símbolos da monarquia foram destruídos: o cetro, a coroa. Por fim, em 1793, os revolucionários eliminaram o maior símbolo da monarquia: Luís XVI foi guilhotinado.
Há outro aspecto da linguagem evidenciado pela autora: a comunicação entre os cidadãos. Influenciados por Rousseau, os revolucionários acreditavam que uma sociedade ideal era aquela na qual o indivíduo deixaria de lado os seus interesses particulares pelo geral. Entretanto, para que isto fosse possível, era necessário uma “transparência” entre os cidadãos, isto é uma livre comunicação, na qual todos pudessem deliberar publicamente sobre a política. A partir deste pensamento e da necessidade de se romper com as simbologias, rituais e linguagens do Ancien Régime, os revolucionários precisavam educar e, de certa maneira, colocar o povo em um molde republicano. Houve, portanto, uma “politização do dia-a-dia” (Ibid, p.81), no qual as práticas políticas dos revolucionários deveriam ser didáticas, com a finalidade de educar o povo. O âmbito político expandiu-se, portanto, para o cotidiano e, segundo a autora, multiplicaram-se as estratégias e formas de se exercer o poder. E o exercício deste poder demandava práticas e rituais simbólicos: a maneira de se vestir, cerimônias, festivais, debates, o uso de alegorias e, principalmente, uma reformulação dos hábitos cotidianos.
No livro Origens Culturais da Revolução Francesa, Roger Chartier busca compreender algumas práticas que contribuíram para a emergência da Revolução Francesa. Apesar do que sugere o título, o autor não está preocupado em estabelecer uma história linear e teleológica do século XVIII partindo de uma origem específica e fechada; mas em entender as dinâmicas de sociabilidade, de comunicação, de processos educacionais e de práticas de leitura que contribuíram para um universo mental, político e cultural dos franceses naquele período. Dentre os vários capítulos de sua obra, trago aqui algumas ideias principais do capítulo Será que livros fazem revoluções? para complementar a perspectiva de Hunt, visto que os dois autores bebem de uma mesma perspectiva.
Assim como Hunt, Chartier também desenvolve em sua introdução um debate historiográfico com os escritos de Tocqueville, Taine e Mornet. No capítulo especifico citado anteriormente, Chartier afirma que estes três autores entenderam a França pré-revolucionária como um processo de internalização das propostas dos textos filosóficos que estavam sendo impressos no momento: “carregadas pela palavra impressa, as novas ideias conquistavam as mentes das pessoas, moldando sua forma de ser e propiciando questionamentos. Se os franceses do final do século XVIII moldaram a revolução foi porque haviam sido, por sua vez, moldados pelos livros” (CHARTIER, 2009, p.115). Contudo, Chartier vai além: propõe que o que moldou o pensamento dos franceses não foi o conteúdo de tais livros filosóficos, mas novas práticas de leituras, um novo modo de ler que desenvolveu uma atitude crítica em relação às representações de ordem política e religiosa estabelecidas no momento. Como foi demonstrado por Hunt, novos significados e conceitos foram reapropriados pela linguagem e retórica revolucionária. Neste sentido, Chartier propõe uma reflexão: talvez tenha sido a Revolução que “fez” os livros, uma vez que ela deu determinado significado a algumas obras.
“Assim, a prática da Revolução somente poderia consistir em libertar a vontade do povo dos grilhões da opressão passada” (HUNT, 2007, p.98). Todavia, seríamos ingênuos de pensar que estes revolucionários almejavam uma igualdade social e política sem hierarquias, na qual todos estivessem em contato pleno com o poder. Focault afirma que o poder não está centralizado, ele constitui-se a partir de uma rede de forças que se relacionam entre si: o poder perpassa por tudo e por todos. Contudo, admite que há assimetrias no exercício e nas apropriações do poder (FOUCAULT, 2006). E neste contexto revolucionário não poderia ser diferente: os republicanos, através de seus discursos, buscaram disciplinar o povo de acordo com seus interesses.
Devemos relembrar que o próprio conceito de política foi ampliado. Neste sentido, Hunt afirma que as eleições estiveram entre as principais práticas simbólicas: “ofereciam participação imediata na nova nação por meio do cumprimento de um dever cívico” (Ibid, p.155). Como consequência disto, expandiu-se a noção do que significava a divisão política e a partir de então diversas denominações surgiram: democratas, republicanos, patriotas, exclusivos, jacobinos, monarquistas, entre vários outros. Mais significante ainda foi a divisão da Assembleia Nacional em “direita” e “esquerda”; termos que perduram até hoje.
Durante este processo surgiu uma nova classe política revolucionária, conforme a autora. Contudo, não devemos pensar esta classe como completamente homogênea: ela é composta por interesses e intenções individuais, mas define-se por oportunidades comuns e papéis compartilhados em um contexto social. “Nessa concepção, os revolucionários foram modernizadores que transmitiram os valores racionalistas e cosmopolitas de uma sociedade cada vez mais influenciada pela urbanização, alfabetização e diferenciação de funções” (Ibid, p.237).
O conteúdo simbólico foi se modificando e se moldando conforme as aspirações revolucionárias durante a década que sucedeu a Revolução. Mas a autora questiona-se como tais transformações foram percebidas e recebidas nas diferentes regiões da França e de que maneira os diversos grupos lidaram com elas. Seria equivocado pensarmos que a cultura política revolucionária foi homogênea em todos os lugares, até porque tal política estava sendo construída no momento. Sendo assim, Hunt também procura contextualizar socialmente a Revolução. Ela nos propõe uma análise da sua geografia política, considerando que “a identidade social fornece importantes indicadores sobre o processo de inventar e estabelecer novas práticas políticas” (Ibid, p.153). Neste sentido, o contexto social da ação política se deu conforme as condições sociais e econômicas; laços, experiências e valores culturais de cada local.
“A Revolução foi, em um sentido muito especial fundamentalmente ‘política’” (Ibid, p.246). O estudo de Hunt nos mostra como as novas formas simbólicas da prática política transformaram as noções contemporâneas sobre o tema. Talvez este tenha sido o principal legado da Revolução Francesa e talvez ela ainda nos fascine porque gestou muitas características fundamentais da política moderna. Ela conclui, portanto, que houve uma revolução na cultura política. Mais do que enxergarmos as origens e resultados da Revolução, é fundamental compreendermos como ela foi pensada pelos revolucionários e de que maneira estes sujeitos históricos se modificaram a si próprios e a própria Revolução.
Nota
1. Resenha produzida para a disciplina de História Moderna II, ministrada pela professora Dra. Silvia Liebel, do curso de Bacharelado e Licenciatura de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Referências
CHARTIER, Roger. Origens Culturais da Revolução Francesa. São Paulo: Editora UNESP, 2009.
FOUCAULT, Michel. Estratégia, Poder-Saber. 2ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
HUNT, Lynn. Política, cultura e classe na Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
Carolina Corbellini Rovaris – Graduanda do curso de Bacharelado e Licenciatura de História da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). E-mail: [email protected]
HUNT, Lynn. Política, cultura e classe na Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. Resenha de: ROVARIS, Carolina Corbellini. Outros olhares acerca da Revolução Francesa. Aedos. Porto Alegre, v.5, n.12, p.284-288, jan. / jul., 2013. Acessar publicação original [DR]
Intelectuais e história da educação no Brasil: poder, cultura e políticas – ALVES (RBHE)
ALVES, Claudia; LEITE, Juçara Luzia. Intelectuais e história da educação no Brasil: poder, cultura e políticas. Vitória: EDUFES, 2011. Resenha de: MAIA, Manna Nunes. Revista Brasileira de História da Educação, Campinas, v. 13, n. 1 (31), p. 261-266, jan./abr. 2013.
Nas últimas décadas, a produção em História da Educação expandiu-se consideravelmente”, como resultado do papel desempenhado tanto pela pós-graduação quanto por instâncias de organização, debate e divulgação da pesquisa histórico-educacional. Ao mesmo tempo, há um processo de inflexão dos modelos interpretativos, referenciais teóricos, objetos de investigação, objetivos, temáticas, fontes documentais, periodizações e metodologias de pesquisa da área.
Articulada a esses processos, houve a publicação de vários estudos que, ao analisarem aspectos da pesquisa histórico-educacional, têm permitido a problematização e (por que não?) renovação de categorias já consagradas. Entre elas, a categoria “intelectual” tornou-se objeto de investigação dos historiadores da educação, cujos trabalhos possibilitaram questionar o viés tradicional de abordagem histórica do tema. Propiciaram, portanto, superar análises que se centravam na exposição das ações e feitos dos considerados grandes personagens, de um lado, ou centradas em perspectivas que apagavam a ação dos sujeitos, de outro. Insere-se, nesses trabalhos, a publicação de Claudia Alves e Juçara Luzia Leite, intitulada Intelectuais e história da educação no Brasil: poder, cultura e políticas, que integra a coleção Horizontes da pesquisa em História da Educação no Brasil, em comemoração aos dez anos de fundação da Sociedade Brasileira de História da Educação.
A primeira parte da coletânea procura iluminar o debate teórico com base nas contribuições de pesquisas dos autores que a compõem. No primeiro capítulo, Carlos Eduardo Vieira problematiza o conceito de intelectual a partir da análise das ideias e da trajetória do intelectual paranaense Erasmo Pilotto (1910-1992). A crença no protagonismo do Estado e no papel dos intelectuais, articulada à ideia de que o caminho para a modernidade seria trilhado por meio de investimentos na cultura e na educação, incentivou a militância de Erasmo Pilotto nos referidos campos, por meio da publicação de diferentes materiais, da ação enquanto educador, da criação de inúmeras instituições e grupos e, ainda, da ocupação de posições importantes na esfera política. Por meio do estudo dessa trajetória, o historiador põe em questão aspectos fundamentais do conceito em foco na coletânea, concernentes à construção da identidade dos intelectuais, envolvendo seu engajamento político e suas crenças na modernidade e no papel do Estado.
Em seu trabalho, Marlos Bessa Mendes da Rocha disserta sobre o Decreto-lei Couto Ferraz (1854) que instituiu, pela primeira vez, a educação como um sistema de política pública. Para analisar o referido decreto-lei, com foco na relação entre a história intelectual da política e a história institucional das práticas políticas, Rocha baseia-se em alguns pontos, dentre os quais: o vocabulário normativo da época; os axiomas herdados; os projetos de sociedade, Nação e Estado; a comparação entre o Decreto-lei Couto Ferraz e as leis que o antecederam e sucederam; a concepção de educação na época e a recepção da lei na sociedade. Além disso, o autor destaca a conjuntura da época, em especial o contexto intelectual em que as formulações do decreto-lei foram concebidas. Aqui, a questão conceitual margeia a história das ideias.
Na sequência, Claudia Alves analisa a formação da oficialidade do Exército no século XIX. Os sujeitos de pesquisa selecionados foram os intelectuais militares que desempenharam funções dirigentes e organizativas no Exército e em instâncias da sociedade e do Estado, atores não privilegiados na historiografia. Sem desmerecer o papel desempenhado pela Escola Militar e, a partir do conceito ampliado de formação (que englobaria a dimensão prática, dirigente e política), Alves demonstra que outros espaços no interior do Exército foram determinantes na formação da parcela intelectualizada da oficialidade durante o período investigado.
Amália Dias centra sua análise na dicotomia entre as funções de “intelectuais” e de “trabalhadores” que o magistério secundário enfrentou no pós-1930. De um lado, as leis e projetos implementados durante o Estado Novo puseram em marcha um projeto de profissionalização do magistério de ensino secundário, que o submetia aos parâmetros estatais, ao mesmo tempo que o requisitava como agente do “apostolado cívico”. Por outro lado, houve um movimento de reação organizada em sindicatos, efeito da condição de “trabalhadores do ensino” dos professores secundários, procurando garantir seus direitos e deveres. Nessa análise, Dias evidencia a defasagem entre o elevado prestígio social dos professores e a sua situação econômica, como trabalhadores assalariados, tratando de outra faceta da categoria intelectuais, associada à profissionalização do magistério.
A imprensa constituiu-se historicamente como locus de atuação dos intelectuais, estando fortemente imbricada à própria emergência social desse personagem no século XIX. Na segunda parte da coletânea, estudos que se debruçaram sobre a relação entre intelectuais e imprensa apresentam possibilidades de abordagem sobre esse aspecto. O capítulo de autoria de Bruno Bontempi Júnior aborda o “Inquérito sobre a instrução pública em São Paulo, publicado em O Estado de São Paulo”, em que jornalistas e educadores teceram observações a respeito do ensino primário paulista. Uma série de aspectos validou a capacidade desses personagens de dissertarem sobre a situação educacional de São Paulo, que, somada à crescente influência do jornal mencionado, fizeram com que se produzissem e veiculassem discursos educacionais considerados legítimos acerca da situação e dos rumos da instrução pública nesse estado. Recorrendo à noção de expertos de Norberto Bobbio, o autor põe em questão a formação e o pertencimento dos respondentes ao Inquérito, que têm seus discursos potencializados pela ação do jornal.
Em seguida, Clarice Nunes reflete sobre como se tornou possível a afirmação de um grupo de mulheres como intelectuais na sociedade patriarcal do final do século XIX e início do XX. Em uma conjuntura de consolidação da imprensa como canal de difusão de ideias e de mudanças na indústria jornalística e literária, foram abertos espaços nas redações dos jornais e editoras para as mulheres. Por meio da publicação de seus escritos, algumas mulheres conseguiram ultrapassar as fronteiras da casa e da escola. Ou seja, ao se tornarem escritoras, as mulheres ganharam prestígio e visibilidade na sociedade, naquele período, constituindo um grupo novo, embora minoritário na categoria dos intelectuais, potencializado pelo trabalho no magistério.
Maria de Araújo Nepomuceno toma a revista Oeste como objeto de estudo e fonte de pesquisa. Iluminado pelos conceitos de Estado e intelectual de Antonio Gramsci, o estudo identificou que a citada revista foi, gradativamente, mudando sua proposta. Originalmente projetada no âmbito da “sociedade civil” para apresentar intelectuais goianos, a revista foi se constituindo em um veículo divulgador dos princípios político-ideológicos do Estado Novo e de propaganda de Goiânia e do interventor Pedro Ludovico. A ambivalência da atuação dos intelectuais, na sociedade civil e na sociedade política, transparece nas páginas do periódico.
Se a escrita é a forma de expressão evidente do intelectual, o livro é o objeto símbolo desse trabalho. A terceira parte da coletânea traz pesquisa que analisaram livros e seus escritores. André Luiz Bis Pirola faz uma reflexão sobre a obra didática Noções abreviadas de Geografia e História do Espírito Santo, escrita pelo professor Amâncio Pereira. Analisa-o como um documento privilegiado para compreender as disputas e as alianças em torno da correta leitura de história e de educação no esforço de forjar uma “identidade nacional”. Destaca os lugares de memória e os protocolos de pertencimento, em âmbito local, que organizaram a intelectualidade e os seus debates no processo de definição do cânone historiográfico.
No seu trabalho, Maria Arisnete Câmara de Morais estuda duas publicações da escritora Sophia Lyra: Vida íntima das moças de ontem e Rosas de neve. Nelas, Sophia Lyra exterioriza alguns questionamentos, costumes, linguajar, conflitos, problemas e a situação da mulher na década de 1930, assim como traça um painel dos hábitos, tradições e maneiras de ser da sociedade brasileira naquele período. Discorre, portanto, sobre vários assuntos latentes na sociedade na primeira metade do século XX. Por meio da análise desses ensaios, Morais consegue superar a recorrente noção de que as mulheres viviam alienadas da realidade do Brasil naquele período.
Dislane Zerbinatti Moraes toma como objeto de investigação os romances escritos por cinco professores-escritores entre os anos de l920 e l935. Apesar de terem interpretações e posições diferenciadas no campo do magistério, os autores analisados por Moraes têm em comum a utilização da ficção, mais especificamente do romance, como modo de expressão das tensões, expectativas e experiências desses intelectuais enquanto professores. Por conta disso, esses escritos destacam aspectos do contexto educacional da época, visando à produção de algum tipo de transformação na realidade escolar e à obtenção de reconhecimento profissional. O romance, como ferramenta intelectual, abre um campo de expressão de insatisfações, interditado no discurso pacificador dos historiadores da educação no mesmo período.
Marcus Aurélio Taborda de Oliveira analisa o compêndio História da América, de José Francisco da Rocha Pombo, que inaugurou uma tradição de reflexões críticas à colonização europeia na América Latina, considerando o ensino de história fundamental para conhecer o passado de opressão dos povos latino-americanos, resistir aos padrões civilizatórios e reverter o quadro de atraso da América Latina. Entretanto, essa forma de conceber a colonização não se repetiu nas demais obras do autor. O texto de Taborda coloca, então, em cena, contradições que marcam uma trajetória de vida e produção intelectual, na qual, por vezes, a grande originalidade pode estar no ponto de partida.
As relações entre educação, civilização e modernidade dão o tom dos textos da última parte da coletânea. Em seu estudo, Juçara Luzia Leite assinala que o pós-Primeira Guerra fortaleceu a preocupação sobre a influência do ensino de história nas relações entre povos e nações. No caso dos livros didáticos, sua função educativa e moralizadora aparece nos cuidados de agências de Estado, tratados inclusive em convênios internacionais. A participação de intelectuais, políticos e professores, na construção desses convênios, permite observar o sentido de missão que se autoatribuíam na construção de um projeto civilizatório. Com isso, as reflexões de Leite permitem-nos perceber nuançes do uso social do trabalho intelectual, envolvido por questões que marcam uma época.
Em seu trabalho, Maria Helena Câmara Bastos analisa a atuação de Manoel Francisco Correia, intelectual representativo dos debates que propugnavam o progresso da sociedade brasileira, defendendo avanços na instrução popular. Membro da elite intelectual e política da época, Manoel Francisco Correia pretendia promover os conhecimentos úteis ao progresso da sociedade, assumindo a tarefa de remodelar o imaginário e as práticas pedagógicas no país. Para isso, organizou as Conferências Populares da Freguesia da Glória, espaços privilegiados de discussão de ideias educacionais na cidade do Rio de Janeiro no período de 1873 a 1890. Aspectos da Modernidade, que se anunciam em fins do século XIX, podem ser apreendidos na análise desse intelectual.
Iranilson Buriti de Oliveira estuda algumas imagens construídas por Belisário Penna sobre a educação sanitária, problematizando as aproximações entre os saberes médico e pedagógico. Em uma conjuntura em que os médicos assumiram a responsabilidade de remediar e educar a população, preocupados em mudar a nação a partir da escola, Belisário Penna denunciou as precárias condições sanitárias da maioria das unidades da federação brasileira e fundou a “Liga Pró-Saneamento do Brasil”, em 1918. Oliveira procura compreendê-lo a partir dos seus escritos, mapas de viagem, fotografias, retratos, buscando captar sua perspectiva crítica, mas, também, suas angústias, medos, tensões. O texto convida o leitor a perceber o que a produção de um intelectual projeta como imagem de si.
Ao final, Maria do Amparo Borges Ferro analisa a figura e a atuação do padre Marcos de Araújo Costa na primeira metade do século XIX, que teve grande influência nos diversos setores em Oeiras, antiga capital do Piauí. Embora não tenha ocupado cargos ou funções na burocracia estatal, esse intelectual piauiense lutou contra a ameaça de retorno do Piauí à condição de dependência político-administrativa da província do Maranhão e se dedicou à educação do povo, usando o patrimônio herdado na fundação e manutenção de uma escola para garotos, que se tornou referência para toda a região, entre 1820 e 1850. O texto da autora instiga a atenção para sujeitos que utilizam sua capacidade intelectual para fazer história por meio da educação.
Na presente resenha, tentamos assinalar a contribuição dessa coletânea para os estudos histórico-educacionais. São autores de diferentes regiões do país e de competência reconhecida no campo da História da Educação, que, com suas especificidades, clareza de objetivos e delimitação precisa de suas questões, proporcionaram-nos uma leitura rica e nos dão a oportunidade de pensar, questionar e enriquecer futuros estudos na temática. Ao mesmo tempo, as análises empreendidas em cada estudo são de grande valia para os interessados no passado educacional brasileiro, abordado pelo prisma da ação de um grupo específico de agentes, os intelectuais.
Ao traçar um espectro da pesquisa sobre o tema, Intelectuais e história da educação no Brasil: poder, cultura e políticas traz uma contribuição particular aos estudos sobre a categoria intelectuais, em uma conjuntura em que emergem, cada vez mais, discussões teóricas e metodológicas em torno dela. O livro incentiva os historiadores da educação a fazerem uma (re)leitura de seus trabalhos sobre intelectuais, assim como estimula aqueles que pretendem trabalhar com essa categoria. Para isso, os trabalhos nele publicados indicam vias que podem ser exploradas: itinerários de formação; redes de sociabilidade; escritos; ligações com a formulação de políticas públicas de educação; iniciativas de escolarização lideradas; representações e práticas culturais; contextos sócio-educacionais; itinerários pessoais e coletivos; ambiência cultural; constructos intelectuais de época; lugares frequentados; ideários, leituras e representações.
Manna Nunes Maia – Pedagoga formada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Mestre em Educação também pela Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail:[email protected]
Guerreros Civilizadores: política, sociedad y cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico | Carmen Mcevoy
Carmen McEvoy nasceu no Peru, é historiadora e professora na University of the South, Sewanee, no Tennessee, EUA. É também mestre pela Pontifícia Universidad Católica del Perú e doutora pela University of California, em San Diego. Sua tese de doutoramento versou sobre o republicanismo no Peru do século XIX e inaugurou uma série de estudos da autora sobre as relações entre Peru, Chile e Bolívia, dos quais se destacam Armas de Persuasión Masiva: retórica y ritual en la Guerra del Pacífico (2010) e Guerreros Civilizadores: política, sociedad y cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico (2011). Desse último, trata a presente resenha.
Guerreros Civilizadores é a continuação das pesquisas iniciadas em sua obra anterior, Armas de Persuasión Masiva, e aborda a Guerra do Pacífico, tema bastante conhecido e estudado por McEvoy. Ocorrida no final do século XIX, mais precisamente entre os anos de 1879 e 1884, essa guerra – que envolveu Chile, Bolívia e Peru na disputa pela posse do território rico em minerais situado ao norte do que hoje é o Chile – foi um episódio importantíssimo na configuração dos espaços nacionais dos países envolvidos. A guerra foi deflagrada a partir do impasse entre os governos de Chile e Bolívia em relação ao pagamento de impostos sobre a exploração das riquezas minerais bolivianas, por empresas chilenas que lá se instalaram. O conflito tornou-se tri nacional devido a um pacto de ajuda mútua, em caso de guerra, firmado anos antes entre Bolívia e Peru. O desfecho foi favorável aos chilenos, que puderam anexar ao seu território às partes em disputa com seus vizinhos. A Bolívia perdeu sua saída para o Oceano Pacífico, e o Peru perdeu a rica província de Tarapacá, principal centro de exploração do cobre chileno até os dias de hoje. Leia Mais
Cultura, identidade e território no Nordeste indígena: os Fulni-ô | Peter Schröder
Quando se trata dos “índios”, no geral e mesmo ainda no meio acadêmico, após alguns anos de pesquisas e de convivência nesse ambiente com colegas de diferentes áreas do conhecimento, constatamos que um dos maiores desafios é a superação de visões exóticas para abordagens críticas, aprofundadas sobre a história, as sociodiversidades indígenas e as relações dos povos indígenas com e na nossa sociedade. E além do mais, quando diz respeito a povos como os Fulni-ô, falantes do Yaathe e do Português, sendo o único povo bilíngue no Nordeste (excetuando o Maranhão), habitando em Águas Belas no Agreste pernambucano a cerca de 300 km do Recife.
Sobre as sociodiversidades indígenas em nosso país o índio Gersem Baniwa (os Baniwa habitam as margens do Rio Içana, em aldeias no Alto Rio Negro e nos centros urbanos de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos/AM), que é Mestre e recém-Doutor em Antropologia pela UnB, publicou o livro O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje, onde escreveu:
A sua diversidade, a história de cada um e o contexto em que vivem criam dificuldades para enquadrá-los em uma definição única. Eles mesmos, em geral, não aceitam as tentativas exteriores de retratá-los e defendem como um principio fundamental o direito de se autodefinirem. (BANIWA, 2006, p.47).
Após discorrer sobre as complexidades das organizações sociopolíticas dos diferentes povos indígenas nas Américas, questionando as visões etnocêntricas dos colonizadores europeus o pesquisador indígena ainda afirmou:
Desta constatação histórica importa destacar que, quando falamos de diversidade cultural indígena, estamos falando de diversidade de civilizações autônomas e de culturas; de sistemas políticos, jurídicos, econômicos, enfim, de organizações sociais, econômicas e politicas construídas ao longo de milhares de anos, do mesmo modo que outras civilizações dos demais continentes europeu, asiático, africano e a Oceania. Não se trata, portanto, de civilizações ou culturas superiores ou inferiores, mas de civilizações e culturas equivalentes, mas diferentes. (BANIWA, 2006, p.49).
Na Introdução do livro aqui resenhado, o organizador da coletânea Peter Schröder de forma bastante emblemática e provocativa afirmou: “É fácil escrever alguma coisa sobre os Fulni-ô” sendo o bastante recorrer a uma bibliografia existente. Mas, no parágrafo seguinte Schröder enfatizou o quanto é difícil escrever sobre aquele povo indígena, diante do desconhecimento resultante de barreiras impostas pelos Fulniô que impedem o acesso ao conhecimento da sua organização sociopolítica e expressões socioculturais, notadamente a língua e o ritual religioso do Ouricuri. E ainda as contestações e questionamentos dos índios aos escritos a seu respeito, elaborado por pesquisadores, mais especificamente pelos antropólogos.
Após o texto onde o organizador da coletânea procurou situar de forma resumida a história territorial Fulni-ô, segue-se o texto de Miguel Foti que resultou da Dissertação de Mestrado na UnB em 1991, onde o antropólogo procurou descrever e refletir a partir do cotidiano durante seu trabalho de campo, o universo simbólico Fulni-ô baseado na resistência do segredo das expressões socioculturais daquele povo indígena.
O texto seguinte de Eliana Quirino, que teve sua promissora trajetória de pesquisadora interrompida com o seu falecimento repentino em outubro de 2011, é uma discussão baseada principalmente na sua Dissertação de Mestrado em Antropologia/UFRN. Tendo como base as memórias Fulni-ô, a exemplo do aparecimento da imagem de N. Sra. da Conceição, a participação indígena na Guerra do Paraguai, a marcante e sempre remorada atuação do Pe. Alfredo Dâmaso em defesa dos índios em Águas Belas, a autora discutiu como essas narrativas são fundamentais para afirmação da identidade indígena e os direitos territoriais reivindicados.
Um exercício de discussão sobre a identidade étnica a partir do próprio ponto de vista indígena foi realizado no texto seguinte por Wilke Torres de Melo, indígena Fulniô formado em Ciências Sociais pela UFRPE e atualmente realizando pesquisa de mestrado sobre o sistema político daquele povo indígena. Em seu texto, Wilke procurou evidenciar as imbricações entre identidade étnica e reciprocidade, discutindo as relações endógenas e exógenas de poder vistas a partir do princípio da união, do respeito e da reciprocidade baseados na expressão Fulni-ô Safenkia Fortheke que segundo o autor caracteriza e unifica aquele povo indígena.
A participação de Wilker na coletânea é bastante significativa por se tratar de uma reflexão “nativa” e, além disso, como informou o organizador na Introdução do livro, numa iniciativa inédita e antes da publicação todos os artigos foram enviados ao pesquisador indígena para serem discutidos entre os Fulni-ô, como forma de apresentarem sugestões e as “visões Indígenas” sobre conteúdos dos textos.
Uma contribuição com uma abordagem diferenciada é o artigo de Carla Siqueira Campos, resultado de sua Dissertação em Antropologia/UFPE onde a autora discute a organização e produção econômica Fulni-ô, fundada no acesso aos recursos ambientais no Semiárido, nas diferentes formas de aquisição de recursos econômicos por meios de salários, aposentadorias e os tão conhecidos “projetos” (aportes externos de recursos financeiros) e as suas influências na qualidade de vida dos indígenas.
O artigo seguinte da coletânea de autoria de Áurea Fabiana A. de Albuquerque Gerum uma economista, e Werner Doppler estudioso alemão de sistemas agrícolas rurais nos trópicos, a primeira vista parece muito técnico devido às várias tabelas e gráficos. Seus autores discutiram com base em dados empíricos as relações ente a disponibilidade de terras, a renda das famílias a o uso dos recursos produtivos entre os Fulni-ô.
No último artigo da coletânea, Sérgio Neves Dantas abordou como as músicas Fulni-ô expressam aspectos das memorias identitárias e mística daquele povo indígena. O autor procurou também evidenciar a dimensão poética e sagrada dessa musicalidade. Sua análise baseia-se, sobretudo, na produção musical contemporânea gravada por grupos de índios Fulni-ô, como forma de afirmação da identidade étnica daquele povo.
Publicado como primeiro volume da Série Antropologia e Etnicidade, sob os auspícios do NEPE (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade), um dos núcleos de pesquisas no Programa de Pós-Graduação em Antropologia/UFPE, o livro é composto por sete artigos é complementado com uma relação bibliográfica comentada sobre os Fulni-ô, trazendo ainda em anexo vários documentos relativos às terras daquele povo indígena.
A publicação dessa coletânea é muito oportuna pelo fato de reunir um conjunto de textos, com diferentes olhares e abordagens que procuram fugir do exotismo, como também do simplismo em tratar sobre um povo tão singular, situado no contexto sociohistorico do que se convencionou chamar-se o Semiárido no Nordeste brasileiro, onde a presença indígena foi em muito ignorada pelos estudos acadêmicos e deliberadamente negada seja pelas autoridades constituídas, seja também pelo senso comum.
Diante exíguo conhecimento que se tem sobre os Fulni-ô e da dispersão dos poucos estudos publicados a respeito daquele povo indígena, provavelmente a primeira edição dessa importante coletânea será brevemente esgotada. Pensando em uma segunda edição seguem algumas sugestões. A primeira diz respeito ao próprio titulo do livro, pois da forma com estar ao ser referenciado os Fulni-ô aparecem como última parte do título: Cultura, identidade e território no Nordeste indígena: os Fulni-ô. Para um efeito prático da referenciação bibliográfica propomos então uma inversão no título para: os Fulni-ô: cultura, identidade e território no Nordeste indígena.
Sugerimos também a inclusão de mapas de localização de compreenda o Nordeste, Pernambuco, o Agreste e Águas Belas onde habitam os Fulni-ô. A nosso ver tais mapas são imprescindíveis, pois possibilitarão a visualizar o povo indígena em questão e contexto das relações históricas e socioespaciais onde o grupo estar inserido. Sabemos que imagens de uma forma em geral encarecem a produção bibliográfica, todavia a inclusão de fotografias, ao menos em preto e branco, também enriqueceria e muito as abordagens dos textos.
Por fim, uma pergunta: para enriquecer mais ainda a coletânea, porque não acrescentar na Introdução de uma reedição comentários sobre quais foram às argumentações dos Fulni-ô a respeito das leituras prévias dos textos antes da publicação e como ocorreu a recepção daquele povo ao receber o livro publicado?
Lamentamos a ausência na coletânea de artigos na área História. Infelizmente frente ainda ao pouco interesse de historiadores sobre a temática, colegas de outras áreas, principalmente da Antropologia, cada vez procuram suprir essa lacuna, realizando pesquisas em fontes históricas para embasarem seus estudos e reflexões a respeito dos povos indígenas.
Ainda para uma segunda edição ou um possível e merecido segundo volume da coletânea, lembramos o estudo A extinção do Aldeamento do Ipanema em Pernambuco: disputa fundiária e a construção da imagem dos “índios misturados” no século XIX, apresentado em 2006 por Mariana Albuqquerque Dantas como Monografia de Conclusão do Curso de Bacharelado em História/UFPE.
A mesma autora defendeu na UFF/RJ em 2010 a Dissertação de Mestrado intitulada História dinâmica social e estratégias indígenas: disputas e alianças no Aldeamento do Ipanema em Águas Belas, Pernambuco. (1860-1920). São duas pesquisas amplamente baseadas em fontes históricas disponíveis no Arquivo Público Estadual de Pernambuco e nas discussões da produção bibliográfica atualizada sobre os povos indígenas no Nordeste.
No momento em que a sociedade civil no Brasil, por meio dos movimentos sociais principalmente na Educação, questiona os discursos sobre uma suposta identidade cultural nacional, a publicação dessa coletânea reveste-se, portanto, de um grande significado. A afirmação das sociodiversidades no país, questionando a mestiçagem como ideia de uma cultura e identidade nacional, significa o reconhecimento dos povos indígenas (Silva, 2012), a exemplo dos Fulni-ô, em suas diferentes expressões socioculturais.
Buscando compreender as possibilidades de coexistência socioculturais, fundamentada nos princípios da interculturalidade,
a interculturalidade é uma prática de vida que pressupõe a possibilidade de convivência e coexistência entre culturas e identidades. Sua base é o diálogo entre diferentes, que se faz presente por meio de diversas linguagens e expressões culturais, visando à superação de intolerância e da violência entre indivíduos e grupos sociais culturalmente distintos. (BANIWA, 2006, p.51).
Essa coletânea é uma excelente referência tanto para pesquisadores especializados no estudo da temática indígena, como para as demais pessoas interessadas sobre o assunto e principalmente professores indígenas e não-indígenas que terão em mãos uma fonte de estudos sobre o tema, mais precisamente ainda na fragrante ausência de subsídios, objetivando atender as exigências da Lei 11.645/2008 que determinou a inclusão no ensino da história e culturas afro-brasileira e dos povos indígenas nas escolas públicas e privadas no Brasil.
Referências
BANIWA, Gersem dos Santos Luciano. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília, MEC/Secad; Museu Nacional/UFRJ, 2006.
DANTAS, Mariana Albuqquerque. A extinção do Aldeamento do Ipanema em Pernambuco: disputa fundiária e a construção da imagem dos “índios misturados” no século XIX. Recife, UFPE, 2006. (Monografia de Bacharelado em História)
_______. História dinâmica social e estratégias indígenas: disputas e alianças no Aldeamento do Ipanema em Águas Belas, Pernambuco. (1860-1920). Rio de Janeiro, UFF, 2010. (Dissertação Mestrado em História).
SILVA, Edson. História e diversidades: os direitos às diferenças. Questionando Chico Buarque, Tom Zé, Lenine… In: MOREIRA, Harley Abrantes. (Org.). Africanidades: repensando identidades, discursos e ensino de História da África. Recife, Livro Rápido/UPE, 2012, p. 11-37.
Edson Silva – Doutor em História Social pela UNICAMP. Leciona no Programa de Pós-Graduação em História/UFCG (Campina Grande-PB) e no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena na UFPE/Campus Caruaru, destinado a formação de professores/as indígenas. É professor de História no Centro de Educação/Col. de Aplicação-UFPE/Campus Recife E-mail: [email protected]
SCHRÖDER, Peter. (Org.). Cultura, identidade e território no Nordeste indígena: os Fulni-ô. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2012. Resenha de: SILVA, Edson. Os Fulni-ô: múltiplos olhares em uma contribuição para o reconhecimento das sociodiversidades indígenas no Brasil. CLIO – Revista de pesquisa histórica. Recife, v.30, n.2, jul./dez. 2012. Acessar publicação original [DR]
From Africa to Brazil: culture, identity, and an Atlantic slave trade, 1600-1830 – HAWTHORNE (VH)
HAWTHORNE, Walter. From Africa to Brazil: culture, identity, and an Atlantic slave trade, 1600-1830. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2010, 288 p. MARCUSSI, Alexandre Almeida. Varia História. Belo Horizonte, v. 28, no. 48, Jul./ Dez. 2012.
O Estado do Grão-Pará e Maranhão é uma região relativamente pouco estudada pelos historiadores que se debruçaram sobre a América Portuguesa, se o compararmos com as capitanias do Nordeste ou com a região de Minas Gerais, por exemplo. Da mesma forma, dentre as regiões da costa africana que participaram significativamente do comércio atlântico de escravos, o tre-cho localizado entre os rios Senegal e Serra Leoa – a costa conhecida como Alta Guiné – talvez seja um dos menos bem contemplados pelos estudiosos. É natural, portanto, que a obra de Walter Hawthorne, que aborda a conexão entre ambas as regiões, seja uma adição bem-vinda à historiografia que trata do período colonial.
Hawthorne, que atualmente leciona História da África na Universidade Estadual de Michigan, é autor de outra obra importante sobre a Alta Guiné, Planting rice and harveting slaves, na qual analisa a produção de arroz na região. Em From Africa to Brazil, ele alarga o escopo da pesquisa para com-preender a articulação dessa região com o Maranhão, outra importante área produtora de arroz do Atlântico que estabeleceu fortes vínculos com o comér-cio guineense de escravos – mais especificamente, com os portos portugueses de Cacheu e Bissau, ao sul do rio Gâmbia.
Como já sugere o subtítulo da obra, que poderia ser traduzido como “Cul-tura, identidade e um comércio atlântico de escravos, 1600-1830”, o objetivo do autor é compreender as influências da diáspora guineense sobre a experi-ência cultural das comunidades escravas no Maranhão, sobretudo no período que se estende de 1750 a 1830, quando houve predomínio numérico de cativos oriundos da Alta Guiné nas importações do porto de São Luís. Esse vínculo é explicado em parte pelo regime de ventos e correntes marítimas do Atlântico, que favorecia as viagens entre a costa norte do Brasil e os portos de Cacheu e Bissau, e em parte pelas políticas pombalinas de desenvolvimento econômico do Estado do Grão-Pará e Maranhão, que tiveram como base a produção do arroz empregando mão-de-obra africana fornecida por esses portos.
O autor compara manifestações culturais dos povos da Alta Guiné com as das comunidades escravas do Maranhão para propor a tese de uma con-tinuidade cultural entre as duas realidades. Dessa forma, a perspectiva de Hawthorne alinha-se à de outros historiadores norte-americanos normalmente denominados “afrocêntricos”, tais como Paul Lovejoy, John Thornton e James Sweet, com os quais Hawthorne mantém intenso diálogo ao longo do livro.
É interessante notar, inclusive, que o plano de capítulos de From Africa to Brazilecoa a organização temática de A África e os africanos na formação do mundo atlântico, de John Thornton,1partindo da realidade africana para iluminar aspectos culturais das sociedades americanas, num projeto de com-preender o protagonismo dos africanos na configuração do mundo atlântico. O primeiro capítulo aborda a transição do regime de mão-de-obra indígena para o trabalho africano no Maranhão, na década de 1750, e analisa a origem geográfica dos escravos desembarcados. Na sequência, o autor empreende um estudo da organização do comércio escravista e da cultura da Alta Guiné, para depois passar à realidade americana, discutindo o regime de produção agríco-la do arroz, as estruturas matrimoniais e familiares vigentes na comunidade escrava e, por fim, as práticas religiosas dos africanos e seus descendentes.
A obra de Hawthorne partilha com a historiografia dita “afrocêntrica” muitos de seus pressupostos e métodos de análise – bem como alguns de seus limites interpretativos. Nota-se logo a importância capital da demografia na argumentação: o autor demonstra que o maior grupo dentre os escravos im-portados para o Maranhão proveio da Alta Guiné, correspondendo a 57% dos ca-tivos desembarcados entre 1751 e 1842. Mais que isso, a análise dos etnônimos nos inventários maranhenses e o profundo conhecimento que o autor tem do funcionamento do comércio escravista na África ainda permitem demonstrar que, dentre os escravos que vieram dessa região, houve claro predomínio das etnias habitantes da faixa costeira (balantas, bijagós, papel, floup, banyuns e brames), em detrimento dos fulas e mandinkas do interior, caracterizando um cenário em que o autor identifica um certo grau de homogeneidade cultural.
A partir daí, a obra busca os vínculos culturais entre as duas regiões. A análise está ancorada, em grande medida, no trinômio origem-etnia-identida-de. Trata-se de propor que os escravos guineenses puderam resgatar a etnia como critério de identidade no Maranhão, recriando na América elementos de sua cultura de origem. Contudo, o autor ressalta que eles não resgataram propriamente suas etnias particulares, mas uma espécie de cultura comum da Alta Guiné, baseada em pressupostos culturais largamente compartilhados, que foram enfatizados na diáspora.
Pode ser proveitoso pensar no argumento do autor à luz daquilo que Luis Nicolau Parés denomina “identidades metaétnicas”, agrupando vários etnô-nimos em denominações mais amplas a partir da interação entre africanos e europeus.2Hawthorne explica de várias maneiras a formação dessa identidade compartilhada: em alguns momentos, sugere que ela possa ter sido uma es-tratégia dos escravos para evitar conflitos étnicos no interior do grande grupo guineense. Predomina na obra, no entanto, a ideia de que essa identidade te-ria sido uma recriação mais ou menos “espontânea” baseada em similaridades culturais já existentes desde a África. Nesse sentido, ela seria de fato um res-gate de uma realidade cultural africana, e não propriamente uma recriação específica da sociedade colonial ou do mundo atlântico.
Observa-se que, em alguns casos, as supostas continuidades culturais com a Alta Guiné estão fundamentadas em fenômenos que também podem ser observados em outras regiões da África e no restante da América Portuguesa – por exemplo, as bolsas de mandinga3 – , enfraquecendo um pouco a argumen-tação do autor. Até por conta disso, a ênfase na costa da Alta Guiné como fon-te majoritária da cultura escrava maranhense soa um tanto exagerada, ainda mais se considerarmos que as etnias da costa nunca chegaram a compor mais de 32% da população escrava.
A despeito de seus limites interpretativos, em grande parte derivados da perspectiva teórica escolhida, a obra apresenta diversas contribuições re-levantes. Para além dos pouco conhecidos dados a respeito da comunidade africana maranhense, cabe destacar a abordagem do comércio de escravos na Guiné, que foge dos modelos clássicos ao mostrar que o tráfico não implicou centralização política naquela região. Vale ainda mencionar a sofisticada aná-lise a respeito da implantação da cultura do arroz no Maranhão, que articula vasta informação documental, um profundo conhecimento acerca do cultivo de arroz no Novo e no Velho Mundo e uma reflexão sobre o comércio atlântico colonial. O autor estabelece um diálogo com a chamada “tese do arroz ne-gro”, segundo a qual o conhecimento técnico para o plantio do arroz na Amé-
rica teria sido trazido pelos africanos da Alta Guiné. Comparando as técnicas de cultivo na África e no Maranhão, o autor demonstra definitivamente que essa tese não pode ser estendida para o Brasil. Para ele, a natureza mercantil da colonização determinou as características ambientalmente predatórias do plantio, enquanto o conhecimento africano pôde ser preservado e empregado apenas nas etapas do beneficiamento e do preparo culinário. Daí, portanto, a ideia de que o arroz maranhense não seria nem “branco” e nem “negro”, mas “marrom”.
Do ponto de vista metodológico, From Africa to Brazilfundamenta-se em uma extensiva e sólida pesquisa documental. Embora falte em alguns mo-mentos uma crítica mais rigorosa de algumas fontes, o autor demonstra am-plo conhecimento, contemplando uma documentação heterogênea que vai de inventários maranhenses até relatos de viajantes na costa africana, passando pelas fontes inquisitoriais.
From Africa to Brazilnão interessa apenas aos especialistas na história do Maranhão, mas também a todos os estudiosos das culturas afro-americanas e do comércio atlântico de escravos. A obra de Hawthorne preenche uma lacuna importante, trazendo à luz as especificidades de realidades históricas pouco conhecidas na historiografia. Esta é sem dúvida, sua maior contribuição.
1 THORNTON, John Kelly. A África e os africanos na formação do mundo atlântico: 1400-1800. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
2 PARÉS, Nicolau. A formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2006, p. 26.
3 Compare-se a perspectiva do autor com SANTOS, Vanicléia Silva. As bolsas de mandinga no espaço Atlântico: século XVIII. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008. 256 p. (Tese de doutorado – História Social); e SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
Alexandre Almeida Marcussi – Doutorando em História Social Departamento de História da Universidade de São Paulo – FFLCH/USP São Paulo – SP [email protected].
Brasilidade revolucionária: um século de cultura e política – RIDENTI (EH)
RIDENTI, Marcelo. Brasilidade revolucionária: um século de cultura e política. São Paulo: Editora Unesp, 2010. Resenha de: RODRIGUES, Lidiane Soares. Revolução e mercado. Estudos Históricos, v.24 n.48 Rio de Janeiro July/Dec. 2011.
“Fracasso político e sucesso profissional”: eis o subtítulo que um resenhista atrevido talvez sugerisse para Brasilidade revolucionária, que vem a lume pela Editora da Unesp, em 2010, sem a mais remota intenção de descredibilizar o subtítulo escolhido pelo próprio autor, “um século de cultura e política”. No entanto, é notável a tensão mantida em suspenso em seus trabalhos anteriores e que o autor ousa dar trato enfático nesse livro. O sociólogo Marcelo Ridenti empenha esforços, atiçado pelas dúvidas, estímulo de trabalho insubstituível, da geração dos nossos anos 1960. A reconstituição do “seu” século ambiciona responder, salvo equívoco de nossa leitura, a seguinte interrogação: como foi possível obras, artistas, livros, convicta e sinceramente anticapitalistas, alçarem tanto sucesso nos mercados correspondentes a suas atividades?
O livro compõe-se de cinco capítulos, abarcando o período que vai da Primeira República aos anos 1980. Em cada um dos contextos sociopolíticos tratados, é eleito um autor, grupo ou instituição, estratégicos para surpreender os elementos da “brasilidade revolucionária” como “estrutura de sentimento” – noção emprestada de Raymond Williams. A “brasilidade revolucionária” consiste “numa vertente específica de construção da brasilidade, aquela identificada com ideias, partidos e movimentos de esquerda – e presente também de modo expressivo em obras e movimentos artísticos” (p. 10). Já “estrutura de sentimento” refere-se ao conjunto mais representativo de agentes, práticas e produções culturais que deram conteúdo àquela “brasilidade revolucionária”, espécie de “sentimento pensado”/”pensamento sentido”. Essas noções não são os únicos suportes conceituais do livro, mas são centrais, perpassando todos os capítulos. Entre eles, o encadeamento se estabelece cronológica e significativamente; afinal, da Primeira República aos anos 1980, há uma espécie de emergência, auge e decadência da “brasilidade revolucionária” na “estrutura de sentimento”, processo apreendido em materiais expressivos os mais diversos, produzidos por agentes e instituições escolhidos para cada capítulo/período tratado.
Desse modo, o primeiro capítulo é dedicado à reconstituição e ao exame do percurso de Everardo Dias, uma biografia estratégica para o interessado nas lutas políticas do início do século XX no Brasil, bem como nos limites de abertura social do período, dada sua origem imigrante, seu zigue-zague entre prisão e liberdade, o trânsito em organizações de esquerda e na “sociedade dos bacharéis”. Nesse capítulo inicial, a sensibilidade historiográfica parece dar o tom que marca todo o livro. A escolha dessa biografia permite ao autor ligar o primeiro ao último capítulo do livro, a emergência ao ocaso da brasilidade revolucionária, por meio do auge dela.
Ao tomar como mote a segunda edição de História das lutas sociais no Brasil, de 1977, livro mais conhecido de Everardo, e anunciar que “a reedição expressava o elo que se buscava não apenas com as lutas do início do século ali retratadas, mas também com os embates do pré-1964, data de sua publicação original”, o autor parece dar uma piscadela de olho para o leitor, como que adiantando, mas não muito, projetos e derrotas de que tratará adiante. Não bastasse isso, o cruzamento de fontes de natureza distinta contribui para um bom rendimento interpretativo: memórias, edições de livros, cartas, dedicatórias. Se a leitura for correta, vale o adendo, o sentido dos três tempos – República Velha, retomada nos 1970, mediada pela derrota de 1964 – e o manejo da documentação são de fazer inveja a historiadores.
Dada a proposta de enquadramento das relações entre intelectuais e artistas e Partido Comunista, que se encontra no segundo capítulo, vale dizer, o autor vem abrir uma lacuna. Se já foi escrita uma biblioteca a respeito do tema da cooptação dos primeiros pelo segundo, há muito para ser pesquisado a respeito do outro lado da moeda: qual rendimento tal vinculação ofereceu para os produtores simbólicos, num momento em que a indústria cultural era incipiente e o espaço de atuação profissional universitário ainda em consolidação? Casos paradigmáticos, como o de Jorge Amado e o de Nelson Pereira dos Santos, são salutares para que se indague a respeito das “contrapartidas que mantinham intelectuais e artistas na órbita partidária, apesar de tudo” (p. 61), casos que não foram os únicos para os quais a militância no interior do partido foi uma “garantia de atuação profissional” (p. 65). No final das contas, a instância de organização da produção simbólica que hegemonizou o espaço profissional gabaritado, na ausência de um campo autônomo – com instituição especializada na formação dos agentes, mercado de trabalho correspondente e segmentação do consumo de bens culturais – foi o “Partidão”, tese implícita à análise.
Daí que a seguir – nos capítulos “Brasilidade revolucionária como estrutura de sentimento: os anos rebeldes e sua herança” e “Questão da terra no cinema e na canção. Dualismo e brasilidade revolucionária” – o autor atente à produção de agentes desligados do partido. Assim, pode aquilatar a centralidade de que gozou na cena cultural, e a perda dela mesma, pari passu o ocaso político, decorrente não apenas, mas fortemente, da fragmentação da esquerda e de sua autocrítica desencadeada pelo regime civil-militar. Desse modo, “especialmente depois de 1964, com a consolidação da indústria cultural no Brasil, surgiu um segmento de mercado ávido por produtos culturais de contestação à ditadura: livros, canções, peças de teatro, revistas, jornais, filmes etc. de modo que a brasilidade revolucionária, antimercantil e questionadora da reificação, encontrava contraditoriamente grande aceitação no mercado” (p. 98).
Toda a ambiguidade do quadro fica indicada pela reconstituição da repercussão do livro Tudo que é sólido desmancha no ar de Marshall Berman, publicado em 1986. Nota-se, novamente, a escolha bem pensada do material para o tratamento do problema que move o trabalho, pois com ele, acessa a “porta de entrada para pensar o entrelaçamento entre o campo intelectual e a indústria cultural no Brasil, bem como a relação entre mercado e pensamento de esquerda” (p. 145). Para dizer tudo num jargão familiar aos leitores: forma mercantil com conteúdo do campo “revolucionário” – é contraditório, mas, oferece síntese? Se sim, qual; se não, que fazer? No plano das trajetórias, o dilema se manifesta, genericamente, na figura do “intelectual atormentado com sua condição relativamente privilegiada, de portador de projetos de vanguarda numa sociedade subdesenvolvida e desigual”, mas “crescentemente seduzido pelo acesso individual ao desenvolvimento de um mundo globalizado, embora seu discurso por vezes mantenha tons esquerdistas” (p. 169).
Se nos fosse permitido, elaboraríamos a questão do seguinte modo. Assinala-se o ocaso do partido como instância fundamental da organização da produção afinada com o repertório cultural de esquerda, após 1964. Porém, a empreitada da modernização encampada após essa derrota requeria mão de obra qualificada. Tudo se passa como se a estrutura produtiva avançasse mais rapidamente do que as condições sociais correspondentes a ela, levando a deslocamentos de capital e mão de obra. O ritmo galopante do crescimento não comportava “esperar” a formação desta mão de obra, e se apropriou, nesse ritmo, da disponibilidade profissional – e não política – de tal qualificação. A consolidação da indústria cultural no Brasil é indissociável disso. Muito já foi dito a respeito das contradições da indústria cultural, mantendo-se rente aos conteúdos desse “cultural”. É tempo de se atinar para a “indústria”. A rotação das atenções para ela, parece-nos, segundo modesta leitura, consistir numa das contribuições salutares do presente trabalho, que tanto gostamos de ler.
Lidiane Soares Rodrigues – Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil ([email protected]).
A invenção da cultura – WAGNER (NE-C)
WAGNER, Roy. A invenção da cultura. Trad. Marcela Coelho de Souza; Alexandre Morales. São Paulo: Cosac Naify, 2010. Resenha de: GOLDMAN, Marcio. O fim da antropologia. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.89, Mar, 2011
Há três modos de abordar A invenção da cultura: enfatizar a originalidade quase absoluta do livro, seu caráter intempestivo; inventariar suas dívidas para com os autores a ele contemporâneos ou para com aqueles de um passado recente ou remoto; tentar, enfim, um equilíbrio judicioso entre a primeira e a segunda opções. Por diversas razões escolhi deliberadamente a primeira alternativa.
Deste ponto de vista, poderíamos observar inicialmente que a primeira edição de A invenção da cultura, em 1975, é quase simultânea a de dois outros livros de antropólogos norte-americanos que marcaram a antropologia contemporânea: A interpretação das culturas, de Clifford Geertz, e Cultura e razão prática, de Marshall Sahlins – publicados, respectivamente, em 1973 e 1976. O destino desses três livros, contudo, continua sendo muito diferente. Afinal, os dois últimos conheceram uma difusão e um sucesso que o primeiro mal começa a experimentar e que dificilmente terá em grau comparável. No Brasil, por exemplo, o livro de Geertz foi traduzido, ainda que parcialmente, em 1978, e o de Sahlins em 19791. E até hoje é raro encontrar um programa de curso de teoria antropológica que não os inclua na bibliografia.
A invenção da cultura, por outro lado, teve que esperar 35 anos para receber sua tradução, em ótima iniciativa da editora Cosac Naify e belo trabalho de tradução de Marcela Coelho de Souza e Alexandre Morales. Com efeito, é quase inevitável especular sobre qual teria sido o destino da antropologia brasileira se o livro de Wagner tivesse sido traduzido ainda na década de 1970 e os outros dois não. Talvez não estivéssemos ensinando uma antropologia tão afastada do que efetivamente se faz na disciplina hoje em dia; talvez tivéssemos resistido melhor ao imperialismo das análises construcionistas ou desconstrucionistas que apelam para o eterno poder e as inevitáveis manipulações ocultas atrás de qualquer situação; talvez nada tivesse acontecido… De toda forma, o que não é fácil imaginar é a tradução dos livros de Geertz e Sahlins 35 anos depois de terem sido originalmente publicados.
A “mensagem” desses livros parece tão adaptada ao momento em que foram escritos que é difícil concebê-los em outro contexto qualquer. Afinal, nos dois casos se tratava, em breves palavras, de salvar o culturalismo daquilo que sempre foi o que poderíamos chamar seu melhor inimigo, a saber, o reducionismo naturalista. Ou seja, aquilo sem o que a antropologia cultural simplesmente não pode funcionar, na medida em que lhe faltaria esse seu “outro”, aquele que define, equivocadamente sem dúvida, o que a cultura elabora, interpreta, simboliza ou transcende – a natureza.
Observemos também, ainda que de passagem, que esse naturalismo se apresentava, tanto a Geertz como a Sahlins, sob uma dupla forma. De um lado, as antropologias ditas ecológicas ou materialistas, que ambos simplesmente recusam; de outro, uma versão muito mais complicada, sofisticada e, talvez, inesperada, o estruturalismo levistraussiano. Afinal, apenas dois anos antes da publicação do livro de Geertz, Lévi-Strauss havia concluído sua mitológica tetralogia – em que a demonstração da incrível sofisticação de que era capaz o pensamento indígena parecia anular qualquer possibilidade de redução – com um livro significativamente intitulado O homem nu, que conclui com a peremptória afirmativa de que, no final das contas, tudo não passa do produto da atividade do cérebro humano, ele mesmo produto de um complexo processo de evolução natural: higher naturalism2, como definiu Sahlins; hypermodern intellectualism, nas palavras de Geertz3. Mas, se Geertz parece simplesmente recusar a alternativa levistraussiana buscando refúgio numa hermenêutica que invariavelmente funciona como saída sofisticada para os que não gostam da noção de estrutura, a reação de Sahlins é diferente. Oriundo, ele próprio, de uma tradição antropológica materialista e neoevolucionista, um estágio em Paris o fez imaginar a possibilidade de, por assim dizer, embutir o estruturalismo no culturalismo, fazendo das “estruturas da mente” os “instrumentos da cultura”, não sua “condição”4, e da própria estrutura apenas uma parte da cultura e da história.
O livro de Wagner segue um caminho bem diferente, seja em relação ao interpretativismo geertziano, seja em face do culturalismo estruturalizado de Sahlins. Tão diferente que podemos ter hoje a sensação de que não são apenas um ou dois anos para mais ou para menos que separam A invenção da cultura desses dois outros livros, mas algo como meio século! De fato, se A interpretação das culturas e Cultura e razão prática soam hoje como anúncio do fim (no duplo sentido de acabamento e de término) de uma antropologia fin de siècle (século XX), A Invenção da cultura parece anunciar o início de outra coisa, que poderíamos imaginar como uma das possibilidades abertas para a antropologia do século XXI.
A esse respeito, talvez valha a pena observar que os leitmotifs centrais das obras de Geertz e Sahlins – a interpretação e a simbolização, respectivamente – não deixam de ser evocados por Wagner, ainda que para preparar outras reflexões. Assim, desde o início do livro, a “interpretação” aparece na forma da “moderna cultura interpretativa americana” (p. 10), tema que será desenvolvido no item “A magia da propaganda” (pp. 107-19) do capítulo 3 de modo evidentemente bem distinto daquele de Geertz. Pois aquilo que este trata como um dispositivo metodológico que apenas prolonga e torna mais sofisticado um procedimento inerente a qualquer cultura humana (a “interpretação”, justamente) será analisado por Wagner como uma singularidade de uma cultura particular, a “norte-americana”. Em termos mais precisos, pode bem ser que a interpretação seja um modo universal de lidar com o mundo e com a sociedade, mas o problema é que essa generalidade não nos diz nada sobre seu funcionamento em situações concretas e específicas. Isso significa, claro, que ela pode perfeitamente operar de acordo com a mecânica básica dos dispositivos chamados etnocêntricos: implementar como universal aquilo que é uma característica particular da cultura do próprio antropólogo. Neste caso, como insiste Wagner, tentando tornar cada vez mais transparente o caráter convencional da cultura em que vivemos. Ou, o que dá no mesmo, fomentando o desejo de nos tornarmos autoconscientes daquilo que, não obstante, sustentamos que nos determina. Na antropologia, sabemos bem onde tudo isso foi parar, na nossa versão particular do “pós-modernismo”, e não é casual que tenham sido alunos ou discípulos infiéis de Geertz os que lançaram a moda entre nós5.
Antes de nos determos um pouco no chamado pós-modernismo antropológico, contudo, observemos que também a oposição entre “razão prática” e “razão cultural”, que estrutura o livro de Sahlins, é de algum modo retomada em A invenção da cultura. No entanto, ao contrário do estilo épico de Sahlins, que opõe as duas razões quase como o diabo ao bom deus, Wagner sublinha o fato de que as duas variedades de antropologia derivadas dessa oposição compartilham um mesmo solo ou, ao menos, uma necessidade comum. Pois se as antropologias naturalistas ou naturalizantes (analisadas no item “Controlando a cultura”, pp. 214-20, cap. 6) atribuem uma ordem tão determinada e tão determinante à natureza, o efeito (a “contra-invenção”) dessa atribuição é estabelecer um rigoroso controle sobre a cultura, eliminando tudo o que esta pode ter de criativo e indeterminado. Por outro lado (como exposto no item “Controlando a natureza”, pp. 221-29, cap. 6), mas de modo simétrico, as antropologias culturalistas (e nada impede que as duas variedades possam coexistir em doses variáveis) atribuirão todo ou quase todo poder de determinação à cultura, de tal forma que o controle incidirá agora do lado da natureza, cujo poder e indeterminação poderão aparecer doravante como meros limites da própria cultura.
Nem interpretação, nem simbolização, o conceito central do livro de Wagner, claro, é o de invenção. Mas neste ponto é preciso ter cautela. Como observa Martin Holbraad, na ótima “orelha” escrita para a edição brasileira, o termo “invenção” tem o mau hábito de despertar uma série de associações de ideias, todas igualmente inadequadas para a compreensão correta do sentido do conceito wagneriano. Grosso modo, podemos dizer que, ao ouvir a palavra “invenção”, somos quase invariável e inevitavelmente conduzidos a noções como a de “artifício”, no mau sentido da palavra, ou seja, como aquilo que é “artificial” e se opõe ao “real”. Na definição do dicionário Houaiss, “invenção” é “coisa imaginada que se dá como verdadeira; invencionice, fantasia”; “coisa imaginada de modo astucioso, frequentemente com objetivos escusos”; ou “o que não pertence ao mundo real; imaginação, fábula, ficção, engano”. Claro que também é “imaginação produtiva ou criadora, capacidade criativa; inventividade, inventiva”; e “faculdade de criar, de conceber algo novo ou de pôr em prática, de executar uma ideia, uma concepção; criação”.
Por razões que próprio Wagner esclarece, os antropólogos parecem preferir as definições negativas às positivas. Assim, quando se fala na “invenção das tradições”, imagina-se imediatamente que estas são “falsas”, no sentido de não corresponderem à história que contam de si mesmas, e que certamente foram engendradas por alguém com objetivos pouco confessáveis. Talvez seja por isso que no curto post scriptum que escreveu para a edição brasileira, Wagner observe, de forma curiosa, que “em certo sentido, a invenção não é absolutamente um processo inventivo, mas um processo de obviação” (p. 240). Pois se em 1975 ou 1981 não era possível imaginar a direção que a compreensão da noção de invenção tomaria, em 2010 sabemos exatamente como as coisas se passaram. E isso ainda que A invenção da cultura chame a atenção para o fato de que as “tradições são tão dependentes de contínua reinvenção quanto as idiossincrasias, detalhes e cacoetes” (p. 94). O que significa que “invenção” e “inovação” não são a mesma coisa (p. 77) que toda tradição é inventada e que, em uma expressão como “invenção das tradições”, o primeiro termo (processo de invenção) deveria ser muito mais importante do que o segundo (o que acabou sendo inventado).
Adiante veremos como liberar a noção de invenção de seu estatuto crítico. Mas, antes, se vale a pena distinguir com clareza o pensamento de Roy Wagner daquele dos mais importantes antropólogos norte-americanos mais ou menos a ele contemporâneos6, isso também é verdade em relação àquilo que se seguiu à publicação de A invenção da cultura na antropologia norte-americana. Como se sabe, esta tem a fama de ter passado por uma profunda revolução a partir de meados da década de 1980, quando a publicação de Writing culture anunciou o advento do pós-modernismo na antropologia. Salvo engano, A invenção da cultura é citado apenas uma vez nesse livro, logo na “Introdução”, de James Clifford7. E o é justamente, e apenas, para opor a noção de “invenção” à de “representação” – ou seja, para ilustrar o ponto central de Writing culture, o de que as etnografias que os antropólogos escrevem são obras de ficção, não representações da realidade. É o sentido crítico da noção de invenção que opera, só que agora dotado de uma aparente positividade que não possuía.
De todo modo, não se trata aqui de tentar ressuscitar os mortos, nem o pós-modernismo antropológico, nem as críticas tradicionais que a ele foram dirigidas. Um quarto de século depois, creio que o melhor que se pode dizer dos chamados pós-modernos é que foram capazes de levantar algumas questões realmente importantes, ainda que não tenham oferecido respostas interessantes para nenhuma delas! Isso provavelmente porque seus objetivos nunca foram os de responder ao que quer que fosse, mas, como se dizia, de adotar uma postura “irônica”, quer dizer, a daqueles que ao menos sabem que nada sabem ou podem saber com certeza. Postura responsável, talvez, pela incapacidade última de transformar a “crítica da representação” e o anúncio do caráter inevitavelmente ficcional da etnografia em um novo começo para a antropologia. Afinal, como escreveu o autor nigeriano Chinua Achebe, embora toda “ficção seja indubitavelmente fictícia, ela também pode ser verdadeira ou falsa, não com a verdade ou a falsidade de um noticiário, mas em relação a sua imparcialidade, intenção, integridade”8.
Esse novo começo exigia reunir de forma mais consistente a crítica da representação como forma de conhecimento e forma de poder. Ou seja, exigia renunciar à representação não porque é falsa ou ficcional, nem mesmo porque é sempre uma relação de poder que concede a alguém o direito de representar outrem, mas sim porque a representação faz parte do conjunto de prolongamentos das relações de poder que o Ocidente capitalista estabeleceu dentro do texto antropológico com as demais sociedades do planeta9. É justamente o reconhecimento do caráter imanente das relações estabelecidas pelo poder com o texto antropológico que teria podido abrir linhas de fuga para o antropólogo escritor, uma vez que ele estaria às voltas com as relações de poder no espaço parcialmente sob seu controle, o próprio texto antropológico. Nesse sentido, teria sido possível levantar uma questão ao mesmo tempo epistemológica, ética e política: como proceder de modo a não reproduzir, no plano da produção de conhecimento antropológico, as relações de dominação a que os grupos com quem os antropólogos trabalham se acham submetidos?
Para isso, não era necessário ter ido muito longe. Bastaria ter conectado a crítica da antropologia enquanto representação com aquela, pouco mais antiga, que criticava o saber antropológico expondo suas relações de dependência para com o empreendimento colonialista. Não no sentido megalomaníaco que faria da antropologia um saber fundamental para o colonialismo, mas, como sustentou Talal Asad10, no sentido em que o colonialismo é importante demais para a antropologia, obrigando-a, consequentemente, a buscar romper essa dependência política, ética e epistemológica:
A antropologia histórica espelhava a ideologia dos impérios coloniais e supra–étnicos tardios da Grã–Bretanha, da França, de países da Europa Central e outros (esses impérios quase que literalmente “fizeram” a evolução e a difusão Culturais como política pública). A antropologia sistêmica refletia a urgência racional da mobilização de guerra e o Estado–nação econômico (p. 231, grifos meus).
Mas se a atenção a esta relação entre escolas e conceitos antropológicos com os empreendimentos colonialistas e imperialistas (estabelecida aqui de uma forma que poderíamos qualificar de imanente ou intrínseca) demonstra, creio, o interesse de Wagner na questão levantada por Asad, o trecho que se segue mostra que a linha de fuga por ele traçada segue uma trajetória bem diferente daquela esboçada na coletânea organizada pelo segundo11:
A curiosa “evolução” através da qual cada um dos sucessivos episódios paradigmáticos conduziu a si mesmo no sentido da obviação e contradição de seus pressupostos originais fornece a evidência mais convincente da natureza da antropologia como disciplina acadêmica. Trata–se de uma ação de contenção contra a relatividade, uma espécie de fixativo teórico que erige insight introspectivo em teoria culturalmente corroborativa (pp. 231–232).
Wagner aposta, pois, na radicalização do poder subversivo da prática etnográfica da antropologia – e não na análise das próprias relações entre a antropologia e o colonialismo ou o imperialismo – como meio capaz de romper com a dependência da primeira em face dos segundos.
Nesse sentido, o problema central do pós-modernismo antropológico, como Wagner mostrou em uma resenha pouco conhecida que escreveu sobre Writing culture12, é a pretensão de “fazer com a etnografia o que uma antropologia mais segura de si e menos cínica (a ‘Grande Teoria’, como se diz) fez com a teoria – desenvolver poderosos e decisivos cânones de compreensão”. Ou seja, introjetar na própria etnografia os mecanismos de controle em geral empregados pela teoria. Assim, se o antropólogo tradicional opera como uma espécie de crítico do fato – no sentido do crítico de arte que tenta mostrar que, por maior que seja a novidade aparente do que está sendo apresentado, “tudo já foi dito antes” (p. 235) e na verdade não está acontecendo nada -, o antropólogo pós-moderno pode ser entendido como o crítico de um “teatro do fato”, utilizado a “autoridade” (“a peça dentro da peça”, como a define Wagner) como meio de controle adicional. Nem as ideias, nem os fatos devem ter o poder de espantar ninguém!
Para traçar essa linha de fuga, Wagner foi obrigado, em primeiro lugar, a redefinir, ou a redirecionar, tanto a noção de invenção como a de cultura. É por isso que cada palavra do título deste livro – incluindo o artigo e a preposição – são fundamentais e devem ser bem compreendidas. Para começar, o que significa “invenção” em A invenção da cultura?
No início de O que é a filosofia, Deleuze e Guattari13, após definirem provisoriamente essa atividade como “a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos”, e de argumentarem que os conceitos, na verdade, “não são necessariamente formas, achados ou produtos”, concluem que “a filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos”. Eu arriscaria dizer que no livro de Wagner a noção de invenção deve ser entendida rigorosamente no sentido estabelecido por Deleuze e Guattari para a noção de criação14.
Isso significa que a “invenção” de Wagner não consiste nem na imposição de uma forma ativa externa a uma matéria inerte, nem da descoberta de uma pura novidade, nem na fabricação de um produto final a partir de uma matéria-prima qualquer. Isso a afasta dos modelos mais recorrentes utilizados no Ocidente para pensar o ato de criação: o modelo hilemórfico grego15, o judaico-cristão da criação ex nihilo, o modelo capitalista de produção e da propriedade16. A invenção wagneriana é, antes, da ordem da metamorfose contínua, como acontece na imensa maioria das cosmogonias estudadas pelos antropólogos, em que as forças, o mundo e os seres são sempre criados e recriados a partir de algo preexistente. Ponto que acarreta uma série de consequências.
A primeira é o fato de que esse conceito de invenção-criação tem mais a ver com arte do que com ciência e técnicas. Não é por acaso que a pintura de Bruegel, Rembrandt, Rubens e Vermeer, a poesia de Morgenstern e Rilke, a música de Beethoven, Haydn, Mozart e o jazz aparecem ao longo do livro como meios de explicação da atividade do antropólogo. Pois esta atividade é definida justamente em termos de sua criatividade, termo que gera o título do segundo capítulo (“A cultura como criatividade”) e que aparece, direta ou correlatamente, mais de cem vezes ao longo do texto. A particularidade da antropologia é que a criatividade do antropólogo depende de outra (e de outrem): aquela das pessoas com quem escolheu conviver durante um período de sua vida. Aqui tocamos num ponto fundamental, pois o reconhecimento da criatividade daqueles que “estudam” é, para Wagner, condição de possibilidade da prática antropológica. Mais do que isso, o antropólogo deve estar preparado e disposto a assumir duas premissas: reconhecer naqueles que estuda o mesmo nível de criatividade que crê possuir; não assimilar a forma, ou o “estilo”, de criatividade que encontra no campo com aquele com o qual está acostumado e que ele próprio pratica.
Wagner é, assim, o primeiro a propor um verdadeiro construtivismo para a antropologia. Ou, pelo menos, a elaborar o acabamento daquele há muito estabelecido por Malinowski ao anunciar o trabalho de campo como o único procedimento adequado para a antropologia então “moderna”. Foi ainda em 1935 que ele sustentou que esse trabalho de campo seria, sobretudo, uma atividade construtiva ou criativa, uma vez que os fatos etnográficos “não existem”, sendo preciso, portanto, um “método para a descoberta de fatos invisíveis por meio da inferência construtiva”17 – posição que, infelizmente, não parece ter tido muito eco ao longo da história da disciplina.
A esse respeito, mais uma vez, é preciso atenção. O construtivismo wagneriano (e já o malinowskiano) tem pouco ou nada a ver com a ladainha pseudo politizadora do famigerado construcionismo social. Este, como se sabe, dedica-se a afirmar o caráter “socialmente construído” do que quer que seja (das relações de parentesco aos genes e planetas), mas concede um estranho direito de exceção a seus próprios procedimentos, bem como àquilo a que atribui o papel de grande arquiteto, a saber, as relações sociais e políticas que apenas o analista tem a miraculosa capacidade de enxergar. Assim, não pode haver dúvidas de que os agentes sociais passam todo seu tempo construindo, mas, infelizmente, não são capazes de perceber que estão construindo, “naturalizando” e “essencializando”, como se diz, tudo o que pensam encontrar pelo caminho, mas que, na verdade, foram eles mesmos que fizeram. Cabe ao analista, então, “desconstruir” essas ilusões, o que faz com que, estranhamente, construcionismo social e desconstrucionismo queiram dizer exatamente a mesma coisa. Durkheim ao menos sabia o que é essa “sociedade” que tudo cria mas que é, ela própria, incriada: Deus – e nada poderia ser mais diferente da ideia de uma invenção criativa da cultura. É por isso, aliás, que “trabalho de campo é trabalho no campo” (p. 49).
No entanto, há os que pensam que a posição de Wagner coincide com esse fetichismo generalizado do qual apenas o antropólogo está isento, essa espécie de “criacionismo de pobre”, como o definiu Latour18. O problema é que quando se supõe que a cultura a ser estudada pelo antropólogo é “socialmente construída”, não apenas “a invenção da cultura” se torna uma “invencionice” como, por vezes, os próprios nativos passam por ter sido “socialmente construídos” por um antropólogo interesseiro19. Para isso, claro, é preciso imaginar um “nativo-em-si” (por exemplo, os Daribi das Terras Altas da Papua Nova Guiné, que Wagner estudou, ou os Bororo do Brasil Central) absolutamente impenetrável para a nossa compreensão a qual, não obstante, se torna surpreendentemente poderosa e clarividente quando se trata de determinar os verdadeiros motivos e causas sociais e políticas que levaram o antropólogo a “construir” os nativos desta ou daquela forma.
Wagner, no entanto, jamais afirma que o antropólogo inventa a cultura, porque não há nada para ver ou porque é incapaz de compreender o que pensa que vê. O problema é outro, é que há coisas demais para serem vistas, ideias demais para serem compreendidas e muito pouco tempo para fazê-lo. O antropólogo faz o que pode, inventando a cultura para tentar conferir um mínimo de ordem e inteligibilidade lá onde a plenitude da vida as dispensa completamente. Nesse sentido, Wagner é provavelmente o primeiro antropólogo a fazer da vida (e não da evolução, história, função, estrutura, cognição…) o referente último do trabalho antropológico. Além de fundar o construtivismo em antropologia, ele também funda uma espécie de vitalismo antropológico20.
O construtivismo, no entanto, só pode funcionar se for completo e generalizado, e a obrigação do antropólogo é que sua criação faça aparecer a criatividade da qual ela mesma depende (a sua própria) e, principalmente, a das pessoas com quem trabalha. Ele se assemelha, assim, a um desses demiurgos das mitologias que estuda, aqueles que criam um mundo lá onde outro mundo já existia e sempre existiu. Nesse processo, há duas tentações às quais deve resistir: imaginar que está apenas “representando” o que existe em si e por si mesmo; pretender estar criando a partir do nada.
Em ambos os casos a criatividade daqueles que estudamos é recusada. No primeiro – que corresponde, grosso modo, às antropologias que Wagner designa como “diacrônica” ou “histórica” e “sincrônicas” ou “sistêmicas” (p. 230) -, essa recusa se disfarça sob uma aparente afirmação. Afinal, se os antropólogos nada fazem além de representar as outras culturas, apenas as pessoas que aí vivem podem ser as responsáveis por elas. O problema é que essas antropologias só afirmam tal criatividade para negá-la, ao atribuírem papel determinante a forças que as pessoas não conhecem e não controlam: evolução, ordem, função, sentido, inconsciente ou o que quer que seja. No segundo caso que corresponde mais ou menos aos pós-modernismos, construcionismos e desconstrucionismos dos últimos anos -, estaríamos às voltas com uma recusa ainda mais absoluta: a criatividade nativa é vista como uma espécie de quimera à qual simplesmente não podemos ter acesso. Inconscientes num caso, incognoscíveis no outro, o papel dos nativos é servir de modelo para um academicismo21 da representação ou de pretexto para um pessimismo da ficção. Ambos nos livram de todos os riscos, nos deixam intactos e incólumes, mas, ao mesmo tempo, incapazes de sermos afetados, modificados, ou seja, impossibilitados de pensar:
O passo crucial que é simultaneamente ético e teórico consiste em permanecer fiel às implicações de nossa pressuposição da cultura. Se nossa cultura é criativa, então as “culturas” que estudamos, assim como outros casos desse fenômeno, também têm de sê–lo. Pois toda vez que fazemos com que outros se tornem parte de uma “realidade” que inventamos sozinhos, negando–lhes sua criatividade ao usurpar seu direito de criar, usamos essas pessoas e seu modo de vida e as tornamos subservientes a nós (p. 46).
Se a criatividade é um fenômenos geral, ainda que se manifeste sempre sob determinados estilos, o antropólogo lida com um tipo particular de invenção, a “da cultura”. Em 1975, não seria difícil dizer da cultura o que Descartes dizia do bom senso: que é a coisa mais bem dividida do mundo22. A invenção, por outro lado, parecia privilégio de poucos (nós mesmos, na verdade). Trinta e cinco anos depois, as coisas parecem ter se modificado. A invenção, no mau sentido da palavra, claro, parece estar em toda parte, e a cultura (ou a tradição) só existe porque é uma invenção de nativos e/ou de antropólogos defendendo seus próprios interesses.
De certo modo, Wagner já havia invertido o quadro. É a invenção, no bom sentido de criatividade, que constitui o plano de consistência de todos os humanos (e talvez não só deles); a invenção da cultura, por outro lado, corresponde a um episódio histórico (cultural) muito específico, ocorrido em certo momento da história do mundo ocidental. É nesse sentido que poderíamos dizer que Wagner elabora uma noção de cultura propriamente cultural, ao estabelecer que dela faz parte intrínseca e constitutiva a explicitação de que a noção de cultura é ela mesma um artefato cultural, ou seja, produto de um ponto de vista cultural específico – o nosso.
O ponto fundamental, contudo, é que a origem “ocidental” da noção não é um atestado de impotência ou malignidade, mas apenas o signo de um trabalho a ser continuamente realizado. Assim, que nossa noção de cultura derive da de “cultivo” e que, mais tarde, tenha recebido seu sentido “sala de ópera” (pp. 53-4), só se torna um problema quando interrompemos o processo de derivação ou “metaforização” (p. 54), literalizando um sentido que é sempre local, transitório e instável. Cada um pensa e fala com as palavras e as categorias de que dispõe, e a grande questão é como proceder de modo que elas sejam capazes de dizer mais, ou outra coisa, do que o de costume, mantendo, não obstante, sua inteligibilidade23.
Aqui devemos retroceder um pouco. O brevíssimo quadro da moderna antropologia culturalista norte-americana esboçado no início desta resenha deixou intencionalmente de fora aquele que é certamente a mais importante “influência” sobre Wagner, seu orientador no doutorado David Schneider, a quem A invenção da cultura é dedicado. Ao lado de Geertz e Sahlins, Schneider completa a trinca de autores que de algum modo acabam (no duplo sentido da palavra) o culturalismo antropológico. Ora, o ponto fundamental do principal trabalho de Schneider24– e nisso reside, creio, sua originalidade em relação a todos os demais culturalistas – consiste em sustentar que ainda que seja inevitável investigar outras culturas a partir de categorias da nossa (o parentesco, no caso), isso não pode nos fazer imaginar que nossas categorias sejam universais. Assim, e ao contrário do que muitos imaginam, não creio que o livro de Schneider simplesmente condene o estudo antropológico do parentesco por ser este, afinal, uma “categoria ocidental” (qual não seria?). Trata-se, antes, de utilizar o parentesco de um modo que Wagner designará por “analógico” (ver, por exemplo, pp. 41-45). É nesse sentido que A invenção da cultura pode ser lido como uma extensão da proposta de Schneider: por que nos determos no parentesco uma vez que a própria noção de cultura também é exclusivamente “nossa”?
Mais uma vez, isso não significa condenar a antropologia por ser um empreendimento ocidental. Ela certamente o é, mas a questão é o que se pode fazer a partir dessa constatação. Assim, vimos que a noção de cultura como cultivo foi analogicamente estendida à de cultura “sala de ópera”, o que permite imaginar que a noção antropológica de cultura consiste numa nova extensão analógica:
O uso antropológico de “cultura” constitui uma metaforização ulterior, se não uma democratização, dessa acepção essencialmente elitista e aristocrática. Ele equivale a uma extensão abstrata da noção de domesticação e refinamento humanos do indivíduo para o coletivo, de modo que podemos falar de cultura como controle, refinamento e aperfeiçoamento gerais do homem por ele mesmo, em lugar da conspicuidade de um só homem nesse aspecto (p. 54).
Um dos argumentos centrais subjacentes em A invenção da cultura é que tanto as mudanças históricas (como as que os críticos da antropologia colonial enfatizavam) como as teóricas (de que tanto gostavam os pós-modernos) exigem uma nova extensão do conceito de cultura, extensão que seja capaz de conectá-lo com o de invenção-criação, reconhecendo assim nas “culturas” uma criatividade cuja universalidade, no entanto, não possa apagar as singularidades dos estilos locais.
Esse mecanismo de extensão do significado é o que Wagner denomina metáfora, alegoria ou, mais usualmente, analogia, e corresponde, também, à “diferenciação”. O procedimento analógico deve obedecer a três princípios fundamentais. Primeiro, só pode operar num campo de diferenças, o que significa que, evidentemente, só precisamos de analogias quando nos defrontamos com situações à primeira vista irredutíveis às que nos são habituais – ou seja, analogia não é sinônimo de semelhança. Em segundo lugar, nenhum dos dois termos colocados em relação pela analogia deve estar situado em um plano superior ao outro, como se o primeiro fosse capaz de revelar a verdade oculta do segundo – analogia não significa explicação. Por fim, os dois termos devem ser afetados pelo processo, de tal modo que o conceito ocidental de cultura, por exemplo, tem que ser ao menos ligeiramente subvertido quando serve de analogia para a vida nativa – o que significa que a analogia é da ordem da relação: “a ideia de ‘relação’ é importante aqui pois é mais apropriada à conciliação de duas entidades ou pontos de vista equivalentes do que noções como ‘análise’ ou ‘exame’, com suas pretensões de objetividade absoluta” (p. 29).
É nesse sentido que a cultura só pode ser inventada em situações de “choque cultural” (p. 34), choque que, paradoxalmente, preexiste à própria cultura; e é por isso, também, que “todo ser humano é um ‘antropólogo’, um inventor de cultura” (p. 76) em situações de ininteligibilidade primeira. Isso significa, ao mesmo tempo – ponto importante a fim de evitar a tradicional húbris antropológica -, que todo antropólogo é apenas um ser humano, operando em condições mais ou menos especiais. Ao contrário da nossa tradicional pretensão, o máximo a que o podemos almejar é viver em dois (ou mais) mundos ou modos de vida diferentes, mas não entre as culturas, como se fôssemos capazes de transcendê-las:
Assim é que gradualmente, no curso do trabalho de campo, ele próprio se torna o elo entre culturas por força de sua vivência em ambas; e é esse “conhecimento” e essa competência que ele mobiliza ao descrever e explicar a cultura estudada. “Cultura”, nesse sentido, traça um sinal de igualdade invisível entre o conhecedor (que vem a conhecer a si próprio) e o conhecido (que constitui uma comunidade de conhecedores) (p. 30).
É por isso, enfim, que o estatuto da noção de cultura ao longo de
A invenção da cultura é muito complexo, uma vez que Wagner parece defini-lo de diferentes modos ou, para ser mais preciso, encará-lo de diferentes ângulos. Ele aparece ora em sentido forte, ora em sentido fraco, o que não significa, de modo algum, que o primeiro seja melhor que o segundo. A “cultura” começa sendo definida como o que todo mundo tem; depois, como o que só nós temos e que os outros só têm porque nós a colocamos lá; mais tarde como aquilo que ninguém tem; e, por fim, como aquilo que todo mundo tem porque a cria em situações relacionais específicas. Nos termos do próprio Wagner, a cultura começa como dada e passa para a ordem do feito – primeiro como falsa invenção e depois, enfim, como invenção-criação.
Passemos, então, ao “da”, que separa “invenção” e “cultura”. Nossos hábitos acadêmicos são tão arraigados que podem nos fazer imaginar que esse partícula poderia significar apenas que é a cultura que é inventada. Se isso fosse verdade, contudo, todo o livro perderia o sentido, pois seu ponto central é justamente mostrar que a invenção da cultura é inseparável daquilo que a cultura inventa. A cultura “inventada” corresponde, basicamente, ao que Wagner denomina “convenção”; a cultura “inventante” ao que ele chama de “diferenciação” – talvez os conceitos centrais do livro.
Convenção e diferenciação constituem, em primeiro lugar, os dois mecanismos básicos da semiótica particular adotada por Wagner. Nesse sentido, ponto crucial, não constituem dois “tipos” de coisas, mas as duas faces da mesma realidade (ver p. 88). Simbolizar é sempre utilizar de forma “diferenciada” símbolos que fazem parte de uma “convenção”, e é apenas o peso respectivo de cada procedimento em cada ato simbólico que varia. É por isso que “a distinção [é] mais complicada do que dicotomias simplistas do tipo ‘progressista-conservador’, apropriadamente parodiadas por Marshall Sahlins na expressão ‘the West and the Rest’” (p. 16).
Por outro lado, quando nós confrontamos nossa própria cultura ou, para ser mais preciso, a “moderna cultura interpretativa norte-americana”, com os Daribi – ou com qualquer conjunto que Wagner designa alternadamente com combinações dos substantivos classes, grupos, povos, sociedades, tradições, e dos adjetivos camponeses, trabalhadoras, étnicas, não racionalistas, religiosos, tribais -,nós temos a sensação que o investimento no convencional e no diferenciante muda de lugar. Assim, tendemos a imaginar que nossas regras são puramente convencionais, aquilo que fazemos e, consequentemente, o domínio que está sob nossa responsabilidade (p. 19) e onde investiremos nossa criatividade. Mas os Daribi e muitos outros parecem imaginar o contrário, a saber, que este reino, para nós convencional e feito, é da ordem do dado. Até aí, convenhamos, não há muita novidade: a imagem de primitivos vivendo sob o império de uma tradição que consideram transcendente é muito antiga. O que faz de Roy Wagner o mais original dos antropólogos desde Lévi-Strauss é ter colocado a questão que faltava: onde, então, esses “primitivos” investem sua criatividade? Num enorme esforço para se singularizar diante de uma convenção dada, é a resposta.
Isso traz enormes consequências. Enquanto o Ocidente foi construindo, ao longo dos séculos, a hipótese (que toma como dado) de uma natureza “lá fora” e, no entanto, controlável (p. 225), os Daribi, os Bororo e outros parecem preferir o “‘mundo como hipótese’, que nunca se submete às exigências rigorosas da ‘prova’ ou legitimação final, um mundo não científico” (p. 171). Mas, de novo, não há necessidade de querer enxergar aqui mais um grande divisor:
O homem é tantas coisas que se fica tentado a apresentá–lo em trajes particularmente bizarros, só para mostrar o que ele é capaz de fazer […]. E no entanto tudo o que ele é ele também não é, pois sua mais constante natureza não é a de ser, mas a de devir (pp. 212–3).
Tudo isso pode parecer meio estranho, mas é, na verdade, bem simples. A “improvisação”, define o Dictionnaire encyclopédique de la musique25, é a “execução musical criada na medida em que é tocada”, ou “a composição ou performance livre inesperada de uma passagem musical, em geral de acordo com certas normas estilísticas mas livre das características prescritivas de um texto musical específico”, como prefere a Britannica. Se nós, “de forma consciente e intencional, ‘fazemos’ a distinção entre o que é inato e o que é artificial ao articular os controles de uma Cultura coletiva, convencional”, “o que dizer daqueles povos que convencionalmente ‘fazem’ o particular e o incidental, cujas vidas parecem ser uma espécie de improvisação contínua?” (pp. 142-3), e onde os controles
[…] não são Cultura; não são pensados para serem “executados” ou seguidos como um “código”, mas para serem usados como a base da improvisação inventiva […]. Os controles são temas para interpretação e variação um pouco ao modo do jazz, que vive da constante improvisação de seu tema (pp. 144–5).
A aproximação com a música permite levantar, ainda, três pontos complementares. Primeiro, nem tudo é permitido, e as improvisações têm que ser levadas a sério pelos outros, ou seja, não podem perder suas relações com a convenção. Pois elas também podem se tornar, como exclamou o grande pianista de jazz Thelonius Monk ao interromper uma sessão de improvisação, wrong mistakes (ver p. 139, para os “erros necessários” para a invenção da personalidade). Segundo, o fato de que tanto a noção de estilo como a de interpretação devem ser entendidas, em Wagner, mais no sentido musical do que culturalista ou hermenêutico dos termos. Um bom músico é capaz de tocar em mais de um estilo e de “interpretar” uma obra de diferentes maneiras. A “oposição” entre culturas convencionais e diferenciantes, ou entre os norte-americanos e os daribi, serve apenas para estabilizar provisoriamente a tensão dialética existente em todo processo de simbolização, e só deve ser sustentada enquanto rende alguma coisa. Mas ela também pode ser estabilizada no interior de uma cultura, de um indivíduo ou de um ato simbólico singular se isso for interessante26.
Por fim, é curioso que, em inglês, improvisation também se diga extemporization, que, em português, nos leva a “extemporâneo” e “intempestivo”, quer dizer, a Nietzsche. Não é à toa que as últimas palavras de A invenção a cultura– “demasiado humana” – sejam deste autor, citado apenas mais uma vez no livro (pp. 141). Há alguma coisa no pensamento de Nietzsche sobre a cultura como máquina de repressão da vida, e sobre a criatividade como única forma de escapar disso, que ecoa no livro de Wagner. Claro que este, antropólogo, adverte para o fato de que é a antropologia que pode funcionar como máquina de repressão na medida em que converte a vida em cultura. Se essa conversão é inevitável – uma vez que o antropólogo precisa dela para tornar a vida que escolheu viver entre outras pessoas vivível, e, depois, inteligível -, cabe a ele inventar uma noção de cultura que combata ativamente sua pulsão repressora. Questão que não pode ser resolvida de uma vez por todas e que, por isso, nos obriga a estarmos sempre às voltas com ela. Nesse sentido, o livro poderia se chamar “Diferenciação da convencionalização” – ou vice-versa!
Para terminar com o título, resta o pequeno artigo definido “a” – mas mesmo ele é fundamental. Na sua ausência, o título poderia sugerir uma generalidade do processo de invenção que Wagner pretende a todo custo evitar. O “a” responde justamente pelo caráter abstrato do conceito de invenção da cultura, mas abstrato no sentido preciso de que apenas assinala uma condição que pode ser preenchida de diferentes maneiras, uma vez que cada invenção é sempre efetuada de acordo com um estilo particular:
E porque a percepção e a compreensão dos outros só podem proceder mediante uma espécie de analogia, conhecendo–os por meio de uma extensão do familiar, cada estilo de criatividade é também um estilo de entendimento (p. 61).
É nessa chave que deve ser entendido o capital trecho acerca do que Wagner denomina “antropologia reversa” (pp. 67-72), que ele ilustra com o exemplo do culto da carga melanésio. Trata-se, de um lado, de imaginar simetricamente a literalização das “metáforas da civilização industrial moderna do ponto de vista das sociedades tribais” (p. 69); e, de outro, de entender esse “gênero pragmático de antropologia” (p. 71) – uma vez que ele evidentemente não assumirá a forma de uma disciplina acadêmica, constituindo, antes, um análogo desta – no sentido em que se fala de “engenharia reversa”. Ou seja, da desmontagem de uma caixa-preta (no caso, a própria antropologia que praticamos) não apenas no intuito de desvendar seus mecanismos de funcionamento, mas, principalmente, de se tornar capaz de reconstituí-los. Em suma, a antropologia reversa praticada por outras sociedades explicita para nós os mecanismos que empregamos de forma implícita e, às vezes, inconfessável27.
Para concluir, poderíamos dizer que A invenção da cultura segue seus próprios pressupostos em um grau muito superior à maioria das obras. O livro é percorrido por uma série de contrastes dialéticos que o autor tem o cuidado de definir como parte de uma dialética que não almeja qualquer síntese (p. 96): contraste entre concepções de cultura (cap. 2), modos de simbolização (cap. 3), formas de subjetividade (cap. 4), estilos de socialidade (cap. 5), teorias antropológicas (cap. 6), entre outros. A ideia de síntese parece ser uma das grandes ameaças ao pensamento isoladas por Wagner. Afinal, a pretensão às grandes sínteses – ou a denúncia das falsas, tanto faz – é apenas uma “estratégia de ‘proteger
a antropologia de si mesma'” (p. 227), defendendo-a da relatividade que ela mesmo revela quando é capaz de “analisar a motivação humana em um nível radical” (p. 13). O primeiro capítulo do livro elabora justamente essa distância que separa a relatividade ameaçadora que a antropologia revela do “relativismo” que professa, relativismo que é a primeira forma de controle da própria relatividade, uma vez que, como escreveu Roland Barthes, “logo se detém no coração inalterável das coisas: é uma segurança, não uma perturbação”28. Para um espírito mais sisudo, “o fim da antropologia sintética” (p. 229), ou do “sintesismo” (234), com que Wagner encerra o livro, bem poderia ser entendido como o fim da própria antropologia. Mas, como a A invenção da cultura não se cansa de demonstrar, todo fim é a ocasião da invenção de um novo começo. Creio que nisso consiste a aposta de Roy Wagner.
Espero que o Wagner que inventei seja suficientemente flexível para escapar de uma convencionalização demasiado rápida. Porque ninguém precisa se iludir: mesmo autores tão criativos quando ele não deixam de ser incessantemente “contrainventados” na forma convencional de algo como um neo-Durkheim, cujos conceitos e ideias seriam capazes de dar conta do que quer que seja e a quem devemos devoção respeitosa. Antes de “aplicá-lo” ali e acolá, convém meditar sobre a nova forma de conexão entre fatos e teorias que pensamentos como o de Wagner nos convidam a imaginar. Certamente, coisas e ideias não são nem a mesma coisa – nem a mesma ideia. Mas isso não significa que as relações entre elas sejam da ordem da hierarquia vertical, com umas, não importa quais, sendo mais importantes do que as outras. Sua relação, como diria Guattari, é transversal; para um antropólogo, a questão é como traçar transversalmente as relações entre o que aprendeu na academia e aquilo que viu e que seus amigos lhe ensinaram no campo. Só assim, creio, poderemos responder com um “não” definitivo quando nossos amigos levantarem a questão que os daribi propuseram a Wagner: “vocês antropólogos, podem se casar com gente do governo e com missionários?”.
Notas
1 A interpretação das culturas foi traduzido para cerca de vinte línguas; Cultura e razão prática foi traduzido ao menos para o alemão, espanhol, francês, italiano e português. Mas A invenção da cultura é a primeira tradução do livro de Wagner. Além disso, o livro praticamente não foi resenhado ao ser publicado. Duas exceções – cuja incompreensão e má vontade para com o autor fazem beirar o ridículo – são: BEATTIE. J. “Roy Wagner: the invention of culture”.Rain, vol. 13, 1976, p. 10;[Links] e Blacking, J. “Wagner, Roy. The invention of culture”. Man, vol. 11, nº. 4, New Series, 1976, pp. 607-8. [Links]
2 SAHLINS, M. Culture and practical reason. Chicago: The University of Chicago Press, 1976, p. 121. [Links]
3 GEERTZ, C.The interpretation of cultures. Nova York: Basic Books, 1973, p. 359. [Links]
4 SAHLINS, op. cit., pp. 122-3.
5 Como escreveu com humor James Wafer, podemos ter saudades “do paraíso perdido da antropologia, quando era possível distinguir um tique de uma piscadela, e piscadelas reais daquelas de brincadeira” (The taste of blood: spirit possession in Brazilian candomblé. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1991, p. 117). [Links]
6 Na verdade, tanto Geertz (nascido em 1926 e falecido em 2006) como Sahlins (nascido em 1930) são seniores em relação a Wagner, que nasceu em 1938.
7 CLIFFORD, James e MARCUS, George (orgs.). Writing culture: the poetics and politics of ethnography. Berkeley: University of California Press, 1986, p. 2. [Links]
8 ACHEBE, Chinua. Home and exile. Nova York, Anchor Books, 2000, p. 33. [Links]
9 Como escreveu Michel Foucault, “a antropologia se enraíza, com efeito, numa possibilidade que pertence exclusivamente à história de nossa cultura, mais ainda, a sua relação fundamental com toda a história, e que lhe permite ligar-se às outras sociedades sob o modo da pura teoria” (Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines. Paris: PUF, 1966, p. 388).
10 ASAD, Talal. “From the history of colonial anthropology to the anthropology of western hegemony”. In: STOCKING Jr., GEORGE W. (org.). Post-Colonial situations: essays in the contextualization of ethnographic knowledge. Madison: University of Wisconsin Press, pp. 314-24, p. 315. [Links]
11 Idem (org.).Anthropology and the colonial encounter. Nova York: Humanities, 1973. [Links]
12 WAGNER, R. “The theater of fact and its critics”.Anthropological Quarterly, vol. 59, nº 2, 1986, pp. 97-9, p. 99.[Links]
13 DELEUZE, G. e GUATTARI, F. Qu’est-ce que la philosophie? Paris: Minuit , 1991, pp. 8-10. [Links]
14 Para um cuidadoso estudo sobre as possíveis relações entre os pensamentos de Wagner (além de Marilyn Strathern e Bruno Latour), de um lado, Deleuze e Guattari, de outro, ver Viveiros de Castro, E. “Filiação intensiva e aliança demoníaca”. Novos Estudos Cebrap, vol. 77, 2007, pp. 91-126. [Links]
15 DELEUZE e GUATTARI. Mille plateaux. Paris: Minuit, 1980, p. 457. [Links]
16 STRATHERN, M. The gender of the gift: problems with women and problems with society in Melanesia. Berkeley: University of California Press, 1988, pp. 18-19, passim. [Links]
17 MALINOWSKI, B. Coral gardens and their magic. Londres: George Allen & Unwin, 1935, vol. 1, p. 317. [Links]
18 LATOUR, B. Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches. Paris: Synthélabo, 1996, p. 101. [Links]
19 Como escreveu Marilyn Strathern, “etnografias são construções analíticas de acadêmicos; os povos que eles estudam não. Faz parte do exercício antropológico reconhecer que a criatividade desses povos é maior do que o que pode ser compreendido por qualquer análise” (op. cit., p. XII).
20 “A monotonia que encontramos em escolas de missão, em campos de refugiados e às vezes em aldeias ‘aculturadas’ é sintomática não da ausência de ‘Cultura’, mas da ausência de sua própria antítese – aquela ‘magia’, aquela imagem insolente de ousadia e invenção que faz cultura, precipitando suas regularidades na medida em que falha em superá-las por completo” (p. 146). Ou seja, o que falta nesses lugares é vida, e o antropólogo deveria falar em desvitalização no lugar de aculturação.
21 Que, como se sabe, corresponde a um estilo pautado unicamente pelo esforço de manter com rigor intransigente as regras e as técnicas das academias de formação. Qualquer semelhança com a antropologia contemporânea não é mera coincidência (ver p. 228).
22 Ver STRATHERN, “The nice thing about culture is that everyone has it”. In: Shifting contexts: transformations in anthropological knowledge. Londres, Routledge, pp. 153-76, 1995. [Links]
23 A alternativa seria o silêncio ou a autocontemplação. Como escreveu Strathern, “o fato de não existir lugar fora de uma cultura exceto em outras culturas” levanta um problema “técnico: como criar uma consciência de mundos sociais diferentes quando tudo o que se tem à disposição são termos que pertencem ao nosso mundo” (“Out of context: the persuasive fictions of anthropology”.Current Anthropology, vol. 28, nº 3, 1987, pp. 251-281, p. 256). [Links]
24 SCHNEIDER, D. American kinship: a cultural account. New Jersey: Prentice-Hall, 1968.[Links]
25 P. Griffiths. “Improvisation”. In: D. Arnold, Dictionnaire encyclopédique de la musique. Paris: Robert Lafont, 1988. [Links]
26 Como escreveu Strathern, “a interpretação deve manter estáveis os objetos de reflexão pelo tempo suficiente para que possam ser úteis” (“Cutting the network”.Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. 2, nº 3, 1996, pp. 517-35, p. 522).
27 “Nessa situação, a antropologia não pode permitir-se o papel de Grande Inquisidor” (p. 236).
28 BARTHES, R. “De um lado e do outro”. In: Crítica e verdade. São Paulo: Perspectiva, 1970 [1961], pp. 139-47, pp. 139-40. [Links]
Marcio Goldman – Professor Associado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do CNPq e da Faperj.
Community, Culture and the Makings of Identity: Portuguese-Americans along the Eastern Seaboard – HOLTON (LH)
HOLTON, Kimberly Da Costa; KLIMT, Andrea (Eds.). Community, Culture and the Makings of Identity: Portuguese-Americans along the Eastern Seaboard. North Dartmouth: University of Massachusetts Dartmouth, 2009. Resenha de: AZEVEDO, Joana. Ler História, n.61, p.196-200, 2011.
1 A coletânea Community, Culture and the Makings of Identity da emergente coleção «Portuguese in the Americas Series», editada pelo Center for Portuguese Studies and Culture da Universidade de Massachusetts Dartmouth, reúne um conjunto de estudos, sobre os contextos históricos, políticos e culturais que caracterizam a emigração portuguesa para os Estados Unidos da América e, em particular, o modo como os emigrantes se fixaram ao longo da costa leste. De forma menos aprofundada, integra ainda um pequeno conjunto de reflexões sobre outras populações imigrantes de língua portuguesa, como a brasileira e cabo-verdiana.
2 Os Estados Unidos da América são actualmente, e conjuntamente com o Canadá, um dos principais destinos das migrações internacionais. No caso português, o fluxo migratório transatlântico inscreve-se no primeiro grande ciclo migratório, iniciado em meados do século XIX até às primeiras décadas do século XX e, posteriormente, na vaga migratória dos anos 1960. Os emigrantes que chegaram aos EUA eram oriundos na sua maioria dos arquipélagos dos Açores e da Madeira e estabeleceram-se principalmente na área da Califórnia e de Massachusetts. Os EUA mantiveram-se, com oscilações, um importante destino da emigração portuguesa até ao início dos anos 1990. Atualmente estima-se que aí se estabeleceram cerca de 210 mil imigrantes nascidos em Portugal, número que ascende a 1,5 milhões de pessoas se considerarmos todos aqueles com origem portuguesa.
3 O fenómeno das migrações tem sido amplamente estudado pelas ciências sociais portuguesas, mas a produção científica sobre a emigração portuguesa, considerada uma característica estrutural da demografia nacional, diminuiu significativamente após os trabalhos de referência relativos às grandes vagas migratórias da década de 60 e só mais recentemente se tem vindo a renovar o interesse por este campo de estudos. Um dos fatores que contribuiu para relegar este âmbito de estudo para segundo plano foi o facto de Portugal se ter tornado, a partir dos anos 1980, um destino de imigração, acompanhando uma tendência observada noutros países do espaço europeu. É hoje reconhecido que no padrão migratório português coexistem duas dinâmicas, uma de imigração e outra de emigração, sendo, no balanço, esta última muito mais expressiva.
4 Os organizadores da obra, na sua nota introdutória, mostram precisamente como também nos Estados Unidos da América a imigração portuguesa foi objeto de reduzida produção científica, apesar dos fluxos substanciais e continuados. Neste sentido, a presente obra propõe-se antes de mais como um contributo para estruturar um campo de estudos sobre a experiência luso-americana. Caracteriza a vários níveis a presença dos portugueses nos EUA ao longo de dois séculos. Compila vinte contributos multidisciplinares situados no âmbito das ciências sociais, em parte inéditos, em parte já previamente publicados, mas com pouca visibilidade e difusão.
5 As contribuições para esta coletânea estão organizadas em torno de cinco eixos de análise. O primeiro debruça-se sobre as questões da cidadania, da pertença e da comunidade. Parte-se de um estudo de Irene Bloemraad sobre a questão da «invisibilidade política» dos portugueses. Na literatura, a invisibilidade foi atribuída aos baixos níveis de escolarização dos portugueses, à experiência de uma ditadura que desincentivou formas de participação cívica e política e a traços culturais enraizados que teriam determinado historicamente o seu reduzido envolvimento político. A partir de uma comparação dos níveis de participação política dos portugueses em Boston e Toronto, Bloemraad vem mostrar que tais interpretações não tomaram suficientemente em consideração o efeito das instituições políticas e das políticas para a imigração no país de acolhimento. Explorando as diferenças entre os dois contextos, conclui que há entre os portugueses de Toronto maiores níveis de cidadania e uma maior visibilidade política, atribuíveis a políticas governamentais de apoio às comunidades locais, ao discurso multiculturalista e à relação do sistema político com as elites migrantes. Segue-se o texto de Bela Feldman-Bianco que aborda o debate sobre transnacionalismo a partir de investigação conduzida em Portugal e em New Bedford. Trata dois momentos distintos: o período da depressão económica dos anos 1920 e 1930, e no contexto da internacionalização da economia global, nos anos 1970 e 1980. Em análise, as (re)construções diferenciadas da classe, etnicidade e nacionalismo ao longo de diferentes gerações migrantes, no contexto da criação por parte do Estado português de uma nação portuguesa desterritorializada assente, segundo Feldman-Bianco, na reinvenção da memória coletiva e da saudade. Por fim, o texto de Andrea Klimt reconstitui o processo de formação de duas comunidades, nos EUA e na Alemanha, comparando trajetórias de vida de emigrantes portugueses, respetivamente, no sudeste de Massachusetts e em Hamburgo. Klimt identifica diferentes configurações relativamente aos modos de integração e aos projetos de vida: na Alemanha mais orientados para o retorno a Portugal e sem intenção de fixação, nos EUA, mais orientados para a fixação permanente no país de destino.
6 O segundo eixo de análise reflete sobre identidade, representações nos media e cultura expressiva. O primeiro contributo é o de João Leal, centrado na celebração das festas do Espírito Santo entre os imigrantes de origem açoriana em East Providence. No ritual dos «Impérios Marienses» coexistem duas dinâmicas: a recriação rigorosa das tradições e um processo de inovação cultural que foi incorporando diversas transformações que refletem o novo contexto sociocultural onde ocorrem. Por um lado, mantém e reforça a ligação dos imigrantes entre o local de origem e de destino, por outro, encerra uma função de tradução e de diálogo com a cultura americana. Já Kimberly DaCosta Holton dá conta de uma pesquisa etnográfica em torno do folclore português recriado no contexto de Newark. Os ranchos folclóricos dão expressão a específicas dinâmicas transnacionais de ligação económica, emocional e social a Portugal, criando «um só espaço de ação social». Entre outras implicações o folclore sustenta, segundo Holton, políticas migratórias na origem e no destino, reforçando o domínio da língua e valores portugueses, dos fluxos económicos entre os dois países, bem como a visibilidade política dos portugueses. Seguem-se os textos de Lori Batista e de Katherine Brucher nos quais se analisa o lugar da cultura expressiva e as políticas de negociação de identidades imigrantes a partir de dois casos ilustrativos: o primeiro, uma exposição sobre imagens da Virgem Maria na arte portuguesa, organizada nos anos 1990 pelo The Newark Museaum; o segundo, a digressão de uma banda portuguesa de Rhode Island a Portugal. A partir da análise de arquivos do jornal Diário de Notícias, no período entre 1919 e 1973, Rui Correia discute o papel da imprensa imigrante, em particular, enquanto espaço de pluralismo e dissenso durante o regime salazarista. O lugar dos media é objeto também do contributo de Onésimo Teotónio Almeida. Em análise o caso do Big Dan’s, um acontecimento media made dos anos 1980 na imprensa americana, a representação mediática produzida a este respeito e as implicações em termos da construção da imagem da comunidade portuguesa.
7 Na terceira parte, a obra aborda o tema da educação, mobilidade social e cultura política. No texto de M. Glória Sá e David Borges discute-se a ideia de que os menores níveis de mobilidade social dos portugueses são atribuíveis a uma herança cultural que subvaloriza a educação. Com base na análise de dados longitudinais relativos a educação, ocupação e rendimento por local de residência, os autores mostram que os baixos níveis educacionais dos portugueses de Massachusetts são resultado de estratégias racionais para fazer face aos constrangimentos do mercado laboral e das oportunidades educativas. Clyde Barrow procura desconstruir a ideia de que os portugueses apresentam menores níveis de participação cívica e política do que outros grupos étnicos nos EUA. Com base em três inquéritos realizados no sudeste de Massachusetts, em finais dos anos 1990, Barrow mostra que os níveis de participação, o comportamento e as preferências políticas dos portugueses se correlacionam em larga medida com os seus níveis educacionais e estatuto socioeconómico. Adeline Becker aborda o papel da escola e os efeitos das políticas educativas na identidade étnica de estudantes imigrantes portugueses na área urbana de New England.
8 Um quarto eixo de análise explora os temas do trabalho, do género e da família. A pesquisa de Penn Reeve debruça-se precisamente sobre a participação laboral dos portugueses do sudeste de Massachusetts, num período de grandes transformações do movimento laboral nos EUA, entre os anos 1920 a 1950. Reeve argumenta que apesar dos estereótipos dominantes, historicamente os portugueses foram parte ativa dos movimentos laborais da época, com uma participação moldada pelas lutas e tensões entre forças políticas conservadoras e radicais/de esquerda no seio dos sindicatos e da sociedade. Louise Lamphere, Filomena Silva e John Sousa restituem os resultados de um vasto projeto de investigação que analisa as estratégias mobilizadas por mulheres trabalhadoras na zona industrial de New England nos domínios do trabalho, das redes de parentesco e da organização dos papéis familiares. Ann Bookman aborda um estudo de caso na indústria elétrica procurando identificar os fatores que concorreram para a sindicalização feminina e reconstruir o processo de mudança social que engendrou formas de ativismo político entre trabalhadoras migrantes. Observando a interseção entre família, local de trabalho e comunidade, Bookman conclui que a sindicalização constitui uma forma de empowerment das mulheres imigrantes, que reforça a sua rede social no local de trabalho; há, no entanto, uma grande variabilidade nos padrões de empowerment entre diferentes grupos.
9 Por último, um quinto eixo analítico é dedicado à raça, pós-colonialismo e contextos diaspórios e integra etnografias sobre outros grupos imigrantes oriundos do espaço lusófono. O texto de Miguel Moniz traz a debate a questão controversa do reconhecimento legal das minorias migrantes nos EUA e reconstrói o processo etno-histórico de exclusão dos portugueses do estatuto legal de minoria étnica. Colocando em evidência a natureza política deste processo, Moniz mostra como as categorias de raça e etnia são estrategicamente convocadas, de forma fluida, ambivalente ou mesmo contraditória, pelo Estado e pelos atores sociais. Entre os imigrantes lusófonos e seus descendentes este processo teve como consequência a emergência de duas categorias inter-relacionadas que definem o ser white portuguese e o ser black portuguese. O único contributo relativo à imigração brasileira nos EUA surge no trabalho etnográfico de Ana Ramos-Zayas que analisa os modos como se produzem as interações quotidianas de mulheres brasileiras com a comunidade portuguesa de Newark, num contexto fortemente racializado e permeado por estereótipos de género. Na etnografia que nos apresenta, Gina Gibau explora as políticas da identidade de cabo-verdianos a residir em Boston, examinando a questão da relação dialética entre os processos de atribuição racial e de autoidentificação na construção das identidades individuais e coletivas deste grupo. Com um segundo contributo, Holton aborda agora os movimentos pós-coloniais e a experiência dos retornados portugueses em Newark. Seguindo as memórias de alguns retornados, reconstrói as dinâmicas sociais e políticas, os laços afetivos e os processos decisionais que informaram as trajetórias entre Portugal, Angola e os EUA. As narrativas falam de uma integração não conseguida em Portugal e de identidades que têm Angola como principal referência. Por último, Marilyn Halter examina as transformações que atravessaram os movimentos migratórios de cabo-verdianos em finais do século XIX e, posteriormente, na vaga pós-colonial, examinando em particular as questões da raça e do reconhecimento, etnicidade, formação da identidade cultural.
10 Caroline Brettell encerra a obra com uma síntese das problemáticas aí exploradas, delineando propostas de investigação futuras que, somadas às questões deixadas em aberto por cada um dos autores, definem, num certo sentido, uma espécie de agenda de investigação científica atual nesta área.
11 Esta é uma obra marcada por uma enorme pluralidade de autores, abordagens conceptuais, períodos históricos de análise, metodologias, mas também quanto aos grupos tomados como objeto de investigação. O que a obra acrescenta em diversidade de conteúdos perde, no entanto, nalguns casos, em qualidade, representatividade dos grupos e rigor comparativo. Entre os seus objetivos propõe-se debater um conjunto de questões inovadoras e ainda pouco exploradas relativas à história, cultura e às dinâmicas sociais de portugueses e outros grupos étnicos lusófonos inter-relacionados, resgatando-os de uma certa invisibilidade social e académica.
Joana Azevedo – CIES – Instituto Universitário de Lisboa
A história da destruição cultural da América Latina: da conquista à globalização | Fernand Báez
A história da destruição cultural da América Latina: da conquista à globalização é um dos estudos mais completos sobre o continente americano. O autor aborda em 390 páginas a saga da conquista e da submissão dos povos nativos ao modelo politico europeu.
É uma obra intensa, fundamentada em fontes primárias, coletadas em arquivos europeus e latino-americanos. Fernando Báez analisa criticamente a destruição dos bens culturais, tradições e costumes dos povos nativos e assinala aspectos paradoxais da conquista europeia na América, como a construção do Novo Mundo. Segundo Báez, para o êxito da obra da conquista foi necessário destruir e saquear as sociedades nativas.
A proposta do autor é apresentar a invasão das terras americanas e a destruição das sociedades nativas por meio do ‘genocídio cultural’. Dessa forma, Báez tece considerações sobre a ética da conquista e o sucateamento do Novo Mundo durante os séculos XVI aos dias atuais.
O livro é bem construído metodologicamente. A coleta de dados em arquivos, bibliotecas, acervos particulares, além do apoio de estudiosos e familiares, é apresentada no início da obra, quando Báez estende seus agradecimentos a todos que o auxiliaram durante quatro anos de pesquisa. Pela intensidade da pesquisa, o livro já é um referencial teórico para a história da América.
Deve-se destacar também nesse estudo a construção de novos conceitos para explicar a trajetória da ‘conquista e destruição cultural da América Latina’ e os percalços acadêmicos enfrentados pelo pesquisador como entraves burocráticos para a consecução de uma obra instigante que se confronta com teorias já cristalizadas sobre a história do Novo Mundo. Por fi m, deve-se salientar o fragmento do brilhante discurso de Tácito sobre o sentido de devastação das culturas e a ação dos predadores do mundo.
A obra é elaborada em três partes temática se um Apêndice. Cada parte é composta de capítulos. Na primeira parte, Báez discorre sobre o saque da cultura americana, apontando as causas do ‘etnocídio’, desde o assassinato da memória, quando a estátua da deusa Coatlicue, detentora da vida e da morte dos homens, é encontrada em 1790 e levada para o pátio da Universidade do México. Naquela ocasião, após uma análise ligeira, foi sugerido que deveria ser novamente enterrada para que sua presença não despertasse a recordação da religião antiga entre os ‘indígenas insensíveis à bondade do cristianismo (p.55)’. Em 1804, o barão alemão Alexander von Humboldt, após examinar aquela arte indígena, mandou que a enterrassem. Apenas em 1982 o governo mexicano permitiu que fosse exposta ao público. O mesmo ocorreu com a descoberta da Pedra do Sol, um gigantesco monólito com um calendário asteca, encontrada na Plaza Mayor, e guardada na Catedral Metropolitana. Só a pressão popular conseguiu que a Pedra do Sol fosse levada para o Museu.
Assim como a estátua de Coatlicue e a Pedra do Sol, a memória coletiva e os imaginários astecas foram arrancados da história dos antigos mexicanos.
A História da destruição cultural das sociedades americanas estava apenas começando. Associada à ação predatória dos símbolos materiais, a Igreja inicia o processo de dessacralização da religião indígena para ressacralizar a vida espiritual através evangelização e da força da Inquisição.
Ainda na primeira parte, Báez trata da grande catástrofe que resultou na transição colonial, na censura intelectual e espiritual, além da aplicação de um programa de transculturação definitiva. Este consistiu na aplicação da educação escolástica, através dos princípios rígidos da Contrarreforma para apagar os vestígios da educação indígena dos Calmecacs, no México e dos Amautas, nos Andes. Não se esqueceram, nessa perseguição insana, da cultura africana, abatida da mesma maneira durante os longos séculos de devastação.
A segunda parte do livro focaliza do saque cultural, as guerras, comércio e a implantação do império. Báez discorre sobre os estragos, os primeiros butins e alcança o século XX com o saque nazista. Lembra o Holocausto, a aniquilação sistêmica de milhares de judeus e, sobretudo, o memoricídio, quando milhões de bens culturais tangíveis e intangíveis foram destruídos em expurgos inimagináveis (p.208).
Báez traça um paralelo com a destruição mundial e lembra os saques dos chineses, as questões da Palestina a Sarajevo, além dos ataques à Bamyane à Bagdá.
Na terceira parte, o autor discute a Transculturação e o Etnocídio na América Latina, enfatizando a fatalidade da memória, os esquecimentos e sobretudo, a identidade cultural. No capitulo III apresenta os novos conceitos introduzidos para análise da destruição cultural da América Latina, destacando etnocídio, memoricidio, aculturação e transculturação. Enfatiza também a estratégia do predador, assinalando que a primeira coisa que se ataca numa guerra, entendidas como contenda, confusão e discórdia, é a memória coletiva. Assim, analisa guerra como a arte de confundir o inimigo (p.300) e complementa que qualquer guerra fica incompleta se não causar desconcerto por meio do ataque aos símbolos de identidade, que são fundamentais para a resistência. Dessa forma, a hegemonia, entendida como a supremacia de um estado ou grupo sobre o outro, requer a aniquilação dos motivos principais da resistência do adversário com propaganda ou destruição indireta ou direta (ataque psicológico ou cultural), explica Báez.
O autor conclui, em sua análise sobre a destruição cultural da América Latina, que:
- O saque cultural foi um etnocídio e memoricídio premeditado para mutilar a memória histórica e atacar a base fundamental da identidade das populações
- Com essa estratégia perderam- -se 60% do patrimônio tangível e intangível da região.
- A transculturação produziu uma operação bem sucedida de alienação.
Maria Teresa Toribio Brittes Lemos.
BÁEZ, Fernando. A história da destruição cultural da América Latina: da conquista à globalização. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2010. Resenha de: LEMOS, Maria Teresa Toribio Brittes. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, v.7, n.7, p.199-201, 2011. Acessar publicação original [DR]
Entre Geografia e Geosofia – MACIEL (BGG)
MACIEL, Caio A. A. (Org.). Entre Geografia e Geosofia: abordagens culturais do espaço. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2009. 247 p. Resenha de: SANTOS, Julyana Gomes. Boletim Goiano de Geografia. v. 30 n. 2 , jul./dez., 2010.
O livro, Entre geografia e geosofia: abordagens culturais do espaço – organizado por Caio Maciel, professor do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, apresenta a espacialidade da cultura na discussão de diferentes trabalhos elaborados sob diversas abordagens.
O conceito de geosofia é assim apresentado, representando o interesse de estudiosos pela renovação do campo da geografia humana. A obra está dividida em quatro eixos centrais: Cultura e espaço rural; Cultura, espaço urbano e políticas públicas; Cultura e turismo; Representações cinematográficas do espaço. No todo a obra é uma publicação do Laboratório de Estudos sobre Espaço e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco (LECgeo) e nos traz um debate rico sobre a materialidade da cultura, com abordagens de diferentes trabalhos, sendo de fundamental relevância a abordagem interdisciplinar como meio para se compreender a renovação do modo de olhar a simbologia encontrada na paisagem, quer seja no espaço agrário, urbano, turístico ou cinematográfico.
O prefácio, de Jorge Luiz Barbosa – UFF, observa aspectos contraditórios na heterogeneidade e riqueza cultural do interior da sociedade brasileira. Enfatiza a cultura como prática socioespacial e propõe o desafio de “reconhecer a cultura como campo de cognição da sociedade e, simultaneamente, como modo de vida”. Devemos, pois, ir além da ideia de cultura como um sistema abstrato e como modismo dominante.
A Parte I nos traz três trabalhos que discutem paisagens encontradas no espaço rural. O primeiro, que se intitula “Agricultura familiar agroecológica na Mata Pernambucana: desenvolvimento territorial rural e identidade cultural”, é elaborado por Robson Soares Brasileiro e Caio Maciel.
A discussão está voltada para a prática da agroecologia num território onde domina até hoje a monocultura da cana-de-açúcar, como dinâmica econômica de base. Os autores destacam a prática da agricultura alternativa, observando as consequências da agricultura homogeneizada como a da cana – sua relação tanto ambiental (de degradação do meio ambiente), quanto de degradação do agricultor que trabalha em seu cultivo – e inscrevem a prática agroecológica familiar como forma de desenvolver o território rural, atrelado ao estímulo à identidade e ao desenvolvimento de uma agricultura que leve em conta a essência humana. Algumas conquistas obtidas pela organização dos trabalhadores, associadas às peculiaridades do desenvolvimento da agroecologia, agregam também a esta produção familiar o valor da arte vivenciada e trocada com outros agricultores.
O trabalho “Yes, nós temos bananas: globalização e bananicultura no mundo e no Brasil”, desenvolvido por Gleydson Albano, discute o processo de globalização da banana, começando por sua importância para o comércio de alimentos e chegando às características da implantação da multinacional Fresh Del Monte Produce no semiárido nordestino. Mostra a multinacional da bananicultura no Brasil como exemplo de produção de modelo fordista e do uso intensivo de biotecnologia. Discorre sobre a tendência que apresentam hoje multinacionais em fundir empresas de modo a dar conta do processo de produção, transporte e comercialização, influenciando o território com fatores sociais e culturais (novos hábitos alimentares), fatores tecnológicos (sistemas integrados de abastecimento), fatores econômicos (crescimento da demanda do produto). A Del Monte Fresh Produce encontra no território fatores favoráveis à sua instalação. É neste território que esta commodity se desenvolve, sobretudo com a mudança de hábitos da população mundial através de uma conscientização acerca da importância de uma alimentação saudável – a produção orgânica –, ao mesmo tempo em que deixa no território sua marca de exploração do trabalhador.
“Olhares para o semiárido: meio ambiente e o programa Um Milhão de Cisternas no Nordeste” é o trabalho desenvolvido por Emílio Pontes, que traz a lume o debate sobre as políticas públicas implementadas no Nordeste brasileiro e a resposta da população a estas políticas, relacionando o homem ao meio. Este capítulo desfaz o estigma em relação à seca e à visão do sertanejo como mártir. A argumentação principal centra-se na construção de cisternas com a participação da população envolvida e de setores da sociedade local. São abordados assuntos como: qualidade de vida, acesso à água potável, descentralização no consumo da água e mobilização social da comunidade local. Além disso, o texto mostra que o conhecimento do agricultor intercruza com questões do ciclo da natureza, e que as técnicas por eles utilizadas são resultado de uma cultura rica de valores ancestrais.
O primeiro trabalho da Parte II do livro, de autoria de Bruno Maia Halley, intitula-se: “Da Encruzilhada a Água Fria: revisitando o bairro para pensar a identidade do lugar na Cidade do Recife (PE)”. O trabalho coloca a “concepção de bairro, entendendo-o como lugar demarcado afetivamente, [concepção] mais atrelada à corrente humanística”, afirmando a complexidade de pensar sobre o bairro. Propondo a análise dos bairros da Encruzilhada, Arruda, Ponto de Parada e Água Fria, considera a historicidade do lugar, percebendo uma correlação entre a denominação dos bairros e suas características, sejam elas ambientais ou características relacionadas ao desenvolvimento da cidade. Estes bairros são relevantes com relação às manifestações culturais locais, às vezes associadas a formas de comemoração mais “globais” (Natal e Ano Novo); da mesma forma um estádio de futebol é importante para a identidade do bairro, o Arruda, o que é irradiado para os demais. Apesar de a modernidade influenciar o cotidiano dos lugares, seus hábitos são capazes de fazer deles “lugares- -chaves” “ou lugares-símbolos”, reforçando a ideia de “coração de bairro”.
Douglas Carvalho Francisco Viana e Isolda Belo da Fonte apresentam o texto “Envelhecimento populacional no Recife: um estudo sobre as demandas nos serviços de saúde e equipamentos urbanos da cidade” em que discutem o processo de envelhecimento da população observado na cidade do Recife que acompanha a tendência mundial. Os autores analisam o funcionamento dos serviços de saúde oferecidos a esta população e salientam a importância dos equipamentos urbanos que possibilitam a promoção de um envelhecimento ativo e favorecem a qualidade de vida desta população idosa.
“Política nacional de cultura: antecedentes e reflexões atuais” é o trabalho elaborado por Alba Lúcia da Silva Marinho, que explana sobre as políticas de cultura desenvolvidas no Brasil desde a colonização, colocando que só a partir do regime autoritário é que estas políticas passaram a ser mais sistemáticas. Avalia algumas políticas nacionais de cultura, como o primeiro Plano Nacional de Cultura, de 1976, o Programa Cultura Viva, implantado em 2004, enfatizando essencialmente uma de suas ações: os Pontos de Cultura. A análise mostra a importância da descentralização dessas ações e da parceria entre o Ministério da Cultura e órgãos culturais estaduais para a ampliação dos nós culturais.
O primeiro trabalho da Parte III – “Sítios arqueológicos e comunidades tradicionais: visitar e preservar” – foi escrito por Alba Lúcia da Silva Marinho e Gilvandro da Cunha Marinho Júnior, autores que analisam o crescimento do turismo cultural e o associam ao processo de globalização e à busca de identidade pelos indivíduos; focalizam a cultura como motivação da atividade turística que não se limita apenas aos atrativos naturais. Em meio às discussões, analisam o caso do Sítio Leitão da Carapuça, em Afogados da Ingazeira, referência de comunidade quilombola que mantém sua memória, suas práticas tradicionais e sua identidade.
No capítulo seguinte, “Turismo e representações geográficas: um ensaio sobre a construção de paisagens-metonímias no litoral do Nordeste Brasileiro”, de Paulo Baqueiro Brandão, apresenta-se uma abordagem sobre o imaginário das pessoas, construído a partir do marketing feito pelo turismo. O estudo toma como exemplo o turismo desenvolvido no litoral nordestino, analisando os mecanismos utilizados pela mídia na promoção de uma imagem das praias que geralmente entra em confronto com a realidade concreta. Segundo o autor, a moldura de novas paisagens se configuram desconsiderando sua historicidade, a partir de diversas construções que dão novas características ao lugar.
O primeiro estudo da Parte IV, que se intitula “Paisagens em movimento: ensaio sobre as análises do cinema pela geografia”, é desenvolvido por Pedro Maia Filho. O autor considera as representações cinematográficas como possibilidade de estudo da Geografia, especificamente no campo da abordagem cultural, campo que vem sendo renovado. A observação das imagens, junto ao discurso, à trilha sonora etc., torna latente uma interpretação da realidade por meio do “impulso imaginativo” dos produtores dos filmes, o que pressupõe a paisagem como meio de compreender a imagem e o imaginário.
“Paisagem, música popular e o imaginário do sertão em filmes recentes” é o capítulo desenvolvido por Kátia Maciel. A partir de filmes nacionais recentes, a autora analisa ressignificações do sertão, observando que o imaginário reconstituído na música e no cinema interfere nos fenômenos transcorridos no espaço físico, uma vez que a identidade territorial incorpora novos significados. A paisagem cultural, construída hoje a partir das interpretações fílmicas de “um outro” sertão desmistificam a imagem edificada de um Sertão de seca, miséria e “pureza”, agregando valores que sempre existiram na região.
No artigo “Imaginário geográfico do São Francisco no filme Na veia do rio: do sertão à foz do baixo São Francisco” de Cláudio Ubiratan Gonçalves e Glauco Vieira Fernandes, que encerra a obra, os autores dialogam com o filme-documentário da geógrafa Ana Rieper na perspectiva do imaginário geográfico, explicitando as lutas sociais e o modo de vida da região através da paisagem fílmica. Esta paisagem está relacionada também à ideia de espaço vivido, o espaço da percepção e materialidade do homem desenvolvido pelas experiências com o lugar social. Além de refletir sobre questões socioambientais, os autores apresentam três linhas de indagações ao significado da paisagem no filme: aquelas relacionadas aos relatos das pessoas, que são elaborados a partir de sua memória em relação ao espaço material; uma segunda, pautada nos relatos não locais, como aquele colocado pela documentarista, que direciona a construção do raciocínio; a terceira que alude à interpretação do geógrafo, como pesquisador, sobre relações estabelecidas no sistema cultural. Por tudo isto está posto o convite à leitura do livro.
Julyana Gomes dos Santos – Graduada em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco.
Cultura, gênero e infância: nos labirintos da história – NASCIMENTO; FARIA GRILLO (REF)
NASCIMENTO, Alcileide Cabral do; FARIA GRILLO, Maria Ângela de. Cultura, gênero e infância: nos labirintos da história. Recife: Editora Universitária UFPE, 2008. 282 p. Resenha de: SOARES, Ana Carolina Eiras Coelho. Ariadne da infância e do gênero: deslindando labirintos culturais. Revista Estudos Feministas v.18 n.2 Florianópolis May/Aug. 2010.
Publicar uma coletânea de artigos é amalgamar desejos e inquietações. Fruto de pesquisas e encontros do Grupo de Estudos em História Social e Cultural (GEHISC) sediado na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), o livro Cultura, gênero e infância: nos labirintos da história consolida a ideia de que pesquisas são necessariamente a combinação entre paixão, rigor teórico-metodológico e esforço coletivo de reflexão e debate. O livro composto de 14 artigos e dividido em três partes abarca diferentes aspectos e olhares sobre o universo da cultura, gênero e infância.
Na primeira parte, “Cultura e cidade”, três autores dão conta do entendimento dos espaços urbanos como lugares de experiências humanas e de grupos heterogêneos que disputam constantemente espaços e poder. As cidades são percebidas como invenções sociais, pois se constituem e se representam através das relações entre o homem e a natureza, a concretude do ambiente visível e as sensibilidades sutis que se constroem no trânsito dos sujeitos nos espaços.
O texto de Durval Albuquerque vem, em uma defesa apaixonada da Nova História Cultural, reiterar a necessidade de um novo olhar para os saberes e duplos do conhecimento histórico, as brechas na teia de Ariadne, que a História tradicional acreditava serem fiapos sem relevância na trama. Ao analisar o livro de José Saramago O homem duplicado,1 o autor tece uma série de considerações e questionamentos epistemológicos da Historiografia brasileira. As subjetividades, os novos métodos e as novas questões mostram que a renovação trazida pela História Cultural é fundamental para o escrutínio de novas e antigas fontes e para interpretações diversas, cujos duplos de si trarão sempre a possibilidade de novas investigações. No tom efervescente e conciso das palavras, o autor instiga e desafia o leitor a buscar na trama do passado respostas, que sempre serão novas perguntas, no desafio axiológico da pós-modernidade.
Os caminhos da Rua Nova no centro de Recife em 1920 e seus transeuntes peculiares surgem na escrita do artigo de Sylvia Costa Couceiro. O espaço urbano se revela como propõe Richard Sennet em Carne e pedra,2 constituído de cimento e sangue, singrando entre os muros e o asfalto. A Rua Nova de origem velha do século XVIII encarna o símbolo de uma população que almejava o progresso, a esperança e as mudanças da modernidade. À narrativa histórica mescla-se boa dose de lirismo e criatividade. Personagens são compostos e recompostos no cenário urbano, e o leitor embarca nas páginas de uma divertida narração/análise das figuras, hábitos e costumes que frequentavam a Rua Nova. No entanto, tal recurso narrativo não diminui o compromisso com o rigor teórico-metodológico e uma minuciosa pesquisa de diversas fontes. Na cena urbana moderna personagens circulam pelo espaço como num palco: querem observar e serem observados. A rua é, como bem sintetiza Walter Benjamin, “as vitrines da modernidade”.3
Para pensar essa modernização e seu caráter excludente e hierárquico, o artigo de Luís Manuel Domingues do Nascimento traz à baila os sacrifícios que a cidade de Recife sofre na década de 70 do século XX, ao custo de um discurso modernizador do espaço urbano. Para o autor, condensada ao discurso do progresso, Recife expandiu-se sob a égide de uma lógica que nega sua memória e suas experiências históricas. A crítica assume tom de denúncia ao analisar os problemas e deficiências consequentes dessa modernização, em especial com relação à burocratização e tecnocratização das autoridades e ao aumento das favelas e classes baixas dependentes de um sistema administrativo incapaz de solucionar as crises instaladas nas áreas públicas da saúde, moradia e educação.
Em “Representações, cultura política e sexualidade na seara dos gêneros” reverberam as imagens sociais e culturais de Pernambuco. Personagens e linguagens típicos consolidados no imaginário nacional – como a literatura de cordel e o cangaceiro – são perscrutinados em análises atentas às construções históricas de múltiplas representações, à diversidade de discursos e às possibilidades de interpenetrações na construção das narrativas históricas.
Maria Ângela de Faria Grillo apresenta de maneira bastante didática inicialmente uma breve retrospectiva historiográfica de importantes estudos realizados no campo de gênero, para então expor sua análise das representações construídas sobre o homem e a mulher, e suas relações na literatura de cordel na primeira metade do século XX.
A dificuldade em lidar com as transformações do mundo moderno tendem a cristalizar o papel da mulher dona de casa/mãe ao mesmo tempo que revelam as novas situações e valores sociais. Regras sobre casamento, imagens de Eva e Maria e lições de comportamento, preconceitos e ambiguidades da época transparecem no estudo historiográfico dos versos de cordel. Imagens e representações femininas como peças-chave para a compreensão de determinados modelos e costumes sociais, a literatura de cordel é o manancial de estudo fortemente pesquisado por Grillo.
Antonio Silvino é a figura explorada através dos jornais no artigo de Rômulo José F. de Oliveira Junior. Cangaceiro, prisioneiro a maior parte de sua vida, “macho nordestino”… as representações em torno do masculino constroem-se a partir de um personagem sólito e presente no imaginário popular pernambucano, ratificando modelos e convenções da sociedade. Homem fora da lei e ao mesmo tempo preocupado com a aparência e a elegância, Antonio Silvino foi alvo de intensos debates na imprensa, cujo discurso é esmiuçado e interpretado detalhadamente pelo autor.
As imagens de ser masculino do sertão nordestino são acompanhadas em seguida pela “Cultura da beleza: práticas e representações do embelezamento feminino”, de Natália Conceição Silva Barros. A autora levanta importantes questões, alicerçada em fontes valorizadas pela História Cultural, tais como revistas, jornais, memórias e obras literárias. Ao longo do texto busca compreender as maneiras como as recifenses e os recifenses reconheciam, controlavam e moldavam seus corpos entendidos aqui como um território “biocultural”, onde as relações de poder entre os gêneros feminino e masculino se explicitam em um campo de forças diferenciado nos discursos sobre a beleza e o embelezamento dos corpos.
O culto à beleza e o consumo de produtos que realçariam e/ou consertariam traços de fealdade fizeram parte das estratégias do mercado e da modernização dos hábitos e costumes da época.
Saindo dos anos 20, o leitor embarca em uma Recife feminina insurgente dos anos pré-golpe militar entre 1960 e 1964. Juliana Rodrigues de Lima Lucena investiga a intelectualidade feminina através de três eminentes figuras pouco ou nada lembradas pela historiografia tradicional: Anita Paes Barreto, do Movimento de Cultura Popular; Geninha da Rosa Borges e Diná de Oliveira, do Teatro de Amadores de Pernambuco. Os movimentos artísticos e intelectuais que surgiram na época, a partir das discussões sobre novas ideias e modelos sobre cidadania e sociedade, tinham o intuito tanto de atingir uma parcela marginalizada da população quanto de criar uma atmosfera propícia a uma remodelação social com a inclusão na vida política dessa parcela da população.
O último artigo dessa segunda parte da coletânea lida com uma questão da História do tempo “recentíssimo”: a violência e a intolerância contra mulheres, adolescentes e crianças exploradas sexualmente no município de Serra Talhada no século XXI. Os registros de estupro, de lesões corporais, deformações e homicídios na região entre 2004 e 2006 são uma marca que, embora alarmante, não mobilizou ainda o suficiente o poder público para criar na região, por exemplo, uma delegacia feminina. Esse artigo denuncia uma situação insustentável nos tempos atuais que demonstra a permanência de discursos sexistas, preconceituosos e homofóbicos, além de perigosas práticas de violência cuja legitimidade se encontra em representações incrustadas socialmente – dados vultosos de uma realidade violenta cuja luta por mudanças passa necessariamente pela denúncia, discussão e mobilização para o exercício da tolerância e do respeito ao Outro.
Na última parte do livro, “Infâncias, histórias e rebeldias em Pernambuco”, a atenção é voltada para a infância. Enjeitados, trabalho de rua e doméstico e o cotidiano infantil são os temas de pesquisa presentes. Através de uma Pernambuco criança, percebida no limiar entre a ordem e a transgressão, os artigos demonstram os espaços de inserção e de exclusão da criança bem como as diversas políticas sociais em torno da infância desenvolvidas no Estado. Ressalto que, nesse momento da coletânea, a presença de Alcileide Cabral do Nascimento pode ser amplamente observada. Dos seis artigos a autora assina a coautoria de mais quatro trabalhos, além de seu próprio trabalho que abre essa terceira parte. Apenas o último artigo, de Humberto Miranda, não conta com a colaboração de Alcileide. Tais trabalhos podem ser interpretados como desdobramentos de um esforço coletivo de pensar a temática da infância, violência, rejeição, abandono e estratégias do Estado e da sociedade, ao longo da história de Pernambuco, para conformar e disciplinar essa população pobre, órfã e marginalizada.
Intolerância, rejeição e abandono. O final da segunda parte da obra consegue se articular perfeitamente, e infelizmente – uma vez que as permanências de uma zona sombria e tortuosa de nossa história social e cultural se evidenciam -, com o primeiro artigo da terceira parte. “A Roda dos Enjeitados” é cenário do trabalho de Alcileide Cabral do Nascimento sobre as práticas de infanticídio e/ou esquecimento dos nascimentos não desejados. O discurso legitimador da roda encontra raízes na manutenção da ordem social, encobrindo, por exemplo, atitudes que depusessem contra a honra de “moças de famílias honestas ludibriadas” ou tentadas pelos “pecados da carne”; os casos de pobreza extrema; as doenças; a viuvez e seus impedimentos morais; a loucura e/ou a prisão e seus impedimentos sociais.
Quaisquer que fossem os motivos, a Roda dos Enjeitados chancelou os desvios do padrão social constituído na ordem colonial. Qual o destino dessas crianças? De que maneira inseri-las socialmente? São as questões do artigo de Rose Kelly Correia de Brito, que analisa os mecanismos pelos quais o Estado, entre 1831 e 1860, buscou disciplinar, controlar e conformar as meninas pobres enjeitadas e órfãs do Recife. A educação elementar e o trabalho doméstico são comumente vistos como caminhos possíveis de utilidade social dessa população cujo destino parecia preocupar as autoridades, dada sua potencialidade perigosa, caso permanecesse à margem da sociedade. Conformadas ao lar e aos trabalhos domésticos, as moças eram disciplinadas dentro dos parâmetros sociais aceitáveis ao mesmo tempo que isso lhes garantia um meio de sustento, o que desoneraria o Estado. Entre os obstáculos ressaltados sobre esse projeto estavam a própria lentidão e burocracia do Estado em criar condições efetivas para a educação dessas moças, além do preconceito e repúdio das famílias em pagar por serviços que poderiam explorar das escravas. A questão racial interferiu, inclusive, na condução dos mecanismos de controle em cercear a vida social, na qual mulheres brancas tiveram claras vantagens em relação ao tratamento dispensado às mulheres pardas e negras.
Os dois artigos subsequentes, de autorias respectivas de Hugo Coelho Vieira e Wandoberto Francisco, abordam as maneiras como o Arsenal de Guerra de Pernambuco e o Arsenal da Marinha do Recife serviram como espaço de serviços educacionais e militares para populações de órfãos, pobres e renegados em meados do século XIX. Remontando à genealogia desses locais, os autores seguem a trilha da expansão desses trens militares, que inicialmente serviriam apenas como aparatos burocráticos de armazenamento de materiais, e cujas funções e ofícios aumentaram historicamente, conforme a demanda de serviços da cidade e dos materiais de guerra. A formação, o tratamento dispensado no processo educativo e as interdições sociais compõem um cenário de lutas e contradições entre o discurso dessas instituições e a realidade dispensada a essas populações.
Wendell Rodrigues Costa preocupou-se com a formação e a inserção social de meninos e jovens pobres, enjeitados e escravos no mercado de trabalho urbano em Recife no século XIX. A prática de aprendiz aparece como uma estratégia política de combate à criminalidade. Aprender um ofício afastaria esses jovens da ociosidade e da possível marginalidade. A instrução desses moços era feita em espaços escolares permeados pela discriminação de cor e status social, onde, por exemplo, a cobrança de taxas de matrícula ou excluía as camadas mais pobres do acesso à educação, ou instituía a prática do “apadrinhamento”, o que reforçava a ordem social marcada por privilégios.
Através desses três artigos, pode-se perceber que estudar no Brasil dependia da condição social das famílias e que os estabelecimentos destinados a aprendizes pobres sofriam com um menor auxílio e aparato do governo.
Humberto Miranda fecha a terceira parte dessa coletânea pensando o cotidiano dos meninos confinados em instituições supostamente correcionais de Recife entre 1927 e 1937. Entre os abusos e transgressões cometidas pelos agentes penitenciários da Casa de Detenção e a modernização desse espaço no início do século XX com a criação, em 1932, do Instituto Profissional 5 de Julho, posteriormente chamado de Abrigo de Menores, buscou-se ressocializar e mesmo curar tais crianças através dos mesmos mecanismos vistos nos demais artigos dessa parte: estudos profissionalizantes, que seriam para o governo a resposta para a inserção social desse grupo marginal.
Há uma triste conclusão histórica ao final dessa leitura: a pobreza sofre duplamente, tanto pela sua condição cotidiana quanto pelo tratamento preconceituoso dispensado pelas autoridades encarregadas em lidar com as estratégias que deveriam diminuir e mesmo sanar essa questão social.
É preciso ressaltar que toda publicação possui as limitações da materialidade. O livro não inclui, por exemplo, questões sobre as representações da maternidade – fundamentais nas discussões de gênero e infância -, pois, se o fizesse, certamente o volume de páginas acabaria por inviabilizar sua publicação. A árdua tarefa de edição não pode prescindir de cortes e moldes. Cabe escolher e esculpir a obra com sentido e sentimento. Não obstante, apresentando ao público leitor a consistência e seriedade das pesquisas desenvolvidas pelo GEHISC, as organizadoras tranquilizam-no com a promessa de “gestação” de mais frutos dessa seara. E assim o primogênito desse grupo, Cultura, gênero e infância…, nasceu sob o prisma das interrelações entre cidades, representações femininas e masculinas e o mundo infantil.
Alcileide Cabral do Nascimento e Maria Ângela de Faria Grillo, organizadoras do livro, desejam que “o leitor se perca e se encontre nos labirintos da história e da beleza de compreender os duplos de si” (p. 9). Esse livro permite que os duplos se transformem em múltiplos significados nas possibilidades de compreensão de falas e silêncios, cujas marcas são sensíveis às narrativas das pesquisas contidas na obra.
Notas
1 SARAMAGO, 2002.
2 SENNET, 2001.
3 BENJAMIN, 1975.
Referências
BENJAMIN, Walter. A modernidade e os modernos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975. [ Links ]
SARAMAGO, José. O homem duplicado. São Paulo: Companhia das letras, 2002. [ Links ]
SENNET, Richard. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro: Record, 2001. [ Links ]
Ana Carolina Eiras Coelho Soares – Universidade Federal de Goiás.
Acessar publicação original
Política, cultura e classe na Revolução Francesa | Lynn Hunt
Originalmente lançado em 1984, mas publicado no Brasil apenas em 2007, o estudo da historiadora norte-americana Lynn Hunt intitulado Política, cultura e classe na Revolução Francesa oferece não apenas pertinentes contribuições ao exame de um dos eventos mais estudados da história mundial, como também apresenta uma original abordagem da política, vista de maneira indissociável das práticas culturais e sociais.
Quando Hunt começou a pesquisa que daria origem ao livro, esperava demonstrar a validade da interpretação marxista, ou seja, de que a Revolução Francesa teria sido liderada pela burguesia (comerciantes e manufatores). Os críticos dessa visão (chamados de “revisionistas”), afirmavam, ao contrário, que a Revolução havia sido liderada por advogados e altos funcionários públicos. Procedendo a um minucioso levantamento de dados sobre a composição social dos revolucionários e suas regiões de origem, Hunt esperava encontrar maior apoio à Revolução nas regiões francesas mais industrializadas. Contudo, ela constatou que as regiões que mais industrializavam não foram consistentemente revolucionárias, e havendo de ser buscados outros fatores para tais comportamentos como os conflitos políticos locais, as redes sociais locais e as influências dos intermediários de poder regionais. “Em suma, as identidades políticas não dependeram apenas da posição social; tiveram componentes culturais importantes” (HUNT, 2007:10). Leia Mais
A dança dos deuses: futebol, sociedade, cultura | Hilário Franco Júnior
Comecemos com um clichê imperdoável: existem 180 milhões de técnicos de futebol no Brasil. Todo mundo pensa que entende do assunto. É uma reconhecida tradição nacional que praticamente a totalidade desse imenso exército de amadores chame o profissional que comanda a Seleção Brasileira de burro. Muitos, mesmo sem entender totalmente a lógica da regra do impedimento, declaram aos berros que podem fazer melhor. Melhor que os técnicos e melhor que os jogadores. Tudo ou nada é o lema. Um segundo lugar na Copa, medalha de prata ou bronze nas Olimpíadas são consideradas campanhas fracassadas. Erros não são permitidos. Perder um pênalti é imperdoável. Sofrer um frango é motivo de vexame eterno. Fazer gol contra é uma heresia.
A cultura do futebol está entranhada na cultura nacional. Seu jargão, seus hábitos, seus mitos. Estranhamente, até mesmo sua história. Não é tão raro que indivíduos que não sabem dizer quem foi Tiradentes ou D. Pedro I sejam capazes de dar a escalação completa do Guarani de Campinas, campeão brasileiro de 1978. O brasileiro médio que, outro clichê, não faz a mínima questão de cultivar a memória nacional, cultiva cuidadosamente sua história futebolística. Diversos programas esportivos de televisão ajudam nessa preservação, passando diariamente cenas de arquivo. Algumas imagens, de tão repetidas, entraram para o imaginário coletivo. Os resultados práticos desse amplo esforço educacional são continuamente comprovados ao final de cada partida de futebol, profissional ou amadora. Os torcedores, por mais simplórios que sejam, destilam orgulhosamente sua erudição esportiva nas rodas de conversa após os jogos. Enfim, todo brasileiro, de modo macunaímico, além de técnico de futebol também é um historiador do futebol. Leia Mais
Salvar la Nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos – FUNES et. al (AN)
FUNES, Patricia. Salvar la Nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2006, 440 p. Resenha de: MANSILLA, María Liz; ZAPATAT, M. H.; SIMONETTA, Leonardo C. Anos 90, Porto Alegre, v. 16, n. 29, p. 357-364, jul. 2009.
La década abierta en 1920 es sumamente rica en lo que respecta a procesos y problemas de singular relevancia que no sólo merecen ser estudiados por su importancia coyuntural sino también porque su fuerte impronta repercutirá en etapas posteriores a lo largo de la centuria. Es esta, además, una década prolífica en lo que a debates y generación de nuevas propuestas se refiere. Así, la doctora Patricia Funes ha decidido transitar estos diez años eligiendo uno de los tantos senderos posibles.
Salvar la Nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos es fruto de una ardua y profunda labor investigativa concebida inicialmente bajo las características y el formato propio de una tesis de doctorado, desarrollado en la Universidad Nacional de La Plata. Ahora, devenido en libro, tienen la posibilidad de circular con mayor libertad y de invitar a sus potenciales lectores a centrar la atención en torno a los contenidos e intenciones que adoptó la reflexión acerca de la Nación entre los intelectuales latinoamericanos por aquellas épocas.
En la primera parte de las tres secciones que componen la obra, la autora asienta las premisas de su trabajo, sus ejes problemáticos y el modo de abordar los mismos, mientras se va introduciendo en el análisis de los elementos y categorías generales a partir de los cuales gravita la investigación: años veinte, intelectuales y nación.
De acuerdo a Funes, se trata de una coyuntura que, comúnmente, ha quedado subsumida e invisibilizada en periodizaciones más amplias del tipo clásico como “1880-1930” o “período de entreguerras” – que invalidan cualquier reflexión de los procesos de cambios y continuidades – pero que, no obstante, posee una entidad propia que permite dotarla de nuevos significados que hacen posible individualizarla. Desde su perspectiva, los años 20 poseen un carácter coloidal y fundacional, en el que se originan múltiples tradiciones de pensamiento culturales y políticas que atravesarían el siglo XX latinoamericano.
La segunda parte del libro se detiene en el tratamiento y desarrollo de los argumentos centrales. Y un tercer apartado contempla las reflexiones finales. El libro también cuenta con un apartado con bibliografía seleccionada que evidencia un intento de síntesis de lo producido acerca del período y de incorporación de diversos enfoques y disciplinas que tienen por objeto de estudio a la sociedad latinoamericana del siglo XX – con especial referencia a la década de 1920 –, lo que permite proseguir con el estudio en profundidad de las problemáticas planteadas.
En efecto, la crisis de la Gran Guerra, la relativización de Europa como faro de la cultura y la creciente oposición a las agresivas políticas militares de Estados Unidos sobre la región fueron generando dudas, rumbos significativos y un novel continente de sentidos en el mundo de las representaciones, recortando la silueta de problemas e inquietudes comunes a un grupo de hombres de distintos países de América Latina que comenzaban a construir el colectivo específico de los intelectuales. La revolución, el socialismo, el comunismo, el antiimperialismo, el corporativismo, la democracia y la ubicación de esta parte del orbe en la cartografía de la modernidad fueron tópicos que recorrieron la reflexión de estos actores que se ubicaron desde el campo de la cultura y la sociedad. Pero, especialmente, recayó sobre ellos la tarea de pensar y crear interpretaciones y lecturas en torno a la Nación, entidad de sentido conformada desde múltiples visiones y ambivalentes significados al calor de una discusión que atravesaba tanto el plano filosófico-cultural como el político.
Apelando a un registro de análisis que podría caracterizarse como político-cultural, la historiadora entrelaza con soltura y fluidez la reflexión en función de dos grandes universos semánticos. Por un lado, los contenidos y significados inherentes de los discursos y representaciones que pujan por definir qué es la nación en la arena filosófica-cultural. Y por otra parte, se hace presente la intención en el plano político de los intelectuales de cristalizar solidaridades colectivas y (re)crear una “comunidad imaginada” vinculada a la determinación de precisar inclusiones y exclusiones. A ello se suman los enfoques específicos de la historia social, incorporando sobresalientes aproximaciones sobre las sociedades y los contextos que sostienen el accionar de dichos agentes.
En concordancia con su propuesta de análisis, no se contemplan sólo la producción de los intelectuales que se autodefinen abiertamente como pertenecientes a los diversos nacionalismos y como productores de acepciones más o menos felices sobre la Nación.
Por el contrario, el elenco de hombres visitados se amplia de manera sorprendente y, a la vez, sus postulados van siendo cruzados y confrontados no en función de países o de biografías sino a partir de un conjunto de problemas que permitan un acercamiento más explicativo al conjunto de debates antes aludido. En este sentido, la ponderación hermenéutica y metodológica de tres ámbitos específicos (México, Perú y Argentina) y de los personajes escogidos (Víctor A. Belaúnde, Jorge Luis Borges, Manuel Gálvez, Manuel Gamio, Francisco García Calderón, Manuel González Prada, Víctor Raúl Haya de la Torre, Pedro Henríquez Ureña, José Ingenieros, Vicente Lombardo Toledano, Leopoldo Lugones, José Carlos Mariátegui, Andrés Molina Enríquez, Alfonso Reyes, José E. Rodó, Ricardo Rojas, Luis Alberto Sánchez, Manuel Ugarte, Luis Valcárcel, José Vasconcelos, Alberto Zum Felde, entre otros), no sólo ofrece la oportunidad para tensar al máximo las dificultades para pensar América Latina en clave regional y brindar el andamiaje necesario para ver cómo cada uno de estos tópicos son tratados en realidades nacionales bien disímiles, sino también permite romper con aquellas visiones endógenas, ufanistas y cerradamente nacionalistas que coadyuvaron a configurar los imaginarios y resortes sobre los que reposaban las historiografías nacionales y abrir canales de diálogo entre distintas tradiciones. Cabe aclarar que la preeminencia dada a estos tres espacios dominantes, que se subordinan a los ejes sobre los que se ha configurado la interpretación, no obtura la peripecia de hacer referencia a otras realidades a lo largo de la obra, recurriendo a un método comparativo que enriquece de forma significativa los planteos a través del muestreo de diferentes tramas de producción intelectual.
La segunda parte del libro se detiene en el tratamiento y desarrollo pormenorizado de los nudos centrales, desplegados en torno a cinco acápites temáticos. En un primer momento se indagan las disímiles y complejas relaciones entre Nación, crisis y modernidad. Bajo el rótulo de “Salvar la Nación” – frase que emerge con insistencia en las más heterogéneas interpretaciones de comienzos de la década –, se piensa en los ejes de cada una de las interpretaciones de la Nación (el Inkario, las mayorías nacionales, la vida civil, la fuerza o la potencia, la religión católica, la historia en común) en función de dos tradiciones clásicas de los tiempos modernos: una idiosincrásica, y la otra constructivista. La hipótesis fuerte de Funes es que la Nación ya no es considerada como un atributo o un perímetro que acompaña o completa al Estado, sino que es tomada como el espacio de condensación de las complejidades y contradicciones sociales en el contexto de una modernidad esquiva y ecléctica pero advertible a todas luces.
En “La Nación y sus otros”, se pone de manifiesto el desplazamiento de una concepción intelectual de nación a partir de las categorías que imponían la tradición liberal (cuyo énfasis recaía en la noción de ciudadanía) y la tradición positivista (acentuando la idea de morfología racial) a una concepción que abrevaba en las consideraciones sociales y culturales. La tesis central de esta sección es que en esta década, el pensamiento latinoamericano buscó una hermenéutica que no clausurara ni el pasado ni el futuro y que contuviera fórmulas para ensanchar la Nación a partir de dos variables: en el tiempo (apelando al pasado, a las tradiciones y a los orígenes) y en el volumen social (al considerar al “otro” antes excluido, encarnado en las figuras del indígena y del inmigrante).
Por ende, el desafío radicó en conciliar en el proceso de incorporación a un conjunto de alteridades complejas y de distinta entidad: étnicas, culturales, religiosas, sociales y regionales.
En tercer lugar, la autora remarca la importancia que el pensamiento antiimperialista de posguerra tuvo en la medida en que constituyó un dilema que configuró un perímetro inclusivo a escala regional y señaló destinos y estrategias comunes para América Latina. Ya no sólo eran las otredades internas los “problemas” a resolver, sino que se sumaron las fronteras culturales y económicas que se recortaron frente al “otro” externo que obligaba a tomar posiciones frente o contra la dominación imperialista pergeñada desde Estados Unidos. A lo largo de “Antiimperialismo, latinoamericanismo y Nación”, se analiza el modo en que categorías como autonomía, autodeterminación, soberanía, independencia, patriotismo y nacionalismo eran puestas en jaque al tiempo que incitaban a reforzar el pensamiento de los intelectuales frente a los desafíos de un “afuera” imperialista.
En el capítulo “Lengua y Literatura: arcanos de la Nación”, se examinan las polémicas en torno del idioma, la presencia de la literatura nacional y la edificación de un canon literario, temas que muestran los sentidos que se imprimieron sobre la Nación. En esta línea, la consideración en los años veinte de los binomios culto/popular, moral/escrito, español (o castellano)/lenguas indígenas, entrelazados con la reevaluación del canon literario, la designación de precursores de la literatura nacional, la ampliación de autoridades y precedencias, las formas de datar y compendiar las historias se conjugan en implícitos y fuertes pilares sobre los que se apoya el discurso y los fundacionales imaginarios nacionales de la década.
Finalmente, en el quinto apartado, “Ser salvados por la Nación. Las búsquedas de una nueva legitimidad”, las protagonistas del debate son las ideologías políticas. Para Funes, la problemática de la definición de la Nación se consolida en el terreno intelectual paralelamente al proceso de debilitamiento o superación del orden oligárquico como correlato de la creciente complejización social y la aparición de actores sociales en la escena pública. Esto condujo a repensar los vínculos entre Sociedad y Estado, en una línea donde nociones como república, democracia, revolución, socialismo, corporativismo son leídos en otra clave, para hallar nuevos y alternativos principios de legitimidad bajo premisa de que es posible “ser salvados” por la misma Nación que se está discutiendo.
Más allá de la unidad en la coherencia y rigurosidad desplegadas para tratar cada problema, se suma otro elemento del orden metodológico que atraviesa los capítulos reseñados: la forma de organización interna. Invirtiendo el orden clásico de la exposición, cada apartado inicia con una clara explicitación de las conclusiones para luego desandar el camino que llevó a ellas. De igual modo, cada capítulo se halla encuadrado en el abordaje de distintos materiales: históricos propiamente dichos, que sirven de soporte material para rescatar la información empírica que configura, en criterios cronológicos, un proceso; teóricos, que colaboran para la comprensión, delimitación y evaluación de los problemas presentados; y fuentes, que son de gran utilidad puesto que permiten una aproximación más estrecha a lo producido por los diferentes actores y posibilitan contar con cierto número de documentos que ofrecen un margen de evidencia de las visiones y perspectivas en la coyuntura. El libro también cuenta con un apartado con bibliografía seleccionada que evidencia un intento de síntesis de lo producido acerca del período y de incorporación de diversos enfoques y disciplinas que tienen por objeto de estudio a la sociedad latinoamericana del siglo XX – con especial referencia a la década de 1920 –, lo que permite proseguir con el estudio en profundidad de las problemáticas planteadas.
La cuidadosa reconstrucción sistemática de las lógicas de configuración de los imaginarios nacionales en América latina durante los años 20 ha sido un desafío y al afrontarlo, la autora ha realizado una muy importante contribución al conocimiento de nuestra historia latinoamericana, manifiesta en una prosa ágil y bajo un tono que es capaz de ir y venir con soltura entre los diferentes aspectos del debate intelectual sin contradecir la lógica narrativa que pretende. Convergencias e integraciones de este tenor son, por cierto, estimulantes y una vez más, se ponen de manifiesto en la aplicación del método comparativo, estableciendo similitudes y diferencias que ese proceso global presenta cuando se lo aborda a escala de cada sociedad nacional. La tarea de repensar nuestros intelectuales ha operado aquí como una excusa para desandar las peripecias de la construcción compleja de la Nación. En este sentido, otra virtud que reviste el trabajo es que ha logrado superar por un lado, los postulados esencialistas y las naturalizaciones ahistóricas y, por otro, las interpretaciones funcionales y fatalistas.
En síntesis, se trata de una obra que se escribe desde la pluma de la innovación y de la imperiosa necesidad de transitar nuevos caminos y formas de escritura histórica acordes a los tiempos que corren, conjugando en su prosa la rigurosidad científica en el sentido “tradicional” – la utilización de la documentación más diver sa y exhaustiva posible, la severidad de la crítica, la teorización apropiada y operativa y la sólida claridad interpretativa, producto de años de investigaciones en historia latinoamericana del siglo XX – y la lectura amena – propia de quien domina el oficio de escribir de manera atractiva, seductora y provocadora –, con el laudable objetivo de “repensar” cuestiones que refieren a nuestros problemas más actuales, como el hecho de que “(…) la historia no sólo no finaliza sino que en nuestros países, hace mucho que recién comienza”. Y en ese transitar, es necesario sentarse a discutir a Latinoamérica y a la Nación sin tapujos y encorsetamientos, en diálogo abierto y plural, como balance y como proyecto.
María Liz Mansilla, Horacio M. H. Zapata e Leonardo C. Simonetta – Escuela de Historia – Centro Interdisciplinarios de Estudios Sociales (CIESo) – Facultad de Humanidades y Artes – Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
NADA sobre nós sem nós. Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas Culturais para Inclusão de Pessoas com Deficiência: relatório final 16 a 18 de outubro de 2008 –
NADA sobre nós sem nós. Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas Culturais para Inclusão de Pessoas com Deficiência: relatório final 16 a 18 de outubro de 2008. Rio de Janeiro: ENSP/FIOCRUZ, 2009. Resenha de: CASTRO, Fátima Campos Daltro de. Revista FACED, Salvador, n.16, p.133-138, jul./dez. 2009.
Esse livro trata dos trabalhos finais em torno de propostas e diretrizes que buscam nortear as políticas públicas de inclusão cultural dos diversos grupos historicamente excluídos, ação essa iniciada em 2007 com a oficina – Loucos pela Diversidade – da diversidade da Loucura a Identidade da Cultura, promovida pelo SIND/MINC e a Fiocruz. Considerando o potencial das atividades culturais produzidas por pessoas com deficiências, a SID e a Fiocruz deram continuidade à parceria, realizaram em outubro de 2008, na cidade do Rio de Janeiro, a Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas Culturais para Inclusão de Pessoas com Deficiência, com apoio da CEF. Lançado pela Fundação Osvaldo Cruz/LAPS, propõe desafios para as políticas públicas no sentido de ampliar sua visão sobre deficiência, a urgência da cultura se inserir nesse processo com maior afinco em busca de soluções que atendam as necessidades emergentes em torno do assunto, subsidiando-os e instrumentalizando-os profissionalmente e culturalmente para a real acessibilidade.
Almejando maior diálogo entre o governo e a sociedade civil, o livro trata de proposições que a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (SID/MINC) vem promovendo através de encontros, seminários e oficinas.
As atividades e discussões desenvolvidas nas oficinas lançam uma proposta de trabalho para indicar diretrizes e ações, no sentido de contribuir para a construção de políticas culturais de patrimônio, difusão, fomento e acessibilidade para pessoas com deficiências, focalizando a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, para juntos discutir e encontrar estratégias que possam por em prática em editais relacionados à arte e à cultura, à legislação nacional já existente sobre acessibilidade e ao que dispõe a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência (ONU).
Nos depoimentos propostos no encontro, por meios de oficinas coletivas e a participação conjunta de diversos segmentos, estabelece-se um “novo jeito de olhar” para o assunto, adotando processos participativos com a colaboração de diversos grupos e profissionais que estudam e desenvolvem trabalhos com pessoas com e sem deficiência nos campos artísticos, culturais e políticos.
Apresenta um trabalho de fôlego que busca interligar a prática social da pessoa com deficiência, entendendo-o como um complexo de possibilidades (apto a construir conhecimentos) e não dissociado do seu modo de viver e estar no mundo.
Já nas primeiras páginas da obra coletiva, Nada sobre Nós sem Nós, já se define as questões que encaminharam a construção do trabalho expondo sua metodologia, objetivo, mesas de debates, painel, grupos de trabalho, plenária final e material produzido.
As diretrizes e ações aprovadas em consenso nos Grupos de Trabalho (GT) contemplam o patrimônio, criando e estabelecendo instrumentos para a efetiva produção cultural dessas pessoas para que sejam reconhecidos nos campos artístico, ético, estético, social, político e cultural, apontando para a circulação e uso social do patrimônio. É percebido nas ações propostas por esse segmento, o interesse em promover um intercâmbio eficaz entre artistas, bem como ampliar os espaços de diálogos entre as diversas esferas dos órgãos federais, estaduais e municipais, mobilizando, articulando espaços de diálogos com gestores de cultura nos três níveis do governo, a iniciativa privada, o legislativo, os conselhos de direitos e o Ministério Público.
O livro está dividido em tópicos cujas temáticas discutem conteúdos em torno de cultura e deficiência, trajetória e perspectivas, coordenadas por Ricardo Lima, e com a participação dos debatedores Andréia Chiesorin, João de Jesus Paes Loureiro, Isabel Maior. A temática Nada sobre Nós sem Nós, coordenado por Paulo Amarante, contou com a participação de Rogério Andriolli, Angel Vianna, Arnaldo Godoy. Por ultimo, a mesa de debates, Patrimônio, Difusão, Fomento e Acessibilidade, coordenada, por patrícia Dornelles, compartilhando das discussões junto aos debatedores Jorge Marcio Andrade, Cláudia Werneck, Frederico Maia. O objetivo é, construir propostas de diretrizes e ações subsidiar e elaboração de políticas públicas do Ministério da Cultura (MINC) para pessoas com deficiências e em situação de risco social.
Na programação do livro segue uma descrição da Metodologia da Oficina, Objetivos, Mesa de Debates, Painel Temático, Grupos de Trabalho, Plenária de Final, Material Produzido, seguindo com uma tabela que constava as Diretrizes e Ações Aprovadas em torno de Patrimônio, Difusão, Fomento, Acessibilidade, por fim, a Carta do Rio de Janeiro – Políticas Públicas Culturais para a Inclusão de Pessoas com Deficiências.
O conteúdo da carta contempla e expressa a necessidade de insistir na necessidade de que as políticas, ações e comportamentos devem pautar-se pela compreensão e acolhimento das pessoas em suas identidades múltiplas e diversificadas, contemplando sempre a sua condição humana e cidadã e nunca a deficiência. Apoia-se em diversos documentos legais, por exemplo, a Declaração de Salamanca (1994), Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa com Deficiência (Convenção da Guatemala no Brasil, Lei nº 3.956/01), entre outras de igual importância, para dar cabo ao exercício comum e hegemônico inclusão/exclusão que envolve essas pessoas.
As comunicações oriundas das personalidades participantes do evento e transcritos nessa obra propõem a necessidade da reflexão em torno do assunto e trazem em seu bojo um panorama histórico das diversas ações que já foram concretizadas, bem como dificuldades reais frente à ideia de um processo de construção onde as trocas de informações precisam ser compartilhadas, negociadas com cada setor. Compreende que, se ações e elaborações podem ser entendidos por esse viés, estamos caminhando num processo que respeita as necessidades individuais/singularidades e suas diferenças.
O depoimento de Ricardo Lima, Subsecretário do SIND/MINC, pontua que essa é a premissa e norte que está direcionando a construção do Ministério, e a construção da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural para tratar das questões da diversidade com base nas questões da diferença. Estratégias e ações de emergências são relatadas por pessoas engajadas nesse processo e que estão vinculadas ao governo. A urgência em disponibilizar os meios educacionais possíveis para que haja a troca de informações efetivas entre os diversos campos e setores, é ponto de interesse.
Um pensamento recorrente em todas as falas são as dificuldades encontradas para ajudar a criar os espaços de cidadania nos locais menos favorecidos. Além disso, desenvolver mecanismos e diálogos que possam criar nesses setores sociais, geralmente invisíveis ou marginalizados, a oportunidade de solucionar problemas do cotidiano, é enfatizado. O exercício da autonomia é outro assunto bastante discutido durante o encontro.
Questões históricas relatadas pela professora Isabel Menor – Secretaria Especial dos Direitos Humanos, traz para o espaço das discussões os 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos – Art.
1, da declaração, que expressa a ideia de que todos nós nascemos livres e iguais e que devemos ter, uns para com os outros, espírito de fraternidade. A professora lança uma pergunta: será que nós somos livres e iguais? Fala da importância que a nova convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, que foi promulgada pela Assembleia das Nações Unidades (dezembro de 2001), e recentemente ratificada pelo Brasil, é uma convenção de não discriminação, que finaliza e cristaliza os modelos anteriores e afirma o modelo de inclusão.
Explica sua intencionalidade e abrangência ao ultrapassar eminentemente ideias anteriores, quando é aberto um espaço para que as pessoas com deficiência possam se expressar sem um interlocutor mediando sua voz. Enfatiza que foi a primeira constituição a ser inserida no status constitucional, passando a legislação da pessoa com deficiência a ser uma situação do Supremo Tribunal Federal. Para ela, essa é uma possibilidade rica e de abrangência ampliada no processo legislativo que, a partir desse status, podem fazer determinações, e não apenas indicações.
Além disso, explica o Protocolo Facultativo, aquele que dá o direto ao cidadão brasileiro apelar ao Comitê Internacional de Direitos Humanos, se houver violação dos Direitos Humanos no nosso país que não seja resolvida em todas as instâncias. Tudo o que cerca a pessoa com deficiência, sua prática social no cotidiano, suas relações estreitas com a comunicação, informação, acessibilidade, ou qualquer barreira que demonstre descriminação de qualquer ordem à pessoa humana é entendido como violação da lei. Questionar e analisar as ações do cotidiano torna-se uma prática um guia para a nova ação/transformação da sociedade, a construção do pensamento crítico sobre o que ocorre a seu redor é ponto de interesse das discussões.
Fátima Campos Daltro de Castro – Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: [email protected]
Educação, história e cultura no Brasil Colônia – PAIVA (RBHE)
PAIVA, José Maria de; BITTAR, Marisa; ASSUNÇÃO, Paulo de. Educação, história e cultura no Brasil Colônia. São Paulo: Editora Arké, 2007. Resenha de: TOLEDO, Cézar de Alencar Arnaut de; BARBOZA, Marcos Ayres. Revista Brasileira de História da Educação, n° 19, p. 227-234, jan./abr. 2009
A presente obra é o resultado do trabalho de pesquisa de nove pesquisadores de universidades públicas e privadas brasileiras, ligados ao Grupo de Pesquisa “Educação, História e Cultura: Brasil, 1549-1759”, liderado pelo pesquisador José Maria de Paiva, professor da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP).
O grupo de pesquisa, criado em 2000, está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UNIMEP, com núcleos de pesquisa na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR, São Carlos-SP); na Universidade Estadual de Maringá (UEM, Maringá-PR); no Centro Universitário Assunção (UNIFAI, São Paulo-SP) e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ, Rio de Janeiro-RJ).
O objetivo do livro é apresentar ao campo científi co da área de ciências humanas, notadamente da educação e da história da educação, o resultado de pesquisas e debates promovidos nos encontro de apresentação e discussão de trabalhos do grupo de pesquisas, ocorridos em sua trajetória. Para tanto, está organizado em sete capítulos da seguinte maneira: capítulo um, “Religiosidade e cultura brasileira – século XVI”, escrito por José Maria de Paiva; capítulo dois, “Educação jesuítica no império português do século XVI: o colégio e o Ratio Studiorum”, escrito por Célio Juvenal Costa; capítulo três, “As relações epistolares: humanistas e jesuítas”, escrito por Edmir Missio; capítulo quatro, “Os exercícios espirituais e o teatro”, escrito por Paulo Romualdo Hernandes; capítulo cinco, “Educação e cultura na América portuguesa: as reformas de Sebastião José de Carvalho Melo”, escrito por Paulo de Assunção; capítulo seis, “A pesquisa em história da educação colonial”, escrito por Marisa Bittar e Amarílio Ferreira Júnior e, por último, capítulo sete, “Educação jesuítica no Brasil colonial: estudo baseado em teses e dissertações”, escrito por Maria Cristina Innocentini Hayashi e Carlos Roberto Massao Hayashi.
No capítulo um, “Religiosidade e cultura brasileira no século XVI”, José Maria de Paiva afi rma que não se pode compreender a religiosidade brasileira sem que se faça referência à cultura, considerada como a maneira de ser da sociedade e, na qual, as pessoas se expressam por meio das relações. Na primeira parte, “A religiosidade nas práticas sociais”, analisa documentos ofi ciais de um período histórico em que a cultura portuguesa, como um tudo, tinha um único objetivo, o cuidado da religião. A religiosidade cristã era a forma de ser da sociedade portuguesa. A existência humana em conformidade com a fé era uma exigência cultural e, como tal, uma obrigação pública e social. A vida em sociedade era regida pela “nossa santa fé”; os comportamentos considerados de “bons costumes” fundamentavam-se na doutrina da Igreja e, também, na legislação do Reino. Aqueles que se desviavam dos “bons costumes”, aos olhos dos indivíduos e da sociedade mereciam reprovação social e punição pelos seus pecados. Na segunda parte, “A religiosidade na sua expressão devocional”, o professor José Maria de Paiva analisa a prática devocional e cultural dos portugueses na colônia, visando demonstrar a formação da subjetividade portuguesa alicerçada sobre a religiosidade. Ser cristão, nesse período, significava ir a missa e comungar; além disso, uma maneira de apreender e pregar os “bons costumes”. A devoção era caracterizada como o novo modo de vida que se assumia, por meio de jejuns, abstinência e disciplina para a renovação ou reformulação da espiritualidade. A fé cristã, na sociedade portuguesa, não implicava na conformidade com os ensinamentos dos padres, mas no viver uma vida em que Deus se põe presente. Assim, para não se cair em contendas com a figura do poder sagrado, a solução era ganhar as boas graças pelo cumprimento da obediência.
No capítulo dois, “Educação jesuítica no império português do século XVI: o colégio e o Ratio Studiorum”, Célio Juvenal Costa afi rma que o objetivo inicial da Companhia de Jesus era a reconquista da cidade de Jerusalém para os cristãos, mas, no decorrer dos primeiros decênios de sua existência, por infl uência dos fundamentos teológicos e fi losófi cos da escolástica, igualmente pela austera formação dos clérigos, contribuíram com os objetivos da Igreja que visavam lidar com questões novas, como a expansão do comércio e a descoberta do novo mundo. Para discutir o papel do colégio e do Ratio Studiorum no trabalho jesuítico de formação escolar no século XVI, dividiu o trabalho em quatro partes: a primeira, “O jesuíta como instrumento da Reforma Católica”; a segunda, “A racionalidade educacional jesuítica”; a terceira, “O colégio” e, por último, a quarta, “Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu”. Segundo o autor, os colégios e o programa de formação elaborado pelos jesuítas, disponíveis aos jovens em geral, desenvolviam uma educação séria e exigente, o que se observa na análise dos cursos de humanidades, fi losofi a e teologia do Ratio Studiorum. Nas colônias, os colégios não se restringiam somente à formação, eram responsáveis também pela administração de povoações, cidades, igrejas e fazendas. Desse modo, conclui que tanto o plano de estudos como os colégios foram a expressão de experiências históricas que, avaliadas e reavaliadas, instituiu a forma de ser da Companhia de Jesus.
No capítulo três, “As relações epistolares: humanistas e jesuítas”, Edmir Missio analisa o papel exercido pelas cartas como instrumento de formação, que contribuía para a educação dos filhos da família Sforza, futuros governantes do ducado de Milão. Nas cartas, os filhos relatavam suas experiências e, também, serviam como um instrumento à manutenção das relações e hierarquias. A escrita das cartas exprimia as ações e os pensamentos, exigindo um grande esforço argumentativo, com o qual se verificava a formação recebida. Tratava-se de “uma técnica de composição e elaboração [dos] estudos de retórica e poética” (p. 46); elas eram avaliadas como um instrumento, “[…] de propaganda política e difusão cultural” (p. 46). Desse modo, o aprendizado das cartas passou “[…] a fazer parte do currículo das escolas fundadas pelos humanistas, as quais proverão quadros administrativos dos governos, como secretários e diplomatas” (p. 49). Assim, no decorrer do século XVI, a expansão do comércio e a descoberta do novo mundo, transformaram as relações sociais e culturais, e exigiram o desenvolvimento de uma educação mais apropriada aos desafi os da época, isto é, uma educação de caráter utilitário.
Capítulo quatro, “Os exercícios espirituais e o teatro”, Paulo Romualdo Hernandes discute a importância histórica dos exercícios espirituais, entendidos como um exame mental criado por Inácio de Loyola que, depois de aperfeiçoado, tornou-se um manual de educação e ensino da religiosidade cristã católica. Tratava-se de um método rigoroso, constituído por quatro semanas de exercícios; na primeira, o exercitante era convidado a realizar orações, colóquios, penitências e arrependimentos para se livra de seus pecados e, assim, purgado e penitenciado, o exercitante passa para a segunda semana de exercícios. A principal característica desse período chamado de semana era a iluminação divina; nela, o exercitante seguia a Jesus em todos os seus passos. As tarefas do diretor espiritual, como um mediador pedagógico, era possibilitar as condições necessárias para que o exercitante chegasse a experiência interior. Imitar Cristo significa “morrer para a vida que se tem, realidade real, para ressuscitar e viver eternamente espiritualmente” (p. 64). Ao aceitar o caminho de imitação de Cristo, o exercitante entra na terceira semana que também é iluminativa. Nela, ele vivia intensamente a Paixão de Cristo com todas as implicações que ela pudesse causar. Segundo Hernandes, “o que faz a plástica e a didática dos exercícios são o sentir interiormente trazendo para a memória, entendimento e vontade as dores da Paixão” (p. 65). Pelo renascer com Cristo, o exercitante entrava na quarta semana, caracterizada como um momento de União com Deus. Os exercícios espirituais não eram simples experiências místicas mas, também, uma dramatização, representações interiores que possibilitaram aos que não viveram na época de Jesus, conhecer a história da salvação do povo de Deus. Enfi m, as dramatizações tinham como objetivo tornar possível, por meio das representações, o conhecimento das verdades do sofrimento de Cristo e, notadamente, viver a alegria de Cristo Ressuscitado.
No capítulo cinco, “Educação e cultura na América portuguesa: as reformas de Sebastião José de Carvalho Melo”, Paulo de Assunção analisa o contexto histórico de Portugal após a morte do monarca dom João V, em 31 de julho de 1750, com a nomeação de Sebastião José de Carvalho e Melo, como primeiro-ministro de Portugal. Ele, ao assumir suas funções, implementou um conjunto de medidas para ampliar o poder do Estado, por meio da centralização do poder monárquico em relação ao poder exercido pela Igreja e pela nobreza. O rompimento com a Igreja ocorreu entre 1760-1770, período em que o Estado português delegou aos tribunais civis poderes para legislar sobre assuntos de ordem pública, revogando o cumprimento dos documentos oficiais da Igreja. A reformulação institucional “procurou atuar por meio de leis que clarificassem o papel das instituições, bem como das relações entre elas” (p. 76). A reorganização do império português visava o saneamento das contas do Estado, debilitada pelos acordos celebrados entre Portugal e a Inglaterra. As transformações repercutiram também no campo subjetivo e social, influenciadas pela efervescência das idéias iluministas. “O pensamento iluminista foi profícuo na discussão da liberdade e autonomia do Estado em relação à Igreja” (p. 78). Esses debates ainda repercutiram na educação e nos sistemas pedagógicos, já que a afirmação do poder do Estado evidenciou um ideal progressista que exigia o estabelecimento de uma educação de base científica, sobretudo da formação recebida nas escolas e universidades, que se encontravam sobre a influência da educação jesuítica.
No capítulo seis, “A pesquisa em história da educação colonial”, os autores, Marisa Bittar e Amarílio Ferreira Júnior discutem a produção científica no campo da educação, referente ao período colonial em que os jesuítas tiveram o domínio sobre a sistematização do trabalho pedagógico na colônia brasileira. A criação de um grupo de pesquisa, intitulado “Educação Jesuítica no Brasil colonial”, desenvolvido na UFSCAR, ligado ao Diretório de Pesquisa “Educação, História e Cultura Brasileira: 1549-1759”, liderado por José Maria de Paiva, possibilitou a análise de lacunas temáticas sobre essa produção, o que objetivou o desenvolvimento de pesquisas para ampliar a historiografia da educação brasileira desse período. Os autores, para analisarem a produção científica sobre a educação colonial, entre 1549 a 1759, estabeleceram seis categorias analíticas: a primeira, “A hegemonia dos jesuítas e a presença de sua ação pedagógica nos eventos científi cos”; a segunda, “As correntes interpretativas sobre a ação pedagógica dos jesuítas”; a terceira, “O tema nos manuais didáticos”; a quarta, “O tema em artigos e capítulos de livros”; a quinta, “O tratamento teórico-metodológico” e, por último, a sexta, “A questão das fontes”. Na conclusão, afirmaram que ainda existe uma enorme gama de assuntos não pesquisados, relacionados ao tema, sendo que as chances de estudos inéditos são maiores, porém, essa temática atrai um número restrito de profissionais em razão da necessidade de afeição com a história de nossos primeiros séculos; da disciplina de estudo para trabalhar com documentos históricos, da abrangência do campo de pesquisa em educação e a exigência de um tratamento epistemológico que dê materialidade a totalidade histórica dos primeiros séculos da formação social brasileira.
E, por fim, no capítulo sete, “Educação jesuítica no Brasil colônia: um estudo baseado em teses e dissertações”, Maria Cristina Innocentini Hayashi e Carlos Roberto Massao Hayashi analisam a produção científica sobre a educação jesuítica no Brasil colônia. Omaterial de estudo constituiu-se de teses de livre docência e doutorado e dissertações defendidas em programas de pós-graduação de instituições de ensino superior; para a coleta de materiais elegeu-se as bibliotecas digitais de teses e dissertações como fonte de pesquisa com base em uma abordagem bibliométrica. Essa abordagem consiste no estudo da atividade científi ca, visando o desenvolvimento de indicadores de avaliação da produção de conhecimento. De acordo com o levantamento bibliográfi co disponibilizado em diversas fontes de dados na Internet, das instituições de ensino superior, os resultados demonstraram que a maior parte da produção científica relacionada ao tema encontra-se em programas de pós-graduação da Região Sudeste do Brasil. A distribuição das 275 teses e dissertações realizadas possibilitou verifi car que a maioria dos trabalhos encontra-se vinculados a programas de história (119 trabalhos); educação (46); letras (16) e antropologia social (12). A análise bibliométrica da produção científica relacionada ao tema da educação jesuítica no Brasil colônia possibilitou a afirmação de que, a partir dos anos de 1990, houve um aumento significativo do número de trabalhos acadêmicos sobre a temática, sendo que a maioria desta produção concentra-se nas áreas de história e educação.
O trabalho desenvolvido pelo grupo envolve pesquisas relacionadas à presença jesuítica no Brasil colônia. Tem como centro a história da educação, defi nida como a aprendizagem da maneira de ser, a qual se constitui pela formação da identidade dos indivíduos e da sociedade. A educação e a cultura são compreendidas como dois elementos de análise do mesmo processo social; nele, a educação é ligada à aprendizagem e a cultura às formas de ser. A história, nesse contexto, é analisada com base na ação dos homens, que transformam e são transformados pelo produto de sua própria atividade material.
A disponibilização das pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa tem o mérito de abordar uma área de pesquisa que não tem recebido a devida atenção na área de educação. A tarefa de revisitar as fontes já conhecidas e de tratar temas também conhecidos, além de descortinar novas possibilidades interpretativas, pode apontar novos rumos e novas fontes para a pesquisa acadêmica. O livro é bem apresentado e cumpre uma importante função de apresentar, de forma acadêmica, temas e assuntos conhecidos.
A editora Arké traz ao público brasileiro uma importante referência temática da história da educação no Brasil, uma vez que a história da educação colonial é uma área pouco estudada entre os pesquisadores brasileiros que, nos últimos anos, tem ganhado expressividade com o trabalho realizado pelo Grupo de Pesquisa “Educação, História e Cultura: Brasil, 1549-1759”. Além disso, contribui para a divulgação do trabalho desenvolvido por pesquisadores da área. O livro destaca especialmente a atuação dos jesuítas no Brasil e, esse destaque, mostra a proeminência incontestável da Companhia de Jesus no campo da educação e mesmo da religião.
Cézar de Alencar Arnaut de Toledo – Doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, 1996), professor no Departamento de Fundamentos da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEM
Marcos Ayres Barboza – Mestre em educação (2007) pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Cézar de Alencar Arnaut de Toledo. E-mail: [email protected]
Escritos sobre educação/ comunicação e cultura – PRETTO (RF)
PRETTO, Nelson De Lucca. Escritos sobre educação, comunicação e cultura. São Paulo: Papirus, 2008. 240 p. Resenha de: OLIVEIRA, Rosa Meire Carvalho. Revista FACED, Salvador, n.15, jan./jul. 2009.
Escritos sobre educação, comunicação e cultura, de autoria do professor Nelson De Luca Pretto, doutor em Comunicação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Londres, Inglaterra, foi editado em 2008 pela Papirus. De cunho aparentemente despretensioso, a obra reflete, no entanto, a militância do educador Nelson Pretto, que, com o próprio exemplo, demonstra como construir uma prática que defenda a atuação do professor como intelectual da cultura.
É essa perspectiva que vemos consolidada ao longo de todo o livro, que apresenta um conjunto de textos datados entre 1983 e 2006. São artigos – publicados ou não – e entrevistas em diversos órgãos de imprensa local e nacional, além de discursos e escritos de antigos panfletos. É por meio deles que vemos reiterados, não só o espírito transformador que tem animado as práticas acadêmicas, universitárias e do cidadão Nelson Pretto, mas as ideias que vêm consubstanciando ao longo de mais de duas décadas a que os textos nos remetem, a ação de um educador ocupado em transformar pela práxis, a realidade de processos vitais para a educação, a comunicação e a cultura.
O alcance dessa práxis é revelada nas 240 páginas do livro, que é dividido em sete partes. E como bem aponta o educador português António Nóvoa, a quem coube a apresentação da obra: “Nelson Pretto exerce um olhar crítico e obriga-nos a pensar para além das esquadrias habituais. Este livro não deixa ninguém indiferente.
Faz-nos pensar. Dá o que pensar. Não será esse o objetivo primeiro de um intelectual? E, ao mesmo tempo, convida-nos a agir. Não será essa a missão principal de um educador?” (p. 11), indaga.
Nóvoa observa não ser à toa que o livro começa com um texto de Paulo Freire para quem o ato de educar é um ato de comunicação. É dessa mesma estirpe que se revela Pretto em suas itinerâncias, ao trabalhar a perspectiva de aproximar a educação da comunicação, trazendo desde seus primórdios um novo olhar que recoloca os cidadãos, em primeiro plano, e os professores como mediadores de uma cultura estruturalmente tecnologizada, em um novo patamar de ação. É nesse sentido que Pretto constata: “[…] Imaginava e continuo imaginando – hoje mais ainda! – que um professor deve ser, antes de tudo, uma liderança comunitária e intelectual […] fazer o processo educativo algo questionador, que extrapole o espaço das edificações escolares, uma ação que ganhe, literalmente, o mundo”. (p. 13) Nesse sentido, ganha espaço entre as várias seções do livro princípios defendidos por Pretto que compreende os imensos desafios colocados aos professores nesses tempos de comunicação em redes digitais globalizadas, cuja internet é o marco, e da imensa distância entre a cultura escolar e a cultura produzida fora dos muros da escola. Para ele, há dois pontos “importantíssimos” a considerar: primeiro, que a rede traz a possibilidade de interação entre o local e o não-local, a partir da valorização da cultura de origem; depois, pela “ocupação” dos espaços midiáticos, sejam os tradicionais (jornal, televisão, rádio, etc.) ou das novas mídias (a internet) por parte da escola. “Temos, portanto, de fortalecer os nós de conexão, de forma a fazer com que local e não-local interajam em pé de igualdade. Por isso sempre digo que não queremos internet nas escolas, mas sim escolas na internet” (p. 39), diz.
A Educação pelos meios e para os meios (BELLONI, 2001), ganha assim nas ideias de Pretto em Escritos em educação, comunicação e cultura a atualidade necessária à compreensão crítica dos fenômenos mediáticos da contemporaneidade, especialmente aqueles que envolvem a Teoria da Cibercultura e sua aproximação com a Educação, quando marca bem a qualidade dos processos comunicativos em redes digitais, suas características e o imenso potencial que é oferecido aos professores como mediadores da cultura, na tarefa de produzir coletivamente conhecimento em sala de aula, em lugar de simplesmente reproduzi-lo.
Daí que, para Pretto, as tecnologias digitais promovem um novo modo de ser e de agir da sociedade e ampliam os desafios de professores em sua missão diária. “[…] Apropriar-se dessas tecnologias como uma mera ferramenta, do meu ponto de vista, é jogar dinheiro fora. Colocar computador, recursos multimídia e não sei mais o que para a mesma educação tradicional, de consumo de informações, é um equívoco” (p. 49), observa. Na defesa de uma educação que contemple o local e o não local, as culturas de dentro e fora da escola e as possibilidades dos professores como intelectuais da cultura, Pretto acredita ser necessário uma maior presença da escola nos meios de comunicação, não apenas como consumidor, mas como produtor de informação. “Precisamos preparar professores que trabalhem na formação de uma juventude que possa atuar de forma plena na sociedade. Não apenas como consumidora mais qualificada, mas como produtora. Esse é o desafio!” (p. 40) O livro Escritos em educação, comunicação e cultura é revelador, portanto, da práxis que anima o pensamento instigante do educador Nelson Pretto. Quem, como nós, acompanha de perto um pouco da dinâmica de seus processos, consegue enxergar na obra a sua alma de pesquisador, de intelectual envolvido com questões que lhe são caras, seja na possibilidade de intervenção discursiva, a partir de suas convicções externadas em suas diversas produções textuais, seja pela capacidade de ocupar espaços acadêmicos, universitários e sociais, como cidadão comprometido com processos de mudanças.
É assim que nas sete seções de Educação, comunicação e cultura essas itinerâncias se constituem e revelam as diversas facetas do irrequieto professor. “A atitude de Nelson Pretto é coerente com a perspectiva de um intelectual que questiona aquilo que “já sabe” para, assim, abrir caminho a novas possibilidades e novos desígnios”, observa António Nóvoa em seu prefácio. (p. 11) Na primeira seção do livro, intitulada Entrevistas e Discursos, é assim que Pretto surge a nos abrir novas possibilidades reflexivas em relação a temas como o avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e sua relação com a educação, a partir da criação da Rede Bahia – uma “perna baiana” da internet; o futuro da escola e as transformações exigidas nos métodos e modelos de ensino-aprendizagem impelidas pelas TIC, como a relação com as novas gerações de nativos digitais (ou geração alt tab); inclusão digital; e a construção de uma escola “sem rumo”. Esta buscaria dialogar com os complexos e rápidos processos de um novo tempo social, cultural e econômico, na tentativa de promover novas educações.
Sua base epistemológica ancorar-se-ia na pedagogia da diferença, em lugar de uma pedagogia da assimilação, com o firme propósito de eliminar o que Pretto chama de “apartheid social”.
Em Escritos: Educação, que intitula a segunda seção do livro, o autor agrupa os textos que considera mais voltados para a educação, publicados ou não em forma de artigos para jornais. É nesse espaço também onde aparece a forte veia política e ativista, de um intelectual preocupado com temas caros aos rumos da educação brasileira e baiana, como a formação de professores, as condições da escola e da Universidade Pública, especialmente da UFBa, seus problemas e sua expansão. São textos datados a partir de 1983, que traduzem a preocupação de Pretto com a qualidade das políticas públicas para a educação, dentre as quais aquelas relacionadas ao livro didático, assunto que por muito tempo ocupou as reflexões do autor.
A temática dos livros didáticos, inclusive, intitula a terceira seção do livro, chamada Educação: Livros Didáticos. A parte é formada por seis artigos escritos por ocasiões e fins diversos – um deles publicado em 1996 pelo jornal Folha de São Paulo – e resume a preocupação do autor com as políticas (ou sua falta) para o livro didático. O tom dos textos é sempre de perplexidade e denúncia, com reflexões envolvendo pontos como a falta de inclusão dos professores nos debates realizados pelo governo sobre a questão e as posturas dos editores, que estariam mais preocupados, segundo o autor, em termos de quantidade e não na qualidade do livro didático produzido no Brasil. “Sabíamos que um programa de governo teria de contemplar a questão da quantidade, mas considerando que a questão da qualidade era fundamental, ela teria que ser atacada com a mesma firmeza com que se atacou a questão da quantidade” (p. 129), sustenta no texto que prefacia o livro Que sabemos sobre o livro didático, editado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e publicado em 1989 pela editora da Unicamp. Na ocasião da pesquisa que resulta no livro, o autor ocupava a coordenação do órgão (1986/1987).
A Cultura: o cuidado com a cidade e as gentes é o título da seção quatro, que resgata a produção do autor no campo da cultura.
Editado em ordem cronológica de aparecimento dos textos em jornais baianos, especialmente em A Tarde, e de outros estados, além de orelha de livros – como é o caso de Homem satélite, texto escrito em 2000 e publicado em livro homônimo do professor Edvaldo Couto. Buscou-se uma articulação entre os textos que tratam das mais variadas abordagens, tendo como afirma o autor, um “enorme” vínculo com a educação. Em verdade, os textos, muitos em estilo de crônica, traçam uma espécie de visão do autor e seus vínculos com a cultura baiana.
A seção é aberta com uma crônica de uma viagem à cidade de Lençois (BA), em busca de uma certa Cachoeira Glass. Relata percalços e encontros inusitados, como aquele estabelecido com seu Biça. Também circulam por ali lembranças da apresentação da Banda Afro Olodum, no Circo Voador, do Rio de Janeiro, A lavagem (festa típica baiana) da localidade de Jauá, no litoral Norte de Salvador, entre referências a outras festas populares, entre outros aspectos da típica cultura baiana. São ao todo 15 crônicas da vida da cidade, repletas de baianidade, onde o autor não deixa de manifestar o amor à cidade – que adotou aos 11 anos com a mudança da família de Porto Alegre para a Bahia. Neste particular, a crônica Velhos tempos que não voltam mais homenageia a cidade onde viveu até os cinco anos, Joaçaba, em Santa Catarina.
Na quinta seção, três textos compõem a parte dedicada à Ciência e Tecnologia. O primeiro deles trata de Ciência e televisão, refletindo sobre o papel educativo da televisão, seja pública ou comercial. O autor reflete sobre o que são em verdade programas educativos e o surgimento dos mesmos na TV brasileira.
Num panfleto sobre o Globo Ciência, programa produzido pela Globo, Pretto faz uma crítica à qualidade do que se considera ciência, aludindo à espetacularização da ciência pela produção do programa. A seção é encerrada com artigo sobre a realização da Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Salvador.
A sexta seção, penúltima do livro Escritos em educação, comunicação e cultura, apresenta uma série de 22 artigos sobre a presença das tecnologias de informação e comunicação no mundo contemporâneo. O título A tecnologia da informação: e chegaram os bytes, traz embutido seu valor, especialmente memorial, por registrar o desenvolvimento da rede internet na Bahia, com a reunião de um consórcio para este fim, com a participação da UFBA, governos estadual e municipal, antiga Telebahia e órgãos e entidades do estado. No artigo intitulado A Bahia já caiu na rede, publicado em 18/5/1995 – primórdios da internet comercial no Brasil – Pretto informava: “Hoje nosso número de usuários gira em torno de dois mil. Já temos uma estrutura descentralizada como é a filosofia da internet.” (p. 177) Os textos abordam pontos de vista variados sobre o desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e informação (TIC), descrevendo avanços na comunicação digital e de sua relação com a cultura e a educação. Nesse último aspecto, que viria a se tornar objeto do pensamento e da reflexão de Nelson nos últimos 15 anos, o autor nessa seção, sustenta mais uma vez a filosofia de uma educação democrática e inclusiva. Cobra políticas de democratização e acesso às TIC, como a aplicabilidade dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), que prometia destinação de recursos oriundos das empresas de serviços de telecomunicações para financiar a ampliação do espectro de acesso dos brasileiros à internet.
“Conectar as escolas públicas à internet é o caminho para fortalecer a produção de conhecimento e de cultura das crianças, jovens, adolescentes, professores e comunidade (p. 197)”, sentencia.
É esse conjunto de reflexões que resume o livro Escritos em educação, comunicação e cultura, que se encerra com a sétima seção, intitulada Escritos Com…. A seção não recebe ares de conclusão, mas, ao contrário, insinua uma continuidade, seja nas parcerias que os textos apresentam, seja nas temáticas discutidas, temáticas essas que se mantêm atuais na agenda de reflexões daqueles que cotidianamente lidam com os “caminhos cruzados” da educação e da comunicação.
É esse compromisso que parece apontar Pretto, ao escolher para fechar o livro textos que demonstram sua opção por melhores rumos para a Sociedade da Informação, a formação de professores, a inclusão digital, novas educações com escolas e universidade sem rumos. Esta última bem aos moldes do que idealizava o companheiro de itinerâncias, professor Luiz Felippe Serpa, reitor da UFBa por dois períodos, em sua incansável defesa da pluralidade, diversidade e de novas educações, a quem homenageia postumamente ao longo do livro e em dois artigos nesta seção final.
Referências
_________ BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2001. 116 p.
Rosa Meire Carvalho de Oliveira – Doutoranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: [email protected]
Cultura e Poder / Em Tempos de História / 2008
A Revista Em Tempo de Histórias apresenta em sua 13ª edição um dossiê cujos termos, cultura e poder, foram substancialmente ressignificados na segunda metade do século XX, ampliando o alcance dos usos possíveis e das perspectivas acerca das realidades históricas. A partir disso, pode-se questionar o que é cultura e/ ou poder? Ou, melhor, quais relações não são culturais ou permeadas de poder? A fim de estabelecer um norteador que perpasse artigos tão distintos entre si, é possível compreender a relação entre cultura e poder, nesta edição, enquanto construções humanas marcadas pela dinamicidade e tentativas mútuas de influência, controle e também pelos mecanismos de resistência e subterfúgios culturais.
Conscientes do caráter polissêmico dos termos, não foi objetivo do dossiê adotar noções fixas e definitivas dos mesmos, mas, acima de tudo, apresentar interpretações historicamente constituídas em que as relações entre poder e cultura estivessem imbricadas.
Fazendo uso de fontes como os Códigos de Posturas Municipais da Câmara Municipal de São Luís de 1866 e 1892 e do periódico Jornal Para Todos, João Costa Gouveia Neto destaca em Hábitos costumeiros na São Luís da segunda metade do século XIX, o descompasso entre as posturas municipais e as formas de sociabilidades que homens e mulheres constituíam nas ruas da capital do Maranhão. Também trabalhando com o século XIX, Ana Flavia Magalhães Pinto analisa dois periódicos oitocentistas de “homens de cor” em Democracia Racial em nome do Progresso da Pátria – Jornais Negros na São Paulo do Fim do Século XIX.
Os embates entre a modernidade e a tradição são avaliados em A Modernidade e o Rádio em Ribeirão Preto (1924-19370). Neste artigo, Sonia Jorge investigou a presença do rádio na cidade do interior paulista e as relações entre o projeto de modernização e as mudanças engendradas com o novo veículo de comunicação no cotidiano da população nas décadas de 1920 e 30. Trabalhando com obras literárias, teatrais, crônicas e imprensa humorística, André Rosemberg aborda as representações da polícia no Rio de Janeiro e em São Paulo no artigo Herói, vilão ou mequetrefe: a representação da polícia e do policial no Império e na Primeira República.
A realocação de ideários europeus e norte-americanos para o contexto hispanoamericano é o foco da pesquisa de Carolina da Cunha Rocha que, em Frei Servando Teresa de Mier e o exotismo às avessas – o selvagem ilustrado desbrava as terras do Velho Mundo, utiliza o conjunto documental Memorias para elucidar as contribuições do frei para construção do estado mexicano independente.
No ensejo do cinqüentenário da Revolução Cubana, Rickey L. Marques levanta questões referentes à prisão do poeta Heberto Padilla após a publicação de seu livro Fuera del Juego em O papel dos intelectuais na revolução cubana – o caso Padilla. O autor se envereda pelos caminhos trilhados por artistas e intelectuais cubanos entre 1959 e 1971.
Na seção Artigos são apresentados cinco estudos de temas livres. Uma abordagem de cultura na História Antiga é encontrada no primeiro texto. A partir de estudos arqueológicos realizados em Cartago, José Guilherme da Silva se debruça sobre as representações sociais e identidades étnicas na antiga cidade africana. Em seu trabalho Cartago: arqueologia e representações, o autor propõe duas hipóteses para a destruição daquele espaço pelos romanos.
A expansão colonial pelo Atlântico ganha foco em duas pesquisas. Em fins do século XVII a Jamaica, colônia inglesa, possuía a próspera cidade de Port Royal. Arrebatada por um terremoto em 1692, a urbe colonial foi destruída e, apenas nos últimos anos, vem recebendo maior atenção da historiografia. Luís A. Galante, no texto Port Royal, toma os inventários da época para interpretar o cotidiano e economia da cidade colonial inglesa. De outra forma, a experiência colonial portuguesa é abordada por Victor Hugo Abril, em Os modos de governar de Gomes Freire de Andrada no Rio de Janeiro, ao estudar as relações entre o governador da capitania do Rio de Janeiro, as elites locais e o governo de Lisboa, no período de 1733 à 1743.
Por meio de uma metodologia comparada, o artigo Indigenismo e Indianismo, de Poliene Bicalho, traz uma análise dos movimentos indígenas no Brasil e na Bolívia, enfatizando as particularidades e evoluções de suas relações com o Estado e a sociedade civil.
Fechando a seção, Eduardo Bay apresenta, em Os Mutantes e a Contracultura, alguns aspectos do movimento conhecido como Tropicalismo e sua relação com a contracultura, tomando por enfoque a participação do grupo musical Mutantes.
Para concluir esta edição, apresentamos a resenha de Léa Maria C. Iamashita referente à obra A Corte e o Mundo: uma história do ano em que a família real portuguesa chegou ao Brasil, Andréa Slemian e João Paulo Pimenta, publicado em 2008 pela Editora Alameda.
Boa leitura! Ricardo Marques de Mello Eric de Sales Membros do Conselho Editorial
The Cord Keepers. Khipus and Cultural Life in a Peruvian Village – SALOMON (C-RAC)
SALOMON, Frank. The Cord Keepers. Khipus and Cultural Life in a Peruvian Village. London: Duke University Press, 2004. 331p. Resenha de: PLATT, Tristan. Chungara – Revista de Antropología Chilena, Arica, v.39, n.2, p.285-286, dic. 2007.
Enderezando al vapor un torcido palo de aliso, un fabricante de varas en Tupicocha (un pueblo histórico en la precordillera limeña) explicó su procedimiento mediante una comparación. El etnógrafo traduce: “la ‘costumbre’ endereza lo que [Isaiah] Berlin llamó (siguiendo a Kant) la ‘madera torcida de la humanidad'”. Tales interpolaciones autoriales son características del estilo hermenéutico de Frank Salomon: busca la frase inglesa o la teoría noratlántica que mejor se ajusta a las intenciones lingüísticas o culturales andinas. Y la idea de “ajustarse” una cosa con otra expresa un ideal generalizado en la civilización andina, que Salomon hace suyo: así como las superficies irregulares deben ser raspadas o moldeadas para que puedan juntarse sin desigualdad, las diferentes ideas y formas lingüísticas deben encontrar su equivalencia mediante la traducción acertada, y los cuerpos campesinos deben recombinarse simétricamente en contextos sociales productivos mediante la propiciación del equilibrio y la participación equitativa. Tal estilo de cultura democrática busca acuerdos sobre una necesaria disciplina creativa: la equivalencia y la jerarquía están cada cual al servicio de la otra; los ideales compartidos de comportamiento social (“la ‘costumbre'”) canalizan el flujo errático de las inclinaciones individuales bajo los vigilantes ojos de las autoridades comunitarias elegidas cada año. La necesidad de reglamentar el servicio y la responsabilidad comunitarios, modelando de antemano la colaboración social y dejando constancia de ella después, ha sido, según el argumento de Salomon, un motor fundamental detrás del desarrollo del arte del khipu en Tupicocha. Este nuevo libro de Frank Salomon marca un hito en el estudio de los Andes y de la literacidad comparativa. En primer lugar, es una etnografía del uso y performance del khipu en una comunidad actual que, contra todo lo que podría esperarse, sigue poseyendo y manipulando en contextos ceremoniales un conjunto de estos enigmáticos “manojos de cuerdas anudadas” (como los llamaba un notario en el siglo XVI), uno (antes dos) para cada uno de los diez ayllus (grupos corporativos patrilineales) que conforman la comunidad. Y es el contexto del uso cultural lo que ha faltado, precisamente, en los análisis de los especímenes conservados en los museos. Así aprendemos, por ejemplo, que los quipo-camayos [sic] se envuelven alrededor de los cuerpos de las autoridades de los ayllus durante las fiestas de comienzos del año, indicando su continuidad con los sistemas significativos de los tejidos. Encarnando el proyecto colectivo de comunidad, sostienen y legitiman la autoridad de cada nuevo representante de ayllu.
El descubrimiento de khipus en plena acción en una moderna aldea andina es doblemente sorprendente, porque Tupicocha se sitúa en el centro del antiguo “archipiélago vertical” de Checa, uno de los cinco “miles” (waranqa) incaicos que conformaron Huarochiri (Bajo Yauyos). Todos se mencionan en el famoso “Manuscrito de Huarochiri”, escrito en quechua del siglo XVII temprano, que ya fue editado y traducido al inglés por Frank Salomon y George Urioste (Texas 1991 [1608]). Además, Tupicocha también posee archivos comunitarios y privados, e incluso 128 libros manuscritos que registran los acontecimientos de la vida comunitaria desde 1870 hasta el presente, desautorizando totalmente los antiguos estereotipos liberales, aún corrientes, sobre el “campesino analfabeto”. Estos libros serán objeto de un tercer trabajo sobre el crecimiento de la literacidad vernacular y las prácticas gráficas en Tupicocha, en cuanto la escritura alfabética sólo terminó reemplazando la literacidad de los khipus después de la guerra chilena del Pacífico. Muestran nuevamente que los programas modernos de alfabetización diseñados en ignorancia de las formas preexistentes de literacidad simplemente carecen de sentido (como ha argumentado Brian Street para el caso de Iran).
Salomon está consciente de la oportunidad y la responsabilidad que le ha sido asignada por este azar de la historia. Muestra cómo la comunidad entera se involucró en la investigación, especialmente el joven Nery Javier, encargado por su bisabuelo desde su lecho de muerte con la conservación del arte del khipu. Hoy, los guardianes de las cuerdas ya no las saben leer, y tampoco las construyen y reconstruyen para nuevos propósitos actuales; al mismo tiempo, han llegado a ser emblemáticos de la identidad tupicochana en el Perú de Toledo. Salomon ha intentado responder a las preocupaciones de los aldeanos, y también trabajar con ellos para producir una amplia reconsideración teórica del “problema de los khipus”.
Los resultados son emocionantes. Los khipus incaicos se sitúan al lado de otras formas semasiográfi-cas de inscripción (la semasiografía registra información independientemente del habla de cualquier idioma específico), empleadas por otros “Estados tempranos”, tales como el proto-Cuneiforme que, según Peter Da-merow, debería considerarse no como “un intento defectuoso de representar el habla, sino como intentos exitosos de representar conocimientos”. En el caso de los khipus, la iconicidad está siempre presente en la disposición de los conjuntos de datos que contienen, enunciando y “ajustándose” a la estructura de las acciones sociales. Así, en tiempos pasados fueron continuamente anudados y re-anudados en Tupicocha para actualizar determinados planes de acción; por ejemplo, la mobilización de equipos de trabajo colectivo. Las cuerdas pendientes se cambiaban de posición a lo largo de la cuerda principal (el nudo con que se ata cada cuerda es un simple hitch, fácilmente suelto para dejar pasar las cuerdas intermedias), o simplemente eran quitadas y reemplazadas; los khipus de Tupicocha están llenos de huellas de tales manejos (“rellenos, cosidos, la anudación de cuerdas pendientes por la mitad, y la superposición de cuerdas añadidas”): uno aprende a percibir el conjunto abierto de técnicas utilizadas por los dedos ágiles de los guardianes para relacionar y revisar información. La idea de una correspondencia exacta con una realidad emergente incluso da lugar al uso ritual de los khipus como oráculos (khipumancia). Y Salomon interpreta esta relación entre la estructura del khipu y la realidad no-linguística como evidencia para un “camino no tomado” en el Mundo Antiguo, que en una opción cultural de trascendental importancia ha preferido generalmente en-fatizar la “fijeza” y la posibilidad de una “equivalencia hablada” como rasgos definitorios de la “escritura”, en lugar de la modelación flexible y los ajustes constantes entre realidades materiales que encontramos en Tupicocha.
Las ideas claves de Salomon -simulación, modificación y constancia- pueden ser extendidas, por ejemplo, a las “secuencias de acciones” necesarias para cantar hazañas pasadas, estableciendo la secuencia temática de canciones dentro de una serie mayor. Precisamente esta función “historiográfica” es realizada hoy por las cuerdas anudadas utilizadas por algunos grupos amazónicos, por ejemplo, los Yagua del Perú, que aparentemente conmemoran batallas intertribales que remontan muchas décadas, e incluso siglos, antes del presente (Chaumeil 2005). ¿Acaso su funcionamiento puede echar luz sobre los khipus llamados “históricos” en las fuentes tempranas? Quizás sea prematuro ver las “estructuras elementales de la literacidad-ttfpu” en las prácticas amazónicas, pero a la luz de los hallazgos de Salomon es posible que las primeras cuerdas fuesen efectivamente desarrolladas independientemente, antes de atarse en grupos a una cuerda principal.
Entonces, si no podemos esperar saber todo lo que se esconde en los antiguos khipus, desprovistos de contexto, que yacen en los museos, podemos ahora preguntar cómo, por qué, y qué cosas podrían haber simulado, y a través de qué transiciones los ajustes colectivos al nivel local se transformaron en las “estadísticas frías” de la administración fiscal estatal. Leer el trabajo de Salomon es encontrar que, de repente, las puertas se han abierto tanto para el estudio de los khipus como para la teoría de la inscripción. En cuanto a los tupicochanos, el antropólogo ha merecido su confianza: son asombrosos la cautela y el rigor de la argumentación que conduce a la lectura experimental del khipu M-01. Pero el resultado es otro fruto más en la cornucopia ofrecida por este libro extraordinario, que nos enseña que, a nivel local, no es tanto que los khipus se refieren a aspectos de la vida social cotidiana según un código congruente con las estructuras del habla, sino más bien que la gente debía vivir los patrones sociales silenciosamente preencarnados por los khipus. La exploración de la iconicidad de los khipus como conjuntos de datos, utilizando las percepciones ofrecidas por Salomon, pueden todavía enseñarnos a mirar de otra manera lo que yace delante de nuestros ojos. Quizás resulte (para parafrasear el epígrafe sugerente de John Murra) que el arte del khipu “no está perdido: sólo ahora se está reencontrando”.
Referencias
Chaumeil, J.P. 2005 Mémoire nouée: les cordelettes á Noeuds en Amazonie. En Brésil Iridien. Les Arts des Amérindiens du Brésil. Paris, Galeries Nationales du Grand Palais (21 March-27 June).
Salomon, F. y G. Urioste 1991 [1608] The Huarochiri Manuscript. Texas.
Tristan Platt – University of St Andrews. Scotland, U.K. E-mail: [email protected]
[IF]
Mystery Train | Luiz Bernardo Pericás
Há quem imagine que Mystery Train, de Luiz Bernardo Pericás, é um roteiro de viagens ou aventuras, mas é muito mais que isso. O autor vai além e inova ao apresentar uma obra que mescla experiência pessoal e ficção com cultura e história dos Estados Unidos. O livro de Pericás é fortemente inspirado em três destacados autores: Jack London e seu The Road, livro memorialístico, autobiográfico, no qual narra suas aventuras e desventuras de trem pelos Estados Unidos; Woody Guthrie, autor de Bound for Glory, um dos nomes mais importantes da cultura popular norte-americana, da primeira metade do século XX e criador da música folk moderna, cujas letras dão voz aos marginalizados de sua época (como os negros, os red necks e os operários); e Jack Kerouac e seu On The Road, considerada a bíblia da “geração beat“, que mostra o lado sombrio do “sonho americano” a partir da viagem de dois jovens, que atravessaram a “América” de costa a costa.
A chamada “geração beat”, formada por Jack Kerouac, William Borroughs, Gregory Corso, Allan Ginsberg e Lawrence Ferlinghetti, entre outros, exerceu enorme influência nos movimentos contraculturais dos Estados Unidos. Os beatniks ouviam muito jazz, usavam drogas, praticavam o sexo livre e mantinham-se com o pé-na-estrada. Queriam fazer sua própria revolução cultural por meio da literatura. Leia Mais
From Bomba to Hip-Hop. Puerto Rican Culture and Latino Identity | Juan Flores
During the first part of the 1990s, a considerable number of publications on the “Hispanic” or “Latino” experience emerged, but Juan Flores’ book, From Bomba to hip-hop is one of the few scholarly studies to reveal the complexities of Latino identity. In addition, it is a homage that constitutes one of the few pioneer pieces of research on Puerto Rican culture and artistic expression. The title of this book, From Bomba to Hip-Hop, is one that catches the reader’s attention and is more than a phonetic and musical juxtaposition of words. I will try to define this phrase, adopting the author’s definition: “A celebration of the continuity of Puerto Rican Culture” (p. I). Juan Flores’ study lucidly traces the evolving distinctiveness of Puerto Rican culture in both New York and Puerto Rico and the title attempts to combine these locations. Thus, “bomba” refers to the folkloric origins of Puerto Rican popular dance and music, which is the ancestor of the “hip-hop” music that emerged in 1970s and 1980s in the marginalised areas of New York, becoming a prominent feature of Puerto Rican youth culture in New York.
The book is structured in ten rather brief chapters, with a short introduction and a concluding Postscript. The introduction, though brief and anecdotal, is based on Flores’ observations of an event entitled “From Bomba to Hip-Hop” at his Hunter College alma mater.
It addresses many of the issues that the subsequent chapters of the book will deal with and invites us to read more. Although the book does not have a clear connecting thread, each of the chapters is written clearly and leads in to the next, allowing the reader to enjoy a progressive understanding of the main theme of the book.
At the very beginning of the book the reader is introduced to the notion of “popular culture” in a clear manner, Flores defining the concept “popular” as that belonging to the majority of people (i.e. poor and low middle classes, the common people). Flores distinguishes the different meanings that “popular” has acquired over time, convincingly showing how the term has evolved from its earlier definition as the survival of traditions or folklores, to its current definition of “mass culture”.
The most interesting aspect of this scholarly researched book is the account it gives of how Puerto Rican identity has developed in New York, providing an exhaustive description of its national roots, cultural space, musical and literary expressions. Flores continues to argue consistently the shaping of Puerto Rican identity is not defined by geographical, linguistic or behaviour models, but by a close kinship with its origins, the people and the culture that define the genuine self, rather than being defined by its condition in the Diaspora. An important characteristic of this study is the emphasis placed on the Puerto Rican’s experience of being “in between” two cultures, leading in Flores’ opinion to “the possibility of an intricate politics of freedom and resistance” (p. 55). Like Díaz Quiñones in La memoria rota, which analyses the construction and breaking of Puerto Rican nation, Flores emphasises the continuity of the Puerto Rican cultural development in the Diaspora. He gives the eloquent example of the emergence of Spanglish in Puerto Rican culture, as a symbiosis between language and place, between identity and memory. The main idea proposed here is that the apparently fragmented image of Puerto Rican culture is actually connected by a constant process of re-construction, where unity and diversity maintain a robust Puerto Rican identity that is bond by its historical memory.
The book reveals how the cohabitation of diverse ethnic minorities in the Diaspora leads to the emergence of hip-hop, via the interaction between Puerto Ricans and Black youngsters within the shared context of New York, creating a common space for a fusion of African American and Latino musical expression. However the author describes how “this fusion” has obscured Puerto Rican cultural and musical heritage. He supports this hypothesis by referring to the neglect of Puerto Rico’s native Spanish language and to how Latin styles have been subsumed by the American label. Flores expands this issue by highlighting how bands and singers of Cuban, Panamanian, and Ecuadorian origins in the USA have gained fame and popularity as Spanish-language reggae-rap in the Caribbean and Latin America. Whereas New York Puerto Ricans with their hip-hop backgrounds have become dispersed and have lost their Puerto Rican identity. Flores stresses how the prevailing racial hierarchy with which Puerto Ricans find themselves confronted in the American Diaspora can explain the invisibility of this Hispanic community.
The book includes a number of case studies to illustrate its main points, as well as a valuable selection of contemporary Puerto Rican and other Latino rap songs. These lyrics illustrate the innovation and heritage of minorities such as Puerto Ricans, despite their apparent invisibility in New York. In his analysis of the complexities of Latino life, Flores shows that although Latino Studies is a growing area in further education institution in the USA, this has involved a complex and arduous process of development. In other words, the struggle of Latino people to adapt to in the colonial context of North America has been paralleled by the academic struggle encountered in establishing Latino Studies as an independent discipline. In an admirably challenging manner, Flores proposes that Latino Studies should be integrated urgently into academia as a social movement and in the name of human rights. He adds that this also will address the need to awaken awareness of historical memory among Puerto Ricans and other Latino immigrants.
This book undoubtedly represents a comprehensive study of contemporary Puerto Rican culture and is a valuable contribution to the field. Although several studies have already been carried out, these are restricted to mainstream issues in Latino culture. Flores’ book emphasises the complex particularities of Puerto Rican cultural experience and is an insightful exploration of the complexity and contradictions of contemporary Puerto Rican and Latino culture, informed by a contemporary cultural theory. From Bomba to hiphop is a well-researched and valuable work that uncovers many enigmas of “Latinos” in New York and invites us to re-evaluate the issue of Puerto Rican culture and identity in the United States. It undoubtedly provides the groundwork for important studies on ethnic minorities yet to come.
Brígida M. Pastor – University of Glasgow.
FLORES, Juan. From Bomba to Hip-Hop. Puerto Rican Culture and Latino Identity. NewYork: Columbia University Press, 2000, 265p. Resenha de: PASTOR, Brígida M. Revista Brasileira do Caribe, São Luís, v.6, n.11, jul./dez., 2005. Acessar publicação original. [IF].
Educación y cultura en el Estado Soberano del Magdalena (1857-1886) – MENESES (M-RDHAC)
MENESES, Luis Alarcón; CALDERÓN, Jorge Conde; DELGADO, Adriana Santos. Educación y cultura en el Estado Soberano del Magdalena (1857-1886). Barranquilla: Fondo de publicaciones de la Universidad del Atlántico, 2002. 257p. Resenha de: ORTEGA, Antonino Vidal. Memorias – Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Barranquilla, n.1, jun./dic., 2004.
Antonino Vidal Ortega – Ph.D. en Historia. Jefe, professor e investigador del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. Director de Memorias.
[IF]Human natures — genes, cultures and the human prospect | Paul Ehrlich
Se você é um cientista social que não admite que as palavras ‘evolução’ e ‘cultura’ habitem a mesma frase — como fiz de propósito no título acima —, então não leia este provocativo livro de Paul Ehrlich. Mas se você é um cientista natural que acha que a genética explica sem maiores dificuldades todos os aspectos do comportamento humano, o conselho é o mesmo: não leia este livro. Ambos os tipos de leitores ficarão desconcertados e correrão o sério perigo de mudarem suas opiniões.
Paul Ehrlich tem autoridade para escrever um texto como esse, capaz de abalar as convicções dos dois lados da polêmica questão das relações entre a evolução biológica e a cultura humana. Biólogo, professor de estudos populacionais e de ciências biológicas da Universidade de Stanford California (EUA), ele é nada menos que um dos inventores da questão ambiental contemporânea. Escritor prolífico, é autor e co-autor de dezenas de artigos e livros, entre os quais figuram pelo menos dois clássicos da moderna literatura socioambiental das décadas de 1960 e 1970 — The population bomb e extinction: the causes and consequences of the disappearance of species —, que colocaram os temas da superpopulação e da extinção de espécies na pauta ambiental planetária. Ehrlich resumiu boa parte de suas próprias pesquisas biológicas e ambientais, em combinação com uma excelente exposição sobre os fundamentos da ecologia, num belo livro de divulgação científica traduzido para o português (O mecanismo da natureza, Campus). Foi também um dos primeiros cientistas a se empenhar publicamente na proteção da biodiversidade e na promoção do princípio de sustentabilidade ambiental das atividades humanas. Leia Mais
O Renascimento italiano – cultura e sociedade na Itália | Peter Burke
Este livro observa as artes: pintura, escultura, arquitetura, música, literatura e conhecimento acadêmico da Itália, além de salientar aspectos gerais da cultura, dando denso embasamento teórico sobre o fenômeno para sua melhor compreensão. Dos aspectos culturais da época, ele se detém na economia; política; visões de mundo, do homem e da organização religiosa. Depois o autor faz uma breve comparação entre a Itália e os Países Baixos e Japão.
AS ARTES
O autor mostra que o Renascimento italiano tem como características básicas o realismo, o secularismo e o individualismo, além de um entusiasmo pela Antiguidade clássica. Os gêneros mais propagados na pintura eram os retratos, seguidos das paisagens e da natureza morta. Leia Mais
ArtCultura | UFU | 2004
ArtCultura – Revista de História, Cultura e Arte (Uberlândia, 2004-) é uma publicação semestral do Instituto de História e do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia. Fomenta o diálogo interdisciplinar entre História, as Artes e a Cultura em geral. Seus eixos de interesse se apoiam nas relações entre História e distintos campos de produção cultural, como cinema, teatro, literatura, música, artes visuais, arquitetura e demais áreas das humanidades.
Periodicidade semestral.
Acesso livre.
Acessar resenhas
Acessar dossiês
Acessar sumários
Acessar arquivos
Fronteiras culturais. Brasil-Uruguai-Argentina – MARTINS (
MARTINS, Maria Helena (org.). Fronteiras culturais. Brasil-Uruguai-Argentina. São Paulo: Ateliê Editorial; Prefeitura de Porto Alegre; Centro de Estudos de Lieteratura e Psicanálise Cyro Martins, 2002. Resenha de OLIVEIRA, Maria da Glória de. Anos 90, Porto Alegre, v.10, n.18, p.163-165, 2003.
Maria da Glória de Oliveira – Graduanda do Bacharelado em História UFRGS.
Acesso apenas pelo link original
[IF]
Relações internacionais: visões do Brasil e da América Latina | Estevão Chaves de Rezende Martins || A construção da Europa: a última utopia das relações internacionais | Antônio Carlos Lessa || Relações internacionais: economia política e globalização | Carlos Pio || Relações internacionais: teorias e agendas | Antônio Jorge Ramalho da Rocha || Cooperação/ integração e processo negociador: a construção do Mercosul | Alcides Costa Vaz || Relações internacionais: cultura e poder | Estevão Chaves de Rezende Martins || Relações internacionais da América Latina: velhos e novos paradigmas | Amado Luiz Cervo || Relações internacionais e temas sociais: a década das conferências | José Augusto Lindgren Alves || Relações internacionais: dois séculos de história | José Flávio Sobra Saraiva
Com a publicação de mais quatro volumes, completa-se a coleção “Relações Internacionais”, do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais (Ibri), organizada pelo diretor desse, José Flávio Sombra Saraiva. Com o apoio da Fundação Alexandre de Gusmão (Funag) e o patrocínio da Petrobrás, a coleção vem ao encontro e confirma, ao mesmo tempo, a maturidade que tem alcançado a produção acadêmica brasileira na área de relações internacionais.
O volume organizado por Estevão Chaves de Rezende Martins, Relações internacionais: visões do Brasil e da América Latina, reúne uma série de trabalhos sobre diversos temas importantes, escritos por especialistas brasileiros, argentinos e europeus. O livro é uma bela e mais do que merecida homenagem a Amado Luiz Cervo, editor desta Revista, que tem uma produção acadêmica notável no âmbito da história das relações internacionais, particularmente da política externa brasileira. Leia Mais
Hyper Texts: The Language and Culture of Educational Computing – ROSE (CSS)
ROSE, Ellen. Hyper Texts: The Language and Culture of Educational Computing. London, ON: The Althouse Press, 2000. 210p. Resenha de: GRIFFITH, Bryant. Canadian Social Studies, v.37, n.2, 2003.
The last decade has seen a number of books on the subject of the use and benefit of computers in education. Ellen Rose’s Hyper Texts attempts to fill the much needed gap between Dan Tapscott’s Growing up Digital and Clifford Stoll’s Silicon Snake Oil. By focusing on language, Rose hopes to enable a serious consideration of what it really means to learn with a computer or to think about learning in terms of digital technology(p. xi); but does she succeed? The answer for this reviewer is both yes and no.
Although Rose cuts through the hyperbole she criticizes, she creates her own set to replace it with her use of poststructural language which is often even more dense than the arguments she rightly criticizes. Too often Hyper Texts reads like a religious tract to support Foucault’s insights and this is a pity because there is much good clear thinking buried beneath the metaphors. I also take issue with the planning of this book. If Rose intends her audience to be those educators and parents she addresses on her first page, I then wonder not only why she relies so heavily on poststructuralist language, as I have mentioned above, but also why she includes an in-depth study of ‘The McKenna Experiment’? I think the issue of linkage should have been addressed in the Preface. As a result, Hyper Texts attempts to do too much. It addresses a very important educational issue by using a complex, but appropriate epistemological lens. It also offers a case study, not uninterestingly, but one which becomes a diversion from the central argument. My guess is that the educators and parents who buy this book would have preferred a shorter and more accessible book on the former while the latter, the McKenna chapter, would have been a nice journal article.
Having said all that, let me present some of the well-made points in the book. First, and perhaps most importantly, Rose is correct in trying to find a way between the extreme positions, to try getting beyond the hype by not focusing upon the computerized classroom, but between the linesthat is, the discourse of educational computing itself, as found in cultural texts(p. 4). She is also correct, in my estimation, in pointing out the contrast in language claims between the modernist and poststructuralist positions for her intended readers because they need her to be clear about what these opposing views bring to the table for both her and them. Although not new, Rose’s claim that poststructural analysis involves recognizing that language is far more complicated than the neutral conduit of modernism, but is indeed constituted of multiple, continually shifting meanings in which power, truth, and knowledge are inextricably entangled(p. 7), is very much to the point. It is a pity that in far too much of this book this clear point is often obscured by language often found in doctoral dissertations.
Rose is also right in claiming that her task is all the more important because of the extent to which IT has, to use her modernist adjective, infiltrated our world. This task is not a new one. Certainly since the introduction of technology in European society, thinkers have tried to make sense of it by using a variety of different models. It might have strengthened Rose’s argument to point out that poststructuralism is just another lens to make sense of this on-going process.
I think that one of the real strengths of this book is the claim that IT offers itself as the virtual site in which our utopian dream will be realized(p. 28) and a good discussion follows on this point, drawing nicely on the literature. This is a good segue for the much argued points of whether technology equates to progress and who controls it. It is true, as Rose argues, that modernists tend toward a single authoritative perspective and that wiring the world helps that cause. What is not clear to me, and I expect for many of Rose’s intended audience, is how the multifaceted and extremely complex poststructuralist world is an improvement. One could argue, after all, that the modernist position is so easy to state that one could simply subvert it when it is inappropriate. A poststructuralist world is full of ‘as if’ multifaceted and complex contexts. That may be the way it really is, but Rose needs to use language in a manner to convince us of this.
Rose’s great contribution is the discussion of the issue of control. One wishes that this book was half the length and that this discussion was far more prominent. On page 58 she makes the insightful comment that The way in which one believes computers should be used in the classroom in turn has much to do with personal understandings of what constitutes knowledge and learning. If we believe that what we can do in the classroom is limited and defined by the limits of technology then we are in trouble. Rose suggests that the IT revolution privileges the stories of technocrats over those of other individuals (p. 73) and that we must be clear to distinguish between the desire to use computers from the desire to learn (p. 75). She says: the child may be drawn to computers in the first place because they offer an entertaining alternative to books and school-learning, in which case computer use constitutes an implicit rejection of scholarship (p. 75). This is an important point, and one addressed recently by Robert Hassan in his article Net results: knowledge, information and learning on the Internet. We really know far too little about how children learn in computer rich contexts and Western society is making some massive assumptions about unknown outcomes. Rose is correct in arguing that individual learner needs, not the limits of technology, must drive our use of technology in the classroom. In the end it is the teachers and parents who must participate in the construction of the meaning of information technology and educational computing(p. 177). She correctly argues that we must confront our own individual responsibilities as members of a society increasingly given over to the imperatives of technology (p. 177). The new intellectual which Rose describes in her last chapter is one who welcomes the challenges of our complex world and actively participates as an equal in the decision making about the place of technology in our lives. This too is not a new argument, and one not the sole prerogative of the poststructuralist, but it is one worth making again and again.
Let me end this review with a quote from the President’s Information Technology Advisory Committee (PITAC) in the Federal Republic of Germany:
Information technology is already changing how we teach, learn and conduct research, but important research challenges in the field of education remain. We know too little about the best ways to use computing and communications technology for effective teaching and learning. We need to better understand what aspects of learning can be effectively facilitated by technology and which aspects require traditional classroom interactions. We also need to determine the best ways to teach our citizens the powers and limitations of the new technologies and how to use these technologies effectively in their personal and professional lives (PITAC 1999).
References
Hassan, R. (2001). Net results: Knowledge, information and learning on the Internet. Journal of Educational Enquiry, 2(2), 45-57.
PITAC report (1999). Ten critical national challenge transformations.
http://www.ccic.gov/ac/report/
Stoll, C. (1999). High-tech heretic: Why computers don’t belong in the classroom and other reflections by a computer contrarian. New York: Doubleday.
Tapscott, D. (1998). Growing up digital: The rise of the net generation. New York: McGraw-Hill.
Bryant Griffith – Faculty of Education. Acadia University. Wolfville, Nova Scotia.
[IF]Canada: the culture – KALMAN (CSS)
KALMAN, Bobbie. Canada: the culture. New York: Crabtree Publishing Company, 2002. 32p. KALMAN, Bobbie. Canada: the land. New York: Crabtree Publishing Company, 2002. 32p. KALMAN, Bobbie. Canada: the people. New York: Crabtree Publishing Company, 2002. 32p. Resenha de: BRADLEY, Jon G. Canadian Social Studies, v.37, n.2, 2003.
The Land, Peoples and Culture Series consists of a colourful collection of volumes aimed directly at what might be termed the elementary/young adolescent coffee-table/library market. Published by Crabtree, and slightly oversized at 21 cm by 28 cm, the glossy coloured pages and hardbound volumes are visually appealing as well as physically durable.
Twenty-two countries are currently represented in the series and the selection of the specific countries deserves a comment. The two unique continents of Antarctica and Australia are not represented at all. At first glance, this is a surprising omission. However, as the criteria appears to be a three-volume set for each country (a single volume for each interconnected theme of the land, the people, and the culture) one can perhaps understand these omissions. Nonetheless, while Antarctica certainly does not have a culture or human inhabitants within the parameters of the series framework, the omission of Australia does offer a moment’s pause. The selection of representative countries for the remaining five continents is quite diverse and certainly does provide for a wide and varied selection. Africa is represented by Egypt, Nigeria and South Africa; Asia by China, India, Japan, Tibet, The Philippines and Vietnam; Europe is heavily favoured with France, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Spain and Russia; North America’s sole representative is Canada; while Argentina, El Salvador, Mexico and Peru showcase South and Central America. In total, then, Crabtree has undertaken a somewhat ambitious project by producing sixty-six high quality books!
Neatly packaged within a common physical arrangement, the books are bright and colourful, and clearly would appeal to both a non-reading and early reading clientele. With some deviations, most pages are evenly split between short snippets of written text and visuals. While the majority of the visuals are coloured photographs of people and/or geographic locations and scenes, there is a smattering of art reproductions as well as the odd black and white rendition. The books appear to follow a set, if somewhat monotonous, pattern of a two page (or even multiples) spread for each topic or item within the theme. Canada: the people, for example, has the following chapter titles: ‘Faces of Canada’, ‘The first people’ (4 pages), ‘History and heritage’ (4 pages), ‘From around the world’, ‘Canadian families’, ‘City life’, ‘Country life’, ‘School’, ‘Haley’s skating lesson’, ‘Canadian cuisine’, ‘Sports and leisure’, and ‘Canada’s future’.
As there is no introduction or letter to parents or other such directional statement, the reader has to sort of guess the target audience envisioned by the publisher. There are no activities to do, no follow-up or research questions, no referenced web sites, and no bibliography of additional readings. The volumes are self-contained and inclusive and, interestingly, do not even direct the reader to the other books within the three volume subset of the same country.
From a readability point of view, the vocabulary seems straightforward with short and direct sentences. There is a small and select glossary at the back of each book along with a brief index. Certain key words are sometimes highlighted within the text and each visual has its own captioned notation.
As my maiden aunt used to muse, I am torn betwixt and between. I really, really like some aspects of the series (glossy paper, strong colour, short narratives) and, at the same time, I quite strongly detest other features (overly simplistic, tendency towards characterization). My personal dilemma is to attempt to take a reasonable professional stance and to offer an informed educational opinion.
While there is much that is positive within the series, there are comments as well as omissions that cause one to pause. In Canada: the people, for example, the description of elementary education (p. 22) is clearly of an Ontario model that is not applicable to the rest of the country and, furthermore, why is such a big fuss made of children wearing a school uniform? Additionally, while the story of Haley and her figure skating lesson (pp. 24-25) has much to recommend it as a blended family story, the picture accompanying the story does not reflect the facts as described. In Canada: the culture, no mention is made of either Pierre Berton or Farley Mowat as children’s authors although Margaret Atwood (pp. 16-19) gets prime billing for The Handmaid’s Tale. I am not at all sure of the relevance of a black and white photograph of Mary Pickford or a coloured picture of a very young Jim Carrey (pp. 20-21) as being of any interest to anyone. Canada: the land refers to Nova Scotia as Scenic, Quebec as Unique, Ontario as Bustling and British Columbia as Beautiful. I am a tad surprised that the other provinces were unworthy of a snappy qualifier. Is Montreal still the second largest French-speaking city in the world? Notwithstanding that choices are always difficult, the ‘Canadian places’ four page spread could have been far more creative and representative than brief descriptions of Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Historic Quebec City, Head-Smashed-In Buffalo Jump, and Dawson City along with a full-page view of the Chateau Frontenac overlooking the St. Lawrence River.
On balance and in the interests of reaching a decision (no sitting on the proverbial Canadian fence, eh?), I guess that I should not be too critical and more positively side with the opinion that something in print is better than nothing at all. After all, the books are very, very colourful and do attempt to do what some might well view as impossible in the first place; that is, describe this country historically, culturally, and geographically in less than 100 pages! Notwithstanding my own reservations and even though Kalman may only be able to present a somewhat simplistic view of this broad and complex society, I feel that these books would do well in a community children’s library, the junior section of a school library, and perhaps even be appropriate for children’s anniversary gifts if for no other reason than the wonderful visuals and pictures.
Jon G. Bradley – Faculty of Education. McGill University. Montreal, Quebec.
[IF]Festa: cultura e sociabilidade na América portuguesa – JANCSÓ; KANTOR (HE)
JANCSÓ, István; KANTOR, Íris. (orgs.). Festa: cultura e sociabilidade na América portuguesa. São Paulo: Imprensa Oficial; Hucitec; Edusp; Fapesp, 2001. 2v. 992p. (Coleção Estante USP – Brasil 500 anos, 3). Resenha de: RODRIGUES, André Figueiredo. História & Ensino, Londrina, v.8, p. 157-160, out. 2002.
A ligeira mulata, em trajes de homem
Dança o quente hmdu e o vil batuque;
E aos cantos do passeio inda se fazem
Ações mais feias, que a modéstia oculta.1
o poeta e jurista Tomás Antônio Gonzaga em suas Cartas Chilenas aludiu ao lundu e ao batuque, respectivamente, canto e dança, muito populares nas festas mineiras do século ‘I’11 como ele, alguns historiadores observam as festas, ou melhor, as manifestações da cultura popular como um lugar de subversão, de transgressão à norma disciplinadora do poder. Gonzaga, por ser aristocrata e moralista, vê a festa como uma grande promiscuidade, onde se misturam brancos, negros e mulatos, chegando mesmo a comparar Vila Rica em festas (atual Ouro Preto) às cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra.
Ao historiador, seguindo uma tradição herdada da Sociologia e da Antropologia, ficou a percepção que as manifestações populares nos dão acesso às experiências cotidianas de segmentos da população que ficaram por muito tempo silenciados. Daí o fascínio pela festa, um cenário privilegiado para observação do universo cultural dominante e, também, ambiente onde se encontra mesclado elementos próprios da cultura popular, com suas tradições, seus símbolos e suas práticas, constituindo-se num espaço de grande sociabilidade.
Assim, entender esse espaço, mostrar pesquisas que estão em andamento e fazer um balanço da produção recente sobre as festividades na América portuguesa e, conseqüentemente, suas implicações na formação da nacionalidade e da cultura nacionais, são os objetivos da edição da coletânea Festa: cultura e sociabilidade na América portuguesa, organizada pelos professores e historiadores István Jancsó e lris Kantor.
O livro, fruto de um seminário internacional realizado na USP em 1999, reúne 49 artigos escritos por pesquisadores brasileiros e portugueses, que se preocuparam em compreender as manifestações coletivas (festas, cerimônias, ritos, atos de sociabilidade, etc.) que influenciaram na construção de nossa identidade nacional. Segundo os organizadores, as festas são um dos pontos principais da imagem que o brasileiro faz de si mesmo e do estrangeiro sobre o país. Para grande parte da população, elas significavam um instrumento fuga ao controle exercido pelo Estado absolutista, com o qual sempre tivemos uma relação de sofrimento e de antagonismo. O Estado criado por nossas elites nunca foi um instrumento de harmonia, mas sim de desagrega1ção, pois jamais ele foi utilizado como mecanismo de identificação e de libertação.
Comu as festas coloniais nem sempre tinham a mesma dinâmica nem os mesmos objetos de pesquisa e, portanto, não podiam ser abordadas da mesma forma e através dos mesmos instrumentos analíticos, a obra pode ser dividida em três grandes momentos: um primeiro que trata das festas religiosas ligadas aos jesuítas e a catequese dos indígenas; um segundo período ligado ao processo de consolidação da sociedade urbana desde fins do século XVII e durante a centúria seguinte, notadamente em Minas Gerais. Isso se explica devido à urbanização ocorrida ao longo do setecentos, resultado de uma extensa rede de centros urbanos, e à diversificação da economia através do comércio, do artesanato, da mineração (do ouro e de diamantes), da agricultura e da pecuária. Somam-se a esses dados ainda o contingente populacional, a estrutura administrativa e a constituição de um mercado consumidor interno.
Nas sociedades urbanas, muitas festas, seguindo o modelo ditado pela metrópole, cultuavam o rei e/ou se dedicavam aos ritos processuais católicos, como as celebrações da Semana Santa, do Triunfo Eucarístico e do atual “Corpus Christi”. Mas, ao lado destas festividades, tínhamos também a existência de um número quase que incontável de festas de caráter popular.
Nas interessantes “subversões e inversões da ordem festiva”, uma das divisões do livro que pode ser incluída nesse segundo momento, nota-se que conhecemos muito pouco das festas de caráter político não oficial que integravam o cotidiano das vilas coloniais. Um exemplo dessas curiosas celebrações jocosas que utilizavam signos de poder ocorreu em 1732, quando desafetos do governador dom Lourenço de Almeida promoveram-lhe enterro simbólico, por ocasião de sua partida da capitania de Minas Gerais, enquanto outros celebraram uma missa paródica pela sua alma que, julgava-se, ardia no inferno.
Outras formas de resistência à ordem festiva e social vieram através da circulação de cartas e sátiras anônimas que insuflavam a população à rebeldia, ou ainda através da existência de representações teatrais, como a “Serração da Velha” -cerimônia caricata que ocorria na época da Quaresma, onde um grupo de foliões serrava uma tábua, aos gritos estridentes e prantos intermináveis, fingindo serrar uma velha que, representada, ou não por algum dos vadios da banda, lamentava-se num berreiro. A Velha representava uma entidade maléfica (3 morte) ou algo grotesco que perturbava a felicidade ou dificultava a conquista legítima de alguma coisa. Nesses casos, a festa era um “lugar por excelência capaz de tornar realidade uma das exigências básicas dos protestos: a mobilização popular, que constituiu recurso imprescindível da prática amotinadora a fim de garantir poder de pressão às suas exigências” (p. O terceiro momento é o das “festas na corte portuguesa”, período que se inicia com a transmigração da família real lusitana para o Brasil e vai até a nossa Independência. Nesse instante, as festas tornaram-se mais seletivas e as músicas se apresentaram com novos elementos funcionais, técnicos e estéticos, devido à importação de novos instrumentos musicais e a enriada de novos ritmos na corte dom João Além dos dois volumes que compõe a obra, encontra-se encartado no primeiro exemplar um belo CD com 26 músicas que acnrnpanharam o universo sonoro festas na América portuguesa, desde as tradiçôes medievais, no século XIII, até as práticas indígenas, religiosas e afro-americanas do século XVIII. A apresentação coube ao historiador e músico Maurício Monteiro c a direção artística à Ana Maria Kieffer.
Referências
GONZAGA, Tomás Antônio. Carta 6ª: Em que se conta o resto dos festejos. In: Cartas Chilenas. Edição organizada por Pereira Furtado. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.143.
André Figueiredo Rodrigues – Mestre em História Social / FFLCH-USP.
[IF]
Relações internacionais: dois séculos de história | Entre a preponderância européia e a emergência americano-soviética | Entre a ordem bipolar e o policentrismo (1947 a nossos dias)| José Flávio Sobra Saraiva || Relações internacionais e temas sociais: a década das conferências | José Augusto Lindgren Alves || Relações internacionais da América Latina: velhos e novos paradigmas | Amado Luiz Cervo || Relações internacionais: cultura e poder | Estevão Chaves de Rezende Martins || Cooperação/ integração e processo negociador: a construção do Mercosul | Alcides Costa Vaz
Foram lançados em 2002 mais dois títulos da coleção “Relações Internacionais”, que se juntam aos quatro levados a público no segundo semestre de 2001. A coleção é publicada pelo Instituto Brasileiro de Relações Internacionais (IBRI) e organizada por José Flávio Sombra Saraiva, diretor-geral do Instituto, com o apoio da Fundação Alexandre de Gusmão (Funag) e o patrocínio da Petrobras. O IBRI cumpre, assim, uma das importantes missões a que se propôs, que é a de difundir os estudos desenvolvidos no Brasil sobre as relações internacionais e sobre a inserção do país no cenário internacional. A coleção, distinta de outras que recentemente incorporaram-se ao mercado editorial do país, volta-se, com efeito, à exposição do atual pensamento brasileiro em relações internacionais.
Os dois volumes de “Relações internacionais: dois séculos de história”, organizados por José Flávio Sombra Saraiva, são, não por acaso, os dois primeiros títulos da coleção “Relações internacionais”. Trata-se de uma versão ampliada e revista de “Relações internacionais: da construção do mundo liberal à globalização (1815 a nossos dias)”, lançado em 1997, rapidamente esgotado. O primeiro volume intitula-se Entre a preponderância européia e a emergência americano-soviética (1815-1947) e o segundo Entre a ordem bipolar e o policentrismo (de 1947 a nossos dias). O leitor encontra nos dois caprichados volumes uma excelente síntese de quase dois séculos da história das relações internacionais, escrita de maneira acessível e instigante por quatro especialistas: além do organizador, José Flávio Sombra Saraiva, Amado Luiz Cervo, Wolfgang Döpcke e Paulo Roberto de Almeida. Os autores utilizaram bibliografia atualizada e da mais alta qualidade, trazida ao final de cada capítulo, o que permite ao leitor prosseguir facilmente no aprofundamento de temas que são de seu maior interesse. Leia Mais
O fim da utopia: política e cultura na era da apatia | Jacoby Russell
Resenhista
Ademir Luiz da Silva– Mestre em História das Sociedades Agrárias pela Universidade Federal de Goiás.
Referências desta Resenha
RUSSELL, Jacoby. O fim da utopia: política e cultura na era da apatia. Trad. Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2001. Resenha de: SILVA, Ademir Luiz da. História Revista. Goiânia, v.7, 1-2, p. 177-180, jan./dez.2002. Acesso apenas pelo link original [DR]
Metahistory. The Histórica, Imagination in Nineteenth-Century Europe / Hayden White
O papel da historiografia na construção social da cultura e, por conseguinte, na conformação da identidade dos integrantes dos respectivos grupos é um tema relevante na reflexão histórica contemporânea.
O ponto fulcral para a contribuição historiográfica ao processo de construção das identidades está no pensamento histórico e nas formas culturais de fixação deste pensamento. Esse tema tem ocupado debates e colóquios pelo mundo afora, além de conduzir a um grande número de publicações, desde a década de 1980.
Destacar e explicar o caráter multifacetado e mutante dos modos de expressão histórica do pensamento identificador da individualidade e da sociedade foi um dos objetivos principais do modelo narrativista inaugurado pelo livro de Hayden White, Metahistory. The Histórica/ Imagination in Nineteenth- Century Europe} Rapidamente essa obra veio a ser considerada como o sinal de uma mudança de paradigma na historiografia contemporânea, com a pretensão de ter superado ingenuidades passadas quanto à isenção metódica da história. A idéia é a de que o pensamento histórico de cada geração (mesmo dentro de uma “mesma” cultura) elabora seu modo próprio de ler e reler seu tempo e seus textos, a exemplo das teorias literárias estruturalistas, semióticas, desconstrutivistas, formalistas, intertextualistas, analíticas do discurso, enfim pós- e até mesmo pós-pós-modernas. O “choque” provocado pela teoria narrativista, ao pôr em evidência os limites da ciência histórica — questão que o paradigma “libertário” do modelo positivista e do seu culto às fontes, em sua influência sobre os modos de fazer história desde meados do século 19, havia amplamente ignorado. Um exagero parece ter acarretado o outro. As reações à teoria de Hayden White foram muitas. Aqui não se busca examinar este debate, mas registrar um de seus efeitos benéficos. A conside ração da diversidade historiográfica como um ganho para a produção do pensamento histórico e de sua inserção cultural em um mundo cada vez mais interativo e interdependente decorre, ao menos em sua valorização recente, deste debate, prevalente nos últimos vinte anos. Não há nisso apenas a (re)descoberta do outro como identidade própria (e não sempre reduzido à do observador ou a ela submetido), mas igualmente uma revalorização do recurso à teoria da história como sistema de equacionamento dos inúmeros fatores que constituem o “objeto” da análise social, inclusive no caso da história.
A coletânea editada por Jôrn Rüsen e Sebastian Manhart, Geschichtsdenken der Kulturen — Eine kommentierte Dokumentation (O pensamento histórico nas culturas — uma documentação comentada, Frankfurt/Main, Alemanha: Humanities On Line, 2002) tem por objetivo imediato abrir acesso, a todos os interessados, aos espaços culturais em que a memória e a narrativa, como constituintes do pensamento histórico, contribuem para a construção das identidades. Os dois primeiros volumes dessa colerânea trazem textos e comentários do espaço sul-asiático: Südasien — Von den A.nfàngen bis %ur Gegenwart (Ásia do Sul — dos primórdios ao presente). Stephan Conermann edita, introduz e comenta a visão muçulmana do século 13 ao século 18 (Die muslimische Sicht, 2002, ISBN 3- 934157-22-X, 350 p.), e Michael Gottíob faz o mesmo com o pensamento moderno da Ásia do Sul, de 1786 até os dias de hoje {Historisches Denken im modernen Südasien, 2002, ISBN 3-934157-23-8, 474 p.). Um terceiro volume encontra-se em preparação, versando sobre poética histórica indiana, a cargo de Georg Berkemer (Vom Rigveda %ur historischen Versdichtung — Hinduismus, Jinismus, Buddhismus und orale Traditionen, 2003, ISBN 3-934157-30-0, 344 p.).
A inspiração culturalista e historiográfica dessa coletânea deve seu impulso principal à teoria crítica da história elaborada por Rüsen,2 desde seu tempo como professor na Universidade de Bochum, mas fundamentalmente nos projetos que dirigiu no Centro de Pesquisa Interdisciplinar da Universidade de Bielefeld (ZiF, Bielefeld, Alemanha) e nos que dirige há quase dez anos no Instituto de Ciências da Cultura (Kulturwissenschaftliches Instituí), em Essen. Rüsen é certamente um dos principais autores contemporâneos de teoria e metodologia da história. Seu diálogo internacional é amplo e sua preocupação com a tarefa esclarecedora do pensamento histórico como fator de resgate da autonomia crítica dos indivíduos e como fator de entendimento multicultural são mundialmente reconhecidos Um dos desafios enfrentados por Rüsen está na forte pressão que o paradigma ocidental da ciência história vem sofrendo, nos últimos anos. Exige- se desse paradigma e de seus praticantes a revisão de seus fundamentos, não apenas por causa dos avanços significativos e da inovações de sua especialidade, mas igualmente pela consciência crescente de que o sistema ocidental de interpretações, predominante até o presente, está sendo cada vez mais posto em cheque pelas tradições historiográficas não-ocidentais, amplamente ignoradas, subestimadas ou menosprezadas. Apesar de o conhecimento das culturas não-européias ter progredido gradualmente — o que se deve também ao fato de que o circuito de influências da globalização produz efeitos reversos sobre os centros de irradiação da pressão econômica, comercial ou culrural — o conhecimento das múltiplas formas não-ocidentais de lidar com o passado ainda continua sendo absorvido de modo apenas superficial, tanto na ciência histórica como no senso comum. A perspectiva da historiografia ocidental continua claramente hegemônica, e até a história da historiografia permanece concentrada na historiografia ocidental desde os gregos (uma espécie de eurocentrismo expandido). Uma provável causa desse déficit cognitivo não se reduzia à mera falta de interesse pelas formas de pensar e de exprimir-se não-ocidentais, mas pode estar nas grandes dificuldades em se ter acesso aos textos básicos dessas culturas. As dificuldades mais freqüentes são duas: a barreira da língua e a inexistência de corpora sistematizados.
A falta de conhecimento acerca da relevância de determinados textos e das relações entre os diferentes gêneros textuais dificulta igualmente a compreensão de seus discursos quando não se está por dentro das respectivas ciências especializadas (por exemplo: sinologia, arabologia, indologia e assim por diante). A diversidade das tradições historiográficas, cujo significado somente se alcança no contexto da respectiva história social, religiosa e discursiva, tampouco vem a ser apreendida e avaliada adequadamente sem a intermediação de especialistas.
A edição comentada de textos “O pensamento histórico das culturas” contribui para diminuir os obstáculos referidos ao estudo dos discursos historiográficos não-ocidentais e para criar um acesso às formas mais representativas do modo de lidar com o tempo, com a lembrança e com a história, fora do âmbito eurocêntrico. A coletânea procura fornecer ao leitor um primeiro panorama de diversos textos de diferentes feituras, de modo a permitir construir uma representação adequada das respectivas tradições historiográficas. O período coberto vai dos primeiros inícios das tradições orais e escritas na forma de lendas religiosas, anais tribais, crônicas da corte ou do Estado, até os textos cada vez mais marcados pelo modelo da historiografia ocidental (ou a ela opostos, a partir de um passado recente).
Os critérios adotados pelo procedimento de seleção têm, obviamente, uma conseqüência inevitável: de um corpus sempre cada vez maior só se pode apresentar uma parte relativamente pequena. Ademais, quase sempre é preciso fazer a primeira tradução na história desses textos em uma outra língua, além de os ordenar e comentar cientificamente. A escolha e o comentário dos textos vão, pois, bem além do âmbito de uma única ciência especializada.
A edição destina-se tanto ao especialista em história ou outras ciências sociais da cultura como aos demais interessados, abrindo-lhes o acesso à história e à cultura das regiões em questão. Até os dias de hoje, não há, em inglês, francês ou alemão, nenhuma coletânea de fontes históricas dessas culturas. Para o público de língua neo-latina, como o leitor do português, a barreira da língua continua, mesmo se forma relativa, na medida em que o alemão não é um idioma correntemente praticado. Mas a barreira diminui, certamente, pois é ainda mais difícil encontrar quem possa ler e comentar textos em mandarim, hindu ou japonês.
O conceito diretor da coletânea, “pensamento histórico”, tem por intenção dar conta do amplo espectro das mais diversas maneiras e práticas de refletir sobre a experiência do tempo, o relacionamento com o tempo e as atribuições de sentido ao passado. A antologia reúne, por conseguinte, além de excertos da historiografia dinástica chinesa e dos discursos mais recentes sobre a especificidade científica da concepção indiana de história desde a independência, inscrições chinesas em ossos de oráculo ou em tablitas indianas, lendas de templos budistas, epopéias persas ou ainda trechos de romances populares árabes. A grande quantidade de gêneros literários, assim como sua classificação e seu comentário permitem apreender a amplitude dos modos de lidar com o passado, fora das tradições que nos são familiares. Pode-se desvelar, assim, a evolução constante de determinados gêneros literários, por vezes ao longo de séculos, e sua diferenciação, influência recíproca e mescla.
Ter colocado lado a lado conteúdos e linhas de tradição diversas permite também elaborar uma primeira representação da complexidade das respectivas culturas e relações sociais, determinantes dos processos de intercâmbio intercultural contemporâneo, no plano regional como global.
O plano geral da obra inclui ainda duas outras coletâneas já em andamento: sobre a China e sobre os países centrais do islamismo. Nas três coletâneas fica claro que a periodização estabelecida pelos autores foge do eurocentrismo, que colocaria o domínio colonial e a independência com marcos delimitadores. As obras procuram inserir-se em referências cronológicas internas aos textos e às culturas em que foram concebidos — embora, obviamente, as datas obedeçam ao calendário gregoriano hoje universalmente praticado na vida civil. Uma vantagem está em que as obras estão disponíveis também em formato eletrônico (www.humanities-online.de). E de se recomendar a todo interessado em abrir seus horizontes e conscientizar-se da diversidade social e cultural do mundo — mais importante talvez do que sua pasteurização “globalizada” — que faça uso dessa(s) coletânea(s), enriquecendo sua própria cultura com o aprendizado dos idiomas que lhes dão acesso — que seja começando pelo alemão.
Notas
1 O edição original, em inglês, foi publicada em 1973 pelajohns Hopkins University Press (Baltimore e Londres). Como em diversos outros países, o livro de H. White só veio a ser traduzido no Brasil em 1992 (EDUSP), omitindo-se no título em português de que se trata da imaginação histórica na Europa do século 19. A polêmica suscitada pela obra talvez explique a opção os editores. Com efeito, Metabistory tornou-se um clássico do assim chamado pensamento pós-moderno acerca da historiografia, a ponto de duas das mais importantes revistas dedicarem números especiais ao tema: History and Tbeory (vol, 19,1980) e Storia delia Storiografta (vols. 24 e 25,1993 e 1994).
2 A Editora da Universidade de Brasília já publicou o primeiro volume da teoria da história de J. Rüsen: Razão Histórica, 2000). Os dois volumes que completam o tríptico deverão ser publicados em 2003.
Estevão C. de Rezende MARTINS – Universidade de Brasília.
WHITE, Hayden. Metahistory. The Histórica/ Imagination in Nineteenth-Century Europe. Johns Hopkins University, 1973; RÜSEN, Jörn; MANHART, Sebastian (Ed.). Geschichtsdenken der Kulturen — Eine kommentierte Dokumentation (O pensamento histórico nas culturas — uma documentação comentada). Frankfurt/Main: Humanities On Line, 2002. Resenha de: MARTINS, Estevão C. de Rezende. Pensamento histórico, cultura e identidade. Textos de História, Brasília, v.10, n.1/2, p.214-219, 2002. Acessar publicação original. [IF]
Das Ráísel der Vergangenheit / Paul Ricoeur
As questões da apreensão da multiplicidade cultural do mundo contemporâneo e da compreensão de sua complexidade histórica e social são objeto da série “Conferências de Essen sobre Ciências da Cultura”, promovida e editada pelo Instituto de Ciências da Cultura.
Este Instituto, fundado em 1988 e sediado na cidade de Essen (Alemanha) é integrante do Centro de Ciências da Renânia do Norte/Vestfália. O Instituto (conhecido por sua sigla KWI, homólogo do Institute for Advanced Studies de Princeton ou do Wissenschaftskolleg de Berlim) é uma instituição pública, voltada para a pesquisa científica realizada mediante projetos de investigação dedicados aos problemas da sociedade e da cultura marcadas pelo desenvolvimento científico, pela sofisticação tecnológica e pela industrialização. Os projetos são desenvolvidos por grupos de estudo interdisciplinares, com temas vinculados à pesquisa fundamental no campo das ciências da cultura. O arco temático dos projetos apoiados pelo Instituto vincula-se aos problemas atuais de orientação das sociedades modernas no contexto internacional e intercultural.
Pesquisas dessa natureza não atraem facilmente a atenção do público. Seus resultados, contudo, são habitualmente incorporados pelas próprias ciências setoriais e continuam a surtir efeitos nelas e por intermédio delas. A interdisciplinaridade e o trabalho em grupo dos especialistas são uma condição importante para o êxito desse tipo de projeto. No entanto, o KWI considera ser também incumbência sua fundamentar a necessidade e a relevância de suas atividades e fazê-las perceber pelo grande público. Isso ocorre de forma multifacetada: conferências, mesas redondas, debates públicos, cursos de extensão.
A série de livros das “Conferências” publica textos escolhidos do programa de conferências do Instituto. Esses textos se originam em palestras abertas ao grande público, e ao especializado, elaboradas e completadas para os fins de publicação. O amplo leque temático documenta a amplitude e o alcance das questões ligadas às ciências da cultura, assim como o fascínio das constelações interdisciplinares de pontos de vista, perspectivas e estratégias de argumentação. Cada conferência representa, por si, uma faceta desse leque.
Cada uma é um componente do vasto complexo de abordagens do conhecimento, no qual as experiências do homem consigo mesmo e com seu mundo são interpretadas, as interpretações são refletidas e transformadas em orientações práticas, para afinal serem incorporadas nas mais diversas formas de determinações de sentido, em função das quais o homem age e interage com os outros.
A pesquisa em ciências da cultura requer distanciamento da atualidade do cotidiano imediato, independência com relação às lutas pelo poder e atitude crítica com respeito às polêmicas e dos conflitos de pessoas. A aparente ausência de aplicação prática imediata não raro traz à pesquisa básica e às ciências humanas a fama de serem um luxo, um desperdício. No entanto, o pragmatismo imediatista da pressão tecnológica — que decorre muito mais da lógica econômica da lucratividade — exige justamente que se desenvolvam reflexões que se libertem a prisão “dourada” em que os resultados “imediatos” parecem ser o máximo dos máximos. O longo prazo, a profundidade do alcance, a multiplicidade das perspectivas — esses e outros fatores fazem das ciências da cultura as que apreendem, descrevem, analisam, interpretam e explicam os complexos códigos de sentido — as estruturas de significado — que produzem, consolidam e reproduzem a(s) cultura(s). A ciência da cultura torna-se assim, ela mesma, um fator ativo da cultura como patrimônio coletivo e imaterial da sociedade. Ela desempenha o papel relevante de pensamento crítico e de diretriz interpretativa para a orientação — aí sim — prática do agir humano em todos os campos. A série de “Conferências” busca, assim, na apresentação de seu editor principal, Jórn Rüsen (Presidente do KWI), dar forma concreta a essa tarefa constante da crítica científica e social.
Da série estão disponíveis, até o final de 2003, doze pequenos volumes:
- Friedrich Kambartel. Pbilosophie und politische Òkonomie. Gõttingen: Wallstein Verlag, 1998 (3-89244-332-7) 85 p.
- Paul Ricoeur. Das Ráísel der Vergangenheit. Erinnern — Vergessen — Vençiben. 1998 (3-89244-333-5) 156 p.
- Klaus E. Müller. Die fünfte Dimension. So^iale Raum^eit und Gescbichtsverstàdnis inprimordialen Ku/turen. 1999(3-89244-348-3) 158 p.
- Jürgen Straub. Veriehen, Kritik, Anerkennung. Das Eigene und das Fremde in der Erkenntnisbildung interpretativer Wissenscbaften. 1999(3-89244-366-1) 95p.
- Burkhard Liebsch. Moralische Spielràume. Menschbeit und Anderheit, Zugehorigkeit und Identitãt. 1999 (3-89244-383-1) 128 p.
- Helwig Schmidt-Glinzer. Wir und China — China und wir. Kulturelle Identitãt im Zeitalter der Globalisierung. 2000 (3-89244-426-9) 101 p.
- Hans Schleier. Historisches Denken in der Krise der Kultur. Fachhistorie, Kulturgescbichte undAnfànge der Kulturwissenschaften in Deutschland. 2000 (3- 89244-427-7) 127 p.
- Gertrud Koch. Medien der Kultur. Film: Beivegungin derLatenç. (3.89244- 428-5). no prelo 9. Rolf Wiggerhaus. Wittgenstein und Adorno. Zwei Spielarten modernen Phi/osophierens. 2000 (3-89244-429-3) 143 p.
- Bernhard Waldenfels. VerfremdungderModerne. Phãnomenologische Ansãtze. 2001 (3-89244-459-5) 162 p.
- Hans-Ulrich Wehler. Historisches Denken am Ende des 20. Jahrhunderts. 1945-2000. 2001 (3-89244-430-7) 108 p.
- Ludwig Amman. Die Geburt des Islam. Historische Innovation und Offenbarung. 2001 (3-89244-460-9) 111 p.
Seus títulos representam efetivamente a variedade de perspecdvas que compõem o espectro ilimitado das questões culturais: Kambartel preconiza a crítica filosófica da economia política, sustentando a necessidade de ampliação da economia social de mercado (vol. 1); o respeitado filósofo Paul Ricoeur relembra um enigma amiúde negligenciado pela tecnologia da pesquisa: o passado só subsiste na memória e em seus vestígios, lidar com ela é questão de lembrar, esquecer, perdoar (vol. 2); como ecoando Ricoeur, o antropólogo Klaus Müller reforça a tese da memória na concepção de história, de origem, de pertencimento e de constituição do espaço social nas sociedades originárias (vol. 3).
Jürgen Straub, professor de comunicação intercultural, aborda a compreensão, a crítica e o reconhecimento: imagens de si e do outro nas ciências que recorrem à interpretação — um problema espinhoso, sobretudo para a interface entre história e psicologia social (vol. 4); Liebsch, professor de filosofia em Bochum, reflete sobre os campos — virtuais — do agir moral como espaço de relacionamento entre afirmação de si e reconhecimento da alteridade — com os problemas decorrentes da “etnicização” dos grupos e subgrupos nas sociedades (vol. 5). Como transparece ao longo de todos os volumes desta série, a referência de origem é a perspectiva cultural européia e o “déficit” de conhecimento e de compreensão da outras culturas [inclusive levando- se em conta a história colonial e seus efeitos perversos] — assim, a alteridade “radical” da cultura chinesa e a contraposição a ela histórica cultural européia, forçada pela globalização, e a impossibilidade de se entronizar novamente uma cultura hegemônica ocupam a reflexão de Schmidt-Glintzer, um dos maiores sinólogos alemães e diretor da famosa Biblioteca do Duque Augusto, em Wolfenbüttel (vol. 6).
A diversificação do tecido cultural da sociedade abriu, também para os historiadores, a crise da identidade em sua especialidade e a instrumentalização da historiografia para projetos políticos passou a ser problematizada. Hans Schleier os primórdios das ciências da cultura na Alemanha e o papel da ciência da história no contexto da crise da cultura contemporânea, a partir da experiência da desconstrução e da reconstrução alemãs entre 1880 e 1930 (vol. 7). O fenômeno da mídia — em particular da crítica social no cinema — e seu impacto na concepção do pertencimento social é o tema estudado por Gertrud Koch, professora de cinema em Berlim, ainda a ser publicado (vol.8). Wittgenstein e Adorno como representantes de dois formatos de crítica filosófica no século 20: a analítica, formal, que não se manifesta sobre o inverificável, e a dialética, engajada, que não admite que não se manifeste sobre o inefável e o subentendido são os objetos de Rolf Wiggerhaus, filósofo e jornalista (vol. 9). Bernhard Waldenfels, professor de filosofia prática e fenomenologia em Bochum, desenvolve uma forte e consistente crítica à alienação do projeto (incompleto) da modernidade por causa de seu individualismo pretensioso que concebe o global como projeção de si — e por isso mesmo compromete a racionalidade como faculdade do indivíduo e como liame do coletivo (vol. 10). O historiador Hans-Ulrich Wehler, um dos chefes de fila da escola de história social de Bielefeld, faz um balanço comparativo dos resultados obtidos pela reflexão historiográfica na segunda metade do século 20 — por exemplo, acerca do caráter “ocidental” das grandes conquistas políticas, como o estado de direito e o sistema parlamentar e eleitoral universal —, e os parcos efeitos que esses conhecimentos tiveram, até o presente, sobre a crítica social, política, econômica e cultural do mundo contemporâneo (vol. 11). O contraste inquietador que as culturas não-européias provocam nas sociedades de feitura européia é uma espécie de enigma adicional que intriga e mesmo atemoriza a “matriz” européia. A longa experiência das sociedades européias (ocidentais) e da norte-americana de ver as demais sociedades ser-lhes submissas ou ao menos delas discípulas, leva Ludwig Ammann, especialista em islamismo e jornalista, a sistematizar as circunstâncias do nascimento do islã (o aparecimento de Maomé e de sua pregação do monoteísmo, à maneira de um messias) e o choque que provoca nas tribos politeístas árabes e nas respectivas relações sociais, ao enunciar a necessidade da conversão como o sentido de uma missão transcendental instituída por revelação divina — e de como foi possível o fenômeno da islamização das culturas árabes a partir do século 7o (vol. 12).
Duas reflexões se impõem, diante da variedade e da complexidade dos temas abordados pelos textos da série. A primeira é relativa ao caráter pioneiro de abrir espaço de discussão e de contraponto, no âmbito de culturas tradicionalmente avançadas e extremamente seguras e cheias de si, como a alemã. Essa iniciativa do KWI se entende bem pela forma característica de Jõrn Rüsen de conceber o papel da reflexão histórica como um dos fatores relevantes na interculturalidade da comunicação social. Trata-se de uma contribuição de importância tanto para incrementar o arejamento do debate público e científico alemão e europeu como para resistir à crescente intolerância para com o outro e o diferente, que distorce as relações intra- e intersociais, em um mundo cada vez mais marcado pela produção e pela circulação ilimitada de informações. Essa abertura científica e cultural protagonizada pelo KWI reveste-se de duas qualidades adicionais: coragem pública e exemplaridade.
A segunda reflexão refere-se à utilidade de publicações desta natureza para sociedades multiculturais, como a brasileira. A dupla constatação de que há fissuras (bem-vindas) na torre de marfim do eurocentrismo e de que se toma consciência da necessidade de apreender o outro não para reduzi-lo a si é uma perspectiva alvissareira de fecundação da ciência pratica no Brasil. A história é um eixo de constituição da identidade que incorpora, à luz de estudos críticos como os desta série “Conferências sobre Ciências da Cultura”, a dimensão do processamento intelectual e cultural da diversidade como integrantes dialéticos do retorno a si mediante a afirmação do outro, e não por sua eliminação. A leitura historiográfica da cultura e da sociedade pode enriquecer-se com os pontos de vista da interculturalidade, superando assim a constante tentação do nombrilismo nacionalista.
Estevão C. de Rezende Martins – Universidade de Brasília.
RICOEUR, Paul. Das Ráísel der Vergangenheit. Erinnern — Vergessen — Vençiben. 1998. 156p. Resenha de: MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura, multiculturalismo e os desafios da compreensão histórica. Textos de História, Brasília, v.10, n. 1/2, p.225-230, 2002. Acessar publicação original. [IF].
As Relações entre o Brasil e o Paraguai (1889-1930): do afastamento pragmático à reaproximação cautelosa | Francisco M. Doratioto || José Martí e Domingo Sarmento: duas idéias de construção da hispano-América | Dinair A. Silva || Segurança Coletiva e Segurança Nacional: a Colômbia entre 1950-1982 | César Miguel Torres Del Rio || Entre Mitos/ Utopia e Razão: os olhares franceses sobre o Brasil (século XVI a XVIII) | Carmen L. P. Almeida || A Parceria Bloqueada: as relações entre França e Brasil/ 1945-2000 | Antônio C. M. Lessa || Políticas Semelhantes em Momentos Diferentes: exame e comparação entre a Política Externa Independente (1961-1964) e o Pragmatismo Responsável (1974-1979) | Luiz F. Ligiéro || Dimensões Culturais nas Relações Sindicais entre o Brasil e a Itália (1968-1995) | Adriano Sandri || Opinião Pública e Política Exterior nos governos Jânio Quadros e João Goulart (1961-1964) | Tânia M. P. G. Manzur || O Parlamento e a Política Externa Brasileira (1961- 1967) | Antônio J. Barbosa || Los Palestinos: historia de una guerra sin fin y de una paz ilusoria en el cercano oriente | Cristina R. Sivolella || Do Pragmatismo Consciente à Parceria Estratégica: as relações Brasil-África do Sul (1918-2000) | Pio Penna Filho || Entre América e Europa: a política externa brasileira na década de 1920 | Eugênio V. Garcia
As relações internacionais, enquanto objeto de estudo, vêm se desenvolvendo de maneira satisfatória nos últimos anos no Brasil. Parte desse avanço é devido ao surgimento de cursos de pós-graduação na área, que colocam o estudo das relações internacionais, de modo geral, e a inserção externa do Brasil, em particular, no centro das preocupações de pesquisa. O primeiro programa de pós-graduação em História das Relações Internacionais na América do Sul foi criado na Universidade de Brasília, em 1976. Em torno desse Programa formou-se uma tradição brasiliense de estudo de relações internacionais. Ao longo de mais de vinte anos de atuação, o Programa produziu cerca de sessenta dissertações de mestrado e, com a implantação do doutorado em 1994, doze teses.
Uma particularidade das teses de doutorado do Programa é a diversidade temática. A ampliação dessa linha de pesquisa permitiu a modernização da História das Relações Internacionais. Assim, junto com os estudos que privilegiam as relações bilaterais do Brasil, inseriram-se novos temas e objetos de investigação. Com efeito, há estudos que aprofundam a análise das parcerias estratégicas, a opinião pública, a imagem, a segurança internacional, o pensamento político, as relações internacionais do Brasil e as relações internacionais contemporâneas. Tais estudos evidenciam a diversificação de olhares sobre a inserção internacional do Brasil. Leia Mais
Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman – Du GAY et al (CSS)
Du GAY, Paul; HALL, Stuart; JANES, Linda; MACKAY, Hugh Mackay; NEGUS, Keith. Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman. London: Sage Publications, 1997. 151p. EGNAL, Marc. Divergent Paths: How Culture and Institutions Have Shaped North American Growth. New York: Oxford University Press Canada, 1996. 300p. Resenha de: EASTON, Lee. Canadian Social Studies, v.35, n.2, 2001.
Now that cultural studies has settled nicely into academe, cultural analyses are appearing on a regular basis. Right on cue, here is Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman, a recent addition to Stuart Hall’s Culture, Media and Identities series. I give this book special note, however, because a text on doing cultural studies is slightly different than one that thinks about doing cultural studies. While several excellent anthologies currently talk about cultural studies, these are often heavy on theory with little in the way of sustained application. In contrast, Doing Cultural Studies shows not only how to think about cultural studies, but how to do it too. Using the Sony Walkman as a case study, du Gay and his co-authors provide a much-needed text showing cultural studies in action.
Focusing on the circuit of culture, the authors use key concepts in cultural studies such as representation, identity, production, and consumption to analyze the Walkman as a cultural artifact. Educators will appreciate that this case study is structured so that its approach can be refined, expanded theoretically and applied to new objects of cultural study (11). Overall, the text clarifies without reducing complex terms. Also, although the segment on globalization is a bit thin, the section dealing with production, along with the one connecting design to consumption and production, easily offsets that criticism. Indeed, these two sections, in my view, illustrate cultural studies at its best. Drawing on a variety of sources, du Gay, et al. show, in Section II, how the Walkman’s success emerged not just from clever marketing, but also from Sony’s particular hybrid culture, its corporate structure and its production techniques. Section III neatly links consumers and their responses to the product’s ultimate design and image.
Although the book is text heavy, it includes a significant number of photographs, sample advertisements and even statistical data for readers to consider. The text also contains an appendix of selected readings, including challenging theoretical works such as excerpts from Walter Benjamin’s The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, as well as more accessible articles from popular media such as Shu Ueyama’s The Selling of the ‘Walkman from Advertising Age. Given their orientation to British cultural studies the authors, perhaps not surprisingly, include two selections from Raymond Williams. Better yet, the authors have integrated the readings into the main text’s structure so that readers can move in and out of the selections in relevant ways.
Although this text could benefit by augmenting its approach with more focus on gender, Doing Cultural Studies is a great introductory text for instructors who want to teach cultural studies in a post secondary setting. I would caution though, that despite its reader-friendly approach, many secondary students might find the work overwhelming. It would, however, be a fine resource for teachers wanting a concrete example of doing cultural studies.
In a more academic vein, Divergent Paths, Marc Egnal’s erudite comparative analysis of economic growth in French Canada and the American North and South, offers another sustained example of cultural analysis. Starting with representative accounts of life in the three regions, Egnal notes all three were roughly economically equal in the 1700s. Then, moving beyond accounts that focus on physical resources, access to capital or government policy, Egnal argues that culture and institutions shaped the divergent paths followed by the North, on the one hand, and the South and French Canada, on the other (viii). According to this account, both French Canada and the American South developed hierarchical, conservative cultures that were slow to adopt change while the American North, from the outset, developed a more open approach to change, especially around industrialization. These cultural values and attitudes then shaped each region’s development during the late 19th and early 20th century.
Interestingly, Egnal contends that these values were evident in, and produced by, the early approaches to the land and the institutions which developed in each region: the seigneurial system in French Canada, slavery in the American South, and independent farmers in the American North. He follows this argument with a close comparative analysis of the three regions in terms of education and mobility, religion and labour, and entrepreneurial spirit and intellectual life. In Part II, he shows how these values shaped growth until the later 20th century when these older values were challenged and ultimately replaced. Readers will find his analysis of the Quiet Revolution, the emergence of the Rustbelt, and the Sunbelt’s growth in the 1970s fascinating reading.
I do have two reservations. Despite Egnal’s wonderful documentation and his demarcation of controversial points, my more postmodern tendencies wonder whether culture becomes too large an explanatory force, even when contained at the regional level. I also suspect that, although Egnal certainly attends to women and their roles in these cultures, a more gendered story may yet be told here. These caveats notwithstanding, Egnal’s work shows how culture is a powerful analytical tool.
Although these books employ culture differently, they provide readers with strong evidence that although doing cultural studies might take divergent paths, the product is always intriguing. Both are worth reading.
Lee Easton – Mount Royal College, Calgary.
[IF]Canadian Society: A Changing Tapestry – BAIN et al (CSS)
BAIN, Colin; COLYER, Jill; NEWTON, Jacqueline; HAWES, Reg. Canadian Society: A Changing Tapestry. Toronto: Oxford University Press, 1994. 284p. Resenha de: MANDZUK, David. Canadian Social Studies, v.35, n.4, 2001.
Canadian Society: A Changing Tapestry is an appealing textbook that introduces secondary school students to the social sciences, in general, and human behavior and social trends, in particular. The book is comprised of nine chapters that cover the following broad areas: the human species; social behavior; human communication; the impact of culture; social institutions; alienation and conformity; aggression and violence; social issues; and, the future. The authors introduce each of the major issues explored in these chapters with key words and terms and conclude with relevant follow-up activities that involve skills like interpreting, analyzing, communicating, and synthesizing. In addition, each of these chapters concludes with a discussion of careers in the social sciences and active learning opportunities such as debating, observation, and research possibilities.
In my mind, three of the nine chapters are particularly relevant for secondary school students; they are Chapters 5, 6, and 8 on social institutions, alienation and conformity, and social issues respectively. Chapter 5, for example, addresses social institutions such as the Canadian school system, the Canadian justice system, and the Canadian military. Teenagers’ feelings about peer groups and family influences are also explored. Chapter 6 discusses the concepts of alienation and conformity. In this chapter, the authors examine how teenagers experience alienation in school and in the workplace and the social pressures that cause them to conform. In addition, the concepts of obedience and deviance are also examined.
I believe that one of the most engaging and extensive chapters is Chapter 8, which addresses social issues. Some issues that are examined are illegal drug use, family violence, and gun control. Bain, et. al. point out that social issues like these have a variety of solutions which are frequently incompatible with one another; in other words, if one solution is adopted, the others are automatically ruled out. The authors, for example, pose the dilemma of what to do with first-degree murderers. Some people believe that they should be rehabilitated while others believe that they should be executed; therefore, because people who have been executed obviously cannot be reformed, these solutions come into direct contact with one another. The authors use this scenario to argue that, in order to solve the important social issues of the day, we must follow a structured process. They go on to describe a detailed 12-step process for solving such issues.
In step 1, Bain, et. al. explain how to translate general concerns into defined problems. In step 2 students are asked to identify alternative solutions. In step 3 the students are expected to decide among the alternatives and develop criteria for evaluating them; and, in step 4 students are asked to rank the criteria according to importance. For example, criteria such as protection of society, reforming offenders, and financial cost to society are suggested when considering what to do with people who commit serious crimes. Step 5 involves another stage of the problem solving process where students begin to collect data using strategies such as content analysis, anecdotal notes, and focus groups.
Step 6 highlights organizing data using tools such as Venn and tree diagrams, classification charts, and cross-classification charts. Step 7 encourages the predicting of consequences. Step 8 focuses on forming conclusions; and, step 9 moves into assessing conclusions. The final stages of the problem solving process, steps 10 through 12, involve preparing, presenting, and evaluating conclusions.
Although I find this extensive process to be worthwhile, I wonder if it might be too lengthy given the audience for which it is intended. In other words, my hunch as an experienced teacher is that students would still gain an appreciation of the complex nature of social issues if the process were simplified. In spite of this criticism, however, I do believe that the authors are right on the mark with this approach to introduce the social sciences to secondary students. They have tried to make this text as relevant for Canadian readers as possible and they have tried to appeal to a younger audience by integrating cartoons and other visuals such as photographs, tables, and graphs. I strongly recommend this text for secondary schoolteachers who are interested in introducing their students to the social sciences in a balanced and thoughtful manner.
David Mandzuk – Henry G. Izatt Middle School. Winnipeg, Manitoba.
[IF]
América Latina no Século XIX. Tramas, Telas e Textos – PRADO (VH)
PRADO, Maria Ligia Coelho. América Latina no Século XIX. Tramas, Telas e Textos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo EDUSP; Bauru: Editora da Universidade do Sagrado Coração – EDUSC, 1999 (Ensaios Latino-Americanos; 4). Resenha de: MARTINS, Maria Cristina Bohn. Varia História, Belo Horizonte, v.16, n.23, p. 234-238, jul., 2000.
Dois são os campos em torno dos quais Maria Ligia Coelho Prado centra suas reflexões em “AMÉRICA LATINA NO SÉCULO XIX. Tramas, Telas e Textos”: a história da cultura e das idéias políticas. Surgida em 1999 — em edição esmerada e muito bem ilustrada — numa publicação conjunta das Editoras da Universidade de São Paulo e da Universidade do Sagrado Coração, a obra reúne — revistos e ampliados — um conjunto de textos que foram apresentados pela autora como tese de livre docência ao Departamento de História da Universidade de São Paulo. Se cada um deles representa uma abordagem sobre uma América multifacética, em conjunto eles constituem um esforço de entendimento das peculiaridades deste universo que é o continente latino-americano.
Centrada no século XIX, a obra percorre diversos temas e questões — que, de fato, entrelaçam-se — fundamentais para a compreensão de um período crucial da história do continente e das nações que o compõem. E, ainda, o faz buscando, em alguns ensaios, fugir aos limites nacionais e propondo, através da história comparada, pensar semelhanças e diferenças entre o Brasil de colonização lusa e os Estados Unidos de colonização anglo-saxônica, em relação aos países americanos de colonização hispânica. Como questões importantes para pensar o século e o espaço em questão, a autora escolheu temáticas que vão das relações entre Universidade, Estado e Igreja à construção das identidades nacionais, do papel dos intelectuais latino-americanos nos debates de sua época sobre a democracia e a participação popular no processo político, ao âmbito do feminino, expresso, tanto na sua participação nas lutas pela independência, quanto no universo de suas leituras no XIX.
Os dois primeiros capítulos do livro retomam um tema capital da primeira historiografia latino-americana: o momento da independência em relação do domínio espanhol. Propõem a eles, contudo, um tratamento que se distancia da produção mais tradicional, ocupada fortemente em exaltar a atuação dos líderes das guerras de emancipação.
No primeiro, “A participação das mulheres nas lutas pela independência política na América Latina”, a autora lembra que, apesar da intensa renovação teórico-metodológica da historiografia contemporânea, a participação feminina nas história da independência da América Latina é território ainda pouco ou nada explorado. Desta forma, e “revertendo a perspectiva de alheamento da mulher das coisas públicas” preocupa-se em desvendar o papel desempenhado por elas nos eventos em questão. Falando da sua participação como mensageiras, como soldado nos exércitos camponeses, ou das suas atividades acompanhando as jornadas das tropas — cozinhando, costurando ou lavando —, das ricas criollas de famílias tradicionais ou de mulheres pobres ou mestiças, o texto de Maria Ligia Prado evidencia a necessidade de uma maior consideração por parte da historiografia da presença feminina num universo que tradicionalmente é percebido como especificamente masculino. Igualmente esclarecedor é o seu alerta para que esta reavaliação não incorra na perspectiva reducionista que, quando reservou-lhe algum papel nesta história, circunscreveu-o de forma a enquadrá-lo não “no espaço público onde efetivamente deu-se sua atuação política”, mas a recolhendo ao circuito do espaço privado, “já consagrado como ‘o lugar da mulher’ “.
Já em “Sonhos e Desilusões nas Independências Hispano-Americanas”, percorrem-se os caminhos do pensamento e da prática políticorevolucionária do colombiano Francisco José de Caldas e do mexicano Miguel Hidalgo y Costilla. O primeiro, postulando uma nova concepção de ciência que questionava os pressupostos escolásticos nos quais se baseara o conhecimento no período colonial, assumiu também uma posição política que o levou a abraçar a causa da independência e, em nome dela, perder a vida. O segundo, levou esta posição ao extremo de conduzir uma insurreição popular que mobilizou as massas em um movimento que fez tremerem as bases do domínio colonial no México. No entanto, “tempos de transformação trazem em si grandes esperanças e sua outra face, as inevitáveis frustrações”, lembra a autora, ao passar a discutir as posições crescentemente autoritárias e conservadoras que foram sendo assumidas por muitos dos que, à época da independência, haviam-se guiado pelas doutrinas liberais. Desta forma ela nos faz acompanhar o movimento pelo qual — no período posterior às guerras de emancipação — aqueles que as tinham iniciado reivindicando a liberdade, passaram a advogar em nome da autoridade.
Dois intelectuais liberais — o argentino Esteban Echeverría e o mexicano José María Luis Mora — são o objeto de análise do terceiro capítulo da obra, em que se analisa suas particulares concepções de democracia e soberania popular, uma vez que justificavam a exclusão dos setores populares da arena política. O ensaio acompanha a reflexão dos dois pensadores sobre os significados das liberdades e da soberania popular, avaliando em que medida a mesma estava condicionada pelas contingentes situações políticas vivenciadas em seus países. Se suas trajetórias pessoais realizam-se por caminhos diferentes, esclarece-nos a autora — Echeverría que fez parte da Geração de 37 não viveu para ver o fim do domínio rosista na Argentina, enquanto que Mora exerceu intensa atividade política tendo participado do governo liberal de Valentín Gómez Farías —, ambos convergem em, a par de sua defesa dos pressupostos da liberdade e da soberania popular, propor mecanismos legais para evitar uma concreta e perigosa participação dos setores populares. Estes seriam desqualificados como sujeitos políticos em favor dos ilustrados que saberiam melhor guiar-se pelo império da razão. Sobre o pensamento e preocupações de ambos, a autora afirma que estavam em consonância com “a situação histórica de seus países e (…) plenamente adequados à realidade latino-americana”, para concluir fecundamente que não se deve concordar com “certas interpretações que separam (…) de um lado , o ‘purismo’ dos pressupostos liberais e democráticos e, de outro ‘a crua e violenta realidade latino-americana’ “.
Na América Espanhola viveu-se, no período pós-independência, uma época de intenso debate entre os defensores da manutenção da universidade colonial e aqueles que propugnavam pela sua extinção, uma vez que viam-na como baluarte do atraso e do domínio da Igreja. Estes últimos propunham que, em substituição aos antigos estabelecimentos de ensino, fossem criadas novas instituições, alicerçadas nos princípios liberais. Este é o objeto do quarto artigo da obra — “Universidade , Estado e Igreja na América Latina”— em que aborda-se o tema das universidades desde o século XIX, tomando-as a partir do campo da história das instituições e das idéias “que devem ser pensadas dentro de um certo contexto sócio-político”. Desta forma, propõe-se a autora a acompanhar, em países diferentes, formas distintas de pensar o tema, elencando o Chile e o México como campo de análise, segundo as especificidades sócio-políticas dos dois países. Por fim, ela aborda o Brasil, em que a primeira universidade surge já em pleno século XX para avaliar como as relações entre Estado, Igreja e Universidade aparecem compondo um quadro em que estão entrelaçados o universo político-ideológico, as lutas sociais e as soluções educacionais propostas.
“Lendo Novelas no Brasil Joanino” estuda textos inscritos neste gênero literário publicados pela Imprensa Régia no Brasil entre 1810 e 1818. A autora propõe-se aí, a analisar a possível “existência, neste período, de um público feminino, provável leitor desses livros, e falar das restrições impostas pela censura oficial à seleção dos textos impressos”. O trabalho de Maria Ligia Prado, porém, não só traça respostas para tais questões, como remete os leitores a outras e igualmente importantes indagações, e que se ligam à história das práticas de leitura. A autora identifica aí, a tensão central de toda história da leitura, entre concepções que postulam a absoluta eficácia do texto (ligadas ao campo de sua produção), ou as que percebem-na como uma prática criativa que inventa conteúdos e significados particulares, não redutíveis às intenções de autores, editores ou censores. Assim, conduzindo-nos ao universo das publicações destinadas às mulheres leitoras do Brasil Joanino, Maria Ligia Prado nos remete, também, aos paradigmas de leitura predominantes neste período e lugar, aos diferentes “modos de ler”, com seus gestos próprios e seus usos particulares do livro. Temas estes, indispensáveis para pensar-se em como os textos escritos, as “novelas para mulheres” neste caso, puderam ser apreendidos, compreendidos e manipulados.
O sexto ensaio, “Para ler o Facundo de Sarmiento” detém-se sobre um dos textos basilares do pensamento político latino-americano e referência fundamental do pensamento argentino. Obra polêmica, matriz de incontáveis e apaixonadas discussões, “Facundo ou Civilização e Barbárie”, foi publicado pela primeira vez em 1845. Sobre ela, a autora preocupou-se em localizar a produção da obra em sua época, analisar suas partes constitutivas e oferecer um quadro dos principais temas e debates que o livro suscitou e tem suscitado. Desta forma, avalia como imbricadas na dicotomia apresentada por Sarmiento entre civilização e barbárie — encontram-se as propostas do autor para um projeto político alternativo para a Argentina, projeto este calcado nos supostos da doutrina liberal e no unitarismo.
E, indo além da análise desta antinomia que é a faceta mais conhecida da obra, Maria Ligia Prado recupera a produção historiográfica mais recente, apontando outras tantas leituras possíveis. Estas podem deter-se, por exemplo, na análise do livro de Sarmiento como representação dos interesses de determinados segmentos sociais da Argentina da época, ou preocupar-se com outras franjas do texto, suas “sutilezas e ambigüidades”, como chama a autora. É assim que o campo, locus da barbárie, é também o espaço do heroísmo, “envolvido em certa pureza e integração com a natureza que a civilização teria, contraditoriamente, que destruir”. Ou ainda a avaliação sobre a aproximação de Sarmiento com o mundo da tradição oral, uma vez que, embora partidário convicto da importância da educação letrada, foi com depoimentos deste tipo que ele construiu suas considerações sobre a vida dos caudilhos.
Enquanto Sarmiento pensa a natureza argentina sob o signo da negatividade — espaço selvagem que cerca e oprime, lugar por excelência da barbárie — escritores e pintores norte-americanos percebiam-na, na metade do século XIX, como fonte cultural e moral e como base da auto-estima nacional. Esta perspectiva particular sobre a wilderness e sua articulação com a construção da identidade e do nacionalismo norte-americano, é o tema de “Natureza e Identidade Nacional nas Américas”. Neste ensaio, a autora analisa a construção de um repertório de imagens nacionais nos Estados Unidos, calcados na força regeneradora da sua natureza — jovem, vigorosa e pura — em contraste com o desgastado mundo europeu; natureza vista sob o signo da positividade, e em benéfica comunhão com seus habitantes e suas instituições.
Assim, enquanto para Sarmiento a solidão dos vastos espaços vazios, que colocam o homem em contato com a natureza, implica na ausência de respublica e favorece o despotismo e a barbárie, Frederick Jackson Turner revolucionava a historiografia norte-americana do período, propondo que era da free land das florestas que brotava a democracia. Ali onde Sarmiento encontrava um fator de dificuldade para os gaúchos organizarem-se como sociedade civil, Turner via a possibilidade de brotar um individualismo que era promotor da democracia. A fronteira, ponto de encontro entre a civilização e a wilderness, é para ele um espaço regenerador, traduzindo-se em renascimento e rejuvenescimento.
Explorando as construções do imaginário americano, Maria Ligia Prado analisa também neste ensaio, o diálogo travado entre os textos escritos e o repertório iconográfico, especialmente o da chamada Escola do Rio Hudson, cuja perspectiva sobre a natureza norte-americana era igualmente edulcoradora. Emergem daí cenários de paisagens intocadas, de uma natureza não-domesticada, que igualmente contribuíram para a elaboração da identidade nacional. Era, assevera, “uma arte nacionalista, que pretendia afirmar que a natureza atingira sua forma mais pura e elevada nos Estados Unidos”.
Com uma narrativa que consegue ser fluente sem fugir, em nenhum momento, do rigor científico e da erudição, nem incidir na simplificação dos conceitos, “AMÉRICA LATINA NO SÉCULO XIX. Tramas, Telas e Textos” é uma preciosa via de acesso a uma época particularmente importante do universo latino-americano. Expressão da maturidade intelectual de sua autora, a obra nasceu clássica e percurso obrigatório para todos que pretenderem entender este universo, em — nas palavras da autora — suas tramas, telas e textos.
Maria Cristina Bohn Martins – Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, RS.
[DR]
Cidade febril: cortiços epidemias na corte imperial | Sidney Chalhoub || Salud/ cultura y sociedad en America Latina: nuevas, perspectivas históricas | Marcos Cueto
O interesse pela história da medicina tropical tem crescido muito, em virtude de numerosas injunções políticas e acadêmicas. O imperialismo, por exemplo, voltou a ser objeto de estudos acadêmicos, levando-nos a indagar sobre a importância que os impérios tiveram para a ciência e a medicina, e vice-versa, seguido do estímulo fornecido pelos estudos sobre o período pós-colonial, dos quais derivam questões acerca do papel crítico desempenhado pelas colônias na constituição ou genealogia da ciência e medicina nos centros metropolitanos. Problemas contemporâneos também contribuem para o crescente interesse pela história da medicina tropical. A persistência de doenças como a malária, o retorno de ‘antigas’ doenças, outrora consideradas quase vencidas, como o cólera, assim como o surgimento de novas enfermidades letais, como a causada pelo vírus Ebola, levam-nos a investigar a geografia e economia política das doenças, bem como os estilos que a medicina tropical ganhou nesses diversos cenários. O cólera e a malária já foram, é claro, doenças comuns na Europa, mas, no início do século XX, tinham sido requalificadas como essencialmente “tropicais”. Tal redefinição nos leva a indagar: em que consiste a tropicalidade das doenças tropicais? Leia Mais
Salud, cultura y sociedad en América Latina: nuevas perspectivas históricas | Marcos Cueto
“Show us a community wallowing in vice, whether from the pamperings of luxury or the recklessness of poverty, and we will show you that there truly the wages of sin are death. Point out the government legislating only for a financial return, regardless or ignorant of the indirect effects of their enactments, and we shall see that the pieces of silver have been the price of blood.”
Robert Ferguson, 1840
Uma coletânea de artigos é sempre difícil de resenhar, pois reflete invariavelmente uma forte tensão entre a diversidade de perspectivas dos autores e a unidade temática que o organizador deseja, a custo, preservar. Mas a Introdução facilita minha tarefa: feita com clareza e domínio do tema, traça um amplo painel dos estudos históricos da saúde na América Latina e apresenta, nas notas, uma copiosa bibliografia. Desse modo, antecipa ao leitor as ferramentas necessárias para lidar com a diversidade. Cada capítulo pode, então, ser lido a partir das preciosas indicações de Marcos Cueto.
A Introdução propõe distinguir “a saúde na história” e “a história da saúde”. O primeiro termo corresponde aos processos e rupturas vividas pela saúde na América Latina desde o século XVIII; o segundo abarca, como o primeiro, alguns estudos exemplares, mas a atenção concentra-se nos paradigmas e linhagens a que se filiam tais estudos e que demarcam um campo intelectual. A análise é esclarecedora. Gueto distingue aqui três territórios, um primeiro, ocupado pela historiografia tradicional, freqüentemente de cunho hagiológico; um segundo, constituído por estudos institucionais, que privilegiam as relações entre as instituições de saúde e as estruturas econômicas e políticas; um terceiro, em formação e de maior complexidade, sob o impulso de jovens historiadores sociais latino-americanos. Leia Mais
Do contágio à transmissão: ciência e cultura na gênese do conhecimento epidemiológico | Dina Czeresnia
O surgimento da epidemia de HIV/Aids recolocou em primeiro plano questões que pareciam superadas para a medicina, ou ao menos relegadas aos rincões mais pobres do planeta, onde as doenças infecciosas e parasitárias continuavam (como continuam) seguindo, como causas importantes de morbimortalidade.
A irrupção de uma ‘praga’ moderna também reviveu antigos fantasmas, como a discriminação, a demonização de ‘outros’ responsabilizados pelo seu aparecimento, o pânico da contaminação. Estas respostas surgiram através de todos os recortes sociais possíveis, não poupando nem mesmo aqueles que supostamente teriam o conhecimento técnico para evitá-las. Leia Mais











